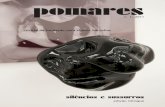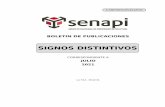(Livro) Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso - MIOLO
Transcript of (Livro) Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso - MIOLO
Dialogias noVale do Amanheceros signos de um imaginário religioso
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 115939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 1 31/01/2011 16:19:1631/01/2011 16:19:16
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 215939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 2 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
Fortaleza2011
Dialogias noVale do Amanheceros signos de um imaginário religioso
Carmen LuisaChaves Cavalcante
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 315939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 3 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
4 Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante
Copyright © 2011
Todos os direitos reservados à autora
Coordenação editorial
Carmen Luisa Chaves Cavalcante
Projeto gráfi co, editoração e capa
Eduardo Freire
Revisão
Lucíola Limaverde
Normalização bibliográfi ca/Catalogação na fonte
Perpétua Socorro Tavares Guimarães (Bibliotecária - CRB 3 801)
Impressão
Expressão Gráfi ca e Editora(85) 3464 2222
C376 d Cavalcante, Carmen Luisa Chaves
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso /
Carmen Luisa Chaves Cavalcante. Fortaleza: Expressão Gráfi ca Editora /
Coleção Juazeiro , 2011. 256p.
ISBN 978-85-7563-678-7
1.Hibridismo 2. Diversidade Religiosa 3. Pluralismo Cultural I.Título
CDD: 306.4
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer - MIOLO.indd 415939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer - MIOLO.indd 4 07/02/2011 11:03:0707/02/2011 11:03:07
5
Para o João.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 515939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 5 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
6 Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante
Conselho EditorialRia Lemaire – Université de Poitiers
Edilene Matos – UFBA
Sylvie Debs – Université Robert Schumann / Strasbourg
Antonio Wellington de Oliveira Jr – UFC
Fanka Santos – UFC / Cariri
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 615939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 6 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
7
Agradecimentos
À minha orientadora Irene Machado, pelo exemplo de dedica-ção ao trabalho e de generosidade intelectual.À Olga de Sá, pelo carinho e acompanhamento desde o mes-trado.Ao Gilmar de Carvalho, pela presença constante e amiga em minha vida acadêmica e especialmente pelo entusiasmo dedi-cado a este trabalho.A Lucrécia D’Aléssio Ferrara, Jerusa Pires Ferreira, Maria He-lena Concone e Everardo Rocha, pela leitura atenta e pelas ob-servações.À Universidade de Fortaleza (Unifor) e à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), por fi -nanciarem esta pesquisa.À Secult, pelo Prêmio Guilherme Studart.Aos integrantes do grupo de pesquisa Oktiabr e do Núcleo de Estudos de Semiótica e Religião, queridos para a vida inteira.A Eliane Diógenes, Paulo Mota, Ruy Vasconcelos, Daniel Car-valho, Alexia Brasil, Caroline Nogueira, Christiane Nogueira, Gustavo Martins, Renata Gomes, Orlando Oliveira, Marli Alen-car, Sônia Vitorino, Daniela Dumaresq, Ana Cláudia Farias, Wellington Júnior, Marília Alves, Silvia Nonata, Lígia Melo e Vitor Casimiro, pelo Ceará em terras paulistanas. E ao Gilberto Nogueira e ao Lincon Cruz, por trazerem São Paulo à colônia de cearenses.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 715939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 7 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
8 Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante
Ao João Lorenzoni e ao Gustavo Wald, pela amizade que atra-vessa fronteiras.A Adriana Albuquerque e Maxi Nachon, Elízio Costa, Emílio e Maria Alice Mamede, Leopoldo Nunes, Alfredo Manevy e Ma-nuel Rangel, pela recepção calorosa em Brasília.À Inês Figueiró, à Fernanda Doval e à Maria Cláudia Façanha, pela festa dos encontros e pelas conversas de ombro amigo ao telefone.À Gabriela Reinaldo e à Manuela Barros, por tudo dito acima e ainda pelas sugestões à tese.À Lucíola Limaverde, pela correção dos originais e pelo incen-tivo à publicação, e à Solange Teles, por sua leitura carinhosa.Ao Eduardo Freire, pela amizade e pela concepção gráfi ca do livro.A Carla Marques, Reginaldo Costa e Ismael Pordeus Júnior, pelo carinho e por me apresentarem, cada um ao seu modo, ao Vale do Amanhecer.A todos os adeptos do Vale, pela acolhida na comunidade e por tudo o que me fi zeram aprender.Ao Maurício Hirata Filho, pelo João e pela enorme contribuição na realização desta pesquisa.Ao Augusto V. Ponte, pela boa vontade nas traduções, pela en-trevista e por me dispor sem restrições o seu acervo de fi lmes e séries antigas de televisão.Aos meus tios e primos, pelo aconchego nas minhas férias em Fortaleza e pelos encontros sempre felizes em São Paulo.Aos meus irmãos Verônica, Isabel e Leonardo e à minha sobri-nha Camille, pela amizade, pela paciência e pela preocupação com o meu bem-estar na capital paulistana.Aos meus pais, Mansueto Holanda e Maria Carmen Chaves, pelo amor e pela dedicação insubstituíveis. Por fi m, à minha avó Carmen Leite Barbosa Chaves, que me ensinou a gostar dos santos e das rezas – e que neste instante deve estar em algum lugar bom, ainda me perguntando: “mas o que é mesmo essa semi-ótima?”
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 815939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 8 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
9
Sumário
Prefácio .......................................................................................................................................... 11
Introdução ................................................................................................................................... 15
Capítulo 1 - Brasília mística: um planeta diferente da Terra ............... 211.1 – Cidade do passado, cidade do futuro ........................................................... 211.2 – Sobre as formas e os espaços de Brasília .................................................... 271.3 – Por uma mitologia da cidade .............................................................................. 321.4 – Um axis mundi na Nova Era ................................................................................ 41
Capítulo 2 - Vale do Amanhecer: uma “alma” para a cidade modernista .................................................................................................................................. 532.1 – Um breve apanhado histórico ........................................................................... 532.2 – Brasília para a mitologia do Vale do Amanhecer .................................. 662.3 – O contexto periférico e a estética kitsch .................................................... 722.4 – A confi guração híbrida ............................................................................................ 76
Capítulo 3 - O Vale, a noção de ciência e as naves espaciais ................ 893.1 – O discurso cientifi cista: diálogo com o espiritismo de fi liação kardecista ...................................................................................................................................... 893.2 – Os primeiros cientistas do planeta, seus grandes feitos e suas naves de transporte espacial ........................................................................................... 983.3 – A fi cção científi ca e a cidade de Brasília ................................................... 104
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 915939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 9 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
10 Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante
Capítulo 4 - O Egito e o Vale do Amanhecer .................................................. 1254.1 – Das pirâmides de Brasília .................................................................................... 1254.2 – A civilização egípcia para o espiritismo e para a umbanda ....... 1384.3 – O Egito e os meios de comunicação ........................................................... 1424.4 – Uma encarnação entre os egípcios ............................................................. 149
Capítulo 5 - Um Vale do Amanhecer indígena ............................................. 1615.1 – Entre povos andinos e mesoamericanos ................................................ 1615.2 – Índios brasileiros e caboclos da umbanda ............................................. 1775.3 – Caboclos como índios de faroeste: uma construção a partir do cinema e da televisão ........................................................................................................ 182
Considerações fi nais ......................................................................................................... 195
Corpus .......................................................................................................................................... 199
Referências ............................................................................................................................... 205
Anexos - As cores do Vale do Amanhecer ........................................................ 225
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 1015939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 10 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
11
A profecia de Dom Bosco, enunciada em 1883, tornou-se realidade. Sur-giu Brasília, entre os paralelos 15 e 20, terra de onde manaria leite e mel, berço de uma nova civilização.
A cidade futurista foi plantada sobre o Cerrado, graças ao so-nho de outros visionários: Juscelino Kubitschek, Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. E graças, principalmente, ao esforço de milhares de “candan-gos”, migrantes pobres de todas as partes do Brasil, que deram forma ao sonho do concreto leve, que faz volutas e parece dançar.
A partir da cruz, surgiram os eixos de uma cidade incomum. O ar-quiteto foi buscar formas no barroco mineiro, na reestilização de uma poéti-ca de curvas e sinuosas que contrastavam com a dureza do concreto. Estavam lançadas as bases de uma nova ideia de cidade e de um novo tempo.
Brasília estava prevista desde muito tempo. Faltava fôlego para a fundação da cidade. Pronta, logo chegaram levas dos que queriam viver essa experiência. Os místicos acolheram ao chamamento. O mito estava enuncia-do desde a profecia do santo, e é importante que o mito se torne real.
Importante quando uma pesquisa parte de uma motivação pes-soal muito forte e traz as marcas de um compromisso. Só que esse afã não pode se tornar uma expressão de crédulos ou militantes. A Academia co-bra o distanciamento. A boa prática recomenda a dúvida como método. Kalu Chaves chegou ao Vale do Amanhecer, em Brasília, depois de ter percorrido os cumes nevados dos Himalaias, depois de ter tido conta-to com etnias indígenas e de ter vivenciado expressões fortes da cultura africana.
Prefácio
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 1115939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 11 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
12 Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante
Sua escolha, marcada por uma intensa motivação pessoal, en-contra respaldo em um recorte bem feito, em uma angulação precisa e se sustenta em uma bibliografi a consistente.
Ela foi buscar guarida na Comunicação e Semiótica, da PUC de São Paulo, para o exercício de liberdade e para esta explosão de cores, transes, movimentos e símbolos que perpassa todas as páginas deste vo-lume, onde o encantamento dialoga com o rigor científi co e resulta em uma tese exemplar.
Kalu Chaves foi longe nesse mergulho na condição humana e na busca pelo sagrado, que se acentua nas sociedades pós-industriais. A quebra dos paradigmas de uma pós-modernidade aqui se tensiona com o estatuto moderno de Brasília. O ecletismo do Vale do Amanhecer, essa comunidade fundada pela caminhoneira Tia Neiva, faz explodir as cores, as formas e a diluição do que chamamos de “kitsch” – não necessaria-mente o mau gosto, mas o que diverge do minimalismo, da limpeza da cidade em cujo entorno se localiza, da ordem implantada pelas superqua-dras, pelos eixos, pela distribuição espacial de uma pólis que sintetiza um país e busca um sertão que está dentro de todos nós.
O Vale do Amanhecer é algo que se afi rma na cena brasiliense. Ergue-se como uma paródia de Gaudi em pleno Planalto Central, dis-torce a Bauhaus, as infl uências de Le Corbusier e implanta a visão de um mundo de ponta-cabeça.
Aqui predomina o excesso, o transbordamento, a hipérbole. Nunca fomos tão transgressores e tão cuidadosos, na bricolagem de pe-daços de outras religiões: transmigrações hindus, xamanismos de toda ordem, lógica kardecista, panteão afro-brasileiro, legado católico, ideia de entidades que vêm de outros mundos e civilizações e parecem ter saí-do de fi lmes futuristas ou das histórias em quadrinhos.
Kalu Chaves rege tudo isso com uma maturidade impressio-nante para o risco que correu ao se aventurar por esse campo, tão insti-gante quanto vasto, das religiosidades ditas populares, em plena Brasília, na virada do milênio, tempo de expectativas messiânicas e do pânico de um apocalipse lisérgico.
Curiosa a forma dessa religião se construir, como cacos de um vi-tral, fuxicos de um grande panô, mosaicos de um painel, pontos de um bor-dado e tessitura de letras e palavras de uma glossolalia que nos deixa atônitos.
Lembro da impressão forte que me deixou o Vale, quando dos primeiros capítulos da telenovela “Mandala”, de Dias Gomes (colabora-
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 1215939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 12 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
13
ção de Lauro César Muniz e Marcílio Moraes), que a Rede Globo exibiu de outubro de 1987 a maio de 1988. As cores cítricas, sulferinas e contras-tantes detonavam qualquer ideia de recolhimento. Senti a mesma sensa-ção quando visitei a ofi cina / templo do Francisco Brennand, no bairro da Várzea, no Recife, dez anos depois (novembro de 1997).
Estávamos diante de uma irrupção incontida do sagrado, forte como um vulcão que lança suas lavas pela primeira vez. Aí vamos encon-trar deuses de todas as procedências e um desejo de Kalu Chaves de or-denar o que não tem ordem: esse sagrado é o desvario, é a anomia, o caos.
Interessante tentar compreender uma lógica que não é racio-nal nem calcada nos pressupostos fi losófi cos. A fé é incondicional, re-move montanhas e é como um rio caudaloso vindo na contracorrente, como um tempo contado às avessas, como um relato que começasse pelo fi nal.
Kalu Chaves nos abre (escancara) as portas para essa dimensão mitopoética. Aqui, temos mais que mitos. Temos o que não se doma, o que não se organiza, apesar da rígida hierarquia e do caráter personalista com o qual Tia Neiva montou seus círculos concêntricos do numinoso, da magia e da fé.
Vale imaginar a simetria da cidade, a vocação burocrática que se impôs como karma e a transgressão possível nos arredores. Junto com o Vale do Amanhecer, Brasília tem uma amostragem de esotéricos que nos faz rir dos que defendem uma “religião de livro”, no dizer do antro-pólogo Ismael Pordeus Júnior. Aqui, temos o livro e a cartilha, o cordel e o tarô, as runas e o I-Ching, o ponto riscado e o catimbó, o johrei messi-ânico e os mantras, os orikis e as rezas da seicho-no-iê.
Aqui temos o grafi smo do islão, ideogramas orientais e, como na canção de Caetano Veloso, um índio que desceu “de uma estrela colo-rida brilhante / de uma estrela que virá numa velocidade estonteante / e pousará no coração da América num claro instante”, como no anseio dos que esperam ser abduzidos para um mundo melhor.
Kalu Chaves nos abre as portas dessas e de todas as possibili-dades de leituras e vivências. Ela é a “scholar” que obedece às normas e a mulher, meio cigana (Carmen) e enigmática, que nos oferece, como primícias, suas descobertas mais caras e suas pistas mais íntimas.
Ela nos propõe que a fé é multicultural, que cada homem e mu-lher se relaciona com seus deuses do jeito que quiser, que todos os cami-nhos levam ao mistério.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 1315939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 13 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
14 Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante
Kalu Chaves nos prova que existe um coração selvagem do fi el, como o coração de quem se apaixona, como ela se apaixonou pelo Vale do Amanhecer, mas não se fez devota, fi el ou iniciada.
“Dialogias no Vale do Amanhecer” nos mostra que o mundo pode ser mais rico, plural e diverso quando todas as crenças forem respei-tadas; que tia Neiva é nossa sacerdotisa mestiça, de um culto sincrético, miscigenado, “impuro”, e o Vale do Amanhecer pode ser lido como uma metáfora do Brasil, com seus grupos de fi éis que serpenteiam e lembram um fi lme épico, uma fotografi a de Sebastião Salgado ou um grupo de romeiros ou penitentes do catolicismo sertanejo.
Kalu Chaves pode, fi nalmente, ser comparada a uma persona-gem de Clarice Lispector: “A princesa hindu por quem no deserto sua tribo esperava”.
Gilmar de Carvalho
Novembro de 2010
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 1415939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 14 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
15
Finais dos anos 1950. Conta-se que, por essa época, Neiva Chaves Zelaya, uma sergipana de 32 anos que trabalhava como caminhoneira na constru-ção de Brasília, passou a ver e ouvir espíritos. Um índio vestido com uma túnica e um longo cocar, dizendo se chamar Pai Seta Branca, foi um dos primeiros a se manifestar. Ao longo das conversas dele com Neiva, ele teria falado de suas vidas passadas e de seus planos para o futuro. Disse que, como não mais poderia encarnar na Terra, escolhera-a para substitui-lo em uma difícil missão: a de preparar a humanidade para a chegada do terceiro milênio, época em que não haveria mais dor ou sofrimento e em que a hu-manidade voltaria ao planeta Capela, o seu lugar de origem.
Em princípio, Neiva não quis aceitar tamanha incumbência. Sendo extremamente católica e não acreditando em espíritos, ela pensou estar louca. Marcou então consulta com um psiquiatra, mas o médico não resolveu o seu problema. Foi então a padre, a terreiro de umbanda e a centro kardecista, mas a frustração se repetiu. Os espíritos que a visi-tavam eram bastante insistentes. Com o passar do tempo, no entanto, a caminhoneira Neiva descobriu que tinha o dom da clarividência. Como se isso não bastasse, foram-lhes feitas revelações sobre a força de seu ca-risma e a sua capacidade de liderança – tanto que, certa vez, ao voar sobre o rio Nilo em uma espécie de disco voador, ela pôde perceber que ali fora poderosa “senhora de exércitos” (no caso, um forte indicativo de suas supostas encarnações como as rainhas egípcias Nefertiti e Cleópatra).
Ciente, enfi m, da responsabilidade de seu encargo, Neiva resol-veu assumir a missão que lhe fora dada. Procurou então dona Neném,
Introdução
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 1515939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 15 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante16
uma médium do espiritismo kardecista, para dar início ao seu desenvol-vimento espiritual. Em 1959, com ela criou a União Espiritualista Seta Branca, Uesb, em um local chamado Serra do Ouro. Tempos depois, Nei-va passou a se desentender com dona Neném, já que esta não aceitava o bom acolhimento dado pela clarividente aos espíritos de umbanda que a procuravam. Uma vez separadas, Neiva resolveu trilhar o próprio cami-nho, criando uma outra comunidade. Após uma passagem pela cidade--satélite de Taguatinga, ela se instalou com uns poucos seguidores a seis quilômetros de Planaltina, também situada nos arredores de Brasília. Lá, em 1969, “Tia Neiva” criou o Vale do Amanhecer.
Com o correr dos anos, a comunidade do Vale do Amanhecer foi crescendo em número de adeptos e em complexidade doutrinária. Novos cargos foram instituídos, templos fi liais foram abertos, outras nar-rativas míticas surgiram, espíritos até então desconhecidos acabaram por se manifestar – mas sempre trazendo informações inusitadas que, criadas a partir de diálogos culturais e em um ambiente sistêmico como o Vale do Amanhecer, indiscutivelmente apontam para um contexto fora daquela comunidade. Essas criações se deram e continuam a se dar em relação a outros textos/ sistemas da cultura, uma vez que deles há muito se alimen-tam e os fazem alimentar.
É assim que se percebe o Vale em interação com a cidade de Brasília e com toda a onda de misticismo a ela vinculada. Tal misticismo remonta a tempos anteriores aos de sua criação e continuamente se reno-va, seja com a chegada do fenômeno da Nova Era nos anos 1960, quando se deu de fato a inauguração da cidade, seja com o turismo místico ou esotérico, desenvolvido a partir dos anos 1970, seja com o surgimento de uma de suas mais recentes versões, exposta nos livros da suposta egiptó-loga Iara Kern.
É nesse sentido ainda que o Vale dialoga, atendo-se ainda ao campo das religiões, com o catolicismo popular, o espiritismo kardecista e a umbanda, como a própria história de Tia Neiva deu a mostrar. Essas religiões são bastante comuns também ao universo de grande parte de seus seguidores, uma vez que muitas dessas pessoas delas procedem e a elas mesmas foram fi liadas até o momento de optarem pela doutrina criada por Tia Neiva.
Mas o Vale do Amanhecer também estabelece relações com os meios de comunicação tradicionais, como o cinema, a televisão e os livros best-sellers, entre outros. Disso o presente trabalho também trata. Afi nal,
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 1615939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 16 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
Introdução 17
nos anos da criação dessa comunidade religiosa, como é mostrado a se-guir, já havia no Brasil uma autêntica cultura de massa e um número sufi cientemente considerável de fãs de faroeste, de fi cção científi ca e de fi lmes sobre o mundo antigo (para citar apenas os que aqui interessam).
Nessa direção, pode-se dizer que este estudo é fruto de uma in-vestigação sobre alguns dos vetores de modelização ocorridos no Vale do Amanhecer. Defende-se aqui a ideia de que tanto os sistemas religiosos citados como os meios de comunicação desempenham papel fundamen-tal na composição sígnica daquela comunidade. São essas as relações que o presente trabalho busca, sob a perspectiva da semiótica de extração russa, também conhecida como semiótica da cultura. O objetivo é pen-sar os aspectos que dizem respeito à presença, naquela comunidade, de informações ligadas a seres de outro planeta e a suas naves espaciais, à civilização egípcia com suas pirâmides e faraós, bem como às culturas indígenas brasileiras, norte-americanas e de povos andinos e mesoameri-canos, sobretudo os incas, os maias e os astecas – estejam elas manifestas nas narrativas míticas, nos rituais, na iconografi a ou nas indumentárias dos adeptos.
Na ocasião em que tais informações chegaram ao Vale do Ama-nhecer – a partir dos diálogos estabelecidos entre o Vale e os textos/ sis-temas citados –, elas passaram por uma ressignifi cação, sendo portanto ali modifi cadas. Informações que se encontram no Vale sob a batuta de uma antropofagia sígnica, apresentando-se, antes de mais nada, como uma novidade semiósica – algo que foi notadamente mastigado e engoli-do por aquela comunidade para que, depois de digerido, voltasse à cena como pura criação.
Na tentativa de abarcar toda essa gama de considerações, resol-veu-se dividir o livro em cinco capítulos. No primeiro deles, chamado de “Brasília mística: um planeta diferente da Terra”, é traçado um breve pa-norama histórico sobre a concepção da cidade modernista. Na sequência, discorre-se sobre a sua concepção estética, posta em consonância com as vanguardas artísticas do século XX e naturalmente pensada de modo indissociável da dimensão política. Os dois principais mitos de fundação que dizem respeito à Brasília, o “da cidade utópica” e o da “terra prome-tida” – o primeiro envolvendo a concepção desenvolvimentista do presi-dente Juscelino Kubitschek e a modernista do arquiteto Oscar Niemeyer e do urbanista Lúcio Costa, que a idealizavam como uma cidade-protótipo –, também são considerados nesse capítulo. O segundo mito relaciona-
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 1715939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 17 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante18
-se ao sonho-profecia de Dom Bosco, padre italiano falecido no fi nal do século XIX e posteriormente canonizado pela Igreja Católica. Um ter-ceiro mito, criado em função dos dois, também é mencionado: trata-se da estória sobre a cidade de Brasília ser uma espécie de reencarnação da cidade egípcia construída pelo faraó Akhenaton. Por fi m, é aborda-do o forte misticismo que envolve Brasília, estando ele associado às três narrativas em questão, mas também à contracultura e ao nascimento da religiosidade do tipo Nova Era. Esses fenômenos são contemporâneos à criação da cidade modernista e dialogam com o Vale do Amanhecer, como é demonstrado ao longo do livro.
No que diz respeito ao segundo capítulo, intitulado “Vale do Amanhecer: uma ‘alma’ para a cidade modernista”, ter-se-á também um breve apanhado histórico da formação daquela comunidade religiosa. Em seguida, é abordada a forma como o Vale se percebe em relação a Brasília, uma vez que ele nasceu em sua função e dela continuamente se apropria, sobretudo no que diz respeito ao clima de misticismo que ronda a cidade. Aspectos como a situação periférica e a estética kitsch do Vale do Amanhecer, postos em oposição aos da cidade modernista, tam-bém são analisados nesse capítulo. Por fi m, é vista a composição híbrida da comunidade, considerada a partir do diálogo estabelecido entre ela e alguns sistemas religiosos, tais como o espiritismo kardecista, a umbanda e o catolicismo popular, além de sistemas da cultura de massa, como os meios de comunicação, aqui exemplifi cados pelo cinema e pela televisão, pelos livros best-sellers e pelo turismo esotérico, entre outros.
No terceiro capítulo, chamado de “O Vale, a noção de ciência e as naves espaciais”, a abordagem recai sobre o que diz aquela doutrina sobre a ciência e os extraterrestres. Acredita-se que o espiritismo karde-cista, a cidade de Brasília e a fi cção científi ca sejam os principais sistemas a atuar junto à comunidade de Tia Neiva, na construção de um texto pas-sível de ser chamado de “Vale espacial”, ou mesmo “Vale científi co”. Para se buscar a comprovação dessa hipótese, em primeiro lugar é realizada uma análise centrada nas concepções de ciência e de racionalidade cien-tífi ca, encontradas entre os seguidores do referido espiritismo e também os da umbanda, para depois as comparar às concepções que guardam os adeptos do Vale. Uma vez verifi cada a ocorrência de ressignifi cações nesta última, é feita a exposição das narrativas míticas dos adeptos so-bre os primeiros cientistas do planeta, seus grandes feitos e suas naves de transporte espacial. A arquitetura modernista de Brasília, como será
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 1815939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 18 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
Introdução 19
visto, guarda estreitas relações com os cenários de alguns dos fi lmes de fi cção científi ca. Sendo assim, além da noção de ciência e de racionali-dade chegadas ao Vale pelo espiritismo kardecista e pela umbanda, será mostrado como a estética de Brasília é também importante a essa entrada da fi cção científi ca no Vale do Amanhecer – que, paralelamente à proxi-midade daquela estranha cidade em relação ao Vale, obviamente também se oferece pelos livros, séries de televisão e fi lmes do gênero, veiculados tanto no cinema quanto na TV.
No quarto capítulo, “O Egito e o Vale do Amanhecer”, é ana-lisado o terceiro mito de Brasília em suas relações com as construções arquitetônicas da cidade. Se, por um lado, essas construções podem ser comparadas às cidades do futuro, por outro lado também foram vistas pela esoterista Iara Kern como um indício de que a cidade modernista teria fortes vínculos com o passado, especialmente o Egito antigo, imor-talizado na história, entre outras coisas, por suas construções piramidais e pela existência de um faraó de nome Akhenaton que, assim como Ku-bitschek, construiu uma cidade importante, para lá transferindo o centro de decisões políticas do país. Nesse caso, pensa-se que a chegada do Egito ao Vale do Amanhecer se deu tanto com a proximidade de Brasília quan-to com a da teoria de Iara Kern, estando esta, por sua vez, nitidamente vinculada à primeira e ao fenômeno da Nova Era. Mas não só: há que se considerar também a presença do Egito no espiritismo kardecista e na umbanda, uma vez que esses dois sistemas religiosos, como já dito, dia-logam com o Vale do Amanhecer. Outros canais de entrada do Egito na referida comunidade são certamente os meios de comunicação, que di-vulgaram bastante o fenômeno da egiptomania nos domínios das cultu-ras ocidentais, nas quais se insere o Vale e que provavelmente ajudaram, entre outras coisas, na construção de um imaginário em que Tia Neiva fora rainha egípcia por duas vezes. Finalizando, acredita-se ser do diálo-go com todos esses sistemas culturais que nasce a ideia de os seguidores de Tia Neiva serem reencarnações de egípcios.
O quinto e último capítulo, nomeado “Um Vale do Amanhecer indígena”, tem início com a exposição das narrativas dos seguidores de Tia Neiva sobre as encarnações de alguns de seus antepassados míticos, como povos indígenas andinos e mesoamericanos – entre eles, de Pai Seta Branca, que teria sido responsável pela construção tanto das pirâ-mides do Egito quanto das pirâmides desses povos. Mas há outros tipos de índios presentes na mitologia do Vale do Amanhecer: por exemplo, os
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 1915939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 19 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante20
brasileiros, ainda vivos nas terras do Xingu. Esses índios são igualmente importantes para a doutrina, uma vez que forneceriam as energias das matas aos médiuns do Vale. Os índios norte-americanos também estão entre os fi éis, seja no modo de o adepto Vilela retratar os espíritos de ca-boclos, seja em gravuras transformadas em quadros e servindo de enfeite a uma lanchonete. Todos eles, aparentemente, lá chegaram por intermé-dio de sistemas como os folhetos de agências de turismo e as lembran-ças adquiridas nas viagens, assim como por meio da umbanda, da reli-giosidade Nova Era e também dos fi lmes e séries de faroeste, veiculados no cinema e na televisão. Esses sistemas estão a dialogar com o Vale do Amanhecer desde o início de seu processo de criação e acabaram confe-ririndo à doutrina de Tia Neiva a possibilidade de trazer ao seu imaginá-rio indígena informações aparentemente díspares, como naves espaciais, seres de outro planeta e pirâmides egípcias, entre outros.
É dessas preocupações que trata o presente trabalho; em última análise, da busca da construção do imaginário da comunidade religiosa do Vale do Amanhecer, dada a partir do estabelecimento de diálogos en-tre ele e variados textos/ sistemas culturais, de um modo, diga-se desde agora, múltiplo e em rede, portanto, não linear.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 2015939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 20 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
21
O espanto, ao ver Brasília, parece ser a sensação mais comum aos que chegam ao local. Seus espaços amplos e pouco habitados, as ruas sem transeuntes; sua arquitetura modernista2 de linhas retas e de curvas alon-gadas; a presença de enormes estruturas brancas, leves e suspensas, como que levitando; a vasta amplitude de seu céu azul de planalto – sem falar na forte onda de misticismo que a envolve. Tudo confere ao lugar o cará-ter do inusitado, do improvável, do fi ctício e a qualidade de uma cidade com ares de sagrado. “O céu é o mar de Brasília”, disse certa vez o urba-nista Lúcio Costa3. De fato, nessa cidade, onde tudo é igualmente belo, harmonioso e estranho, algo parece estar fora do lugar. Ou, quem sabe mesmo, fora do tempo. É o que veremos a seguir.
1.1 – Cidade do passado, cidade do futuro O surgimento de Brasília aponta para duas direções temporais: o passado e o futuro. Passado porque, como lembra Mário Pedrosa (1981, p. 334), “ela faz parte de um velho sonho nacional”, acalentado desde a época do Brasil Colônia e ligado ao ideal de uma nação independente. Futuro por ela ter sido construída durante o governo desenvolvimentista do presi-
Brasília mística1: um planeta diferente da Terra
Quando morri, um dia abri os olhos e era Brasília. Eu estava sozinha no mundo. Havia um táxi parado. Sem chofer.
Ai, que medo. Lúcio Costa e Oscar Niemeyer, dois homens solitários. (Clarice Lispector, 1992)
1 Pensa-se na palavra “místico” como referente às forças sagradas, ao transcendente misterioso.
2 Optou-se por utilizar a palavra “modernista” com base na definição de James Holston (1993). O autor refere-se ao termo como designativo dos princípios arquitetônicos e urbanísticos baseados nos Con-grés Internationaux d´Architecture Moderne (CIAM), bem como em sua estética. Tal é o que ocorre em Brasília, no caso da arquitetura de Oscar Niemeyer e do urbanismo de Lúcio Costa.
3 Esta frase de Costa é bastante citada em seus depoimentos a revistas, sites e jornais. Cf., por exemplo, Cunha (2.000).
Capítulo 1
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 2115939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 21 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante22
dente Juscelino Kubitschek, que a via como uma antecipação do terceiro milênio, e pelo fato de que a cidade nasceu da concepção de modernida-de do arquiteto Oscar Niemeyer e do urbanista Lúcio Costa – vincula-dos à proposta urbanístico-arquitetônica do suíço naturalizado francês Charles-Édouard Jeanneret, mais conhecido como Le Corbusier.
A proposta de criação de Brasília teve início já no fi nal do sé-culo XVIII. De acordo com Pedrosa (1981), em 1789, o plano de tornar o Brasil independente do domínio português estava intrinsecamente li-gado ao estabelecimento do governo do Brasil em certo local do interior do território. Na segunda década do século seguinte, Tomás Antônio Vi-lanova Portugal – o principal conselheiro do rei D. João VI, até a volta do monarca a Lisboa em 1821 – quis fazer do Brasil um império americano, se possível separado de Portugal. Pretendeu que o país tivesse como capi-tal não o Rio de Janeiro, mas uma cidade relativamente distante do litoral. José Bonifácio de Andrada e Silva, Patriarca da Independência, segundo o autor, foi outro a defender a construção da nova capital4. Após a defl a-gração da autonomia brasileira em relação à metrópole portuguesa, ele fez longa exposição sobre a necessidade de construir tal cidade.
Com a Proclamação da República, surgiu mais uma vez a ideia de uma nova capital para o Brasil. Essa ideia foi registrada no texto mes-mo da Constituição de 1891, delegando a um pedaço do território na-cional o destino de sediar a futura Capital. A partir de então, foi traçado, no mapa do Brasil, o ponto escolhido: 14.400 quilômetros quadrados no Planalto Central. Para Pedrosa, tudo indica que os envolvidos na escolha em questão tenham seguido as indicações de Visconde de Porto Seguro, historiador brasileiro. Este, muitos anos antes, já havia indicado como local ideal o Planalto Central, onde nascem as três grandes bacias fl uviais do Brasil – a do Amazonas, a do Prata e a do São Francisco.
Durante os 60 anos seguintes, o preceito constitucional da construção de Brasília recebeu uma atenção intermitente, conforme Holston (1993). Em 1922, foi colocada uma pedra fundamental no lu-gar onde hoje se situa uma cidade-satélite5. Nos anos de 1934, 1946 e 1953, comissões foram encarregadas de delimitar o sítio da nova capi-tal. Seu mandato legal foi reiterado nas constituições de 1934 e 1937 e
4 O autocrático Marquês de Pombal e o revolucionário Tiradentes, de acordo com Holston (1993), tam-bém fizeram a proposta da transferência da capital para o interior do país.
5 As cidades-satélites são cidades não planejadas, circunscritas a Brasília, que se desenvolveram durante ou após a construção da área urbanizada (Plano Piloto) projetada por Costa.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 2215939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 22 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
Capítulo 1 Brasília mística: Um planeta diferente da terra 23
na Assembleia Constituinte de 1946. Os presidentes Epitácio Pessoa e Café Filho igualmente manifestaram interesse pelo assunto. Elabora-ram decretos para iniciar a construção da nova capital em 1920 e em 1955, respectivamente.
Mas foi somente a partir do ano de 1955 que a ideia de Brasília foi levada adiante, para as vias de sua execução. Holston (1993) lembra que a campanha presidencial de Kubitschek teve início com o compromis-so de construir a nova capital. Terminada a eleição, o cumprimento dessa promessa tornou-se o principal projeto da administração (1956-1961) do novo presidente, a “meta-síntese” do seu Programa de Metas para o país.
Tal programa respondia às teorias do desenvolvimentismo, formuladas durante a década de 1950 pela Comissão Econômica para a América Latina (Cepal), órgão da Organização das Nações Unidas, e pelo Instituto Superior de Estudos Brasileiros (Iseb). Como diz o autor (1993), visava-se à industrialização dirigida pelo Estado como o meio pelo qual os países subdesenvolvidos pudessem alcançar rápido crescimento econô-mico e uma posição mais vantajosa no comércio internacional. A versão desenvolvimentista de Kubitschek tinha ainda um caráter nacionalista, es-tabelecendo metas destinadas a impelir o país para além das barreiras do subdesenvolvimento. E Brasília era o seu símbolo por excelência.
Segundo Ricardo L. Farret (1985), nunca faltaram argumentos para justifi car a transferência da capital do Brasil para o interior do seu território. Em primeiro lugar, pode-se pensar em uma tentativa de apagar todos os vestígios e símbolos da dominação portuguesa, como seria o caso do Rio de Janeiro. Em segundo lugar, pela vontade de transformar o Brasil em um país unifi cado. Em terceiro lugar, por motivos de defesa na-cional, já que a nova capital não seria tão vulnerável a ataques navais es-trangeiros. Em quarto lugar, pela crença na promoção de novos padrões de efi ciência no serviço público. Em quinto lugar, pela crença de que a cidade seria um instrumento ideológico capaz de criar, junto às massas, um espírito de identidade nacional. Em sexto lugar, por ser um centro em crescimento, capaz de promover o desenvolvimento regional do Centro--Oeste por meio da criação de um mercado consumidor signifi cativo e da introdução de inovações tecnológicas, econômicas e sociais. Em sétimo lugar, por ser uma porta de entrada à ocupação econômica das fronteiras oeste e norte do País.
Seja como for, o que aqui interessa é que a ideia de Brasília nas-ceu já no Brasil Colônia como a de uma cidade-protótipo de um país me-
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 2315939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 23 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante24
lhor, de um Brasil diferente. Por um lado, em consonância com o plano desenvolvimentista e capitalista de Kubitschek; por outro, com o ideal socialista de Costa e de Niemeyer, intimamente vinculados aos ideais do mestre Le Corbusier e à sua utopia modernista de uma cidade socialmen-te mais justa e igualitária, uma sociedade que traria um conteúdo revo-lucionário por meio de sua própria arquitetura e disposição urbanística, ambos de concepções formais bastante inusitadas para a época.
Aliás, foi Le Corbusier um dos primeiros a idealizar cidades--protótipo modernas voltadas para tais objetivos – vide os projetos Uma cidade contemporânea para três milhões de habitantes, de 1922, e A cidade ra-diosa, de 1930. Foi nelas, em grande parte, que Costa e Niemeyer busca-ram inspiração ao projetar Brasília. Esse projeto, sendo moderno, estabe-leceu um forte diálogo com a arte das vanguardas europeias do início do século XX, como o futurismo, a Bauhaus (ou “Escola de Construção”, em alemão), o construtivismo russo e o surrealismo, além de também se ater a estilos mais antigos como o clássico e o barroco6.
Para Holston (1993), Brasília é uma cidade dos Congrés Inter-nationaux d´Architecture Moderne (CIAM), cujo mentor foi Le Corbusier. Esses, até a década de 1960, constituíam o fórum internacional de discus-são mais importante sobre a arquitetura moderna. Seguindo as propostas dos CIAM, Brasília foi então concebida a partir de cinco funções básicas, que deveriam estar organizadas em setores mutuamente excludentes. São elas: moradia, trabalho, lazer, circulação e centro público de atividades administrativas e cívicas7. Quanto à organização social das referidas fun-ções em tipologias de atividade social e de forma de construção, esta foi chamada de “zoneamento”.
Holston (1993) considera que o projeto do plano piloto de Bra-sília é uma ilustração perfeita de como o zoneamento dessas funções ge-rou uma cidade. E, assim como as cidades-protótipo de Le Corbusier, Brasília é composta por dois grandes eixos, correndo um de norte a sul, e o outro de leste a oeste – duas poderosas artérias dedicadas ao tráfego de alta velocidade. Ao longo do eixo norte-sul, ou eixo residencial, situam--se as superquadras de prédios com fachadas e altura uniformes, ao passo que os setores de trabalho perfazem todo o longo espaço do eixo leste--oeste, ou eixo monumental (Fig. 1). O centro público encontra-se ao lado
6 Autores como David Underwood defendem a recorrência do barroco e do clássico em Brasília, embora comumente se diga que a arte moderna nasceu em negação aos estilos já consagrados.
7 A função “centro público” foi posteriormente incorporada às demais.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 2415939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 24 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
Capítulo 1 Brasília mística: Um planeta diferente da terra 25
do cruzamento entre os dois. A área de recreação, por sua vez, consiste em um lago e em uma faixa de vegetação que rodeia a cidade.
Brasília foi concebida como uma espécie de “cidade da salvação”, assim como as demais cidades dos CIAM. Sendo fi liada à sua ideologia, também ela foi vista como “um plano para a libertação frente à ‘trágica desnaturalização do trabalho humano’ produzida nas e pelas metrópoles da sociedade industrializada” (1993, p. 47). Essa libertação se daria, de acordo com Holston, pelo controle da especulação e da distribuição dos recursos urbanos com base em fatores dissociados da riqueza; a base da distribuição desses recursos seria o próprio plano geral da cidade. Este, por sua vez, proporcionaria a todos os seus habitantes direitos como moradia, recreação, educação e saúde, segundo critérios objetivos e racionais.
Como consequência dessa pretensa distribuição igualitária, a cidade modernista deveria alcançar o que o autor chama de seu “fi m úl-
Fig. 1 - Desenhos de Lúcio Costa para o Plano Piloto / Fonte: Holston (1993, p. 76)
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 2515939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 25 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante26
timo”, ou seja: a qualidade de cidade destituída de grandes separações sociais e espaciais para pessoas das diferentes faixas econômicas. Holston (1993) adverte que, na visão moderna, a maneira mais simples de se con-seguir esse objetivo seria tratar a cidade como uma verdadeira “máquina de morar”, que, a despeito de ter sido a grande destruidora das cidades industrializadas, contemporâneas do que se costumava chamar de “a pri-meira era da máquina” (1730-1930), seria também a solução para as ci-dades do futuro. Tal é o caso de Brasília.
Nas palavras de Holston:
A maneira mais simples de se conseguir isso, segundo os Ciam, seria tratar a própria cidade nova como uma máquina, ou seja, projetá-la do mesmo modo que um engenheiro de produção projeta um processo industrial, concebendo a cidade como um produto. Essa cidade nova teria de ser organizada não como uma metáfora da máquina mas sim, literalmente, como uma máquina, uma “máquina de morar” [...]. Nessa organização, a cidade teria de ser desmembrada em suas funções essenciais. Estas seriam taylorizadas, estandartizadas, racionalizadas, e reunidas em uma totalidade [...]. Nessas cidades-máquina, o arquiteto não mais se dedica a desenhar objetos individuais. Em vez disso, organiza esses objetos em processos – em funções, inter-relações e comunicações –, planejando sua construção posterior. Apenas por meio desse tipo de planejamento total, onde a cidade é ordenada como em uma instalação industrial, sua complexidade poderia estar sob controle e seus benefícios potenciais poderiam ser estendidos a todas as classes de seus habitantes. (1993, p.57-58).
A arquitetura moderna de Brasília buscou, desse modo, redefi -nir completa e radicalmente a base social de todas as funções da cidade, como lembra Holston (1993). Pretendeu a convivência entre pessoas de diferentes níveis de renda, por exemplo, com a construção de apartamen-tos, em um mesmo prédio residencial, com preços e quantidade de cô-modos diferenciados. Incentivou a qualidade de vida de seus habitantes com vistas à proximidade deles com a natureza e a prática de esportes, planejando a cidade em meio a parques e jardins. Tentou, ainda, e entre outras coisas, deslocar a atividade pública para longe dos automóveis,
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 2615939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 26 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
Capítulo 1 Brasília mística: Um planeta diferente da terra 27
concentrando o acesso ao comércio local no interior das quadras resi-denciais e retirando o movimento de pedestres das avenidas.
Sendo modernos, os projetistas da nova capital buscaram a funcionalidade arquitetural ao unir, de maneira econômica e racional, o útil ao belo – pressupostos da arquitetura moderna apontados por Gillo Dorfl es (1986). Debruçaram-se assim sobre o uso de materiais de cons-trução barateados pelo processo de industrialização, tais como o cimento armado, o vidro e o ferro e acabaram por transformar Brasília em um exemplo concreto do que se pode chamar de uma experiência construti-va e de uma experiência estética inovadoras. Ambas foram possibilitadas, por exemplo, pelo uso das travas muito longas que nos prédios deixam livres grandes paredes e até toda a fachada, mediante o recuo de pilares de apoio, além da eliminação de paredes de sustentação, da supressão de ornamentos, da possibilidade de construir edifícios destacados do solo, das escadas suspensas, das diversas estruturas aéreas e das placas projeta-das para o exterior, entre outros.
De fato, a nova capital brasileira foi concebida com ares de grande novidade, tanto nos âmbitos social e ideológico quanto nos es-trutural e estético. Aliás, em Brasília, esses fatores estão longe de se dis-sociar. Intimamente ligados, eles legitimam junto aos seus entusiastas e à maneira dos modernos a ideia de um suposto rompimento com o pas-sado e a certeza de um futuro igualitário e possível. Um futuro de fácil acesso, sobretudo para aqueles que, pelas vias da imaginação, fi zeram eco às palavras de Kubitschek, ao dizer que Brasília seria a “sede latina da ci-vilização do terceiro milênio” (Kubitschek apud Mayrink, 1988, p. 95), e aos que exclamaram juntamente com Costa, em sua declaração a respeito da nova capital brasileira: “É isto, o sonho foi menor que a realidade!” (Costa apud Seabra, 1998, p. 11).
1.2 – Sobre as formas e os espaços de BrasíliaEmbora Brasília tenha sido prioritariamente criada com fi ns governa-mentais, vindo a se constituir como símbolo do milagre do progresso nacional brasileiro, os signifi cados de sua arquitetura e de seu planeja-mento urbanístico jamais se esgotaram em suas pretensões políticas e administrativas. É sabido que a cidade, estando vinculada aos moder-nos europeus, foi concebida como arte, ou, mais especifi camente, “Arte Total”, em uma tentativa de unir arquitetura, pintura, artes gráfi cas e escultura em um mesmo trabalho artístico. Sendo arte, ela é também
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 2715939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 27 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante28
polissêmica: possui signifi cados diversos e usos variados, ainda que re-lacionados entre si.
Ligada a vanguardas como o futurismo, a Bauhaus, o cons-trutivismo russo e o surrealismo, Brasília se apresenta como busca de ruptura com a cristalização de alguns valores, sobretudo morais e esté-ticos. Uma ruptura que se dá por meio de “técnicas de choque” ou “es-tratégias de desfamiliarização”, na época propostas por tais movimen-tos artísticos e utilizadas, no caso por Niemeyer e Costa, para realizar “uma condução forçada rumo a mudanças radicais nas relações sociais” (Holston, 1993, p. 60).
De fato, os prédios modernos, estejam eles isolados ou devida-mente associados em complexos estruturados – como é o caso da cida-de modernista em questão –, valem-se de tais técnicas ou estratégias e promovem a desfamiliarização ou “estranhamento” (ostranienie)8 que, na arte, de acordo com Holston (1993), seria defi nido como uma forma de renovar a percepção, de “romper os hábitos mecânicos e anestesiantes da rotina cotidiana, de modo a dessacralizar valores inquestionáveis, restau-rar a experiência consciente e gerar uma reavaliação crítica dos objetos e das instituições à nossa volta”.
Partindo-se desse pressuposto, a arte moderna seria igualmente um meio de chamar a atenção para a própria técnica de desfamiliariza-ção, que evidenciaria pelo desnudamento os processos de construção de signifi cados. Tudo em função de mostrar que a sociedade não é um dado natural, mas construído historicamente e, portanto, passível de mudan-ças. Tornar a cidade estranha seria, então, propor a revolução pelas vias da forma. Seria, em justas palavras, vincular a inovação arquitetônica a mudanças radicais nas percepções individuais e à transformação utópica, conforme lembra Holston (1993).
Brasília é realmente uma cidade estranha. Provoca em quem chega ao local sensações de assombro, mal-estar, distanciamento, ver-
8 Conceito formulado por Víktor Chklovski – no texto “Arte como procedimento”, do livro Teoria da litera-tura: formalistas russos (Chkloski, 1976) – a respeito da língua poética, mas que pode ser perfeitamente aplicado aos projetos arquitetônico e urbanístico da atual capital brasileira. São palavras do autor: “Examinando a língua poética tanto nas suas constituintes fonéticas e léxicas como na disposição das palavras e nas construções semânticas constituídas por estas palavras, percebemos que o caráter es-tético se revela sempre pelos mesmos signos: é criado conscientemente para libertar a percepção do automatismo; sua visão representa o objetivo do criador e ela é construída artificialmente de maneira que a percepção se detenha nela e chegue ao máximo de sua força e duração [...]. A língua poética satisfaz estas condições. Segundo Aristóteles, a língua poética deve ter um caráter estranho, surpreen-dente [...]”. (1976, p. 54).
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 2815939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 28 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
Capítulo 1 Brasília mística: Um planeta diferente da terra 29
tigem, enlevo, satisfação, arrebatamento, deslumbramento, entre tan-tas outras possíveis. Essa estranheza foi deliberadamente pensada por Costa e Niemeyer durante a concepção dos planejamentos urbanístico e arquitetônico da cidade, ambos criados a partir do diálogo formal en-tre linhas estéticas da arte vanguardista europeia e vinculados a estilos artísticos já consagrados, como o clássico e o barroco, conforme dito anteriormente.
No caso das vanguardas, é sabido que tanto o futurismo quanto o construtivismo russo e a Bauhaus tinham traços comuns em suas pro-postas artísticas e estéticas e que exerceram grande infl uência um sobre o outro, simultaneamente. Esses três movimentos privilegiavam a racionali-dade nas artes e propunham, de acordo com Briony Fer (1998), os modelos e os métodos da produção em série. Desse modo, para tais movimentos ar-tísticos, a impessoalidade, a padronização, o planejamento, a repetição e a divisão de tarefas seriam expressões exemplares da modernidade, atributos essenciais à sociedade industrializada do início do século XX que, não por acaso, encontram-se presentes nas formas de Brasília.
Sobre a relação de Brasília com o futurismo, mais especifi camen-te, David Underwood (2002) destaca o fascínio de Kubitschek pela velo-cidade, expresso tanto na semelhança das avenidas com pistas de corrida automobilística quanto na metáfora do voo evocada pelos prédios de Nie-meyer, em cujas construções parece haver a ausência de peso. Um outro dado mencionado pelo autor é a estética do complexo do Congresso Na-cional, por ele chamado de futurista, devido às “suas fantásticas inversões formais de fi guras côncavas, convexas e retilíneas [...]”. (2002, p. 91).
Quanto à presença do construtivismo russo naquela capital, po-de-se pensar naquilo que Aaron Scharf (2000) apontou como característi-cas intrínsecas à referida vanguarda. São elas: o apego à ideologia da socia-lização de uma arte revolucionária; a ênfase na racionalidade na concepção do espaço e das formas construtivas; o uso de fi guras geométricas (o Plano Piloto da cidade tem o formato de uma cruz e algumas construções são piramidais ou triangulares); a evocação da imagem da máquina e a grande importância dada à engenharia arquitetônica como refl exos do direciona-mento construtivista para o estudo da fi siologia, da ciência e da tecnologia e a unifi cação entre pintura, escultura e arquitetura.
Da Bauhaus, o projeto de Brasília também herdou alguns as-pectos. Entre os analisados por Fer (1998) referentes ao movimento em questão, tem-se a supressão de ornamentos; a mesma pretensão de unir
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 2915939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 29 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante30
arte e tecnologia; a vontade de se construir uma nova sociedade a partir do planejamento arquitetônico; novamente a preferência pelas fi guras geométricas e a busca pela simplicidade e pela funcionalidade estrutu-ral na construção de prédios.
Para Underwood, a arquitetura de Brasília também possui um viés surrealista, embora o método de desenho de Niemeyer não seja o automático – técnica utilizada pelos artistas da referida vanguarda. Conforme o autor, há a clara combinação de impulsos racionais e ir-racionais no fazer artístico do arquiteto. Ao remeter-se ao universo do onírico, esse arquiteto faz uso constante de formas biomórfi cas e tenta “pôr em questão os objetos e as convenções do cotidiano e do lugar-co-mum por meio da deliberada justaposição desses objetos e convenções ao extraordinário e ao maravilhoso”. (2002, p. 91).
Importa saber que, para Underwood (2002), o surrealismo de Brasília é, no entanto, do tipo classicista, já que a arquitetura da cidade diz respeito à evocação surreal do onírico, mas que também realiza a busca do sublime, do belo e do espírito de permanência, por sua vez encontrados no clássico. Esse último aspecto pode ser perce-bido, por exemplo, na retomada do tema dos palácios por parte da atual capital brasileira, como é o caso das fachadas dos edifícios do Ministério da Justiça e do Ministério das Relações Exteriores, lembra Underwood (2002).
Um outro estilo encontrado não apenas em Brasília mas em toda a obra de Niemeyer, conforme Underwood (2002), é o barroco9. Primeiro, na perspectiva cenográfi ca e monumental da cidade. Segun-do, nas suas formas curvilíneas que teriam sido inspiradas na topogra-fi a do País, em especial a do Rio de Janeiro e, como afi rmou o próprio arquiteto, nas curvas do corpo da mulher brasileira. Sobre a relação de Niemeyer com o barroco, o autor afi rma que o arquiteto teria certa vez, ouvido o próprio Le Corbusier, a respeito das curvas em sua obra: “Oscar, você tem as montanhas do Rio em seus olhos. Você faz barroco em concreto armado mas o faz muito bem”. (2002, p. 28).
Em se tratando da cidade modernista em questão, foi com essa mistura de estilos, modernos ou não, que Niemeyer, agindo como um bricoleur, pôde provocar o estranhamento e, a partir dele, propor a
9 Alberto Xavier é outro a mencionar a presença do barroco na obra de Niemeyer. São palavras dele: “[...] Oscar Niemeyer, obedecendo sem dúvida às exigências de seu temperamento, se entrega cada vez mais a um gosto barroco pelas grandes formas irregulares e pelas curvas [...]”. (2003, p. 103).
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 3015939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 30 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
Capítulo 1 Brasília mística: Um planeta diferente da terra 31
transformação social pelas vias formais de sua arte arquitetônica – uma arte que não se contempla apenas, mas que se deixa tocar, adentrar, consumir-se nos serviços e nos espaços – viver-se, enfi m. De fato, o ar-tístico em Brasília visava à revolução socialista10 que deveria acontecer no país, mas uma revolução por meio da arte e sem dogmatismos. Por isso, prezava a polissemia: propunha uma abertura e uma variedade de sentidos. Esse fato, inclusive, deu ao governo Kubitschek a possibilida-de de, em seus discursos políticos, destituir a cidade de todo e qualquer sentido anticapitalista e permitiu pensá-la simplesmente como o sím-bolo maior de seu governo desenvolvimentista.
Uma cidade que somente agora completou 50 anos, mas que há muito tempo deu mostras do malogro de sua promessa. Brasília e sua utopia – se vistas tanto pela ótica socialista de Costa e Niemeyer quanto pela capitalista de Kubitschek – revelaram-se inconsistentes e deixaram sequelas. De um lado, a cidade não promoveu os desenvolvimentos tec-nológico, industrial, social e econômico prometido, e ainda foi responsá-vel pela contração de uma grande dívida a ser paga pelos próximos go-vernos. De outro, o insucesso de Brasília como projeto modernista para uma sociedade mais justa e igualitária é, hoje em dia, inegável.
Ao negar as reais condições culturais e econômicas brasileiras da época, Brasília foi incapaz de lidar com as diferenças sociais logo nos primeiros anos após a sua construção. Contrariando as expectativas, lem-bra Holston (1993), ela reforçou ainda mais tais diferenças. Atualmente, grande parte de seus habitantes tem um padrão fi nanceiro bastante eleva-do, enquanto as pessoas de renda mais baixa moram em cidades-satélites, nas zonas periféricas. A ocupação e a distribuição de seus espaços pú-blicos e privados, por sua vez, são criticadas por arquitetos, urbanistas, moradores e inclusive turistas. Quanto às suas formas impressionantes e diferenciadas, elas também em nada ajudaram o Brasil a se tornar um país socialista. Em Brasília, parece que o estético se separou de vez do político.
No entanto, a cidade modernista ainda paira eterna e estranha em meio ao Planalto Central brasileiro. Continua a impressionar pela ou-sadia e pela beleza de suas formas escultóricas encontradas na disposição de seus prédios, situados em amplos espaços vazios; no branco de sua
10 Oscar Niemeyer filiou-se ao Partido Comunista Brasileiro em 1945. Com o golpe militar de 1964 e o consequente boicote ao seu trabalho, migrou para Paris, lá permanecendo até os anos 1980. Em 1990, desvinculou-se do partido, juntamente com Luís Carlos Prestes.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 3115939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 31 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante32
arquitetura em contraste com o céu azul de planalto; nas curvas alonga-das e linhas retas de suas formas; na leveza de suas estruturas. A mesma cidade que, de tudo o que se quis e se pensou sobre a construção de um país melhor, para alguns mais parece o retrato de um sonho frustrado. Para outros, todavia, continua a incitar a crença em um futuro irremedia-velmente promissor, profetizado não mais por Kubitschek, Costa, Nie-meyer e simpatizantes – embora também este porvir se alimente de tais previsões –, mas um futuro agenciado por integrantes de movimentos religiosos recentes e variados que, nutrindo-se da polissemia de Brasília, possuem um modo bastante peculiar de se relacionar com a estranheza de suas formas, como será analisado a seguir.
1.3 – Por uma mitologia da cidadeDe acordo com Deis Siqueira (2003), a criação de uma “Brasília mística” se deu a partir de dois mitos básicos: o da Cidade Utópica e o da Terra Prome-tida. O primeiro encontra-se inscrito no planejamento urbano e na arqui-tetura daquela cidade, proclamada pelos modernistas Costa e Niemeyer e pelo presidente Kubitschek como propiciadora de um lugar em que “todos teriam acesso a tudo”, uma espécie de paraíso a ser vivenciado por ricos e pobres, indistintamente. O segundo refere-se ao sonho-profecia de Dom Bosco, o padre de origem italiana que supostamente viu no local o nasci-mento de uma terra auspiciosa, de onde jorraria “leite e mel”.
Entenda-se a palavra “mito” conforme defi nição de Mircea Elia-de (1989), segundo a qual os mitos são relatos de acontecimentos sagra-dos relativos ao tempo primordial, ao tempo fabuloso dos “começos”11. No caso em questão, esses mitos explicam o nascimento e a constituição daquele pequeno cosmos chamado Brasília e ainda ecoam em outros mi-tos. Daí a possibilidade da criação coletiva de uma terceira narrativa mí-tica, baseada nas duas primeiras, mas também associada a novos fatores. Este terceiro mito, divulgado pela esoterista Iara Kern, trata da gestação
11 Acrescente-se à definição escolhida uma importante consideração de Iuri Lotman. Segundo ele, “to-dos os textos míticos que conhecemos nos chegam como transformações: traduções da consciência mitológica à linguagem verbal linear (o mito é espacial-icônico e se realiza signicamente nas repre-sentações dramáticas e na existência pancrônica dos desenhos, nos quais como, por exemplo, nas representações rupestres, a ordem não está dada linearmente) e ao eixo da coincidência histórica temporal-linear. Daí a ideia das gerações e etapas, todos esses ‘primeiros’ e ‘depois’ que organizam os registros e que conhecemos mas que não pertencem ao próprio mito, mas à sua tradução em uma lin-guagem não mitológica. O que na linguagem do pensamento linear se converte em consecutividade, no mundo mitológico representa o ser, que se dispõe em círculos concêntricos, entre os quais existe uma relação de homeomorfismo”. (Lotman, 1998, p. 29).
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 3215939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 32 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
Capítulo 1 Brasília mística: Um planeta diferente da terra 33
de Brasília a partir de uma certa “herança cármica” deixada por Akhe-taton, a cidade criada pelo faraó Akhenaton no vale de Tel-El-Amarna.
Falando de eventos especiais, daquilo que se deu no tempo sagrado das origens, os mitos encontram-se normalmente associados à fi gura dos heróis civilizadores, que são seres sobrenaturais e, conforme afi rmativa de Eleazar M. Mielietinski (1987), responsáveis pela criação de alguma coisa: a primeira planta, o primeiro fogo, os primeiros procedi-mentos medicinais e de caça, a primeira casa, o modelo de ações rituais, assim como as primeiras atitudes moralmente positivas e negativas.
Partindo-se desse pressuposto, no caso do primeiro mito citado por Siqueira, pode-se dizer que o surgimento de Brasília assume de fato características notáveis, uma vez que ele foi envolvido por uma certa aura de sacralidade em sua perspectiva utópica, seja ela modernista ou de-senvolvimentista. Por extensão, as fi guras de Costa, Niemeyer e Kubits-chek também são passíveis de serem mitifi cadas e, no caso, comparadas em sua atuação junto ao planejamento da referida cidade, tanto a heróis civilizadores quanto a homens possuídos pelo divino e, portanto, seres dotados de superioridade em relação aos demais.
O crítico de arte Mário Pedrosa, por exemplo, foi um dos que ajudaram a conferir aos modernistas suas condições heróicas – mesmo que o seu discurso se voltasse para a proposta artística de Brasília e se mostrasse aparentemente destituído de um interesse mitifi cador. Imbu-ído de uma mentalidade evolucionista, assim como de um grande en-tusiasmo frente à construção da nova capital, ele tratou as culturas dos povos nativos da região de Brasília como atrasadas e sem importância, enquanto aos idealizadores da cidade modernista caberia a qualidade de notáveis civilizadores. Seriam eles então os instituidores de uma ordem em meio à desordem, os instauradores do cosmos em meio ao caos indi-ferenciado.
Tal postura pode ser facilmente verifi cada no discurso de Pedrosa sobre a criação da nova capital brasileira. Para ele, Brasília foi construída no meio do nada ou, melhor dizendo, em meio à “selva bruta”. O Brasil, no seu entender, “não existia quando chegaram ao seu litoral virgem os primeiros navegadores portugueses e espanhóis à procura do caminho da Índia”, já que os índios encontrados por Cabral na época do descobrimento seriam, segundo o lamentável discurso de Pedrosa, no máximo, uns sel-vagens nômades que perambulavam de lá para cá e nem sequer tinham ultrapassado a Idade da Pedra. (Pedrosa, 1981, p. 321, 358).
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 3315939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 33 31/01/2011 16:19:1731/01/2011 16:19:17
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante34
Fica clara a indiferença de Pedrosa, bem como a de muitos outros desavisados e/ou entusiastas da época da construção de Brasília, frente à importância cultural dos índios, sobretudo os ligados às terras do Distrito Federal. Essa região, segundo Paulo Bertran, confi gurava-se como um território de caça e de pequena agricultura dos antigos grupos Macro-Jê, além de ponto de contato de suas subetnias: “os Caiapó, se-nhores do vale do Corumbá, ao Sul; e os Acroá ou Acwa, ao Norte, a que julgamos pertencerem à extinta nação dos Crixá e Acroá, assim como os atuais Xavante, Xerente e Xacribá” (2000, p. 24).
A arquitetura de Niemeyer para o Memorial dos Povos Indíge-nas, dedicado à memória indígena brasileira, é, aliás, uma prova cabal da visão equivocada do que venham a ser esses povos por parte daqueles que conceberam a cidade de Brasília. Ressalte-se que o local foi construído de modo circular, como em algumas malocas e aldeias indígenas brasileiras. O centro, com um amplo espaço interno aberto em sua parte superior para o céu, destina-se à apresentação de alguns grupos – assim como se dá no local reservado por algumas aldeias para as suas festividades e reuniões políticas.
O curioso é que nessa abertura há uma espécie de cobertura no formato semelhante ao de uma mão, como que protegendo o local. O referido centro do Memorial é ainda circundado por um vidro, como um aquário, enquanto os espectadores não indígenas de tais “espetácu-los”, quando a “casa” está cheia, fi cam dispostos em volta desse mesmo aquário, como se fossem turistas ou integrantes da plateia de um parque aquático ou coisa parecida. O índio, nesse caso, mais parece um animal aprisionado, exibindo suas “habilidades” sem, no entanto, oferecer perigo ao seu “padrinho” e protetor: o homem “civilizado”.
Voltando à questão da mitifi cação de Brasília, vale dizer que Costa, o urbanista da atual capital brasileira, foi outro a fazer uso do dis-curso mitológico por ocasião da construção daquela cidade. Munido da clara intenção de mitifi car a cidade e a si próprio durante a apresentação de documento sobre o planejamento urbano, ele praticamente declarou estar isento de qualquer responsabilidade sobre o que ali estava escrito e dese-nhado: “Não pretendia competir e, na verdade, não concorro – apenas me desvencilho de uma solução possível, que não foi procurada, mas surgiu, por assim dizer, já pronta [...]”, declarou o modernista (Costa, 1957, p. 38).
A atitude de Costa, segundo Holston (1993), evidencia que o ideal modernista apresentava duas faces, em certa medida, contraditó-
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 3415939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 34 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Capítulo 1 Brasília mística: Um planeta diferente da terra 35
rias. Uma racionalista, que equiparava o político ao estético e propunha, entre outras coisas, a utilização racional dos espaços e a padronização das fachadas dos prédios com vistas à experiência utópica da igualdade social; a outra de cunho mitológico, que foi usada em função da primeira. Como intenção, apenas uma: buscar com esse tipo de retórica a legitima-ção de seu projeto e o desvio da atenção do governo capitalista sobre seus interesses políticos socialistas para a cidade.
Tal postura está explícita, analisa o autor (1993), no fato de que Costa em nenhum momento menciona o plano piloto como o resultado de uma consideração a respeito das condições sociais brasileiras ou de uma história das ideias arquitetônicas. Ao contrário: ele desistoriciza o problema, apresentando-o nos termos de um mito de fundação, feito por inspiração divina. Faz uso das convenções clássicas da narrativa mitoló-gica e da poesia épica já no início do relatório do plano piloto e sugere, assim, uma espécie de anunciação, uma possessão do poeta pelas musas – neste caso, as da arquitetura e do urbanismo12.
Um outro aspecto certamente mitologizante da atual capital brasileira é o fato de que sua concepção urbanística tem por base duas fi guras geométricas: a cruz e o triângulo equilátero, como mostrado no desenho executado por Lúcio Costa. Essas fi guras eram comumente en-contradas nas artes das vanguardas que infl uenciaram a arquitetura da cidade, como o construtivismo e a Bauhaus, mas que foram mencionadas pelos modernistas também em seus aspectos místicos e míticos. Assim, na cidade de Costa e Niemeyer, a cruz é originada do cruzamento do eixo residencial com o eixo monumental que cortam a cidade nos sentidos leste-oeste e norte-sul e formam um ângulo de 90 graus. Já o triângulo equilátero se encontra sobreposto à cruz como a marca da área urbani-zada do plano piloto, formado pela junção de retas traçadas a partir das quatro pontas dos eixos.
Holston (1993) considera a cruz como o gerador do plano e adverte que Costa, no primeiro artigo de seu documento – valendo-se de um símbolo eminentemente cristão, portanto valoroso para o povo brasileiro –, utiliza-se do “sinal da cruz” para indicar o ato primordial da fundação não apenas de Brasília, mas de qualquer outra cidade. O plano, segundo o urbanista, “nasceu do gesto primário de quem assinala um
12 Vale lembrar a explicação de Eliade (1989), segundo quem o poeta, quando possuído pelas musas, inspira-se na ciência de Mnémosine – personificação da memória e mãe das musas –, isto é, no seu conhecimento das origens, dos primórdios, das genealogias.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 3515939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 35 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante36
lugar ou dele toma posse: dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz” (Costa, 1957, art. 23).
Para Holston (1993), a afi rmação de Costa é típica da vontade de supressão da história que caracterizava a mentalidade dos modernistas ligados à construção de Brasília. Um ato que, sendo desistoricizante, era ao mesmo tempo mitifi cador ao se utilizar de três artifícios retóricos: 1) a origem do plano é naturalizada e portanto apresentada como espontâ-nea e cabível a qualquer pessoa; 2) é também universalizada, tornando-se então válida para qualquer indivíduo em qualquer lugar e 3) igualmente idealizada, dada a sua incorporação em formas geométricas ideais, no caso, a cruz e o triângulo equilátero.
Ainda sobre essa questão, afi rma Holston:
A naturalização das origens levada a cabo por Costa em seu plano enfatiza a signifi cação simbólica da fi gura da cruz. Como signo, a cruz funciona aqui tanto como índice quanto como ícone, para usar a distinção de Charles S. Peirce. Aponta para um lugar espacialmente defi nido (mas, neste caso, para qualquer lugar), indicando a presença de seres humanos e de seus atributos, tais como propriedade, povoamento e civilização. É um índice porque indica a presença de uma cidade e de uma civilização como a origem de um cruzamento de eixos, assim como a fumaça indica a presença de uma fogueira que a origina. A cruz é também um signo icônico naquilo em que se assemelha a vários outros símbolos bem conhecidos, evocando, pela semelhança na forma, seu signifi cado em nossa mente. Grafi camente, a cruz do plano-piloto parece a cruz da cristandade. Essa associação formal, icônica, evoca a ideia de um sítio sagrado para a cidade de Brasília e uma bênção divina para a fundação da capital, em uma evocação baseada na associação convencional no mundo cristão entre cruzes e coisas sagradas. (1993, p.77)
Diante de tal circunstância, interessa notar um outro aspecto do discurso de alguns modernistas sobre a cidade em questão. Trata-se da relação mítica estabelecida por Costa entre Brasília e representações das cidades antigas dos egípcios e dos romanos – no caso um hieróglifo e um diagrama, respectivamente – símbolos amplamente conhecidos
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 3615939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 36 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Capítulo 1 Brasília mística: Um planeta diferente da terra 37
por urbanistas e arquitetos de, praticamente, todo o mundo. Nas pala-vras do autor:
O primeiro é considerado uma das mais antigas representações pictóricas da ideia de uma cidade: o hieróglifo egípcio da cruz dentro de um círculo, ele próprio um signo icônico represen-tando ‘cidade’, nywt. O segundo é o diagrama do templum nos antigos augúrios romanos, um círculo dividido em quatro pelo cruzamento de dois eixos. (Holston, 1993, p. 77-78).
Agindo assim, o urbanista retira do seu projeto considerações sobre a história do Brasil e da arquitetura moderna, como lembra Holston (1993). Reveste esse mesmo ato criador de uma mitologia comemorativa das técnicas urbanísticas já consagradas, conferindo uma espécie de linha-gem ilustre à cidade de Brasília. E como já dito, faz eco à ideia do vazio, de um caos primordial em que, pela ação mítica e cosmifi cante do herói, criar--se-á algo importante e benéfi co. No caso, a cidade de Brasília como um verdadeiro bem concedido por alguém de espírito superior e certamente altruísta: o urbanista Costa e/ou o arquiteto Niemeyer, embora também se possa pensar em Kubitschek, o então Presidente da República.
Juscelino Kubitschek teria executado o mesmo ato criador. Ima-gine-se que Kubitschek, aos olhos de muitos, foi igualmente responsável pela fundação de uma cidade que mudaria o destino não apenas da re-gião, mas de todo o país. Brasília seria, assim, o resultado do ato inaugu-ral de um homem na época tido como um verdadeiro herói por grande parte dos brasileiros, um homem que usaria o seu poder com a fi nalidade de promover o bem geral da nação e que, apoiado em um outro mito, o da Terra Prometida, vinculado ao padre italiano Dom Bosco, faria da-quela região um centro propulsor de progresso e de desenvolvimento nos setores industrial, tecnológico e econômico. Aliás, Juscelino Kubitschek parece mesmo ter se agarrado a tal profecia como sinal de predestinação de seus projetos de governo. Nas suas palavras:
Eram duas horas da manhã. O [Palácio das] Laranjeiras estava em silêncio. Ouvia-se apenas o ranger dos passos do guarda na areia do jardim. Cansado, guardei a papelada, preparando-me para me recolher ao leito. Mas, antes de deixar o gabinete, abri uma janela para ver a noite. Não sei por que lembrei-me de
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 3715939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 37 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante38
repente da profecia de Dom Bosco [...]. Recordei, palavra por palavra, o que lera no volume XVI das Memórias biográfi cas. Era famosa a profecia sobre a Grande Civilização que iria surgir entre os paralelos 15° e 20° – a área em que Brasília estava sendo construída. O lago, da visão do santo, já fi gurava no Plano-Piloto de Lúcio Costa. Ainda debruçado à janela, ergui os olhos e contemplei a luz vermelha que brilhava no alto da torre da Igreja da Glória. E veio-me à mente, outra vez, a frase profética do santo de Bec-chi: “E essas coisas acontecerão na terceira geração”. Dom Bosco falecera em 1888. Computando-se o período de vinte anos para cada geração, era óbvio que a década dos 50 seria a da “terceira geração”. As forças misteriosas que regem o mundo haviam agi-do no sentido de que as circunstâncias se articulassem e crias-sem a “oportunidade” para que o velho sonho se convertesse em realidade. Justamente na década dos 50 a ideia havia chega-do à maturação, requerendo execução. Naquela madrugada, olhando as árvores do Parque Guinle, procurava tirar ilações da profecia de Dom Bosco. Existia uma curiosa coincidência de local e de datas. O importante, po-rém, era que a construção da nova capital estava em andamen-to [...]. (Kubitschek, 1978, p.171).
Sobre a profecia de Dom Bosco – cerne do segundo mito apon-tado por Siqueira –, vale dizer que esta teria se dado na noite de 30 de agosto de 1883. Conforme Ronaldo Costa Couto (2001), o santo italiano nasceu de um casal de camponeses, em 1815, na cidade de Becchi, no Piemonte. Órfão de pai aos dois anos de idade, foi criado por mãe anal-fabeta, tendo difi culdades para prosseguir nos estudos por causa de sua parca situação fi nanceira. O autor afi rma ainda que Dom Bosco quis ser padre desde a infância, o que o fez entrar para o seminário de Chieri e ordenar-se em 1841.
Durante toda a sua vida sacerdotal, Dom Bosco teria se dedica-do ao ensino dos preceitos cristãos, preocupando-se principalmente com o futuro das crianças pobres e abandonadas. Segundo o autor (2001), em 1846 ele se estabeleceu em Valdocco, bairro de Turim, onde instituiu o Oratório de São Francisco Sales e depois a escola profi ssional e o ginásio. Em 1855, chamou seus colaboradores de salesianos, palavra derivada de
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 3815939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 38 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Capítulo 1 Brasília mística: Um planeta diferente da terra 39
Sales. Com eles criou, em 1859, a Congregação Salesiana. Depois, com Santa Maria Domingas Mazzarello, fundou o Instituto das Filhas de Ma-ria Auxiliadora, para a educação da juventude feminina.
Os primeiros salesianos, conforme Couto (2001) chegaram em 1875 à América do Sul, instalando-se, no caso do Brasil, inicial-mente em Niterói (RJ), para depois rumarem para São Paulo. Foi com o Brasil que o padre italiano – falecido aos 72 anos, em 31 de janeiro de 1888, e canonizado pelo Papa Pio XI na Páscoa de 1934 –, sonhara um sonho-profecia, revelado-o em uma reunião da Congregação Salesiana, realizada em 4 de setembro daquele mesmo ano. Suas palavras teriam sido devidamente anotadas, segundo afi rma o autor, por um padre de nome Lemoyne.
Couto (2001) afi rma que o santo contou ter sido arrebatado pe-los anjos e viajara com eles em um sonho que era mais propriamente uma visão, uma profecia maravilhosa que preconizava o advento de uma grande civilização em um lugar que ele não conseguia defi nir direito. A latitude de tal lugar era apontada em um amplo intervalo de cinco graus, ao passo que a longitude não fora especifi cada. Para muitas pessoas, no entanto, esse espaço é aquele ocupado pela cidade de Brasília, construída no meio do Planalto Central brasileiro.
No volume XVI das Memórias biográfi cas de Dom Bosco está escrito, conforme Couto:
Por muitas milhas, percorremos uma enorme fl oresta virgem e inexplorada. Não só descortinava, ao longo das cordilheiras, mas via até as cadeias de montanhas isoladas, existentes naquelas planícies imensuráveis, e as contemplava em todos os seus menores acidentes. Aquelas de Nova Granada, da Venezuela, das três Guianas, as do Brasil, da Bolívia, até os últimos confi ns. Eu via as entranhas das montanhas e o fundo das planícies. Tinha sob os olhos as riquezas incomparáveis desses países, as quais, um dia, serão descobertas. Via numerosas minas de metais preciosos e de carvão fóssil, depósitos de petróleo abundantes que jamais se viram em outros lugares. Mas isso não era tudo. Entre os paralelos 15 e 20 graus, havia um leito muito largo e muito extenso, que partia de um ponto onde se formara um lago. Então uma voz disse repentinamente: “Quando escavarem as minas escondidas no meio destes montes, aparecerá aqui a
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 3915939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 39 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante40
Grande Civilização, a Terra Prometida, onde correrá leite e mel. Será uma riqueza inconcebível. E essas coisas acontecerão na terceira geração”. (2001, p. 40-41).
Sobre as curiosidades referentes às palavras de Dom Bosco, Couto adverte que o trecho relacionado aos paralelos 15° e 20° foi acres-centado às anotações do padre Lemoyne pelo próprio punho de Dom Bosco, como se pode ver no manuscrito existente na Biblioteca da Con-gregação Salesiana de Turim. Outro dado interessante é que a área de Brasília aprovada em 1955, antes da eleição de Kubitschek, de fato está situada entre os tais paralelos, mais especifi camente entre os de 15°30’ e 16°03’, e entre os rios Preto e Descoberto.
Para Kubitschek, a visão de Dom Bosco parece ter sido uma antecipação, uma advertência profética sobre o que iria ocorrer no Pla-nalto Central. Na verdade, esse acontecimento se constitui em um lugar--comum no discurso daqueles que pretendem uma acepção tanto mítica quanto mística para a cidade em questão. Tal é o caso da esoterista13 Iara Kern, segundo quem, pela visão de Dom Bosco, “Brasília será o Celeiro do Mundo, de onde jorrará leite e mel. É a Capital do terceiro milênio. Terá fartura e paz. E no dia que escavarem ao redor de Brasília, encontra-rão desde o urânio até o petróleo”. (2000, p.32).
Kern é talvez uma das pessoas mais contumazes em corroborar a sobrenaturalidade e a predestinação de Brasília, seja em sua frequente menção ao sonho-profecia de Dom Bosco, seja por meio da referência que ela também faz à declaração de Costa sobre o seu suposto “desvencilha-mento” do projeto do Plano Piloto. No entanto, interessa saber que a sua maior contribuição à atmosfera de misticismo que ronda a cidade foi a de ser uma das principais disseminadoras de um terceiro mito, intensamente nutrido pelos dois a que se referiu Siqueira: o da Cidade Utópica e o da Ter-ra Prometida. Atualmente ele é bastante difundido entre os habitantes de Brasília e todo o circuito esotérico a ela relacionado; trata-se, como já dito,
13 Sabe-se que no campo das religiões o termo “esotérico” refere-se à prática de ritos secretos, reserva-dos a um círculo restrito de iniciados e, portanto, oposto a “exotérico”, ou parte pública do cerimonial. No entanto, o sentido aqui usado é o do senso comum, divulgado em larga escala pelos meios de comunicação. Tem-se, assim, neste trabalho, “esotérico” como relativo às novas práticas religiosas ou religiões alternativas criadas, sobretudo, a partir dos anos 1960.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 4015939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 40 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Capítulo 1 Brasília mística: Um planeta diferente da terra 41
da narrativa de que Brasília seria uma espécie de reencarnação da cidade do vale de Tell-el-Amarna, construída pelo faraó Akhenaton em homena-gem ao deus Aton, enquanto Kubitschek assumiria as vezes de seu sucessor espiritual, como será analisado em um próximo capítulo.
1.4 – Um axis mundi na nova eraBrasília surgiu como um lugar predestinado a um modo diferente de vida. Igualdade social, modernidade arquitetônica e urbanística, inovação políti-co-administrativa e integração do território nacional defi nem algumas das perspectivas daqueles que a entenderam como centro difusor de prosperida-de para o País. Uma verdadeira cidade utópica, no caso do Ocidente, her-deira dos ideais não apenas daquelas cidades projetadas por Le Corbusier, mas também de toda uma tradição teológica, fi losófi ca e/ou literária que se estende ao longo de séculos na história.
A construção da utopia social vinculada à cidade de Brasília, em sua confi guração não linear, múltipla, também faz eco a projetos nada modernos, como A república de Platão (séc. IX a.C.); A cidade de Deus de Santo Agostinho (séc. V d.C.); A Utopia de Th omas Morus (séc. XVI d.C.) e A cidade do Sol de Tommaso di Campanella (séc. XVII d.C.). Todas elas são investidas de uma certa aura de sacralidade, já que tratam, cada uma a seu modo, da viabilização de um lugar idealizado, de uma espécie de paraíso imaginado que assume ares de axis mundi: o eixo de um admirável novo mundo.
No caso específi co de Brasília, a condição de axis mundi serve de modo explícito à ideia da ligação entre a existência física e a sobrenatural – mesmo para os que a pensaram sobre bases materialistas, como é o caso do próprio Niemeyer. Caberia então a essa cidade a afi rmação de Mircea Eliade (1992), segundo quem uma existência profana jamais se encontra em estado puro. Para o autor, não se consegue abolir por completo do ho-mem a noção de sagrado, seja qual for o grau de dessacralização do mundo a que se tenha chegado. E, assim, mesmo na experiência do espaço pro-fano, como é o caso da cidade em questão, ainda pode-se detectar valores que, de algum modo, remetem à noção da não homogeneidade, típica da experiência religiosa do espaço.
São palavras de Eliade:
Existem, por exemplo, locais privilegiados, qualitativamente diferentes dos outros: a paisagem natal ou os sítios dos
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 4115939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 41 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante42
primeiros amores, ou certos lugares na primeira cidade estrangeira visitada na juventude. Todos esses locais guardam, mesmo para o homem mais francamente não-religioso, uma qualidade excepcional, “única”: são os “lugares sagrados” do seu universo privado, como se neles um ser não religioso tivesse tido a revelação de uma outra realidade, diferente daquela de que participa em sua existência cotidiana. (1992, p. 28).
No que concerne à cidade modernista em questão, a princi-pal qualidade que a fez e ainda a mantém como “única” é a de ter sido projetada com vistas a um porvir moderno e igualitário. Se tal objetivo foi ou não concretizado, essa é uma questão secundária para o presente trabalho. O mais interessante, aqui, é perceber que a referida cidade se constituiu, desde a época de seus primeiros defensores e idealizadores, como um local com características especiais, em que o sagrado e o profa-no se encontram intrinsecamente ligados, praticamente impossibilitados de serem dissociados.
Nesse sentido, Brasília tornou-se realmente uma cidade aus-piciosa não apenas diante dos olhos dos católicos e místicos crentes na profecia de Dom Bosco, como também dos não religiosos, desde a época do Brasil Colônia, com a intenção de transferir a capital do país para o interior do território. Nos anos 1950 e 1960, muitos entusiastas do proje-to modernista também fi zeram do local14 a sua utopia de paraíso, igual-mente desfrutado pelo intelectual, pelo artista, pelo funcionário público, pelo profi ssional liberal, pelo político e por tantos outros que deixaram ou deixariam suas cidades para apostar naquela que seria o modelo mais perfeito de um outro Brasil15.
Todo esse otimismo em torno da ideia de que a construção de Brasília resultaria em uma profunda mudança para o País foi fortemente alimentado, tanto pela imprensa nacional e estrangeira quanto por per-sonalidades do cenário político, econômico e cultural. Some-se a tal ex-pectativa o fato de aqueles fi nais dos anos 1950 e início dos 1960 serem extremamente marcantes para o Ocidente no que se refere ao assunto
14 A aprovação do projeto de Brasília ocorreu em 16 de março de 1957, ao passo que sua inauguração ocorreu em 21 de abril de 1960.
15 Vale ressaltar que tal conquista se deu apenas na intenção dos planejadores de Brasília. O que se ve-rificou não muito tempo depois da criação da cidade é que os peões construtores da nova capital, os imigrantes e os menos favorecidos economicamente acabaram por habitar espaços fora do plano piloto e a fazer crescer as cidades-satélites na periferia.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 4215939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 42 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Capítulo 1 Brasília mística: Um planeta diferente da terra 43
“mudanças”. Desde os domínios da Europa e da América do Norte até pa-íses sul-americanos, muitos acontecimentos da época começavam a pôr em cheque algumas das mais velhas instituições.
Tempos de contestação, tempos impregnados pela procura da paz mundial; pela liberdade sexual e de expressão; pela valorização do negro, do homossexual e da mulher; pelo resgate das religiões orientais; pela circulação de pessoas entre diversas práticas místicas ou mesmo pelo surgimento de comunidades religiosas; pela crença em civiliza-ções extraterrestres e pelo culto aos povos antigos e antepassados, pela valorização da natureza e da ecologia; pela busca dos estados alterados de consciência, alcançados pelo uso de drogas e vivências rituais; pela quebra dos paradigmas científi cos; pela prática da medicina e terapias corporais alternativas; pela experimentação na música, no teatro, na dança, na literatura e nas artes plásticas. Uma profusão de movimentos e ideias que fi zeram aquela época se tornar bastante profícua em boa parte do mundo ocidental.
Traçando-se um panorama geral da época, pode-se dizer que os anos 1950, como lembra José Guilherme Magnani (2000), marcam o início desse período com a literatura vanguardista do movimento Beatnik e o comportamento rebelde de seus poetas-mochileiros, reclamando a Rucksack Revolution, assim chamada por Jack Kerouac, um de seus princi-pais representantes e autor dos livros On the road e Th e dharma bums. Ou-tro nome importante do movimento foi Allen Ginsberg e os seus poemas Howl e How to make a March/ Spetacle. Ginsberg, conforme Carlos Alberto Messeder Pereira (1983), foi líder e idealizador do Flower Power, manifes-tação hippie dos anos 1960.
No plano político, diz Magnani (2000), foram importantes nes-sa mesma década de 1960 os protestos pacifi stas de jovens norte-ameri-canos contra a entrada dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã, os con-fl itos estudantis de maio de 1968 na França e a Primavera de Praga, no mesmo ano. Pereira (1983) destaca ainda a Revolução Cultural Chinesa, a resistência popular vietnamita à agressão norte-americana e a guerrilha de Che Guevara na Bolívia.
No que se refere mais especifi camente aos Estados Unidos, ob-serva Pereira (1983), fortaleceu-se o movimento de intelectuais da Nova Esquerda, passando por movimentos como o Gay Power, o Women´s Lib e o Black Power. A luta deste último teve como ponto de partida e ponto de articulação a batalha pelos direitos civis que marcou os anos 1960,
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 4315939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 43 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante44
assim como a efervescência dos demais grupos. Desde então, os negros tornaram-se fortes aliados dos brancos, normalmente das camadas mé-dias americanas, que se rebelaram contra o American way of life.
A procura por liberdade e por novas percepções sensoriais e místicas levou à valorização do uso de drogas nos anos 1960 e 1970, como a maconha e o LSD. Nessa ocasião, como lembra Pereira (1983), o psi-quiatra Timothy Leary, conhecido como o “papa psicodélico”, foi expulso da Universidade de Havard por suas práticas com o LSD. No entanto, mesmo após sua expulsão, continuou em defesa das drogas como experi-ência contrária à racionalidade ocidental vigente, unindo-se ao “papa do zen-budismo”, o professor de fi losofi a Allan Wats.
Na música era a vez dos grandes festivais de rock, como Woodsto-ck, realizado em 1969 e logo transformado em fi lme – Woodstock. Dos artistas que lá se apresentaram, Bob Dylan, Jimmy Hendrix e Janis Joplin fi zeram ressoar o gosto juvenil da época ao entoarem seus instrumentos e canções de rock de protesto, como ressalta Magnani (2000). Esse rock se universalizou e foi incorporado ao consumo de massa, acabando por incentivar a criação de vários grupos musicais e a consolidar a carreira de outros.
Nessa época, mudaram também o comportamento sexual e os padrões da organização familiar. Muitos foram morar em comunidades, passaram a usar cabelos longos e desalinhados e a se vestir de maneira mais despojada: calças de bocas largas e cintura baixa, batas indianas etc. Os valores espirituais sofreram, da mesma forma, uma série de transfor-mações. Como exemplos de tal afi rmação, Magnani (2000) refere-se à rebeldia juvenil contra os padrões dominantes da moral cristã, protes-tante e norte-americana, assim como à adoção de sistemas de crenças e fi losofi as orientais, devidamente adaptadas ao Ocidente.
Magnani (2000) adverte, contudo, que o processo de renovação espiritual verifi cado naquela época teve seus antecedentes na corrente do transcendentalismo norte-americano do século XIX – cujos representan-tes maiores foram Ralph Waldo Emerson e Henry Th oreau –, na teosofi a desenvolvida por Helena Blavastsky, Henry S. Olcott e Annie Besant e em correntes ocultistas de origem europeia. Outra infl uência importante entre esses grupos mais antigos teria se dado a partir das ideias do mestre hindu Swami Vivekananda, presente em 1893 em Chicago, por ocasião do Congresso Mundial de Religiões.
Sobre o trânsito de ideias fi losófi cas e espirituais entre Oriente e Ocidente e a prática de novas experiências sensoriais, vale frisar, como o
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 4415939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 44 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Capítulo 1 Brasília mística: Um planeta diferente da terra 45
faz Magnani (2000), a importância de determinadas pessoas na propaga-ção e na legitimação desses novos ensinamentos. Entre elas, os escritores Herman Hesse, Aldous Huxley e Gary Snyder, os antropólogos Carlos Castañeda e Gregory Bateson (que também é biólogo), os já menciona-dos professor de fi losofi a Allan Wats e psiquiatra Timothy Leary, o físico Fritjof Capra e os mestres espirituais indianos Jiddu Krishnamurti e Pa-ramahansa Yogananda.
Ricardo Sasaki (1995) associa o espírito da Nova Era às fi guras dos gurus indianos Maharshi Mahesh Yogui, com sua meditação trans-cendental, na época praticada pela atriz Mia Farrow e pelos integrantes das bandas de rock Th e Rolling Stones e Th e Beatles, a Rajneesh ou Osho, autor dos livros Tantra, A psicologia do esotérico, Sexo e espiritualida-de, Do sexo à superconsciência etc., e a Bhaktivedanta Swami Prabhupâda, com o seu movimento Hare Krishna, que conseguiu grande simpatia do grupo Th e Beatles, sobretudo de George Harisson.
Alguns grupos de Channeling, uma espécie de espiritismo prestigiado pelos mais novos esotéricos que acreditam receber men-sagens de extraterrestres, também são mencionados por Sasaki (1995), assim como a Ufolatria, fortalecida no século XX pela infl uência do jornalista alemão Erich von Däniken em seu propalado livro Eram os Deuses Astronautas? e por grupos de pessoas que, a partir de então, pas-saram a sair à procura de extraterrestres, considerados espiritualmente mais evoluídos. Os franceses Louis Pauwels e Jacques Bergier, editores da revista Planète e autores do livro Le matin des magiciens, também exer-ceram papel fundamental na confi guração da Nova Era.
Esse espírito inovador que foi dos finais dos anos 1950 até o início dos 1970 costuma-se chamar de “contracultura”, termo cunha-do pela imprensa norte-americana nos anos 1960, segundo Pereira (1983), para designar um conjunto de manifestações culturais margi-nais, nascidas de uma crítica radical ao establisment e efetuadas, sobre-tudo, por jovens aliados a teóricos e a gurus de idade mais avançada.
Juntamente com a Contracultura, conforme salientou María Del Rosario Conteponi (1999), veio a “Nova Era” ou “Era de Aquário”, fazendo uso do termo que denomina a era astrológica que na época se iniciava. De acordo com a autora, para os seguidores dessa ideia, o ano 2000 marca o fim da Era de Peixes, nela predominando o mate-rialismo, a ditadura da razão, o afastamento de Deus e a destruição do planeta. Quanto à Nova Era ou Era de Aquário, ela se estenderia até o
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 4515939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 45 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante46
ano 4000 e teria como característica principal a busca da espirituali-dade e da harmonia.
Segundo Magnani (2000), o sentido original do termo “Nova Era” refere-se às profundas alterações voltadas para os homens em sua maneira de pensar, de agir e de se relacionar uns com os outros, com a natureza e com a esfera do sobrenatural16. Mais: de uma forma geral, essas transformações são percebidas no sentido do resgate de um equi-líbrio entre os polos “corpo/ mente”, “espírito/ matéria”, “masculino/ fe-minino”, “ciência/ tradição”, entre outros.
Aldo Natale Terrin, por sua vez, ao referir-se ao termo em ques-tão, defi ne-o como “um movimento que olha pra frente com saudade do passado e do passado remoto [...]” (1996, p. 15), na medida em que tem, no seu tipo de religiosidade17, um produto do pós-moderno, de uma cultura que viu ruir as ideologias, a verdade e os valores. Nas palavras do autor:
É uma religiosidade amadurecida por meio de um encontro com as formas expressivas e artísticas em nível de non-sense e já se encontra impregnada de irracional, de sensações mais do que de ideias, de vontade de crer mais do que de convicções, de visões e perspectivas deformadoras e de pluralismos indefi nidos mais do que de apegos a tradições, às grandes histórias e aos grandes mitos do passado. (1996, p. 10)
Magnani (2000) lembra de Hair – musical de 1967, mais tarde transposto para fi lme homônimo – o refrão que anunciava o surgimento desse novo tempo: “Th is is the dawning of the age of Aquarius”, ou “É a aurora da era de Aquário”. Esse seria um novo tipo de modus vivendi cujo nome veio a domínio público, segundo Conteponi (1999), somente no princípio dos anos 1970, nos Estados Unidos, embora o conhecimento massivo de tal nomenclatura não se tenha dado antes dos anos 1980, com a sua divulgação pelos meios de comunicação e consequente transforma-ção em uma versão mais mercadológica.
Ligando-se à contracultura, de acordo com Conteponi (1999), a Nova Era já tinha lançado suas bases antes mesmo de se dar a conhecer. 16 Magnani (2000) afirma a inexistência de um consenso entre os astrólogos sobre a data exata do ad-
vento da Nova Era. Para alguns, ele se deu com a virada do milênio. Para outros, tais mudanças já estavam em curso antes mesmo da chegada do ano 2000.
17 Entende-se a palavra “religiosidade” com o sentido de conjunto de valores éticos com forte teor reli-gioso e, portanto, voltados para a esfera do sagrado.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 4615939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 46 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Capítulo 1 Brasília mística: Um planeta diferente da terra 47
Sua origem remete à década anterior àquela em que ocorreu a criação de seu nome. Eram então os anos 1960 quando surgiram os seus anteceden-tes: os encontros realizados pelos grupos da “Nova Luz” na Grã-Breta-nha. Um segundo foco, segundo a autora, seria a “Universal Foundation”, já em terras norte-americanas, cujo líder Anthony Brooke difundia suas ideias para a Europa Ocidental, Austrália, Nova Zelândia e América Lati-na, apoiado por seguidores.
Outro grupo importante na propagação do movimento, confor-me Maria Júlia Carozzi (1999), foi a comunidade alternativa de Easalen, na Califórnia. Ela oferecia ofi cinas de treinamento da consciência ges-táltica, análise transacional, sensopercepção, terapia primal, bioenergé-tica, massagens, psicossíntese, psicologia humanística, treinamento Ari-ca, meditação transcendental, biofeedback, controle mental e ioga como meios de desenvolvimento da consciência e das potencialidades não de-senvolvidas do homem.
Ainda hoje, esses tipos alternativos de terapia têm um grande respaldo, estando eles muitas vezes aliados, a partir de lógicas diversas, a sistemas religiosos como o xamanismo, o paganismo, o ocultismo, a gnose, a eubiose, a cientologia, a bruxaria wicca, entre outros. De fato, o estilo “neoerístico” de lidar com o sagrado é um processo em constante andamento. Encontra-se longe de se constituir como um produto acaba-do, institucionalizado ou um tipo de religiosidade fi xa.
No caso do Brasil, segundo Magnani, foi o movimento Tropi-calista18 dos anos 1960 que “abriu espaço para uma postura identifi cada com a estética libertária e dionisíaca da contracultura” (2000, p. 19). No entanto, de acordo com o autor, é de Raul Seixas – que chegou a parti-cipar com o seu parceiro, o hoje escritor Paulo Coelho, de sociedades iniciáticas inspiradas nas doutrinas do esoterista inglês Aleister Crowley – o mérito de ter explorado com maior intensidade, em suas canções, um forte grau do misticismo ligado à Nova Era. Os discos “Aeon” e “Gita” são um bom exemplo desse tipo de produção do artista.
Nessa época, como lembra o autor, grupos e associações religio-
18 Nascido a partir da palavra “Tropicália”, lançada pelo artista plástico Hélio Oiticica no ambiente cul-tural dos anos 1960, o termo “tropicalismo”, segundo Marcos Napolitano, “Efetivamente [...] se tornou corrente na mídia somente no começo de 1968. O termo acabou consagrado como ponto de clivagem ou ruptura em diversos níveis: comportamental, político-ideológico, estético. Ora apresentado como a face brasileira da contracultura, ora apresentado como o ponto de convergência das vanguardas artís-ticas mais radicais (como a antropofagia modernista dos anos 1920 e a poesia concreta dos anos 1950, passando pelos processos musicais da bossa nova), o tropicalismo, seus heróis e eventos fundadores passaram a ser amados ou odiados com a mesma intensidade”. (2001, p. 247).
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 4715939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 47 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante48
sas instalaram-se no País, tais como o dos discípulos de Bhagwan Shree Rajneesh e de Maharishi Yogi, entre outros. Também houve a criação de comunidades rurais alternativas, como a Nova Gokula, dos Hare Krish-na, no município de Pindamonhangaba (SP). As regiões preferidas dessas comunidades continuam sendo as tidas como lugares energéticos, muitas vezes ligados à suposta visitação de extraterrestres e/ou à noção de serem locais sagrados. Entre eles, o Sul de Minas Gerais, a Chapada dos Veadei-ros (GO), com destaque para a cidade de Alto Paraíso; a Chapada Dia-mantina (BA); a Chapada dos Guimarães (MT); a Serra da Bocaína (RJ, SP) e, como não poderia deixar de ser, grande parte do Planalto Central (MT, GO, MS), apontado por Siqueira (2003) como a região brasileira onde se concentra o maior número de grupos esotéricos.
No caso desse último, mais especifi camente no entorno da ci-dade de Brasília, há templos de religiões já bastante institucionalizadas, como o espiritismo kardecista, a umbanda, o candomblé, o catolicismo, o budismo e o islamismo. Todavia, também existe no local um grande nú-mero de centros de estudos holísticos e de comunidades religiosas forma-dos mais recentemente e em consonância com o estilo Nova Era. Como exemplos, podem ser citados a “Cidade Eclética”, a “Cidade da Paz”, o “Templo da Boa Vontade” (Legião da Boa Vontade - LBV), a Universida-de Holística Internacional, o “Centro Aquariano da Terra Prometida”, a “Fundação Osho Fraternidade” e o “Vale do Amanhecer”19.
Todas essas comunidades, criadas em ou levadas para Brasília, em geral nas últimas décadas – a maioria na década de 1990, embora haja grupos que lá estão desde os anos 1960, conforme Siqueira (2003) –, tan-to alimentam como são alimentadas pela atmosfera mística que envolve a cidade. Gabriela Balcázar Ramírez, por exemplo, ouviu falar que Brasília “dorme num tapete vermelho sobre um subsolo de cristais” (1998, p. 32) e acredita que, por esse motivo, talvez, a região seja muito energizada, estimulando o esoterismo que a caracteriza.
Francisco de Moura Pinheiro (1998), por sua vez, refere-se à grande quantidade de serviços ligados a atividades místicas, oferecidos em um jornal da cidade: cristais, massoterapia, relaxamento, projecio-logia, biodança, regressão, fl orais, I Ching, ramatis, feng-shui, nei-kung etc, todos ministrados ou pela Universidade Holística Internacional ou
19 Sobre a localização de cada uma delas, consultar o Guia de turismo místico de Brasília, escrito por Lia Brant, Ana Rosselline e Iara Genovese, editado pela Agência de Desenvolvimento do Turismo do DF (Adetur-DF) e exposto nos hotéis e pontos de visitação da cidade de Brasília.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 4815939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 48 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Capítulo 1 Brasília mística: Um planeta diferente da terra 49
pelo Instituto Teosófi co de Brasília, em pleno período do carnaval. Ele lembra também que as ruas da cidade são cheias de avisos sobre videntes, tarólogos, pais-de-santo, cartomantes e ciganos.
Em sua procura de uma explicação para a forte onda esotérica de Brasília, uma consulta às cartas rendeu a Pinheiro novas informações. Nas suas palavras:
São 18 horas e 12 minutos. A taróloga diz que vai precisar sair às 19. Por isso vai ter de ser sucinta. Ater-se, basicamente, a dois episódios. Uma profecia de Dom Bosco e um estudo de aproxi-mação entre Aknaton, um faraó do Antigo Egito, e o idealizador de Brasília, Kubitschek [...]. O primeiro episódio começa a delinear-se em forma de pergunta. A taróloga quer saber se eu conheço a Ermida de Dom Bosco. Respondo, um tanto envergonhado, que não. Que já ouvi fa-lar a respeito. Que tenho informações de ser um lugar muito boni-to. Que já assisti a missas num local muito perto, chamado Mosteiro de São Bento. Que já prometi a mim mesmo dar uma passadinha por lá, mas que estou sempre adiando. Ela não demonstra decep-ção e explica-me que é um monumento em forma piramidal, junto ao lago Paranoá, voltado para a cidade, contemplando o destino de todos os habitantes de Brasília. Chama a atenção para um de-talhe geográfi co: o monumento está situado exatamente na altura dos paralelos 15° e 20°. (Pinheiro, 1998, p.154-155)
Segue-se a explicação dada pela taróloga sobre a importância do detalhe geográfi co da cidade: a suposta visão de Dom Bosco, segundo a qual este seria o lugar de uma Terra Prometida, de onde jorraria leite e mel. A respeito do segundo episódio, narra Pinheiro:
A taróloga quer saber se eu conheço o livro Meu caminho para Brasília, escrito por JK. Mais uma vez respondo que não. Ela não aparece importar-se muito com a minha ignorância [...]. Explica-me que nas páginas 110, 111 e 112, JK demonstra grande admiração pelo Egito e profundo conhecimento sobre Aknaton, um faraó que reinou de 1375 a 1358 antes de Cristo. Que, além disso, em Brasília tudo está traçado dentro da numerologia do tarô egípcio e da cabala hebraica. Que não há explicação razoável para a existência de tantas formas triangulares e piramidais na
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 4915939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 49 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante50
arquitetura de Brasília. E encerra, como no primeiro episódio, fazendo alusão à coincidência. (1998, p. 155-156).
Aliás, as formas da cidade modernista, sejam as triangulares, curvilíneas ou alongadas, são talvez as principais responsáveis pela multiplicidade de sentidos assumidos por aquela cidade. Como já visto, alguns a associaram ao Egito – a exemplo da esoterista Kern e os sim-patizantes do mito difundido por ela. Mas há outras possibilidades em Brasília. Veja-se o caso, por exemplo, do astronauta russo Iuri Gagarin que, por ocasião de uma visita sua ao local, ocorrida no ano de 1961, teria dito a Kubitschek: “A ideia que tenho, Presidente, é que estou de-sembarcando num planeta diferente que não a Terra” (Gagarin apud Kern, 1991, p. 66).
A suposta fala do astronauta – atualmente reproduzida em vá-rios blogues e sites pessoais da Internet – dá a entender que ele fi cou realmente impressionado com todos os avanços industriais, econômi-cos e sociais que o projeto da cidade pretendia encerrar. No entanto, seu espanto parece também se voltar, e até com maior intensidade, para a estranheza da estética modernista de Brasília. Uma cidade que poderia perfeitamente pertencer a um planeta diferente da Terra, como o próprio Gagarin teria mencionado.
Nesse caso, não seria tal semelhança uma surpresa, mesmo para um astronauta como Gagarin – ele que, sendo o primeiro humano a ir para o espaço, teve sua imagem e profi ssão muitas vezes associadas pelo senso comum ao universo fi ccional de tais metrópoles, a viagens a diferentes planetas, a embates com seres extraterrestres, a máquinas do tempo, a naves espaciais, entre outros. De fato, a arquitetura de Brasília, até mais que o seu planejamento urbanístico, se observados em suas evo-cações simbólicas, podem facilmente remeter ao universo fantasioso do futuro e dos contatos intergalácticos, como será desenvolvido em outro capítulo – universo tão caro a revistas em quadrinhos, livros do tipo best--sellers, séries televisivas e fi lmes do gênero fi cção científi ca.
Mas se Brasília parece mesmo um cenário de fi cção científi ca, vale lembrar que sua inauguração se deu em plenos anos 1960, época marcada pela conquista do espaço e pela concepção “neoerística” de que os extraterrestres são “seres superiores”, criaturas espiritualmente vindas à Terra em suas naves com a missão de interferir na vida do planeta e de encaminhar a raça humana para um estágio civilizatório mais evoluído.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 5015939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 50 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Capítulo 1 Brasília mística: Um planeta diferente da terra 51
Para grande parte dos habitantes da cidade modernista, esse tipo de visão é bastante comum. Tal é o caso de Satya Mila, do Instituto Solarion, que, conforme Siqueira, chegou à cidade de Alto Paraíso com o fi rme propósito de construir um jardim de frutas e fl ores. “Assim, todo o vale onde funciona o Instituto se transformaria em uma Arca de Noé, que pudesse ser transportada integralmente [...] para naves-mães que estão estacionadas em cima de nós, como ilhas fl utuantes”. (2003, p. 86).
Gabriela Balcázar Ramírez (1998) é mais uma pessoa a rela-cionar a estranheza de Brasília à imagem do futuro ascético e impessoal da fi cção científi ca e à atmosfera mística que envolve aquela cidade. Buscando uma síntese desses dois aspectos, ela então menciona a músi-ca “Um índio”, do tropicalista Caetano Veloso20. Nessa canção, o artista fornece indícios de seu envolvimento com o “estilo” Nova Era ao falar do “espírito dos pássaros”, das “fontes de água límpida”, de “átomos, pa-lavras, alma, cor [...]” , e ao associá-los a uma certa tecnologia avança-da, bem como a um índio notadamente heroicizado. Belo, sadio, impá-vido e digno, o índio teria sido trazido à Terra por uma estrela veloz, colorida e brilhante. Uma estrela que, se bem analisada, mais parece uma nave espacial.
Nas palavras de Ramírez:
Os primeiros dias em Brasília eram como se estivesse na maquete de uma cidade do futuro, onde as pessoas serão distribuídas segundo sua estratifi cação social e não se encontram nunca fi sicamente; onde o cheiro da transpiração será o pior insulto à intimidade. Pensei isso, sim. Esta cidade faz tanto a gente se sentir num outro mundo que, às vezes, se espera ver descer um índio “de uma estrela colorida e brilhante...” [...]. (1998, p. 28).
20 A música de Caetano, de acordo com Franchetti e Pécora (1981, p. 93), tem a seguinte letra: “Um índio descerá de uma estrela colorida brilhante/ de uma estrela que virá numa velocidade estonteante/ e pousará no coração do hemisfério sul na América num claro instante/ Depois de exterminada a última nação indígena/ e o espírito dos pássaros das fontes de água límpida/ mais avançado que a mais avançada das mais avançadas das tecnologias/ virá impávido que nem Muhammad Ali/ virá que eu vi/ apaixonadamente como Peri/ virá que eu vi/ tranqüilo e infalível como Bruce Lee/ virá que eu vi/o axé do afoxé dos filhos de Gandhi, virá./ Um índio preservado em pleno corpo físico/ em todo sólido todo gás e todo líquido/ em átomos palavras alma cor em gesto em cheiro em sombra em luz em som magnífico/ Num ponto eqüidistante entre o Atlântico e o Pacífico/ de um objeto sim resplandecente descerá o índio/ e as coisas que eu sei que ele dirá fará não sei dizer assim de um modo explícito/ E aquilo que nesse momento se revelará aos povos/ surpreenderá a todos não por ser exótico/ mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto/ quando terá sido óbvio”
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 5115939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 51 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante52
Como foi mostrado, são muitos os sentidos possíveis a Brasília. Para alguns, ela resume-se à condição de cidade-promessa da igualdade social, a cidade projetada por Costa e Niemeyer, possivelmente “inspira-dos” pelas musas da arquitetura e do urbanismo modernistas. Ou mesmo a cidade-motor do desenvolvimento brasileiro, criada por Kubitschek, uma personalidade muito mais que política, dotada de notórias caracte-rísticas mítico-místicas.
Para outros, esse lugar se assemelha ao Egito, diante de suas construções triangulares e piramidais, ou até a um cenário dos fi lmes de fi cção científi ca, tal e qual verifi caram Underwood, Ramirez e outros a serem citados mais adiante. Quem sabe até mesmo um outro mundo, de um outro planeta, como teria ressaltado Iuri Gagárin. Um lugar que an-siava ser um autêntico “paraíso terrestre”, dada a ênfase em seus projetos político, econômico, administrativo, arquitetônico e urbanista.
Mas Brasília também é um lugar que, ao contrário do que se teimou em prever, se impôs autoritário e elitista, em meio à vastidão das terras do Planalto Central. É certo que a cidade de Brasília foi concebi-da por um projeto desconhecedor, entre outras coisas, da dignidade do passado e do presente indígenas das culturas do cerrado, índios conside-rados selvagens, atrasados e desimportantes por pessoas como Pedrosa. Aliás, talvez seja exatamente sobre essa conjunção de fatores de que falou Clarice Lispector em seu livro Para não esquecer. A escritora, referindo-se a Brasília, não hesitou em associá-la a sentimentos nefastos, como os de morte, medo e solidão.
Por fi m, vale lembrar a afi rmação de Lucrecia D’Aléssio Ferrara (1999), segundo a qual são os usos e os hábitos, reunidos, os verdadeiros construtores da imagem do lugar. No caso de Brasília, em específi co, são então as pessoas que lá residem, ou que lá estão de passagem – seja no Plano Piloto ou na zona periférica de suas cidades-satélites – que lhe con-ferem valores, sentidos, signifi cados. Todos eles possibilitados pela notó-ria polissemia daquela cidade modernista que permite, sobre si mesma, a realização das mais diferentes escritas. Para a autora, a cidade “adquire identidade através do uso que conforma e informa o ambiente” (1999, p. 21). Tal é o caso do que ocorre em Brasília.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 5215939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 52 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
53
Vale do Amanhecer: uma “alma” para a cidade modernista
O Vale do Amanhecer se encontra intimamente imbricado com a cidade de Brasília, ora negando-a, ora incorporando-a ou simplesmente reco-nhecendo-a como semelhante em algumas das informações a ela rela-cionadas. Dialoga também com muitos outros sistemas culturais, como é o caso do espiritismo kardecista, da umbanda, do catolicismo popular e também dos meios de comunicação, como será visto a seguir. De qual-quer modo, não se deve esquecer que tal dialogismo provoca a criação de novas confi gurações sistêmico-culturais e que tal criação torna-se possí-vel graças ao mecanismo semiótico da fronteira – aquilo que, para Iuri Lotman, constitui o mecanismo mais funcional e estrutural do espaço semiótico, pois determina sua essência, conforme afi rmou Peter Torop (1998).
2.1 – Um breve apanhado histórico
Como observado por mim em outro estudo (Cavalcante, 2000), a criação do Vale do Amanhecer não se dissocia da vida de Neiva Chaves Zelaya, ou Tia Neiva, líder e fundadora da doutrina. Filha de Antônio Medeiros Chaves e Maria Lourdes M. Chaves, ela nasceu no dia 30 de outubro de 1925 em Propriá, Sergipe. Sua origem humilde a fez parar os estudos no terceiro ano primário, talvez por viver uma infância bastante movimen-tada, sempre viajando e morando em diversos lugares no interior do Nor-deste, ao acompanhar seu pai, que tinha por trabalho a medição de terras.
Com 18 anos de idade, Neiva casou-se com Raul Zelaya Alonso e passou a residir na cidade de Ceres, Goiás. Quatro anos depois, fi cou
O povo não gosta das invenções plásticas de Oscar Niemeyer. Abomina. [...]. O homem comum entende que a casa feita por Oscar Niemeyer
não serve para dormir, para amar, morrer ou simplesmente estar. (Nélson Rodrigues apud Castro, 1997).
Capítulo 2
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 5315939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 53 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante54
Fig. 1 - Neiva em seu estúdio fotográfico/ Fonte: Álvares (1992)
viúva, tendo como fonte de renda para o sustento de seus quatro fi lhos – Gilberto (na época com cinco anos), Carmen Lúcia (quatro anos), Raul Oscar (dois anos) e Vera Lúcia (onze meses) – um pequeno estúdio foto-gráfi co, chamado “Foto Neiva” (Fig. 1).
Em 1954, devido às grandes difi culdades fi nanceiras pelas quais passava, mudou-se para a cidade de Goiânia, onde começou a trabalhar como motorista de lotação. No ano de 1957, transferiu novamente sua residência, desta vez para a cidade-satélite Cidade Livre/ Núcleo Bandei-rante, onde, como caminhoneira, integrou-se ao grupo dos candangos1, no transporte de materiais para a construção de Brasília (Fig. 2).
Nessa mesma época, com 32 anos, teria passado a “ver” e “ou-vir” espíritos: uns mais bonitos, outros deformados, como que pade-cendo de grande sofrimento. No início, pensou estar louca, chegando
1 Como ficaram conhecidas as pessoas de baixa renda, geralmente oriundas do Nordeste, Minas Gerais e Goiás, que trabalharam na construção de Brasília. Segundo Holston (1993), a etimologia da palavra induz à origem banto condongo que, no Brasil, passou a significar “mestiço”, do tipo cafuso (negro com índio) ou mameluco (índio com branco), podendo ser também aplicada às pessoas não nascidas no litoral, especialmente aos trabalhadores itinerantes e pobres, vindos em geral do interior do País. Com a criação da nova capital, diz o autor, os candangos foram temporariamente associados pelo discurso populista de Kubitschek à categoria de heróis nacionais, verdadeiros “titãs anônimos”. No entanto, com a finalização das obras, eles rapidamente voltaram a ser os mesmos “sem cultura”, “gentinha”, “paraíbas”, “baianos”, “capiaus” e “paus-de-arara”, entre outros.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 5415939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 54 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Capítulo 2 Vale do Amanhecer: uma “alma” para a cidade modernista 55
mesmo a consultar um psiquiatra2. Foi também a padre, a terreiro de umbanda e a centro kardecista. Mas, de acordo com o adepto Bálsa-mo (1992), nada a aliviou daqueles terríveis encontros, daquelas luzes e sombras que ora pareciam sonhos, ora pesadelos. Não tendo outra saída, Neiva foi obrigada a ouvir os que insistentemente a procuravam.
Um índio vestido com uma túnica e um longo cocar de penas chamado Pai Seta Branca, juntamente com sua “alma gêmea”, Mãe Yara, teria sido um dos primeiros a se manifestar. Das conversas estabeleci-das entre os três, Neiva pouco a pouco foi se convencendo do seu dom de clarividência3, bem como do fato de que em suas últimas encarna-ções teria vindo ao planeta Terra como pitonisa ou sacerdotisa grega
2 Em um de seus escritos publicados pelo adepto Bálsamo (1992), atual responsável pela edição dos livros da doutrina, Tia Neiva define o seu encontro com um psiquiatra como decepcionante. Conta a clarividente que, enquanto o médico fazia suas costumeiras perguntas, um “mortinho” ou espírito recém-desencarnado apareceu-lhe de trás de um biombo dizendo se chamar Juca e ser pai do mé-dico. A paciente teria passado a fazer mímicas para o doutor, na intenção de avisá-lo da presença da entidade. Não tendo resposta satisfatória, e já um pouco nervosa, ela acabara por gritar: “Aqui está um defunto que diz ser seu pai”. E assim, depois de transmitir algumas informações passadas por Juca ao médico, o máximo que ela obteve da consulta, segundo consta no livro, foi a seguinte exclamação: “É realmente meu pai, meu adorado paizinho! Fale mais, me diga como ele está!”
3 Álvares explica o dom da clarividência de Tia Neiva: “Ela vivia e operava em vários planos simultanea-mente, e com plena consciência em cada um desses planos. Ela podia visualizar o passado e o futuro e manifestar sua visão em termos racionais; podia ver e conversar com seres de outras dimensões, tanto dos Planos Superiores quanto dos Planos Inferiores da nossa condição na Terra [...].” (1991, p. 12).
Fig. 2 - Neiva em seu primeiro caminhão/ Fonte: Álvares (1992)
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 5515939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 55 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante56
do Oráculo de Delfos; como as rainhas egípcias Nefertiti e Cleópatra e como uma cigana de nome Natascha, ou Nataschan, como preferem alguns adeptos.
Mas isso não era tudo. Havia ainda uma designação impor-tante para Neiva que só viria a ser revelada em 1958. Pai Seta Branca, que em outras encarnações teria sido São Francisco de Assis e um chefe inca, dizia estar a serviço de uma grande missão espiritual aqui na Ter-ra. No entanto, como não poderia mais encarnar, escolhera Neiva como sua substituta na criação de uma doutrina que prepararia a humanida-de para a chegada do terceiro milênio, época em que não existiriam dor e sofrimento.
Neiva aceitou o suposto encargo, mas com alguma resistên-cia. Procurou então alguém para ajudá-la em seu desenvolvimento mediúnico e acabou conhecendo a médium espírita Mãe Neném, com quem deu os primeiros passos em sua “jornada missionária”, ainda no Núcleo Bandeirante. Junto à Mãe Neném, ao seu novo marido Getúlio da Gama Wolney e a um pequeno grupo de médiuns, Neiva mudou--se para Serra do Ouro – próximo à cidade de Alexânia, entre Brasília e Anápolis – e fundou, em 1959, a União Espiritualista Seta Branca (Uesb), espécie de “pronto-socorro espiritual” que tinha um orfanato para 40 crianças e que era mantido por uma olaria, uma serraria, uma moenda de farinha e uma plantação de batatinha e amendoim, to-dos de propriedade da comunidade (Fig. 3). Em 1963, a Uesb dispunha
Fig. 3 - Crianças do orfanato da UESB/ Fonte: Álvares (1992)
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 5615939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 56 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Capítulo 2 Vale do Amanhecer: uma “alma” para a cidade modernista 57
também da renda de uma pensão, onde se hospedavam os seus “pa-cientes”, bem como dos serviços de um médico, adepto da doutrina e residente nas proximidades.
Enquanto esteve junto à Mãe Neném na Uesb (1959-1964), Irmã Neiva, como passou a ser chamada pelos adeptos, teria sido ini-ciada por um monge “encarnado”, de nome Humahã. Residindo no mosteiro de Lhasa, no Tibete, ele a teria ensinado as técnicas de “trans-porte” e de “desdobramento” 4. Durante cinco anos, contam os adeptos, Neiva se deslocou diariamente até o local para tomar lições. Ao término do curso, foi consagrada com o nome de “Koatay 108”, um título que diz respeito ao recebimento de uma suposta coroa luminosa composta por 108 diamantes – posta, dali por diante, sobre sua cabeça – e também ao conhecimento de 108 “mantras”, ambos proporcionados pelos planos espirituais.
Em 1964, Neiva separou-se de Mãe Neném devido a cons-tantes desentendimentos diante das diferentes abordagens religiosas propostas por ambas5. Como mostrado por mim em outro estudo (Cavalcante, 2000), fala-se entre os adeptos do Vale que, em uma de suas encarnações passadas, Mãe Neném foi, de algum modo, ligada à clarividente. Daí o fato de a nova união entre as duas ter se dado, anos atrás, por um princípio de natureza cármica, uma dívida a ser paga. No entanto, segundo o médium Vladimir6, após Mãe Neném ter cumprido o papel de auxiliar da clarividente na doutrina, não haveria mais a ne-cessidade de sua permanência junto a Neiva. Por esse motivo, ela teria deixado a comunidade.
Após a cisão entre as duas, Neiva mudou-se para Taguatinga, lá permanecendo até o ano de 1969. Junto à clarividente vieram diversos médiuns fi liados à ordem, uns mais antigos, outros recém-chegados e, como não poderia deixar de ser, as crianças do orfanato. Tempos depois,
4 De acordo com a explicação do adepto Mário Sassi sobre as diferenças entre o transporte e o des-dobramento, “No transporte, a parte consciente do espírito sai do corpo e este permanece no plano físico, sendo apenas uma pessoa que dorme [...]. No desdobramento, o médium apenas projeta uma parte de si mesmo. Essa projeção ‘vai’ a outro lugar, executa o que tem que fazer mas com pleno domí-nio nos dois locais. Conforme as condições técnico-mediúnicas, a parte projetada pode até se mate-rializar no local. Temos assim caracterizado o fenômeno da ubiqüidade, a presença simultânea de uma pessoa em dois locais diferentes”. (s/d, p. 67-68).
5 Mãe Neném tinha uma formação kardecista, enquanto Neiva era de origem católica e parecia acolher com simpatia determinados espíritos da umbanda. Esse assunto será mais bem desenvolvido em ou-tro capítulo.
6 Vladimir é um dos adeptos que conviveram com Tia Neiva. Durante alguns anos, atuou como chefe dos médiuns recepcionistas do Vale do Amanhecer.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 5715939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 57 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante58
passou a residir na comunidade uma pessoa de suma importância à vida pessoal e à carreira religiosa de Neiva. Trata-se de seu terceiro e último companheiro, Mário Sassi7, com quem Neiva passou a elaborar grande parte dos princípios de sua doutrina religiosa.
A comunidade mudou de nome depois da transferência para Taguatinga. Sobre os aspectos legais da obra missionária de Neiva na época, de acordo com Djalma Barbosa Gonçalves (1999), encontra-se registrada no Cartório do 1° Ofício de Registro Civil, Casamentos, Títu-los, Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal a substituição do nome “União Espiritualista Seta Branca”, a Uesb, por “Ordens Sociais da Ordem Espiritualista Cristã”. Diz o autor que o novo estatuto seguiu os mesmos moldes da instituição anterior: uma comunidade religiosa com obras sociais.
Por esse tempo, Neiva já havia sido diagnosticada como tu-berculosa, chegando inclusive a ser internada; esse acontecimento também teve para seus seguidores uma explicação de natureza mítica. Como está registrado em suas cartas, organizadas em livro por Bálsa-mo (1992), o motivo da doença seria tanto uma “dívida cármica”, ad-quirida pela clarividente em outras encarnações, quanto um desgaste de seu corpo, provocado pelas “viagens” até o Tibete, para ter aulas com Humahã.
Em parte recuperada de sua doença, Neiva teria dado pros-seguimento aos planos de seus guias espirituais. No entanto, quatro anos depois de sua chegada a Taguatinga, a comunidade perdeu o di-reito de posse do terreno no qual estava acomodada. Consta que os adeptos saíram então em busca de um novo local e que, em dezembro de 1969, por indicação de Pai Seta Branca, acabaram por se instalar a
7 De acordo com a biografia traçada por Gonçalves (1999), Mário Sassi nasceu descendente de italianos no bairro da Moóca, de São Paulo, no ano de 1921. De temperamento curioso, inquieto e participati-vo, teria estudado na Universidade de São Paulo (USP), onde cursou jornalismo, psicologia, filosofia e ciências naturais, além de participado de movimentos políticos da época, como a Juventude Operária Católica (JOC) e a União Nacional dos Estudantes (UNE). Com a criação da Universidade de Brasília (UnB), passou a integrar o seu quadro de funcionários, trabalhando a partir de 1962 como relações pú-blicas da instituição. Nessa época, contraiu sérios “problemas espirituais”. Foi então procurar respostas nos vários movimentos religiosos da capital, como o do famoso mestre Yokanaam. No entanto, não conseguia uma identificação maior com qualquer um deles – pelo menos até chegar ao templo de Taguatinga, uma espécie de protótipo da comunidade religiosa do Vale do Amanhecer. O ex-adepto Bira, ao falar sobre a chegada do ex-marido de Tia Neiva à Taguatinga, acrescenta que ele vivia um casamento mal-sucedido. A tristeza de Mário diante de tal frustração, somada ao sofrimento trazido pela perseguição política que o amigo sofreu durante a ditadura, acabou por levá-lo ao alcoolismo e a uma grande depressão. Daí, pode-se concluir, a procura do homem pela doutrina de Tia Neiva e, provavelmente, a explicitação das causas de grande parte de seus “problemas espirituais”.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 5815939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 58 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Capítulo 2 Vale do Amanhecer: uma “alma” para a cidade modernista 59
seis quilômetros de Planaltina, lugar onde atualmente está situado o Vale do Amanhecer8.
Como dito por mim em outro trabalho (Cavalcante, 2000), conta-se entre os seguidores que o terreno onde a comunidade se es-tabeleceu – “Fazenda Mestre D’Arms”, com cerca de 22 alqueires – era árido e desértico, e que um dos caminhões de Neiva, em uma de suas voltas pelos arredores, teve problemas com o motor. As pessoas que estavam no automóvel foram então obrigadas a ficar ali por mais tem-po, na espera do conserto da condução. De volta à comunidade, te-riam relatado o acontecimento à clarividente que, dizendo estar con-versando com Pai Seta Branca no momento, imediatamente afirmou ser aquele o espaço escolhido para a construção de uma nova cidade mediúnica.
A fi xação defi nitiva daquelas pessoas no local, liderada pela fi gura carismática de Tia Neiva, remonta novamente ao gesto primeiro e inaugural do herói civilizador. O herói que, dotado de propriedades sobre-humanas, cria protótipos ou modelos exemplares, no caso aqui es-tudado, de cidades. E instaura uma nova ordem: o cosmos gestado em meio ao caos indiferenciado – assim como, em uma acepção mitologi-zante, fi zeram Lúcio Costa, Oscar Niemeyer e Juscelino Kubitschek em relação à Brasília e assim como, para seus adeptos, fez Tia Neiva no que se refere ao Vale do Amanhecer.
As difi culdades iniciais da comunidade foram muitas. Não ha-via água, luz, telefone, rede de transporte público ou qualquer condição de higiene no local. No entanto, com o passar do tempo e o esforço co-letivo dos seguidores da clarividente, os problemas foram se resolvendo. Em 1970, o problema da energia foi solucionado com a vinda da água encanada e a aquisição de um gerador a diesel. Três anos depois, a luz elétrica fi nalmente chegou ao Vale (Fig. 4).
Naquele mesmo ano, Tia Neiva, como agora era chamada entre os fiéis, criou o primeiro grupo escolar do Vale do Amanhecer. Na sequência, vieram o Quartel da Polícia Mirim e o Salão das Costuras como espécies de escolas profissionalizantes, e também o Rancho das Festividades, onde eram feitos os churrascos, as festas
8 A comunidade, instalada a seis quilômetros de Planaltina, está registrada em cartório com o nome de Ordens Sociais da Ordem Espiritualista Cristã. No entanto, para os planos espirituais, ela se chamaria Corrente Indiana do Espaço, explica Mário Sassi (s/d). Já a designação “Vale do Amanhecer” resulta de uma identificação posterior do local de sua instauração – um vale onde se daria o amanhecer mais bonito da região, segundo alguns dos fiéis – com os princípios doutrinários criados por Tia Neiva.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 5915939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 59 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante60
da comunidade, as palestras e onde eram encenadas algumas peças teatrais. Em 1971, ela criou um time de futebol chamado Oriente Clube Esporte.
Graças ao desenvolvimento da comunidade e às negociações com o governo do Distrito Federal, por volta de 1976 foi concedida a autorização de permanência no local, pelo menos até o início da futura construção de uma usina hidrelétrica que abasteceria Brasília. De acordo com Gonçalves (1999), já fazia um certo tempo que a de-sapropriação da “Fazenda Mestre D’ Arms” havia sido feita com vistas ao início da referida obra. No entanto, a adesão de novos membros à doutrina e o consequente aumento da população local resultaram na concessão do terreno à família de Tia Neiva, a qual determinava, por meio da venda de lotes, quem deveria ou não habitar a região.
Até o ano de 1985, já existia por lá uma grande e complexa estrutura, tanto física como doutrinária. Por essa época, o Vale pos-suía quatro templos, sendo dois cobertos [Templo do Amanhecer e Turigano (Fig. 5 e Fig. 6)] e dois outros construídos a céu aberto [Estrela de Nerú e Solar dos Médiuns/ Estrela Candente (Fig. 7 e Fig. 8) ]. Podia-se encontrar na doutrina também uma prolixa classificação hierárquica e funcional para seus médiuns e entidades, além de diferentes trajes exóticos para uso nos mais variados rituais; muitas orações e cânticos religiosos; uma rica iconografia; um gestual fortemente codificado e uma nomenclatura mais que cifrada.
Fig. 4 - Tia Neiva, uma de suas crianças e o começo da construção do Vale do Amanhecer/Fonte: Álvares (1992)
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 6015939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 60 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Capítulo 2 Vale do Amanhecer: uma “alma” para a cidade modernista 61
Fig. 5 - Templo do Amanhecer/ Fonte: da autora
Fig. 6 - Turigano / Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 6115939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 61 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante62
Fig. 8 - Solar dos Médiuns / Estrela Candente/ Fonte: da autora
Fig. 7 - Estrela de Nerú/ Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 6215939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 62 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Capítulo 2 Vale do Amanhecer: uma “alma” para a cidade modernista 63
Mas o ano de 1985, mais especifi camente o dia 15 de novembro, foi também a data de falecimento de Tia Neiva. Alguns, como é o caso do médium Vladimir, afi rmam que ela faleceu vitimada pela tuberculose. Mas há quem fale de um enfi sema pulmonar crônico – como consequên-cia da tal doença e de complicações respiratórias, causadas pelo contato com produtos químicos de seu antigo laboratório fotográfi co – somado a um câncer9, como o fazem Gonçalves (1999) e Reis (2008). Sem importar muito para os fi éis o motivo, o fato é que Tia Neiva foi enterrada como uma pessoa comum no cemitério de Planaltina, sem grandes distinções, mas diante de um cortejo fúnebre bastante numeroso de adeptos, para quem ela teria cumprido brilhantemente a sua missão.
Todavia, consta que Tia Neiva, antes de “desencarnar”, prepa-rou seus sucessores, não deixando assim a comunidade no desamparo. A nova direção foi composta por quatro pessoas, embora estas tenham recebido a designação de “trinos” 10. São elas: seu último marido, Mário Sassi (Trino Tumuchy); seu fi lho, Gilberto Chaves Zelaya (Trino Ajarã); os adeptos Nestor Sabatovicz (Trino Arakém) e Michael Hanna (Trino Sumanã). Às duas fi lhas mulheres restaram apenas uns poucos encargos secundários na doutrina.
A morte de Tia Neiva trouxe alguns problemas políticos e ad-ministrativos internos ao Vale do Amanhecer. Ao que tudo indica, a clarividente deixou a instrução de que, na hierarquia dos trinos, Mário Sassi fosse o primeiro a representá-la após a sua ausência. No entanto, a disputa entre os dirigentes promoveu uma considerável perda de poder do ex-companheiro da fundadora da doutrina; aquele que tempos atrás teria sido “adotado” como um membro da família Chaves Zelaya, após a morte da matriarca, pouco a pouco foi sendo posto de lado, perdendo importância e prestígio junto à comunidade.
A análise de algumas entrevistas realizadas no Vale aponta para a existência de duas facções entre os trinos. De um lado, a de Mario Sassi, que, unido a alguns adeptos de infl uência, defendia o dinamismo na “cor-rente energética” criada por Tia Neiva. De outro, a liderada pelos outros três regentes da doutrina, que discordavam das propostas do primeiro e temiam a instauração defi nitiva do domínio do Trino Tumuchy.
9 Acredita-se que o autor tenha se referido a um câncer do tipo pulmonar, já que Mário Sassi a ele faz menção em seu livro 2000 – Conjunção de dois planos (Sassi, s/d).
10 Um fiel bastante próximo à família de Tia Neiva comentou reservadamente que a inserção de Gilberto Chaves Zelaya entre os três trinos teria se dado posteriormente, por preocupações “terrenas” da clari-vidente com o futuro incerto de seu filho.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 6315939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 63 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante64
Para o ex-adepto Bira, na visão de Mário Sassi muitas coisas ainda precisavam ser concretizadas, como o Templo dos Deuses, o qual já havia sido pensado pela clarividente – uma proposta ecumênica, com vistas à execução de palestras e rituais por parte de representantes das mais variadas religiões. Outras deveriam ser instituídas, conforme novas orientações dos planos espirituais. Mais: havia uma médium em especial que incorporava Tia Neiva e seria através dela, sob o comando de Sassi, que o Vale deveria continuar prosseguindo sua jornada.
Percebendo todo o jogo de poder e prevendo a rápida ascensão do primeiro dirigente, os outros três trinos não aceitaram a referida ver-são, boicotando-a perante os adeptos. Enquanto Mário Sassi passava por grande depressão, sentindo-se humilhado, esquecido pelos amigos e pra-ticamente destituído de seu cargo e afazeres, Gilberto, Nestor e Michael tentaram abafar o caso, além de tomar algumas medidas nem sempre satisfatórias e/ou coerentes com os desejos da clarividente.
Em pouco tempo, venderam os últimos terrenos desocupados da comunidade, a preços nada modestos. Consequentemente, seguiu-se um grande inchaço populacional no Vale, dada a entrada de pessoas que per-tenciam a outros credos religiosos. De acordo com Bira, uma outra medida tomada foi a do aluguel das pequenas lojas de lembranças e do restaurante a alguns dos adeptos, bem como o desvio desse dinheiro. Assim, o que antes gerava crédito para as despesas com as atividades religiosas e a manu-tenção dos espaços sagrados passou a ser lucro particular da nova direção.
Bira afi rma ainda que até a época de Tia Neiva havia somente seis templos externos ou templos fi liais da doutrina. Com a nova liderança, contudo, o Vale tornou-se uma espécie de franquia, sendo que em alguns casos, como é o do templo de Recife, determinados rituais e partes da dou-trina foram explicitamente modifi cados por seus dirigentes. Atualmente, segundo o fi el, existem cerca de 500 templos no Brasil, estando alguns lo-calizados inclusive no exterior, como é o caso do Japão11.
De volta ao trino dissidente, convém ressaltar que ele não fi cou de todo inerte perante os seus opositores. Recuperando-se da depressão, juntou-se a um grupo de adeptos desgostosos com as diretrizes políticas e administrativas do Vale e passou a fazer reuniões em sua casa, em torno
11 Segundo dados fornecidos por Marcelo Rodrigues dos Reis (2008), até o ano de 2008, foram registra-
dos 620 templos filiais do Vale do Amanhecer, estando dez deles localizados no exterior. O site da dou-
trina (http://www.valedoamanhecer.com.br) confirma a existência de templos do Vale nos seguintes
países: Japão, Portugal, Alemanha, Uruguai, Trinidad Tobago, Bolívia e Estados Unidos.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 6415939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 64 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Capítulo 2 Vale do Amanhecer: uma “alma” para a cidade modernista 65
de uma nova doutrina chamada Ordem Universal dos Grandes Iniciados, criada em 1991. Tal reação não foi bem acolhida pelos outros três trinos. Resultou em uma expulsão velada de Mário Sassi, que foi morar em So-bradinho, onde construiu o Templo Lua, sem conseguir executar, no en-tanto, a edifi cação do Templo dos Deuses – Mário Sassi faleceu em 1995.
Bira, ex-adepto e um dos seguidores do marido de Tia Neiva, afi rma que a Ordem Universal dos Grandes Iniciados não se colocava em oposição ao Vale do Amanhecer. Propunha-se antes como seu comple-mento, uma espécie de polo energético contrário, um contraponto que tinha por fi nalidade última a de proporcionar o equilíbrio das forças es-pirituais que naquele circulavam, uma vez que a onda de violência, trá-fi co de drogas e corrupção a qual tinha sucumbido a comunidade de Tia Neiva era, para o primeiro trino Mário Sassi e seus partidários, um claro indício de que o Vale das Sombras12 se apoderara do local.
Ao se pensar o Vale do Amanhecer ao longo de todos esses anos, contudo, percebe-se que a saída de Mário Sassi de fato não pro-vocou grandes abalos na doutrina criada por Tia Neiva. Aliás, vale dizer que o seu nome é ainda reverenciado no local. Uma personalidade espi-ritualmente importante, um homem inteligente, aquele que deu a Neiva a possibilidade de codifi car a sua doutrina13 e de melhor registrá-la em livros, fi tas cassete, entre outros. Mas o homem que um dia divergiu dos fi lhos de Tia Neiva, esse pouca gente conhece. Talvez porque a maior par-te dos incomodados com a nova direção o tenha seguido até Sobradinho, fi cando os demais no exercício de sua já conhecida religião. Assim, dos fi éis que permaneceram no Vale, apenas os antigos possuem uma noção mais abrangente do acontecido na comunidade. No entanto, o interes-sante é que, mesmo descontente com a atual situação, grande parte deles continua fi rme em sua fé.
O motivo de tal convicção provavelmente se explique pela notó-ria mitifi cação da ex-caminhoneira que, no entender de seus seguidores, permanece acima de toda e qualquer suspeita do uso da religião como sa-tisfação de seus interesses particulares. Tia Neiva não costuma ser ques-tionada em seus propósitos doutrinários – ela adquiriu o direito de inter-ferir na vida particular de seus adeptos, de repreendê-los veementemente
12 Mário Sassi explica o Vale das Sombras como uma universidade espiritual situada nos Planos Inferiores, à qual estariam agregados “os desencarnados que ocuparam posição religiosa ou científica de relevo na Terra, mas que não conseguiram se harmonizar com as Leis Crísticas”. (s/d, p. 121).
13 Este assunto será discutido mais adiante.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 6515939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 65 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante66
por atitudes como bebedeira, jogatina, adultério, frequência a casas de prostituição e práticas de aborto. Mas, acima de tudo, era extremamente querida e respeitada por ter abandonado grande parte de sua vida terrena para se dedicar a uma causa inquestionavelmente maior: a redenção de toda a humanidade com o advento do terceiro milênio.
De fato, a fi gura da clarividente, a “Tia” de todos os fi éis, permane-ce intocada no imaginário14 da comunidade. Tanto é assim que mantém to-das aquelas pessoas na sua incansável busca por uma vida melhor, um sonho de futuro que, se algum dia foi associado ao nascimento de uma Brasília mo-dernista, no que diz respeito a grande parte de seus construtores candangos, acabou por se deslocar para a zona da periferia, o único espaço possível de se morar e capaz de acolher parte de seus desejos, visões de mundo e ideais utópicos, como é o caso do lugar onde se situa o Vale do Amanhecer.
Passados todos esses anos, o Vale continua a fascinar, a intrigar e a deixar inquietos curiosos, turistas, artistas, profi ssionais da mídia e pesquisadores, todos eles atraídos pela riqueza, beleza e exuberância dos feitos ali concebidos e construídos pela sergipana e ex-caminhoneira, se-guida de sua gente. Essa gente, aliás, continua a esperar uma vida melhor e a falar de Tia Neiva como alguém extremamente especial e insubsti-tuível, um espírito do mais “alto padrão vibratório”, mesmo que nunca a tenham visto, mesmo que dela apenas tenham ouvido falar.
2.2 – Brasília para a mitologia do Vale do Amanhecer
Diante da proximidade do Vale em relação à Brasília, importa pensar as relações dialógicas estabelecidas entre esses dois sistemas. São relações entre fronteiras que, como adverte Iuri Lotman, “não são nunca uma justaposição passiva, ao passo que sempre constituem uma competição de linguagens, um jogo e um confl ito com um resultado do todo não previsível” (2000, p. 107). Acredita-se que o Vale tanto alimenta como é alimentado por toda a atmosfera de esoterismo e idealismo utópico que envolve a cidade modernista. No entanto, centrando-se a atenção na refe-rida comunidade, que é, enfi m, o objeto de estudo aqui analisado, pode--se fazer as seguintes perguntas: 1) em que medida a cidade modernista
14 O conceito de “imaginário” foi aqui utilizado conforme a definição de Gilbert Durand (1997, p. 432-433; 1998, p. 87). Para o autor, o imaginário é uma “vocação ontológica” do ser humano; a “imaginação criadora”; uma “ordenança do ser às ordens do melhor”; a livre e constante reconstrução da esperança na sua condição de perenidade, “diante e contra o mundo objetivo da morte”. Manifesta-se nos sonhos, nos ritos e nos mitos, entre outros. Segundo Durand, “longe de ser paixão vã, [ele] é ação eufêmica e transforma o mundo segundo o Homem de Desejo”.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 6615939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 66 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Capítulo 2 Vale do Amanhecer: uma “alma” para a cidade modernista 67
interfere na confi guração semiósica do Vale do Amanhecer, ocasionando suas explosões de sentido e criações sistêmicas? 2) Quais dessas criações podem ser detectadas a partir das narrativas dos adeptos, da iconografi a, da indumentária e da organização espacial da comunidade, entre outros?
Para começar, veja-se como Brasília está presente nos códigos15 verbais do Vale, principalmente nos de natureza mítica – os demais có-digos receberão maior atenção em um outro momento. Obviamente, o modo de essas pessoas perceberem e falarem sobre a cidade modernista é específi co delas, dizendo respeito ao seu ethos (aspectos morais e esté-ticos) e a sua visão de mundo (aspectos cognitivos), conforme assina-lou Cliff ord Geertz (1989). Mas um ethos e uma visão de mundo que são absolutamente específi cos, notadamente expressos e realizados em um sistema de signos relacional – no caso, o Vale do Amanhecer, constituído a partir da dialogia com muitos outros.
Desse diálogo surge uma Brasília notadamente ressignifi cada, como a encontrada na narrativa sobre a chegada do “Vale das Sombras” ao Vale do Amanhecer. Como explicitado anteriormente, essa estória foi em parte utilizada como argumento religioso para justifi car a dissidência política de Sassi frente ao credo instituído por Tia Neiva. O credo que, naquele momento, passou a ser liderado pelos fi lhos da clarividente, seus opositores. Tal argumento também serviu à legitimação da criação de um novo sistema doutrinário diante dos ex-adeptos do Vale do Amanhecer, ou os mais novos seguidores do líder Mário Sassi, como uma alternativa ou contraponto ao primeiro.
Descrita pelo ex-marido de Tia Neiva na ocasião como causadora da decadência espiritual do Vale do Amanhecer, a estória da chegada do Vale das Sombras àquela comunidade, no entanto, é mais antiga do que se pode imaginar. Na verdade, a versão aqui mencionada nada mais é do que um desdobramento oportuno de uma narrativa mítica anterior, exposta pelo próprio Mário Sassi em um de seus livros sobre a doutrina. Nitida-
15 Como afirma Irene Machado, o código é um “signo convencional ou uma organização de caráter gené-rico a partir da qual é possível a constituição de sistemas e, conseqüentemente, da linguagem. Roman Jakobson foi quem cunhou o conceito semiótico de código usado pelso semioticistas russos. Para Jakobsosn, o código ocupa o centro de todo processo semiótico graças à sua condição de legi-signo: trata-se de uma lei que tem valor de signo, quer dizer, uma lei cujo diferencial é garantir a dinâmica da representação e da prória semiose. Ainda que não o negue, o conceito semiótico de código não se conserva nos limites estreitos que entendem o código tão-somente como norma. O campo é bem mais amplo do que se pode supor. Para ser um legi-signo, o código deve ser entendido como conven-ção, probabilidade, explicitação, modelização”. (2003, p. 155).
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 6715939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 67 31/01/2011 16:19:1831/01/2011 16:19:18
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante68
mente vinculada à época da ditadura militar brasileira16, essa primeira nar-rativa se refere aos últimos meses de ano de 1963, época em que Tia Neiva teria previsto complicações espirituais em Brasília, devido à suposta visão de uma nuvem negra que pairava sobre a cidade modernista. Esse fenôme-no, segundo ela, era provocado pela atuação maléfi ca do Vale das Sombras e de uma falange de espíritos perigosos, chamados de falcões.
De acordo com Sassi (s/d), tal falange seria versada na política. Por esse motivo, estaria infl uenciando negativamente as decisões políti-co-administrativas dos homens de poder no País, uma vez que o Brasil era considerado um espaço privilegiado aos olhos dos planos superiores, a “cúpula de Deus” no planeta, um ponto mais que estratégico para a tentativa de desorganização magnética do cosmos e, portanto, um alvo constantemente mirado pelas entidades espirituais do Vale das Sombras, que estariam a lutar incessantemente, num difícil combate, contra com as “forças crísticas” do bem.
Mas não é apenas dessa maneira que a proximidade de Brasília interfere na construção do texto17 Vale do Amanhecer. Existem ainda outras versões míticas sobre a cidade modernista – mais um exemplo da incorporação de uma “não cultura” ou extrassistêmico (no caso, Bra-sília) pelo texto cultural Vale do Amanhecer e a consequente geração de textos novos (os diferentes mitos em questão). Como exemplo de tais mitos ou narrativas, tem-se uma mensagem distribuída aos fi éis na forma de papel datilografado, emitida por um suposto espírito de nome “Agar + Oiom”, em dezembro de 1986. Chama-se “Brasil, país do futu-ro se os homens do presente deixarem” e se refere ao posicionamento político-doutrinário da comunidade diante da ameaça de expulsão do local, por ocasião da construção de uma usina hidrelétrica, como men-cionado anteriormente.
Em um primeiro momento de tal mensagem, o espírito situa o Brasil, a “cúpula de Deus”, na sua condição de bem-aventurança. Em segui-
16 Iniciada no ano de 1964, com o general Castello Branco na Presidência da República.
17 O texto é uma rede de signos com uma estrutura interna definida que se relaciona com outros textos. Essa rede possui um significado e uma função global. Sendo uma unidade holística e indecomponí-vel, é também a unidade mínima da cultura. De acordo com as teses de V.V. Ivanov, J. M. Lotman, A. M. Pjatigorskij, V. N. Toporov e B. Uspenskij, semioticistas da escola de Tartu-Moscou, “O texto possui significado e funções globais (se distinguirmos a posição de um pesquisador da cultura daquela de seu portador; do ponto de vista do primeiro, o texto aparece como o portador de função global, ao passo que, da posição do segundo, ele é o portador de significado global). Nesse sentido, o texto pode ser consideradocomo elemento primário (unidade básica) da cultura”, (Ivanov et alii apud Machado, 2003, p. 105).
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 6815939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 68 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Capítulo 2 Vale do Amanhecer: uma “alma” para a cidade modernista 69
da, a tal entidade se volta para o específi co da sacralidade de Brasília, rei-terando claramente o discurso de mitifi cação das fi guras de Juscelino Ku-bitschek, Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. Nas “palavras” de Agar + Oiom:
Brasil! Fonte inesgotável de riquezas, de belezas naturais, de ter-ra fértil e rica de grande volume de água, com rios caudalosos, cataratas, praias de areia alvíssima, fl oresta de fl ora e fauna tão exuberantes e tudo o que germina em outros países aqui tam-bém se plantando, germina, desde tâmaras a bananas, desde cerejas a maçãs! Clima ameno e bom, povo bom e hospitaleiro, puro por sua origem índia e negra [...]. Não é à toa que o Cruzeiro do Sul está protegendo este País [...]. Desde a cruz traçada para a abertura da Belém-Brasília, cortando a Amazônia, ao cruzeiro encontrado no planalto de Goiás, a primeira cruz implantada no Brasil, para a primeira mis-sa, a mesma cruz utilizada para a primeira missa rezada para a inauguração de Brasília, ao traçado urbanístico de Lúcio Costa, representando um pássaro de asas abertas, mas também uma cruz, ao cruzeiro, e agora cruzado18, ao pentagrama invisível que protege o Brasil, e quem tiver olhos que veja, e medite em toda esta marca simbólica da cruz, que representa não só a crucifi ca-ção do brasileiro, como sua ressurreição para a Nova era!E surge uma trindade – Juscelino, Niemeyer, Lúcio Costa! E desta trindade surge Brasília! (Agar + Oiom, s/d, p. 4)
De fato, as palavras de Agar + Oiom legitimam a mitifi cação dos criadores de Brasília. Entre os três, no entanto, o destaque maior pa-rece ser dado para a fi gura de Kubitschek – seguido de Niemeyer e Costa, respectivamente. Uma condição especial que também se estende à Tia Neiva em sua criação de comunidade religiosa, com ares de uma pequena cidade de interior, formada em função do templo do Vale do Amanhecer. Note-se a seguir:
Uma cidade é um micro no macro, um pequeno universo dentro do grande universo, um pequeno planeta dentro do planeta, daí que aquele que constrói uma cidade não é alguém comum, porém um quase semideus. Materializa aquilo que projetou, implanta, cria
18 Nome da moeda nacional da época.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 6915939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 69 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante70
algo onde nada havia e ali reúne criaturas para viverem e com este gesto também é um ser responsável por tudo o que a partir da-quela cidade, passe a ocorrer de bom e de mal... E Juscelino sabia perfeitamente disso, era alguém altamente iniciado e iluminado, o mesmo ocorreu com Tia Neiva. (Agar + Oiom, s/d, p. 4)
Para o suposto espírito, Kubitschek de fato está investido de um forte grau de sacralidade e da qualidade de sobrenatural. Lançando um alerta sobre a mudança do “padrão energético” de Brasília – apa-rentemente também ligada aos tempos da ditadura, se se considerar a tomada da Presidência da República pelos militares logo após a sua inauguração até meados dos anos 1980 –, Agar + Oiom afi rma que tal condição teria sido ocasionada pela construção de novos prédios e mo-numentos, distantes da proposta inicial da cidade modernista e, por-tanto, desvirtuados do projeto arquitetônico-espiritual original.
Note-se também a ênfase que ele confere à necessidade de existência de uma comunidade como o Vale do Amanhecer, novamente pensada como um contraponto energético a Brasília. Esse é um motivo importante a se considerar no ato da atribuição da autoria do discurso de Agar + Oiom a Mário Sassi, afora o caráter de ofi cialidade da men-sagem, o modo de elaboração gramatical e estilística presente no texto e os tipos de referências culturais nem sempre acessíveis à comunidade.
A urgência de consertar certos desacertos energéticos de Brasí-lia, cuja energia-forma foi desvirtuada depois de quase concluída a obra de Niemeyer, e só Niemeyer poderá fazê-lo, a fi m de que aquela sinfonia arquitetônica composta por ele, deixe de estar vibrando de forma dissonante, e volte a emitir sons harmônicos que reverberarão por todo o Brasil. São as horríveis pirâmides construídas pós-Niemeyer19! Estas destruíram tudo o que havia de energia positiva e há um prédio em Brasília que é um verdadei-ro imã e catalisador de forças negativas para o Brasil, um horror”! Brasília que se tornara através da obra de Niemeyer um dínamo
19 Mário Sassi, ou o espírito Agar + Oiom, não especifica o nome de nenhuma dessas pirâmides nem do prédio a que se referiu. No entanto, ocorre que, exceto pelo discurso do ex-marido de Tia Neiva, nenhuma dessas construções de Brasília é percebida de modo negativo pelos fiéis do Vale do Ama-nhecer. Como será visto em um próximo capítulo, há outras narrativas entre os adeptos que incorpo-ram todas as pirâmides e os prédios da cidade, mesmo os pretensamente nefastos, como um meio de atestar a sacralidade de Brasília. Essa condição também se encontra intimamente ligada ao Vale do Amanhecer, dada a sua condição dialógica com a cidade modernista.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 7015939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 70 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Capítulo 2 Vale do Amanhecer: uma “alma” para a cidade modernista 71
catalisador de forças cósmicas solares, passou a ser um dínamo gerador de forças altamente negativas para o Brasil e que só atin-giram o seu clímax devido às vibrações, rituais e energia da forma do Vale do Amanhecer. Vejam, atentem para o elo VALE DO AMA-NHECER- PALÁCIO DA ALVORADA. (Agar + Oiom, s/d, p. 4)
É nesse sentido que a comunidade criada por Tia Neiva pas-sa a ser vista como uma “alma” para a cidade modernista, aquela que não pode ser eliminada em função de uma usina hidrelétrica. Assim, destruir o Vale do Amanhecer será fazer de Brasília uma cidade morta, mal-agraciada em termos espirituais. Conforme o suposto Agar + Oiom (s/d), uma intenção inteiramente dissonante e inversa àquela dos grandes iniciados, seus três construtores – Kubitschek, Niemeyer e Costa –, que a pensaram de modo diferente de sua realidade atual: “[...] Um fetiche de magia negra devido à quebra de harmonia do número, da forma, gerando ali uma energia altamente negativa [...]”.
O alerta foi dado então, acrescido de uma profecia:
Resolve-se inundar o VALE DO AMANHECER destruindo assim a ALMA DE BRASÍLIA! [...] É URGENTE MANTER O VALE INTACTO e consertar Brasília. Um desastre total para o Brasil, se o VALE DO AMANHECER for inundado e forem dispersas com este gesto irra-cional, todas as energias cósmicas contidas ali! Nada ocorrerá àque-les que ali viveram por tantos anos, pois cumpriram sua missão, po-rém além do tremendo compromisso kármico de se deixar tantas criaturas sem onde ir, há ainda o terrível compromisso de ter-se DESTRUÍDO UMA OBRA da mais alta importância, conhecida mun-dialmente, sendo o ponto energético-cósmico-magnético, que faz com que o Brasil AINDA esteja se agüentando [...]. O desastre para o Brasil será total, nada mais poderá ser feito.” (s/d, p. 5-7).
Não se sabe ao certo o motivo da desistência da construção de tal usina hidrelétrica por parte do governo. O fato é que, depois de alguns anos, a comunidade criada por Tia Neiva continua a existir nos arredores de Planaltina. Grande parte dos espaços se encontra ocupada por residências, templos de outras vertentes religiosas e pequenas casas de comércio, como já dito, enquanto a maioria dos moradores do local,
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 7115939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 71 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante72
adeptos ou não da doutrina do Vale, atualmente tem em mãos as escritu-ras de posse de seus terrenos.
No que diz respeito aos “trabalhos espirituais” ali realizados, conforme a crença dos fi éis, o Vale continua a conferir o equilíbrio ener-gético necessário à “desalmada” cidade de Brasília. Além disso, ele evita-ria, por meio da execução de seus rituais, que tanto a cidade modernista quanto o resto o Brasil sofram danos espirituais catastrófi cos, todos eles causados por um desequilíbrio cósmico-magnético mais do que prová-vel, segundo os adeptos, se o caso fosse de o Vale não existir ou ser des-truído para a construção de uma usina hidrelétrica.
Obviamente que, em termos de discurso, esse foi um dos modos encontrados pelo grupo dos seguidores de Tia Neiva para justifi car a sua importância como comunidade religiosa – perante si e perante o governo da época. Foi também uma forma mítica efi ciente de driblar e compensar a exclusão social à qual acabaram por ser submetidos os fi éis, uma vez que o Vale do Amanhecer e os seus principais integrantes sempre estive-ram alocados na zona periférica da cidade modernista, desde a fundação da Uesb, localizada na Serra do Ouro, até a época da criação defi nitiva do Vale do Amanhecer, nas proximidades de Planaltina.
2.3 – O contexto periférico e a estética kitsch
Foi na Serra do Ouro que Tia Neiva fi cou doente, contraindo tuberculose devido à precariedade de condições em que vivia junto à sua comunidade religiosa. Uma situação em parte já conhecida da clarividente, uma vez que ela teve uma infância pobre seguida de uma adolescência economi-camente instável. Essa situação desfavorável, estendida até os tempos de sua vida adulta, fê-la fechar o pequeno estúdio fotográfi co e se juntar ao grupo dos candangos como caminhoneira, na função de transportar ma-terial de construção para a cidade de Brasília, como dito anteriormente.
Concluída a obra, Tia Neiva não pôde desfrutar dos benefícios da tão propalada cidade modernista, igualmente a seus muitos compa-nheiros de labuta. Ganhava muito pouco para isso e, precisamente, não ocupava nenhum cargo público de importância ou dispunha de qualquer poder político. Acabou então por se ver excluída, rejeitada por aquela cidade que ajudara a erguer, tanto na sua estrutura física quanto na sua qualidade de utopia. Relegada ao entorno de Brasília, região das cidades--satélites, logo se juntou aos seus iguais em pobreza, tratando de inventar um modo alternativo de lidar com aquele tipo de vida.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 7215939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 72 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Capítulo 2 Vale do Amanhecer: uma “alma” para a cidade modernista 73
Criou então uma doutrina religiosa bastante complexa e com características semelhantes às de Brasília, sobretudo no que se refere ao seu caráter utópico. O Vale do Amanhecer fala do advento do terceiro milênio como a última oportunidade de o ser humano se retratar dos males por ele cometidos, nesta e em outras encarnações. Entre os adep-tos, acredita-se que as difi culdades pelas quais passa hoje a humanidade devem-se ao seu “passado cármico”, repleto de prepotência, egoísmo e vaidade – elementos defl agradores de guerras, corrupção e crimes de um modo geral. Dessa forma, a doutrina seria um meio efi caz de que dispõe o homem para se redimir de tais atitudes. Mediante a participa-ção em mais de 30 rituais20 voltados para a prática da “cura espiritual”, o fi el obteria bônus para o seu perdão, para o seu regresso ao estado de comunhão com os planos espirituais superiores.
Trabalhar em favor da redenção dos espíritos das trevas21, que lá chegam na condição de seres nefastos, e das pessoas supostamente as-sediadas por eles signifi caria, desse modo, atuar em favor da libertação de muitos e deles mesmos, além de contribuir para a construção de um paraíso terrestre. Esse paraíso seria estendido a outros planos, a outras dimensões físicas e espirituais, como o planeta Capela, no Astral Supe-rior, de onde teriam se originado os seres humanos e para onde, na visão da doutrina, no decorrer do terceiro milênio, todos deverão retornar.
Afora a condição utópica, no caso associada à qualidade míti-ca e mística de axis mundi, há algo do simbólico em Brasília semelhante ao Vale do Amanhecer, algo que certamente diz respeito a aspectos bas-tante importantes aos seguidores de Tia Neiva. São eles: as estruturas de hierarquia e de distribuição do poder político entre os adeptos; a noção de ordem presente desde a classifi cação das indumentárias até a rígida codifi cação dos gestuais e a geometrização das formas de parte das cons-20 Descritos, em sua maioria, no livro Leis e chaves ritualísticas (Álvares, 1979), destinado à instrução dos
médiuns.
21 Conforme observação de Ana Lúcia Galinkin (1977), a doutrina do Vale do Amanhecer separa os espí-ritos em “espíritos de luz/ entidades superiores” e “espíritos das trevas”. Na segunda categoria tem-se os elítrios, que em sua última encarnação teriam sido submetidos a torturas e morreram em estado de ódio por seus algozes; os cobradores, que viriam cobrar daqueles que os prejudicaram em vidas passadas; os exus, vistos como espíritos cultos e ilustrados nas ciências terrenas; os sofredores, que não teriam tomado conhecimento de seus desencarnes e ainda não se conformaram por estar mortos, e os obsessores, espíritos com baixíssimo grau de evolução, dispostos a perturbar as vidas das pessoas com as quais conviveram antes de seu último desencarne. Segundo a autora, os elítrios causariam em suas vítimas o câncer, a epilepsia, meningite e outras doenças físicas; aos exus caberiam a loucura e o alcoolismo; os cobradores seriam os reponsáveis por desequilíbrio emocional, problemas financeiros, angústias, entre outros; ao passo que ao obsessor estão atribuídas o desequilíbrio emocional, defini-dos pelos adeptos como “problema dos nervos”, “desassosego” e quaisquer dores.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 7315939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 73 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante74
truções, como o triângulo e a cruz, evocando o sagrado. Todos eles são devidamente associados à utopia modernista e expressos na disposição urbanístico-arquitetônica da cidade, ao mesmo tempo em que confi gura-dos como elementos construtivos do texto/ sistema Vale do Amanhecer.
De um modo geral, no que se refere à estética e à organi-zação dos espaços, tantos os profanos quanto os sagrados, o Vale do Amanhecer não se assemelha a Brasília. Pode-se inclusive arriscar a afirmação de que na maioria das vezes a ela se opõe – embora tanto Brasília quanto o Vale provoquem, por vias diferenciadas, a sensação de estranhamento22. Nas casas e estabelecimentos comerciais da co-munidade (farmácias, salões de beleza, armazéns, lanchonetes, entre outros), as construções são normalmente apertadas e pouco planeja-das, como na maioria dos bairros e cidades periféricas. Nos espaços sagrados há uma profusão de formas, cores, brilhos e a exposição os-tensiva de adornos e imagens religiosas por todas as paredes, bancos e locais de passagem.
O motivo de tal avesso não se sabe ao certo. Mas talvez a “frieza” que se costuma atribuir a Brasília – provocada pela ausência de esquinas e pedestres nas ruas, pela estética notadamente asséptica dos prédios públicos e das moradias, ambos monótonos graças ao uso recorrente do branco e à uniformidade das fachadas modernistas, entre outras coisas – não tenha sido convincente quanto ao seu potencial re-volucionário, ou mesmo sufi cientemente agradável aos olhos dos adep-tos da comunidade do Vale. É provável também que a nova capital te-nha sido por eles identifi cada como muito distante de seus referenciais culturais e/ou demasiadamente inverossímil para servir de modelo às suas habitações: “uma casa que não serve para dormir, para amar, mor-rer ou simplesmente estar”, como bem elucidou o dramaturgo.
Rejeitando em grande parte as referências estéticas da “desal-mada” Brasília, Tia Neiva parece ter ido buscar inspiração para o Vale em outros sistemas da cultura brasileira – aqui percebidas em sua condição dialógica entre o nacional e o estrangeiro; o massivo, o erudito e o popular. Ao que tudo indica, são elas: informações veiculadas pelos meios de co-municação; credos e manifestações religiosas citados no presente trabalho, bem como imagens a eles vinculadas, tais como os santinhos, além das
22 O médium Vladimir fala do estranhamento do Vale como um meio de atrair pessoas e espíritos desencarnados para a comunidade, de modo a provocar uma mudança radical em seus “padrões energéticos”.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 7415939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 74 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Capítulo 2 Vale do Amanhecer: uma “alma” para a cidade modernista 75
quermesses das cidades interioranas; fachadas e decorações internas das casas de pessoas de baixa renda; carros alegóricos e adereços carnavalescos e, como não poderia deixar de ser, placas e boleias de caminhão. Afi nal, não era Tia Neiva uma caminhoneira? Não era ela uma mulher acostumada a viajar pelo País e a lidar com a riqueza e a diversidade cultural do Brasil?
Foi a partir de tais referências e de seus hibridismos que se formou a estética do Vale do Amanhecer: obtusa, melodramática e exu-berante. No entanto, se aos olhos dos adeptos ela se oferece na condição de uma “alma” para a capital modernista, a mesma estética também se impõe como pouco familiar a quem não reconhece o arcabouço cultu-ral da clarividente e de seus seguidores como sendo o seu. Talvez até por esse motivo ela seja defi nida por alguns como estando muito próxi-ma ao kitsch 23, um modo de ser, de viver e de representar o mundo tido sinônimo do mau gosto, do falso e da antiarte. Deve-se dizer, contudo, que a presente análise não concorda com tal palavra em sua versão pe-jorativa, ao menos no que se refere ao Vale. Se de fato existe algo que se possa chamar de kitsch na estética da comunidade criada por Tia Neiva, que seja de um kitsch poético, criativo e visionário, como avalia-ram Dinah Guimarães e Lauro Cavalcanti (1982) em seu trabalho sobre arquitetura suburbana e rural.
No Vale há um kitsch irreverente que preza uma antropofagia bastante diferenciada da verifi cada na arquitetura de Niemeyer, em sua postura bricoleur diante dos movimentos artísticos e estéticos nela envol-vidos. Entende-se que na estética de Brasília há uma harmonia domi-nante, uma maior e aparente integração entre as partes, diferente do que se pode verifi car na estética do Vale. Essa estética da capital é resultante da procura de Niemeyer pela ocupação racionalizada dos espaços, pela assepsia das formas, bem como pelo controle das curvas e das retas que as constituem. Na comunidade de Tia Neiva, por outro lado, o que parece gritar é justamente o oposto, ou seja, a tensão entre as partes, a explici-tação das diferenças de cada uma delas e sobretudo a sua aglomeração ostensiva e, de certo modo, desenfreada.
23 Termo intraduzível do alemão, no entanto transposto com certa ironia e reserva para outros idiomas. De acordo com Ludwing Giez, haveria duas versões para a origem da referida palavra. A primeira re-mete a uma corruptela do termo inglês, sketch, amplamente utilizado no século XIX, quando turistas americanos, querendo adquirir uma obra de arte por um baixo preço, pediam um esboço, imitação ou cópia (sketch) do mesmo. Na segunda acepção, o termo kitsch adviria do termo alemão, kitschen, com o significando de “tirar a lama da rua” ou “reformar móveis para fazê-los parecer antigos” (Giez apud Guimarães; Cavalcanti, 1982, p. 15). Abraham Moles (1994) o associa à ideia do vender barato, da trapaça, da negação do autêntico, todos tomados de empréstimo do verbo verkitschen.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 7515939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 75 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante76
Tem-se assim no Vale uma luminosidade mais do que explícita; cores em excesso; materiais baratos como o plástico e o strass simulando o ouro, a prata e as pedras preciosas; imagens agigantadas de entes espiri-tuais, além de uma grande profusão de símbolos muito bem marcados e às vezes dissonantes, como referências a diversos sistemas culturais e re-ligiosos. Todos eles são facilmente verifi cados nos diversos tipos de indu-mentária e na arquitetura daquela comunidade, como mostram as ima-gens a seguir, mas sobretudo ali dispostos com a intenção de realizar no “aqui e agora” a experiência de um mundo melhor, um mundo sonhado.
Por vias de uma inversão simbólica, semelhante à de que falou Mikhail Bakthin (1999) referindo-se ao carnaval – o “baixo” que se eleva durante uma ocasião especial –, a doutrina de Tia Neiva tornou mais suportável o dia a dia de seus seguidores. De desimportantes, humilha-dos e excluídos na vida social, eles puderam então, no exercício de sua religião no Vale do Amanhecer, tornar-se grandes e famosos. Enquanto permanecerem na comunidade, os adeptos dizem vestir-se como faraós, cavaleiros medievais, ciganos abastados, sacerdotes gregos e/ou hindus, habitantes de Atlântida e guerreiros importantes24, além de se responsa-bilizarem pela salvação de toda a humanidade, enquanto ocupam cuida-dosos os lugares sagrados e executam os seus rituais
2.4 – A configuração híbrida
O Vale tem um ambiente religioso inusitado e, ao contrário da “desalmada” Brasília, encontra-se repleto de informações textuais bastante familiares aos seguidores de Tia Neiva. Essas informações são geradas a partir do diálogo entre variados sistemas, em geral de maneira tensa e confl itante, mas nasci-das desde então como algo novo, híbrido25 e sob a chave do kitsch, que guarda em sua memória traços dos textos precedentes. Não no sentido de um depó-sito de informações, como advertiu Lotman (1998), mas como um mecanis-mo de regeneração da própria memória, uma vez que tais informações para lá levadas se encontram em um contexto totalmente diferenciado.
24 Obviamente, os modelos das roupas dos adeptos do Vale não são exatamente como os registrados pela história. Portanto, eles também se dão a constituir a partir do mecanismo da ressignificação.
25 Optou-se pela palavra “hibridismo” ao invés de “sincretismo”, uma vez que, para Lotman (1996), a se-gunda remete ao “sincretismo primitivo”, proposto por Veselovski. Esse conceito designaria a fusão das diversas semioses, após uma etapa primitiva, com a consequente criação de textos monolíngues, caracterizados por regras absolutamente lineares. Desse modo, se na concepção de Veselovski o texto tende ao uno, na definição proposta por Lotman – ao pensar o texto como sendo constituído por inú-meros subtextos e em permanente diálogo com vários outros – melhor seria falar de um “hibridismo”, como designação de uma constituição multivocal e complexa.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 7615939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 76 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Capítulo 2 Vale do Amanhecer: uma “alma” para a cidade modernista 77
Importa dizer que o Vale do Amanhecer, assim como todos os tex-tos da cultura, não guardam em sua memória somente informações produ-zidas no momento de sua criação ou em um passado imediatamente a ela anterior, principalmente se consideradas sob uma perspectiva linear. Como salientou Bakhtin, referindo-se à literatura e à sua confi guração semiósica no “grande tempo” da cultura, o que ocorre é justamente o contrário. Toda obra literária e por conseguinte todos os textos culturais têm suas raízes em um passado distante pois, como afi rma o autor, eles se “preparam ao longo dos séculos, e, na época de sua criação, somente se colhem os frutos maduros do largo e complexo processo de maturação”. Afi nal, “todo aquele que só perten-ce ao presente morre junto com este”, conclui Bakhtin (1982, p. 350).
Nesse sentido, pode-se enfi m afi rmar que os seguidores de Tia Neiva se reconhecem naquela comunidade religiosa pela relação esta-belecida entre sistemas culturais diversos e todas as considerações his-tóricas, temporais, sociais e geográfi cas a eles vinculadas de modo não linear. É verdade que muitos desses sistemas não serão aqui abordados. O cerne deste trabalho pretende investigar apenas a dialogia do Vale com informações relacionadas à cidade de Brasília, às religiões (espi-ritismo kardecista, umbanda, catolicismo popular26, em suas versões mais periféricas27), além da religiosidade do tipo Nova Era. Mas não só: 26 Adverte-se que o catolicismo popular, dos três sistemas religiosos citados, será o menos abordado no
presente trabalho. O principal motivo de tal decisão apoia-se no fato que, dos três analisados, ele é o que menos diz respeito aos interesses diretamente aqui estudados. No entanto, sua presença no Vale não pode ser ignorada, uma vez que é bastante forte, ainda mais se se considerar que o catolicismo popular também é um dos sistemas de referência doutrinária do espiritismo kardecista e da umbanda.
27 Traçando um quadro explicativo das três religiões citadas, sobre o espiritismo kardecista Renato Ortiz (1990) adverte que as ideias de Allan Kardec – o francês Hyppolite-Léon Denizard Rivail, do século XIX, que dizia ter nascido em uma outra encarnação com o nome de Allan Kardec –, ao chegarem ao Brasil, já sofreram algumas modificações, como a introdução de uma prática terapêutica. Com o passar do tempo, segundo o autor, o espiritismo kardecista deslocou sua ênfase de um pensamento mais racio-nalista e adquiriu cada vez mais um caráter de consolo dos sofrimentos e moléstias. “É sob essa forma lenitiva que ele penetra [...] nas classes baixas da sociedade, onde se associa a outras práticas mágicas”, conclui Ortiz.
No que diz respeito à umbanda, ao analisar a cidade de São Paulo – um dos principais focos de desen-volvimento de tal religião, ao lado do Rio de Janeiro, onde, segundo Renato Ortiz, deu-se a sua criação, graças ao fenômeno da urbanização –, o autor dá mostras de como ela também está em geral associa-da a classes economicamente menos privilegiadas. Nas suas palavras: “Na medida em que se passa dos bairros mais populares para os menos populares, a concentração do número de terreiros diminui. O elo entre religião e classe baixa aparece dessa forma como dominante. Entretanto ele não é exclusivo; apesar de existir uma tendência das seitas umbandistas de se localizarem nas zonas mais pobres da cidade de São Paulo, constata-se que os terreiros se distribuem por toda a metrópole, abarcando uma parte considerável do espaço pelas chamadas classes médias inferiores”. (1990, p. 66).
Quanto ao catolicismo popular, Renato Ortiz (1996) afirma que ele opera com os santos, com os mi-lagres, com os procedimentos e os pedidos de cura, em uma orientação que privilegia a dimensão mágica da religião e o separa dos cânones oficiais da Igreja.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 7715939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 77 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante78
na comunidade há também um forte apelo à cultura de massa como um todo, expressa pelos meios de comunicação tradicionais28 e seus produ-tos – como fi lmes para cinema, seriados de TV, livros best-sellers, alma-naques, mensagens publicitárias impressas e/ou audiovisuais, folhetos e lembranças de viagem, entre outros, todos consumidos e incorporados à doutrina pelos adeptos por um processo nitidamente antropofágico29.
Essas informações que lá se hibridizam se prestam a uma no-tória mestiçagem, gerando uma nova forma de explicar e de entender o mundo, como será visto no decorrer dos próximos capítulos. Um com-pleto se apoderar, mastigar e digerir de cenas, formas, símbolos e outras informações estranhas ao Vale, seguido de um posterior regurgitar de algo novo, inusitado e surpreendente em sua confi guração semiósica. Em outras palavras, lá ocorre a tradução de informações advindas da “não cultura” para a esfera da cultura, no dizer dos estudos semióticos pro-postos pelos russos e adotados no presente trabalho. É uma tradução que somente se realiza pela existência da fronteira ou do mecanismo bilíngue que traduz as mensagens externas em linguagem interna e também o in-verso, conforme assinalou Iuri Lotman (1996).
Os sistemas religiosos de referência
Com relação à presença do espiritismo kardecista, da umbanda e do catolicismo no Vale, pode-se dizer que essas religiões, até os anos de for-mação do Vale do Amanhecer – fi nais dos anos 1950 até fi nais dos 1960 –, segundo Cândido Procópio Ferreira de Camargo (1973), estavam entre as mais adotadas, de maneira muitas vezes transitória ou mesmo concomitante, pela população de baixa e média renda brasileira30. A esses grupos, em geral, pertenceram muitos dos adeptos do Vale, antes de aderirem àquela doutrina.
28 Entende-se por “meios de comunicação tradicionais” a televisão, o cinema, o rádio, o livro e os demais meios impressos – jornais, revistas, folhetos, entre outros. Optou-se por não abordar aqui a Internet e os jogos eletrônicos por terem eles sido difundidos mais recentemente e, assim, não fazerem parte dos usos e costumes da população brasileira, sobretudo a de menor poder aquisitivo, na época da criação do Vale do Amanhecer.
29 Como já dito na introdução do capítulo, é certo que o Vale do Amanhecer se relaciona com vários outros sistemas ou textos da cultura e que cada um dos analisados no presente trabalho – Brasília, as religiões e os produtos da cultura de massa mencionados – também se relacionam com muitos outros. Sabe-se, inclusive, que as constituições de todos eles se deram e ainda se dão pelo diálogo com outros sistemas, em situações diversas. Seguramente, essa é uma complexidade impossível de ser abarcada em um único trabalho, como é o caso do que aqui se apresenta.
30 Considere-se que, por essa época, segundo Camargo (1973), o número de adeptos do catolicismo apresentava um declínio moderado, porém constante, enquanto o contrário se dava com os protes-tantes, sobretudo os das seitas pentecostais, os espíritas, os umbandistas e, inclusive, os que se decla-ravam “sem religião”.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 7815939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 78 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Capítulo 2 Vale do Amanhecer: uma “alma” para a cidade modernista 79
Em relação à Tia Neiva, sabe-se que ela teve, segundo suas pró-prias palavras, uma formação católica “apostólica, romana” – fato que a impedia de travar maiores contatos com outras religiões, como o espi-ritismo kardecista e a umbanda. Como atestam seus escritos (ver Álva-res, 1992), Tia Neiva não aceitava a ideia de reencarnação e manifestava aversão às supostas conversas com entidades incorporadas, fossem elas brancas, índias ou negras. Sendo assim, seus primeiros contatos com os espíritos assumiram a conotação de pecado. Eis algumas de suas frases, em tempos de confl ito: “Tenho ódio de espíritas!”; “Meus pais... como fi cará tudo isto?”.
Depois dos 30 anos de idade, a clarividente passou a buscar res-postas para suas crises psíquicas, por ela entendidas como espirituais. Adquiriu desse modo uma grande intimidade com o espiritismo karde-cista, por meio dos frequentes ensinamentos de Mãe Neném. Preocu-pou-se sobretudo com o aspecto “científi co” da religião, com as ideias do carma, da cura e com muitas outras questões. Mas o que fazer se suas ditas visões também eram de caboclos, pretos-velhos e, inclusive, de exus da umbanda? Como ignorar todo um referencial africano, mesmo que embranquecido no credo umbandista, mas tão rico em simbologia e for-temente impregnado em sua cultura de brasileira?
A convivência de Tia Neiva e de seus adeptos com todos esses sistemas culturais e religiosos – no presente caso, o catolicismo popular, o espiritismo kardecista e a umbanda – é, sem dúvida, o grande fator determinante da composição híbrida que constitui a doutrina do Vale do Amanhecer31. Daí o fato de a religião idealizada pela ex-caminhoneira, embora revele muito de original e inusitado em sua estrutura doutriná-ria, dever boa parte da criação e da instituição de seus preceitos a cada um desses credos. Aliás, é exatamente essa relação com o catolicismo po-pular, o espiritismo kardecista e a umbanda que faz do Vale um texto cultural extremamente rico e complexo. É dessa relação que vem grande
31 Há ainda que se pensar nas igrejas protestantes, é verdade, sobretudo nos movimentos (neo)pente-costais ou evangélicos, que absorvem boa parte da população de baixa e média renda no Brasil. No entanto, pouco deles se verifica na doutrina criada pela clarividente. Supõe-se que esses credos esta-riam firmemente fixados na censura a diversas experiências espirituais de Tia Neiva. Estariam ainda voltados à atribuição de muitas delas às artimanhas do demônio e, consequentemente, à execução das práticas de exorcismo. Desse modo, entende-se que a proximidade de tais credos levaria a clari-vidente a caminhos doutrinários bem mais rígidos e intolerantes. Destruiria, assim, a possibilidade de ela vir a dialogar com outras crenças religiosas e, finalmente, de ela criar, juntamente com seus segui-dores, uma doutrina de grande hibridismo cultural, como é o caso da professada pela comunidade do Vale do Amanhecer.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 7915939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 79 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante80
parte das informações exteriores a serem por ele digeridas e depois res-signifi cadas.
É fato: as referências a tais credos religiosos no Vale são várias, mas nem sempre nítidas, uma vez que o processo de hibridização a que se submeteram e continuam a se submeter é bastante intenso. Diga-se “continuam” porque se entende que todo sistema cultural é dinâmico, estando longe de apresentar uma confi guração cristalizada e defi nitiva. Vivendo da autoconstrução e da autodesmontagem, toda cultura nutre--se da interação com o que lhe é diferente, modifi ca-o e dele também se alimenta, como uma maneira de ampliar o seu território, conforme advertiu Ivanov et alii (1979).
Do catolicismo popular, o Vale do Amanhecer guarda um grande respeito pela fi gura de Jesus Cristo. Sua representação em frente ao templo principal difere, contudo, da católica. Ele não está pregado em uma cruz, mas de pé e usando chinelos de couro. Uma imagem mais próxima de um Jesus hippie e andarilho, também por sua denominação entre os adeptos de “Jesus, o caminheiro”, provavelmente por infl uência da religiosidade do tipo Nova Era e, quem sabe, até de produções da cultura de massa, como o fi lme Jesus Superstar (Jesus Christ Superstar), de 1973, dirigido por Norman Jewison, que retrata um Jesus rebelde, um autêntico representante da con-tracultura, como lembra Laércio Torres de Góes (2003).
A cruz também é bastante importante para o Vale, embora lá se encontre ressignifi cada. Está sempre envolta por um manto branco, o santo sudário dos fi éis, e diz respeito a pontos de energia distribuídos no local, assim como ao médium do tipo doutrinador, como será visto mais adiante. Há mais referências a essa religião, como uma entidade chamada “mestre Lázaro”; a falange das samaritanas, que tem uma ânfora bordada em sua veste, e a própria encarnação de Pai Seta Branca como São Fran-cisco de Assis, entre outras. Mas isso é assunto para ser melhor desenvol-vido em um outro momento.
Quanto ao diálogo do Vale com o espiritismo kardecista e a umbanda, pode-se dizer que essas duas religiões, em suas conotações mediúnicas, parecem ser a que mais dialogam com os seguidores da clarividente, chegando muitas vezes, em alguns aspectos e à primeira vista, a com elas se confundir. Note-se que, segundo Camargo (1961), no Distrito Federal, por volta dos anos 1960 – mesmo local e época de formação da doutrina de Tia Neiva –, o espiritismo kardecista em geral se encontrava extremamente identifi cado com a religião umbandista,
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 8015939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 80 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Capítulo 2 Vale do Amanhecer: uma “alma” para a cidade modernista 81
fato que defi nitivamente atesta a proximidade entre os dois credos re-ligiosos em questão e, consequentemente, daquele idealizado pela ex--caminhoneira.
Aliás, foi Carmargo (1961) quem, na intenção de compreender as funções desempenhadas pela umbanda e pelo espiritismo kardecista, bem como o que as aproximava, falou de um continuum mediúnico entre esses dois credos. Esse conceito abarcava desde as formas mais africanizadas da umbanda até o espiritismo kardecista mais ortodoxo e referia-se a “um modo das pessoas viverem sua religião, um fato social, independente do direito a distinções e a separações rígidas entre o kardecismo e a umbanda, como legitimamente fazem diversos kardecistas e umbandistas”.
Pois bem: ao que tudo indica, o Vale do Amanhecer também faz eco a esse continuum, visto que a doutrina de Tia Neiva se vale do uso da mediunidade como um de seus principais pressupostos, dialoga intensamente com os dois credos em questão e, inclusive, chega a ser classifi cada, por alguns dos adeptos, como sendo notadamente “espírita”.
De fato, para os seguidores de Tia Neiva, a presença do karde-cismo do Vale é bastante clara, seja nos rituais, no panteão de espíritos e nos modelos de algumas indumentárias, por exemplo. Boa parte deles lê livros do espiritismo kardecista, em uma tentativa de melhor entender os preceitos doutrinários deixados pela clarividente. Outros já frequen-taram ou ainda frequentam os centros de tal religião, mesmo que espo-radicamente. Mas há também os casos em que os adeptos deixaram de participar dos ritos da comunidade para se votarem em defi nitivo aos ensinamentos de Allan Kardec.
Quanto à umbanda, embora ela mantenha originalmente em seu credo fortes vinculações com o espiritismo, sobretudo no caso do Distrito Federal, e também com o Vale do Amanhecer, como já visto an-teriormente, poucos são os adeptos de Tia Neiva que admitem ir aos seus templos e cultos ou simplesmente conseguem fi car livres de certo temor, com algumas entidades ali presentes, tais como a pomba-gira e o exu umbandista32. Pelo que se percebe, a integração da umbanda à doutrina religiosa de Tia Neiva pretende ser um pouco mais velada, disfarçada 33.
De um lado estão a recusa e o medo de alguns dos princípios e entidades umbandistas; de outro, sua relativa aceitação. No que há de
32 Sobre a diferença entre o exu do candomblé e o exu da umbanda, ver Ortiz (1991). Para saber mais sobre a pomba-gira, ver Meyer (1993).
33 Para um aprofundamento maior da questão, consultar Salgueiro (2003).
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 8115939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 81 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante82
recusa, talvez ela tenha ocorrido também por força da origem católica da clarividente, além da infl uência do espiritismo kardecista no Vale, encar-nado nos tempos iniciais pela fi gura de Mãe Neném. Ela era uma per-sonalidade bastante infl uente na comunidade, que olhava para aquelas entidades sob uma ótica claramente evolucionista e preconceituosa34. No que há de assimilação da umbanda, parecem ser os principais motivos a rebeldia de Tia Neiva frente às exigências da referida médium espírita e a sua aderência tardia à diversidade dos sistemas culturais e religiosos afro-brasileiros.
De fato, a abordagem que Mãe Neném fazia da umbanda não era nada conveniente à criadora do Vale do Amanhecer. Consta dos relatos da clarividente que sua companheira se espantava com frequência com a situação de Tia Neiva incorporar espíritos de caboclos, pretos-velhos, tidos como pouco iluminados pelo espiritismo kardecista – mas principalmente por ela manifestar certa simpatia pelos exus, entidades com características notoriamente demoníacas, perante a visão de Mãe Neném, de seu reconhe-cido mentor Francisco Cândido Xavier, ou Chico Xavier (Álvares, 1992), e, consequentemente, do próprio Vale do Amanhecer, como mostrado por Roberta da Rocha Salgueiro (2003) – embora Tia Neiva a eles se referisse como grandes intelectuais e cientistas, necessitados apenas de humildade e da capacidade de conversão aos desígnios divinos.
Sobre a divergência entre o que seriam os espíritos da umbanda, em um dos trechos do livro Autobiografi a missionária, Tia Neiva comenta:
Mãe Neném foi formidável, porém os seus princípios kardecis-tas começaram a me atrapalhar, me apavorando novamente. Ela discordava dos “pretos-velhos” e da umbanda, tornando-me novamente insegura [...]. Certa feita chamaram um “grande mé-dium” para retirar a minha mediunidade, ou melhor, para exami-nar a minha mediunidade. Cisenando era o seu nome. Não gos-tou de certas entidades, condenou as minhas maneiras bruscas [...]. Fez-se breve silêncio e o médium continuou: Neném! Estes espíritos que Neiva recebe são de umbanda. Tenha todo cuida-do. Se for possível vá embora para Goiânia; sai depressa, sem ser vista. (ver Álvares, 1992, p. 47-48)
34 Um dado importante é que mesmo a umbanda, que costuma ser inferiorizada pelos espíritas karde-cistas por dialogar com a religiosidade afro-brasileira em sua constituição doutrinária, também traz traços, ela mesma, de um olhar evolucionista. É, portanto, ambígua em relação a entidades de seu próprio panteão, como é o caso dos exus e das pombas-gira. Sobre o assunto, consultar Ortiz (1991).
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 8215939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 82 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Capítulo 2 Vale do Amanhecer: uma “alma” para a cidade modernista 83
O interessante é que Tia Neiva, após passar por algumas inse-guranças sobre a boa qualidade e o direcionamento de seus dons espiri-tuais, tomou partido de tais entidades. E, mesmo atribuindo a algumas um forte grau de periculosidade, mas também o direito de serem por ela respeitadas, enfi m entendeu que a doutrina do Vale se apresentava como algo diferente do espiritismo kardecista. Daí o fato de não apenas os pretos-velhos e os caboclos, mas também os exus e as pombas-gira em nada ameaçarem os “princípios crísticos” ali praticados. No Vale, pretos--velhos e caboclos são geralmente “espíritos de luz”35, seres altamente benéfi cos, ao contrário do que pensam os espíritas kardecistas; enquanto os exus, como já dito, são apenas seres carentes da luminosidade divina.
A respeito dessa diferenciação, o adepto Álvares (1992, p. 47) defi niu a doutrina de Tia Neiva como o surgimento de “uma ‘nova’ con-cepção da ‘velha verdade’”, um “progresso da percepção” ou “aceleramen-to na evolução de conceitos ao seu entendimento”. Para ele, o Vale traz a proposta de um “novo olhar” sobre o que era tido como a “verdade imu-tável” das religiões já instituídas. Esse argumento, para os fi éis, acabou constituindo uma das principais justifi cativas da criação daquela dou-trina, perante a existência de credos mais antigos e tradicionais, assim como o atrativo e a novidade naquilo que instituíram a clarividente e seus seguidores.
Diante de tais considerações, pode-se afi rmar que, desde a épo-ca da Uesb até a defi nitiva instalação da comunidade nas proximidades de Planaltina, a busca de Tia Neiva e de seus adeptos, no processo de tes-situra do grande texto/ sistema Vale do Amanhecer, parece ter sido uma só: a da inovação doutrinária, a de que a criação ali se impusesse de forma clara e defi nitiva, mas também intempestiva e imprevisível, contrariando a ideia do repetir, do tornar-se igual ou do simplesmente copiar, tão caro aos ideais de Mãe Neném – se é que cópias são realmente possíveis, em se tratando de sistemas culturais36.
Essa inovação se deu e ainda se dá pelo constante diálogo entre as fronteiras daquele pequeno cosmo que é o Vale do Amanhecer e as fronteiras dos diversos textos culturais possíveis. Entre eles estão o ca-
35 Salgueiro (2003) detecta a existência no Vale de um tipo de preto-velho com um grau de ambiguidade; ele também seria aceito na doutrina, mas sob a condição de ser doutrinado pelos adeptos.
36 Vale dizer que o estatuto de cópia, para a semiótica da cultura, não é o “idêntico a si mesmo”. Essa duplicação traz em seu bojo a renovação, a ressignificação, como é o caso da imagem projetada no espelho, que tanto sofre modificações, a maioria imperceptíveis, devido à superfície do objeto, quanto à mudança de eixo direito-esquerdo.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 8315939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 83 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante84
tolicismo popular, o espiritismo kardecista e a umbanda (no que se refe-re especifi camente aos sistemas religiosos anteriormente citados). Estão também os meios de comunicação mais tradicionais, como o cinema, a televisão, as revistas em quadrinhos, o rádio, os livros best-sellers, entre outros, além da religiosidade do tipo Nova Era, em sua vinculação com o fenômeno da contracultura, e também a cidade de Brasília, percebida em seus aspectos místicos e míticos.
Umas divisões tênues, porosas e permissivas, bastante propícias à tradução de informações do “além-fronteiras” e à posterior incorporação das divisões pelo Vale nas dimensões do seu “intra”. Mas essa incorporação é realizada pelo confl ito, pelo desajuste e pela desestabilização caótica de uma organização anterior, ela mesma estabelecida a partir de um contato já acontecido com outros sistemas culturais. Essa incorporação se dá em favor da gestação de algo novo, algo a se tornar temporariamente estável e conformado, pelo menos até que esse novo sistema trave um novo diálogo. Em outras palavras, um eterno suceder e conviver entre caos e ordem.
Os sistemas de referência da cultura de massa
No que se refere à relação do Vale com os meios de comunicação tra-dicionais, note-se, por exemplo, que nas décadas de 1960 e 1970 – tem-pos de criação e consolidação da doutrina –, fi rmava-se no Brasil uma autêntica cultura de massa e, consequentemente, uma indústria cultural brasileira. Como afi rma Renato Ortiz:
O que caracteriza a situação cultural nos anos 1960 e 1970 é o volu-me e a dimensão do mercado de bens culturais. Se até a década de 1950 as produções eram restritas, e atingiam um número reduzido de pessoas, hoje elas tendem a ser cada vez mais diferenciadas e cobrem uma massa consumidora. (2001, p. 121)
Segundo Ortiz (2001), do início dos anos 1960 até o fi nal da década de 1970, cresceu o número de gibis infantis, de revistas femini-nas e masculinas. Cresceu também a verba destinada à publicidade; o número de aparelhos de TV, que a partir de 1969 passaram a transmitir programas em rede nacional; assim como a frequência aos cinemas, com exibição de fi lmes nacionais e estrangeiros. O modelo dessas produções, lembra Ortiz, era em geral o fornecido pela cultura industrializada norte--americana.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 8415939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 84 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Capítulo 2 Vale do Amanhecer: uma “alma” para a cidade modernista 85
Os norte-americanos, nos anos 1930 e 1940, buscaram estabe-lecer o fortalecimento de suas relações comerciais com a América Lati-na por meio da “Política da Boa Vizinhança”, que, no caso brasileiro, foi responsável pela criação do personagem de animação Zé Carioca e pela divulgação da cantora Carmem Miranda, também conhecida como “Bra-zilian Bombshell” nos Estados Unidos. A gravação do fi lme inacabado It’s all true, do diretor norte-americano Orson Welles, realizada entre 1941 e 1942 no México e no Brasil, teve o mesmo intuito.
Aliás, vale dizer que força do cinema já era bastante grande na-quela época, tanto que, segundo Cláudio de Cicco (1979), com a reper-cussão das produções hollywoodianas, os brasileiros começaram a assi-milar modismos norte-americanos. Daí a divulgação e a popularização de: a) expressões de linguagem como “ok” e “bye, bye”, b) padrão de beleza dos atores e das atrizes – Elizabeth Taylor era um bom exemplo disso; c) estilos de móveis e de arquitetura – eram veiculadas fotorreportagens do tipo “A casa de Bette Davis” ou “Como vive Mirna Loy”; d) livros best-sellers – a coleção “Os maiores êxitos da tela” da editora Vecchi, por exemplo, apresentava o título Cleópatra: a serpente do Nilo e seus amores, de Paul Reboux; e) moda: posavam como modelos artistas de fama como Susan Hayward e Joan Crawford.
Seguindo-se tal linha de raciocínio, se nos anos 1940 a presença do gosto norte-americano em nossa sociedade já era bastante contundente, pode-se considerar que, nos anos 1960 e 1970, esse mesmo gosto estava mais do que estabelecido e fi rmado em terras brasileiras. Não se pode deixar de pensar, contudo, em sua hibridização com os sistemas culturais nacionais.
Nos anos 1960 e 1970, por exemplo, fi zeram grande sucesso vá-rias séries televisivas norte-americanas, entre elas as de fi cção científi ca, como Jornada nas estrelas (Star Trek), criada por Wesley Eugene Roddenber-ry e exibida pela primeira vez na rede de televisão NBC, em 1966. Segun-do Ubirajara Cairo (www.seriesantigas.hpg.ig.com.br), esse seriado de 79 episódios gerou nove fi lmes de longa-metragem, 22 desenhos animados, outros três seriados e mais de 400 livros publicados a respeito, além de também ser responsável pela criação de inúmeros fã-clubes.
Nas décadas de 1960 e 1970, só de produção norte-americana foram exibidos mais de 60 fi lmes voltados para o mundo antigo, tanto no cinema quanto na televisão. No que se refere ao Egito, destaquem-se Cairo, de 1962, e Th e notorious Cleopatra, de 1970. No entanto, o fi lme que mais se consagrou no gosto do público, como lembra Jon Solomon (2001), foi Cle-
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 8515939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 85 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante86
opatra, de 1963, com Elizabeth Taylor no papel da rainha – a bela Elizabeth Taylor que, desde os anos 1940, já aparecia nas telas como símbolo sexual para os homens e como exemplo de beleza a ser seguido pelas norte-ame-ricanas, brasileiras e mulheres ocidentais de uma forma geral.
Um outro dado a ser mencionado é que, se nos anos 1960 os bens culturais já se encontravam em grande parte marcados pelo valor do consumo, unindo-se a padrões de gosto, comportamento e pensamento não apenas de brasileiros, mas de latino-americanos, sobretudo nos anos 1970 novos setores, como o lazer e o turismo, juntaram-se à massifi cação pelo cinema, revistas, jornais, rádio e livros do tipo best-sellers. Conforme Ruben P. Villa (1992), em decorrência desse novo fator, intensifi cou-se a propagação do chamado turismo esotérico ou turismo místico. Assim, em países como o Peru, por exemplo, cresceu o número de visitações às ruínas de povos pré-colombianos – as marcas deixadas pelos incas, como as linhas de Nazca, as construções da cidade sagrada de Machu Picchu e a “Porta do Sol” de Tiahuanaco.
Villa (1992) trata o que se convencionou chamar de contra-cultura e sua absorção pelo mercado como a atmosfera propícia para o desenvolvimento de produtos com apelo ao Oriente, a civilizações extraterrestres, a povos exóticos e a fi losofi as antigas, entre outros. Villa lembra que nos anos 1960 e 1970 muitos artistas – Th e Beatles, Beach Boys, Th e Who – tomaram gosto pelas religiões orientais, incentivando a leva de seguidores de gurus e do ocultismo. Era também o auge da ufologia, em grande parte por ser a época em que o homem chegou à Lua. Tempos do movimento hippie, do apego à natureza e à paz. Tempos de volta às origens que remetia, por sua vez, à sabedoria de civilizações supostamente mais desenvolvidas, como a dos extraterrestres, ou à dos povos mais antigos, como os indianos, os egípcios e os antepassados indígenas brasileiros, norte-americanos, incas, maias e astecas.
De fato, nos anos 1960 e 1970, tudo o que apresentasse uma boa dose de exotismo e de mistério seria muito bem festejado pelo pú-blico consumidor. Sendo assim, era comum se encontrar, no mercado editorial, livros best-sellers, como o Segreto de los Andes, do inglês Brother Philip (George Hunt Williamson). O autor, segundo Villa (1992), que dizia ter estabelecido contato com seres extraterrestres, estimulou com seus escritos a imaginação e a curiosidade de grande parte da juventude ocidental. Dessa forma, muitos partiram em busca de um certo “mos-teiro oculto”, situado nas proximidades do lago Titicaca. Também como
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 8615939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 86 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Capítulo 2 Vale do Amanhecer: uma “alma” para a cidade modernista 87
propagadora dessa onda mística na área do turismo vale citar a revista Lo insólito, do grupo Rama, que teria levado muitas pessoas ao Peru, em sua maior parte procedentes do Brasil e da Espanha.
Foi assim que se desenvolveu um grande mercado voltado para a experiência mística e esotérica, um turismo bastante lucrativo e em sin-tonia com o espírito da época. Nas palavras de Villa:
Esta afl uência, cada vez mais crescente de turistas ávidos de “mistérios”, “mosteiros” e “mensageiros” como de “experiências assombrosas” e “alto geomagnetismo”, não tardou em chamar a atenção de operadoras e guias turísticos, como também dos dirigentes de grupos ocultistas, espiritistas e ufólogos. Havia-se “descoberto” um novo e rentável fi lão turístico: o “turismo mís-tico” ou “turismo esotérico”. O seguinte passo teria então que consistir em “criar” e organizar convenientemente toda a infra--estrutura necessária para satisfazer a demanda e pressão de dinheiro como o dólar [...]. (1992, p. 29).
Diante de todos esses dados, resta a seguinte questão: o que real-mente seria capaz de evidenciar o diálogo do Vale do Amanhecer com os meios de comunicação tradicionais e com a cultura de massa em geral? Para se responder a tal pergunta, foram considerados, até agora, dois aspectos im-portantes, de caráter mais contextual. São eles: a relação da religiosidade do tipo Nova Era com meios e cultura e a presença desse tipo de religiosidade na cidade de Brasília, para depois se falar de sua recorrência entre os adeptos da comunidade do Vale do Amanhecer. Esses aspectos mais adiante serão abordados em suas imbricações com o espiritismo kardecista, a umbanda e o catolicismo popular, com destaque para os dois primeiros.
Mas há que se pensar também nas informações referentes a discos voadores e extraterrestres; a aspectos da civilização egípcia, como é o caso existência das pirâmides; a civilizações andinas e mesoameri-canas, sobretudo incas, maias e astecas; aos povos indígenas brasileiros, como os da região do Xingu, e a personagens de fi lmes de faroeste, como caubóis e índios norte-americanos. Todas essas informações eram veicu-ladas pelos mesmos meios de comunicação tradicionais e facilmente en-contradas nos mais variados produtos da cultura de massa – embora de maneira diferente das “originais” e, portanto, ressignifi cadas, como será demonstrado nos três capítulos seguintes.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 8715939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 87 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
88 Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 8815939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 88 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
89
O Vale, a noção de ciênciae as naves espaciais
A fé que nega a ciência é tão inútil quanto a ciência que nega a fé.
(Tia Neiva)1.
Na doutrina criada por Tia Neiva, a noção de ciência é fundamental. Mas uma ciência ressignificada, uma vez que se aproxima do mito, dando-se principalmente a construir em relação dialógica com o es-piritismo kardecista, a umbanda e também com alguns produtos vei-culados pelos meios de comunicação. Tal é o caso dos filmes e séries de televisão, do tipo ficção científica. Daí a associação encontrada no Vale entre a valorização de uma racionalidade científica, a crença na existência de entidades espirituais de cura e uma herança cármica contraída pelos adeptos – além de, como não poderia deixar de ser, a referência a naves espaciais, a seres extraterrestres e a combates inter-galácticos, entre outros. É o que será explorado neste capítulo.
3.1. O discurso cientifi cista: diálogo com o espiritismo de fi liação kardecistaO Vale do Amanhecer tem em sua confi guração sistêmica uma forte presença do espiritismo kardecista. Mãe Neném, como já exposto, foi uma das principais divulgadoras, entre Tia Neiva e seus seguidores, de várias das informações desse credo, uma agente fundamental para a construção de um texto híbrido da cultura que, mesmo se diferencian-do do espiritismo em questão, passou a guardar em sua memória uma parte considerável dos valores religiosos de feição positivista e do léxico cientifi cista espírita, uma vez que com ele travou diálogo.
É o que demonstra o adepto Bálsamo Álvares ao afirmar que, dentre todas as religiões, a doutrina do Vale se identifica mais com o
1 Pintado sobre um banco de alvenaria, situado nas proximidades do templo principal.
Capítulo 3
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 8915939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 89 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante90
espiritismo, “devido à clareza como considera a reencarnação” (1991, p. 14-15). Ao falar da vinculação de seu credo com a ciência, Álvares recorre à noção de mediunidade, também uma categoria do espiritis-mo kardecista, conforme afirmou Waldemar Valente (1955). No caso, a mediunidade encontrada no Vale do Amanhecer é definida pelo fiel Álvares como “um fato natural, biológico e passível de uma visão científica”, já que na doutrina instituída pela clarividente haveria “o uso da razão funcionando em paralelo com a visão psíquica e mística” (1991, p. 111).
A visão cientifi cista que o Vale tem do mundo ainda pode ser identifi cada em outros momentos. Veja-se o caso de alguns dos trechos de livros escritos pelo ex-marido de Tia Neiva, o “intelectual” Mário Sassi, e editados pela própria comunidade. Atente-se para o tipo de vo-cabulário neles empregados, formado por termos emprestados de algu-mas disciplinas científi cas, como a biologia, a química e a física, como “nêutrons”, “magnetismo” e “organizações moleculares”, entre outros – embora deva se atentar para o fato de que o modo como esses termos são utilizados na doutrina de Tia Neiva geralmente diverge do modo como foram concebidos em seus textos matriciais.
Buscando explicar o que ele chama de “padrão vibratório de cada um”, Sassi lançou a seguinte afi rmativa:
Em cada campo vibratório existe um quantum específi co de atração e repulsão – a tônica magnética, o poder coesivo. A organização molecular mantém a forma de acordo com esse quantum. O ser humano tem esse quantum ajustado ao meio físico, a uma coesão molecular adaptada à superfície do planeta e adequada aos fatores ambientais [...]. Mas cada ser humano tem sua tônica específi ca, conforme seu destino individualiza-do. Essa tônica determina sua posição em relação aos outros indivíduos [...]. (s/d, p. 45).
Repare-se mais uma vez no jargão científi co utilizado por Sassi a respeito da diferenciação que ele faz dos dois tipos de mediunidade encontrados no Vale: a do médium doutrinador – aquele que esclareceria os espíritos sobre os princípios divinos e os encaminharia para o Astral Superior – e a do apará – o médium responsável pela incorporação de espíritos. Segundo o adepto:
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 9015939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 90 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Capítulo 3 O Vale, a noção de ciência e as naves espaciais 91
[...] A comunicação feita pelo processo cerebral, pela sensibiliza-ção do sistema endócrino, com centro na glândula pineal, e do sistema nervoso muda o foco da consciência, embora os sentidos continuem alerta. Esse tipo de mediunidade é chamado [...] de “doutrina”. Nesse caso, a efi ciência na comunicação é apenas pe-quena porcentagem na captação normal dos sentidos. Ela é fi ltra-da pela razão e exteriorizada pelos sentidos normais. Se o contato se faz pelo sistema nervoso central, com base no plexo solar, a perda da consciência é muito maior. O médium nesse caso é cha-mado de “incorporação” isto é, o ser que se comunica entra em contato direto com seu sistema nervoso. Ele se apossa dos con-troles e a mensagem é transmitida diretamente através do mé-dium. Mesmo assim a comunicação não é perfeita, pois a perda de consciência do médium é apenas parcial e variável. (s/d, p. 46).
Existem ainda outros aspectos que evidenciam a dialogia da dou-trina de Tia Neiva com o espiritismo kardecista, bem como sua vontade de racionalismo, de busca pela veracidade científi ca e de um forte grau de positivismo, conforme atesta Eduardo Araia (1996), referindo-se ao últi-mo. Parte dessas informações, pelo que se pôde perceber, tem sua versão impressa nos livros da doutrina do Vale, muitas delas voltadas para a ex-posição exaustiva de princípios como a reencarnação e o carma, além de advertências sobre o aborto e o suicídio e explicações sobre a origem espi-ritual de determinadas enfermidades psíquicas e defi ciências físicas.
Esses valores, tanto entre os espíritas de origem kardecista quanto entre os seguidores de Tia Neiva, encontram-se em nítida relação com a própria valorização da escrita: veja-se a grande quantidade de li-vros publicados por ambos os credos2. O ato de escrever é, nesse caso, en-2 A valorização da escrita é uma condição da religião codificada por Allan Kardec, como se pode
verificar na vasta produção de seus livros e de seu principal divulgador brasileiro, o médium Chico Xavier. Segundo listagem de Eduardo Araia (1996), vários são os livros de Allan Kardec. Entre eles, O que é o espiritismo (1859); Instrução prática sobre as manifestações espíritas (1860); O livro dos médiuns (1861); O espiritismo em suas expressões mais simples (1862); O evangelho segundo o espiritismo (1864); O céu e o inferno (1866); A gênese (1868), entre outros. Conforme Araia, para se ter ideia do alcance dos ensinamentos de Chico Xavier, basta dizer que “o nome do médium aparece atualmente nas capas de cerca de 380 títulos, com cerca de 25 milhões de livros vendidos em português e dois milhões em outras línguas” (1996, p. 127). Uma tiragem bastante considerável ainda no ano de 1996, quando Chico Xavier era vivo – ele veio a falecer em 2002. Magali Oliveira Fernandes (2001) afirma ser Chico Xavier autor de 412 livros.
No Vale do Amanhecer, conta-se atualmente com um número relativamente pequeno de publicações, se comparada ao espiritismo – 30 títulos publicados com várias reedições, afora folhetos e apostilas voltados para a instrução dos médiuns. No entanto, há outros elementos a serem considerados quando
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 9115939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 91 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante92
tendido como uma espécie de revelação, uma vez que a escrita atua, nas duas doutrinas em questão, como veículo importante para a transmissão dos ensinamentos supostamente emitidos pelos planos espirituais. Ela é um instrumento que, ao revelar, desvela e que, ao informar, intenta con-solidar a conformação dos dois grupos de adeptos, cada um no seu tipo específi co de religião.
No Vale do Amanhecer, não se verifi cou a existência da psi-cografi a ou escrita por incorporação, como ocorre no espiritismo3, mas apenas relatos das visões de Tia Neiva e de acontecimentos importan-tes para a doutrina, além de explanações sobre os preceitos religiosos ali estabelecidos. Tia Neiva escreveu, por seu próprio punho, vários desses relatos. Contou todo o processo de sua convocação para a missão de criar a doutrina do Vale; seus conhecimentos das vidas passadas de algumas pessoas e espíritos; suas viagens para outras dimensões espirituais; suas conversas com os vários tipos de entidades, desde as mais perigosas e “primitivas” até as “mais evoluídas”. Também elaborou e instituiu pre-ceitos doutrinários, cargos hierárquicos e procedimentos ritualísticos os mais variados para a comunidade.
Mário Sassi foi o principal compilador de seus escritos. Após a saída de Mãe Neném, ainda nos tempos da Uesb, ele tornou-se um co--formador do que pregava a clarividente. Buscando dar uma forma e uma ordem ao pensamento da mulher, acabava por interferir sobre ele, na me-dida em que com ela debatia algumas ideias para depois registrá-las no papel4. De fato, a escrita precária de Tia Neiva algumas vezes não aten-dia às necessidades de estruturação da doutrina. Muitas das informações emitidas por ela não eram exatamente inteligíveis aos adeptos e/ ou não tinham o viés científi co por alguns deles desejado.
Daí se atentar, como o fez Ana Lúcia Galinkin (1977), para a par-ceria de Tia Neiva com o seu ex-marido no exercício de uma liderança
o assunto é a valorização da escrita. Note-se, por exemplo, a observação feita por Marilda Batista a respeito do ritual da Estrela Candente do Vale do Amanhecer: “Pode-se observar a importância dada à escrita através da representação de um livro aberto, pintado numa enorme lápide em forma triangular localizada no alto da cachoeira. O livro contém uma prece que deve ser recitada pelos adeptos numa determinada fase do ritual, no exato momento em que cruzam a ponte que passa em cima da cachoeira”. (2004, p. 3).
3 O que há no Vale é a picto-psicografia, por meio da qual o adepto Vilela afirma visualizar as feições de algumas das entidades e pintá-las sobre tela, com tinta a óleo, ou mesmo no computador. Essas imagens são então fotografadas e vendidas aos adeptos do Vale no formato de “santinhos”, como aqueles comumente distribuídos ou comercializados nas comemorações da Igreja Católica.
4 Marcelo Rodrigues dos Reis (2008) afirma que Mário Sassi era ávido leitor de livros espíritas e de ficção científica. Em sua biblioteca, além dos já citados, havia também livros de ciências humanas e sociais.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 9215939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 92 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Capítulo 3 O Vale, a noção de ciência e as naves espaciais 93
bicéfala. De acordo com a autora, a clarividente seria então uma espécie de líder carismática; em geral atuando como apará nos trabalhos mediúnicos, ela era, por excelência, o receptáculo das mensagens de espíritos, o lado mais intuitivo e inconsciente da liderança do Vale. Enquanto isso, todo o grau de racionalidade e suposto cientifi cismo, além de um maior estofo no que diz respeito a referências da cultura ofi cial letrada, caberia ao doutrina-dor Mário Sassi e ao seu empenho intelectual de codifi cação da doutrina5.
São suas palavras:
As pessoas que viviam em torno de Neiva eram simples, sem escolaridade e avessas à racionalização [...]. O que mais me impressionava era a inconsciência que cercava Neiva. E assim, com displicência, em meio a uma refeição ou um ato caseiro qualquer, eu colhia respostas de perguntas milenares, de inter-rogações que os fi lósofos e cientistas faziam há muito. Minhas perguntas curiosas logo me grangearam o apelido de “O inte-lectual”. (Sassi, s/d, p.17).
A “inconsciência” e a “intuitividade” de Tia Neiva, bem como a capacidade “racional” e “codifi cadora” de Mário Sassi, de fato parecem se estender a todo o corpo mediúnico da doutrina, conforme observou Galinkin (1977). Assim, não apenas Tia Neiva e Mário Sassi, mas todos os aparás e doutrinadores atuam necessariamente em conjunto durante os rituais. No caso do trabalho dos tronos, por exemplo, o apará perma-nece sentado em um banco vermelho ou amarelo, incorporado por um espírito de luz, em geral um caboclo ou preto-velho. Entre um instante e outro, ele dá “passagem” às entidades pouco evoluídas. O doutrinador, por sua vez, posto de pé atrás dos tronos, traduz as falas dos caboclos e pretos-velhos aos consulentes, assim como instrui e controla as entida-des pouco iluminadas, mandando-os para o Astral Superior após a sua doutrinação.
Apará e doutrinador acabam então por fazer as vezes de terapeutas espirituais no seu trabalho em prol da cura das pessoas e dos espíritos que lá 5 Tia Neiva seria tanto uma médium doutrinadora quanto uma médium do tipo apará. Por isso era
chamada de médium universal, a única que existia no Vale, segundo os fiéis. No entanto, cabe frisar que, quando trabalhava em conjunto com Mário Sassi, ela agia apenas como médium apará. Nessa direção, é interessante perceber na comunidade a correspondência entre divisão de papéis sociais e a diferenciação sexual dos adeptos. Embora isso não seja uma regra, verificou-se que a maioria das mulheres atua como apará, enquanto aos homens cabe o papel de doutrinador. Embora rejeitada pelos fiéis, tal constatação também foi mencionada por Galinkim (1977).
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 9315939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 93 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante94
se encontram, assim como o fazem também os espíritas de origem kardecis-ta6. No que se refere à comunidade de Tia Neiva, tal situação se explicita ain-da mais no fato de que quem chega ao local na condição de consulente recebe dos adeptos o tratamento de “paciente”, enquanto o Vale do Amanhecer é identifi cado por todos os fi éis como um “pronto-socorro espiritual”, um local onde as mais capacitadas entidades de cura costumam atuar, como também é o caso dos espíritos da falange alemã, ou médicos do espaço7.
Aldoph Fritz, também conhecido como doutor Fritz, talvez seja um dos mais conhecidos entre os espíritos da medicina alemã que os adep-tos do Vale dizem receber. Sua fama como entidade de cura há muito se es-palhou no território brasileiro, pelo fato de seus médiuns de incorporação executarem procedimentos cirúrgicos no mínimo intrigantes. Personagem bastante respeitado do panteão do espiritismo kardecista, o doutor Fritz teria dado fama a várias pessoas ao longo da história – pessoas que, em alguns casos, após realizarem algumas dessas operações, sofreram proces-sos por danos físicos aos pacientes e por exercício ilegal da medicina8. Na comunidade de Tia Neiva, no entanto, doutor Fritz não faz cirurgias nos corpos dos pacientes. Sua atuação dá-se apenas por meio da imposição de mãos ou “passe magnético”.
A história do médico doutor Fritz remonta à Alemanha do século XX, no período entre-guerras. Consequentemente, está associada a algu-mas imagens desses profi ssionais, a maior parte, como afi rma Greenfi eld (1999), divulgadas pelos meios de comunicação da época, de modo geral estereotipados e, inclusive, contraditórios9. Lembre-se de que era comum se ouvir naqueles tempos, inclusive no Brasil, informações sobre a superio-ridade dos alemães em inteligência e disciplina; sua suposta descendência de uma raça pura; a superioridade de sua medicina, bem como, e talvez 6 De fato, a conotação terapêutica é bastante comum no espiritismo brasileiro. No entanto, segundo
Sidney M. Greenfield, o procedimento de cura não estava na religião criada por Allan Kardec. Ele teria sido introduzido no Brasil por um médico de nome Adolfo Bezerra de Menezes. Nas palavras do autor, “Kardec tinha feito da caridade o principal valor e a força propulsora do espiritismo. Bezerra acrescentou a cura pelos espíritos como um serviço de assistência social e econômica aos pobres, mostrando a direção que a caridade espírita no Brasil iria tomar”. (1999, p. 175).
7 No espiritismo não há a incorporação de caboclos e de pretos-velhos como espíritos de luz. Para essa doutrina, tais entidades apresentam pouca evolução espiritual. Essa é uma diferença bastante explícita do Vale com relação ao kardecismo.
8 Para saber mais sobre esse tipo de procedimento cirúrgico ou sobre tais médicos, consultar Greenfield (1999).
9 Considere-se que houve uma época em que o governo brasileiro simpatizava com a Alemanha nazista, mais especificamente nos primeiros governos de Getúlio Vargas, em tempos de Estado Novo. Depois, a rejeição do governo aos propósitos de Hitler foi bastante forte. As duas posturas foram bastante disseminadas pelos meios de comunicação, ajudando a conformar a opinião pública nacional.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 9415939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 94 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Capítulo 3 O Vale, a noção de ciência e as naves espaciais 95
mais raramente, o extermínio de defi cientes físicos e mentais, homossexu-ais e judeus por funcionários do governo e médicos nazistas10.
No caso do Vale do Amanhecer, tal contradição é bastante conve-niente aos seus interesses de legitimação frente aos adeptos. De fato, ter um espírito médico e alemão em sua seara de demiurgos implica, em primeiro lugar, o reconhecimento de algum poder por parte daqueles médiuns que os incorporam. Em segundo lugar, uma espécie de distinção dos quadros espirituais da religião perante os seus fi éis de origem mestiça, uma vez que os alemães pertencem à raça branca, justamente àquela que foi associada ao maior grau de pureza e ascensão social. Em terceiro lugar, porque a ideia de que esses médicos contraíram uma dívida moral com a humanidade justifi ca a sua ajuda nos trabalhos ritualísticos do credo em questão.
Existem alguns nomes e sobrenomes estrangeiros associados às entidades de cura do Vale do Amanhecer. Entre eles, estão a doutora Lin-denberg e o doutor Ralph, não se sabendo se trazidos à comunidade por Tia Neiva e seus conhecimentos do espiritismo kardecista ou pelo pró-prio pintor Vilela11. Não apenas eles, mas também o doutor Fritz tem as suas imagens bastante diferentes do que poderiam imaginar os espíritas sobre o aspecto físico de tal espírito, em sua vida na Alemanha, no perío-do do entre-guerras12 (Fig. 1). O Vale apresenta então uma nova concepção
10 Muitas foram as maneiras de o nazismo disseminar suas ideias, por meio da propaganda política. Entre elas, a realização de pequenos filmes nos quais se comparava os judeus a insetos e a ratos, para depois se falar em um gás exterminador desses animais. Outra estratégia foi a realização de palestras por um médico, durante as quais ele comparava a arte moderna, ou “arte degenerada”, à perversão judaica. Os rostos e os corpos deformados dos quadros daquele tipo de arte eram vistos como uma apologia à degenerescência da raça humana, daí a necessidade de também se exterminar os doentes físicos e mentais. Estes, segundo o argumento nazista, multiplicavam-se em progressão geométrica, amea-çando a saúde, a beleza e a superioridade que traria o povo alemão. Para se saber mais sobre como essas informações eram passadas ao grande público, assistir ao filme documentário Arquitetura da destruição (Undergångens arkitektur/ Architecture of Doom), de 1989, dirigido por Peter Cohen. Outras estratégias de propaganda política, utilizadas como meio de enfatizar a superioridade dos alemães e de evidenciar o desprezo dos nazistas pelos homossexuais, são analisadas em Serge Tchakhotine (1967) e Paula Diehl (1996).
11 Não se costuma representar as entidades na religião kardecista.
12 Pelo que se pôde perceber, o pintor Vilela tanto pinta os retratos de espíritos mencionados por Tia Neiva e Mário Sassi em seus escritos e falas quanto cria ele mesmo mais alguns e os representa. Esse tipo de prática faz do médium e artista uma personalidade fundamental à sobrevivência da doutrina. Ele não é apenas aquele que atribui forma, contorno e cores às visões de Tia Neiva, uma vez que seria o único adepto autorizado a representar as entidades, como afirmou Salgueiro (2003). Na verdade, Vilela age como uma espécie de agente retroalimentador da doutrina do Vale. Ele está sempre criando personagens, sempre trazendo à comunidade o conhecimento de novas personalidades míticas, bem como a possibilidade de os adeptos associarem-nas às suas histórias pessoais. E, por fim, de eles pode-rem vivenciar uma não finitude e uma não estagnação de seus conhecimentos relativos ao imaginário que permeia a doutrina. Vilela e os compradores de suas pinturas estão sempre reinventando o Vale do Amanhecer.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 9515939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 95 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante96
daquelas entidades, construindo-as, portanto, a partir da ressignifi cação das informações que chegaram à comunidade de Tia Neiva.
Um bom exemplo disso seria a representação pictórica do dou-tor Fritz no Vale do Amanhecer. Moreno, com olhos claros e cabelos cas-tanhos, ele não é exatamente um exemplar do homem branco. Está mais próximo do mulato ou do caboclo; mais próximo em aparência também daqueles que frequentam o Vale do Amanhecer. De cabelo bem pentea-do, semblante fi rme, porém sereno, veste-se com uma bata branca, como indicativo de sua profi ssão. Mas há um detalhe inovador em sua indu-mentária, um detalhe que, mais do que a cor de sua pele, denuncia o seu pertencimento à doutrina de Tia Neiva. Trata-se de uma elipse sobre o seu peito, segura por um fi no cordão amarrado no pescoço. A elipse, para os adeptos da doutrina, indica “a evolução do cristianismo primitivo para o cristianismo científi co”, como esclareceu em entrevista o adepto Álvares (dez. 1995).
Perceba-se aqui como a expressão da noção de cientifi cidade não se encontra restrita a um único código, no caso, o verbal escrito, para os livros editados pela doutrina. Aplica-se também à iconografi a e, portanto, ao código visual, de modo que os dois se encontram intima-
Fig. 1 - Doutor Fritz/ Fonte: pintura de Vilela
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 9615939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 96 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Capítulo 3 O Vale, a noção de ciência e as naves espaciais 97
mente imbricados. Aliás, no que se refere não apenas à questão dos livros e das pinturas do Vale, mas também aos espaços sagrados, aos cantos, às orações e aos rituais, essa separação de códigos parece tarefa às vezes meramente didática, para não se falar em artifi cial – embora em alguns momentos necessária para a exposição do presente trabalho. Na verdade, praticamente todos eles estariam intimamente envolvidos, em qualquer um desses textos da cultura.
Voltando-se para a pintura que Vilela fez do doutor Fritz, tem--se o seguinte: como gestualidade, ela se expressa pelo código cinético. Mas há também a imagem, a fi gura propriamente dita e, portanto, o códi-go visual envolvido. Como são assinadas, pode-se falar do código verbal escrito. E como provavelmente elas foram desenvolvidas em diálogo com as leituras que o pintor fez dos livros kardecistas, dos livros editados pelo Vale do Amanhecer e das conversas que ele teve com Tia Neiva, entre outros, explicita-se assim a relação entre o código verbal oral, o verbal escrito, o visual e o sonoro.
Daí o fato de todos esses itens – livros, espaços sagrados, cantos, orações, rituais e iconografi a – também poderem ser aqui considerados como textos da cultura, conforme o pensamento de Iuri Lotman (1996). Textos complexos dentro de um texto maior: o próprio Vale do Ama-nhecer. Afi nal, não são todos eles sistemas sígnicos multivocais? Não são todos eles espaços de relação por excelência, dada a variedade de códigos – no mínimo dois13 – de que se constituem? Sendo textos, não vivem eles de transformar (“culturalizar”) as mensagens recebidas de seu exterior (a não cultura) e de criar novas mensagens (ressignifi cações), por um acon-tecimento não gradual e não linear que o autor (Lotman, 1999) chama de “explosão cultural” ou “explosão de sentido”?
Aliás, foi desse acontecimento que nasceu a possibilidade de o espiritismo de Allan Kardec ter se constituído historicamente, ainda na França, em íntima relação com as ciências naturais propriamente ditas e
13 Na definição de Lotman (1996, p. 78, 82), a semiótica da cultura constitui-se como “uma disciplina que examina a interação de sistemas semióticos diversamente estruturados, a não uniformidade interna do espaço semiótico, a necessidade do poliglotismo cultural e semiótico”. Daí a afirmativa de que ela “introduz uma nova concepção de ‘texto’ no campo do conhecimento científico”. Nesse sentido, se para as ideias semióticas tradicionais o texto era visto como enunciado marcado por “sua natureza unitária de sinal, ou a unidade indivisível de suas funções em certo conceito estrutural”, para a semiótica da cultura, esse conceito pressupõe que haja, no mínimo, dois tipos de codificação, dois tipos de sistemas semióticos em diálogo – como os presentes, por exemplo, no canto (a palavra e a música) e na dança (o gesto e a música) –, já que o texto é um espaço de relação por excelência.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 9715939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 97 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante98
de incorporá-las sob uma nova forma, uma outra feição14. Chegando ao Brasil, esse espiritismo manteve as bases cientifi cistas e estabeleceu novas relações, tornando-se um outro. Trouxe em sua tessitura, por exemplo, a novidade semiósica da cura por espíritos. O Vale do Amanhecer, por sua vez, ao entrar em contato com o espiritismo brasileiro, também assimi-lou alguns de seus valores racionalistas, cientifi cizantes e terapêuticos. No entanto, fê-lo de modo diferenciado em relação ao texto de origem mais imediata, graças à sua condição dialógica e a uma diversidade de traduções semióticas realizadas no espaço entre fronteiras, como as aqui expostas.
Mas veja-se um outro exemplo de tradução entre sistemas, ope-rada nos domínios do grande texto Vale do Amanhecer – a transformação que sofreu uma determinada narrativa mítica do espiritismo de fi liação kardecista, referente a um povo de um planeta chamado Capela, depois de travar contato com o Vale do Amanhecer. Da interação entre esses dois sistemas religiosos, ou seja, a narrativa e o Vale, é que se formou um terceiro, o mito de fundação da doutrina de Tia Neiva – por sua vez incluso no grande texto Vale do Amanhecer como um subsistema seu. Esse mito fala de alguns povos heróicos, tidos pelos fi éis como grandes cientistas e também usuários de naves espaciais, como será visto a seguir.
3.2. Os primeiros cientistas do planeta, seus grandes feitos e suas naves de transporte espacial
Em termos de reencarnações, os equitumans e os tumuchys15 teriam sido os primeiros antepassados dos adeptos do Vale do Amanhecer, aqueles que, segundo os fi éis, estavam mais próximos de terem a composição cor-pórea dos habitantes de Capela. Na verdade, para a mitologia do Vale, os equitumans seriam os próprios capelinos, após terem passado por mu-tações em suas constituições físicas para melhor se adaptar ao planeta Terra. Os tumuchys, por sua vez, seriam a reencarnação mais imediata dos equitumans.
14 Para se saber mais sobre o modo como se deu a vinculação do espiritismo kardecista com pressupostos científicos, consultar Greenfield (1999) e Araia (1996).
15 Na verdade, o mito de criação do Vale do Amanhecer é composto de seis narrativas. Refere-se, portanto, a outras quatro vidas dos adeptos e/ ou personagens importantes da doutrina, a serem estudadas no decorrer dos próximos capítulos. São elas: a encarnação dos fiéis como “jaguares”, a encarnação de Pai Seta Branca como São Francisco de Assis, a encarnação da mesma entidade como um cacique e, por último, a encarnação atual, vinculada ao Vale do Amanhecer. Sobre a análise dessas narrativas sob o ponto de vista do herói mítico, consultar o livro Xamanismo no Vale do Amanhecer: o caso Tia Neiva. (Cavalcante, 2000).
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 9815939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 98 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Capítulo 3 O Vale, a noção de ciência e as naves espaciais 99
Na comunidade de Tia Neiva, quem primeiro registrou em livros essas estórias míticas foi o adepto Mário Sassi (s/d), seguido de Bálsamo Álvares (1991b). Do cotejo dos dois registros, retirou-se a seguinte versão:
Os equitumans
Há cerca de 32 mil anos, chegou à Terra um grupo de missionários espi-rituais chamados de equitumans. Eram homens e mulheres medindo de três a quatro metros de altura, originários de um planeta distante chamado “Planeta Mãe”, “Planeta Monstro” ou “Capela”. Desembarcando em gran-des números de naves espaciais, mais conhecidas pelos nomes de “estu-fas”, “amacês” e “chalanas”16, eles teriam sido distribuídos em sete pontos do planeta, com apenas cinco deles claramente especifi cados nos livros do Vale: Peru, Iraque, Alasca, Mongólia e Egito. O objetivo dos equitumans se-ria o de “civilizar” o planeta Terra, de torná-lo um ambiente mais propício ao desenvolvimento físico, psíquico e espiritual da humanidade.
Adaptados à atmosfera terrena por processos de mutação – que de “capelinos” os transformaram em “equitumans” –, seus corpos diferi-riam dos nossos e sua fi siologia os tornava quase imortais. Não conhece-riam a velhice e teriam uma forma própria de reprodução que prescindia do ato sexual. Também seriam grandes cientistas. De acordo com os fi éis, manipulavam vários tipos de energia e falavam uma mesma língua, che-gando muitas vezes a usar da telepatia para a comunicação. Teriam ainda formulado um tipo de fi losofi a baseada em uma hierarquia planetária, cujo centro era o Sol.
Essa condição, no entanto, foi se modifi cando com o tempo, de-vido ao contato com as condições terrenas da época e também por uma espécie de castigo. De tão fortes e destemidos que eram, contam os adep-tos, os equitumans se entregaram à sede de volúpia e poder. Resolveram então desafi ar algumas entidades dos planos espirituais, sendo por elas castigadas ao fi nal da luta. Como punição, eles teriam sido submetidos ao processo de reprodução humana, com o consequente enfraquecimento de seus poderes. Dessa forma, seus descendentes passariam a ter uma constituição semelhante à dos mortais.
Após dois mil anos, os equitumans teriam desaparecido du-rante um cataclisma que atingiu toda a Terra. Esse fenômeno foi pro-
16 Os adeptos chamam de estufas as naves maiores, que guardam em seu interior as naves de menor tamanho, como as amacês e as chalanas. Pelo que se pôde perceber, não há uma distinção entre as duas últimas, funcionando as referidas denominações como sinônimas.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 9915939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 99 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante100
vocado pela aproximação de uma nave espacial, cujo piloto se chamava Pai Seta Branca. A nave sobrevoara todo o planeta, provocando, entre outras coisas, o sepultamento do núcleo central da civilização equitu-man. Esse acontecimento teria se dado na área do atual lago Titicaca, situado entre o Peru e a Bolívia. Na linguagem do Vale do Amanhecer, adverte Álvares (1991), essa nave fi cou conhecida como Estrela Can-dente, enquanto o fenômeno da formação do referido lago passou a ser mencionado como resultante de “uma lágrima da estrela candente”.
Os tumuchys
Alguns dos espíritos equitumans remanescentes foram supostamente recolhidos em Capela, voltando à Terra cinco mil anos depois, em uma nova encarnação. Organizados por Pai Seta Branca em sete tri-bos, eles teriam se instalado nos antigos pontos de povoamento para a retomada do processo de civilização do planeta. Cada uma dessas tribos compunha-se de mil integrantes, sob a liderança dos chamados orixás. Consta que esses tinham a seu serviço outros sete orixás e as-sim sucessivamente. Dos grupos integrados pelos orixás, formaram-se novos clãs de missionários, mais conhecidos pelo nome de tumuchys.
Os tumuchys possuiriam uma constituição muito diferente da dos terráqueos. Não se reproduziam e suas vidas estavam previstas para durar, no máximo, 200 anos, conforme os seguidores de Tia Nei-va. Eram grandes cientistas e hábeis artesãos, avessos à guerra e à luta física. No dizer de Bálsamo Álvares, eles “conheciam a intimidade do átomo e sua relação com o Cosmo. Conheciam também o mecanismo das relações energéticas entre os corpos celestes e a Terra, principal-mente a conjunção de forças entre o triângulo Sol-Terra-Lua” (1991, p. 8-9). Com seus instrumentos sofisticados, teriam construído ain-da grandes usinas de “integração e desintegração” energéticas, para a “manipulação científica das energias planetárias em escala sideral”. Além disso, poderiam se movimentar sobre a superfície terrena em suas próprias naves espaciais, orientados por mapas e maquetes do globo terrestre.
A sede da civilização tumuchy foi comandada por Pai Seta Branca, estando localizada numa região atualmente coberta pelo Ocea-no Pacífi co. De toda essa imensa área tumuchy, dizem os fi éis, apenas a Ilha de Páscoa não está atualmente encoberta pelo mar. Seguindo tal ver-são, são ainda vestígios da civilização tumuchy: as ruínas encontradas no
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 10015939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 100 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Capítulo 3 O Vale, a noção de ciência e as naves espaciais 101
Peru, como as de Machu Picchu, as pirâmides e templos no Egito, assim como as ruínas dos povos antigos do México, entre outros.
Os capelinos e sua tradução no Vale do Amanhecer
Interessa agora verifi car a tradução que o Vale fez da narrativa mítica sobre a vinda dos capelinos ao planeta Terra. É provável que o conhe-cimento sobre tal estória, por parte da clarividente, tenha sido adquiri-do simplesmente por meio de suas conversas com Mãe Neném ou até, quem sabe, de sua convivência com amigos e/ ou adeptos que professa-vam a religião espírita, antes de se converterem ao Vale. Mas há outra hipótese, que deve ter se dado em conjunção com as demais: a leitura de livros do espiritismo kardecista, como os best-sellers Os exilados de Capela17, de Edgar Armond, e A caminho da luz: história da civilização, supostamente psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito Emmanuel.
Neles há a estória de um grupo de entidades degredadas que teriam sido expulsas de Capela, um planeta bastante evoluído em termos espirituais, e vindo à Terra para expiação de suas dívidas. Com o passar dos tempos e de suas encarnações terrenas, esses espíritos foram evoluin-do, chegando a constituir grandes civilizações. Entre elas a dos árias, de onde teriam se originado o que os espíritas de origem kardecista conven-cionaram chamar de “raça branca” (latinos, celtas, gregos, germanos e eslavos), a dos egípcios, a dos hindus e a do povo de Israel. As raças negra e amarela, para aqueles que professam tal fé, já existiriam no planeta, e em condições bastante primitivas, que teriam sido pretensamente benefi -ciadas ao interagir com os supostos descendentes dos capelinos.
Guarde-se para uma outra ocasião a análise de toda a carga evolu-cionista e etnocêntrica atrelada ao espiritismo e, em certa medida, também ao Vale do Amanhecer, embora este último a tenha em grau bem menor, com caráter modifi cado. O importante agora é se enfatizar algumas das explosões culturais ocorridas na doutrina de Tia Neiva em seu processo de formação textual, com criações sistêmicas propiciadas pelo diálogo entre aquela comunidade e o espiritismo kardecista, professado por Mãe Neném e os outros possíveis interlocutores de Tia Neiva.
Uma importante ressignifi cação – aqui se poderia falar de mui-tas outras – deu-se com a própria criação das fi guras dos equitumans e
17 Reis (2008) diz ter encontrado na biblioteca de Sassi o livro Os exilados de Capela, que circulava copiosamente nas livrarias brasileiras, já nos anos 1950.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 10115939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 101 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante102
dos tumuchys. Esses personagens não se encontram presentes nos escri-tos espíritas fi liados ao kardecismo, mas, na doutrina de Tia Neiva, são grandes cientistas e também descendem dos capelinos. Uma outra se re-fere à associação desses mesmos seres com a imagem de extraterrestres e suas naves espaciais, como se pôde verifi car há pouco – certamente, uma ressignifi cação nascida a partir de uma relação não linear e dialógica, indicando a interação do Vale do Amanhecer não apenas com o espiri-tismo kardecista, mas também com outros textos da cultura, tais como a religiosidade da Nova Era, a cidade de Brasília e a fi cção científi ca.
Equituman, tumuchys, extraterrestres: tudo isso se relaciona no Vale à ideia do milenarismo, presente em movimentos religiosos desen-volvidos não apenas no século XX, mas ao longo de toda a história. Esses movimentos também dialogam com a doutrina de Tia Neiva por se ba-searem na crença de que a passagem de milênios encerraria uma época dolorosa e cederia lugar a um tempo em que reinariam a felicidade e a justiça, assim como devia ser nos primórdios. Esse tempo, sendo mítico, anula o presente em função de um futuro e de um passado idealizados – assim como se dá entre os seguidores de Tia Neiva, que falam da virada do segundo para o terceiro milênio como a possibilidade de voltarem felizes e purifi cados à Capela, o suposto planeta de origem e destino da humanidade.
Entre os adeptos do Vale, a passagem entre os milênios foi professada pelo ex-marido de Tia Neiva de uma forma um tanto quanto alardeadora e com um viés nitidamente escatológico. Sassi mencionou a próxima chegada dos capelinos e de suas naves espaciais ao planeta Terra como estando diretamente associada à chegada do terceiro milênio e à ocorrência de muitos cataclismas no planeta. São suas as seguintes palavras:
Eles agora virão, como já vieram no passado, fi sicamente. Virão para nos ajudar na difícil e catastrófi ca passagem deste Milênio para o próximo [...]. Seus aparelhos irão causar assombro e boa porção da humanidade vai-se apavorar, mas isso faz parte de sua didática [...]. Basta imaginar, por exemplo, um imenso apa-relho metálico sulcando os céus em velocidade fantástica, com resultados danosos para as aerovias, as comunicações e o equi-líbrio da atmosfera, para termos uma ideia do que pode aconte-cer [...]. (s/d, p. 32-33).
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 10215939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 102 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Capítulo 3 O Vale, a noção de ciência e as naves espaciais 103
Poderia se dizer que as previsões de Sassi não se concretizaram, uma vez que, para o calendário do mundo ocidental, a referida passagem ocorreu recentemente e nada do que ele pregou pôde ser verifi cado. Po-deria se perguntar então por que aquela comunidade continua ativa, uma vez que seus integrantes não teriam mais motivos para confi ar na veraci-dade de seus preceitos. Mas como proceder assim, se o percebido é que a comunidade de Tia Neiva, dada a sua natureza sistêmica e dialógica, está constantemente ressignifi cando os seus discursos? E mais: como cobrar a descrença dos adeptos na doutrina do Vale, se aquela comunidade vive também em um tempo mítico, que não segue a cronologia ordinária?
É bem verdade que o fato de o tempo religioso ser o tempo mí-tico não garantiu a sobrevivência de outros grupos religiosos, inclusive os situados nas proximidades do Vale do Amanhecer18. Diante disso, qual seria então a principal diferença entre essas outras comunidades e aquela criada por Tia Neiva? O que enfi m garante a permanência da segunda, diante do fato de que a transição entre os milênios ainda está em curso para os seguidores da clarividente? E de que, ao que tudo indica, assim continuará durante boa parte dos anos do 2000, ou enquanto existir a doutrina e seus fi éis, sem data prevista para fi ndar?
Os motivos, obviamente, podem ser vários. No entanto, acredi-ta-se que o vigor da doutrina do Vale do Amanhecer reside sobretudo na sua semiodiversidade ou heterogeneidade semiósica, na sua confi gura-ção como uma rede de signos relacionados e na sua complexidade sistê-mica; no equilíbrio entre as medidas de organização e a entropia em suas confi gurações sistêmicas; na sua propriedade de autopoiesis ou capacida-de reinventar a si próprio, sempre que necessário; no seu contínuo vir a ser, por sua vez possibilitado pela habilidade de o Vale travar diálogos concomitantes em diversos níveis e graus, com textos/ sistemas culturais os mais diferenciados – textos/ sistemas, aliás, em geral já bastante con-solidados em termos de relevância histórico-cultural no imaginário de grande parte da população brasileira.
Desses diálogos, acredita-se que os mais fundamentais à tessitu-ra do texto do Vale foram neste trabalho ao menos mencionados. Tal é o caso do espiritismo kardecista, sobre o qual se buscou fazer uma análise no
18 Verificou-se que, das comunidades “neoerísticas” localizadas na cidade de Alto Paraíso, na região da Chapada dos Veadeiros, muitas foram desfeitas diante do fracasso de suas previsões para passagem do milênio. A cidade está hoje praticamente vazia. Funcionam apenas umas poucas lojas esotéricas e algumas pousadas, muito mais voltadas para a exploração da beleza natural do lugar do que propriamente de um turismo ecológico aliado ao turismo místico.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 10315939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 103 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante104
presente capítulo, que levou à conclusão de que os elementos vindos do es-piritismo kardecista, chegando ao Vale, deixaram de ser os “mesmos” para se tornarem “outros”, após cruzar a fronteira para os lados dos domínios de Tia Neiva. Acredita-se, no entanto, que, levando-se em consideração apenas a relação do Vale com o referido espiritismo, percebido em seus as-pectos pretensamente científi cos e racionalizantes, tal transformação seria de certo modo inexpressiva, até mesmo pouco interessante, se a riqueza dialógica que o Vale do Amanhecer encerra não o tivesse posto em contato com vários outros sistemas, promovendo novos arranjos de informação.
Além da umbanda19 – que, conforme adverte Maria Helena Vi-las Boas Concone, é colocada por alguns de seus seguidores “como a for-ma mais abrangente de espiritismo”, reinvindicando para si “a colocação que os kardecistas fazem de sua própria crença, isto é: como um conjunto de religião, ciência e fi losofi a” (1987, p. 136) – pode-se falar ainda da fi cção científi ca e da cidade de Brasília, mesmo que indiretamente e em função do primeiro, como será visto a seguir.
3.3. A ficção científica e a cidade de BrasíliaTrazida tanto do espiritismo kardecista quanto da umbanda ao Vale do Amanhecer, a noção de ciência e toda a carga de racionalismo a ela asso-ciada acaba por se constituir como um solo fértil à doutrina visionária de Tia Neiva, de onde se vê germinar um rico imaginário, repleto de men-ções a seres de outros planetas, a explorações e batalhas intergalácticas, a mutações genéticas, a uma tecnologia e ciência avançadas, bem como a guerreiros e naves espaciais. Esses elementos normalmente são atribu-ídos às narrativas de fi cção científi ca, estejam elas em livros, revistas em quadrinhos, cinema ou televisão, e que serão assimilados pelo Vale do Amanhecer sobretudo a partir do diálogo que ele estabelece entre os ti-pos de credos religiosos aqui colocados e o gênero narrativo em questão e com a cidade modernista de Brasília.
Afi nal, não é mesmo dessa conjunção entre o mito – um dos pilares do pensamento religioso – e a literatura fantástica que se afi rma em defi nitivo a base discursiva de toda a fi cção científi ca? Não é em geral de um tempo em que passado, presente e futuro se misturam; de seres mutantes; de personagens heroicos e seus grandes feitos; de aconteci-19 Sendo a vontade cientificizante e racionalista da umbanda um princípio diretamente trazido do
espiritismo kardecista – religião que acaba de ser explorada no que diz respeito ao referido assunto –, optou-se por não se deter mais detalhadamente no diálogo entre umbanda e ciência, pois, para fins deste trabalho, acredita-se serem desnecessárias tais diferenciações.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 10415939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 104 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Capítulo 3 O Vale, a noção de ciência e as naves espaciais 105
mentos improváveis e de cidades do futuro que ela costuma falar? Tudo isso sustentado por um pensamento cientifi cista, pretensamente racional, embora permeado por uma fantasia tecnológica mais do que explícita, em que o verossímil é o que importa?
Diante disso, pode-se falar de muitos aspectos comuns entre a textualidade do Vale do Amanhecer e o gênero fi cção científi ca. Tanto que Sassi, ao buscar explicações para alguns dos ensinamentos religiosos de sua doutrina, cita esse tipo de fi cção narrativa como a fonte mais capacitada de responder aos seus questionamentos e legitimar as suas respostas. Frustra-do com o fato de que “três cientistas de renome mundial”, em uma determi-nada matéria do jornal O Estado de S. Paulo, não confi rmarem suas hipóteses a respeito da possibilidade de “comunicação com outros mundos”, ele afi r-mou: “Nesse sentido a fi cção científi ca é mais coerente que as concepções puramente científi cas que, aliás, são poucas” (s/d, p. 75-76).
Como visto, a frustração de Sassi o levou a se apoiar sem grandes restrições nas criações fantasiosas de um gênero narrativo nascido no sécu-lo XIX, mas bastante rendoso para a cultura de massa já no início do século XX20. Um gênero que tem forte apelo mítico e, sobretudo, é caracteriza-do pelo uso dos recursos da vulgarização da ciência e da verossimilhança, conforme a afi rmativa de Muniz Sodré (1973). Nesse tipo de fi cção, segun-do o autor, há uma identifi cação do verdadeiro com o verossímil; graças a tal condição é que se dá a vulgarização do discurso científi co, seguida de sua apropriação pelo grande público. São palavras de Sodré:
Na vulgarização, a ideologia torna verossímil tudo o que é dito, transplantando signifi cantes do discurso científi co (exemplos: mutação genética, anabiose criobiológica, átomo, relatividade, etc). No texto vulgarizador, tais signifi cantes deixam de ter um sentido preciso, já que se acham ali apenas para “cientifi cizá-lo”. Tornam-se, na expressão de Baudoin Jurdant, “fermentos de co-notações livres”, abrindo um caminho sem limites para o imagi-nário. (1973, p. 37).
Não interessa aqui se a apropriação realizada por Sassi ocorreu por ele realmente acreditar no que costuma abordar esse tipo de gênero 20 De acordo com Muniz Sodré (1973), o gênero ficção científica nasceu no século XIX em países da
Europa, com a consolidação de um ideário tecno-científico, promovido pela Revolução Industrial. No entanto, segundo o autor, ela desabrochou somente em 1926, como um gênero literário eminentemente norte-americano, por ocasião da publicação da revista Amazing Stories.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 10515939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 105 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante106
narrativo ou se assim procedeu unicamente com o intuito de tomar de em-préstimo da fi cção científi ca para o seu arrebanhar de fi éis uma estratégia discursiva e imagética mais do que consolidada. Contudo, sendo ele um homem nitidamente religioso e provavelmente afi nado com todo o espíri-to de contracultura e de Nova Era que circulava no país no tempo de sua conversão ao Vale – os então anos 1960 e 1970 –, tende-se a pensar que um meio caminho entre essas duas hipóteses talvez seja o mais sensato.
Naquela época, como já explicitado em outro capítulo, existiam grupos religiosos que acreditavam estabelecer contatos com extraterres-tres. Era também a época da descida do homem à Lua e, por conseguinte, um momento bastante propício à propagação da ufologia e de tudo o que dissesse respeito à vida fora da Terra. O cinema e a televisão já ha-viam se consolidado no gosto de grande parte dos brasileiros e, no caso específi co da televisão, assistia-se a algumas séries de fi cção científi ca – trazidas com algum atraso, é verdade, mas nenhum tempo que as fi zesse se distanciar de toda aquela atmosfera de esoterismo e entusiasmo pelo desconhecido que inundava o Brasil.
Como também já mencionado, alguns livros best-sellers, como Eram os deuses astronautas?, de Erich von Daniken, publicado original-mente na Alemanha em 1968 e lido posteriormente também por brasi-leiros, realizavam muito bem o apelo à junção entre civilizações antigas, ciência, divindades, extraterrestres e naves espaciais. Para o ufólogo e jornalista suíço, toda a mitologia, a arte, a tecnologia e a ciência das civi-lizações antigas foram ensinadas aos homens por divindades alienígenas: os deuses das antigas civilizações que chegaram à Terra em suas naves es-paciais. Outras publicações, muitas delas ligadas às agências de turismo, divulgavam excursões às ruínas dessas civilizações, como as dos incas, maias e astecas – isso sem falar de toda a carga mística e mítica que já envolvia a cidade de Brasília, mesmo no início de sua construção, como demonstrado anteriormente.
Foi nesse contexto que fl oresceu a comunidade de Tia Neiva. Diante de tal fato é possível relacionar todas essas informações “neoe-rísticas” de civilizações antigas, de seres extraterrestres e seus discos vo-adores, vinculadas à indústria cultural, com a aspiração científi ca de um texto da cultura como é o do Vale do Amanhecer, que, decerto, muito se apropriou do ideal cientifi cizante do espiritismo kardecista, da umbanda e, ao que tudo indica, também da fi cção científi ca. Seriam considerações desse tipo a se fazer se for analisada a condição antropofágica não apenas
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 10615939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 106 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Capítulo 3 O Vale, a noção de ciência e as naves espaciais 107
do Vale do Amanhecer, mas, conforme a visão da semiótica de extração russa, de todo e qualquer texto/ sistema da cultura.
O fato é que, para o Vale do Amanhecer, a fi cção científi ca é um texto inteiramente passível de tradução. Afi nal, na época de constituição da doutrina de Tia Neiva, ela também se encontrava vinculada ao imagi-nário da contracultura e da Nova Era. Portanto, nesse caso pode-se dizer que o Vale realiza uma tradutibilidade em um “período de desenvolvi-mento intensivo”, conforme assinalaram V.V. Ivanov, I.M.Lotman, A.M. Piatigórski, V.N.Topórov e B.A.Uspiênski (2003). Entenda-se a expressão “período de desenvolvimento intensivo” como referente a um tempo em que se verifi ca a tendência de o texto absorver de sua esfera externa as informações mais próximas à sua fronteira, para as quais dispõe mais facilmente dos meios de decifração – uma absorção de algo que lhe é similar, do que lhe convém mais direta e imediatamente21.
Um outro aspecto a ser considerado, e talvez aqui o mais impor-tante, é a verifi cação do discurso mítico e fantasioso, de léxico técnico--científi co, que têm tanto a fi cção científi ca como a doutrina criada por Tia Neiva. Sendo essencialmente mítico, e por esse motivo interessando bastante aos propósitos doutrinários do Vale, esse discurso acaba por se revelar na fi cção científi ca, conforme Sodré indicou, não como uma nar-rativa necessariamente enganosa, mas como “a armadura de um mundo imaginário, comum a todos os súditos da formação social capitalista con-temporânea onde se divisa uma verdade cosmogônica” (1973, p. 116).
Com relação ao Vale do Amanhecer, pode-se dizer que é nes-sa mesma estrutura social capitalista contemporânea (a de também uma forte cultura de massa) que vivem os integrantes daquela comunidade. Essa constatação leva a se pensar na necessidade de adesão daquelas pes-soas também aos mitos modernos, estando eles vinculados ou não à sua religião. No caso, esses mitos são hibridizados com os mais antigos, de que lhes falam de modo atualizado do nascimento e das regras de funcio-namento de seu universo.
Seguindo essa linha de raciocínio, repare-se no que há de co-mum entre os dois textos culturais em questão: a fi cção científi ca e o Vale do Amanhecer. São esses pontos de proximidade entre as zonas fronteiri-ças de ambos que revelam a tradução ou a apropriação de um pelo outro.
21 Não a tradução de algo ainda muito distante, para o qual ainda não dispõe de ferramentas bilíngues. A essa segunda situação, decorrida em um determinado espaço de tempo, cabe o nome de “período de desenvolvimento extensivo”.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 10715939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 107 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante108
Muito próximos às narrativas do Vale do Amanhecer são deter-minados aspectos do modelo narrativo de Júlio Verne, adotado pelo estilo Space Opera, predominante na fi cção científi ca dos anos 1920 aos 1940, mas que de algum modo sobreviveu em alguns fi lmes posteriores, até mesmo como uma celebração nostálgica de tal estilo22. Sodré (1973) fala da ênfase nas narrativas de aventuras com intriga de ação rápida, com cenários exó-ticos como pano de fundo, além das guerras intergalácticas, das viagens espaciais e dos mistérios extraterrestres – muito próximos, vale dizer, das antigas estórias de piratas, cavaleiros medievais, caubóis e detetives.
Exemplifi cando essa afi rmação, no que se refere ao Vale do Amanhecer, tome-se a fi gura dos “bandidos do espaço”, presente em suas narrativas míticas. Certa vez, Tia Neiva escreveu sobre uma conversa sua com um espírito de nome Amanto. Os dois estariam em meio a uma visita ao “vale negro dos incompreendidos” – situado em um dos planos espirituais por ela explorados em suas viagens espaciais. A escrita da cla-rividente se mostra bastante “retalhada”, com partes desconexas e sem continuidade aparente. Mas há um curto trecho em que ela se refere a uma fala do espírito sobre os “bandidos do espaço” sem, no entanto, dar mais detalhes sobre tais entidades. Seriam palavras de Amanto, “Veja, ali é uma enorme cerca magnética, ‘eles’ podem chegar até ali perto, porém não ultrapassam esta cerca, os bandidos do espaço respeitam este vale” (apud Álvares, p. 92).
A existência de personagens “foras da lei” do tipo espacial por si só já remete às disputas entre vilões e mocinhos, tão comuns em livros, revistas em quadrinhos, séries de TV e fi lmes de ação sobre guerreiros do espaço e inclusive caubóis. Afi nal, também não seriam algumas estórias de fi cção científi ca verdadeiros faroestes ocorridos no espaço, uma vez que, como afi rmou Susan Sontag (1987), os dois gêneros apresentariam estruturas de roteiro bastante semelhantes?
As estórias de extraterrestres e suas naves espaciais, a exemplo do que afi rmou Mikhail Bakthin (1998), mesmo pertencendo a um gêne-
22 De 1937 até finais da década de 1940, a Space Opera sofreu uma mudança bastante significativa. O físico atômico John Campbell assumiu a direção da revista Astounding Stories, logo rebatizada como Astounding SF e inaugurou, como afirma Sodré (1973), a era clássica da ficção científica. Campbell passou a exigir que os autores enfatizassem a verossimilhança na plausibilidade das hipóteses ou inovações tecnológicas apresentadas na história em detrimento da estrutura romanesca da obra e que deixassem para o segundo plano as epopeias intergalácticas. Seguindo tal orientação, de acordo com o autor, surgiu também a pretensão de uma seriedade científica e literária por parte dos que faziam a ficção científica da época. Asimov, Clarke, Van Vogt, Heinlein e Bradbury são bons exemplos de escritores dessa fase.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 10815939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 108 31/01/2011 16:19:1931/01/2011 16:19:19
Capítulo 3 O Vale, a noção de ciência e as naves espaciais 109
ro específi co – no caso, a fi cção científi ca –, dizem respeito sempre àquele gênero e a um outro, simultaneamente. Para o autor, o gênero nada tem de canônico e imutável. Ao contrário: ele existe na condição de se recriar constantemente, de se renovar sem deixar de ser velho e novo. Vive, por-tanto, da necessidade de extrapolar suas fronteiras, além de se relacionar com outros tempos históricos, com outros códigos e, inclusive, com ou-tros gêneros (Machado, 2001a).
No Vale do Amanhecer, assim como ocorre no fi lme Guerra nas estrelas: o império contra-ataca (Star Wars: Th e Empire Strikes Back), de 1982, dirigido por George Lucas, a hibridização entre a fi cção científi ca e o fa-roeste é um claro exemplo do que falou Bakthin. Entre os adeptos de Tia Neiva, há uma expressão que evoca a imagem das intermináveis bata-lhas encontradas tanto da fi cção científi ca quanto desse tipo de narrativa fi ccional, o faroeste. Trata-se do termo “luta sideral”, defi nido por Sassi como a disputa entre “o positivo e o negativo, o bom e o mau transcen-dentais [sic]” (s/d, p. 34).
A referida expressão, por sua vez, conforme assinalou Sodré (1973), traz à tona uma outra característica da fi cção científi ca e de gran-de parte do gênero faroeste. Fala-se aqui da oposição binária ou da base estrutural mínima não apenas das narrativas míticas, mas de todo e qual-quer sistema cultural, segundo Ivan Bystrina (1995)23.
Ainda sobre a luta do bem contra o mal, vale lembrar que no Vale do Amanhecer comumente se fala da extinção da civilização equitu-man por uma nave espacial conhecida como “Estrela Candente”. Na fi cção científi ca, por sua vez, conforme atesta Bráulio Tavares, o fi m do mundo é muitas vezes causado por um cataclisma súbito, como o choque com um cometa, a explosão do sol, entre outros. Segundo ele, essa seria uma temá-tica antiga, que vem desde o conto A estrela, de H.G. Wells (1897), em que “uma estrela errante se aproxima do nosso sistema solar, causando erup-ções e maremotos em toda a Terra [...]” (Tavares, 1986, p. 33).
23 Baseando-se nos estudos do Círculo Linguístico de Praga, Bystrina (1995, p. 7-14) afirma que a oposição binária diz respeito à estrutura mais arcaica da cultura e está em consonância com outros códigos igualmente binários, como a língua natural. Segundo ele, no caso da cultura, tal binariedade é valorativa e apoia-se na assimetria, na oposição. Tem-se então a noção de vida (positivo) contrapondo-se à noção de morte (negativo), o claro (positivo), como oposto do escuro (negativo) e assim sucessivamente. De acordo com Bystrina, o polo negativo é sempre o mais forte. Por esse motivo, existe a disposição de se neutralizar tal polaridade. Dessa forma, o homem, munindo-se de sua natureza simbólica, utiliza-se do “encadeamento ou formação de sistemas pluricompostos”; da “inversão”, como a que falou Mikhail Bakhtin em A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais; da “identificação dos polos” e da “mediação ou criação de tríade” como formas de resolver a assimetria.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 10915939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 109 31/01/2011 16:19:2031/01/2011 16:19:20
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante110
Na fi cção científi ca, chamar uma nave de estrela é bastante co-mum, a começar pelo fato de muitas delas serem denominadas de “star-ship” (“nave estelar”), ao invés de “space ship” (“nave espacial”). No fi lme Gallactica; astronave de combate, de Richard A. Colla (1978), por exemplo, a nave se chama Rising Star (estrela ascendente). Já no caso da nave do Vale do Amanhecer, o nome “estrela candente” evoca a imagem de uma estrela que aparentemente caiu do céu, a “estrela cadente” – justamente o nome contrário ao da nave do fi lme Gallactica –, causando a impressão de um rastro luminoso.
O nome “candente”, na língua portuguesa, por sua vez, tem o signifi cado de “em brasas”. Daí a ideia de que, cortando os ares, a nave do Vale do Amanhecer purifi cou e regenerou, assim como faz o fogo. Pro-moveu, segundo os fi éis, a possibilidade do renascimento de uma nova civilização na Terra – a dos tumuchys –, em uma esfera espiritual mais elevada, em um novo ciclo encarnatório, destinado a dar prosseguimento aos planos das entidades do Astral Superior.
A menção a tal acontecimento na mitologia do Vale remete a um outro tema recorrente no gênero fi cção científi ca: o questionamento dos perigos da ciência e a arrogância de seus estudiosos. Como advoga Alberto Elena (2002), a vontade de os cientistas se compararem aos deu-ses em capacidade de criação e os castigos daí advindos são bastante co-muns nesse tipo de fi cção, já no período do entre-guerras. Produções ci-nematográfi cas como a do fi lme Dr. Frankenstein, de James Whale (1931), um misto de fi cção científi ca e terror, para o autor, são um bom exemplo desse tipo de refl exão.
Nessa época, os Estados Unidos se encontravam em meio à crise da depressão e percebiam a ciência como bode expiatório para suas ma-zelas, conforme Robert Bloch (1969). No entanto, para Sodré (1973), foi sobretudo na década de 1950, tempos de pós-guerra, macartismo e Guerra Fria, que a literatura de fi cção científi ca passou a ser um instrumento de crítica social mais contundente. Segundo o autor, ela pôs-se então a refl etir o pensamento da época sobre os limites da ciência e o pavor à guerra nu-clear. Afastava-se ainda mais do modelo fabuloso de Júlio Verne e aderia à tônica pessimista e especulativa da escritura de Herbert George Wells.
Há, assim, de parte da fi cção científi ca, conforme Sodré (1973), uma disposição ético-fi losófi ca, que adverte o mundo do advento de um futuro sombrio e ameaçador, caso o homem não se proteja da ciência e de suas disfunções. Nessa época, o medo dos americanos frente ao poderio
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 11015939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 110 31/01/2011 16:19:2031/01/2011 16:19:20
Capítulo 3 O Vale, a noção de ciência e as naves espaciais 111
da União Soviética fez com que se projetasse, no contato com o extrater-restre – muitas vezes próximo à imagem do monstro, por suas atitudes malvadas e constituição física diferenciada –, o temor frente ao outro e a tudo o que fugisse aos esquemas do American way of life.
No Vale do Amanhecer, os equitumans ou capelinos não são monstros, embora sejam vistos como seres geneticamente modifi cados, que também fariam as vezes de grandes cientistas – lembre-se de que o tema “cientistas transmutados por suas próprias experiências” é bastante comum na fi cção científi ca. De tão fortes e prepotentes, esses seres teriam resolvido desafi ar as entidades do Astral Superior. No entanto, segundo os fi éis, estando impossibilitados de superar seus mestres, eles acabaram por ser executados por uma sentença divina. A nave Estrela Candente os teria feito ser engolidos pela terra e sepultados no fundo do lago Titicaca, situado entre o Peru e a Bolívia.
Ainda sobre a apropriação da fi cção científi ca no Vale do Amanhecer, interessa falar do ritual da Estrela Candente, realizado no Solar dos Médiuns. O ritual destina-se à suposta passagem de espíritos sofredores que, de tão deformados pelo ódio, não poderiam ser doutri-nados no interior do templo principal24. Os adeptos do Vale acreditam que, durante a realização do ritual, faz-se presente em estado etéreo uma nave espacial do tipo amacê ou chalana, emitindo energias para o local de culto. Essa nave, segundo os frequentadores da doutrina, tem horário certo para chegar: sempre às 12:30, 14:30 e 18:30, em todos os dias do ano (Fig. 2).
Nas aberturas do ritual da Estrela Candente, um canto da comu-nidade chamado mayanty é emitido de pequenas caixas de som. De acordo com o adepto Álvares, “Mayanty signifi ca amanhecer, alvorecer, clarear e etc. [sic], na língua iniciática da doutrina do Amanhecer” (1991a, p. 8). Sendo assim, se o ritual que traz o canto mayanty carrega o mesmo nome de uma nave espacial – a Estrela Candente –, parece bastante natural que os adeptos entoem neste canto a palavra “marcianos”, nome comumente uti-lizado pelos meios de comunicação para se referir aos seres extraterrestres, no sentido de que esses seres estariam mesmo ligados à missão doutrinária do Vale. Também parece bastante natural a presença, em mayanty, das pa-lavras “enfermeiros” e “pronto-socorro universal”, como a explicitação da
24 Essa seria a descrição mais próxima dos monstros dos mitos e, em consequência, da ficção científica. Para os seguidores de Tia Neiva, os espíritos presentes no ritual da Estrela Candente teriam aparência animalesca e/ ou deformada, dados os seus baixos padrões energéticos e evolutivos.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 11115939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 111 31/01/2011 16:19:2031/01/2011 16:19:20
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante112
aspiração científi ca e curadora de almas, encarnadas ou não, encontrada na doutrina religiosa daquela comunidade. Veja-se o canto:
Mayanty, mayanty/ do Astral Superior/ tu que és refúgio/ de en-fermeiros do Senhor/ sopro divino do senhor/ prana, óh prana, tu em favor/ sei que atendes onde hasteias/ a bandeira rósea do amor/ aqui neste templo hasteamos/ a bandeira rósea do Astral/ velhos marcianos ingressados/ no pronto-socorro uni-versal/ mayanty, querida mayanty/ que o senhor nos concedeu/ guardas querida mayanty/ tudo o que for em favor meu.
Por falar em marcianos, importa dizer que no Vale há também o relato do encontro de Tia Neiva com um homem verde, vestido com um cinturão cheio de tecnologia – algo bastante próximo da imagem dos extraterrestres de livros, das revistas em quadrinhos e dos fi lmes de fi cção científi ca. Segue o relato:
Algum tempo depois, Neiva, muito preocupada com os proble-mas da comunidade, sentiu-se doente e com febre. Procurou então um remédio, um antifebril, mas não encontrou [...]. Nis-so lhe apareceu um homem verde, vestido de preto e com um
Fig. 2 - Momento do ritual/ Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 11215939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 112 31/01/2011 16:19:2031/01/2011 16:19:20
Capítulo 3 O Vale, a noção de ciência e as naves espaciais 113
cinturão cheio de botões de controle. Doente como estava, ela sentiu-se irada com sua presença. Mas no seu respeito habitu-al pelos espíritos, ela o saudou com um “Salve-Deus” [...]. (Sassi, s/d, p. 58).
Também a descrição do encontro de Tia Neiva com dois co-mandantes de uma chalana, Johnson Plata e Eris, por ocasião de uma visita ao planeta Capela, mostra com clareza a modelização do Vale do Amanhecer pela fi cção científi ca, um rápido trecho em que são evocadas pela clarividente algumas imagens semelhantes às do espaço interno das naves espaciais exibidas nos fi lmes e séries de TV (Fig. 3). As imagens são semelhantes às descritas por Susan Sontag (1987) referindo-se ao inte-rior luxuoso, porém ascético, dos discos voadores dos fi lmes de fi cção científi ca.
As naves são comumente retratadas como estando cheias de acessórios aerodinâmicos cromados, máquinas e painéis complexos, dotados de luzes coloridas e ruídos estranhos. Todo um tipo de apetre-chos tecnológicos que, se associados às naves representantes das forças do mal, muitas vezes se encontram relacionados a cores escuras, como o cinza e o preto, assim como ao ambiente notadamente soturno por ela produzido; já se as naves são do bem, as cores predominantes são em geral o branco e o prateado, resultando na produção de luminosidade. Essa mesma luminosidade, segundo Gilbert Durand (1997), está pre-sente no imaginário de várias culturas, em geral associada ao solar, ao divino, à pureza e à cor branca.
Voltando às palavras de Sassi e à suposta visão que teve Tia Nei-va de um disco voador:
Viu então o capelino. Ah! Disse ela. [...] Já que o senhor está aqui poderia nos dizer quando é que vai descer aqui com seu disco voador? [...] No mesmo instante ela sentiu-se transpor-tada para o interior de uma nave, muito parecida com aque-la que estivera antes. Na complicada cabine havia um outro capelino que lhe foi apresentado por Johnson com o nome de Eris. Enquanto falavam, os dois manipulavam alavancas e botões. Abriu-se então uma enorme comporta e Neiva se ex-tasiou com o que viu. Ali, bem perto, como se estivesse ao al-cance de suas mãos, estava Capela! (s/d, p. 96-97).
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 11315939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 113 31/01/2011 16:19:2031/01/2011 16:19:20
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante114
Há ainda uma outra narrativa que evidencia o diálogo do Vale com a fi cção científi ca. Tia Neiva (1999) escreveu em suas memórias que, em uma de suas aparições, Sebastião Quirino de Vasconcelos, o espírito Tiãozinho, teria contado a sua história. Supostamente nascido em 1897 de um casal de fazendeiros do Mato Grosso, ele se apaixonara por Justi-ninha Perez, uma bela moça de cabelos louros e olhos negros com quem se casara em pouco tempo. Os dois teriam vivido felizes até que acabaram por morrer afogados em uma viagem à casa de um parente de Tiãozinho. A chalana25 que os conduzia teria afundado nas águas do rio Parnaíba.
Após o desencarne, contam os fi éis, os dois voltaram para os planos espirituais, assumindo uma nova roupagem. De fazendeiros ma-togrossenses, passaram então a se manifestar a Tia Neiva como habitan-
25 O nome “chalana”, no caso, refere-se a uma embarcação tipicamente pantaneira. O interessante é como a doutrina de Tia Neiva incorpora a palavra ao seu vocabulário doutrinário, transformando-a em um designativo também de um veículo de condução, mas de tipo espacial.
Fig. 3 - Johnson Plata/ Fonte: pintura de Vilela
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 11415939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 114 31/01/2011 16:19:2031/01/2011 16:19:20
Capítulo 3 O Vale, a noção de ciência e as naves espaciais 115
tes de Capela. Nesse caso, Tiãozinho seria Stuart, um autêntico capeli-no graduado em “engenharia sideral” e condutor de uma nave espacial, também conhecida como amacê ou chalana; a respeito do novo nome de Justininha, não se sabe ao certo.
Integrados à comunidade do Vale do Amanhecer como espí-ritos de luz e atuando como auxiliares na estruturação da doutrina e na execução de rituais, Tiãozinho e Justininha foram retratados pelo adepto Vilela. Nos quadros do artista estão dois momentos importantes da nar-rativa sobre a trajetória espiritual do casal. O primeiro refere-se à vida dos dois na Terra como fazendeiros pecuaristas e o outro diz respeito às suas vidas após a morte, como capelinos/ extraterrestres. Nas pintu-ras que representam sua encarnação como criador de gado, Tiãozinho é mostrado em vestes de boiadeiro, tanto sozinho, como se estivesse po-sando para um retrato, quanto ao lado de Justininha, sentado em uma ocasião de descanso ou de conversa entre os dois. No segundo, o casal aparece novamente junto, também em pose de retrato, mas com uma ní-tida diferença: eles abandonam a roupagem de fazendeiros e passam a usar vestes do tipo espacial (Fig. 4, 5 e 6).
Fig. 4 - Tiãozinho / Fonte: pintura de Vilela
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 11515939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 115 31/01/2011 16:19:2031/01/2011 16:19:20
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante116
Fig. 6 - Stuart ao lado de sua companheira/ Fonte: pintura de Vilela
Fig. 5 - Tiãozinho e Justininha / Fonte: pintura de Vilela
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 11615939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 116 31/01/2011 16:19:2031/01/2011 16:19:20
Capítulo 3 O Vale, a noção de ciência e as naves espaciais 117
Ao se olhar para a primeira e para a última representação, é in-teressante perceber a conexão que se dá entre elas – não apenas em ter-mos de narrativa, no sentido de uma continuidade entre os dois tipos de vida do boiadeiro, mas também no que diz respeito às próprias pinturas ou retratos de Tiãozinho. Mesmo em seus trajes de fazendeiro, Tiãozinho – assim como o extraterrestre anteriormente descrito – porta um cintu-rão cheio de botões, como referência direta a uma tecnologia avançada e a uma provável manipulação maquínica. Essa realidade se encontra bem próxima da de sua roupagem espacial. Quanto à chama que emoldura a sua fi gura, ela pode ter relação com o rastro de fogo deixado pela nave pintada na parte superior do seu retrato como Stuart.
Uma outra imagem importante para esta discussão é o retrato de cinco capelinos na cabine de comando de uma nave espacial, também executado pelo adepto Vilela. Johnson Plata, como se pode perceber, é um dos integrantes do grupo. Veja-se a tecnologia da nave representada em primeiro plano, os vários planetas ao fundo, os modelos das roupas espaciais e também as várias torres de desintegração e transporte. Tudo muito parecido com o que se costumava ver nas séries de televisão de fi cção científi ca dos anos 1960 e 1970, como é o caso de A fuga de Logan/ A fuga das estrelas (Logan`s Run), Perdidos no espaço (Lost in Space) e Jornada nas Estrelas (Star Trek) (Fig. 8).
Fig. 7 - Capelinos no comando de uma nave/ Fonte: pintura de Vilela
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 11715939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 117 31/01/2011 16:19:2031/01/2011 16:19:20
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante118
Nas televisões americana e brasileira, ainda nas décadas de 1960 e 1970, além de A fuga de Logan/ A fuga das estrelas, Perdidos no espaço e Jornada nas estrelas, fi zeram grande sucesso as séries Túnel do tempo e Viagem ao fundo do mar, entre outros. Não por acaso, esses foram os principais anos da cria-ção e consolidação do Vale do Amanhecer, tempos também em que parte dos fi éis deve ter assimilado muito daquele gosto estético, como é o caso do adepto/ pintor Vilela. Por volta dos 50 anos de idade, ele é o grande legiti-mador desse modo de retratar as entidades da comunidade, uma estética provavelmente apreendida durante a sua infância e adolescência, enquanto deveria assistir, por exemplo, às referidas séries de televisão.
De fato, ao se analisar alguns dos espisódios de tais progra-mas, é fácil perceber que tanto no fi lme quanto na série A fuga de Lo-gan/ A fuga das estrelas (Logan´s run)26 a roupa dos personagens do sexo masculino apresenta semelhanças com as dos capelinos da nave pinta-da por Vilela. O modelo da blusa é o mesmo, embora as usadas pelos personagens da série sejam pretas com faixas azuis horizontais no peito e na gola. Em um dos episódios, Logan é transportado para uma sala
26 O filme, de 1976, foi dirigido por Michael Anderson.
Fig. 8 - Tripulação da série Jornada nas estrelas/ Fonte: www.startrekbrazil.kit.net
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 11815939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 118 31/01/2011 16:19:2031/01/2011 16:19:20
Capítulo 3 O Vale, a noção de ciência e as naves espaciais 119
desconhecida pela mesma torre de desintegração encontrada nas pin-turas do Vale.
Na série Perdidos no espaço, os modelos das roupas também são semelhantes aos de A fuga de Logan/ A fuga das estrelas27 e aos dos coman-dantes da nave do Vale, embora tenham a cor prateada – na verdade essa era uma tendência da moda da época, conforme se pode ver em produ-ções do estilista italiano Paco Rabanne. No primeiro episódio há também tubos, como as torres de desintegração, mas que guardam os corpos da tripulação ao invés de transportá-los. A cabine da nave se parece muito com a cabine retratada pelo adepto Vilela, do Vale do Amanhecer.
Note-se, nas pinturas de Vilela, como as torres de desintegra-ção são as mesmas da série Jornada nas estrelas. As roupas de Stuart e de sua companheira, assim como a de Johnson Plata e dos companheiros de cabine, também apresentam um desenho semelhante ao do fi gurino da série, sobretudo em sua primeira temporada. Atente-se para a pre-dominância do apelo modernista no fi gurino das três séries em questão, bem como o do criado por Vilela. Novamente a linha reta e a curva são elementos basilares na constituição do formato do corte das roupas e, por extensão, do desenho da nave espacial, além, é claro, da presença de insígnias nos uniformes, no caso dos personagens de Jornada nas estrelas e das entidades do Vale, como forma de ressaltar o cargo hierárquico e/ ou o pertencimento a determinado grupo.
A padronização nas roupas é, aliás, bastante explícita nos dois casos – o das séries e o do Vale do Amanhecer. Provavelmente pelo fato de aqueles personagens da televisão muitas vezes se encontrarem or-ganizados em frotas estrelares, como em um exército, e envolvidos em frequentes combates intergalácticos; no caso dos adeptos do Vale, por-que eles acreditam pertencer a falanges de espíritos, mas voltadas para o auxílio nos rituais. Isso é algo que confi rma Augusto César V. Ponte, colecionador de séries do gênero, ao mencionar que aquele tipo de veste espacial “lembrava, de certa forma, que a sociedade deveria manter uma identidade única, todos em prol de um objetivo comum, como num time de futebol ou em qualquer outra equipe desportiva” (jul. 2002).
Se as torres de desintegração e os modelos das roupas dos capeli-nos nas pinturas de Vilela são igualmente parecidos com os das três séries em questão, sem apontar para nenhuma em específi co, o mesmo não se
27 A série foi apresentada na televisão brasileira, mais especificamente na rede SBT, como A fuga das estrelas ao invés de A fuga de Logan.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 11915939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 119 31/01/2011 16:19:2031/01/2011 16:19:20
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante120
pode dizer para o desenho de uma outra nave espacial, também execu-tado por Vilela, na capa do DVD do seu fi lme documentário, intitulado Dimensões paralelas 28, de 2004. Nesse caso, há uma semelhança mais do que explícita daquela com a nave Enterprise, da série Jornada nas estrelas, uma ressignifi cação que, no caso, remete exclusivamente a esse programa de televisão (Fig. 9 e 10).
Tal fato leva a se pensar na hipótese de que a referida série seria a mais atuante, em termos de infl uência estética, na construção do texto Vale do Amanhecer – pelo menos no que diz respeito à fi cção científi ca e difi cilmente descartável, uma vez que Jornada nas estrelas é comumente identifi cada como a série de maior sucesso da época. Como já dito em ca-pítulo anterior, segundo Ubirajara Cairo (www.seriesantigas.hpg.ig.com.br), foram 79 episódios, de que se originaram nove fi lmes de longa--metragem, 22 desenhos animados, outras três séries, mais de 400 livros publicados a respeito e, como não se poderia deixar de se mencionar, a criação de fã-clubes29.
Ainda sobre as naves espaciais, vale salientar que, nas estórias de fi cção científi ca, elas tanto podem vaguear pelo espaço como serem as responsáveis pelo ataque e pela destruição de cidades e estações espaciais 28 Bem-humorado, ao vender um exemplar de seu documentário à pesquisadora, Vilela falou: “O Spiel-
berg que se cuide!” Acredita-se ser essa frase mais uma demonstração de como a ficção científica está fortemente presente no imaginário dos adeptos do Vale do Amanhecer.
29 Ao longo de décadas, grande parte desses livros, revistas, filmes e séries de televisão tiveram (e ainda têm) uma repercussão muito grande junto ao público, influenciando os gostos e costumes não apenas das culturas europeia e norte-americana, mas também das culturas de outras Américas, como a brasileira. No Brasil, tal influência pode ser verificada, entre outras coisas, pela criação de fã-clubes, interessados sobretudo na produção cultural norte-americana e espalhados por todo o país. Como exemplo tem-se o caso do grupo cearense “Vídeo Tempo”, formado nos anos 1980. Seus integrantes colecionam tanto filmes para cinema quanto séries televisivas, em geral dos anos 1950 aos 1980, com destaque para as produções de ficção científica e filmes de faroeste.
Fig. 10 - Nave de Dimensões Paralelas, de 2004
Fonte: pintura de Vilela (capa de DVD)
Fig. 9 - Enterprise
Fonte: www.startrekbrazil.kit.net
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 12015939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 120 31/01/2011 16:19:2031/01/2011 16:19:20
Capítulo 3 O Vale, a noção de ciência e as naves espaciais 121
em planetas como a Terra. Muitas dessas cidades e estações espaciais, ao serem retratadas em livros ou em fi lmes do gênero, possuem, assim como Brasília, estruturas de formas geométricas, como a cidade do livro Shikasta, da escritora norte-americana Doris Lessing. Também uma es-tética nitidamente modernista, como no fi lme A fuga de Logan/ A fuga das estrelas, de 1976, dirigido por Michael Anderson 30; Gallactica: astronave de combate, 1978, dirigido por Richard A. Colla; 2001: uma odisséia no espaço, de Stanley Kubrik (1968), e Th ings to come, não lançado comercialmente no Brasil, de William Cameron Menzies (1936).
O cenário de Th ings to come, segundo Alberto Elena (2002), foi infl uenciado pela ideias de Le Corbusier e Walter Gropius, causan-do grande interesse entre os arquitetos da época. Sendo assim, talvez se possa dizer que venha desse fi lme a tendência de se construir as cida-des e as estações espaciais de grande parte de fi lmes de fi cção científi ca com uma estética notadamente modernista. Obviamente essa tendência não se encontrava de maneira muito nítida em fi lmes anteriores a uma melhor divulgação e consolidação desse movimento artístico e estético, como se pode verifi car no cenário predominantemente gótico31 do fi lme Metrópolis (Metropolis), de 1927, de Fritz Lang (Fig. 11, 12 e 13).
Outro aspecto a ser ressaltado nessa associação do modernis-mo com a fi cção científi ca é o caráter de utopia, de idealização do futuro encontrado nos dois casos, diretamente vinculado às ideias dos avanços tecnológico, industrial e econômico, à velocidade e à uma transformação dos padrões estéticos e sociais, entre outros. Talvez tenha sido isso o que levou as ideias de Le Corbusier e Walter Gropius pela primeira vez ao cinema, no caso do fi lme Th ings to come, e o que as fez servirem de ins-piração às construções cenográfi cas de grande parte dos fi lmes de fi cção científi ca a serem realizados a partir de então.
Não é à toa que Brasília, uma cidade também utópica e cons-truída em permanente diálogo com a obra modernista de Le Corbu-sieur, mais de uma vez foi procurada por profi ssionais do cinema para servir de cenário a fi lmes de fi cção científi ca. Não é à toa, também, que ela dialoga com o Vale do Amanhecer, inclusive reforçando a proxi-midade que os adeptos da doutrina pensam ter com seres e mundos extraterrestres, em um diálogo que, pelo mecanismo da ressignifi cação,
30 Segundo Ponte (jul. 2000), o referido filme foi exibido na televisão como uma espécie de programa-piloto da série homônima.
31 A palavra “gótico” foi a utilizada pelo autor para definir o cenário em questão.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 12115939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 121 31/01/2011 16:19:2031/01/2011 16:19:20
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante122
Fig. 12 - Things to come/ Fonte: Telotte (2002)
Fig. 11 - Cidade de Logan´s run/ Fonte: Telotte (2002)
Fig. 13 - Cidade de Metropolis/ Fonte: Elena (2002)
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 12215939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 122 31/01/2011 16:19:2031/01/2011 16:19:20
Capítulo 3 O Vale, a noção de ciência e as naves espaciais 123
como mostrado anteriormente, possibilita a relativa permanência do traço modernista de Brasília, nas roupas e nas naves espaciais dos cape-linos pintados por Vilela.
Voltando-se à escolha de Brasília para servir de cenário a pro-duções cinematográfi cas sobre o referido gênero, vale lembrar que For-rest Ackerman, durante o I Simpósio Internacional de Ficção Científi -ca, realizado em 1969 no Rio de Janeiro, afi rmou: “George Pal [diretor e roteirista norte-americano]32 voou ontem pra Brasília, a metrópole do mundo, a cidade mais nova e futurista do mundo; foi lá estudar o local para a fi lmagem de uma novela emocionante [...]”. (1969, p. 21).
Tal propensão da cidade a se tornar cenário desse tipo de fi lmes foi reafi rmada no ano de 2003 pela imprensa brasileira, que anunciou a escolha de Brasília pela Paramount Pictures para a realização de um lon-ga-metragem de fi cção científi ca, no primeiro semestre do ano de 2003 – as fi lmagens foram transferidas para Berlim e Potsdam, cidades da Ale-manha, por falta de pessoal técnico especializado no Brasil. O fi lme nar-raria as aventuras da agente secreta Æeon Flux em Bregna – última cidade habitada do planeta Terra, regida por ditadores cientistas e considerada sede de uma sociedade perfeita. Æeon Flux é também a personagem prin-cipal do desenho de animação homônimo, exibido pela MTV brasileira em 1996 (ver Æon Flux, 2006).
Diante de tantas evidências, como não se lembrar das afi rma-ções – expostas no capítulo anterior – do astronauta Iuri Gagarin, em que ele disse se sentir em um outro planeta, ao visitar Brasília? E também de Gabriela Balcázar Ramirez, ao relacionar aquela cidade a uma maquete do futuro? Como não pensar que a vastidão do céu de Brasília, típica de um céu de planalto, somada à sua arquitetura modernista, de fato gerem impressões dessa natureza?
É fato: a ocupação racionalizada dos espaços da cidade, inte-grada ao uso ascético da linha reta e de curvas alongadas; a presença de enormes estruturas suspensas, como que levitando; o predomínio da cor branca sobre o concreto: tudo lembra as naves espaciais e as cidades do futuro de grande parte dos fi lmes de fi cção científi ca, dois importantes “ícones” do gênero, conforme afi rmou J.P. Telotte (2002). E é por esse e
32 George Pal produziu filmes como Com destino à Lua (Destination Moon), de 1950, Quando os mundos se chocam (When worlds collide), de 1951, e A guerra dos mundos (War of the worlds), de 1953. Susan Sontag (1987) refere-se aos seus filmes como os mais convincentes do ponto de vista técnico e os mais excitantes do ponto de vista visual no que se refere à abordagem da temática “catástrofes”, nos filmes de ficção científica.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 12315939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 123 31/01/2011 16:19:2031/01/2011 16:19:20
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante124
por todos os motivos aqui expostos que se acredita na apropriação do gênero fi cção científi ca pelo Vale do Amanhecer na constituição de suas narrativas míticas e de sua iconografi a.
Essa fi cção científi ca tem como uma de suas principais referên-cias estéticas os meios de comunicação e a própria cidade de Brasília. Mas não só: há ainda que se considerar o diálogo da doutrina com o es-piritismo kardecista, como dito anteriormente, que enfi m possibilitou a aquisição por parte daquela comunidade de um discurso científi co e ra-cional, embora tenha sido fi ltrado no Vale por uma interpretação religio-sa. Acredita-se, enfi m, que se não fosse pela interferência do espiritismo kardecista na doutrina, da fi cção científi ca e da estética modernista de Brasília, não seria tão contundente na construção do grande texto/ siste-ma Vale do Amanhecer.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 12415939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 124 31/01/2011 16:19:2031/01/2011 16:19:20
125
O Egito e o Vale do Amanhecer
Você veio para continuar a jornada de Amon-Rá, de Akhenaton do delta do Nilo...
(Mãe Yara apud Álvares, 1992)
O Egito, para o Vale do Amanhecer, diz respeito a um lugar onde Tia Neiva e alguns de seus fi éis teriam supostamente encarnado em tempos passados. Diante disso, encontram-se no Vale reproduções das máscaras mortuárias de faraós, a cruz egípcia, e ainda referências a essa civilização nas narrativas míticas e nas roupas dos fi éis. Sobre a forma como estão ressignifi cadas essas informações, basta lembrar como exemplo que, aos olhos dos fi éis, Tia Neiva foi Nefertiti e Cleópatra. Quanto ao modo como essas informações chegaram à comunidade, acredita-se que este tenha se dado sobretudo por meio de diálogos por ela travados com o discur-so de uma esoterista sobre o fato de Brasília ser a reencarnação de uma antiga cidade egípcia, com o espiritismo de origem kardecista e com a umbanda, sobretudo a esotérica, e, como não poderia deixar de ser, com os meios de comunicação. É disso que tratará o presente capítulo.
4.1. Das pirâmides de BrasíliaComo visto anteriormente, a cidade de Brasília pode ser comparada às ci-dades do futuro, às típicas metrópoles da fi cção científi ca, uma vez que de fato ela guarda semelhanças com algumas delas. Mas também a uma cida-de egípcia de nome Akhetaton – ou “horizonte de Aton” – especialmente criada pelo faraó Amenófi s IV – o mesmo Akhenaton, ou “glória de Aton” – no Vale de Tell-El-Amarna, se se levar em consideração o que vem falan-do e escrevendo, nos últimos anos, a esoterista Iara Kern.
Kern, que diz exercer a profi ssão de arqueóloga, também le-ciona egiptologia, cromoterapia, musicoterapia e cristalografi a, sendo
Capítulo 4
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 12515939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 125 31/01/2011 16:19:2031/01/2011 16:19:20
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante126
apontada por alguns como uma autêntica “sensitiva”1. Em 1984, lançou o livro De Aknaton a JK: das pirâmides a Brasília – traduzido, segundo in-formações dadas pela editora Th ot, para seis idiomas e publicado pelo menos em três edições. Seis anos depois, foi a vez do lançamento do livro Brasília secreta: enigma do Antigo Egito. O vídeo Brasília mística tam-bém é de sua autoria.
O fato de Kern ter algum conhecimento sobre a cultura de cer-tos povos antigos, sobretudo os do Antigo Egito, e de determinadas prá-ticas alternativas terapêuticas, a maioria disseminada a partir dos anos 1960 (tempos de Nova Era), fez dela uma autoridade quando o assunto é esoterismo – obviamente que apenas entre pessoas simpáticas aos novos grupos religiosos e a seus fundamentos. Tal afi rmação pode ser facilmen-te constatada a partir da grande divulgação que tiveram os seus dois li-vros, verdadeiros best-sellers desse tipo de mercado editorial.
Em termos de narrativa, a esoterista se aproveita do relato de Costa e da profecia de Dom Bosco em uma tentativa de legitimação de sua tese mítica e ainda faz menção a um outro trecho, encontrado em um dos livros de memórias de Kubitschek como um fator a mais nessa empreitada que, segundo ela, dá mostras da afi nidade espiritual entre os dois dirigentes em questão. São essas as palavras do presidente:
[...] A visão do Egito constituiu, para mim, um espetáculo ines-quecível. Ali estavam os túmulos dos Faraós, as lendárias pirâ-mides, os santuários de Karnak e Luxor, o misterioso deserto e o velho Nilo, correndo grave e solene através de um universo de areia. Tudo me parecia fantasmagórico, olhando aquela paisa-gem áspera, amarela de pó, tive a impressão de que desfi lavam diante dos meus olhos – numa compreensível reversão histórica – as fi guras de César, Marco Antônio, Cleópatra, seguidos, à dis-tância, pelos chefes das diferentes dinastias, com sua indumen-tária característica e seus milhares de servidores.
1 Segundo consta na capa interna de seu primeiro livro, De Akhnaton a JK: das pirâmides a Brasília, Iara Kern é gaúcha de Santa Maria. Estudou história na Universidade daquela cidade e cursou arqueologia com especialização em egiptologia na Universidade de Queens (Nova York) em 1972 e na Universidade do Cairo em 1974. Consta no texto que ela foi professora no Colégio Americano de Porto Alegre e na Universidade de Brasília, entre outros, e que tem realizado trabalhos de arqueologia no Morro Perdido (Goiás), Serra do Roncador, Barra do Garça (Mato Grosso) e Montalvania (Minas Gerais). A respeito de seu segundo livro, vale lembrar que consiste em uma reedição ampliada do primeiro.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 12615939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 126 31/01/2011 16:19:2031/01/2011 16:19:20
Capítulo 4 O Egito e o Vale do Amanhecer 127
Recordei a beleza, aureolada pelo infortúnio, da rainha Nefertiti e o visionarismo de seu marido Amenófi s IV ou Akhe-naton – o “Faraó Herege”. Apesar da minha formação religiosa não escapei ao fascínio daquela estranha personalidade, misto de sonho e audácia, cuja obra de reformador constituiu, durante algum tempo, uma das preocupações do meu espírito. Akhenaton reinou de 1375 a 1358 antes de Cristo, e o egiptólogo J.H. Breastead considera-o “a primeira personalida-de da história da Humanidade”. Foi o faraó apóstata que des-truiu o culto de Amon e o politeísmo confuso da religião tradi-cional, substituindo-os pela adoração de um novo Deus – Deus único – a que chamou Aton. A nova divindade era simbolizada por um disco solar cujos raios benfazejos terminavam como os dedos de mãos abertas, num gesto expressivamente generoso. Essa revolução religiosa acarretou, como é natural, uma profun-da revolução política. O faraó tinha, então, apenas dezenove anos de idade. E, apesar da sua juventude, compreendeu que sua revolução reli-giosa só teria êxito se procedesse, igualmente, a uma mudança de sede da monarquia, de forma a subtraí-la à tutela milenar dos sacerdotes dos antigos ídolos, especialmente dos de Amon. Surgiu assim, a ideia da mudança da capital do Egito. Ao invés de Tebas – a “Tebas de cem portas”, segundo expressão de He-rótodo – a monarquia iria funcionar em Ekhetaton, a “Cidade do Horizonte de Aton”. O plano de transferência, apesar de tão recuado no tempo – quase quatro mil anos atrás –, foi levado a efeito com uma técnica e um planejamento dignos do século XX. Arqui-tetos foram contratados. Artífi ces vieram de todas as partes do Império. Engenheiros, astrônomos, técnicos em hidráulica, britadores, escultores, pedreiros especializados foram mobiliza-dos. O local escolhido foi Tell El-Amarna, um vale situado entre o Nilo e as encostas rochosas do deserto. A mudança da capital coincidiu, também, com a mudança do próprio nome do mo-narca. Amenófi s IV foi substituído pelo de Akhenaton, “Aquele que agrada a Aton”. Levado pela admiração que tinha por esse autocrata vi-sionário, cuja existência quase lendária eu surpreendera através
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 12715939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 127 31/01/2011 16:19:2031/01/2011 16:19:20
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante128
de minhas leituras em Diamantina, aproveitei minha estada no Egito para fazer uma excursão até o local onde existira Tell-El--Amarna. Vi os alicerces da que havia sido a capital do Médio Império do Egito. A cidade media oito quilômetros de compri-mento por dois de largura. À margem do Nilo, jardins verdejan-tes haviam sido plantados e, atrás deles, subindo a encosta da rocha, erguera-se o palácio do faraó, ladeado pelo grande tem-plo. Tudo ruínas! O grande sonho do Faraó-Herege convertido num imenso montão de pedras, semi-enterrado na areia! Hoje, tanto tempo decorrido, pergunto-me, às vezes, se essa admiração por Akhenaton, surgida na mocidade, não constituiu a chama, distante e de certo modo romântica, que acendeu e alimentou meu ideal, realizado na maturidade, de construir, no planalto Central, Brasília – a nova capital do Brasil. [...] Lembro-me agora do que disse, um dia, a princesa Ma-rina da Grécia, duquesa de Kent, quando a levei para conhecer Brasília. Ao ver a cidade, que naquela época – meados de 1958 – , era apenas um gigantesco canteiro de obras, comentou exta-siada: “O senhor constrói, Presidente, como os faraós do Antigo Egito o faziam”. Sorri, mas corrigi a observação: “Quanto à mo-numentalidade, é possível que sim, Alteza, mas quanto aos ob-jetivos, seguimos caminhos diametralmente opostos. Os faraós construíram para os mortos, e eu construo para as gerações do futuro” (1974, p. 110-112)
Para Kern, as palavras de Kubitschek são bastante claras no que se refere à sua relação espiritual com Akhenaton, uma vez que suas vidas apresentariam algumas similaridades. Nas palavras da autora:
Akhenaton construiu em 4 anos Akhetaton, cidade planejada que serviu de transição religiosa e política do país. No mundo moderno, Juscelino construiu em 4 anos Brasília, cidade que serviu para transição política e social do Brasil. Os dois eram em-preendedores destemidos, não tiveram fi lhos varões e levaram adiante uma ideia tão magnífi ca que não podia ser compreen-dida pelos céticos: fundar uma nova capital, destinada a mudar a vida de um povo. Tanto Akhenaton como JK viveram somente
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 12815939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 128 31/01/2011 16:19:2031/01/2011 16:19:20
Capítulo 4 O Egito e o Vale do Amanhecer 129
16 anos após a inauguração de suas cidades e ambos tiveram morte violenta. [...] Segundo espiritualistas de várias partes do mundo que se dedicam ao assunto, Brasília representará, no ter-ceiro milênio, o que a cidade de Akhetaton deveria representar em sua época. Segundo eles, a cidade de Brasília seria, na falta de outra palavra, uma reencarnação da de Akhetaton, e o seu destino será o de resgatar o que se projetou no passado remoto para o futuro da humanidade. (2000, p. 64)
Em termos formais, por sua vez, Kern se vale das coincidên-cias das construções arquitetônicas daquela cidade, como as de forma-to triangular, para compará-las às dos prédios egípcios, em especial às pirâmides. Demonstrando as semelhanças entre Brasília e o Egito, ela afi rma realizar um “estudo comparativo” entre os dois planejamentos arquitetônicos e urbanísticos. Eis alguns dos paralelos traçados pela esoterista, seguidos de ilustrações do seu segundo livro, Brasília secreta: enigma do Antigo Egito:
A cidade de Akhetaton, no Antigo Egito, traçada à semelhança de um pássaro em vôo, segundo seu criador, apresentava solu-ções urbanísticas inovadoras, pois, já naquela época, propunha avenidas largas, espaço amplo entre as construções, com gran-des jardins e arvoredos, plano que permitia aos homens pleno contato com o céu e o deus Sol. Brasília, no Brasil atual, traçada à semelhança de um pássaro, é constituída de amplas avenidas, largas ruas, grandes espaços arborizados e ajardinados entre as construções e baixo gabarito de edifi cações, o que permite aos seus moradores e visitantes uma visão tão ampla do céu que este se integra ne-cessariamente como elemento paisagístico, importante como o mar para as cidades litorâneas. Akhetaton apresentava duas asas no sentido Norte-Sul, cortada por avenidas que se cruzavam no sentido Norte-Sul e Leste-Oeste. Brasília apresenta duas asas no sentido norte-sul, cor-tada por avenidas que se cruzam no sentido norte-sul e leste--oeste, de tal forma que todos os seus endereços se baseiam nos pontos cardeais (L2 Sul, W3 Norte...).
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 12915939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 129 31/01/2011 16:19:2031/01/2011 16:19:20
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante130
Akhetaton foi projetada para ser capital administrativa do país, dividida em setores, destinados cada qual a um deter-minado segmento social: civis, militares, políticos, religiosos, funcionários médios, serviçais etc . O grande templo central de Akhetaton inovava arquite-tonicamente, porque (diferente de todos os demais, que tinham o altar na parte mais baixa e menos iluminada da nave) seu altar era ao ar livre, a céu aberto, pois o culto era dirigido ao deus Sol. O grande templo central de Brasília inova arquitetoni-camente, pois também tem seu altar a céu aberto, permitindo a presença constante do sol em seu interior. Quem vir hoje a Catedral de Brasília, deve lembrar-se de que não havia aqueles vidros azuis, eram todos vidros transparentes. Akhetaton foi construída num previamente escolhido lugar, que era o centro geográfi co do Antigo Egito (que ia do del-ta, ao Norte, até a ilha de Philae, ao Sul). Brasília, construída num previamente escolhido local, que é o centro geográfi co do Brasil. Akhetaton: a cidade do horizonte do sol, no Antigo Egi-to. Brasília: a cidade do horizonte do sol, no Brasil atual e futuro. (2000, p. 26-27).
Há outros aspectos interessantes discutidos por Kern (1991), em sua concepção mística e mítica daquela cidade. Na tentativa de provar a condição especial de Brasília, Kern afi rma ser ela totalmente traçada dentro do que chamou de “numerologia do tarô egípcio e da cabala hebraica”. Perceba-se que, somados à referência ao Egito, estão agora outras referências culturais, indicadas nas palavras “numerolo-gia”, “tarô” e “cabala hebraica”. Tal acontecimento revela uma intenção por trás de tudo isso. Recorrendo a símbolos diversos e de diferentes sistemas mágico-religiosos, ela confere a Brasília o caráter de mistério e, à sua pessoa, a noção de que possui a capacidade, dada somente a iniciados, de desvendá-lo.
A mistura de referências culturais no discurso de Kern pode ser percebida, por exemplo, na comparação que fez a autora entre os três an-jos suspensos no interior da Catedral de Brasília, a Santíssima Trindade cristã (Pai, Filho e Espírito Santo) e o seu suposto equivalente na mitolo-gia egípcia (Ísis, Hórus e Osíris). Há também o fato de que, para Kern, a Catedral, devidamente circundada de água e tendo à sua entrada estátu-
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 13015939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 130 31/01/2011 16:19:2031/01/2011 16:19:20
Capítulo 4 O Egito e o Vale do Amanhecer 131
as dos quatro evangelistas, remete diretamente ao Antigo Egito. Lá, diz Kern, “na entrada dos templos, que eram cercados por água, postavam-se entradas de deuses, como se vêem nos templos de Abu-Simbel, de Set I, do Rei Unas, do faraó Miquerinos” (2000, p. 54-55) (Fig. 1, 2 e 3).
Fig. 1 - Vista do interior da Nave da catedral de Brasília/ Fonte: Kern (2000)
Fig. 2 - Entrada da Catedral/ Fonte: Kern (2000) Fig. 3 - Templo de Abu-Simbel/ Fonte: Kern (2000)
Há ainda outras coincidências entre Brasília e o Egito, na visão da autora. Para Kern (2000), o formato de algumas tumbas faraôni-cas é reproduzido naquela cidade nas fachadas retangulares da Ordem Rosa Cruz AMORC – que de fato se relaciona com a cultura egípcia, conforme Ricardo Sasaki (1995), Moacir E. Santos, Th iago J. Moreira e Vivian N. V. Telardi (2004) – e do edifício do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científi co e Tecnológico (CNPq). Já a Igreja Messiâ-nica, o Teatro Nacional, o prédio da Companhia de Energia Elétrica de Brasília (CEB) e a Igreja Católica de Santa Cruz também remetem ao Egito, pois apresentam a forma piramidal, como bem aponta a referida esoterista. Quanto ao Memorial JK, construído com uma base igual à de uma pirâmide, este guarda o sarcófago do presidente Kubitschek, as-sim como as pirâmides guardavam as múmias dos faraós. Outro prédio
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 13115939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 131 31/01/2011 16:19:2031/01/2011 16:19:20
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante132
Fig. 4 - Ordem Rosa Cruz AMORC/ Fonte: Kern (2000)
Fig. 6 - Igreja Messiânica/ Fonte: Kern (2000)
Fig. 5 - CNPq/ Fonte: Kern (2000)
Fig. 8- Templo da LBV/ Fonte: Kern (2000)
Fig. 7 - Igreja Católica de Santa Cruz/ Fonte: Kern (2000)
que também tem a forma de pirâmide e abriga um corpo em Brasília é o do Templo da Legião da Boa Vontade (LBV): o sarcófago de seu criador Alziro Zarur (Fig. 4 a 8).
Além disso, lembra Kern (2000), desde 1995 existe no templo ecumênico da LBV uma “sala egípcia”, cujas pinturas e esculturas são do artista Marciel Oehlmeyer. As cores predominantes são o azul e o dou-rado e estão presentes no mobiliário, nas estátuas e nas pinturas lá en-contradas. Nesse local, podem-se ver estátuas e pinturas com cenas do cotidiano, tais como a colheita do trigo, o pisar das uvas, a transformação
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 13215939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 132 31/01/2011 16:19:2031/01/2011 16:19:20
Capítulo 4 O Egito e o Vale do Amanhecer 133
dos vegetais em adorno e cosmético ou mesmo representações do tem-plo de Ramsés II, as grandes pirâmides de Keops, Kéfren e Miquerinos, a esfi nge, Akhenaton e Nefertiti, Tutankhamon e seu trono, a deusa Ísis Alada e a deusa Nut (Fig. 9 e 10).
A sala, em princípio, não é dada pelos integrantes da LBV como prova de que Brasília seria a “reencarnação” da cidade criada por Akhenaton – isso é esclarecido inclusive pela esoterista (2000). Mesmo assim, sua finalidade tem um grau de inusitado. Resume-se à reflexão ecumênica, por parte dos que ali se encontram, sobre al-guns dos preceitos cristãos, como o da “vida eterna”, de acordo com o dirigente Paiva Neto. Esse fato de maneira alguma inibe Kern de se apropriar do lugar e de ressignificá-lo, em sua tese sobre a cidade. A esoterista defende a ideia de que a sala egípcia não estaria naquele templo por acaso, de modo que o seu idealizador deva ter alguma relação espiritual com tal cultura. Diz ela: “[...] o fato de Paiva Neto ter construído o Templo da Boa Vontade em forma de pirâmide e uma sala dedicada ao Egito é porque traz registro akástico da época do Império Egípcio”. (2000, p. 73).
Kern vai ainda mais longe. Sua busca incessante por referen-dar suas ideias esotéricas a partir de materiais os mais diversos e impro-váveis estende-se, por exemplo, à declaração do arquiteto Gladson da Rocha, também incluída em seu segundo livro. Em entrevista a Ernani Figueiras Pimentel – co-autor e marido de Iara Kern –, Rocha discorreu sobre o modo um tanto quanto misterioso com que teria concebido a forma piramidal do prédio da CEB. Ele afi rma ter sido, a convite de Niemeyer, integrante da equipe inicial do Departamento de Urbanis-mo e Arquitetura (DUA) da Companhia Urbanizadora da Nova Capital (Novacap) e responsável pela construção do prédio da Companhia Elé-trica de Brasília (CEB), que tem a forma de pirâmide.
Fig. 10 - Sala Egípcia 2/ Fonte: Kern (2000)Fig. 9 - Sala Egípcia 1/ Fonte: Kern (2000)
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 13315939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 133 31/01/2011 16:19:2131/01/2011 16:19:21
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante134
Nas suas palavras:
Não optei pela forma da pirâmide. Sentei-me para trabalhar num projeto que poderia durar 10, 20, 40 dias. Depois de alguns dias necessários para pensar e analisar o programa proposto, em poucos segundos nasceu a ideia básica do projeto. Posto em maquete preliminar, imediatamente verifi quei que era uma pirâmide. (Rocha apud Kern, 2000, p. 45)
Perceba-se que o tipo de abordagem dado pelo próprio arquite-to ao seu processo criativo em muito se assemelha ao de Costa, por oca-sião da apresentação de seu planejamento para o Plano Piloto de Brasília. Mais uma vez está-se diante de uma tentativa de mitifi cação da cidade, embora ela assuma sentidos diferentes para Costa e Rocha. No caso do urbanista, como já foi dito, havia a intenção oculta do encaminhamento de seu projeto socialista a partir do desvio da atenção do governo sobre seus interesses políticos. Quanto a Rocha, ao que tudo indica, este esta-ria mais interessado em se igualar a Costa, em termos de uma provável sobrenaturalidade, e com isso adquirir para si um prestígio maior, tanto pessoal quanto profi ssional.
Essa intenção parece ainda mais clara em uma outra declaração de Rocha a respeito do estacionamento do prédio piramidal da CEB, que remete, pelo menos aos olhos do arquiteto, de Pimentel e de Kern, à fi gura do pássaro Íbis. Esse pássaro, no Antigo Egito, conforme Kern (2000), teria inspirado a forma das vestes sacerdotais de seu arquiteto I-Em-Hotep – tor-nado, mais tarde, uma espécie de divindade. O pássaro mítico que guardaria as pirâmides e que, segundo a esoterista, foi encontrado em número de mil exemplares, em estado de mumifi cação, nas pirâmides de Sakara (Fig. 11 e 12).
Fig. 12 - Estacionamento da CEB/ Fonte: Kern (2000)Fig. 11 - Pirâmide CEB/ Fonte: Kern (2000)
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 13415939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 134 31/01/2011 16:19:2131/01/2011 16:19:21
Capítulo 4 O Egito e o Vale do Amanhecer 135
Dito isso, fi ca uma pergunta para Kern ou para os que nela acreditam: haveria então alguma ligação entre Rocha – o arquiteto da pirâmide da CEB e do pássaro Íbis em seu estacionamento – e algum personagem importante do país dos faraós? A resposta mais interessante parece ser a que vem do próprio arquiteto.
Vou confessar uma coisa: depois da confecção da maquete, lembrei-me de algo que me aconteceu na cidade de Los Angeles (centro), Califórnia, quando lá passei nos anos 50. Eu andava por uma calçada na Hill St. quando, na direção oposta, vinha uma jo-vem senhora que a uns oito metros de distância olhou fi xamente para mim, levantando os braços e dizendo em voz alta: “É incrível o que estou vendo, será possível?” Eu achei estranho e fi quei um pouco apreensivo, quando ela me tranqüilizou, dizendo: “Tudo bem, é o seguinte: Tenho certeza absoluta que você foi um sacer-dote egípcio há vários milênios”. (Rocha apud Kern, 2000, p. 44).
Como último recurso para fazer valer suas ideias sobre Brasília e o Egito, Kern recorreu às pinturas do mineiro Byron de Quevedo. Das dez telas publicadas no primeiro livro de Kern, o De Aknaton a JK: das pirâ-mides a Brasília, oito estão diretamente ligadas ao tema do Egito, enquanto que as duas restantes tratam de assuntos correlatos. Todas, porém, são maneiras de ilustrar as ideias de Kern, no caso também expostas na for-ma de legendas explicativas dessas mesmas pinturas – uma logo abaixo das imagens e a outra, mais detalhada, no seu verso.
Note-se a legitimidade que Kern e Quevedo tentam dar a seus trabalhos, um se apoiando no outro. Destaquem-se as telas de número um e seis, que abandonam a semelhança formal – obviamente exagerada, mas que guarda o mínimo de verossimilhança entre as partes, uma vez que de fato algumas das formas de Brasília coincidem com as do Antigo Egito – e partem para uma comparação temática mais que esdrúxula. Primeiramente entre Akhenaton e Juscelino, percebidos em situação de intimidade, e, em segundo lugar, entre um barco movido a energia solar, no lago Paranoá de Brasília, e a barca solar egípcia, que navegava nas águas do rio Nilo (Fig. 13 a 18).
Encerram-se assim os argumentos de Kern, que vez ou outra são citados por adeptos do Vale do Amanhecer como forma de legitimar as suas crenças na sacralidade de Brasília e, por extensão, de conferir o
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 13515939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 135 31/01/2011 16:19:2131/01/2011 16:19:21
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante136
Fig. 13: a) “O faraó Aknaton dedicou sua vida a Aton (disco solar); Juscelino dedicou sua vida a Brasília”. b) “Akna-ton faraó da XVIII dinastia que fez a 1ª cidade planejada do mundo – Aton e Juscelino no mundo moderno, Brasília. Ambos viveram 16 anos, após suas cidades construídas e ambos tiveram morte violenta”.
Fig. 15: a) “A grande Pirâmide de Kéops e o Teatro Nacional de Brasília”. b) “A Grande Pirâmide de Keops no Vale de Giseh. Maior monumento de pedra, em forma piramidal construída em todo o mundo (2.600 a.C.); O Teatro Nacional, maior monumento de pedra em Brasília, com suas trinta e seis espécies de formas piramidais egípcias”.
Fig. 13 - Fonte: Kern (1991)
Fig. 14 - Fonte: Kern (1991)
Fig. 15 - Fonte: Kern (1991)
Fig. 14: a) “A catedral de Brasília está dentro da simbologia antiga”. b) “A Catedral dentro de sua simbologia com os profetas apostados à frente, bem como os deuses Set I do Antigo Egito, apostados frente ao Templo”.
mesmo caráter do auspicioso àquela comunidade religiosa e periférica que é o Vale do Amanhecer. Para os adeptos do Vale, o Egito está ali, bem mais próximo do que se poderia imaginar – e Brasília é um claro exemplo disso. Mas não exatamente da forma que propõem os estudos de Kern: afi nal, a doutrina tem a sua própria maneira de ver as coisas.
O adepto Bálsamo (jul. 1995), por exemplo, diz concordar com a ideia de que a cidade modernista em questão guarda mesmo “relações espirituais” com o Egito, mas adverte em tom crítico: “Eu acredito, sim, é claro, mas acho muito sensacionalista esse jeito dela [sic] falar de Bra-sília”. Outros, por sua vez, credenciam totalmente as palavras de Kern e a elas se referem com frequência, sem nenhum tipo de questionamento aparente, embora não as confundam com os fundamentos da doutrina.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 13615939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 136 31/01/2011 16:19:2131/01/2011 16:19:21
Capítulo 4 O Egito e o Vale do Amanhecer 137
Independentemente dos tipos de abordagens dos fi éis, o impor-tante é que o discurso de Kern serve à doutrina do Vale do Amanhecer, alimentando-a indiscutivelmente. É fato: a referida comunidade se iden-tifi ca com esse discurso, pois pretende que o Vale também guarde em sua memória uma herança gloriosa. Uma memória relacionada a personagens míticos e a feitos grandiosos, como é o caso dos faraós egípcios e de sua arte, religião e construções monumentais. Uma memória que dê a cada um dos frequentadores daquela doutrina, além do orgulho por tão rico e pomposo passado, não apenas uma explicação para suas inquietações e fl a-gelos cotidianos, mas, principalmente, um bom motivo para continuarem acreditando em dias melhores, deslocados para um futuro próximo.
É nesse sentido que as informações sobre o Egito encontradas no discurso de Kern irão se somar a outras, de procedências textuais variadas, na construção do texto da cultura, aqui chamado de o “Vale
Fig. 16 - a) ”A Pirâmide de degraus de Sakara e a Pirâmide de degraus da CEB”. b) “Pirâmide de degraus de Sakára no Egito. Construída pelo arquiteto I-Em-Hotep, na 3ª Dinastia – 2.650 A.C. a mando do rei Djoser. Servia como templo de Cura e para guardar energias Cósmicas; A Pirâmide de Degraus C.E.B. construída no século XX, em Brasília, com as mesmas medidas e dimensões da Pirâmide de Sakára, no A. Egito”.
Fig. 18: a) O barco solar nas águas do Nilo e o barco movido à energia solar nas águas do Paranoá”. b) ”O barco solar no Antigo Egito servia para o transporte do faraó e sua família, a tumba sagrada”; Em Brasília, o barco movido a energia solar, serve para fazer o passeio aos turistas, no Lago Paranoá”.
Fig. 17: a) “O Ramsium de Ramsés II está latente em Brasília”. b) “CNPq (Cen-tro Nacional de Pesquisas de Brasília) semelhante ao Ramsim de Ramsés, XIX Dinastia”.
Fig. 16 - Fonte: Kern (1991)
Fig. 17 - Fonte: Kern (1991)
Fig. 18 - Fonte: Kern (1991)
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 13715939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 137 31/01/2011 16:19:2131/01/2011 16:19:21
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante138
egípcio”. Sistemas como o espiritismo de origem kardecista, para quem o Egito tanto pode ser uma civilização privilegiada aqui na Terra, for-mada por interferência de um grupo espiritual em avançado estágio de evolução, como um lugar nefasto, repleto de feiticeiros malévolos – mas também a religião umbandista, para quem o Egito é uma importante civilização de onde se teria originado grande parte dos preceitos da-quele credo, ou, no caso da umbanda esotérica, também uma cultura exótica, atraente e cheia de mistérios a serem celebrados em tempos de Nova Era. Um último sistema, como não poderia deixar de ser, são os meios de comunicação, para quem o Egito interessa sobretudo por seu fascínio junto aos consumidores de seus produtos. É o que será abor-dado a seguir.
4.2. A civilização egípcia para o espiritismo e para a umbandaO Egito está claramente presente no espiritismo de origem kardecista. De acordo com os escritos de Chico Xavier (1945), de todos os exilados do planeta Capela, o grupo que veio constituir a civilização egípcia foi o que mais se destacou “na prática do bem e no culto da verdade”. Para Xavier, entre os degredados, eles eram os que menos possuíam débitos “peran-te o tribunal da justiça divina”. Sendo assim, o regresso de tais criaturas ao lugar de origem estava relativamente próximo. Fazia-se necessário, apenas, que eles trabalhassem em favor de suas evoluções espirituais en-quanto estivessem confi nados naquela última encarnação, no planeta de expiação chamado Terra. Seria então da saudade de Capela que nascera o tão propalado “culto à morte” entre os egípcios. “A sua vida era apenas um esforço para bem morrer”, advoga o autor.
Xavier fala sobre o “alto grau de iniciação” de que eram dota-dos os reis egípcios, “enfeixando nas mãos todos os poderes espirituais e todos os conhecimentos sagrados” (1945, p. 40). Daí as ricas oferendas e a ornamentação em seus túmulos de morte, como se dava no caso das pirâmides ou de ambientes santifi cados, dotados de um estranho mag-netismo, segundo o autor. Aliás, em se tratando de túmulos de morte, é curiosa a aproximação feita pelo líder espírita entre as suas ideias sobre o Egito e a descoberta da câmara mortuária do faraó Tutankhamon no Vale Sagrado – um acontecimento envolvendo mortes de várias pessoas que estiveram próximas do corpo do faraó ou de seu sarcófago e que resultou no desenvolvimento da famosa tese da “maldição da múmia”, como será visto mais adiante.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 13815939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 138 31/01/2011 16:19:2131/01/2011 16:19:21
Capítulo 4 O Egito e o Vale do Amanhecer 139
Para Xavier, as mortes foram ocasionadas por conta das “satu-rações magnéticas” situadas em torno da câmara mortuária do faraó. E mais: “[...] por isso é que, muitas vezes, nos tempos que correm, os avia-dores ingleses observam o não funcionamento dos aparelhos radiofôni-cos, quando as suas máquinas atravessam a limitada atmosfera do Vale Sagrado”.
A concentração de toda essa força no ambiente das pirâmides tem uma justifi cativa, segundo o autor: é que as pirâmides revelariam os conhe-cimentos mais extraordinários daquele grupo de espíritos “estudiosos das verdades da vida”. Segue a explicação dada pelo líder espírita Xavier:
[Nas pirâmides] encontram-se os roteiros futuros da humanida-de terrestre. Cada medida tem a sua expressão simbólica, com vistas ao sistema cosmogônico do planeta e à sua posição no sistema solar. Ali está o meridiano ideal, que atravessa mais con-tinentes e menos oceanos, e através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem, a distância apro-ximada entre o Sol e a Terra, a longitude percorrida pelo globo terrestre sobre a sua órbita no espaço de um dia, a precessão dos equinóxios [sic], bem como muitas outras conquistas cientí-fi cas, que somente agora vêm sendo consolidadas pela moder-na astronomia. (1945, p. 42).
Deve-se dizer que essa visão de um Egito evoluído e associado à prática do bem não é absolutamente comum a todos os que seguem o espiritismo de origem kardecista. Segundo Sidney M. Greenfi eld (1999), há uma vertente de espíritas que dizem ser o Egito não um lugar san-tifi cado, mas uma antiga moradia de sacerdotes e feiticeiros malévolos, todos praticantes de magia negra. Uma das pessoas a pensar desse modo, de acordo com o autor, seria um médium chamado doutor Lacerda. Gre-enfi eld descreve um encontro seu com o tal doutor. São suas as palavras:
O Dr. Lacerda fez uma pausa [...]. Explicou, então, que a maioria destes espíritos inferiores e malévolos se organiza em quadri-lhas, cujos líderes são feiticeiros que praticam a magia negra. O Antigo Egito, ele observou, era o lar de todos os feiticeiros. Qua-se todos os espíritos que a praticam hoje, encarnaram lá uma vez. (1999, p. 73-74).
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 13915939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 139 31/01/2011 16:19:2131/01/2011 16:19:21
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante140
No caso do Vale do Amanhecer, a primeira versão é a predo-minante, embora não seja exatamente ela a encontrada no discurso da doutrina e de seus adeptos, já que existe a ressignifi cação. A segunda ver-são sobre o Egito aparentemente não se encontra no que acredita a co-munidade, a não ser pela ideia de que muitos dos egípcios, por suas más atitudes no passado – e aqui caberiam as feitiçarias –, tivessem de en-carnar novamente e, no momento presente, para obter o perdão. Diante desse pressuposto, verifi ca-se que é da interação do credo instituído por Tia Neiva com esses dois discursos – fl uxo e contrafl uxo de informações referentes a um mesmo texto, o espiritismo de origem kardecista –, que mais uma vez se mostra a impossibilidade de a construção desse sistema cultural ter se dado de modo unívoco e linear.
No que se refere à religião umbandista e ao seu diálogo com a cultura egípcia, pode-se dizer que ela também é bastante importante para a confi guração sistêmica do Vale do Amanhecer. A umbanda de fato se constitui como um dos mais contundentes vetores de modelização daquela comunidade. É, por esse motivo, responsável pela presença de grande parte das informações relativas ao Egito entre os adeptos de Tia Neiva.
Sobre a relação do Egito com a umbanda, Maria Helena V. B. Concone afi rma que os umbandistas costumam buscar fora da África a origem mítica de tal sistema religioso. Segundo a autora, “são comuns as referências à ‘Índia milenar’, à ‘encantadora Pérsia’, ou ao ‘misterioso Egito’” (1987, p. 138), sendo que o último é frequentemente considerado por eles como o “foco irradiador de civilização por excelência”. Ao que tudo indica, no imaginário dos umbandistas, assim como no dos adeptos do Vale do Amanhecer, o Egito, embora situado no continente africa-no, encontra-se dele dissociado. No caso do Vale, em específi co, não se verifi ca uma predileção pelo Egito em relação à Índia e à Pérsia. O que se percebe é uma clara separação, dada entre um Egito exótico e avan-çado – principalmente centrado na imagem do Egito faraônico –, e uma África negra, tida por ambos os credos como primitiva, como observou Salgueiro (2003).
Do diálogo com a umbanda e sua relação com o Egito, o Vale do Amanhecer faz uma outra ressignifi cação. Trata-se da atribuição de palavras sobre a necessidade de Tia Neiva seguir os planos de Amon-Rá e Akhenaton, como demonstrado na epígrafe deste capítulo, a uma enti-dade de origem notadamente umbandista, chamada Mãe Yara. A cabocla tida como a alma gêmea de Pai Seta Branca, devido ao seu elevado grau
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 14015939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 140 31/01/2011 16:19:2131/01/2011 16:19:21
Capítulo 4 O Egito e o Vale do Amanhecer 141
de importância na doutrina, encontra-se representada com destaque, se-parada de outras entidades e em formato agigantado, no Solar dos Mé-diuns/ Estrela Candente (Fig. 19).
Pode-se dizer ainda que o Egito umbandista que chegou ao Vale certamente também lá se instalou por intermédio de um outro sistema religioso, derivado do primeiro como um subsistema seu, denominado de umbanda esotérica, uma vertente criada recentemente, a partir das relações estabelecidas entre alguns sistemas culturais – como a Nova Era e a cibercultura – com a umbanda propriamente dita2. É a mesma um-banda de fortes matizes advindas do catolicismo popular, do candomblé, de algumas crenças indígenas e do espiritismo de origem kardecista, con-forme afi rmam Fernando G. Brumana e Elda G. Martinez (1991)3.
Segundo André Ricardo de Souza e Patrícia Ricardo de Sou-za (1999), o termo “umbanda esotérica” foi forjado para dar conta da novidade dessa religião de procedimentos e concepções vinculadas à “Nova Era” e que aparece cada vez mais na Internet, em sites desen-
2 Trata-se a umbanda esotérica como um subsistema da umbanda propriamente porque, conforme alguns umbandistas (www.serfo.com.br/umbanda.htm), existiriam outros tipos de umbanda – na verdade, outros subsistemas também a ela internos, tais como: “umbanda traçada” ou “umbandomblé”, “umbanda iniciática”, “umbanda de caboclo”, “umbanda de pretos-velhos”, entre outros.
3 Segundo os autores, consta que a umbanda se organizou oficialmente nos anos 1920, por obra de um grupo de médiuns dissidentes do kardecismo.
Fig. 19 - Mãe Yara ao fundo/ Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 14115939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 141 31/01/2011 16:19:2131/01/2011 16:19:21
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante142
volvidos por comunidades criadas recentemente, ligadas aos cultos umbandistas das cidades do Rio de Janeiro, de Brasília e de São Paulo. Nesse sentido, se a umbanda esotérica, somente por ser umbanda, já mantém interlocução com o Egito, como mostrado anteriormente, considere-se agora o fato de ela também se relacionar com os esotéri-cos “neoerísticos”, para quem aquele país assume ares de uma notória e festejada sacralidade.
Considere-se ainda o fato de que esses grupos religiosos vincu-lados à Nova Era, desde os anos 1980, como exposto em capítulo anterior, assumiram em defi nitivo uma feição mercadológica, um modo de se si-tuar na contemporaneidade, cada vez mais facilitado pelo largo e rápido alcance de informações, suscitados inclusive pelo desenvolvimento da Internet. Talvez seja justamente daí que se origine a grande familiaridade desse tipo de umbanda também com o comércio de pirâmides, cruzes, imagens de deuses egípcios e de faraós, muitas vezes praticado nos sites – uma familiaridade possivelmente mais intensa do que a verifi cada na umbanda mais tradicional.
Admita-se então que, assim como o espiritismo de origem kardecista e a umbanda propriamente dita, a umbanda em sua verten-te esotérica também tenha chegado ao Vale do Amanhecer. Partindo--se desse pressuposto, nada mais se apresenta tão provável como a se-guinte ideia: a cidade modernista e as suas pirâmides encontram nes-ses textos culturais umbandistas uma possibilidade de identificação sistêmica e de diálogo, uma possibilidade de comunicação e tradução de informações entre as suas três fronteiras, que vão se relacionar com algumas outras e atuar junto ao sistema “Vale do Amanhecer” como vetores de modelização, como interventoras e doadoras de informa-ção na geração de parte do arsenal egípcio, encontrado na tessitura sígnica daquela comunidade.
4.3. O Egito e os meios de comunicaçãoO que há de Egito no Vale do Amanhecer também guarda relações estrei-tas com o Egito em geral veiculado pelos meios de comunicação. Tanto que as imagens mais comuns a esse país e a essa cultura – pirâmides, cruz egípcia, retratos de faraós, referências a Cleópatra, entre outros – estão naquela comunidade de modo mais ou menos estereotipado. Veja-se o caso da rainha Cleópatra, descrita como mulher ardilosa pelo historiador grego Plutarco e celebrada por seus encantos, beleza e poder tirânico por
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 14215939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 142 31/01/2011 16:19:2131/01/2011 16:19:21
Capítulo 4 O Egito e o Vale do Amanhecer 143
pessoas como os dramaturgos William Shakespeare e George Bernard Shaw, imagem que se propagou no campo das artes ao longo dos anos e que sobrevive ainda hoje, sobretudo nos meios de comunicação, na for-ma de estereótipo ou lugar-comum.
Platão reconhece quatro tipos de bajulação, mas ela tinha mil (Plutarco, apud HOBLER & HOBLER, 1987, p. 69); [...] Os ventos adoeciam de amor por ela (Shakespeare, apud HOBLER & HOBLER, 1987, p. 10); Eu farei rei todos os homens que amar, eu farei de você um rei. Terei muitos reis jovens, com braços grandes, fortes; e quando me cansar deles vou açoitá-los até a morte; mas você será sempre o meu rei; agradável, gentil, sensato, velho e bom rei. (Bernard Shaw, da peça César e Cleópatra, apud Hobler & Hobler, 1987, p.39).
No imaginário dos adeptos do Vale do Amanhecer, Tia Neiva foi rainha egípcia por duas vezes. Em uma de suas supostas encarna-ções, teria governado o Egito como Nefertiti, mulher de Akhenaton, o faraó instituidor do culto ao disco solar Aton4 e criador da cidade de Ekhenton, no vale de Tell-El-Amarna. Na outra, teria vindo à Terra como Cleópatra, rainha do período ptolomaico – a mesma Cleópatra que, apesar de usar sua beleza em favor do ardil e da tirania, teria conse-guido obter dos planos espirituais uma última oportunidade de expiar suas dívidas cármicas. Daí a sua última encarnação como Tia Neiva e sua árdua missão de fundar uma comunidade religiosa, em meio a inú-meras adversidades, com o objetivo de preparar a humanidade para a chegada do terceiro milênio.
É fato: todo o exotismo, a exuberância, o mistério e a forte carga de idealização que acompanham o povo egípcio, bem como sua arte, sua religião e sua história, despertam grande interesse nos que frequentam a doutrina do Vale do Amanhecer. O Egito tem algo de especial, e de muito caro àquelas pessoas, está bastante próximo de suas realidades – ao contrário do que alguns poderiam pensar, diante
4 De acordo com Traunecher (1995), nas cosmologias egípcias, quatro termos usuais designavam o Sol. Ra era o nome de uma posição, indicava o astro em sua plenitude zenital. Atum era o nome da situação transitória decrescente e crepuscular. Khépri, nome da situação transitória crescente, caracterizava o Sol levante em transformação contínua para o zênite. Por fim, Aton era o nome do Sol material, o disco luminoso que percorre o céu.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 14315939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 143 31/01/2011 16:19:2131/01/2011 16:19:21
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante144
da pouca instrução formal da clarividente e de grande parte dos seus seguidores.
Afora as informações sobre o Egito referentes a sistemas cultu-rais como a cidade de Brasília e as religiões espiritismo de origem karde-cista e umbanda, sobretudo a esotérica – todas elas relacionadas ao Vale do Amanhecer, como mencionado anteriormente –, atente-se ao que há de Egito nos meios de comunicação, obviamente bastante acessíveis aos adeptos. Por exemplo: o cinema, a televisão e os diversos fi lmes e séries neles veiculados, sobretudo nos 1960 e 1970, além de peças publicitárias audiovisuais, mas também as revistas em quadrinhos, os livros do tipo best-seller (romances, histórias de grandes civilizações, entre outros) e as publicações de cunho esotérico, como fascículos do tipo “Em sintonia com os mistérios das pirâmides”5.
Sabe-se que, vivendo o Vale no grande tempo da cultura, certa-mente há em sua composição textual informações sobre o Egito advindas de outros tempos e de outros sistemas de referência, uma vez que aquele país sempre interessou a pintores, escultores, dramaturgos, romancistas, poetas e outros, tanto do Ocidente como do Oriente. No entanto, há que se considerar que o apelo à civilização egípcia, sobretudo a do tempo dos faraós6, certamente sofreu um alastramento maior no imaginário das classes menos favorecidas com o advento do século XX e a consolidação da cultura de massa, paralelamente ao acontecimento de algumas desco-bertas arqueológicas.
O ano de 1922 foi um marco para esse fenômeno, por ocasião da descoberta da tumba do faraó Tutankhamon pelo egiptólogo inglês Howard Carter, fi nanciado pelo também egiptólogo britânico George Herbert, ou Lord Carnavon. Segundo se costuma ouvir (http://seudisco-very.com/mumias/feature6.shtml), uns poucos meses depois do desco-brimento, Lord Carnavon morreu no Cairo, vítima de erisipela desenvol-vida por picada de mosquito. Uma morte tida como estranha, visto que certos relatos indicam o apagamento de todas as luzes daquela cidade, no momento de seu falecimento. Simultaneamente, em sua casa na Ingla-terra, morria o cachorro favorito de Carnavon. Seis anos depois, Richard
5 Título hipotético.
6 Deve-se ressaltar que, antes mesmo dessa consolidação, o Egito já estava presente no cinema, mais especificamente centrado na figura da rainha Cleópatra. Veja-se o filme Cleópatra, de 1899, dirigido pelo francês George Méliès. Nos Estados Unidos, os filmes The passions of an Egyptian princess, de 1911, dirigido por Théo Frankel; Cleópatra, de 1912, dirigido por Charles L. Gaskill, e Cleópatra, de 1917, dirigido por J. Gordon Edwards.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 14415939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 144 31/01/2011 16:19:2131/01/2011 16:19:21
Capítulo 4 O Egito e o Vale do Amanhecer 145
Bethell, um dos ajudantes de Carter, morreu subitamente de uma doença circulatória, e Lord Westbury, pai de Bethell, suicidou-se.
Das mortes vinculadas a essa e a posteriores descobertas de tumbas egípcias, nasceu uma lenda sobre a maldição das múmias, in-clusive alimentada pelas declarações do escritor Arthur Conan Doyle e do egiptólogo Arthur Wiegall, que acreditavam em tal maldição (http://seudiscovery.com/mumias/feature6.shtml), além, é claro, de toda a carga de mistério e exotismo há muito vinculada àquele país e à sua cultura. Da confl uência desses fatores é que a maldição da múmia tornou-se um tema mais do que rentável para o mercado de livros, de histórias em qua-drinhos e de produções cinematográfi cas, sobretudo o dos gêneros “ter-ror” e “aventura” a serem comercializados a partir de então. O Egito caía defi nitivamente nas graças do grande público.
Jon Solomon (2001) é um dos a confi rmar a relação entre as descobertas arqueológicas e a realização de fi lmes sobre o Egito. Nos Es-tados Unidos, imediatamente após o achado da tumba de Tutankhamon, fi lmou-se Th e mummy, de 1932, dirigido por Karl Freund. Nessa tumba havia a imagem da barca solar egípcia7, que, segundo o autor, serviu de mote para os fi lmes norte-americanos Th e Egyptian, de 1954, dirigido por Michael Curtis; Land of pharaohs, de 1954, dirigido por Howard Hawks, e Valley of Kings, de 1955, dirigido por Robert Pirosh. Muitas outras produ-ções cinematográfi cas continuaram a ser realizadas em diversos países, para exibição no cinema ou na televisão.
Os temas costumam ser os mesmos: expedições arqueológi-cas seguidas do horror causado pelo ataque de múmias, como em Th e mummy’s hand, de 1940, dirigido por Christy Cabanne; Th e mummy`s tomb, de 1942, dirigido por Harold Young, e Th e mummy, de 1959; a pai-xão e os jogos de poder vividos pela rainha Cleópatra e os seus amantes em Oh! Oh! Cleopatra, de 1931, dirigido por Joseph Santley; Cleopatra, de 1934, dirigido por Cecil B. DeMille; Caesar and Cleópatra, de 1946, dirigido por Gabriel Pascal; Serpent of the Nile, de 1953, dirigido por William Castle; Cleopatra, de 1963, dirigido por Joseph L. Mankiewicz; e Th e notorious Cleópatra, de 1970, dirigido por Peter Perry – e, como não poderia deixar de ser, estórias bíblicas como Th e ten commandments, de 1956, dirigido por Cecil B. DeMille, narrando a vida de Moisés, príncipe do Egito.
7 A barca solar diz respeito a um rito funerário egípcio, no qual se dramatiza o mito da jornada do deus sol ao mundo inferior, conforme explicado no livro Mitos egípcios, de George Hart (1992).
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 14515939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 145 31/01/2011 16:19:2131/01/2011 16:19:21
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante146
Segundo Solomon (2001), dos fi lmes que retratam o mundo antigo, Cleopatra – interpretada por Elisabeth Taylor – e Th e ten com-mandments – com Yul Brynner no papel do faraó Ramsés II8, ao lado de Charlton Heston como Moisés – fi caram na história como dois entre os dez fi lmes longa-metragem de maior audiência. São produções cinema-tográfi cas grandiosas, que foram e continuam sendo exibidas no Brasil, arrebatando plateias devido não apenas à eloquência de seus diálogos, mas também à exuberância de seus fi gurinos e cenários, além do uso de atores e atrizes já consagrados no cinema dos anos anteriores em suas condições de mito e mercadoria do star system, conforme analisou Edgar Morin (1989).
Aliás, sobre um outro tipo de interferência do star system na confi guração semiósica do Vale do Amanhecer, vejam-se as seguintes fotografi as. Note-se como Tia Neiva posou exatamente como faziam as estrelas do cinema, sobretudo as dos anos 1940, 1950 e início dos 1960. Cabelos bem penteados, com leves ondulações; sobrancelhas alongadas; roupas e adereços aparentemente caros; uma notória intenção de seduzir, acentuada por um enquadramento que busca o glamour e a sensualidade no modo de posicionar as mãos, nos olhos semicerrados e no uso do batom de cor escura (Fig. 20).
Diante da constatação de tal semelhança, cabem as seguintes questões: não poderia então a clarividente ter se inspirado na imagem de uma Elizabeth Taylor para fantasiar a sua vida no Egito, no momento em que a primeira passou a acreditar ter sido a rainha Cleópatra? Afi nal, não teria sido a clarividente contemporânea de toda a estética e dos valores hollywoodianos já estabelecidos no Brasil antes mesmo dessa época, e a mesma Elizabeth Taylor um modelo de beleza a ser seguido, como aborda-do no segundo capítulo? Observe-se a maquiagem e o cabelo da Cleópatra, interpretada em fi lme homônimo pela referida atriz. É o próprio Solomon (2001) quem os percebe como estando sintonizados com a moda dos anos 1960, ao invés de retratarem os costumes egípcios (Fig. 21 e 22).
Outro fator a intensifi car a identifi cação de Tia Neiva com Cleópatra e do Vale do Amanhecer com o Egito foi certamente a ten-dência de se realizar novas adaptações cinematográfi cas das muitas his-tórias sobre povos antigos a partir dos anos 1960 e 1970, exatamente a
8 Como diz o próprio Solomon (2001), o fato de o faraó do filme The ten commandments ser Ramsés II não passa de uma invenção do diretor. Esse dado é bastante interessante para o presente trabalho, pois atesta uma ressignificação da história egípcia antes mesmo de ela chegar ao Vale do Amanhecer.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 14615939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 146 31/01/2011 16:19:2131/01/2011 16:19:21
Capítulo 4 O Egito e o Vale do Amanhecer 147
época de instituição de grande parte dos princípios doutrinários, como mencionado anteriormente. Conforme Solomon (2001), muitas dessas produções foram especialmente realizadas para serem exibidas na tele-visão. Sabe-se que muitas delas inclusive chegaram aos telespectadores brasileiros. Afora isso, houve também o grande sucesso de audiência conquistado pelas minisséries televisivas, especialmente em meados dos anos 1970.
Como exemplo de série de televisão, tem-se A poderosa Ísis (Th e mighty Isis), produzida nos anos 1975 e 1976 por Artur Nadel e outros nos Estados Unidos. A protagonista da série chamava-se Andréa Th omas, uma bela professora escolar de ciências que, em uma de suas incursões arqueológicas pelo Egito, teria encontrado o amuleto secreto da deusa Ísis. Obtendo os poderes da deusa, bastava Andréa pronunciar a expressão “poderosa Ísis” para se transformar na bela heroína, com capacidade de voar. A poderosa Ísis estaria a serviço do combate ao crime e, sempre que necessitava de alguma habilidade diferente para
Fig. 20 - Neiva em sua juventude/ Fonte: Álvares (1992)
Fig. 22 - Vestida com peitoral egípcio, Tia Neiva usa cabe-lo e sobrancelhas ao estilo dos anos 1960/ Fonte: foto de
Guilherme Stuckert
Fig. 21 - Elisabeth Taylor/ Fonte: Cleópatra, de 1963
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 14715939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 147 31/01/2011 16:19:2131/01/2011 16:19:21
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante148
tal, recitava versos com nomes de deuses egípcios. A série foi bastante vista por crianças e adolescentes brasileiros da época.
Passados os anos 1960 e 1970, o tema “Egito” não deixou de estar presente nos meios de comunicação. Aliás, ele continua sendo bastante utilizado em boa parte das manifestações da cultura de massa, como é o caso da brasileira. A título de ilustração, observe-se a quanti-dade de motéis, nas várias cidades e estados do País, com apelos ao país dos faraós. No que se refere à indústria fonográfi ca, atente-se para a música Faraó, cantada pelo grupo musical baiano Banda Mel, em plenos anos 1980. Pense-se também nos adereços dos fi gurinos de apresenta-ção em shows do cantor Carlinhos Brown, que tem uma música com o mesmo título.
No Brasil, tem-se uma verdadeira vulgata egípcia, explicitando o caráter nitidamente antropofágico e midiático do imaginário nacional. A esse modo de ressignifi cação da cultura do antigo Egito de uma for-ma criativa que lhe atribua signifi cados novos – não apenas no Brasil mas em qualquer lugar do planeta –, conforme Margareth Bakos, (2004), costuma-se chamar de egiptomania. É uma mania de retratar o Egito bas-tante fl agrante também em lápides e túmulos de cemitérios, fachadas de prédios comerciais, obeliscos postos em lugares públicos, como praças, decoração de interiores e jogos eletrônicos, entre outros9.
Valendo-se da recente publicidade brasileira, mais especifi ca-mente de um comercial de chester, Everardo Rocha dá um bom exemplo desse tipo de antropofagização do Egito pelos meios de comunicação: um autêntico exemplo de egiptomania. São suas as palavras:
[...] podemos fi car solidários com um esforçado “assessor do impé-rio romano” que aconselha a César, seu imperador, sobre a comida correta para um encontro íntimo com Cleópatra. Entre as iguarias sugeridas estão o “pectus defumadus de Chester”, “Chester lanche” e o “Chester Geórgia”. Esses pratos são “rapidus et saborosus” e farão Cleópatra “estar no papus”. (Rocha, 1995, p. 161).
No campo editorial, a recorrência ao Egito também continua bastante frequente. Há reedições brasileiras de títulos como O egípcio, do
9 No livro Egitomania: o Egito no Brasil, há vários exemplos desse tipo de manifestação. Um dos autores analisa inclusive a presença do Egito no âmbito da produção de livros para as escolas brasileiras e nas poesias de Manuel Bandeira, Machado de Assis, Cecília Meireles, entre outros.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 14815939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 148 31/01/2011 16:19:2231/01/2011 16:19:22
Capítulo 4 O Egito e o Vale do Amanhecer 149
fi nlandês Mika Waltari, e Antônio e Cleópatra, de William Shakespeare, obras de que se originaram os fi lmes homônimos, além de vários outros mais recentes, normalmente evocando a história, os grandes mistérios e a vida dos personagens mais notáveis da terra dos faraós, seja de manei-ra romanceada, seja sensacionalista ou mesmo baseada em pesquisas de cunho científi co – não estando necessariamente separados os três modos de se retratar o Egito10.
Se levarmos em conta a afi rmação de Ciro Flamarion S. Car-doso (1985), tal ideia se afi gura mais forte. Segundo o autor, nenhu-ma outra cultura da Antiguidade inspirou a elaboração de tantos livros destinados ao grande público. Talvez, em parte, pelo fascínio próprio a uma civilização que, apesar de inúmeras transformações, manteve--se impávida em características essenciais que a defi nem. Outra razão poderia ser a nostalgia de um mundo secularizado por elementos cul-turais do Egito faraônico, em particular a realeza de caráter divino e a religião funerária tão elaborada, com sua obsessão milenar pelo renas-cer e pela imortalidade.
4.4. Uma encarnação entre os egípciosNo caso da comunidade de Tia Neiva, como era de se esperar, pode-se dizer que o renascimento e a imortalidade são noções também preciosas à sua doutrina. Obviamente, não do modo como elas se deram no tempo do Egito faraônico, embora o Vale se nutra de alguns aspectos da histó-ria, da cultura e da religião dos faraós para tecer a sua, como se pretende demonstrar ao longo deste capítulo.
Como se sabe, entre os egípcios, a noção de imortalidade, expres-sa no costume da mumifi cação, assumia ares de monumentalidade com a construção de pirâmides, no Antigo Império, e com a criação de tumbas e santuários no Vale dos Reis – defi nido por Rick Weeks (2002) como o céle-bre local de sepultamento dos faraós do Novo Império, no auge do poderio militar egípcio. Foi lá, aliás, onde se encontrou a múmia de Tutankhamom.
10 São alguns dos títulos recentemente colhidos na cidade de São Paulo, seguidos de suas classificações dadas pelas livrarias: As memórias de Cleópatra, em três volumes, de Margaret George (literatura); Asterix e Cleópatra, de Gascinny e Uderzo (literatura/ quadrinhos); Antônio e Cleópatra, de William Shakespeare (literatura); Akhenaton: a revolução espiritual do Antigo Egito, de Roger B. Paranhos (religiões/ espiritismo); O egípcio, de Mika Waltari (literatura); Nefertiti e Akhenaton: o casal solar, (literatura); Ramsés, o filho da luz, em cinco volumes (literatura) e O templo de milhões de anos (literatura), O mundo mágico do Antigo Egito (história), A sabedoria viva do Antigo Egito (história) – sendo os cinco últimos de Christian Jacq; Magia e divinações do Egito Antigo, de Eleanor L. Harris (esoterismo); Arquivos psíquicos do Egito, de Hermínio Miranda (crenças); O Egito secreto, de Paul Brunton (crenças).
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 14915939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 149 31/01/2011 16:19:2231/01/2011 16:19:22
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante150
Nesse caso, tanto no que se refere às pirâmides como ao Vale dos Reis, a ên-fase na imponência arquitetônica é também fundamental para os adeptos do Vale do Amanhecer. Vide as dimensões do templo Solar dos Médiuns/ Estrela Candende – onde inclusive se situam alguns esquifes e uma pirâmi-de – e a grandiosidade dos rituais nele realizados (Fig. 23 e 24).
Na comunidade criada por Tia Neiva, “Vale dos Reis” é o nome atribuído a um conjunto de esquifes feitos em concreto e pinta-dos nas cores azul ou amarelo – rodeando um pequeno lago artificial com o formato de estrela, cujo centro porta uma base triangular com a escultura de uma elipse –, sobre os quais os adeptos se deitam em determinado momento do ritual. Localizados os esquifes nas proxi-midades da pirâmide do Solar dos Médiuns/ Estrela Candente, seria exatamente nesse local, durante o ritual da Estrela Candente, onde haveria a doutrinação de espíritos já desencarnados – aqueles que, de tão perigosos e disformes, não poderiam se fazer presentes nos traba-lhos do templo principal.
A faixa vermelha pintada sobre cada um dos esquifes, tanto os azuis como os amarelos, tem o signifi cado de demarcação de território. A área a ela posterior é reservada a entidades bastante evoluídas11, que supos-
11 Esses espíritos são os “cavaleiros”, entidades responsáveis pela captura dos espíritos pouco evoluídos e por sua condução ao Vale do Amanhecer.
Fig. 23 - Vista dos esquifes durante o ritual da Estrela Candente/ Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 15015939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 150 31/01/2011 16:19:2231/01/2011 16:19:22
Capítulo 4 O Egito e o Vale do Amanhecer 151
tamente mantêm os espíritos pouco iluminados/evoluídos presos no local por meio de um campo de forças magnéticas. Tais criaturas são normal-mente associadas pelos fi éis aos túmulos e aos cemitérios – daí a vinculação efetuada por eles entre o “Vale dos Reis”, uma determinada “rua dos mor-tos” e os “esquifes” do local. Nas palavras do médium Moraes:
Oh, fi lha, [...] esquife dá muito a ideia de morte, né? De túmulo, e tem a ver com os espíritos [...]. Aqueles esquife representa o Vale dos Reis [...]. É o cemitério onde as pessoas se enterram. O Vale do Reis era justamente onde os faraó, aquele povão se en-terra, eram o Vale dos Reis. Ali, por exemplo: você sai, [...] você vê aquela vinheta que tem cheia de esquife por aqui. Ali chamava--se... Tia chamava muito pra nóis: rua dos mortos, né? A rua dos mortos. (dez. 1996).
O Egito está no Vale também na forma de uma pirâmide, como dito há pouco. Situada às margens de um lago artifi cial, ao invés de gran-des blocos de pedra, ela foi feita em concreto armado. Sua função nada tem a ver com a de servir de túmulo aos corpos de faraós, mas de servir à prática da meditação dos fi éis e à captação de energias cósmicas, suposta-mente emanadas dos planos espirituais. Entre um ritual e outro, segundo
Fig. 24 - Lateral da pirâmide/ Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 15115939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 151 31/01/2011 16:19:2231/01/2011 16:19:22
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante152
Bálsamo, os seguidores de Tia Neiva entram na pirâmide na busca de se energizar e de refl etir sobre os problemas da humanidade, bem como os seus próprios. São palavras do adepto:
A pirâmide é uma sala de estar. É como se você tivesse na sala de estar de Pai Seta Branca. É um momento pra repouso... Não é o repouso do corpo [...]. Lá você consegue o repouso da alma [...]. Tudo nela é favorável a um campo de recepção energética que favorece o equilíbrio psíquico. (jul. 1995).
Enquanto meditam no interior da pirâmide, os fi éis permane-cem na companhia de pinturas de várias entidades da doutrina, como caboclos, pretos-velhos e médicos do espaço. Mas também de uma foto de Tia Neiva, vestida de preto e adornada com um peitoral brilhante se-melhante ao egípcio, além dos bustos em alto relevo da rainha Nefertiti e de imagens e fotografi as dos faraós Tutankhamon e Akhenaton.
Segundo a doutrina de Tia Neiva, Tutankhamon e Akhenaton12 seriam entidades bastante evoluídas espiritualmente – tanto que teriam encarnado na Terra como esses dois importantes faraós. Diante disso, se em tempos passados tais entidades vieram à Terra como governantes notáveis (tanto que seus nomes fi caram registrados na história), no Vale elas atualmente exercem os papéis de mestres espirituais e de regentes de energias, voltadas para os trabalhos ritualísticos. Personagens ilustres da doutrina, Tutankhamon e Akhenaton têm os seus nomes frequentemente evocados nas orações dos fi éis e as suas imagens pintadas e comercializa-das pelo adepto Vilela.
Além, é claro, e como já dito, de eles terem exibidas suas imagens e fotografias em lugares como a pirâmide. Mas não só: há um outro local onde se veem as imagens e fotografias desses faraós. Trata-se do “Castelo Cruz do Caminho”, localizado no lado direito do Templo Principal, logo na entrada. O referido local constitui-se de uma pequena sala, usada pelos adeptos como uma espécie de san-tuário. Nela se encontram uma foto em tamanho maior da máscara mortuária de Tutankhamon, originalmente exposta no Museu do Cai-ro, e uma outra foto menor de um busto esculpido, segundo afirmam alguns dos fiéis, do faraó Akhenaton. Ao lado das duas, como mostrei em um outro estudo (Cavalcante, 2000), está um retrato fotografa-
12 Para a história oficial egípcia, segundo George Hart (1992), Tutankhamon é filho de Akhenaton.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 15215939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 152 31/01/2011 16:19:2231/01/2011 16:19:22
Capítulo 4 O Egito e o Vale do Amanhecer 153
do de Tia Neiva, idêntico ao da pirâmide mencionada, numa clara referência às supostas encarnações da clarividente como Nefertiti e Cleópatra (Fig. 25).
O mais interessante nisso tudo é o lugar onde estão expostas as referidas fi guras. Na verdade, ele nada tem de egípcio. Parece mais um altar cristão. Some-se a isso o fato de Tia Neiva ter pendurada no peitoral de seu traje uma cruz, também cristã. Outro fato curioso é que a foto atribuída a Akhenaton, na verdade, é a foto do sarcófago do fa-raó Ramsés II, exposta no Museu do Cairo, aquele que, segundo Rick Gore (2002), em toda a história do Egito, foi quem mais entalhou sua imagem em esculturas e seu nome em pedra – o mesmo Ramsés retra-tado pelo poeta inglês Shelley como símbolo da tirania e do egoísmo desenfreados.
As cores predominantes no local são o amarelo e o dourado, ali postos como referência ao sol egípcio e, consequentemente, às fi guras de seus faraós. Como lembra Erik Hornung, “os egípcios acreditavam ver-dadeiramente na natureza solar do faraó. Como o Sol, ele ‘resplandece’ através dos monumentos mandados construir em todo o país [...]” (1994, p. 255). Nesse sentido, tanto as cores brilhantes dos relevos dos templos
Fig. 25 - Castelo Cruz do Caminho/ Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 15315939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 153 31/01/2011 16:19:2231/01/2011 16:19:22
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante154
quanto o ouro que recobria a cúspide dos obeliscos e de outros elementos arquitetônicos, somados às superfícies polidas e preciosas das estátuas de pedra, expressariam o fulgor do ‘rei solar’. Assim como a luz criadora, o faraó daria forma ao mundo, fazendo esse mesmo mundo resplandecer para os seus súditos.
No Antigo Egito, como lembra Traunecker (1995), faraós e deuses raramente foram representados de mãos vazias. Segundo Bakos (2001), em geral portavam a cruz alada Ankh, signifi cando “vida”, e o “cetro-uas”, como símbolo do poder divino. No caso do Vale do Ama-nhecer, não há o cetro, mas pode-se afi rmar que aquela mesma cruz egípcia é usada pelos adeptos com o objetivo de compor os seus ricos trajes cerimoniais. Muitos deles usam, em seus dedos, anéis com a ima-gem da referida cruz, curiosamente chamada por Tia Neiva e seguido-res de “cruz de ansanta”. Outros fi éis a trazem nas costas de suas roupas de falange, como é o caso das “muruaicys”.
Uma falange que, assim como as “arianas” e as “dharmo--oxinto”, teria a história de seus componentes diretamente ligada a uma encarnação entre os egípcios. No entanto, conforme material colhido por Márcia Regina da Silva (1999), somente nos cantos reser-vados a essas três falanges há passagens em que são feitas menções ao Egito. Assim, enquanto as muruaicys cantam “Portanto, viemos das planícies Macedônicas, passamos pelos Andes, Esparta, Egito, Grécia, Roma e compartilhamos nossos destinos cármicos nessa jornada há mais de 3 mil anos”, assim fazem as arianas: “[...] as arianas, através do seu canto na individualidade, invocam o poder dos faraós e do rico Vale dos Reis em busca de suas heranças e suas origens que partem dos grandes oráculos Ramsés, Aknaton e Amon-Rá, onde elas têm um grande compromisso”. Note-se a identificação dos dois faraós e do deus egípcio com a palavra “oráculo”, definido pelos adeptos como um centro espiritual de energia. (1999, p. 116, 143).
O canto das dharmo-oxinto, por sua vez, tem um aspecto niti-damente narrativo, trazendo informações importantes da história, após terem passado por um processo de ressignifi cação. Detecta-se aqui uma clara interferência dos conhecimentos provavelmente mais acadêmicos de Mário Sassi, dada a riqueza de detalhes com a qual o referido canto foi elaborado. Repare-se também na menção feita nesse canto a outras personalidades da história egípcia e na explicação da suposta origem do nome “Cruz do caminho” que, no templo do Vale, diz respeito à já
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 15415939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 154 31/01/2011 16:19:2231/01/2011 16:19:22
Capítulo 4 O Egito e o Vale do Amanhecer 155
mencionada sala com características egípcias. Eis o canto das dharmo--oxinto:
No antigo Egito, à época de Ramsés II, o grande Deus era Amon-Rá, o Deus Sol, mas o povo rendia seu culto a Hórus, o Deus-Falcão, representando a força da Terra, filho de Ísis, a Lua, e Osíris, o Sol. Horibe, a suma-sacerdotisa de Hórus em Karnak, era a princesa Aline reencarnada. Naquela época, o povo não entrava nos templos. Somente sacerdotes e sacerdotisas e os faraós tinham acesso aos recintos sagra-dos. O povo aguardava, do lado de fora, a manifestação dos deuses. E havia um grupo de sacerdotisas de Hórus, lide-radas por Horibe, que com a ajuda de Nerfetari, a esposa do faraó Ramsés II, realizava grandes fenômenos entre aquela gente, portando energias maravilhosas, fazendo curas fí-sicas e desobssessivas [...]. Pela grande energia de que era portador, esse grupo de sacerdotisas, liderado por Horibe, desempenhou importante papel no decorrer dos tempos, encarregando-se dos primeiros passos iniciáticos, conduzindo os mestres a serem consagrados pela Iniciação de Osíris. Quando a rainha exilada [Nefertari] saiu da Grécia, tendo sido poupada sua vida por interferên-cia de Pytia (uma das encarnações de Tia Neiva), como se revive hoje no Turigano, ela foi para um palácio na região delta do Nilo. Ali, se dedicou à cura de todos os necessitados que a procuravam, dando-lhes abrigo, e marcando na trilha, a entrada para o palácio, com uma cruz. Era a Cruz do Cami-nho! [...] [grifos meus]. (Silva, 1999, p. 143).
Há um ritual no Vale do Amanhecer chamado “Trabalho ini-cial de leito magnético”, realizado no Templo Principal. Esse ritual foi descrito pelo médium Álvares (1977) como o trabalho em que são evo-cadas as forças espirituais do Egito Antigo. Interessa perceber como as referências àquele país estão nele misturadas a muitas outras, no caso mais frequente, de procedência cristã, e de um modo um tanto quanto novelesco. Tomem-se as falas pronunciadas por dois adeptos, no mo-mento da realização do referido ritual, atentando-se mais uma vez para os grifos em negrito:
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 15515939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 155 31/01/2011 16:19:2231/01/2011 16:19:22
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante156
Adepto 1: Venho emitir meus poderes, da energia do meu povo, do povo que me confiaste, da força de Akhenaton, de Amon-Rá, dos Ramsés do rico Vale dos Reis. Digo, Jesus, das minhas heranças, dos meus amores e do meu amor. Dai-me forças Jesus meu mestre, para que eu possa repartir neste instante, esta grandeza absoluta que em breve ocor-rerá em todo o meu ser, fazendo eu me encontrar comigo mesmo. Jesus! Estes laços que me competem, que vêm dos mundos encantados de Deus Pai Todo Poderoso, vêm juntar--se ao meu atom, ao meu atom, na sua divina graça. Reino dos encantados, das heranças que tanto suspiro e invoco nesta bendita hora... Neferttiti, que rompestes os misté-rios do deus-Rá, denunciastes os tesouros das esfinges e sofrestes as paixões dos faraós, desencantes aqui todas as dores e enfermidades, dai luz aos cegos e retiras o mal dos nossos corações [...]
Adepto 2: Oh! Poder! Oh! Perfeição! Nesta bendita hora eu peço a força de Ahkenaton e Amon-Rá que suas bênçãos, suas heranças se convençam em nós, e por esta simplicidade que temos em nossos corações emito este mantra: Pai nos-so que estás no céu e em toda parte, santifi cado seja o teu santo nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua von-tade assim na Terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, senhor e perdoe nossas dívidas se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixei cair em tentações, mas livrai-nos do mal, porque só em ti brilha a luz eterna, a luz do reino da glória e do po-der, por todos os séculos dos séculos sem fi m. [grifos meus] (Álvares, 1977, p.77).
Em outro ritual, desta vez realizado não no interior do Tem-plo Principal, mas à frente do Turigano e da Estrela de Neru, chama-do de Alabá, verificou-se a referência ao Egito. Oficialmente, são os pretos-velhos as entidades a incorporar nesse trabalho mediúnico. No entanto, pode-se perceber que a fala dos aparás muitas vezes nada têm a ver com a dos pretos-velhos comuns, como é o caso das observadas no trabalho dos tronos (ritual citado em capítulo anterior). Algumas
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 15615939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 156 31/01/2011 16:19:2231/01/2011 16:19:22
Capítulo 4 O Egito e o Vale do Amanhecer 157
delas se parecem mais com o castelhano, outras trazem um sotaque do português lusitano e outras ainda são completamente ininteligíveis – algo que certamente se aproxima do fenômeno da glossolalia13.
Dona Iracir, médium da doutrina, ao falar sobre tal variedade de idiomas, explica: “Algumas dessas entidades só incorporam na roupa-gem de preto-velho, mas elas são mesmo é espanholas, peruanas, portu-guesas... Não dá para achar que são só pretos-velhos, não” (maio 1994). Sobre as falas não inteligíveis ou glossolálicas citadas, uma adepta que assistia ao ritual do Alabá, com o nome de Socorrinha, sendo por mim questionada sobre a procedência de tal estranheza, afi rmou: “ela fala es-tranho assim porque tá falando a língua dos egípcios, a língua de Akhe-naton e Tutankhamon. É por isso que quase ninguém entende o que ela diz, viu?” (maio 1994).
Por fi m, cabe ainda mostrar o trecho de uma conversa que Tia Neiva teria tido com seu ex-marido, na qual se pode verifi car o cruza-mento de informações concernentes ao Egito, mais especifi camente a Ne-fertiti e Cleópatra, com algumas relativas à fi cção científi ca14. Segundo consta, Tia Neiva contou a Mário Sassi sobre uma viagem que realizara na companhia de um espírito chamado Tião. Dentro de uma chalana, ao passar sobre o rio Nilo, a clarividente lembrara emocionada de seu passa-do entre os egípcios. O acontecimento foi assim descrito por Sassi:
A chalana, invisível, saiu da influência de Capela e penetrou no etéreo da Terra, materializando-se na proporção em que se aproximava da superfície. Neiva, indiferente aos proces-sos, tinha olhos apenas para a paisagem da Terra, iluminada pelo Sol. Tião, naturalmente acostumado com o ângulo de
13 A glossolalia pode ser descrita como um fenômeno originalmente místico em que se produz uma língua desprovida de significação linguística a partir do arrebatamento do êxtase religioso. Para saber mais sobre o assunto, consultar os livros Línguas de anjos: sobre glossolalia religiosa e Glossolalia, voz e poesia, ambos de Antônio Wellington de Oliveira Júnior (2000, 2004).
14 Assim como o Vale do Amanhecer, os meios de comunicação apresentam-se como um terreno fértil para o hibridismo, o que mais uma vez leva a se pensar no diálogo da comunidade com eles. Como exemplo desse tipo de hibridismo entre a ficção centífica e o Egito, veja-se o caso do filme Stargate, a chave para o futuro da humanidade (Stargate), de 1994, dirigido por Roland Emmerich. O roteiro fala de um arqueólogo e sua descoberta de um planeta misterioso, onde tudo se parece com o Egito. Esse filme diz ainda que a civilização egípcia terrena foi formada a partir dos conhecimentos que antigos alienígenas, de avançados graus de evolução, teriam conferido aos homens. Gallactica, astronave de combate (Battlestar gtallactica), de 1978, dirigido por Richard A. Colla, é um outro filme em que o Egito se mistura à ficção científica – assim como aos filmes de caubói, como dito no último capítulo. Afora a cidade com pirâmides e também um obelisco, há de se reparar nos capacetes dos pilotos de naves e como eles se assemelham aos tecidos com listras normalmente usados pelos faraós em suas cabeças.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 15715939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 157 31/01/2011 16:19:2231/01/2011 16:19:22
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante158
visão que aquela altura proporcionava, ia identificando os pontos por onde passavam. Apontou para uma longa fita prateada que cortava uma superfície amarelada e informou-a ser o rio Nilo. A paisagem pareceu familiar a Neiva e ela sen-tiu inexplicável aperto no coração. Sentiu que recordações nítidas lhe subiam à memória e sua angústia aumentou. Sim, ali ela vivera e fora uma rainha! Ali fora importante e realizara grandes coisas [...]. No Egito fora poderosa, senhora de exér-citos! (s/d, p.146)
Perceba-se a naturalidade com que os adeptos do Vale as-sociam Tia Neiva ao Egito, sua cultura e seus personagens ilustres. Tendo uma natureza mítica, a narrativa de que Tia Neiva, ao viajar em uma chalana sobre o rio Nilo, conseguiu rememorar sua vida na-quele país como rainha poderosa, senhora de exércitos, assume ares de uma estória mais do que verdadeira para os fiéis da doutrina. Um mito que facilmente ecoa entre aquelas pessoas porque, sobretudo, assumiu uma feição familiar aos adeptos no seu constante dialogar com sistemas vizinhos que, embora sendo externos ao Vale, com ele guardavam algum grau de aproximação e, consequentemente, capaci-dade de trocar informações.
Como já dito, tal é o caso da cidade de Brasília e de suas construções piramidais, principalmente no que diz respeito à sua abordagem pela esoterista Iara Kern, relacionada à religiosidade “Nova Era”; também o espiritismo kardecista e a umbanda, inclusive a esotérica, e, por fim, o Egito veiculado pelos meios de comunicação tradicionais – todos eles aqui percebidos como sistemas modelizan-tes15 que, de uma forma ou de outra, acabaram por atuar junto ao Vale
15 Como afirma Irene Machado, “Os sistemas modelizantes podem ser entendidos como sistemas de signos, como conjunto de regras (códigos, instruções, programas) para a produção de textos no sentido semiótico amplo e como tonalidade de textos e suas funções correlatas. Nesse sentido, todos os sistemas semióticos da cultura são a priori modelizáveis; prestam-se ao conhecimento e explicação do mundo” (2003, p. 167-168). Vale dizer que os estudos dos semioticistas russos ou semioticistas da cultura, em um primeiro momento, apontam para a ideia de que o modelo primário de modelização é a linguagem natural, enquanto todos os demais são secundários. Nesse sentido, segundo Machado, os sistemas modelizantes secundários usam a linguagem natural como material, uma vez que todos eles são construídos em analogia com as linguagens naturais (elementos, regras de seleção e combinação, níveis); estas, por sua vez, funcionam como metalinguagem universal de interpretação. Em uma formulação mais recente de tais estudos, nos quais a natureza passou a ser vista como que “costurada” à cultura, a condição de ser a linguagem um sistema modelizante primário passou a ser relativizada. Nessa direção, Irene Portis-Wiener advoga que “em meio à vasta rede semiótica que liga o homem com outros humanos, animais e o meio físico circundante, para os semioticistas da cultura, a linguagem não passa de um sistema modelizante secundário”. (1994, p. 160).
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 15815939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 158 31/01/2011 16:19:2231/01/2011 16:19:22
159
do Amanhecer. Concluindo, acredita-se ser da interação do Vale com esses três sistemas que surgiu uma espécie de “inspiração” por parte daquela comunidade, ao trazer para si, e de modo ressignificado, a pirâmide, a cruz alada egípcia, as imagens dos faraós Tutankhamon e Akhenaton e as referências a diversas personalidades egípcias, entre outros elementos.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 15915939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 159 31/01/2011 16:19:2231/01/2011 16:19:22
160 Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 16015939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 160 31/01/2011 16:19:2231/01/2011 16:19:22
161
Um Vale do Amanhecer indígena
O Grande Jaguar era um especialistana construção de pirâmides.(Amanto apud Sassi, 1977a)
Capítulo 5
O Vale do Amanhecer fala de povos indígenas andinos, mesoamericanos, brasileiros e norte-americanos, todos eles expostos a uma forte aura mítica e aparentemente lá chegados por intermédio de sistemas como os folhetos de agências de turismo e lembranças adquiridas nas viagens – assim como da religião umbandista, da religiosidade Nova Era e também dos fi lmes e séries de faroeste, veiculados no cinema e na televisão. O interessante é que, no Vale, esses mesmos índios também dizem respeito a informações referentes a naves espaciais, a seres de outros planetas, a faraós e a pirâmides egípcias, entre outros. Tudo isso ocasionado por o “Vale indígena” ser um texto, no qual a tessitura a ele imanente, sendo híbrida, dá-se a realizar de modo dialógico e complexo. É o que será visto neste capítulo.
5.1. Entre povos andinos e mesoamericanosAfora as supostas encarnações entre os equitumans e os tumuchys, há uma terceira ainda não relatada, bastante importante para o mito de fundação do Vale do Amanhecer. Trata-se da encarnação daqueles adeptos entre os jaguares, um povo mítico com características indígenas pré-colombianas, mais especifi camente relacionadas às culturas da região dos Andes, na América do Sul, como é o caso da civilização incaica. Pai Seta Branca, ou o “Grande Jaguar”, teria sido o líder desse povo, fato que fez que a palavra “jaguar” se estendesse a todos os seguidores de Tia Neiva do sexo masculino.
Segundo a doutrina, Pai Seta Branca teria vindo à Terra em duas vezes anteriores. A primeira, como São Francisco de Assis; a
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 16115939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 161 31/01/2011 16:19:2231/01/2011 16:19:22
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante162
segunda como um cacique também andino, embora de origem mestiça e já convertido ao cristianismo. Um cacique mais próximo à imagem do caboclo da umbanda, não apenas por sua mistura racial e princípios religiosos cristianizados, mas também por ele se chamar “Lança Branca” entre os seus supostos aldeões indígenas, e “Pai Seta Branca” para os “planos espirituais” – nomes igualmente próximos da nomenclatura umbandista. Veja-se o que contam os adeptos sobre essas encarnações:
O JaguarPassados cinco mil anos, na versão de Bálsamo Álvares (1991b), a Terra já se encontrava totalmente povoada, as montanhas e os mares dominados, uma tarefa tomada a cargo pela civilização dos equitumans. Além disso, toda a energia cósmica do sistema planetário havia sido captada, graças ao desempenho dos cientistas tumuchys. Faltaria então, segundo o adepto, o disciplinar de todos os habitantes da Terra e, para esse fi m, teriam vindo os jaguares, cujo símbolo universal era a fi gura estilizada dos felinos.
Em outra versão sustentada pelos adeptos, conta-se que os jaguares teriam surgido entre os próprios tumuchys que habitavam a região andina, e, novamente liderados por Pai Seta Branca, chamavam-no de o “Grande Jaguar”, devido a sua força e sagacidade de guerreiro, além de sua efi ciência em lidar com processos químicos e físicos, conforme expus em um outro trabalho (Cavalcante, 2000). “O Jaguar-chefe, o Grande Jaguar, foi o espírito que habitava o corpo hercúleo de um jaguar que depois, muito tempo depois, chamou-se Seta Branca”, afi rmou Álvares (1991b, p. 9).
Francisco de AssisDe acordo com Álvares (1991b), diversas civilizações continuaram a sur-gir e a desaparecer, sempre em ciclos de dois mil anos. Com o nascimento de Jesus, porém, e a consequente instauração do “sistema crístico”, Pai Seta Branca despiu-se de sua roupagem de guerreiro e encarnou nova-mente na Terra, desta vez como um santo da Igreja Católica. Divulgando única e exclusivamente o amor e o livre-arbítrio entre os habitantes do planeta, teria vivido na Itália como São Francisco de Assis. Isso não o afastara, contudo, de seu passado cármico, como afi rma o autor. Mesmo nascendo em território europeu, Pai Seta Branca traria marcas deixadas pelas encarnações anteriores, como foi o caso de seu passado indígena, como o grande jaguar.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 16215939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 162 31/01/2011 16:19:2231/01/2011 16:19:22
Capítulo 5 Um Vale do Amanhecer indígena 163
O Cacique Lança BrancaNo século XVI, segundo Álvares (1991b), Pai Seta Branca estaria encar-nado no planeta Terra como um cacique mestiço de um povo também andino, da região fronteiriça entre o Brasil e a Bolívia. “Era alto, bron-zeado, feições altivas e tinha o olhar penetrante dos espíritos veteranos do planeta”, afi rmou o adepto. Nessa época, ele seria também conhecido pelos seus contemporâneos como Cacique Lança Branca, devido à alvura da ponta de sua lança, a qual passou a caracterizá-lo e o tornou uma per-sonalidade lendária.
Para Álvares (1991b), Lança Branca lutava pela paz e pela salvação dos povos andinos, trazendo no olhar a bonança dos seres iluminados pelo amor crístico e pela sabedoria de Jesus. Tais características o teriam feito persuadir os espanhóis de desistirem do extermínio às últimas aldeias incas, uma vez mostrada a “supremacia do amor sobre a força bruta”, conforme o autor. Tempos depois, teriam sido esses mesmos amor e sabedoria cristãos os responsáveis pela escolha de Tia Neiva como sua substituta na missão de preparo da humanidade para a chegada do terceiro milênio, resultando, assim, na criação do Vale do Amanhecer.
* * *
Dito isso, importa agora frisar que, ao falar de seu passado indígena, os adeptos do Vale não se restringem às encarnações vividas entre os jaguares e os aldeões de Lança Branca na região de fronteira entre Brasil e Bolívia. Muitas vezes eles também se referem aos equitumans e aos seus descendentes mais diretos, os tumuchys – supostamente estabelecidos em locais como o Peru e o Egito. Lugares como México e demais países da Mesoamérica1 também foram mencionados nos escritos de Tia Neiva e de seus seguidores, sendo explícita a associação dos equitumans, dos tumuchys e dos jaguares com dois povos mesoamericanos importantes, habitantes daquela região: os maias e os astecas.
Sendo assim, para os seguidores de Tia Neiva, os equitumans, os tumuchys, os jaguares, os aldeões de Lança Branca, os egípcios, os incas, os maias e os astecas estão intimamente ligados. Seja por herança cármica – no caso de uns serem a reencarnação de outros –, seja por afi nidade espiritual – povos contemporâneos, todos descendentes dos equitumans –, nada mais banal para a doutrina do Vale que o fato de o grande especialista 1 A Mesoamérica é constituída por México, Guatemala e Belize.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 16315939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 163 31/01/2011 16:19:2231/01/2011 16:19:22
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante164
em pirâmides, ou o grande jaguar, ter se deslocado de sua moradia na América até o Egito. Conforme afi rmação de um espírito chamado Amanto, registrada em livro por Sassi (1977), o objetivo era ele prestar uma espécie de assessoria à construção de pirâmides no referido país.
De fato as pirâmides egípcias, assim como as maias e as astecas, para os que seguem a doutrina de Tia Neiva, têm o mesmo princípio. São centros de manipulação de energia, algo como usinas de força. Nesse sentido, conforme Sassi, as coincidências entre as pirâmides das Américas e as do Egito se devem a “uma ampla troca de informações e experiências nas construções de ambos os lados”, uma vez que “ali se concentravam os grandes cientistas para a conjugação de suas forças psíquicas, como hoje se reúnem os médiuns nos templos iniciáticos”. E mais: “ali se concentravam os conhecimentos e a documentação dos planos planetários, os instrumentos básicos e os meios de comunicação”. (1977, p. 190, 195).
Para além das pirâmides e das narrativas já mencionadas, a doutrina do Vale do Amanhecer guarda outras informações relativas às culturas andinas e mesoamericanas. Constituindo o sistema/ texto “vestuário do Vale do Amanhecer” há, por exemplo, dois textos menores, portadores de informações específi cas aos maias; são eles: a falange feminina das mayas e a masculina dos príncipes (maias).
No que concerne à primeira, segundo Márcia Regina da Silva (1999), Tia Neiva pouco falou. Fez apenas alusão aos sacrifícios de virgens guerreiras, realizados na época da existência de tal civilização, localizada na penísula de Yucatan, México. Nesse sentido, as adeptas integrantes da falange das mayas simbolizariam as “virgens do sol”. Segundo a clarividente, elas teciam suas vestes com retalhos coloridos, devido à situação de pobreza em que viviam – daí o fato de as roupas das mayas do Vale serem feitas de panos de variadas cores.
Outra questão importante é que, mesmo não havendo propriamente uma estória da referida falange, visto que Tia Neiva morrera antes de supostamente receber o seu canto dos planos espirituais, há um relato colhido por Silva bastante interessante do ponto de vista das ressignifi cações pelas quais passou a civilização maia na doutrina do Vale. Observem-se as criações na referida narrativa mítica a partir do estabelecimento de relações sistêmicas do Vale com outros textos da cultura, por exemplo, com o espiritismo kardecista e a fi cção científi ca. O relato é quase todo ele feito de ressignifi cações, como se pode detectar
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 16415939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 164 31/01/2011 16:19:2231/01/2011 16:19:22
Capítulo 5 Um Vale do Amanhecer indígena 165
a partir das menções feitas a “Capela”, às “amacês” e a um “macacão especial cheio de tubinhos energéticos”.
Segue o texto:
A civilização maya foi uma de nossas ricas e tristes reencarnações, na penísula de Yucatan, no México, onde tínhamos um desenvolvimento material e científi co superior ao de hoje, com amplo controle da energia atômica. Havia o homem-pássaro, que voava por todas as direções com um macacão especial cheio de tubinhos energéticos. Entre os mayas, grandes sábios recebiam instruções diretamente de Capela [...]. Em sua ambição, pretenderam capturar uma das amacês que passavam em vôo rasante, projetando a energia de Capela para aquele povo, mantinham aquelas áreas livres de certos animais que aterrorizavam o homem, traziam instruções, porém sem atravessar o nêutron2. Só que aprisionaram uma amacê errada, que produziu a desintegração de toda aquela civilização. (1999, p. 119)
No caso dos príncipes mayas, eles chegaram a receber de Tia Neiva, por escrito, a estória de sua falange, que em praticamente nada se parece com a do relato imediatamente exposto. Embora se tratando do mesmo povo histórico, há uma clara distinção entre essa narrativa mítica e a anterior, sem falar nas diferenças nas indumentárias3 e nas atribuições ritualísticas, entre outros, de cada uma dessas falanges. Ou seja, verifi cam-se aqui dois textos distintos da cultura, que se referem praticamente à mesma coisa, mas a partir de relações, intensidades e pontos de vista diferenciados.
Repare-se, por exemplo, como a religião católica, com suas alusões a um Deus único e à imagem do dilúvio destruidor, por desafi o aos preceitos divinos, está presente nessa narrativa sobre os maias, ao contrário do que acontece com relato da falange maya feminina. Outro dado interessante é que, enquanto para a falange feminina os mayas viviam na penísula de Yucatán, para a masculina, eles habitariam “todo o continente americano”.
2 Substância que separa o plano terrestre (físico) do plano etéreo (espiritual).
3 Aparentemente não há nenhuma alusão mais direta aos maias propriamente ditos na indumentária dos príncipes.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 16515939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 165 31/01/2011 16:19:2231/01/2011 16:19:22
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante166
Dos escritos mimeografados de Tia Neiva, Silva colheu o seguinte material:
Uma certa tribo que habitava todo o continente americano, que se espalhava em uma enorme civilização – povo que hoje denominamos povo de yucatán – cresceu a sua ciência a ponto de desafi ar a sua própria natureza, esquecendo os poderes de Deus [...]. Deus em seu reino, em seu plexo, porque o homem reconhece que foi anunciado o dilúvio! Porque o homem tem a certeza de que, naquela era distante, o sol se escondeu, arrebentou a trovoada e as águas, caindo do céu, arrastaram para o oceano toda a imundície daquela incomparável substância sem valores para o etéreo [...]. (1999, p. 133-134).
Deixando o vestuário e a estória das falanges um pouco de lado e voltando-se a atenção para um Pai Seta Branca, também percebido como texto/ sistema da cultura, vale dizer que a codifi cação verbal, seja oral, seja escrita, juntamente com a visual, é, sem dúvida, a de maior força no ato de portar informações relativas às culturas andinas e mesoamericanas. Ao que parece, os demais códigos (tanto cinéticos como sonoros), mesmo em permanente diálogo com os primeiros, sendo de importância fundamental nessa formação, são basicamente secundários. Contudo, para efeito de exposição neste trabalho, em um primeiro momento, deter-se-á sobre o código verbal, para em seguida se analisar o visual e suas relações com os demais códigos.
Embora pudesse ouvir e ver espíritos, teria sido a partir da fala – mítica, porque fundante – que Tia Neiva recebeu de Pai Seta Branca as informações de sua missão na Terra e foi instruída pelas entidades na construção do Vale do Amanhecer. Pela palavra foram por ela revelados, a toda comunidade, uma cosmogonia e uma cosmologia4 próprias à doutrina e organizados os rituais, bem como a concepção física do local – dizeres que eram passados aos adeptos por meio de palestras, conversas informais e cartas, sendo mais tarde organizados e editados em livros, folhetos e apostilas. Foi também pela palavra, em seus supostos encontros com a clarividente, que Pai Seta Branca teria contado, entre 4 Seguindo a definição de Marc Augé (1978), a cosmologia é um conjunto de crenças e de conhecimentos,
um saber compósito que abrange o universo natural e humano, ao passo que a cosmogonia é a parte da cosmologia centrada na criação do mundo, expondo, sob a forma de mitos, as origens do cosmos e o processo de formação da sociedade.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 16615939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 166 31/01/2011 16:19:2231/01/2011 16:19:22
Capítulo 5 Um Vale do Amanhecer indígena 167
outras estórias, a sua própria, que fala de incas, maias e astecas e que assume, pelo mecanismo da ressignifi cação, uma feição e características singulares, marcadas pelo inesperado e pelo status de pura criação.
A crença de que os equitumans se estabeleceram na região dos Andes e foram sepultados na área do atual lago Titicaca, dando origem inclusive à formação do referido lago como resultante de “uma lágrima da Estrela Candente”, conforme exposto no terceiro capítulo, mostra bem esse aspecto de ressignifi cação. O lago Titicaca é de fato uma referência importante para alguns povos andinos, seja por seu aspecto socioeconômico – relativo à moradia e à atividade da pesca –, seja em seu aspecto mítico. Segundo Tom R. Zuidema (1991), há uma narrativa que conta como Manko Kapác, fundador da dinastia dos reis incas, chegou a Cusco, capital do império inca. Nessa versão, ao invés de ele ter supostamente surgido, juntamente com seus três irmãos, de uma gruta, como relata Henri Favre (1988), o herói civilizador e ancestral mítico do povo mencionado, apareceu pela primeira vez no mundo como nascido do lago Titicaca.
Para a doutrina de Tia Neiva, dos equitumans teriam surgido os tumuchys e, com eles, a cidade de Machu Picchu, outras cidades situadas no México, a Ilha de Páscoa e as pirâmides do Egito, conforme dito no segundo capítulo. O interessante é que, no Vale do Amanhecer, apenas Mário Sassi recebeu a designação de tumuchy, o Mestre/ Trino tumuchy
Fig. 1 - Totem do Vale do Amanhecer/ Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 16715939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 167 31/01/2011 16:19:2231/01/2011 16:19:22
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante168
que tem em sua cadeira cativa no templo principal a representação pictórica totêmica criada pelos adeptos. Tal fi gura de fato se assemelha às imagens produzidas pelas culturas pré-colombianas, mas há que se considerar a sua modelização por outros textos da cultura, como é o caso dos totens de alguns dos índios norte-americanos (Figura 1).
Outra referência de procedência pré-colombiana presente no Vale do Amanhecer é a cidade de Machu Picchu, o famoso santuário inca. Nas narrativas míticas dos seguidores de Tia Neiva, as ruínas dessa cidade nada mais seriam que provas da existência da civilização tumuchy que, assim como a dos incas, segundo Favre (1988), eram constituídas por hábeis artesãos, grandes astrônomos, matemáticos e arquitetos – para os adeptos, a fachada de pedras do templo principal, que traz os símbolos do sol, da lua e da fl echa de Pai Seta Branca, é uma clara menção a Machu Picchu e às demais cidades dos povos andinos e mesoamericanos (Fig. 2).
Se, segundo Favre (1988), os pré-incaicos chavín (1800-400 a.C.) cultuavam o jaguar, no Vale do Amanhecer a fi gura desse felino não é menos importante. Para os seguidores de Tia Neiva, como já dito, Pai Seta Branca encarnou na Terra como o “Grande Jaguar”, líder extremamente respeitado por sua coragem, astúcia e conhecimentos científi cos, enquanto no Vale o nome “jaguar” se estende, ainda, a todos os adeptos do sexo masculino, como uma forma de rememorar as façanhas do notável guerreiro e de reconhecê-los, também, como valentes e integrantes, em uma outra vida, do grupo comandado por Pai Seta Branca.
Fig. 2 - Fachada do Templo Principal/ Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 16815939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 168 31/01/2011 16:19:2231/01/2011 16:19:22
Capítulo 5 Um Vale do Amanhecer indígena 169
A fi gura do jaguar, por ser a de um animal das regiões andina e mesoamericana, também faz parte do repertório mítico-totêmico de outros povos, como os olmecas (1200-400 a.C.). Estes, segundo Paul Gendrop (1996), ao ultrapassarem o estágio do simples xamanismo, criaram uma mitologia poderosamente dominada por um semi-humano, semifelino, o “homem-jaguar”. O animal, por suas habilidades, também foi associado, como afi rma o autor (1996), a certo príncipe da civilização maia (200-900 d.C), chamado “Garra de Jaguar”, cujo reino teria durado de 378 a 425 d.C., e a um outro, chamado “Pássaro-Jaguar”, cuja estória está registrada em inscrições glífi cas que remontam ao ano 525 d.C. Entre os astecas (1428-1521 d.C.), por sua vez, segundo Jacques Soustelle (1987, p. 31), existiam os “Cavaleiros-Jaguares”, os soldados do deus Tezcatlipoca, uma ordem importante em uma sociedade guerreira na qual a religião e a educação viam na carreira militar uma possibilidade de prestígio.
Há um aspecto interessante entre as narrativas míticas dos astecas, que é o da associação entre o jaguar, o sol e o seu oposto: a noite. De acordo com Soustelle (1987), os astecas acreditavam que o mundo fôra precedido por quatro outros universos, os “Quatro Sóis”, dentre os quais o primeiro chamava-se “Quarto-Jaguar”. Esse sol teria desaparecido em um gigantesco massacre, no qual os homens haviam sido devorados por jaguares. Segundo ele, entre o referido povo, o jaguar correspondia a Tezcatlipoca, deus das trevas e do céu noturno pontilhado de estrelas, tal qual a pelagem do felino. Vale dizer ainda que os astecas eram, por excelência, o “Povo do sol” e que, conforme Soustelle (1987), em suas origens já adoravam o deus solar e tribal Uitzilopochtli.
O sol era também adorado pelos incas (1200-1572 d.C.), com o nome de Inti. Viracocha, seu oposto complementar, foi também uma divindade importante para o panteão incaico. Estava associado à terra e à água e foi, para os habitantes de Tiahuanaco, segundo Busto (1998), o criador dos homens. De acordo com Ferreira (1995), Viracocha era o deus criador e civilizador do universo; após terminada sua obra, partiu pelo mar em direção ao oeste, estando, assim, associado à costa marítima.
Já o Sol – deus principal e fonte da vida – teve seu culto difundido e imposto a todas as comunidades conquistadas nos Andes centrais. De acordo com Wachtel (apud Busto, 1998), Sol e Viracocha são deuses complementares por traduzirem as categorias do pensamento inca, além de entrarem em um sistema de correlações e oposições. Ao
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 16915939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 169 31/01/2011 16:19:2231/01/2011 16:19:22
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante170
Sol referem-se o céu, o fogo, a serra e o alto; a Viracocha, a terra, a água, a costa e o baixo. São partes de uma visão global do mundo, formada a partir de uma mesma cosmogonia que comporta indivíduos bem como as dimensões de espaço e tempo.
Tal correspondência entre Sol e Viracocha parece explícita na representação geralmente atribuída ao segundo – ou a um de seus protótipos, conforme Michael Coe, Dean Snow e Elizabeth Benson (1996) –, nas ruínas de Tiahuanaco, na área boliviana, próxima ao lago Titicaca. De cabeça quadrangular, contornada por uma auréola formada por raios e um rosto que parece humano, o deus ocupa o centro da famosa Porta do Sol, importante monumento do mundo andino. Está em posição frontal e segura um par de báculos, com forma de condores de pescoços compridos, mostrando-se adorado por 48 pequenas criaturas. Nesse caso, o Sol e o provável Viracocha estão unidos não apenas em termos de narrativa, mas também de iconografi a, pelos raios que circundam a cabeça do último (Fig. 3 e 4).
Essa fi gura, desde os anos 1960, vem sendo divulgada em folhetos de agências de turismo, principalmente os voltados para o turismo esotérico e para as demais publicações e produtos ligados à Nova Era5. Talvez por esse motivo ela guarde uma forte semelhança com imagem do jaguar do Vale do Amanhecer, estando presente nas insígnias e nas roupas dos fi éis, bem como em algumas paredes de locais importantes à comunidade6 – afi nal, não estaria aquela comunidade em consonância
5 No filme Eram os deuses astronautas? (Erinnerungen na die zukunft), de 2004 (versão brasileira), dirigido por Harald Reinl, Erich von Daniken aponta para essa divindade como sendo a imagem de um extraterrestre.
6 O médium Bálsamo exibe na parede de seu escritório uma lembrança trazida de viagem por um amigo com a representação de tal divindade.
Fig. 4 - Viracocha/ Fonte: www.magicperu.comFig. 3 - Porta do Sol / Fonte: www. magicperu.com
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 17015939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 170 31/01/2011 16:19:2231/01/2011 16:19:22
Capítulo 5 Um Vale do Amanhecer indígena 171
com esse tipo de religiosidade e, consequentemente, com todo o mercado com ela envolvido, já nos anos de constituição de sua doutrina?
Assim como em Tiahuanaco, a figura do jaguar do Vale também é apresentada em perspectiva frontal . No entanto, não tem um corpo. Resume-se a uma cabeça em forma quadrangular, semelhante à do provável deus Viracocha. Essa cabeça, assim como a original, é também circundada por feixes de luz que lembram raios solares, embora eles sejam coloridos, como os do arco-íris. Tal semelhança é legitimada inclusive pelo adepto Vladimir Carvalho ao se referir ao jaguar do Vale: “é um jaguar estilizado [...], se você for no altiplano boliviano, na Porta do Sol, você vai encontrar essa cabeça [...]” 7 (jun. 1995) (Fig. 5).
A associação Viracocha/ jaguar é uma criação dos adeptos do Vale do Amanhecer, que tem como base um relativo conhecimento da iconografi a não apenas andina, mas pré-colombiana de um modo geral. De fato, a imagem do jaguar é constantemente representada na arquitetura e nas artes dos povos mencionados. Cusco, a capital do império inca, em seus primórdios tinha a forma de um puma – felino da família do jaguar –, da qual a fortaleza de Sacsahuan seria a cabeça, enquanto a confl uência dos dois rios que atravessam a cidade formaria a cauda, como afi rma Favre (1988); no Museo de La Nación e no Museo del Oro, ambos em Lima, pode-se encontrar algumas representações, sobretudo de divindades pré-incaicas, com formas híbridas8. Na maioria
7 Vale dizer que essa imagem, assim como outras de deuses semelhantes, são vendidas aos turistas, como lembranças do Peru.
8 Tais afirmações baseiam-se na visita que a autora fez ao Peru em julho de 1996.
Fig. 5 - Jaguar estilizado do Vale do Amanhecer/ Fonte: pintura de Vilela
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 17115939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 171 31/01/2011 16:19:2231/01/2011 16:19:22
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante172
dos casos, verifi ca-se uma mistura de traços humanos com os de um jaguar, podendo-se verifi car, também, a presença de animais alados.
Entre essas fi guras, pode-se ver a Estela de Pacopampa, com a imagem de um homem-felino, e as Cabeças Clavas, encrustadas nas paredes exteriores do templo como representações de divindades maiores ou sacerdotes em transe, no momento da conversão do deus-jaguar – ambas presentes no acervo da cultura Moxeque (pouco mais de 500 d.C). Da cultura chavín – que já adoravam o sol e a lua –, pode-se ver a representação do Lanzón de Chavín, um ser mitológico com corpo de homem e cabeça de jaguar (em atitude feroz), que deve ter sido um dos mais importantes dessa cultura, haja visto ser essa uma imagem de culto bastante antiga.
A imagem do sol, juntamente com a lua, também é uma constante nas fi gurações do Vale do Amanhecer, estando representados em muitos lugares, inclusive sobre o templo principal da comunidade. Considerados como divindades entre grande parte dos povos mencionados, no Vale o sol e a lua são elevados à categoria de “astros-guia” da doutrina. As cores que os representam são sempre o amarelo ou o dourado e o azul ou o prateado, respectivamente.
Enquanto a lua é associada ao princípio feminino, entre os adeptos o sol é visto como centro de energia vital do universo. Simboliza o Oráculo de Ariano – foco irradiador de energia –, também conhecido como Oráculo de Simiromba ou Oráculo de Pai Seta Branca. Esses nomes signifi cariam “raízes do céu”, ou “sete raízes universais”, que, segundo os fi éis, são as responsáveis pela presença de forças que auxiliam na libertação dos espíritos desencarnados que por algum motivo permaneceram ligados ao planeta Terra. Para os adeptos, Pai Seta Branca é representado pela base do sol, enquanto os sete raios simbolizam os sete orixás, entidades regentes de energia a ele subordinados: Arakém, Adones, Oner, Eridam, Alufã, Akhenaton 9 e Delan.
Na iconografi a do Vale do Amanhecer, Pai Seta Branca, ou Cacique da Lança Branca, se lembrado em sua última encarnação, é sempre um índio de aparência bonita, jovem e altiva10. Veste-se com uma
9 Veja-se como Akhenaton é exposto aqui a partir de uma nova ressignificação, possibilitada pelo diálogo do Vale do Amanhecer com a umbanda. De faraó egípcio ele passa a entidade de luz e regente de energia, chamada pelos adeptos, tanto do Vale quanto da umbanda, de orixá. Essa entidade, por sua vez, entre os seguidores de Tia Neiva, também se encontra vinculada a um espírito de procedência indígena – no caso, Pai Seta Branca.
10 Qualidades descritas por Álvares, como mostrado anteriormente.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 17215939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 172 31/01/2011 16:19:2231/01/2011 16:19:22
Capítulo 5 Um Vale do Amanhecer indígena 173
túnica azul, um cocar longo e usa sandálias de couro. Tem olhos puxados, pele morena e segura com as duas mãos uma fl echa de seta (ponta) branca, como indicado em seu próprio nome – relação que evidencia um nítido diálogo entre os códigos verbal e visual (Fig. 6).
O nome Pai Seta Branca e suas atribuições estão diretamente ligados ao que Lotman e Uspenski (1981) referem-se ao tratar do tipo de semiose do mundo mitológico, quando a comparam ao processo de nominação. Nessa concepção, em que “o nome diz o ser”, na qual existe uma real identifi cação do nome com a coisa nomeada, há a ideia de uma não convencionalidade dos nomes (sobretudo os próprios) e de sua condição ontológica. Nesse caso, como afi rmam os autores, “se se assumir como ponto de vista o desenvolvimento da semiose, a consciência mitológica pode entender-se como ‘a-semiótica’” (1981, p. 136). Os autores afi rmam que a não convencionalidade, ideia característica do mundo mitológico, percebe no signo não o caráter de atribuição, mas o de reconhecimento. O ato de nomeação, por sua vez, iguala-se ao ato de conhecer.
Nesse sentido, se para o olhar do pesquisador a designação Pai Seta Branca traz a memória de um texto em constante movimento,
Fig. 6 - Pai Seta Branca/ Fonte: pintura de Vilela
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 17315939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 173 31/01/2011 16:19:2231/01/2011 16:19:22
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante174
que guarda e produz sobre a estruturalidade de textos anteriores, para os adeptos, por sua vez, o que ela traz em si vinculada é o próprio conhecimento, revelação ou desvelamento de vidas passadas da entidade mencionada. Tal nomeação fala de sua condição de guerreiro (por conta da fl echa e da postura altiva) e de líder pacifi sta (devido à sua condição de cacique, ao nome “Pai” e à cor da ponta da fl echa “branca”). Guerreiro principalmente em sua fase de indígena andina/ mesoamericana e líder pacifi cador, sobretudo após o ano do nascimento de Jesus, ou a suposta instauração do “sistema crístico”, como o santo Francisco de Assis ou o mestiço Cacique da Lança Branca.
O texto Pai Seta Branca andino/ mesoamericano pode ser percebido, ainda, em sua codifi cação cinética. Segundo os adeptos, a referida entidade incorpora em alguns rituais do Vale do Amanhecer, como é o caso da Benção de Pai Seta Branca, realizado no primeiro domingo de cada mês, e o Oráculo, executado nos dias de quarta-feira, sábado e domingo (dias de trabalho ofi cial). Há também uma benção anual, concedida pela entidade no dia 31 de dezembro, por ocasião da passagem do ano.
Falando em um espanhol bastante rudimentar, o espírito, supostamente incorporado no corpo de um fi el, apresenta, invariavelmente, um semblante, um gestual e um tom de voz tranquilos. Essa manifestação só se dá após o cumprimento de preceitos rigorosos por parte dos adeptos. Os rituais do Vale são extremamente complexos: exigem a presença de um grande número de fi éis, devidamente paramentados e conhecedores de uma organização minuciosa, em que palavras, cantos, gestos e movimentos são rigidamente pré-estabelecidos. Esses rituais, aliás, encontram-se descritos em ricos detalhes em um dos livros editados pela comunidade e mostram, em sua constituição, a íntima relação entre os códigos verbal, visual, sonoro e cinético.
No caso do ritual do Oráculo, por exemplo, para que se dê a incorporação da referida entidade, é necessário que seja organizada uma corte de adeptos, composta por, no mínimo, doze médiuns. De acordo com Álvares (1993), de uma forma bastante resumida, o ritual tem início com a saída da corte do Castelo do Silêncio11, a qual deverá passar pela estátua de Pai Seta Branca até chegar à entrada do Oráculo12.
11 Os castelos são pequenas salas do templo principal, destinadas às funções administrativas ou de culto. No caso do Castelo do Silêncio, tem-se um espaço exclusivamente para meditação.
12 O Oráculo de Pai Seta Branca seria o castelo onde ocorrem as incorporações da referida entidade.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 17415939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 174 31/01/2011 16:19:2231/01/2011 16:19:22
Capítulo 5 Um Vale do Amanhecer indígena 175
Lá, o ritual divide-se em seis momentos que culminam, respectivamente, na incorporação e na desincorporação de Pai Seta Branca. No quinto momento, por exemplo, uma ninfa-sol13 dirige-se aos fundos de uma cabine para fazer o convite à presença de Pai Seta Branca. No último, ao fi m da incorporação, o comandante volta-se para a entidade e em voz baixa diz: “Meu Pai, está na hora de desincorporar o aparelho [corpo do médium], o senhor está de acordo?” (Fig. 7 e 8).
Das mensagens deixadas por Pai Seta Branca ao fi nal de cada ano, pode-se retirar alguns trechos que se referem ao seu passado indígena, bem como aos de seus médiuns entre as culturas pré-colombianas. São eles, conforme Álvares (1991b, p. 17-31): “Filhos do Amanhecer, que já atravessastes a pesada coroa de espinhos e a glória dos mártires: levantai e 13 Enquanto o adepto do sexo masculino é chamado de jaguar, o do sexo feminino, por sua vez, recebe
a denominação de ninfa. A designação sol diz respeito a um tipo de mediunidade de doutrinador, voltada para o ensinamento dos preceitos da doutrina, seja aos demais fiéis, seja aos supostos espíritos; o tipo lua seria o médium de incorporação, ou apará.
Fig. 7 - Oráculo de Pai Seta Branca/ Fonte: da autora
Fig. 8 - Estátua de Pai Seta Branca (ao fundo) / Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 17515939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 175 31/01/2011 16:19:2231/01/2011 16:19:22
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante176
edifi cai, pois vosso planeta exigiu a volta do jaguar. Desenvolvei as vossas mentes e rebrilhai a ciência dos tumuchys [...]” (31 dez. 1974); “Porque só agora, fi lhos, foi permitido o jaguar no limiar do terceiro milênio. Jaguar, fi lho jaguar [...]” (31 dez. 1977)”; “Data natalícia do triste naufrágio de poderosas civilizações [...]. Sim, fi lhos, a desintegração, as grandes dores dos maias [...]” (31 dez. 1980)”.
Fazendo uma nova ligação entre o verbal e o cinético e estabelecendo sua relação com o código sonoro, há um canto da comunidade que, segundo Álvares (1991a), atua como um chamado à referida entidade. Pai Seta Branca, ao ouvir tal canto, facilitaria seu deslocamento dos planos espirituais para o plano físico. “Divino Seta Branca/ Tu és a lei de Deus/ Imaculado sejas tu/ Juntinho aos pés de Jesus/ Seta Branca querido por nós/ Tu és o Amor e és a luz/ Que iluminas os tiranos corações/ Erguendo seus fi lhos a Jesus”.
Mas não é apenas o canto criado pela comunidade que, segundo os adeptos, refere-se a Pai Seta Branca. Há, para seus devotos, uma outra forma de musicar a entidade. Uma nova modelização, entre as tantas já apresentadas, que se verifi ca a partir da tradução de uma tradição estranha à entidade indígena, em algo inesperado e de fácil leitura entre os adeptos. Com a introdução de um não texto no texto estudado, ou seja, no índio andino/ mesoamericano Pai Seta Branca, novas confi gurações surgiram e, com elas, uma semiose inesperada, inaudita: a apropriação de uma música de Caetano Veloso (o não texto) pelos fi éis do Vale do Amanhecer como uma referência direta à entidade em questão.
Sobre esse assunto, Maria Cristina Martins (2000) afi rma que Ana, uma mulher adotada pela clarividente, fala da época em que o artista baiano foi recebido por Tia Neiva no Vale do Amanhecer. Depois de conversar longo tempo com a clarividente, Caetano Veloso teria ido visitar o templo de pedra (ou templo principal). A emoção de ver a imagem de Pai Seta Branca, ali, diante de seus olhos e em grandes proporções, teria sido tão grande que ele compôs, em homenagem àquela entidade, a música Um índio, cuja letra se encontra em nota de rodapé no capítulo dois.
De fato, como diz a autora, “a canção de Caetano põe em evi-dência o personagem central mais sagrado da doutrina do amanhecer, o cacique inca Pai Seta Branca, cuja imagem está sentada no centro do tem-plo de pedra, impávido, tranqüilo e infalível, preservado em pleno corpo físico, a esperar a entrada da nova era” (Martins, 2000, p. 2). Um índio
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 17615939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 176 31/01/2011 16:19:2331/01/2011 16:19:23
Capítulo 5 Um Vale do Amanhecer indígena 177
que, ao incorporar nos fi éis do Vale do Amanhecer, fala, inclusive, um espanhol bastante rudimentar, em alusão ao seu passado entre os nativos colonizados na época de Colombo.
Desse modo, se na canção de Caetano Veloso, um índio descerá de uma estrela colorida brilhante e pousará no coração do hemisfério sul na América, de acordo com Martins:
Para os seguidores da doutrina do amanhecer, o índio é o Pai Seta Branca, cacique inca, mentor espiritual da Tia Neiva. A estrela colorida e brilhante é a Estrela Manhante, lugar onde vivem os espíritos mais evoluídos que descem ao Vale do Amanhecer para trabalhar incorporando nos médiuns, com a fi nalidade de promoverem a cura do espírito [ou seria a Estrela Candente?]. O coração do hemisfério Sul da América, o ponto eqüidistante entre o Atlântico e o Pacífi co, o centro do mundo, lugar predestinado para se encontrarem os que se preparam para a entrada do terceiro milênio é o próprio Vale do Amanhecer. (2000, p. 2).
E mais: se, na música de Caetano Veloso, no momento em que o índio descer, o que se revelará aos povos surpreenderá a todos não por ser exótico, mas pelo fato de “poder ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio”, signifi ca, segundo Martins (2000), referindo-se aos adeptos, que Pai Seta Branca descerá para encerrar o milênio e que levará consigo os seguidores da doutrina do Amanhecer para Capela, no Astral Superior, onde não mais terão a necessidade de encarnar e onde não mais perecerão de dor e sofrimento. Assim, com a chegada de Pai Seta Branca ao planeta Terra, na visão dos fi éis, será aplicada a lei da evolução dos espíritos e, como profetizaria a música de Caetano Veloso, tudo o que antes parecia pertencer ao ocultismo mostrar-se-á como o óbvio14.
5.2. Índios brasileiros e caboclos da umbandaNos coletes dos uniformes de alguns dos adeptos está um broche, conhecido como “arma”, com o nome “Xingu 7 autorizado”. Segundo os adeptos, esse distintivo poderá ser adquirido no caso de o mestre 14 É importante salientar que, para os seguidores da doutrina, a passagem do milênio, embora diga
respeito à época atual, não corresponde ao exato momento e data estipulados pelo calendário júlio-gregoriano. O tempo do Vale é um tempo sagrado, tem um ritmo próprio, distinto do profano. Desse modo, a chegada de Pai Seta Branca ainda está por acontecer.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 17715939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 177 31/01/2011 16:19:2331/01/2011 16:19:23
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante178
ou a ninfa ter participado, no mínimo três vezes consecutivas, do ritual “Sessão Branca”, realizado mensalmente no templo principal da comunidade. Nesse ritual, contam os fi éis, ocorre a incorporação de espíritos de índios vivos brasileiros no médium apará, além da troca da energia das matas, a ser revertida em favor do Vale, com as do médium doutrinador, que deverá instrui-los nos preceitos da doutrina.
Ao tratar da Sessão Branca, Álvares (1977) explica aos seus leitores a suposta origem daquele ritual. Esclarece que Xingu é o nome de um rio afl uente do Amazonas, nascido no estado de Mato Grosso e de aproximadamente 1.980 quilômetros de extensão. Diz ainda que, em algumas regiões situadas ao longo daquele rio, existiam tribos que até pouco tempo não mantinham nenhum tipo de contato com o homem branco. Mesmo nos dias atuais, segundo ele, esse relacionamento “é cuidadosamente mantido sob o manto da prudência”.
Dessas várias tribos, Álvares afi rma terem sido identifi cadas duas por Tia Neiva como contemporâneas da civilização dos jaguares, dois povos rivais atualmente “reencarnados nessa primitiva condição por suas necessidades cármicas na lei de causa e efeito”. Diante disso, a clarividente teria feito algumas visitas a esses nativos, com o objetivo de criar, juntamente com eles, um trabalho doutrinário de grande importância espiritual. Foi somente assim, a partir da interferência da clarividente, que ambas as tribos resolveram deixar de lado suas quizilas para se unirem em benefício de um bem maior: a redenção de seus espíritos e de toda a humanidade.
“Irei sempre nas matas frondosas de Xingu, em busca das mais puras energias, para o conforto e harmonia da cura do espírito, e desenvolvimento material de nossas vidas. Força de Xingu, força vital, extra-cósmica!”, teria dito Tia Neiva (Neiva apud Álvares, 1977, p. 99). Perceba-se aqui o diálogo do Vale do Amanhecer com a religiosidade de tipo Nova Era, sobretudo manifesto no uso das palavras “energia”, “cura” e “extracósmica” e também na fl agrante idealização da imagem de pureza dos nativos brasileiros como seres portadores de algo intocado, especial e liberto de traços de maldade.
Abrindo-se aqui um parêntese, deve-se frisar que, também nas narrativas do Vale do Amanhecer, toda pureza encontra o seu oposto. Afi nal, as oposições binárias são uma característica estrutural fundamental dos mitos, conforme assinalaram Claude Lévi-Strauss (1989), Roger Callois (1988), Eleazar Mieletínski (1979); T. I. Ielizárenkova
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 17815939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 178 31/01/2011 16:19:2331/01/2011 16:19:23
Capítulo 5 Um Vale do Amanhecer indígena 179
e V.N. Toporóv (1979) e G. A. Levinton (1979), entre outros. No caso das tribos xinguanas contemporâneas dos jaguares, por exemplo, veja-se que esses dois agrupamentos (o polo positivo) temem o contato com o homem branco (o polo negativo), como uma forma de se preservar em seus idílios, do mal que continua a ameaçá-las.
Tal oposição binária se manifesta em vários outros textos culturais, importantes para os adeptos do Vale. Para se ficar somente nos correspondentes aos povos indígenas brasileiros, embora esse texto já envolva inúmeros outros exemplos a ele vinculados, veja-se a estória da falange das caiçaras, colhida por Silva (1999). A autora se refere aos habitantes da aldeia de uma certa cabocla chamada Caiçara como o polo positivo, ao passo que os seus rivais, sendo maus e destruidores, assumem o valor de negativo na referida polaridade. Dizem os registros de Silva:
A princesa cayçara [...] era uma cabocla que vivia na mata selvagem e comandava um grande povo. [...] Naquela época haviam [sic] tribos de índios guerreiros que por sua natureza eram rivais de Cayçara e de seu povo, eles os perseguiam na intenção de exterminá-los. Um dia a cayçara teve uma visão e por intuição começou a esconder seu povo nas matas, prevendo a chegada daqueles selvagens guerreiros. Não tardou muito quando surgiram os rivais de sua tribo, sedentos de ódio, de maldade, de destruição [...]. Eles a maltrataram, fazendo-lhes muitas crueldades, terminando por sacrifi cá-la em uma roda de fogo [...]. (1999, p. 160).
No Vale do Amanhecer, estórias como essa tratam de narrar as supostas encarnações dos representantes míticos de falanges em tempos passados. Algumas dessas falanges têm nomes de procedência brasileira, nitidamente indígena, como é o caso das jaçanãs, tupinambás e caiçaras, embora nem todas mantenham uma conexão com informações relativas a esse tipo de origem. Tal é o caso das jaçanãs, que, embora tendo nome indígena, estariam mais próximas da civilização grega, especialmente das profetisas do templo de Apolo.
No caso da falange das tupinambás, a relação nome / indumen-tária / fi liação indígena se verifi ca muito facilmente. Suas integrantes são as únicas que vestem roupas com alguma referência notadamente indí-
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 17915939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 179 31/01/2011 16:19:2331/01/2011 16:19:23
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante180
gena, como o bordado na frente de suas vestes, com retrato de Pai Seta Branca adornado com o seu típi-co cocar (Fig. 9). Como afi rma Silva (1999), as tupinambás não possuem uma estória sua. No entanto, encon-tram-se totalmente compromissadas com uma tarefa que as distingue de todas as demais: trata-se do ofereci-mento de abrigo e alimentação aos mais necessitados fi nanceiramente, como os mendigos, os ex-presidi-ários e os alcoólatras que buscam assistência na doutrina do Vale do Amanhecer.
Retomando-se a questão da idealização do elemento indíge-na, é bom se dizer que esta não é exclusividade da religiosidade Nova Era. Tanto que ela se dá em vários textos culturais, não necessariamen-te mencionados neste trabalho, mas de alguma forma ao Vale chegados, embora não contemporâneos da doutrina, por ele se encontrar no grande tempo da cultura. Um desses textos seria o romantismo literário brasileiro, desenvolvido em meados do século XIX e representado por escritores como José de Alencar, em seus livros O guarani e Iracema, que valorizam a cultura nacional e falam de índios fortes, destemidos, livres, dotados de pureza e dignidade15.
Segundo Renato Ortiz (1991) foi de fato o romantismo o prin-cipal responsável pela difusão da imagem estereotipada do indígena junto à cultura brasileira. Naquela época, segundo ele, era necessário elaborar um símbolo da nação para que se pudesse mostrar aos países estrangeiros uma espécie de modelo do Brasil independente de Portu-
15 Vale dizer que esta maneira de retratar o índio no romantismo brasileiro em muito se apoiou no seu diálogo com a ideia do “bom selvagem” de Jean Jacques Rousseau.
Fig. 9 - Tupinambá/ Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 18015939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 180 31/01/2011 16:19:2331/01/2011 16:19:23
Capítulo 5 Um Vale do Amanhecer indígena 181
gal. Diante disso, surgia a seguinte pergunta: quem são, afi nal, os bra-sileiros? A resposta parecia apontar para um único caminho. Sendo o negro originário de outros países – e como ele trazia mais fortes as mar-cas da escravidão –, restava fazer do índio um exemplo/ estereótipo de brasilidade – o mesmo índio saudável mostrado com saiote de penas, arco e fl echas no carnaval, transformado em caboclo varonil nas suas incorporações na umbanda.
Partindo-se desse princípio, acredita-se ser o romantismo brasileiro também um sistema/ texto de referência bastante importan-te para o processo de construção da doutrina do Vale, ao menos no que diz respeito ao imaginário indígena. Esse romantismo, ao longo da história, foi assimilado pelo carnaval e pela umbanda e certamente chegou àquela comunidade a partir de seus diálogos com a doutrina religiosa crida pela ex-caminhoneira Tia Neiva. No caso do carnaval, por exemplo, veja-se como a estética do Vale do Amanhecer, com seu brilho excessivo, cores variadas e uma profusão de adornos, das mais variadas formas e texturas, em alguns casos lembra os exuberantes car-ros alegóricos de carnaval.
Mas volte-se a atenção para o caso específi co da religião um-bandista, que é do que trata mais diretamente o presente trabalho. Obser-ve-se a equivalência das designações dos dois grupos de entidades, cada um pertencendo a um credo religioso, no caso a doutrina de Tia Neiva e a umbanda. Ambos são sempre alusivos aos objetos característicos dos po-vos indígenas (fl echa, lança, pena), misturados, por exemplo, com nomes indígenas/ brasileiros comuns (Iara) e a personagens famosos da litera-tura romântica (Ubirajara, Iracema). Tem-se como exemplos o “Caboclo (Pai) Seta/ Lança Branca”, a “Cabocla (Mãe) Iara”, o “Caboclo Pena Dou-rada”, a “Cabocla Iracema”, a “Cabocla Jaçanã” e o “Caboclo Ubirajara” como entidades de procedência indígena no Vale do Amanhecer. Mais: o “Caboclo Pena Branca”, o “Caboclo Sete Flechas”, o “Caboclo Ubiratã”, a “Cabocla Indaiá”, a “Cabocla Sereia do Mar” e os mesmos “Caboclo Ubirajara” e “Cabocla Iara”, como entidades bastante representativas do panteão umbandista.
Sobre a suposta incorporação dos espíritos de caboclos nos cor-pos de adeptos, é o próprio Ortiz (1991) quem a descreve, nos templos umbandistas, como manifestações de espíritos fortes, arrogantes e geral-mente postados de pé. Segundo Fernando G. Brumana e Elda G. Marti-nez (1991), eles trazem o corpo tenso, o rosto adusto, os movimentos en-
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 18115939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 181 31/01/2011 16:19:2331/01/2011 16:19:23
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante182
rijecidos, a fala clara, o português errático, a respiração arfante e pesada. Também podem fumar charutos, beber água e usar adereços indígenas, como tangas e penas.
No Vale do Amanhecer, a incorporação por caboclos se dá de um modo claramente ressignifi cado. Os médiuns aparás do Vale em geral têm a voz clara, a respiração também arfante e pesada, os corpos enrijeci-dos e o português também errático. No entanto, eles permanecem senta-dos e batem fortemente no peito em sinal de força e respeito, ao proferir suas mensagens. Isso sem falar que os médiuns de incorporação jamais poderão fumar, beber ou usar apelos indígenas sobre os seus uniformes durante o ritual, como em geral fazem os umbandistas.
É nessas pequenas diferenciações em relação à umbanda – em-bora apenas algumas estejam aqui enumeradas – que a doutrina de Tia Neiva se constitui como um todo específi co. Mas um todo feito de muitos outros, importa dizer: é nessa diferenciação que ele, o Vale, traça a sua própria fronteira, marcando a sua individualidade, os seus próprios limi-tes, que constantemente se rompem também em seu próprio interior e que se mostram sempre abertos a novos diálogos, a novas traduções ope-radas a partir de contatos extrassistêmicos (por exemplo, com os fi lmes de faroeste, como veremos a seguir).
5.3. Caboclos como índios de faroeste: uma construção a partir do cinema e da televisãoAo se olhar para os caboclos do Vale do Amanhecer, logo se pode per-ceber a semelhança entre essas entidades e os índios de fi lmes e seriados de faroeste, em geral produzidos pelo cinema e pela televisão norte-ame-ricanos e exibidos também nas telas brasileiras, antes mesmo dos anos de criação da doutrina. Foram os longos cocares de penas coloridas, os cabelos compridos e escorridos em forma de tranças e as roupas de couro com franjas pendentes que sempre caracterizaram essas personagens – variando-se um pouco a caracterização a depender das tribos.
No entanto, são personagens que poucas vezes puderam ser vis-tos em suas possibilidades de dignidade antes dessa mesma década de 1950, quando o índio norte-americano, ou o native American, passou a ser abordado pela cultura de massa, principalmente no que compete ao cinema, como destituído de vilania. Como atesta A. C. Gomes de Mattos, “até os anos 50, os índios eram apresentados na tela como assassinos, seqüestradores e incendiários, raramente como indivíduos e, com toda
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 18215939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 182 31/01/2011 16:19:2331/01/2011 16:19:23
Capítulo 5 Um Vale do Amanhecer indígena 183
certeza, sem uma tentativa de se compreender e refl etir sobre a sua visão dos fatos históricos”. (2004, p. 44).
A introdução de uma visão mais positiva do elemento indígena no faroeste veio a coincidir com a passagem do referido gênero para a televisão, ocorrida também nos mesmos anos, conforme afi rmativa de Primaggio Mantovi (2003). Esse fato certamente contribuiu para a divul-gação de uma postura revisionista, assumida desde então, naquele tipo de produção audiovisual. De fato, nos anos 1950 ocorreram tanto a exibição de fi lmes para cinema na televisão quanto a produção de fi lmes e séries de faroeste pensados exclusivamente para serem vistos nas telas de TV – tanto que, de acordo com Mattos (2004), em 1959, atingiu-se o pico de 48 seriados por ano.
Nessa época, entretanto, lembra Mattos (2004), o movimento hippie e o interesse dos norte-americanos pela ecologia trouxeram para o faroeste uma forte atração pelos primeiros contatos entre as culturas branca e indígena, quando a natureza ainda não havia sido defraudada pelas batalhas sangrentas da conquista. Desde então, era comum ver os caciques e os xamãs retratados como anciãos dotados de grande sabe-doria, altruísmo, discernimento, humanidade e senso de justiça. É um modo de perceber os indígenas resultante do diálogo, já iniciado nos fi nais dos anos 1950 e início dos 1960, com o espírito contracultural e, mais especifi camente a ele vinculado, o movimento da Nova Era norte--americana. Ambos buscavam na cultura de seus ancestrais a imagem mítica – talvez uma nova ressignifi cação do pensamento rousseaunia-no – da pureza e da fortaleza de caráter do homem original, primevo. Como consequência, um homem ainda não contaminado pelos males da civilização.
Passando de bandidos cruéis a personagens admiráveis, a partir de então os índios foram cada vez mais vistos no cinema e na TV norte-americanos como verdadeiros heróis daquela nação, espe-cialmente os índios montados a cavalo. Nativos que, conforme obser-varam Coe, Snow e Benson (1996), ficaram conhecidos como hábeis caçadores de búfalos e habitantes das planícies norte-americanas. Mostrados em Hollywood como homens altos, fortes e de feições afi-ladas, esses índios tomaram de empréstimo o modelo de beleza da raça dominante, ou raça branca: assim, os papéis indígenas eram em geral representados por atores mestiços, quando não por brancos ca-racterizados de índios.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 18315939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 183 31/01/2011 16:19:2331/01/2011 16:19:23
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante184
Veja-se o caso dos índios de Rifl es apaches, (Apaches rifl es), de 1964, dirigido por Willam Witney, O homem chamado cavalo (A man cal-led horse), de 1970, dirigido por Elliot Silverstein, e Rastros de ódio (Th e searchers), de 1956, dirigido por John Ford, no caso de fi lmes feitos para cinema, embora depois eles tenham passado na televisão, inclusive a brasileira. Observe-se também o caso das séries de TV Zorro ou O ca-valeiro solitário (Th e lone ranger), de Joy Batchelor, exibido nos Estados Unidos nos anos 1950, Águia brava (Brave eagle), de Roy Rogers, série também vista pelos norte-americanos nos anos 1950, e Daniel Boone (Daniel Boone), de Earl Bellany, nos anos 1960. Vale dizer que todas es-sas séries foram exibidas nas televisões brasileiras, em geral, com al-guns anos de atraso (Fig. 10 e 11).
No que diz respeito ao Vale do Amanhecer, é notória a presença desses índios norte-americanos no imaginário dos adeptos, mas somente em suas versões heroicizadas, uma vez que são os espíritos de luz da dou-trina. No caso, os caboclos e as caboclas tomam de empréstimo de tais nativos não apenas os traços fi sionômicos, as roupas e adereços de um modo geral, mas também o senso de justiça, a fortaleza de caráter e toda sorte de preceitos éticos.
Um exemplo disso são os quadros expostos em uma lanchonete de nome “Xingu”, situada nas proximidades do Templo Principal. De acor-do com Tomas, o proprietário, são “gravuras de xamãs norte-americanos que um amigo trouxe dos Estados Unidos” – embora se veja que uma delas, em específi co, diga respeito a um caçador de búfalos. E mesmo não perten-cendo à doutrina – o adepto deu bastante ênfase a essa questão –, estão ali por uma questão de gosto pessoal e proteção espiritual (Fig. 12).
Fig. 10 - Índio cheyenne de Águia brava/ Fonte: Águia Brava, episódio n. 23, de 1956.
Fig. 11 - Índio comanche de Rastros de ódio/ Fonte: Rastros de ódio, de 1956.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 18415939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 184 31/01/2011 16:19:2331/01/2011 16:19:23
Capítulo 5 Um Vale do Amanhecer indígena 185
Repare-se agora na semelhança entre os índios de faroeste e al-gumas das imagens de entidades indígenas do panteão do Vale do Ama-nhecer, pintadas pelo adepto Vilela (Fig. 13 a 15).
Como já dito, acredita-se que tais imagens, verdadeiros textos da cultura, tenham sido construídas a partir do diálogo com vários sis-temas culturais e um deles – a que no caso aqui mais interessa – seria os fi lmes e séries de faroeste, veiculados pelo cinema e pela televisão. No en-tanto, não se pode desconsiderar que esse referido vetor de modelização deve-se a dois tipos de vias: uma direta e uma indireta (ou sob um deter-minado tipo de mediação). No primeiro caso, supõe-se que os adeptos do Vale realmente assistissem a tais programas, talvez desde a infância e a adolescência – afi nal, não era boa parte dos primeiros faroestes des-tinados ao público infantil e pré-adulto? Nesse sentido, pensa-se que foi realmente por meio dessas mídias e da assimilação de seus produtos que o adepto Vilela reuniu informações sufi cientes para a sua produção pic-tórica e que ela foi facilmente aceita pelos fi éis por terem suas referências embebidas na mesma fonte.
Para se falar na segunda via, ou via indireta, podem ser buscados vários caminhos. Mas a título de exemplo – e um exemplo bastante contudente no que diz respeito à textualidade do Vale –, repare-se nas
Fig. 12 - Lanchonete Xingu/ Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 18515939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 185 31/01/2011 16:19:2331/01/2011 16:19:23
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante186
Fig. 14 - Cabocla Jupiara/ Fonte: pintura de Vilela
Fig. 13 - Caboclo Ubirajara/ Fonte: pintura de Vilela
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 18615939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 186 31/01/2011 16:19:2331/01/2011 16:19:23
Capítulo 5 Um Vale do Amanhecer indígena 187
imagens de caboclos e de caboclas produzidos pela religião umbanda. Conforme Brumana e Martinez, a iconografi a umbandista os representa de muitas maneiras, mas atribuindo invariavelmente àquelas imagens de traços indígenas o vigor físico e a beleza, “sempre com atavios que os fazem se parecer mais com os índios norte-americanos dos fi lmes que com os brasileiros” (1991, p. 239). Sendo assim, acredita-se que a umbanda, que também foi modelizada pelos fi lmes de faroeste, seja um bom exemplo desse tipo de segunda via, que permitiu ao faroeste interferir indiretamente na constituição desse texto da cultura que é a entidade de origem indígena no Vale do Amanhecer16.
De fato, é acertada a afi rmação dos autores sobre as entidades de caboclos e caboclas da umbanda se remeterem aos fi lmes de faroeste. No entanto, discorda-se do designativo “sempre”, usado por Brumana e Martinez. Está mais do que claro: há uma nítida divisão das imagens
16 Jerusa Pires Ferreira, ao estudar o cordel (1993), observa que nele há a hibridização da imagem do índio nativo do Brasil com os filmes de faroeste e novelas de cavalaria. Talvez seja o cordel um outro sistema, afora a umbanda, de onde os adeptos tenham asimilado informações já hibridizadas entre o índio brasileiro e o nativo americano de Hollywood que, assim como os cavaleiros medievais, montavam a cavalo.
Fig. 15 - Caboclo Pena Dourada/ Fonte: pintura de Vilela
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 18715939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 187 31/01/2011 16:19:2331/01/2011 16:19:23
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante188
umbandistas de entidades indígenas em grupos distintos, o que não foi mencionado pelos dois autores em questão. Ao se analisar a produção desse tipo de imagens de empresas como a “Imagens Bahia”, de São Paulo, por exemplo, percebe-se a existência de caboclos e caboclas com basicamente três tipos de caracterização notadamente estereotipados, para se falar apenas dos que aqui interessam: a de índios norte-americanos, como os dos fi lmes de faroeste; a de índios mais parecidos com os brasileiros17, assim como se dá nas já mencionadas fantasias de carnaval e ilustrações de livros para escolas; e a dos índios resultantes do cruzamento entre os dois18.
No primeiro caso, tem-se entidades geralmente em posição ereta, com calças de couro com franjas, peitos às vezes desnudos, cabe-los longos, grandes cocares, peitorais e outros adereços típicos do que se convencionou atribuir ao grupo dos native Americans –muito embora, deva-se dizer, essas entidades sejam geralmente chamadas por nomes indígenas de procedência brasileira e não norte-americana, como é o caso do Caboclo Ubirajara peito de aço (Fig. 16). No segundo caso, os ín-dios se encontram praticamente despidos, com pequenas tangas feitas de penas, pequenos cocares, como em geral se dá na indumentária da maior parte da iconografi a referente aos indígenas do território nacio-nal. Alguns estão em pose de ataque, com seu arco e fl echa, como é o caso dos caboclos; outros se encontram em poses sensuais, como é o caso das caboclas. Provavelmente, uma menção feita ao espírito heroico de guerreiros nativos como Peri, do livro O guarani, e ao encanto e sedu-ção de índias como Iracema, “a virgem dos lábios de mel”, personagem de romance homônimo, ambos anteriormente citados (Fig. 17 a 19). No terceiro caso, esses vários elementos se hibridizam (Fig. 20 e 21).
O curioso é que, nas pinturas de Vilela, somente o grupo dos índios norte-americanos se faz presente, ao passo que o relativo aos índios brasileiros na doutrina do Vale do Amanhecer, ao que tudo indica, pode ser encontrado em algumas narrativas míticas, como é a estória
17 Essa constatação condiz com a afirmativa de Concone, segundo quem há uma distinção entre os dois tipos de índio nos terreiros de umbanda. Vejam-se as palavras da autora: “É também comum o uso de cocares, alguns enormes e caindo dos dois lados do rosto, como os cocares de índios norte-americanos, outros mais semelhantes aos cocares brasileiros”. (2001, p. 288).
18 Há ainda outros tipos de caboclos confeccionados por essa fábrica de imagens umbandistas. O primei-ro trata-se de um híbrido entre os índios norte-americanos e os índios brasileiros, com longos cocares, corpo desnudo e saiote de penas, por exemplo. O segundo são entidades com fisionomias também híbridas, porém mais variadas, com a mistura dos traços caboclos com os de preto-velho, cangaceiros e boiadeiros, entre outros.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 18815939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 188 31/01/2011 16:19:2331/01/2011 16:19:23
Capítulo 5 Um Vale do Amanhecer indígena 189
sobre os índios xinguanos, e no caso dos adereços em forma de pena e de emblema com o rosto de um menino índio, utilizados pelas crianças do “O Pequeno Pajé”, a ser visto mais adiante – além disso, também nas designações que as entidades caboclas assumem na doutrina, ou seja, nos nomes próprios dados por Tia Neiva a esses espíritos, como já especifi cado.
Com relação às imagens de Vilela, em se tratando de ressigni-fi cação, principalmente no que se refere ao sistema/ texto umbandista, tem-se alguns aspectos importantes. O primeiro deles diz respeito ao fato de todos os espíritos indígenas/ caboclos do Vale se encontrarem totalmente vestidos, sem nenhuma parte do corpo à mostra, a não ser pelo rosto e pelas mãos. O segundo se refere às posições dessas entida-des nas pinturas do Vale do Amanhecer: todas estão de pé e em posturas solenes; nenhuma delas se encontra em posições indicativas de guerra
Fig. 18 - Caboclo Guarani - Fon-te: www.imagensbahia.com.br
Fig. 16 - Caboclo Ubirajara peito de aço - Fonte: www.imagens-
bahia.com.br
Fig. 17 - Cabocla Iara - Fonte: www.imagensbahia.com.br
Fig. 19 - Cabocla Jarina - Fonte: www.imagensbahia.com.br
Fig. 20 - Cabocla caçadora - Fonte: www.imagensbahia.
com.br
Fig. 21- Caboclo flecha dourada - Fonte: www.imagensbahia.
com.br
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 18915939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 189 31/01/2011 16:19:2331/01/2011 16:19:23
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante190
Fig. 22 - Desenhos de crianças do Vale do Amanhecer/ Fonte: Álvares (1991)
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 19015939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 190 31/01/2011 16:19:2331/01/2011 16:19:23
Capítulo 5 Um Vale do Amanhecer indígena 191
ou plenamente sensuais, uma vez que a pacifi cidade e a castidade são valores bastante considerados nas falas de Vilela, bem como na sua pro-dução artística. Uma terceira característica se encontra nos olhos das entidades em questão: amendoados e levemente puxados para o alto. Segundo o pintor, um traço fi sionômico mais do que marcante daqueles que vieram de Capela ao planeta Terra em diversas encarnações, mui-tas vezes entre povos orientais – por um acaso, parentes próximos dos indígenas brasileiros.
Um outro tipo de imagem do Vale que faz lembrar o faroeste do cinema e da televisão – e aqui parece não haver necessariamente uma influência maior da umbanda sobre tal texto – é a dos desenhos executados pelas crianças e adolescentes da comunidade de Tia Neiva. Repare-se nas cabanas em forma de cones triangulares e devidamente adornadas com motivos gráficos, como nos cenários dos filmes e das séries em questão. Os índios em geral também estão vestidos com calças e blusas, assim como os típicos índios de faroeste, sendo que um deles se encontra montado, ao que tudo indica, sobre um pequeno cavalo (Fig. 22).
Esses dois desenhos vinculam-se a uma organização educativa da doutrina do Vale e a uma estória contada pelos adeptos adultos às suas crianças. Segundo escritos de alguns adeptos, consta que a clarividente tinha uma preocupação especial com o preparo mediúnico dos fi lhos mais novos dos adeptos – desde a infância até parte da adolescência, essas crianças não teriam conhecimento sobre como controlar a mediunidade que lhes é inata, uma vez que ela se constitui em um atributo presente na corrente sanguínea de todo e qualquer ser humano – tanto que criou uma escola doutrinária unicamente voltada para os fi éis de sete a 14 anos de idade, chamada de “O Pequeno Pajé”.
Essa organização funciona aos domingos, com atividades pa-ralelas às dos templos da comunidade. Tem regras e rituais específi cos, além de um uniforme e alguns cantos e orações especialmente destina-dos aos seus integrantes. Enquanto o menino veste calça preta e jaleco branco, a menina usa um vestido longo também branco, sendo ambas as roupas praticamente idênticas aos uniformes de iniciação na doutri-na. O que muda é a ausência de coletes na roupa de crianças e adoles-centes. Também há a adição de um emblema com o rosto e uma criança indígena nas faixas “amarelo/ roxo” que lhes cruzam o peito, além de uma pena como enfeite em uma fi ta sobre as testas dessas crianças e
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 19115939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 191 31/01/2011 16:19:2331/01/2011 16:19:23
192 Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante
adolescentes, assim como se faz com os adornos das brincadeiras de índio das escolas (Fig. 23 e 24).
Voltadas aos integrantes de “O Pequeno Pajé”, foram criadas orações como “Pai nosso das criancinhas” e cantos como o “Hino dos pequenos de Assis”, “Hinos à vovó Marilu”, “Chulinhas da vó Marilu”, “A aldeia encantada”, entre outros. No entanto, é apenas no último que se verifi ca a referência a uma responsabilidade doutrinária maior, conferida por Tia Neiva às crianças e aos adolescentes do Vale do Amanhecer. Era uma forma de inseri-las, desde cedo, em um imaginário religioso que traz para si a árdua incumbência de salvação de toda a humanidade. Veja-se a letra da música Aldeia encantada:
Salve Deus a nossa disciplina/ avante pequenos faróis/ Tia Neiva nos confi ou/ a um comando superior./ Firmes juramos a Jesus/ servir no combate das trevas/ de um novo porvir./ Salve o nosso Amanhecer/ salve o nosso pajezinho/ salve o mestre Tumuchy/ Salve Deus nosso Tiãozinho./ Almas desvairadas sem estrelas e sem luar/ aqui estamos no evangelho/ para construir a luz do seu lar./ Seta Branca comando geral/ Mãe Iara intercedei/ Jesus, Jesus do nosso quartel/ queremos juntinhos no céu. (apud Álvares, 1991, p. 30-31)
Fig. 23 - Crianças do Pequeno Pajé/ Fonte: Álvares (1991)
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 19215939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 192 31/01/2011 16:19:2331/01/2011 16:19:23
193
Aldeia encantada é também o nome de uma narrativa bastante importante para os adeptos do Vale, especialmente para os integrantes do grupo “O Pequeno Pajé”. O interessante é que, embora falando de luga-res fantasiosos, índios amigáveis, cientistas, seres dotados de sabedoria e outros elemen-tos comuns às narrativas míticas do Vale do Amanhecer, essa estória assume um status diferente em meio à comunidade. Em ge-ral, ela não é vista pelos adeptos como um “acontecimento verdadeiro” sobre fatos pas-sados, ocorridos no início dos tempos; não se enquadra, portanto, na categoria de mito daquela comunidade. Sua criação destina-se apenas a uma parte do processo educativo e moralizante destinado a crianças e adoles-centes do Vale, os futuros divulgadores da doutrina de Tia Neiva.
Conta essa estória que um casal de cientistas, empregados dos laboratórios de uma grande universidade, tinham como sonho comum viajar em busca da “aldeia encantada”, “uma linda estória que conheciam desde criança”, conforme relatou o médium Álvares (1991). Depois de um longo tempo de viagem e da quase perda da esperança de chegarem ao lugar, o casal teria avistado uma terra em que se destacava uma montanha muito alta. Em torno do pico da montanha as nuvens faziam anéis enquanto, do seu cume, saía uma fumaça branca.
Chegando ao local, o casal de cientistas foi muito bem recebido por um grupo de nativos. Aos poucos foram se inteirando dos costumes da aldeia, até que ouviram falar da existência de um velho sábio, morador daquela montanha. O velho tinha sido um pirata bastante temido e acabara por destruir parte da aldeia, quando lá chegou para esconder o seu tesouro. Esse velho sábio, tendo se convertido ao amor divino, quando encontrado pelo casal falou-lhes da existência de uma outra personalidade importante na ilha: o Pequeno Pajé. Os três partiram então à sua procura.
Chegando ao local onde o Pajé se encontrava, o casal de cientistas e o velho sábio foram igualmente bem-recebidos. Foi então que o contato
Fig. 24 - Desenho do uniforme com detalhes/ Fonte: Álvares
(1991)
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 19315939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 193 31/01/2011 16:19:2331/01/2011 16:19:23
194 Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante
do antigo pirata com o Pequeno Pajé provocou mudanças signifi cativas na terra da aldeia encantada. Toda a destruição por ele causada, tempos atrás, foi imediatamente revertida. Revelava-se assim o fi m da missão do Pequeno Pajé e o futuro posto do velho sábio na ilha. Em breve, o primeiro morreria para ceder o seu cargo de chefi a àquele que, à custa do conhecimento da lei do amor, prontamente se arrependera de seus pecados dos tempos de pirataria.
É assim que se constitui o imaginário indígena do Vale do Amanhecer: um misto de informações provavelmente advindas do turismo e das publicações de cunho esotérico, para o caso das referências a índios andinos e mesoamericanos, como foi dito neste e no segundo capítulo. Todos eles percebidos em seus múltiplos vieses dialógicos, seja com a religiosidade do tipo Nova Era, seja com a literatura romântica brasileira, seja, ainda, com as fantasias de carnaval e de festas escolares para crianças; com o credo umbandista, com os fi lmes e as séries de faroeste do cinema e da televisão (para as referências aos índios/ caboclos, os mais brasileiros e/ ou norte-americanizados). E também, como visto agora, com as estórias de piratas, verdadeiro atrativo ao público infantil e adolescente.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 19415939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 194 31/01/2011 16:19:2331/01/2011 16:19:23
195
No decorrer do trabalho, buscou-se tratar da comunidade religiosa do Vale do Amanhecer como um texto da cultura, o que signifi ca encará-lo como uma teia ou um tecido complexo. Tecido que, sendo um, é igual-mente múltiplo; constitui-se por meio da e como dialogia, multivocali-dade. Pensar nessa direção, acredita-se, é entender que o olhar para essa rede textual não deve pautar-se pela procura ou pela explicação de uma lei, dada de antemão, do texto cultural mencionado. Refere-se, sim, à construção de uma leitura ou sentido possível para um sistema semió-tico importante da cultura brasileira, geografi camente situado na região central do Brasil. Tal construção foi realizada mediante uma espécie de mapeamento ou cartografi a, atenta aos textos/ sistemas e informações implicados por uma lógica vetorial e animados pela modelização, aqui percebida como mecanismo não linear de tradutibilidade e, consequen-temente, de ressignifi cação.
Partindo-se dessa perspectiva é que, durante o desenrolar do trabalho, buscou-se observar como o Vale do Amanhecer se relaciona com alguns textos/ sistemas da cultura, sendo que a constituição mesma daquela comunidade religiosa se dá a partir dessas relações sistêmicas, em geral marcadas por tensões e confl itos, ocasionadas pelos contatos entre as fronteiras de cada um desses sistemas e as consequentes explo-sões criativas ocorridas em função de tais diálogos. Esses sistemas são a cidade de Brasília, o espiritismo kardecista, a umbanda, o catolicismo popular, a religiosidade do tipo Nova Era e os meios de comunicação tradicionais, tais como o cinema, a televisão e os livros best-sellers.
Considerações fi nais
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 19515939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 195 31/01/2011 16:19:2331/01/2011 16:19:23
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante196
É importante salientar que tal abordagem não pretende esgo-tar o assunto e que inclusive insere-se em um contexto conceitual maior, muito embora não tenha sido exatamente especifi cado no trabalho. Trata-se da noção de semiosfera, criada pelo semioticista Iuri Lotman e voltada para o estudo das relações entre os diversos textos/ sistemas de signos nos espaços em que se verifi cam as várias semioses, estejam elas ligadas aos domínios do socius (a cultura) ou ao mundo do bios (nature-za). Pode-se dizer, inclusive, que nesse espaço destinado às semioses ou ações sígnicas esses dois domínios não se separam.
Sobre essa questão, Irene Portis-Winner (1994) afi rma que o espaço da semiosfera tem uma composição diferente. Nele, toda a vida humana é relatada por complexas tensões, confl itos e dependências com a natureza. Nesse sentido, a semiosfera não exclui a natureza. Pode ser inclusive comparada, por analogia, à biosfera de Vernadsky, no caso en-tendida por Lotman como “a totalidade e o inteiro orgânico da matéria viva, e também a condição para a continuação da vida” (Lotman apud Portis-Winner, 1994, p. 160), uma vez que, segundo a autora, em suas notas de 1892, Vernadsky apontou a atividade intelectual humana como a continuação do confl ito cósmico entre a vida e a matéria inerte.
Pensar na semiosfera como o espaço em que a cultura (socius) se encontra costurada à natureza (bios), ao não humano, é, obviamen-te, entender que as duas mantêm relações de intimidade. Sendo assim, pensando-se no Vale do Amanhecer, nada se afi gura mais natural do que olhar para a comunidade de Tia Neiva sob o mesmo prisma e percebê-la como também dialogando com e sendo portanto modelizada, por exem-plo, pela geografi a do lugar – afi nal, o próprio nome, “Vale do Amanhe-cer”, já não seria uma prova desse pressuposto? Ou mesmo atentar para o fato de uma entidade de seu panteão, no caso Pai Seta Branca, juntamente com os adeptos do sexo masculino, serem chamados pelo nome de um felino bastante conhecido: o jaguar.
Um outro aspecto a ser investigado, entre os muitos aqui não citados, seria o modo como o sistema biológico dos adeptos, por ocasião do transe, ou mesmo em outras situações, age na construção daquele sis-tema cultural, e/ ou vice-versa. Sobre a relação do corpo biológico/ cog-nitivo com o socius (cultura) no Vale, tome-se como exemplo o caso de pessoas que dizem ter sido curadas de problemas físicos a partir da fre-quência aos rituais, ou mesmo o modo como a tuberculose de Tia Neiva foi compreendida entre os adeptos. Afi nal, não se comenta que a doença
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 19615939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 196 31/01/2011 16:19:2331/01/2011 16:19:23
Considerações fi nais 197
teria sido ocasionada pelos constantes “transportes” e “desdobramentos” de Tia Neiva até o Tibete, por ocasião de suas aulas com Humahã?
Por ora, esses são apenas exemplos ilustrativos do que se pre-tendeu esclarecer sobre o espaço da semiosfera, na qual certamente se encontra incluído o Vale do Amanhecer. Mas exemplos que também ser-vem, em última instância, para melhor se falar da difi culdade de se lidar com a complexidade de um sistema/ texto da cultura como o Vale, sem correr o risco de se ser superfi cial em alguns momentos, e/ ou mesmo de se ignorar outros sistemas importantes a ele relacionados. Essa difi cul-dade é bastante grande, uma vez que a fi nalidade do presente trabalho encontra-se justamente na busca das várias dialogias que o constituem e, consequentemente, das ressignifi cações por elas ocasionadas.
Obviamente que, para a realização de um trabalho acadêmico, necessita-se da execução de um recorte específi co de análise. Diante disso foi que se optou por, no momento, deixar de lado, entre tantas outras, as implicações do Vale do Amanhecer com o universo do “não cultural” – embora se acredite que, mesmo à distância, ele não tenha aqui se perdido totalmente de vista – para se centrar nas que dizem respeito aos diálogos culturais estabelecidos sobretudo entre aquela comunidade religiosa e a cidade de Brasília, o espiritismo kardecista, a umbanda, o catolicismo po-pular, a religiosidade do tipo Nova Era, além dos meios de comunicação tradicionais, como várias vezes foi enfatizado ao longo do trabalho.
Não se pode dizer que a escolha por tais sistemas e o que dessa relação interessa – no caso, os aspectos que dizem respeito à presença no Vale de informações ligadas a seres extraterrestres e às suas naves es-paciais; à civilização egípcia com suas pirâmides e faraós, bem como às culturas indígenas brasileiras, norte-americanas e de povos pré-colom-bianos, sobretudo os incas, maias e astecas – tenha se dado de modo alea-tório. Assume-se que se, por um lado, todo esse interesse parte da consta-tação de que seriam esses os sistemas mais contundentes no que se refere a uma atuação dialógica junto à construção daquele tipo de imaginário, por outro, sabe-se que muito dessa escolha inclui a relativa vivência da pesquisadora com alguns dos sistemas ao Vale relacionados, tendo essa vivência acontecido de modos variados ao longo de sua vida, não impor-tando serem eles aqui mencionados.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 19715939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 197 31/01/2011 16:19:2331/01/2011 16:19:23
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante198
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 19815939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 198 31/01/2011 16:19:2331/01/2011 16:19:23
199
Filmes – documentários
Conterrâneos velhos de guerra, de 1991, dirigido por Vladimir Carvalho.Fé, de 1999, dirigido por Ricardo Dias.Eram os deuses astronautas? (Erinnerungen na die zukunft ), de 2004 (versão brasileira), dirigido por Harald Reinl.Arquitetura da destruição (Under gångens arkitektur), de 1989, dirigido por Peter Cohen.
Filmes – ficçãoFicção Científi ca
Æeon Flux (Æeon Flux), de 2005, dirigido por Kevin Margo e Greg Omel-chuck.2001: uma odisséia no espaço (2001: A space odyssey), de 1968, dirigido por Stanley Kubrik.Cocoon (Cocoon), de 1985, dirigido por Ron Howard.Contatos imediatos de terceiro grau (Close encounters of the third kind), de 1977, dirigido por Steven Spilberg.Duna (Dune), de 1984, dirigido por David Lynch.Gattaca (Gattaca), de 1997, dirigido por Andrew Niccol.Guerra nas estrelas I (Star wars), de 1977, dirigido por George Lucas.Laranja mecânica (A clockwork orange), de 1972, dirigido por Stanley Ku-brick.A fuga de Logan (Logan’s run), de 1976, dirigido por Michael Anderson.
Corpus
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 19915939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 199 31/01/2011 16:19:2331/01/2011 16:19:23
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante200
A guerra dos mundos (War of the worlds), de 1953, dirigido por Byron Haskin.Barbarella (Barbarella: queen of the galaxy), de 1968, dirigido por Roger Va-din.Gallactica, astronave de combate (Battlestar gallactica), 1978, dirigido por Ri-chard A. Colla.A máquina do tempo (Th e time machine), de 1960, dirigido por George Pal.Animatrix (Th e animatrix), de 2003, vários animadores.Star Trek II: a ira de Khan (Star Trek II: the wrath of Khan), de 1982, dirigido por George Lucas.Planeta dos macacos (Planet of the apes), de 1968, dirigido por Franklin J. Schaff ner.Star Trek: o fi lme (Star Trek: the motion picture), de 1979, dirigido por Robert Wise.Tron, uma odisséia eletrônica (Tron), de 1982, dirigido por Steven Lisberger.Stargate, a chave para o futuro da humanidade (Stargate), de 1994, dirigido por Roland Emmerich.Guerra nas estrelas: o império contra-ataca. (Star Wars: the empire strikes back), de 1982, dirigido por George Lucas.Brazil (Brazil), de 1985, dirigido por Terry Gilliam.
Egito/ Bíblicos
Os dez mandamentos (Th e ten comandments), de 1956, dirigido por Cecil B. DeMille.Cleópatra (Cleopatra), de 1963, dirigido por Joseph L. Mankiewicz, Rou-ben Mamoulian e Darryl F. Zanuck.
Faroeste
A conquista do Oeste (How the West was won), de 1962, dirigido por John Ford, Henry Hathaway e George Marshall.Gerônimo, uma lenda americana (Geronimo, an American legend), de 1993, dirigido por Walter Hill.O último bravo (Apache), de 1954, dirigido por Robert Aldrich.Rastros do ódio (Th e searchers), de 1956, dirigido por John Ford.Tonka, o bravo comandante (Tonka), de 1958, dirigido por Lewis R. Foster.Dança com lobos (Dance with wolves), de 1990, dirigido por Kevin Costner.Rifl es apaches (Apaches rifl es), de 1964, dirigido por Willam Witney.O pequeno grande homem (Little big man), de 1970, dirigido por Arthur Penn.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 20015939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 200 31/01/2011 16:19:2331/01/2011 16:19:23
Corpus 201
O homem chamado Cavalo (A man called horse), de 1970, dirigido por Elliot Silverstein.Os imperdoáveis (Th e unforgiven), de 1992, dirigido por Clint Eastwood.
Seriados de TVFicção científi ca
Jornada nas estrelas (Star Trek), de Gene Roddenberry. Anos 1960. EUA. Paramount Pictures. Episódios: n° 2 – Where no man has gone before, 1966.
n° 34 – Th e cloud minders, 1969. n° 35 – Th e way to Eden, 1969.
A fuga de Logan (Logan’s run), de Michael Caff ey e outros, de 1977 a 1978. EUA. CBS Televison. Episódios: n° 1 – Pilot, de 1977. n° 2 – Th e collectors, de 1977. n° 4 – Th e innocent, de 1977. n° 10 – Futurepast, de 1978.
Perdidos no espaço (Lost in space), de Irwin Allen. Anos 1960. EUA. Fox Film Corporation. Episódios: n° 1 – Th e reluctant stowaway, 1965. n° 3 – Island in the sky, 1965. n° ? – Welcome stranger, 1965. n° ? – Th e War of the robots, 1966.
O túnel do tempo (Time tunel), de Irwin Allen, de 1966 a 1967. EUA. ABC Television. Episódios: n° 11 – Secret weapon, de 1966. n° 21 – Idol of death, de 1967. n° 23 – Pirates of Deadman´s Island, de 1967.
Viagem ao fundo do mar (Voyage to the bottom of the sea), de Irwin Allen, de 1964 a 1968. EUA. ABC Television. Episódios: n° 64 – Day of Evil, de 1966. n° 78 – Th e mummy, de 1967. n° 106 – Flaming ice, de 1968.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 20115939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 201 31/01/2011 16:19:2331/01/2011 16:19:23
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante202
Ficção científi ca/ Egito
A poderosa Ísis (Th e mighty Isis), de Arthur Nadel e outros, de 1975 a 1976. EUA. CBS Television. Episódios: n° 13 – Scuba duba, de 1975. n° 12 – Girl driver, 1975. n° ? – Th e showoff , de 1975.
Faroeste
Águia brava (Brave eagle), de Roy Rogers, de 1955 a 1956. EUA. CBS Tele-vison. Episódios: n° 4 – Gold of hautend moutain, 1955. n° 11 – Voice of serpent, 1955. n° 22 – War paint, 1956. n° 23 – Valley of decision, 1956. n° 24 – Witch bear, 1956.
O cavaleiro solitário/ Zorro (Th e lone ranger), de Joy Batchelor e outros, de 1949 a 1957. EUA. CBS Television. Episódios: n° 9 – Th e tenderfeet, de 1949. n° 10 – High heels, de 1949. n° 11 – Six gun legacy, de 1949. n° 12 – Return of the convict, de 1949.
Hawkeye e o último dos moicanos (Hawkeye and the last of the moicans), de Robert B. Bailey e outros, de abril de 1957 a dezembro de 1957. Canadá. Episódios: n° 2 – Th e threat, de 1957. n° 29 – Th e prisioner, de 1957. n° 22 – Huran tomahawk, de 1957.
Daniel Boone (Daniel Boone), de Earl Bellany e outros, de 1964 a 1970. EUA. NBC Television. Episódios: n° 2 – Th ekawitha Mac Leod, de 1964. n° 5 – Th e choosing, de 1964. n° 46 – Seminole territory, de 1966.
As aventuras de Rin Tin Tin (Th e adventures of Rin Tin Tin), de Earl Bellany e outros, de 1954 a 1959. EUA. ABC Television. Episódios: n° 20 – Rusty resigns from the army, de 1955.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 20215939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 202 31/01/2011 16:19:2431/01/2011 16:19:24
Corpus 203
n° 89 – Th e Indian hater, de 1957. n° 112 – Th e old man of the mountain, de 1957.
DiscografiaBicho, de Caetano Veloso. 1971.Doces bárbaros, de Maria Bethânia, Caetano Veloso, Gilberto Gil e Gal Costa. 1976.Powerslave, de Iron Maiden. 1984.
Livros Best-sellers
ARMOND, Edgard. Os exilados de Capela. São Paulo: Aliança, 1984.HOPE, Murry. A magia Atlante. Lisboa: Estampa, 1994.KERN, Iara. De Aknaton a JK: . 3. ed. Brasília: Th ot, 1991.KERN, Iara; PIMENTEL, Ernani Figueiras. Brasília secreta. Brasília: Pór-tico, 2000.VON DANIKEN, Erich. Eram os deuses astronautas? Tradução de E. G. Kalmus. 6. ed. São Paulo: Melhoramentos, 1970.XAVIER, Francisco Cândido. A caminho da luz: história da civilização (di-tado por Emmanuel). Rio de Janeiro: Federação Espírita Brasileira, 1945.
Histórias em quadrinhosStar trek: jornada nas estrelas, s/ autor. Números 1, 2, 3 e 4. São Paulo: Abril, 1991.Axterix e Cleópatra, de René Goscinny. Rio de Janeiro/ São Paulo: Record, 2002.Star wars: guerra nas estrelas. Episódios “A caçada de Darth Vader” e “Darth Maul”, de Darko Macan e Ron Marz. São Paulo: Pandora Books, 2002.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 20315939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 203 31/01/2011 16:19:2431/01/2011 16:19:24
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante204
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 20415939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 204 31/01/2011 16:19:2431/01/2011 16:19:24
205
ACKERMAN, Forrest. In: SANS, José. SF: Symposium/ FC: Simpósio. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Cinema, 1969.ALBERTI, Verena. O riso e o risível na história do pensamento. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1999.ALMEIDA, Lúcia Fabrinni de. Espelhos míticos da cultura de massa: cinema, TV e quadrinhos na Índia. São Paulo: Annablume, 1999.AMARAL, Leila. Sincretismo em movimento. In: CAROZZI, Maria Júlia (Org.). A Nova Era no Mercosul. Petrópolis: Vozes, 1999.ANDRADE, Roberta Manuela Barros de. O fim do mundo: imaginário e teledramaturgia. São Paulo: Annablume, 2000. ARRAIA, Eduardo. Espiritismo: doutrina de fé e ciência. São Paulo: Ática, 1996.AUGÉ, Marc (Org.). A construção do mundo: religião, representações, ideologia. Tradução Isabel Braga. Lisboa: Edições 70, 1978.AVERBUCK, Lígia (Org.). Literatura em tempo de cultura de massa. São Paulo: Nobel, 1984.BAITELLO JÚNIOR, Norval. O animal que parou os relógios. São Paulo: Annablume, 1997.______. Comunicação, mídia e cultura. São Paulo em Perspectiva, São Paulo, v. 12, v. 4, p. 11-16, out./dez.1998.BAJTÍN, Mijaíl M. El género, el argumento y la estructura en las obras de Dostoievski. In: ______. Problemas de la poética de Dostoievski. Tradução Tatiana Bubnova. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1998.
Referências
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 20515939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 205 31/01/2011 16:19:2431/01/2011 16:19:24
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante206
BAKHTIN, Mikhail (V. N. VOLOCHÍNOV). O “discurso de outrem”. In: ______. Marxismo e Filosofia da Linguagem: problemas fundamentais do Método Sociológico na Ciência da Linguagem. Tradução Michel Laud e Yara Frateschi Vieira. São Paulo: Hucitec, 1979.______. Respuesta a la revista Novy Mir. In: ______. Estética de la creación verbal. Tradução Tatiana Bubnova. Ciudad de México: Siglo 21, 1982.______. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais. Tradução Yara Frateschi. 4. ed. São Paulo: Hucitec, 1999.BAKOS, Margaret Marchiori. Fatos e mitos do Antigo Egito. 2. ed. Porto Alegre: PUCRS, 2001.______. (Org.). Egiptomania: o Egito no Brasil. São Paulo: Paris, 2004a.______. Como o Egito chegou ao Brasil. In: ______. (Org.). Egiptomania: o Egito no Brasil. São Paulo: Paris, 2004b.BANDINELLI, Ranuccio Bianchi. Del helenismo a la Edad Media. Tradução Benito Gómez Ibáñez. Madrid: Akal, 1991.BASTIDE, Roger. As religiões africanas no Brasil: contribuição a uma sociologia das interpretações de civilizações. Tradução Maria Eloísa Capelato. São Paulo: USP, 1971.BATISTA, Marilda. Rituais religiosos e mise en scène fílmica: o exemplo do Vale do Amanhecer. Disponível em: <http://www.antropologiavisual.cl/Marilda_Batista_imprimir.htm>. Acesso em: 26 maio 2004.BENEVOLO, Leonardo. O último capítulo da arquitetura moderna. Tradução José Eduardo Rodil. Lisboa: Edições 70, 1985.BERTRAN, Paulo. História da terra e do homem no Planalto Central: eco-história do Distrito Federal: do indígena ao colonizador. Brasília: Verano, 2000.BILHARINHO, Guido. O filme de faroeste. Uberaba: Instituto Triangulino de Cultura, 2001.BLOCH, Robert. Homen, mitos e monstros. In: SANZ, José (Org.) FC: simpósio/ SF: symposium. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, 1969. BRANT, Lia; ROSSELLINE, Ana; GENOVESE, Iara. Guia de turismo místico de Brasília. Brasília: ADETUR-DF, s/d.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 20615939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 206 31/01/2011 16:19:2431/01/2011 16:19:24
Referências 207
BRUMANA, Fernando Giobellina; GONZÁLES, Elda. Marginália sagrada. Tradução Rúbia Prates Goldini e Sérgio Molina. Campinas: UNICAMP, 1991.BURKE, Peter. Cultura popular na Idade Moderna. 2. ed. Tradução Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.______. Hibridismo cultural. Tradução Leila Souza Mendes. São Leopoldo: UNISINOS, 2003.BUSTO, José Antônio del. La religión incaica. Disponível em:<http://www.magicperu.com/atlas/default14.htm>. Acesso em: 20 ago. 2001BYSTRINA, Ivan. Tópicos de semiótica da cultura. São Paulo: CISC (pré-print), 1995.CAIRO, Ubirajara. Star trek: o começo de tudo. Portal dedicado a séries televisivas. Disponível em: <http://www.seriesantigas.hpg.ig.com.br>. Acesso em: 12 out. 2002.CALLOIS, Roger. O homem e o sagrado. Tradução Geminiano Cascais Franco. Lisboa: Edições 70, 1988.CALVINO, Ítalo. As cidades invisíveis. Tradução Diogo Mainardi. Rio de Janeiro: O Globo, 2003.CAMARGO, Cândido Procópio Ferreira de. Kardecismo e umbanda: uma interpretação sociológica. São Paulo: Pioneira, 1961.______. Católicos, protestantes, espíritas. Petrópolis: Vozes, 1973.CAMPOS, Haroldo de. Da razão antropofágica: diálogo e diferença na cultura brasileira. São Paulo. Boletim bibliográfico da biblioteca Mário de Andrade, São Paulo, v. 1, n. 4, 1983.CAMPOS, José Carlos de; FRIOLI, Adolfo. João de Camargo de Sorocaba: o nascimento de uma religião. São Paulo: SENAC, 1999.CANEVACCI, Massimo. Sincretismos: uma exploração das hibridações culturais. Tradução Roberta Barni. São Paulo: Studio Nobel, 1996.CARDOSO, Ciro Flamarion S. América pré-colombiana. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1984.______. O Egito antigo. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1985.CAROZZI, Maria Júlia (Org.). A Nova Era no Mercosul. Petrópolis: Vozes, 1999. CARPENTER, Edmund; MCLUHAN, Marshal. Revolução na comunicação. Tradução Álvaro Cabral. Lisboa: s/n, 1980. CARVALHO, Gilmar de. Madeira matriz: cultura e memória. São Paulo: Annablume, 1998.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 20715939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 207 31/01/2011 16:19:2431/01/2011 16:19:24
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante208
CARVALHO, José Jorge. Características do fenômeno religioso na sociedade contemporânea. Série Antropológica, Brasília, 1991, n. 114. Disponível em: <http://www.unb/ics/dan/serie114empdf.pdf>. Acesso em: 29 maio 2004.CASTRO, Ruy (Org.). Flor de obsessão: as 1000 melhores frases de Nélson Rodrigues. São Paulo: Companhia da Letras, 1997.CAVALCANTE, Carmen Luisa. O Vale do Amanhecer e a estética da luz. Essentia, Sobral, n. 2, p. 119-126, jun./nov.1992.______. La trayectoria del héroe Equituman. In: Annals – VI International Congress of Semiotics. CD-ROM. Gadalajara: A. Gimate-Welsh, 1999.______. Xamanismo no Vale do Amanhecer: o caso Tia Neiva. São Paulo: Annablume, 2000.______. Vale do Amanhecer: aspectos de uma cultura e de uma religiosidade populares. Ângulo, Lorena, n. 87, p. 40-46, jan./mar.2001.______. O Vale do Amanhecer e as configurações de um mito em códigos verbais, cinéticos, visuais e sonoros. In: Anales del III Congreso Virtual de Antropología y Arqueología. Buenos Aires: Naya, 2003.CHAIM, Marivone Matos. Aldeamentos indígenas: Goiás, 1749-1811. 2. ed. São Paulo: Nobel, 1983.CHARLES, R. D. Pequena história da Rússia. Tradução Carlos Chaves. São Paulo: Pioneira, 1964.CHKLOVSKI, V. A arte como procedimento. In: EIKHENBAUM, B.; CHKLOVSKI, V.; JIRMUNSKI, V. Teoria da literatura: formalistas russos. Tradução Ana Mariza R. Filipouski, Maria Aparecida Pereira, Regina L. Zilberman e Antônio Carlos Hohlfeldt. 2. ed. Porto Alegre: Globo, 1976.COE, Michael; SNOW, Dean; BENSON, Elizabeth. A América Antiga: civilizações pré-colombianas. 2 volumes. Tradução Luís Garcia e outros. Madrid: Prado, 1996.COELHO, Meirilane Pires. A cura no Vale do Amanhecer: crença, mito e fé na cidade de Canindé. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Ciências Sociais). Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2003.CONCONE, Maria Helena Villas Bôas. Umbanda: uma religião brasileira. São Paulo: USP, 1987.______. Caboclos e pretos-velhos da umbanda. In: PRANDI,
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 20815939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 208 31/01/2011 16:19:2431/01/2011 16:19:24
Referências 209
Reginaldo (Org.) Encantaria brasileira: o livro dos mestres, caboclos e encantados. Rio de Janeiro: Pallas, 2001.CONTEPONI, María Del Rosario. Nova Era e pós-modernidade: valores, crenças e práticas no contexto sociocultural contemporâneo. In: CAROZZI, Maria Júlia (Org.). A Nova Era no Mercosul. Tradução Nildicéia Aparecida Rocha. Petrópolis: Vozes, 1999. COSTA, Lúcio. O relatório do Plano Piloto de Brasília. Módulo. Rio de Janeiro: n. 8, 1957. COUTO, Ronaldo Costa. Brasília Kubitschek de Oliveira. Rio de Janeiro: Record, 2001.CUNHA, Kátia C. Configurações de uma plástica: do corpo à moda. 1998. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Semiótica). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 1998.DE CICCO, Cláudio. Hollywood na cultura brasileira: o cinema americano na mudança da cultura brasileira na década de 40. São Paulo: Convívio, 1979.DEL ROIO, José Luiz. Igreja Medieval: a cristandade latina. São Paulo: Ática, 1997.DETIENNE, Marcel. Dioniso a céu aberto. Tradução Carmem Cavalcanti. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1988.DIEHL, Paula. Propaganda e persuasão na Alemanha nazista. São Paulo: Annablume, 1996.DONADONI, Sérgio (Org.). O homem egípcio. Tradução Maria Jorge Vilar de Figueiredo. Lisboa: Presença, 1994.DORFLES, Gillo. Modas & modos. Tradução Antônio J. Pinto Ribeiro. Lisboa: Edições 70, 1979.______. A arquitetura moderna. Tradução José Carlos Rodil. Lisboa: Edições 70, 1986.DOSSE, François. História do estruturalismo. V. 1: O campo do signo – 1945/1966. Tradução Álvaro Cabral. São Paulo: Ensaio, 1993.DROZ, Geneviève. Os mitos platônicos. Tradução Maria Auxiliadora Ribeiro Keneipp. Brasília: UNB, 1997.DURAND, Gilbert. As estruturas antropológicas do imaginário. Tradução Hélder Godinho. São Paulo: M. Fontes, 1997.______. O imaginário: ensaio acerca das ciências e da filosofia da imagem. Tradução René Eve Levié. Rio de Janeiro: DIFEL, 1998.ECO, Umberto; IVANOV, V. V.; RECTOR, Mônica. Carnaval! Tradução Mônica Mansour. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1989.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 20915939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 209 31/01/2011 16:19:2431/01/2011 16:19:24
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante210
ECO, Umberto (Org.). Psicologia do vestir. Tradução José Colaço. 3. ed. Lisboa: A. Alvin, 1975.ELENA, Alberto. Ciência, cine e história: de Méliès a 2001. Madrid: Alianza, 2002.ELIADE, Mircea. Aspectos do mito. Tradução Manuela Torres. Lisboa: Edições 70, 1989.______. O sagrado e o profano: a essência das religiões. Tradução Rogério Fernandes. São Paulo: M. Fontes, 1992.______. Tratado de história das religiões. Tradução Fernando Tomaz e Natália Nunes. São Paulo: M. Fontes, 1993.ENDLER, Sérgio. De Wells a Welles: rádio e ficção científica. Artigo apresentado no XXI Congresso Brasileiro das Ciências da Comunicação (INTERCOM), realizado em Recife, em 1998. Disponível em: <http://www.intercom.org.br/papers/xxi-ci/gt06>. Acesso em: 12 out. 2002.FARRET, Ricardo L. O Estado, a questão territorial e as bases da implantação de Brasília. In: PAVIANI, Aldo (Org.). Brasília, ideologia e realidade: espaço urbano em questão. São Paulo: Projeto, 1985.FAUSTO, Carlos. Os índios antes do Brasil. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2000.FAVRE, Henri. A civilização inca. Tradução Maria Júlia Goldwaser. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1998.FELDMAN-BIANCO, Bela; LEITE, Mirian L. Moreira (Orgs.) Desafios da imagem: fotografia, iconografia e vídeo nas ciências sociais. Campinas: Papirus, 1998.FER, Briony; BATCHELOR, David; WOOD, Paul. Realismo, racionalismo, surrealismo: a arte no entre-guerras. Tradução Cristina Franco. São Paulo: Cosac & Naify, 1998.FERNANDES, Magali Oliveira. Chico Xavier em comunicação: personagem, biografas, edições e psicografia. 2001. Tese (Doutorado em Comunicação e Semiótica). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2001.FERNANDES, Magali Oliveira. Vozes do céu: os primeiros momentos do impresso kardecista no Brasil. São Paulo: Mandacaru, 2003.FERRARA, Lucrécia D’Aléssio. A estratégia dos signos. São Paulo: Perspectiva, 1981.______. Olhar periférico: informação, linguagem, percepção ambiental. 2. ed. São Paulo: USP, 1999.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 21015939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 210 31/01/2011 16:19:2431/01/2011 16:19:24
Referências 211
FERREIRA, Jerusa Pires. Armadilhas da memória: conto e poesia popular. Salvador: Fundação Casa de Jorge Amado, 1991.______. O livro de São Cipriano: uma legenda de massas. São Paulo: Perspectiva, 1992.______. Cavalaria em cordel: o passo das águas mortas. 2. ed. São Paulo: HUCITEC, 1993.______. Armadilhas da memória e outros ensaios. São Paulo: Ateliê, 2003.FERREIRA, Jorge Luiz. Incas e astecas: culturas pré-colombianas. 3. ed. São Paulo: Ática, 1995.FLUSSER, Vílem. Los gestos: fenomenología y comunicación. Tradução Claudio Gancho. Barcelona: Herder, 1994.______. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia. Tradução do autor. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2002.FRANCHETTI, Paulo; PÉCORA, Alcyr. Literatura comentada: Caetano Veloso. 2. ed. São Paulo: Nova Cultural, 1987.GALINKIN, Ana Lúcia. A cura no Vale do Amanhecer. 1977. Dissertação (Mestrado em Antropologia). Universidade de Brasília, Brasília, 1977.GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: LTC, 1989.______. O saber local: novos ensaios em Antropologia Interpretativa. Tradução Vera Mello Joscelyne. 3. ed. Petrópolis: Vozes, 2000.GENDROP, Paul. A civilização maia. Tradução Maria Júlia Goldwaser. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1996.GIEDION, Sigfried. El presente eterno: los comienzos de la arquitectura. Tradução Joaquín Fernández Bernaldo de Quirós. 5. ed. Madrid: Alianza, 1997.GÓES, Laércio Torres de. O mito cristão no cinema: “o verbo se fez luz e se projetou entre nós”. Salvador: UFBA, 2003.GONÇALVES, Djalma Barbosa. Vale do Amanhecer: análise antropológica de um movimento religioso sincrético contemporâneo. 1999. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Antropologia). Universidade de Brasília, Brasília, 1999. GORE, Rick. Faraós do sol: os monarcas rebeldes do Egito. National Geographic Brasil, São Paulo, n. 12, p. 22-45, abr. 2001. ______. Ramsés, o Grande. National Geographic Brasil, São Paulo, n.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 21115939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 211 31/01/2011 16:19:2431/01/2011 16:19:24
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante212
26, p. 8-35, jun. 2002. Edição especial de colecionador.GRABAR, André. Las vías de la creación en la iconografía cristiana. Tradução F. D. del Corral. Madrid: Alianza, 1988.GREENFIELD, Sydney M. Cirurgias do além: pesquisas antropológicas sobre curas espirituais. Tradução Wagner de Oliveira Brandão. Petrópolis: Vozes, 1999.GREINER, Christine; BIÃO, Armindo (Orgs.). Etnocenologia: textos selecionados. São Paulo: Annablume, 1999.GRUZINSKI, Serge. La guerra de las imágenes: de Cristóbal Colón a “Blade Runner” (1492-2019). Tradução Juan José Utrilla. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1994.______. O pensamento mestiço. Tradução Rosa Freire d`Aguiar. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.GUIMARÃES, Dinah; CAVALCANTE, Lauro. Arquitetura kitsch: suburbana e rural. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982.HAMBURGUER, Esther I. Indústria cultural brasileira (vista daqui e de fora). In: MICELI, Sérgio (Org.). O que ler na Ciência Social brasileira. V. IV. São Paulo: ANPOCS, 2002.HART, George. Mitos egípcios. Tradução Geraldo Costa Filho. São Paulo: Moraes, 1992.HOBLER, Dorothy; HOBLER, Thomas. Cleópatra. Tradução Mário Serapicos. São Paulo: Nova Cultural, 1987.HOLLANDA, Sérgio Buarque de. O extremo oeste. São Paulo: Brasiliense, 1986.HOLSTON, James. A cidade modernista: uma crítica de Brasília e sua utopia. Tradução Marcelo Coelho. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.HORNUNG, Erik. O rei. In: DONADONI, Sérgio (Org.). O homem egípcio. Tradução Maria Jorge Vilar de Figueiredo. Lisboa: Presença, 1994.IELIZÁRENKOVA, T. I.; TOPORÓV, V. N. Concepções mitológicas sobre cogumelos, relacionadas com a hipótese do caráter primitivo do soma. In: SCHNAIDERMAN, Boris (Org.). Semiótica russa. Tradução do organizador. São Paulo: Perspectiva, 1979.IVANOV, V. V. The Role of Semiotics in the Cybernetics Study of Man. In: LUCID, Daniel P. (Edit.) Soviet Semiotics: An Anthology. Baltimore: The Johns Hopkins University, 1977.IVANOV, V. V.; LOTMAN, I. M.; PIATIGÓRSKI, A. M.; TOPÓROV,
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 21215939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 212 31/01/2011 16:19:2431/01/2011 16:19:24
Referências 213
V. N.; USPIÊNSKI, B. A. Teses para uma análise semiótica da cultura (uma aplicação aos textos eslavos). In: MACHADO, Irene. Escola de semiótica: a experiência de Tártu-Moscou para o estudo da cultura. São Paulo: Ateliê, 2003.JAKOBSON, Roman. A lingüística em suas relações com outras ciências. In: Lingüística. Poética. Cinema. São Paulo: Perspectiva, 1970.______. Lingüística e comunicação. Tradução Izidoro Blikstein e José Paulo Paes. 20. ed. São Paulo: Cultrix, 1995.KRICKBERG, Walter. Mitos y leyendas de los aztecas, incas, mayas y muiscas. 8. ed. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1995.KUBITSCHEK, Juscelino. Meu caminho para Brasília: a experiência da humildade. V. I. Rio de Janeiro: Bloch, 1974.______. Meu caminho para Brasília: 50 anos em 5. V. III. Rio de Janeiro: Bloch, 1978.LABAKI, Amir. 2001: uma odisséia no espaço. São Paulo: Publifolha, 2000. LANDIN, Leilah (Org.). Sinais dos tempos: igrejas e seitas no Brasil. Rio de Janeiro: Instituto de Estudos da Religião, 1989.LAVER, James. A roupa e a moda: uma história concisa. Tradução Glória Maria de Mello Carvalho. 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.LEACH, Edmund. Cultura e comunicação. Tradução Carlos Roberto Oliveira. Lisboa: Edições 70, 1992.LE GOFF, Jacques. São Francisco de Assis. Tradução Marcos de Castro. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 2001.LEMOS, Carlos A. C. O que é arquitetura. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1982.LEROI-GOURHAN, André. O gesto e a palavra: memórias e ritmos. V. 2. Tradução Emanuel Godinho. Lisboa: Edições 70, 1987.LÉVÊQUE, Pierre. Animais, deuses e homens: o imaginário das primeiras religiões. Tradução João Gama. Lisboa: Edições 70, 1996.LÉVI-STRAUSS, Claude. Mito e significado. Tradução Antonio Marques Bessa. Lisboa: Edições 70, 1989.______. História de lince. Tradução Beatriz Perrone-Moisés. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.LEVINTON, G. A. Algumas questões gerais no estudo do rito matrimonial. In: SCHNAIDERMAN, Boris (Org.). Semiótica russa.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 21315939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 213 31/01/2011 16:19:2431/01/2011 16:19:24
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante214
Tradução do organizador. São Paulo: Perspectiva, 1979.LIMA, José Lezama. A expressão americana. Tradução Irlemar Chiampi. São Paulo: Brasiliense, 1988.LISPECTOR, Clarice. Para não esquecer. São Paulo: Siciliano, 1992.LOTMAN, Iuri M. A estrutura do texto artístico. Tradução Maria do Carmo V. Raposo e Alberto Raposo. Lisboa: Estampa, 1978.______. (Org.). Ensaios de semiótica soviética. Tradução Victória Navas e Salvato Teles de Menezes. Lisboa: Horizonte, 1981.______. La semiosfera I: semiotica de la cultura y del texto. Tradução Desiderio Navarro. Madrid: Cátedra, 1996.______. La semiosfera II: semiotica de la cultura, del texto, de la conducta y del espacio. Tradução Desiderio Navarro. Madrid: Cátedra, 1998.______. Cultura y explosión: lo previsible y lo imprevisible en los procesos de cambio social. Tradução Delfina Muschietti. Barcelona: Gedisa, 1999.______. La semiosfera III: semiotica de las artes y de la cultura. Tradução Desiderio Navarro. Madrid: Cátedra, 2000.MAÇANEIRO, Marcial. Mística e erótica: um ensaio sobre Deus, Eros e Beleza. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1995.MACEDO, José Rivair. Riso, cultura e sociedade na Idade Média. Porto Alegre: UFRGS, 2000.MACHADO, Irene A. O romance e a voz: a prosaica dialógica de Mikhail Bakhtin. Rio de Janeiro: Imago, 1995.______. Os gêneros e a ciência dialógica do termo. In: FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão; CASTRO, Gilberto de (Orgs.). Diálogos com Bakhtin. Curitiba: UFPR, 2001a.______. Liminaridad e intervalo: la semiosis de los espacios culturales. Signa, n. 10, p. 19-40, 2001b.______. Projections: semiotics of culture in Brazil. Sign Systems Studies, Tartu, v. 29, n. 2, p. 463-477, 2nd semester, 2001c._____. Escola de semiótica: a experiência de Tártu-Moscou para o estudo da cultura. São Paulo: Ateliê, 2003.MAFRA, Clara. Os evangélicos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.MAGNANI, José Guilherme. Mystica Urbe: um estudo antropológico sobre o circuito neo-esotérico na metrópole. São Paulo: Estúdio Nobel, 1999.______. O Brasil da Nova Era. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2000.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 21415939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 214 31/01/2011 16:19:2431/01/2011 16:19:24
Referências 215
MANTOVI, Primaggio. 100 anos de western. São Paulo: Opera Graphica, 2003.MARTINS, Maria Cristina de C. O Amanhecer de uma Nova Era: uma análise do espaço sagrado e simbólico do Vale do Amanhecer. Artigo apresentado no Seminário temático n. 8, intitulado “Messianismo(s) e Milenarismo(s): novos enfoques”, promovido pelo Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1999. Disponível em: <http://www.ifcs.ufrj.br/jornadas/papers/09st0805.rtf>. Acesso em: 28 ago.2001.MATTOS, A. C. Gomes de. A outra face de Hollywood: filme B. Rio de Janeiro: Rocco, 2003.______. Publique-se a lenda: a história do western. Rio de Janeiro: Rocco, 2004. MAYRINK, Geraldo. Juscelino. São Paulo: Nova Cultural, 1988.MEDINA, Cremilda (Org.) Narrativas a céu aberto: modos e ver e viver Brasília. Brasília: UNB, 1998.MENEGUELLO, Cristina. Poeira de estrelas: o cinema hollywoodiano na mídia brasileira das décadas de 40 e 50. Campinas: UNICAMP, 1996.MERQUIOR, José Guilherme. A estética de Lévi-Strauss. Tradução Juvenal Hahne Júnior. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1975.MEYER, Marlyse. Maria Padilha e toda a sua quadrilha: de amante de um rei de Castela a pomba-gira de umbanda. São Paulo: Duas Cidades, 1993.MIELIETINSKI, E. M. A poética do mito. Tradução Paulo Bezerra. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1987.MIELIETINSKI, E. M. Tipologia estrutural do folclore. In: SCHNAIDERMAN, Boris (Org.). Semiótica russa. Tradução do organizador. São Paulo: Perspectiva, 1979.MOLES, Abraham. O kitsch: a arte da felicidade. Tradução Sérgio Miceli. 4. ed. São Paulo: Perspectiva, 1994.MONNIER, Gerard. Le Corbusier: construir a modernidade. Tradução Maria Lúcia Machado. São Paulo: Brasiliense, 1985.MONTEIRO, Santiago. Deusas e adivinhas: mulher e adivinhação na Roma Antiga. Tradução Nelson Canabarro. São Paulo: Musa, 1998.MORE, Thomas. A utopia. Tradução Paulo M. Oliveira. São Paulo: Abril Cultural, 1972.MOREIRA, Alberto; ZICMAN, Renée (Orgs.). Misticismo e novas
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 21515939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 215 31/01/2011 16:19:2431/01/2011 16:19:24
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante216
religiões. Petrópolis: Vozes, 1994.MORIN, Edgar. As estrelas: mito e sedução no cinema. Tradução Luciano Trigo. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1989.MOURA, Gerson. Tio Sam chega ao Brasil: a penetração cultural americana. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1986.NAPOLITANO, Marcos. Seguindo a canção: engajamento político e indústria cultural na MPB (1959-1969). São Paulo: Annablume, 2001.NOGUEIRA, Carlos Roberto F. O diabo no imaginário cristão. São Paulo: Ática, 1986.OLIVEIRA, Daniela de. Visualidades em foco: conexões entre a cultura visual e o Vale do Amanhecer. 2007. Dissertação (Mestrado em Cultura Visual). Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2007.OLIVEIRA, Dorotéo Émerson Stork de. As representações do sagrado na construção da realidade Vale do Amanhecer. 2002. Dissertação (Mestrado em Geografia). Universidade de Brasília, Brasília, 2002.OLIVEIRA JÚNIOR, Antônio Wellington de. Línguas de anjos: sobre glossolalia religiosa. São Paulo: Annablume, 2000.______. Glossolalia: voz e poesia. São Paulo: USC, 2004.OLIVEIRA, Fátima Cristina Regis Martins de. Como a ficção científica conquistou a atualidade. Artigo apresentado no XXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, realizado em Campo Grande, em 2001. Disponível em: <http://www.intercom.org.br/papers/xxix-ci/np080>. Acesso em: 12 out.2002.ORTIZ, Renato. Ética, poder y política: umbanda: um mito-ideologia. Diálogos de la Comunicación, n. 28, p. 7-15, nov. 1990.______. A morte branca do feiticeiro negro: umbanda e sociedade brasileira. São Paulo: Brasiliense, 1991.______. A moderna tradição brasileira. 5. ed. São Paulo: Brasiliense, 2001.PALLA, Maria José. Traje e pintura: Grão Vasco e o retábulo da Sé de Viseu. Tradução Eduarda Pinto Basto. Lisboa: Estampa, 1999.PAPAIOANNOU, Kostas. Pintura bizantina y rusa. Madrid: Aguilar, 1968.PAVIANI, Aldo (Org.). Brasília, ideologia e realidade: espaço urbano em questão. São Paulo: Projeto, 1985.PASTOUREAU, Michel. Dicionário das cores do nosso tempo: simbólica e sociedade. Tradução Maria José Figueiredo. Lisboa: Estampa, 1997.PEDROSA, Mário. Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília. São
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 21615939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 216 31/01/2011 16:19:2431/01/2011 16:19:24
Referências 217
Paulo: Perspectiva, 1981.PEREIRA, Carlos Alberto Messeder. O que é contracultura. São Paulo: Brasiliense, 1983.PINHEIRO, Amálio. Aquém da identidade e da oposição. Piracicaba: UNIMEP, 1994.PINHEIRO, Francisco de Moura. Bruxas? Existem? In: MEDINA, Cremilda (Org.). Narrativas a céu aberto: modos e ver e viver Brasília. Brasília: UNB, 1998.PORDEUS JR., Ismael. De índio a caboclo: a (re)construção da identidade na umbanda. In: LIMA, Tânia (org.). Sincretismo religioso: o ritual afro. Anais do IV Congresso Afrobrasileiro. Recife: Massangana, 1996.______. O caboclo e a ressemantização étnica indígena na umbanda. In: PINHEIRO, Joceny (Org.). Ceará terra da luz, terra dos índios: história, presença, perspectiva. Fortaleza: Ministério Público Federal, 2002.PORTAL, Frédéric. El simbolismo de los colores: en la Antigüedad, la Edad Media y los tiempos modernos. Tradução Francesc Gutiérrez. Barcelona: J. J. De Olañeta, 1996. PORTIS-WINNER, Irene. Lotman’s Semiosfere and Why is Not a “Semless Web”. In: ______. Semiotics of Culture. The Stranger Intruder. Bochum: Brockmeyer, 1994.POSNER, Roland. What is Culture: Toward a Semiotic Explications of Anthropological Concepts. In: KOCH, Walter. The Nature of Culture. Bochum: Brockmeyer, 1989.______. O mecanismo semiótico da cultura. In: RECTOR, Mônica; NEIVA, Eduardo (Orgs.) Comunicação na era pós-moderna. Tradução Célia Benquerer. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1995.PROPP, Vladimir J. Édipo à luz do folclore. Tradução Antônio da Silva Lopes. Lisboa: Veja, s/d.PROPP, Vladimir J. Comicidade e riso. Tradução Aurora F. Bernardini e Homero F. de Andrade. São Paulo: Ática, 1992.RAMÍREZ, Gabriela Balcázar. Baixo o céu, mar de Brasília. In: MEDINA, Cremilda (Org.) Narrativas a céu aberto: modos e ver e viver Brasília. Brasília: UNB, 1998.RAMOS, Adriana Vaz. A indumentária simbólica: das festas ao teatro: a congada na comunidade dos Arturos. 2000. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Semiótica). Pontifícia Universidade Católica de
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 21715939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 217 31/01/2011 16:19:2431/01/2011 16:19:24
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante218
São Paulo, São Paulo, 2000.REIS, Marcelo Rodrigues dos. Tia Neiva: a trajetória de uma líder religiosa e sua obra, o Vale do Amanhecer (1925-2008). Tese (Doutorado em História). Universidade de Brasília, Brasília, 2008.RICARDO DE SOUZA, André; RICARDO DE SOUZA, Patrícia. A umbanda esotérica em São Paulo. Artigo apresentado na IX Jornada sobre Alternativas Religiosas na América Latina, realizado no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em 1999. Disponível em: <http://www.ifcs.ufrj.br/jornadas/st10.htm>. Acesso em: ago. 2004.RISÉRIO, Antônio. Em defesa da semiodiversidade. In: ______. A via Vico e outros escritos. Salvador: Oiti, 2000.ROCHA, Everardo. A sociedade do sonho: comunicação, cultura e consumo. 4. ed. Rio de Janeiro: MAUAD, 1995.ROSNAK, Theodore. A contracultura: reflexões sobre a sociedade tecnocrática e a oposição juvenil. Tradução Donaldson M. Garschagem. Petrópolis: Vozes, 1972.SALAZAR, Fernando Elorrieta; SALAZAR, Edgar Elorrieta. El valle sagrado de los incas: mitos y símbolos. Cusco: Sociedad Pacaritanpu Ata, 1996.SALGUEIRO, Roberta da Rocha. Hierarquia espiritual das entidades negras do Vale do Amanhecer. Dissertação (Mestrado em Antropologia). Universidade de Brasília, Brasília, 2003.SANTAELLA, Lúcia. O homem e as máquinas. In: DOMINGUES, Diana. A arte no século XXI: a humanização das tecnologias. São Paulo: UNESP, 1997.SANTOS, Gérson Tenório dos. A semiose do sagrado: uma abordagem complexa dos sistemas religiosos. 2001. Tese (Doutorado em Comunicação e Semiótica). Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2001.SANTOS, Moacir Elias; MOREIRA, Thiago José; TELARDI, Vivian Noite V. A Ordem Rosacruz e a arquitetura egípcia. In: BAKOS, Margaret Marchiori (Org.). Egiptomania: o Egito no Brasil. São Paulo: Paris, 2004.SANZ, José (Org.) FC: simpósio/ SF: symposium. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Cultura, 1969.SASAKI, Ricardo. O outro lado do espiritualismo moderno: para compreender a Nova Era. Petrópolis: Vozes, 1995.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 21815939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 218 31/01/2011 16:19:2431/01/2011 16:19:24
Referências 219
SCHARF, Aaron. Construtivismo. In: STANGOS, Nikos (Org.). Conceitos de Arte Moderna. Tradução Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2000.SCHNAIDERMAN, Boris (Org.). Semiótica russa. Tradução do organizador. São Paulo: Perspectiva, 1979.SEABRA, Roberto. As mil e uma noites de Brasília. In: MEDINA, Cremilda (Org.) Narrativas a céu aberto: modos e ver e viver Brasília. Brasília: UNB, 1998.SEBEOK, Thomas A. Comunicação. In: RECTOR, Mônica; NEIVA, Eduardo (Orgs.) Comunicação na era pós-moderna. Tradução Mônica Rector. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1995.SHAPANAN, Francelino de. Entre caboclos e encantados. In: PRANDI, Reginaldo (Org.). Encantaria brasileira: o livro dos mestres, caboclos e encantados. Rio de Janeiro: Pallas, 2001.SICLIER, Jacques; LABARTHE, André S. Images de la science-fiction. Paris: Cerf, 1958.SILVA, Márcia Regina da. Vale do Amanhecer: aspectos do vestuário em um contexto religioso. Brasília. 1999. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Antropologia). Universidade de Brasília, Brasília, 1999.SILVA, Solange. Vestuário: comunicação e cultura. Líbero, São Paulo, ano IV, v. 4, n. 7-8, p. 80-85, 2001.SILVA, Vagner Gonçalves da. Candomblé e umbanda: caminhos da devoção brasileira. São Paulo: Ática, 1994.SILVEIRA, Lauro B. Semiose: diálogos e linguagem. Galáxia, São Paulo, n. 1, p. 75-109, 2001. SIQUEIRA, Deis. As novas religiosidades no Ocidente: Brasília, cidade mística. Brasília: UNB, 2003.SIQUEIRA, Sônia. A teatralidade do Barroco. 2. ed. Lorena: Centro Cultural Teresa D’ Ávila, 1996.______. “Sou moderno! Sou europeu!”: cultura, estética e arte no Renascimento. Lorena: Centro Cultural Teresa D’ Ávila, 1998.SODRÉ, Muniz. A ficção do tempo: análise da narrativa de science fiction. Petrópolis: Vozes, 1973.______. Best-seller: a literatura de mercado. 2. ed. São Paulo: Ática, 1988.______. Antropológica do espelho: uma teoria da comunicação linear e em rede. Petrópolis: Vozes, 2002.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 21915939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 219 31/01/2011 16:19:2431/01/2011 16:19:24
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante220
SODRÈ, Nelson Wernek. Síntese de história da cultura brasileira. 18. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1996.SONESSON, Göran. The Concept of Text in Cultural Semiotics. Sign Systems Studies, Tartu, n. 26, p. 83-114, 1998. SONTAG, Susan. A imaginação da catástrofe. In: ______. Contra a interpretação. Tradução Ana Maria Capovilla. Porto Alegre: LP&M, 1987.SOLOMON, Jon. The Ancient World in the Cinema. New Haven, Mich.: Yale University, 2001. SOUSTELLE, Jacques. A civilização asteca. Tradução Maria Júlia Goldwaser. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1987.______. Os astecas na véspera da conquista espanhola. Tradução Eduardo Brandão. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.TAVARES, Bráulio. O que é ficção científica. São Paulo: Brasiliense, 1986.TCHAKHOTINE, Serge. A mistificação das massas pela propaganda política. Tradução Miguel Arraes. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967.TELOTTE, J. P. El cine de ciencia ficción. Tradução José Miguel Parra Ortiz. Madrid: Cambridge University, 2002.TERRIN, Aldo Natale. Nova Era: a religiosidade do pós-moderno. São Paulo: Loyola, 1996.TOPOROV, Vladimir N., IVANOV, Viacheslav V.; MELETINSKI, Eleazar. M. Árbol del mundo: diccionario de imágenes, símbolos e términos mitológicos. Tradução Desiderio Navarro. La Habana: Casa de las Américas, 2002. TOROP, Peter. Cultural Semiotics and Culture. Sign Systems Studies, Tartu, n. 26, p. 9-23, 1998. TRAUNECKER, Claude. Os deuses do Egito. Tradução Emanuel Araújo. Brasília: UNB, 1995.UEXKÜLL, Thure von. Varieties of Semioses. In: SEBEOK, T. A.; UMIKER-SEBEOK, J. (Eds.). The Semiotic Web 1991. Berlin: M. Gruyter, 1992.UHLMANN, Günter Wilhelm. Teoria geral dos sistemas, do atomismo ao sistemismo: uma abordagem sintética das principais vertentes contemporâneas desta proto-teoria. São Paulo: CISC (pré-print), 2002.UNDERWOOD, David. Oscar Niemeyer e o modernismo de formas livres
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 22015939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 220 31/01/2011 16:19:2431/01/2011 16:19:24
Referências 221
no Brasil. Tradução Betina Bischof. São Paulo: Cosac & Naif, 2002.VALENTE, Waldemar. Sincretismo religioso afrobrasileiro. São Paulo: Nacional, 1955.VERNANT, Jean-Pierre. A morte nos olhos. Figuração do outro na Grécia Antiga: Ártemis e Gorgó. Tradução Clóvis Marques. 2, ed. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1991.VILLA, Ruben Pilares. Turismo místico: parodia o transcendência. Cusco: AYAR, 1992.VILLAS BOAS, Orlando; VILLAS BOAS, Cláudio. Xingu: os índios, seus mitos. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1970.WEEKS, Kent R. Vale dos Reis. National Geographic Brasil, São Paulo, n. 26, p. 36-65, jun. 2002. Edição especial de colecionador.WIENER, Norbert. Cibernética e sociedade: o uso humano de seres humanos. Tradução José Paulo Paes. São Paulo: Cultrix, 1993.WÖLFFLIN, Heinrich. Conceitos fundamentais da história da arte. Tradução João Azenha Júnior. 4. ed. São Paulo: M. Fontes, 2000.WOODROW, Alain. Las nuevas sectas. Tradução Aurélio Garzón Camino. 3. ed. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1993.XAVIER, Alberto (Org.). Depoimento de uma geração: arquitetura moderna brasileira. São Paulo: Cosac & Naif, 2003.ZUIDEMA, R. Tom. La civilización inca en Cuzco. Tradução Sergio Fernández Bravo. Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1991.
Publicações do Vale do Amanhecer
ÁLVARES, Bálsamo. Leis e chaves ritualísticas. 3. ed. Brasília: s/n, 1979._____. (Org.). Hinos mântricos. 5. ed. Brasília: s/n, 1991a._____. Mensagens de Pai Seta Branca. 4. ed. Brasília: s/n, 1991b._____. Pequenas histórias. Brasília: s/n, 1991c._____. O Pequeno Pajé. Brasília: s/n, 1991d._____. Tia Neiva: autobiografia missionária. Brasília: s/n, 1992.SABATOVICZ, Nestor. Manual de instruções. 3. ed. Brasília: s/n, 1995.SASSI, Mário. Sob os olhos da clarividente. 2. ed. Brasília: s/n, s/d._____. No limiar do terceiro milênio. 3. ed. Brasília: s/n, 1974._____. 2000: A conjunção de dois planos. 2. ed. Brasília: s/n, s/d._____. Instruções práticas para os médiuns. 7 volumes. Brasília: s/n, 1977.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 22115939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 221 31/01/2011 16:19:2431/01/2011 16:19:24
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante222
_____. Partida evangélica. Apostila para distribuição entre os médiuns. Brasília: s/n, 1995.ZELAYA, Neiva Chaves; SASSI, Mário. Tiãozinho e Justininha. Série Pequenas Histórias, v. 12. Planaltina: Vale do Amanhecer, 1999.
Entrevistas
ADEPTOS do Templo do Vale do Amanhecer. Entrevistas realizadas por Carmen Luisa Chaves Cavalcante. Brasília, 22-30 jul. 1995, 2-12 dez. 1995, 28 nov./ 5 dez. 1996, 17-21 out. 1997, 20-25 jul. 2002, 1-3 maio 2004.PONTE, Augusto César Viana. Entrevista realizada por Carmen Luisa Chaves Cavalcante. Fortaleza, jul. 2002.
Matérias em jornais
CALDAS, Renata. Bregna. 2500 d. C.: Brasília muda de nome em produção hollywoodiana de ficção científica a ser rodada em novembro. Correio Braziliense. Brasília, 24 jun. 2004. CUNHA, Ari. Contra a poluição visual. Correio Braziliense. Brasília, 26 dez. 2000.Russo Iuri Gagarin foi primeiro homem a voar no espaço. Folha de S. Paulo, 13 out. 2003.
Fontes web
ÆON FLUX. Disponível em: <http://www.aeonflux.com>. Acesso em: 17 ago. 2006.CINEMA EM CENA. Disponível em: <http://www.cinema.art.br/not_cinenews_filme.asp?cod=cod2453>. Acesso em: 28 ago. 2003.IMAGENS BAHIA. Disponível em: <http://www.imagensbahia.com.br/>. Acesso em 20 jun. 2004.INSTITUTO DE FILOSOFIA E CIENCIAS SOCIAIS/ UNIVERSI-DADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO. Disponível em: <http://www.ifcs.ufrj.br/jornadas/papers/09st0805.rtf>. Acesso em: 28 ago. 2001.LA LEYENDA DE STAR TREK. Disponible en: <http://www.ar-rakis.es/~adolfoh/startrek/uniforme.htm>. Acesso em: 15 set. 2002.MAGIC PERU. Disponível em: <http://www.magicperu.com/atlas/default14.htm>. Acesso em: 20 ago. 2001.PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO. Dis-
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 22215939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 222 31/01/2011 16:19:2431/01/2011 16:19:24
Referências 223
ponível em: <http://www.pucsp/~cos-puc/cultura/index.html>. Acesso em: 24 ago. 2000. Disponível em: <http://www.persocom.com.br/artesanato/pag002.htm>. Acesso em: 20 ago. 2001.SÉRIES ANTIGAS DA TV. Disponível em: <http://www.seriesanti-gas.hpg.ig.com.br>. Acesso em: 12 out. 2002.SOCIEDADE ESPÍRITA RESGATE DOS FILHOS DE ÓRION. Dis-ponível em: <http://www.serfo.com.br/umbanda.htm>. Acesso em: 18 nov. 2004.1o TEMPLO VIRTUAL ESPIRITUAL APURÊ DO AMANHECER. Disponível em: <http://www.valedoamanhecer.com.br>. Acesso em: 10 ago. 2009.VALE DO AMANHECER – COORDENAÇÃO DOS TEMPOS. Dis-ponível em: <http://www.valedoamanhecer.com>. Acesso em: 10 out. 2009.<http://www. artehistoria.com/historia/obras/10167.htm>. Acesso em: 20 jan. 2004.<http://www.interestelar.hostmídia.com.br/baseanteres/tos.html>. Acesso em: 20 jan. 2004.<http://www.pages.infinit.net/r2d2/tiahuanaco/tiahuanaco.html>. Acesso em: 20 jan. 2004.<http://www.startrekbrazil.kit.net>. Acesso em: 15 set. 2002.
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 22315939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 223 31/01/2011 16:19:2431/01/2011 16:19:24
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante224
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 22415939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 224 31/01/2011 16:19:2431/01/2011 16:19:24
225
As cores do Vale do Amanhecer
Tia Neiva / Fonte: fotografia e pintura de Vilela
Anexos
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 22515939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 225 31/01/2011 16:19:2431/01/2011 16:19:24
226 Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante
Publicações do Vale do Amanhecer / Fonte: acervo da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 22615939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 226 31/01/2011 16:19:2431/01/2011 16:19:24
227
Fachada do Templo Principal / Fonte: da autora
Fachada do Templo Principal / Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 22715939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 227 31/01/2011 16:19:2531/01/2011 16:19:25
228 Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante
Turigano / Fonte: da autora
Estrela de Nerú/ Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 22815939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 228 31/01/2011 16:19:2531/01/2011 16:19:25
229
Solar dos Médiuns / Estrela Candente/ Fonte: da autora
Solar dos Médiuns / Estrela Candente/ Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 22915939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 229 31/01/2011 16:19:2531/01/2011 16:19:25
230 Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante
Solar dos Médiuns / Mãe Yara ao fundo/ Fonte: da autora
Solar dos Médiuns / Cachoeira do Jaguar/ Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 23015939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 230 31/01/2011 16:19:2631/01/2011 16:19:26
231
Solar dos Médiuns /Lateral da Pirâmide/ Fonte: da autora
Solar dos Médiuns / Mestre Jaguar/ Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 23115939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 231 31/01/2011 16:19:2731/01/2011 16:19:27
232 Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante
Estrela Candente / Momento do Ritual / Fonte: da autora
Estrela Candente / Momento do Ritual / Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 23215939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 232 31/01/2011 16:19:2731/01/2011 16:19:27
233
Estrela Candente / Momento do Ritual / Fonte: da autora
Estrela Candente / Momento do Ritual / Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 23315939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 233 31/01/2011 16:19:2731/01/2011 16:19:27
234 Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante
Templo do Amanhecer / Castelo Cruz do Caminho/ Fonte: da autora
Templo do Amanhecer / Pai Seta Branca ao fundo /Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 23415939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 234 31/01/2011 16:19:2831/01/2011 16:19:28
Anexos - As cores do Vale do Amanhecer 235
Imagens do Capítulo 3
Templo do Amanhecer / Fonte: da autora
Templo do Amanhecer / Oráculo de Pai Seta Branca / Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 23515939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 235 31/01/2011 16:19:2831/01/2011 16:19:28
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante236
Ninfa Sol e Mestre Lua/Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 23615939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 236 31/01/2011 16:19:2831/01/2011 16:19:28
Anexos - As cores do Vale do Amanhecer 237
Tupinambá /Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 23715939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 237 31/01/2011 16:19:2931/01/2011 16:19:29
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante238
Yurici e Príncipe Maia /Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 23815939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 238 31/01/2011 16:19:2931/01/2011 16:19:29
Anexos - As cores do Vale do Amanhecer 239
Samaritana / Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 23915939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 239 31/01/2011 16:19:2931/01/2011 16:19:29
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante240
Jaçanã /Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 24015939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 240 31/01/2011 16:19:2931/01/2011 16:19:29
Anexos - As cores do Vale do Amanhecer 241
Muruaicy /Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 24115939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 241 31/01/2011 16:19:3031/01/2011 16:19:30
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante242
Dharmo Oxinto / Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 24215939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 242 31/01/2011 16:19:3031/01/2011 16:19:30
Anexos - As cores do Vale do Amanhecer 243
Prisioneiras / Trabalho ritual para os espíritos cobradores/ Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 24315939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 243 31/01/2011 16:19:3031/01/2011 16:19:30
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante244
Cigana Tagana /Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 24415939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 244 31/01/2011 16:19:3031/01/2011 16:19:30
Anexos - As cores do Vale do Amanhecer 245
Doutor Fritz/ Fonte: pintura de Vilela
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 24515939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 245 31/01/2011 16:19:3031/01/2011 16:19:30
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante246
Johnson Plata/ Fonte: pintura de Vilela
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 24615939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 246 31/01/2011 16:19:3131/01/2011 16:19:31
Anexos - As cores do Vale do Amanhecer 247
Tiãozinho / Fonte: pintura de Vilela
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 24715939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 247 31/01/2011 16:19:3131/01/2011 16:19:31
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante248
Tiãozinho e Justininha / Fonte: pintura de Vilela
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 24815939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 248 31/01/2011 16:19:3131/01/2011 16:19:31
Anexos - As cores do Vale do Amanhecer 249
Stuart e sua companheira/ Fonte: pintura de Vilela
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 24915939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 249 31/01/2011 16:19:3131/01/2011 16:19:31
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante250
Pai Seta Branca/ Fonte: pintura de Vilela
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 25015939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 250 31/01/2011 16:19:3131/01/2011 16:19:31
Anexos - As cores do Vale do Amanhecer 251
Capelinos no comando de uma nave/ Fonte: pintura de Vilela
Lanchonete Xingu/ Fonte: da autora
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 25115939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 251 31/01/2011 16:19:3231/01/2011 16:19:32
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante252
Caboclo Ubirajara/ Fonte: pintura de Vilela
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 25215939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 252 31/01/2011 16:19:3231/01/2011 16:19:32
Anexos - As cores do Vale do Amanhecer 253
Cabocla Jupiara/ Fonte: pintura de Vilela
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 25315939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 253 31/01/2011 16:19:3231/01/2011 16:19:32
Dialogias no Vale do Amanhecer: os signos de um imaginário religioso Carmen Luisa Chaves Cavalcante254
Caboclo Pena Dourada/ Fonte: pintura de Vilela
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 25415939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 254 31/01/2011 16:19:3231/01/2011 16:19:32
Anexos - As cores do Vale do Amanhecer 255
Cavaleiro da Lança Rósea/ Fonte: pintura de Vilela
15939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 25515939 - Livro Dialogias no vale do Amanhecer.indd 255 31/01/2011 16:19:3231/01/2011 16:19:32