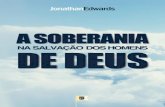Geração Internet: quem são e para que vieram. Um estudo de caso The Internet generation
Justiça para quem?
-
Upload
puc-campinas -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Justiça para quem?
Autor: Josué Mastrodi
Doutor em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo. Mestre em Direito pela
Universidade Gama Filho. Autor do Livro Direitos Sociais Fundamentais (Ed. Lumen Juris).
Professor e pesquisador da Pontifícia Universidade Católica de Campinas.
e-mail: [email protected]
tel. 19 8128 5166
Título do artigo: Justiça para quem?
Resumo: Justiça é conceito abstrato que somente se torna concreto a partir das relações
sociais de poder que estruturam toda e qualquer sociedade. Os grupos ou classes sociais que
historicamente detém mais poder têm a efetiva capacidade de organizar o grupo social
segundo a satisfação prioritária de seus próprios interesses, em detrimento dos interesses dos
demais grupos ou classes sociais. Para que seus interesses sejam satisfeitos de forma
prioritária, eles são apresentados como interesses universais, adequados à sociedade como um
todo. Essa aparência de justiça acaba por esconder sua essência de injustiça.
Palavras-chave: Justiça abstrata. Justiça concreta. Direito e modo de produção capitalista.
Violência e poder social como direcionadores do sentido das normas jurídicas.
Title: Justice for whom?
Abstract: Justice is a very abstract concept that only becomes concrete due to the social
relations of Power which structure all and every society. Groups or social classes that
historically possess more power have effective capacity to organize the entire social body in
such a way its own interests are satisfied better and before the interests of the other groups or
classes. For the sake of using social goods first, the interests of the dominant class are shown
as universal interests, that fit society as a whole. This appearance of justice conceals the
essence of this society is anything but related to justice.
Keywords. Abstract justice. Concrete justice. Law and capitalist mode of production.
Violence and social power giving sense to legal norms.
Vinculação ao eixo temático Direitos Fundamentais e Novos Direitos
Justiça para quem?
1. Introdução
Justiça é um dos termos com o maior número de acepções possíveis, seja em língua
portuguesa, inglesa, alemã ou qualquer outra. Não existe definição unívoca, tampouco uma
que seja universalmente aceita. Neste trabalho, justiça será apresentada como um termo que
decorre da cristalização histórica de relações sociais de poder, relações estas que estruturam
a sociedade de tal modo que, a partir delas, desenvolvem-se as próprias definições e
compreensões que os indivíduos têm de si e do mundo. Ou seja, justo é tudo aquilo que é
conforme a tais definições e compreensões. Aliás, é por isso mesmo que o termo justiça tem
conteúdo tão variado: por conta das incontáveis relações sociais de poder travadas ao longo da
história.
Nessas relações, há grupos sociais que detêm mais capacidade de imposição de seus
interesses que outros, o que faz com que certas definições de justiça sejam mais favoráveis
àqueles do que a estes, posto que baseadas na visão de mundo dos grupos hegemônicos. Tais
relações de poder são tão intrínsecas às sociedades que os grupos menos favorecidos acabam
por aceitar os valores e conceitos do grupo dominante como justos, ainda que tais valores e
conceitos consolidem a situação de dominação. Essa estrutura de dominação subjaz toda e
qualquer compreensão de justiça, compreensão que se altera na história na medida em que
novas relações de poder se estabelecem na sociedade. A própria definição filosófica de justiça
decorre dessas relações estruturais de poder.
Para não tornar este artigo por demais extenso, desenvolverei o tema a partir da
estrutura de pensamento jusnatural de caráter racionalista, deixando de lado a ideia de que a
justiça decorreria da natureza das coisas (compreensão desenvolvida na Antiguidade, pela
qual algo é justo porque é assim que ele deve ser), ou que decorreria da revelação de uma
vontade divina, em que justo é tudo aquilo que deriva da vontade do Criador.1
1 Não obstante, há no jusnaturalismo divino um problema que acabará por ser tratado mais adiante. Nos mais
diversos grupos sociais, ao longo da história, sempre se conferiu a uma pessoa ou a uma casta a prerrogativa de
conversar com Deus. O sacerdote, nesse cenário, acaba tendo uma posição social privilegiada porque, como
apenas ele tem acesso à divindade, jamais é possível aos demais membros daquela sociedade saber se o que é
dito pelo sacerdote decorre da vontade de Deus ou do simples arbítrio do próprio sacerdote. Em que pese o tema
justiça divina não ser objeto deste trabalho, ela foi lembrada apenas para ressaltar que, mesmo nesta situação,
Segundo a posição iluminista, justiça decorre do que pode ser acertado pelos membros
da sociedade dentro de alguma espécie de pacto ou contrato social. Impossível não notar que
se trata de uma especulação sobre permitir aos homens que decidam seus destinos sem
qualquer necessidade de importunar Deus (aliás, a própria noção de Deus é deixada de lado:
em termos racionais, os homens podem até viver sem Deus). Essa ideia tira de Deus a
prerrogativa de determinar os destinos do grupo social e a põe nas mãos dos homens, que
passariam a decidir seus destinos conforme sua vontade, e não a Dele. Essa ideia deu tão certo
que hoje, no ocidente, é praticamente impensável considerar que o Estado possa ser atrelado à
Igreja, ou que os valores religiosos devam estabelecer o conteúdo das normas jurídicas. O
Estado, segundo o contrato social, deve ser laico.2
2. Justiça racional
Voltando à ideia de contrato social: todos os autores iluministas, de uma forma ou de
outra, acabaram estipulando que é possível viver em sociedade mediante consensos, criando-
se princípios de convivência a partir dos quais o próprio ethos é estabelecido. Esses princípios
valorizam sobremaneira o indivíduo e sua vontade, chegando-se a considerar que este é
naturalmente livre para fazer o que quiser, desde que não invada a individualidade ou a
liberdade de terceiros.3 Aliás, a sociedade é entendida como o conjunto de indivíduos livres
impera uma relação de poder, que é efetivamente o cerne desta discussão. Aliás, o iluminismo e o
antropocentrismo devem ser entendidos como formas de luta social contra o poder do clero e dos nobres
(alçados por Deus a tal posição), como forma de reorganizar a sociedade conforme outros critérios de justiça
mais favoráveis aos demais grupos.
2 Cabe, aqui, a seguinte pergunta: por que o Estado deve ser laico? Exatamente para impedir que o poder social
seja exercido pela casta de sacerdotes (ou do grupo nomeado por Deus para governar). A partir do momento em
que valores religiosos não devam mais ser considerados importantes, ou ao menos tão importantes quanto todos
os outros valores sociais, a noção de justiça se seculariza. Na verdade, esta discussão não envolve uma disputa
ideológica entre ateus de um lado e religiosos de outro, mas uma luta social em que o grupo anteriormente
dominado, para tornar-se dominante, precisava justificar sua força social e quebrar o fundamento da força do
grupo antes dominador, agora dominado. De igual modo, não afirmo que os fundamentos ideológicos são mais
importantes que a luta social: é porque a luta social se desenvolve e o novo grupo social ascende que seus
valores e conceitos justificadores se tornam mais relevantes. Tanto que se o Estado deixar de ser laico
dificilmente isso alteraria estruturalmente as relações sociais de poder.
3 Essa regra de ouro, pela qual o limite de um termina onde o limite do outro começa, é baseada no imperativo
kantiano pelo qual a conduta do indivíduo deve ser de tal modo que esta se torne conduta universal. Mas há um
problema aqui, que é objeto deste trabalho: quem estabelece de fato esse limite entre as liberdades? Trata-se de
questão lógica levantada até mesmo para KELSEN (2003), que considera inviável identificar objetivamente onde
começa a liberdade de um e termina a de outro. Tal definição acaba ocorrendo pela decisão de autoridade
política por meio da positivação de norma jurídica. Não obstante, a questão pode ser novamente apresentada:
qual o critério de justiça da autoridade ao definir o limite entre as liberdades?
que decidiram conviver por vontade própria de cada um (Cf. ROUSSEAU ou RAWLS), como se
não houvesse necessidade de convivência para manutenção das próprias condições de
sobrevivência do grupo.
O critério de legitimidade das regras e das condutas sociais não se funda mais na
vontade de Deus, que foi substituída pela crítica da Razão. Todas as regras sociais e a própria
noção de justiça passam a ser definidas a partir de critérios racionais. Declara-se, com o
racionalismo, que a justiça é logicamente demonstrável.
Ao se fundar a noção de justiça sobre a lógica, criam-se normas –morais e jurídicas–
racionais que, exatamente por serem racionais, são necessariamente justas. Como a razão não
admite duas respostas certas para a mesma situação (pois é formalmente ilógico haver dois
resultados verdadeiros para um único problema), a aplicação desse critério às normas de
conduta e à própria noção de justiça impõe a afirmação de que só existiria uma forma justa de
se conduzir em sociedade. Assim, a vontade dos homens é apresentada como legítima se
racionalmente justificada. Se as condutas humanas, por outro lado, não passarem pela crítica
da Razão, elas são injustas.
No final do século XX, a racionalidade lógica da justiça –a ideia de justiça racional–
passou a ser relativizada. Justiça ainda é termo cuja definição depende, conforme a época e o
lugar, do estabelecimento de consensos sociais. Mas tais consensos passaram a ser aceitos se
fundamentados sobre certa razoabilidade. Ou seja, para se definir claramente o que se possa
entender por justiça (ou por algo justo), pressupõe-se que as pessoas estabeleçam uma série de
acordos prévios sobre suas próprias vidas e sobre a forma como elas convivem para, a partir
dessas definições, considerarem que tudo o que for conforme essas mesmas definições é justo.
As diferentes posições filosóficas e até sociológicas sobre a noção de justiça passaram a
conviver no que se convencionou denominar de pluralismo político. Não é mais possível falar
em uma única resposta certa ou numa única forma de se fazer justiça.
Porém, essa relativização da justiça não passa de uma forma de luta social pela qual o
grupo dominante mantém o status quo.4 Afinal, se tantas são as formas de justiça possíveis, a
4 Cf., a propósito, LEAL HURTADO (2008), para quem as teorias sociais pós-modernas têm servido para retardar
as possibilidades de mudança social justamente por servirem de sustento ideológico ao neoliberalismo. Em que
atual formatação do que é justo, por também ser fundada em certa razoabilidade, também é
válida e pode ser mantida, sem necessidade de qualquer mudança que favoreça os grupos
dominados.
3. Poder e estrutura social
Poder é uma relação ora intersubjetiva, ora social. Num caso ou no outro, trata da
capacidade de uma pessoa ou de um grupo ver satisfeitos suas necessidades, interesses e
vontades à custa de outra pessoa ou de outro grupo (RUSSELL, 1957:1-7). Em termos sociais,
um grupo é dominante sempre que consome o produto do trabalho social do outro grupo sem
qualquer contraprestação. Deve-se notar que se trata de uma relação dialética: um grupo só é
dominante porque domina outro grupo. É inconcebível compreender um grupo dominante
sem outro que seja dominado.
Do mesmo jeito, é impensável conceber a existência de uma pessoa rica sem compará-
la com uma pessoa pobre. E, dado que os bens produzidos em qualquer sociedade são
escassos (i.e., não há recursos para todos ao mesmo tempo, de modo ilimitado), se alguém se
apropria desses bens, ele se torna rico na medida em que as outras pessoas empobrecem. Para
que isso seja possível em sociedade, isto é, que uma parcela aceite empobrecer ao mesmo
tempo em que outra enriquece, é preciso que haja formas de controle social, seja físico (força
material, exercício efetivo de violência), seja ideológico (consolidação de valores e princípios
pelos quais até mesmo os que empobrecem entendam que a estrutura social é justa).
O poder se apresenta e se estabelece como estruturador da sociedade porque é
justamente por ele que o grupo dominante impõe a outro(s) grupo(s) que trabalhe(m) em seu
favor. Sempre que um grupo trabalha de modo que o produto do trabalho é consumido por
outro grupo, sem qualquer contrapartida equivalente, há relação de poder entre eles. Essa
relação social, embora estruturante de qualquer sociedade, não se apresenta de modo evidente.
Ao contrário, as relações sociais são costumeiramente apresentadas e analisadas a partir de
uma ótica de colaboração entre os indivíduos, todos contribuindo em maior ou menor medida
pese seu estudo tratar em especial da realidade do Chile, as considerações teóricas servem perfeitamente à
compreensão da estrutura social capitalista nos demais países.
para o sucesso do corpo social. Ou seja, a relação de dominação, em regra, está oculta e dá-se
a entender, por conta disso, que ela sequer exista.
Para tratar de relações sociais, convém lembrar a mais importante delas: o trabalho.
Trata-se da relação social mais importante de todas, pois é pelo trabalho que o homem
transforma a natureza (ou os recursos naturais) em bens de consumo necessários à sua
sobrevivência. É pelo trabalho que se produzem comida, bebida, moradia, vestimentas,
medicamentos, ferramentas, máquinas, novos processos produtivos, novas tecnologias etc..
Aliás, a evolução das capacidades produtivas (a melhoria das forças pelas quais a natureza é
transformada) determina a forma como as pessoas se relacionam na sociedade, já que novas
formas de produzir impõem novas formas de as pessoas se organizarem para o trabalho.
O trabalho é uma relação social porque é impossível trabalhar sozinho. Os homens
dependem uns dos outros para que a produção ocorra. Ninguém é capaz de, como se fosse um
Robinson Crusoé, criar as próprias condições de sobrevivência (e até o Crusoé precisou do
Sexta-Feira!).5
Sobre os bens produzidos pelo grupo social, estes englobam todos os bens de consumo
coletados, plantados, manufaturados, industrializados. Não há, é claro, apenas bens materiais
necessários à satisfação de condições biológicas, mas estes são primordiais. Se há bens de
caráter ideal, como a necessidade de rituais para com deuses ou a criação de peças teatrais ou
de pinturas, esculturas, arquiteturas, eles são condicionados pelo desenvolvimento material e
histórico da sociedade, na medida em que estas novas necessidades são culturalmente criadas.
5 Algo que fica nítido na seguinte passagem de CAFFÉ ALVES (1987:194): “A partir de um determinado nível do
desenvolvimento histórico-social, cada homem ou grupo de homens não pode num dado momento realizar
isoladamente todas as tarefas cujos produtos possam a um só tempo satisfazer a todas as suas respectivas
necessidades. Aliás, em tempo algum ao homem foi possível realizar-se como tal de forma solitária, visto que
mesmo antes do aparecimento da divisão do trabalho já havia uma conjugação social dos esforços dos membros
das comunidades primitivas, no período da coleta ou apropriação direta dos frutos naturais, com vistas
exatamente a superar a baixa produtividade de cada indivíduo isoladamente considerado, e que era inferior aos
níveis de sua subsistência: o indivíduo não sobreviveria se confiasse apenas em suas próprias forças. Com a
divisão social do trabalho, entretanto, a sociabilidade se perfaz segundo outras exigências, vinculadas não só à
conjugação de esforços dos homens, mas também, e ao mesmo tempo, à necessidade de seu relacionamento
recíproco e integrado para a complementação mútua das atividades que cada membro do grupo ou o grupo
todo desenvolve de forma especializada: enquanto uns guardavam o rebanho, outros cultivavam a terra;
enquanto uns defendiam o grupo, outros fiavam ou teciam; enquanto uns caçavam ou pescavam, outros
praticavam ritos religiosos ... Assim, a maior produtividade, gerando o excedente econômico, decorre
exatamente dessa divisão do trabalho, da especialização das atividades e da consequente necessidade de haver
trocas recíprocas entre os homens ou grupos sociais para a satisfação das necessidades engendradas num
determinado nível do desenvolvimento histórico-social.”
Essas novas necessidades, artificialmente criadas (resultado da superação de necessidades
naturais), são impostas segundo as relações sociais estruturais e não por força da natureza:
são impostas por um grupo social em relação a outro. Não obstante, são necessidades
igualmente vitais e que precisam ser satisfeitas. Isto fica ainda mais claro pela afirmação a
seguir, que dá fundamento objetivo à compreensão de qualquer realidade social:
A conclusão geral a que chequei e que, uma vez adquirida, serviu de fio condutor dos meus estudos,
pode formular-se resumidamente assim: na produção social da sua existência, os homens estabelecem
relações determinadas, necessárias, independentes de sua vontade, relações de produção que
correspondem a um determinado grau de desenvolvimento das forças produtivas materiais. O conjunto
destas relações de produção constitui a estrutura econômica da sociedade, a base concreta sobre a qual
se eleva uma superestrutura jurídica e política e à qual correspondem determinadas formas de
consciência social. O modo de produção da vida material condiciona o desenvolvimento da vida social,
política e intelectual em geral. Não é a consciência dos homens que determina o seu ser; é o seu ser
social que, inversamente, determina a sua consciência. Em certo estágio de desenvolvimento, as forças
produtivas materiais da sociedade entram em contradição com as relações de produção existentes ou, ou
que é a sua expressão jurídica, com as relações de propriedade no seio das quais se tinham movido até
então. De formas de desenvolvimento das forças produtivas, estas relações transformam-se no seu
entrave. Surge então uma época de revolução social. A transformação da base econômica altera, mais
ou menos rapidamente, toda a imensa superestrutura. MARX (2003:5).
Na medida em que se trabalha e se criam novas formas de produção, a própria
condição do trabalho melhora. Máquinas permitem que a produção ocorra de forma mais
eficiente, mais rápida, mais barata. O detentor dessas máquinas passa a ter uma relevância
social maior do que aqueles que não a detêm. Por possuir o meio de produção, este
proprietário fica em uma posição social privilegiada, pois é capaz de produzir em medida
maior que os demais. Sua posição social lhe confere um poder que os outros indivíduos não
possuem.
Na Idade Média, os senhores feudais detinham o principal bem de produção existente:
as glebas. Afinal, o estágio das forças produtivas da época dava aos donos da terra o acesso a
todo produto agropecuário. Os bens produzidos de forma artesanal e, posteriormente,
manufaturados, eram residuais naquela formação social. Com o avanço das forças produtivas,
a estrutura social se modificou radicalmente, já que os produtos maquinofaturados e
industriais passaram a ter importância social maior que os produzidos nas glebas. A força
econômica e militar dos proprietários das fábricas e dos comerciantes, ao longo do tempo,
causou importante modificação política na sociedade, a ponto de alterar as relações sociais de
força, até então altamente favoráveis aos estamentos da nobreza e do clero.
Essa elevação gradual do poder dos comerciantes e industriais foi constatada pelos
escritores iluministas dos anos 1600 a 1800, em especial GROTIUS (1583-1645), HOBBES
(1588-1679), LOCKE (1632-1704), ROUSSEAU (1712-1778), MONTESQUIEU (1689-1755),
KANT (1724-1804) e HEGEL (1770-1831), que em suas obras identificaram os ideais do grupo
social então subalterno, a burguesia, como valores universais que deveriam organizar a
sociedade, em substituição aos valores nobiliárquicos então vigentes.
Note-se que os valores burgueses, em especial as noções de liberdade e de
individualidade, de igualdade perante a lei etc. são fundamentais para a organização da
sociedade atual, porém totalmente incompatíveis com a estrutura feudal. A modificação da
estrutura social, contudo, não ocorreu porque os valores sociais burgueses foram aceitos pelo
grupo então dominante, tampouco que isso tenha ocorrido de uma hora para outra. Houve ao
menos 200 anos de constante e intensa luta social, cujo ápice, em termos históricos, é a
revolução francesa de 1789.
Esses valores, (a liberdade, a igualdade de oportunidades etc.) são apresentados como
universais, como direitos conferidos a todos os seres humanos, porém são concretamente
exercíveis quase que exclusivamente pela classe social burguesa.6 Mas afinal, se todos têm
esses direitos, por que a grande massa da população mundial não os exerce? É porque tais
direitos não existem na prática. Porém, por conta da estrutura objetiva da realidade social, esta
se apresenta como se todos tivessem esses direitos à sua disposição.
Isto acontece por conta da aparência de nossa sociedade, apresentada como
democrática, livre e igualitária. Afinal, se as relações sociais transparecessem aos olhos dos
dominados como realmente são, a sociedade poderia sofrer sua desagregação por conta do
confronto entre as classes sociais. A dimensão prática da vida social fica, assim, escondida
por debaixo de considerações teóricas, que ora negam a desigualdade social, ora consideram
que tal desigualdade, no âmbito do capitalismo, será naturalmente ajustada pelas condições
econômicas determinadas pelo livre mercado (MÉSZÁROS, 2004:62).
6 “As Liberdades Públicas conquistadas pela Era Moderna mostram-se eficientes para garantir o
desenvolvimento da economia de mercado, porém inadequadas para a proteção dos interesses concretos da
maior parte dos membros da sociedade de massas” (MASTRODI, 2008:77)
4. Divisão social do trabalho e (in)justiça
Em princípio, ninguém trabalha de graça. Nem mesmo em regimes escravistas. Ainda
que o ser humano posto na condição de escravo não receba salário para trabalhar, seu
proprietário tem o ônus de conservá-lo. Ou seja, o escravo não é remunerado, mas recebe
comida, bebida e vestimenta. Os servos da gleba não recebiam remuneração, mas consumiam
parte da colheita que plantavam nas terras do senhor feudal. O dominado sempre recebe algo,
geralmente o mínimo necessário para sua sobrevivência, para a manutenção de sua vida de
modo que continue a produzir.
Mas recebe esse mínimo em troca de quê? A contraprestação do senhor é difusa e
apresentada como algo de qualidade diferente, mas quantitativamente tão ou mais importante
que o trabalho realizado pelo escravo ou pelo servo: a proteção do senhor7 (CAFFÉ ALVES,
1987). Fica clara, nesses dois modos de produção, a relação de poder entre o senhor, de um
lado, e o escravo ou o servo de outro. Estes trabalham, aquele consome praticamente todo o
produto de seu trabalho, sem objetivamente lhes prestar qualquer retribuição equivalente.
As relações sociais se baseiam nas trocas, pois é por meio da troca de excedentes que
a satisfação das necessidades humanas se realiza: “A divisão social do trabalho induz à
necessária troca de esforços, entre os homens, mediante o intercâmbio de diferentes
produtos; pois bem, em princípio, a ‘reciprocidade real’ deveria presidir essas relações de
troca, visto que normalmente não se dá mais do que se recebe” (CAFFÉ ALVES, 1987:194).
Contudo, para a realização do trabalho necessário à produção social, as pessoas estão
divididas em classes sociais, estruturadas de modo assimétrico. Por conta dessa assimetria, as
7 Aliás, esse esforço material do trabalho na gleba pelos servos não era considerado equivalente ao esforço
espiritual dos sacerdotes na condução religiosa dos servos (e também dos nobres) ao paraíso para livrá-los da
danação eterna; ou ao esforço de proteção terrestre dos senhores. Na verdade, a estrutura social da época se
fundava no pressuposto que o trabalho diário e ininterrupto dos servos da gleba jamais seria suficiente para
retribuir todo o importante serviço de proteção material e espiritual prestado graciosamente pelos integrantes
do primeiro e do segundo estados aos membros do terceiro. O terceiro estado estaria, assim, sempre em dívida
para com os outros estamentos. Essa prática de dominação ideológica é até mesmo anterior. CAFFÉ ALVES
(1987:197-198) dá conta de que o trabalho agrícola no Egito Antigo só era possível porque o faraó, por meio de
sua intercessão direta junto aos deuses, realizada segundo seus ritos sagrados e secretos, controlava o fluxo da
vazão do rio Nilo, fazendo com que a terra se tornasse fértil para o plantio, condição sem a qual não haveria
sequer expectativa de produção. Assim, o rito do faraó se tornava o serviço mais importante de todo o reino, pois
sem ele não haveria possibilidade de colheita.
relações sociais de classe a classe não são horizontais, não estão em pé de igualdade. Ou seja,
não há equivalência entre o esforço ou serviço realizado do lado de quem trabalha e o
esforço ou serviço realizado do lado de quem detém a propriedade dos meios de produção.
Assim, para evitar a desagregação social, as teorias sociais tradicionais acabam por ocultar
essa assimetria, tratando como equivalentes todas as trocas sociais:
A realidade histórica diz mais do que o princípio, de vez que, por circunstâncias múltiplas, exatamente
em razão da divisão do trabalho, se criaram condições para o aparecimento de desigualdades sociais de
caráter estrutural e antagonismos de classe. Esse fato enseja o aparecimento da “reciprocidade ilusória
ou imaginária” ... mediante a manipulação de processos ideológicos. De qualquer modo, há entre os
homens uma exigência de reciprocidade e de compensação em suas relações de troca, tanto a nível
econômico quanto a nível social: o intercâmbio das tarefas, a troca de bens e serviços, deve expressar
uma reciprocidade de certo modo simétrica ou equivalente quanto aos esforços exigidos para sua
respectiva prestação ou produção segundo a natureza e o grau de especialização envolvidos.
Nesse sentido, no que respeita à relação de poder, a dominação, para se apresentar como legítima,
precisa aparecer como um serviço prestado necessariamente pelos dominadores aos dominados,
devendo estes devolver àqueles, de igual forma e de modo espontâneo, esforço equivalente (CAFFÉ
ALVES, 1987:195).
5. O capitalismo é justo para todo mundo?
A relação social de poder não é tão clara assim no capitalismo. Afinal, o empregado
recebe salário por seu trabalho. E como o valor do salário foi decidido por consenso entre
patrão e empregado, o trabalho é considerado justo por ambas as partes. Mas se o valor
recebido a título de salário é justo, como explicar o lucro do patrão? Pois, se o empregado
recebesse o valor justo de seu trabalho, não sobraria nada para o proprietário dos bens de
produção lucrar. E mais: se o trabalhador não estiver satisfeito com as condições de trabalho a
que se submeteu por sua vontade, basta deixar de trabalhar e procurar outro emprego.
O primeiro problema reside no valor do salário. Este não é estipulado por consenso.
Há muito mais pessoas procurando emprego do que vagas de trabalho. O proprietário dos
bens de produção, justamente por essa condição, pode leiloar a vaga, contratando aquele que
aceitar receber o menor salário. Claro que, a partir do século XIX, e com mais força no século
XX, leis foram criadas para mitigar a capacidade de pressão dos empregadores, mas até hoje a
expressão salário mínimo reflete muito menos o valor “fixado em lei, nacionalmente
unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com
moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência
social,...”8 que o máximo que os empregadores aceitam pagar.
O segundo problema está na ideia abstrata de que o empregado é livre para trabalhar
onde quiser. Ora, ninguém é livre para ficar sem comer. O empregado precisa do emprego
para sobreviver. Em geral, o empregado não tem condições materiais de ficar meses sem
salário, e quanto mais tempo ficar desempregado, menores são suas condições de negociar por
um bom emprego.
O terceiro –e principal– problema está no pressuposto que é o empregado quem
precisa do empregador. Eis aqui o cerne da estrutura social do capitalismo: estabelece-se uma
relação entre indivíduos de classes sociais diferentes de modo que o proprietário dos meios de
produção tem a prerrogativa de determinar quem será contratado para produzir.
Há ainda um quarto problema, que está implícito nos anteriores: a relação entre patrão
e empregado, por se revestir de uma qualidade jurídica (o contrato de trabalho) e por ser
regulada por leis, acaba se apresentando como justa. No entanto, isso decorre de uma
confusão entre a noção de direito (sistema estatal organizado de imposição de condutas pelo
cumprimento de normas jurídicas) e de justiça (conjunto de valores estruturantes de uma
visão de mundo e de suas relações sociais, valores estes entendidos como adequados à
manutenção da convivência social). Nada impede que as normas jurídicas sejam justas, Mas
como justiça se refere à organização do mundo conforme um certo ponto de vista fundado em
interesses sociais sobre bens escassos, o direito estatal acaba por refletir muito mais os
interesses sociais dos grupos hegemônicos que os interesses dos grupos dominados. É claro
que o contrato de trabalho garante o salário ao empregado, mas também garante que este
estará sempre subordinado ao seu patrão.
Ora, na verdade, para que o modo de produção funcione, é preciso que haja produção,
que somente ocorre se alguém trabalhar. Ou seja, embora o trabalho seja o fundamento de
transformação dos recursos naturais em bens de consumo, estipula-se que somente pode
trabalhar quem for escolhido pelo proprietário dos bens de capital. O trabalhador fica
irremediavelmente submetido ao poder de mando do capitalista. Realiza-se, assim, uma troca:
8 Cf. art. 7°, IV, da Constituição da República Federativa do Brasil.
o empregado recebe salário para trabalhar, salário este que é pago pelo capitalista com a
venda do produto produzido pelo empregado. O equivalente ao salário é a capacidade de
organização empresarial do capitalista. E, exatamente como nos modos de produção
anteriores, como o feudal, essa organização empresarial é apresentada como se fosse muito
mais importante que o esforço do trabalhador, como se o trabalho sequer pudesse ser
realizado sem a presença prévia da empresa e do organizado capitalista.
Assim, fica claro que, até mesmo no modo de produção capitalista há uma profunda
relação de poder que estrutura a sociedade contemporânea: de um lado, proprietários dos
meios de produção, detentores da capacidade de transformar recursos naturais em produtos de
consumo de forma eficiente; de outro, todos os demais indivíduos que, por não terem
condições de produzir para sua própria sobrevivência, empregam-se a serviço dos primeiros, e
sob comando destes, à custa de salário. Note que o produto do trabalho do empregado não
pertence ao empregado, mas ao proprietário dos bens de produção.
Toda a sociedade moderna se estrutura a partir dessa relação de poder entre capital e
trabalho. Os proprietários dos bens de produção pertencem a uma classe social que detém um
poder muito maior aqueles que não são proprietários senão de sua própria força de trabalho.
Essa relação social é totalmente assimétrica, desproporcional e vertical, porém apresentada
como perfeitamente simétrica, sinalagmática e horizontal, na forma jurídica de um contrato
de trabalho em que as partes recebem valores equivalentes por suas contraprestações
recíprocas. Mas, na verdade, um dos lados (o dos empregados, que ficam do lado de baixo)
acaba entregando muito mais do que de fato recebe.
Essa relação social, transcrita na relação jurídica do contrato, é vista como justa
(neutra, imparcial, equitativa e equilibrada). Ela é assimilada nesses termos tanto pela classe
dos trabalhadores quanto pela dos capitalistas e confere conteúdo de justiça a toda
organização social. Em outras palavras, considera-se perfeitamente justa toda relação social
em que uma pessoa receba salário mínimo para trabalhar, ainda que esse salário não seja
suficiente para arcar com os custos de sua sobrevivência.
6. A Justiça é ideológica9
Conforme abordado no item 3, acima, concebe-se a realidade social a partir da relação
dialética entre a evolução das forças produtivas e as relações sociais de produção, de modo
que, na medida em que as forças produtivas (conteúdo) atingem novo estágio de
desenvolvimento, as relações sociais (forma) tornam-se insuficientes (ou até mesmo, um
entrave ao fluxo daquelas) para conformar o conteúdo social que se alterou. As forças
produtivas acabam por precisar de nova organização. Do contrário, perde-se a racionalidade
necessária para empreender o processo produtivo, que é imprescindível à satisfação das
necessidades individuais pois, não fosse a produção realizada pelos homens em conjunto,
jamais teria sido possível manter a sobrevivência enquanto espécie, tampouco transformar a
natureza em mundo cultural.
No âmbito do modo de produção capitalista, as forças produtivas estão organizadas de
forma que o resultado do processo produtivo e as decisões sobre a distribuição desse resultado
competem aos detentores ou controladores dos meios de produção, denominados capitalistas.
Isto significa que aqueles que não possuem ou não controlam os meios de produção só podem
sobreviver mediante o emprego de sua força de trabalho a serviço daqueles primeiros. Tal
relação de produção entre capitalistas e trabalhadores organiza o modo de produção como um
todo e, nesse sentido, fundamenta e justifica toda a organização institucional da sociedade
moderna.10
Com a mesma força que o atual modo de produção permite à humanidade chegar ao
estágio mais avançado de seu desenvolvimento histórico, com o descobrimento e com a
invenção de produtos que prolongam a vida (como vacinas, medicamentos, processos
cirúrgicos, bem como todos os insumos –e os insumos dos insumos– necessários para a
produção de tais produtos), que conferem mais conforto e comodidade (os veículos de
transporte, os meios de comunicação, os sistemas de refrigeração e de calefação), o
capitalismo também marginaliza, na forma de externalidades do processo, bilhões de pessoas,
impedindo a estas o acesso aos mesmos bens que permite produzir; também causa degradação
9 As considerações desenvolvidas neste item foram em sua maior parte tratadas no item 1 do capítulo VI de
MASTRODI (2008a:258-261), O substrato material das ideologias.
10 Não é por outra razão que o Estado e o direito servem, em especial, à manutenção do modo de produção
capitalista pela organização das forças produtivas segundo essa mesma conformação, conferindo tutela estatal à
propriedade privada e garantindo o cumprimento dos contratos, em especial do contrato de trabalho, sem o qual
os meios de produção ficariam ociosos e o sistema produtivo perderia eficiência.
ambiental que é socializada pela comunidade, enquanto o resultado (a acumulação de
excedentes) do processo produtivo permanece privado.
Vê-se, assim, que as relações sociais entre capitalistas e trabalhadores são
assimétricas, pois fundamentadas em posições sociais profundamente antagônicas de
dominação e exploração. Para que seja possível atingir o admirável mundo novo do
capitalismo, este modo de produção se organiza de forma que uma classe realiza toda a
produção, ao mesmo tempo em que outra classe, por direito, tem acesso a todo o excedente
produzido. Esta situação é perfeitamente percebida na prática.
No entanto, por que há tantas teorias que não confirmam tal constatação empírica?
Será que essa situação de desigualdade é considerada pelas teorias? Se não é, qual o motivo
dessa desconsideração? Haveria valores mais fundamentais que o da erradicação da
desigualdade? Quais? E por quê? As respostas a estas perguntas estão intimamente
relacionadas tanto aos interesses particulares das classes sociais quanto às ideologias que se
formam a partir da necessidade de concretização de tais interesses.
A ideologia é um elemento constitutivo da realidade social, que não nasce
abstratamente, nem de forma autônoma, mas a partir das relações sociais (não apenas as
comunicadas, mas as efetivamente realizadas na práxis histórica). Trata-se de uma forma
específica de consciência social (MÉSZÁROS, 2004:65), que se desenvolve a partir dos
interesses de cada grupo ou classe social, na medida em que a natureza é transformada para o
fim de satisfazer as necessidades materiais humanas. Ela tem relação direta com a posição
social das pessoas no âmbito da estrutura social e com a forma pela qual as pessoas
organizam a produção social.
Há inequívoco interesse de todos os membros da sociedade no processo produtivo, já
que é por meio deste que se satisfazem todas as necessidades humanas e, a partir deste, que as
condições materiais e espirituais para o desenvolvimento da sociedade são ampliadas e
melhoradas (CAFFÉ ALVES, 1987:161). No entanto, o resultado da produção não é distribuído
em nome e interesse da coletividade, “mas em nome e no interesse de grupos particulares
(classes) que para isso detêm a hegemonia econômico-social, política e ideológica da
sociedade” (1987:161).
É claro que os demais grupos (classes) sociais são também beneficiados, ainda que
indiretamente, mas apenas na medida da manutenção mínima de suas condições vitais para
promover a reprodução do sistema. Note-se, assim, que a posição das classes em cada polo da
relação social estrutural –i.e., da relação entre pessoas mediada por bens de produção, de
forma que a propriedade ou controle destes bens determina a posição social da pessoa ou
classe, a divisão social do trabalho e o modo de produção como um todo– determina em que
medida as pessoas de cada classe terão acesso à distribuição do produto social.
Essa posição social não é teórica, mas prática. A realidade prática não determina
apenas a posição social de classe, mas também a compreensão que os membros dessa classe
têm dessa mesma realidade: a partir do ponto de vista proporcionado pela posição social, os
membros dessa classe constituem (bem como são constituídos por) determinadas formas de
conceber o mundo:
Fundamentalmente social, a evolução incessante da humanidade efetuou-se no contexto de oposições de
sexo, de geração, de classe etc. Essas situações-oposições diversas e contraditórias determinam
consciências diversas e contraditórias sobre o mundo e, portanto, manifestações verbais díspares sobre
ele. Não se sente, não se pensa e não se fala do mundo do mesmo modo em um palácio e em uma
choupana (CARBONI E MAESTRI, 2003:104).
Desse modo, não pode uma ideologia ter existido antes da realidade material, pois é
esta que a determina (CAFFÉ ALVES, 1987:172). Há, assim, toda uma conformação material e
histórica prévia, que condiciona a visão de mundo das pessoas. Daí porque não se pode
aceitar o pressuposto de a sociedade se organiza por si própria, ideal e racionalmente, sem a
estruturalidade de um grupo social que desenvolva tal ou qual conceituação, historicamente
cristalizada.11
Não obstante, não se deve pensar na ideologia como algo irreal ou apenas ideal. Em
qualquer de suas concepções –seja como um conjunto global ou ciência de ideias sobre um
determinado objeto de estudo, seja como falsa consciência sobre a realidade social–, a
ideologia representa um determinado estado material de coisas, que a condiciona e que é
conformado por ela. Nesse sentido, a ideologia se apresenta como um “componente interno
das próprias relações de produção” (CAFFÉ ALVES, 1987:172). Isto é, as relações sociais de
11 Esta concepção decorre da constatação de que nenhuma ideia poderia subsistir antes de alguém tê-la pensado.
Para tê-la pensado, é preciso, antes disso, que esse alguém tenha se alimentado e satisfeito outras necessidades,
biológicas e culturais, condicionando o desenvolvimento de uma linguagem pela qual pudesse organizar e
expressar tal pensamento. Nesse sentido, cf. ENGELS (s/d: 345 e 351).
produção não existiam antes em essência, para só depois surgirem as formas ideológicas de
sua organização; ao contrário, essas relações “são sempre geradas fora do pensamento e, ao
mesmo tempo, através dele, passando este pensamento a estar sempre numa relação de co-
nascimento com o real social” (1987:172).
7. Justiça: na prática, ela é justa para quem?12
A ideologia tem papel fundamental na organização de um modo de produção, como o
capitalista, em que há desigualdade na divisão do trabalho e iniquidade na apropriação e
distribuição dos excedentes de produção. A trama ideológica retroalimenta a compreensão da
estrutura social, dando relevância a certos valores e princípios (extraídos das relações
sociais) como se esses valores e princípios fossem, eles próprios, os determinantes da
estrutura social. Não é outra a posição de CAFFÉ ALVES (1987:173):
As relações de produção, na sociedade dominada pelo capital, pressupõem a trama ideológica não como
mero instrumento imaginário que pudesse aparecer após sua instauração, mas como elemento
constitutivo de sua própria estrutura objetiva. Por outro lado, essa estrutura condiciona também a
maneira de pensá-la e de operá-la, a ela mesma, no âmbito da práxis cotidiana, a ponto de tornar o
engano de suas aparências funcionais não como produto imaginário do sujeito apenas, mas exatamente
como resultado da ação objetiva dessa forma de organização social.
A cristalização de uma dada compreensão da realidade social decorre da prática
reiterada de certas formas de organização social. Em outras palavras, certa visão de mundo
acaba se naturalizando na medida em que as pessoas organizam sua produção (sua práxis
produtiva, sua vida social) sempre de uma determinada e mesma forma. Aquelas práticas se
tornam cada vez mais reais e concretas para o grupo ou classe social, base a partir da qual
seus membros traçam e desenvolvem seu modo de compreender a realidade. É justamente esta
a posição desse autor:
Como é possível que a minoria privilegiada domine a maioria despossuída e tire dessa relação as
condições de continuidade desse privilégio, mediante a apropriação da mais-valia e a consequente
acumulação ampliada dos bens produtivos? Como é possível fazê-la legítima? A resposta a estas
indagações só pode ser encontrada na análise do fenômeno do poder em sua íntima conexão com os
processos econômicos e ideológicos emergentes de uma situação estrutural determinada. Como
primeira aproximação do problema, é preciso sublinhar que a própria exploração ou a situação de
restrição econômica ou a miséria devem ser acolhidas pelos explorados de modo natural, isto é, como
não sendo um produto de relações sociais determinadas e a respeito das quais os homens têm ação
muito limitada ou não têm qualquer laço de responsabilidade (1987:175).
12 As considerações desenvolvidas neste item foram em sua maior parte tratadas no item 2 do capítulo VI de
MASTRODI (2008a:261-266), Aparência de satisfação equânime dos interesses comuns.
CAFFÉ ALVES afirma, ainda, que as relações sociais que concretamente se realizam em
condição de desigualdade, em qualquer período histórico, dependem, para sua naturalização
ou neutralização, de um processo de abstração e formalização, necessário para ocultar sua
desigualdade:
Com essa abstração e despersonalização, as relações sociais reais antagônicas e conflitivas se
esfumaçam na esfera formal das aparências institucionais, ocultando a verdadeira estrutura social e o
conjunto dos poderes reais dos agrupamentos dominantes. É, portanto, através dos conceitos
progressivamente mais abstratos do Monarca Absoluto, da Nação, do Estado e do Direito, que poderes
muito concretos se tornam efetivos e dinâmicos em ordem, a manter e reproduzir o sistema social de
classes (1987:180).
Assim, em termos materiais e históricos, um grupo ou classe acaba, por conta da
conformação das forças sociais, impondo sua visão de mundo sobre a visão de mundo das
demais classes ou grupos, de tal maneira que sua forma particular de compreender a
realidade acaba sendo universalizada como o modo de a sociedade como um todo
compreender essa mesma realidade. Embora tal fato aponte para uma divisão interna da
sociedade, já que evidencia a presença de grupos sociais com interesses divergentes, a
imposição de uma visão de mundo universal é importante como referência unificadora, que
impede a desagregação do tecido social (CAFFÉ ALVES, 1987:169), pois sem a ideologia
como componente interno das relações de produção, estas não teriam condições materiais
mínimas de ocorrer.
Deve ficar claro que não se trata apenas da mera aceitação de argumentos de lado a
lado. Não se trata de uma simples discussão, de um afável debate político sem consequências
práticas. As pessoas, profundamente divididas em classes sociais, têm interesses antagônicos,
já que estão em disputa pelo produto social, ou seja, em luta pelos meios materiais de garantia
de sobrevivência orgânica dos membros da sociedade.
Isto quer dizer que o embate não é só teórico (embora também seja teórico), e de
forma alguma apenas metafórico, mas predominantemente prático, dimensão que não se
resume à simples constatação ou percepção empírica dos fatos sociais, mas ao substrato
material e concreto em que nascemos e nos constituímos, vivemos, nos alimentamos, nos
organizamos e tomamos consciência de nossa realidade etc.. Nesse sentido, deve-se perceber
a presença indelével de relações de poder no âmbito da sociedade, tanto aquelas em que
certas posições sociais são impostas por coerção quanto aquelas em que certas posições
sociais são dadas como se a pessoa ou classe dominada considerasse tratar de uma situação
natural de igualdade.13
Note-se que a possibilidade de coerção não consiste apenas na ameaça ou no uso de
violência física, mas também na possibilidade de controle (pela concessão ou privação) de
certos bens que, por qualquer razão, inibam a resistência do coagido (CAFFÉ ALVES,
1987:189). Essa possibilidade, porém, só existe quando a pessoa ou classe que domina o
acesso à produção social tem poder material suficiente para empreender de tal modo. Em vez
de se utilizar da ameaça ou do emprego da coerção, a pessoa ou classe dominante atua por
meio da aplicação de fatores de consenso, desenvolvidos em termos ideológicos, apelando
para símbolos e conceitos abstratos com os quais os dominados podem concordar,
consignando legitimidade àquela forma de atuação:
Na verdade, a legitimidade é dada pela capacidade, no exercício do poder político, de mobilizar fatores
consensuais de tal sorte a fazer acreditar, por parte daqueles a quem são endereçados os atos de
comando, que os detentores do poder têm efetivo direito a exercê-lo. Ao se engendrar nos dominados a
crença de que os dominadores têm direito a dominar, cria-se também a ideia correlata do dever de
obediência, um dever quase moral, não-sentido como uma obrigação heterogênea. A força, em
princípio, é quase nula, porque os submetidos ao poder não se sentem forçados a obedecer, visto
estarem de acordo em seguir o dirigente; parece que o condutor e os conduzidos querem o mesmo
objetivo, havendo, portanto, interesses compartilhados (CAFFÉ ALVES, 1987:189).
Nesse sentido, o poder informado como legítimo não pode, jamais, se descolar da
possibilidade de se fazer efetivo, mediante o uso de meios coercitivos por seus detentores que,
numa sociedade dividida em classes, é empregado pelos possuidores e controladores dos
13 Conforme lição de CAFFÉ ALVES (1987:171-172), esse poder, que está sempre presente enquanto fenômeno
social, “Funda-se na relação de conflito derivada da distribuição desigual dos bens sociais realizada com base na
forma estrutural assumida por determinado modo de produção. Os bens são assinalados como bens econômicos
conforme aparecem como resultado do esforço humano e se encontram de forma limitada. Com a provisão
restringida desses bens surge o conflito e, por consequência, aparece o problema do poder. Com efeito, sendo
escassa a quantidade dos bens a distribuir entre os agentes sociais em face de suas necessidades, torna-se
indispensável, à ordem e à manutenção da convivência humana, a submissão das partes a determinadas regras
de distribuição, mesmo contra suas vontades, visto que podem não corresponder plenamente àquelas
necessidades. Entretanto, em razão da própria escassez de bens e da divisão do trabalho, é comum criar-se um
contexto social em que uma das partes assegura, de um modo ou de outro, uma participação privilegiada na
distribuição desses bens, gerando situações compreensíveis de antagonismo e conflito.
A dominância continuada das relações conflitivas, ao nível do processo econômico, conduz à indispensável
produção e conservação de uma força contrária –o poder político– que tem por fim reacender, ao nível da
produção e reprodução ideológicas e mediante formas e estruturas jurídico-políticas e outros expedientes, o
aspecto da universalidade e solidariedade das relações humanas, neste plano, porém, de modo abstrato e formal,
buscando uma ordem e uma paz social a despeito dos processos reais conflitivos subjacentes no plano
estrutural, e chegando, se preciso for, para a mantença dessa ordem, a lançar mão de meios de violência viva
ou aberta (coação física ou moral). Por isso se pode chegar à conclusão de que a desigualdade estrutural, no
plano das relações econômicas, não pode subsistir como tal e reproduzir-se, sem o respaldo imprescindível das
formas de indução subjetivas e objetivas originadas nos níveis ideológico e jurídico-político.”
meios de produção. Tal substrato material é em geral ocultado, como se o sistema social como
um todo pudesse manter-se conforme sua organização atual mesmo sem a possibilidade de
uso efetivo da coerção.
Na modernidade, centraliza-se o uso legítimo da violência física na figura do Estado,
que detém seu monopólio e a utiliza apenas em situações muito singulares, previstas pela
ordem jurídica. Mas, ainda assim, o Estado não se funda no exercício da coerção, mas em
ideais gerais e abstratos de organização da sociedade segundo certos interesses afirmados
como comuns a todas as pessoas, independentemente de sua classe ou de outras
particularidades. Tal comunhão de interesses entre classes manifestamente antagônicas,
organizada num determinado sentido segundo a composição das visões de mundo existentes
na sociedade, não é apenas imaginária, pois tem seu fundamento na necessidade comum da
realização da produção social (sem a qual as necessidades humanas não são satisfeitas).
Porém, esses interesses afirmados como universais, comuns a todos os membros da
sociedade, não refletem as contradições estruturais do sistema e os privilégios obtidos pela
classe dominante, que se apropria do excedente da produção porque, se as refletissem, não
atingiriam a possibilidade de consenso, tampouco de naturalizar, neutralizar ou legitimar as
condições de dominação. É por isto que CAFFÉ ALVES (1987:191-192) conclui, a esse
respeito, que:
Na esfera das relações de poder, o maior ou menor consentimento só é possível se o esquema de
dominação imperativa aparece mais ou menos vinculado ou submetido a outro propósito superior,
projetado ao nível ideológico, a respeito do qual todos os membros da sociedade, sejam dominantes ou
dominados, dirigentes ou dirigidos, aparecem como vitalmente interessados. Com efeito, grande parte
dos comandos normativos da ordem jurídica, positivada na sociedade capitalista, normalmente encontra
sua justificativa ou legitimidade na ideia expressa ou virtual do bem comum a ser realizado, a despeito
do que venha efetivamente a encaminhar e concretizar interesses exclusivamente parciais dessa
sociedade.
Sobre a relação entre poder de dominação e poder de direção, este se apresenta como a
forma legítima que determina os interesses daquele e, ao mesmo tempo, que os oculta sob o
manto dessa aparente legitimidade: “O poder de dominação realizado e expresso sob a forma
predominante de poder de direção da sociedade é o que, no discurso de Gramsci, se
denomina hegemonia; assim, o poder hegemônico é exatamente o poder dominador capaz de
manifestar-se e legitimar-se como poder consensual ou de direção” (CAFFÉ ALVES, 1987:192).
Assim, por exemplo, a proteção jurídica da propriedade é dada como algo fundamental
para a organização da sociedade porque refletiria um princípio político de interesse comum,
baseado na liberdade dos homens, e não uma necessidade econômica que diz respeito à
manutenção do modo de produção capitalista. O fato de que a imensa maioria das pessoas não
tem e jamais terá condições concretas de ser proprietária de bens de produção é ocultado sob a
abstração de que todos são livres para buscar sua felicidade, comprando tantos bens materiais
quantos puderem.
Mas essa liberdade de buscar a felicidade sem condições materiais para tanto não
passa de ilusão. Se isso é justiça, trata-se de uma justiça ideologicamente construída. Na
esteira do que já disse Max na Tese II sobre Feuerbach, tratar do maior problema da
realidade humana de uma forma abstrata, apartada da realidade prática, é tratar de um
problema real sem levar a realidade em conta (MASTRODI (2008a:275). A percepção de que
há classes sociais em conflito material no âmbito da sociedade, visando cada qual a participar,
da melhor forma possível, dos escassos produtos sociais e de sua distribuição, traz a lume
uma única verdade social empiricamente verificável: que há desigualdade social porque há
situação de dominação e exploração social de uma classe sobre outra. A justiça somente será
real e concreta quando essas condições históricas forem concretamente superadas. Até lá,
justiça continuará sendo apenas uma palavra bonita.
Enquanto a ideia de justiça permanecer sendo apresentada como um valor universal e
abstrato de saudável equilíbrio entre os grupos sociais, ela serve justamente para ocultar uma
situação de exploração do homem pelo homem que concretamente ocorre em toda e qualquer
sociedade historicamente identificada, exploração esta perpetuada por relações de poder tão
bem estruturadas que até mesmo os explorados acreditam que há justiça nas condições de
dominação a que estão sujeitos. Trata-se de situação que só poderá ser alterada a partir da
conscientização dessas condições históricas e da efetiva luta por transformação social, de
modo análogo ao que ocorreu do iluminismo à queda da Bastilha.
Referências Bibliográficas
CAFFÉ ALVES, Alaôr. Estado e Ideologia: Aparência e Realidade. São Paulo: Brasiliense,
1987.
CARBONI, Florence; MAESTRI, Mário. A Linguagem Escravizada: Língua, História, Poder e
Luta de Classes. São Paulo: Expressão Popular, 2003.
ENGELS, Friedrich. “Karl Marx.” In MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Obras Escolhidas, vol. 2.
São Paulo: Alfa-Omega, s/d, pp.339-351.
KELSEN, Hans. O Problema da Justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
LEAL HURTADO, Rene. Contribuciones de Gramsci al cambio social en Chile: De la
declinación de la ideología pos moderna a la re-emergencia de la izquierda, in International
Gramsci Journal, n° 1, 2008. Disponível em http://www.uow.edu.au/arts/research/gramsci-
journal/articles/ReneLeal-article_first_Issue.pdf, Acesso em 8.jul.2010.
MARX, Karl. Contribuição à Crítica da Economia Política. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
MASTRODI, Josué. Direitos Sociais Fundamentais. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008.
MASTRODI, Josué. Crítica Dialético-Realista à Ideia de Autopoiese no Direito. 353p. Tese.
Doutorado em Filosofia e Teoria Geral do Direito. Faculdade de Direito da Universidade de
São Paulo. São Paulo, 2008a.
MÉSZÁROS, István. O Poder da Ideologia. Rio de Janeiro: Boitempo, 2004.
RUSSELL, Bertrand. O Poder: Uma Nova Análise Social. São Paulo: Editora Nacional, 1957.