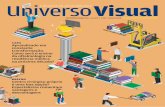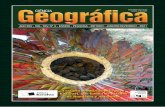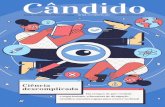Para quem fala a ciência?Limites e possibilidades da interface entre ciência e política
Transcript of Para quem fala a ciência?Limites e possibilidades da interface entre ciência e política
1
PARA QUEM FALA A CIÊNCIA? LIMITES E POSSIBILIDADES DA
INTERFACE ENTRE CIÊNCIA E POLÍTICA1
Maria José Carneiro*; Edgar Lyra**; Teresa da Silva Rosa***; Laila Sandroni ****
Resumo
Pensadores contemporâneos chamaram incisiva atenção para o fosso progressivamente
cavado entre as linguagens da ciência e da política. Esse fosso é particularmente sentido
quando se pretende aproximar a ciência da política pública com o objetivo de informar e
subsidiar as tomadas de decisão com evidências resultantes de pesquisas acadêmicas
que ampliem o leque de escolha do gestor. Enquanto em vários outros países essa ponte
é institucionalizada através de procedimentos e ferramentas para facilitar o acesso ao
conhecimento científico por parte dos gestores públicos, no Brasil muito pouco tem sido
feito nesse sentido. Como a produção científica se faz de maneira descentralizada e sem
se buscar um consenso, e considerando-se o intervalo de tempo exigido pelos eventos
em torno dos quais giram os processos políticos, o assessoramento científico exige, para
não ser arbitrário, que se definam critérios de escolha dos consultores e artigos
científicos relevantes. Essa definição de critérios não é simples, e abrange desde o
âmbito politico-institucional até os possíveis consensos epistemológicos vigentes; na
ausência de critérios, porém, pode levar à total casualidade. Esta problemática é
discutida aqui à luz de uma leitura crítica da abordagem da Evidence-Based Policy
(Política Baseada em Evidência) e de outras possibilidades de se construir a interface
entre ciência e política. A argumentação teórica é informada por pesquisas realizadas
junto a gestores públicos governamentais.
Palavras chave: ciência & política pública; evidência; gestores públicos, agricultura-
biodiversidade.
1 Artigo publicado em Ambiente e sociedade na Amazônia: uma abordagem interdiciplinar, Vieira, I.C.G.; Toledo, P. M.; Santos Junior, R.A.O. (orgs.). Rio de Janeiro, Gramond, 2014
* ([email protected]) ** ([email protected]) *** ([email protected]) **** ([email protected])
2
Abstract
Contemporary thinkers called incisive attention to the gap gradually dug between the
languages of science and politics. This gap becomes more apparent whenever science
and public policies are brought together with the purpose of informing and supporting
decision-making, by means of evidence resulting from academic research, in order to
broaden the range of choices opened to the policy makers. While in many other
countries such a bridge is institutionalized by means of creating tools and procedures so
as to facilitate access by policy makers to scientific knowledge, in Brazil very little has
been done to that end. As scientific production is neither centralized nor consensus-
driven, and considering the timeframe demanded by events around which political
processes take place, scientific consultancy requires, in order to avoid arbitrariness, the
stipulation of criteria by which relevant consultants and scientific papers are selected.
Such identification of criteria is not simple, ranging from the political-institutional
realm to possible epistemological consensus: the lack of such criteria, on the other hand,
can lead to complete randomness. These issues are discussed here in the light of a
critical reading of the evidence-based Policy approach, and of other possibilities for
building the interface between science and policy. The theoretical argumentation is
informed by research undertaken with governmental policy makers.
Keywords: science & public policy; evidence; policymakers; agriculture-biodiversity.
1. INTRODUÇÃO
Pensadores contemporâneos como Hannah Arendt chamaram incisiva atenção
para o fosso progressivamente cavado entre as linguagens da ciência e da política. Esse
fosso é sentido, particularmente, quando se pretende aproximar a ciência da política
pública com o objetivo de informar e subsidiar as tomadas de decisão com evidências
resultantes de pesquisas acadêmicas, de modo a ampliar o leque de escolha do gestor.
Este uso do conhecimento científico nos remete à reflexão feita pela autora
quando afirmou, em seu muito conhecido Prólogo ao livro A Condição Humana, escrito
em 1958 – quando do lançamento do primeiro artefato humano ao espaço e do
recrudescimento das experiências atômicas – que, se os cientistas são “culpados” de
3
alguma coisa, é de habitar “um mundo em que o discurso (speech) perdeu seu poder”
(Arendt 1999, p.12). A autora chama atenção para a progressiva especialização das
linguagens nas quais a ciência busca legitimar suas teses (particularmente a sua
matematização), e para o fosso, assim aberto, entre essas linguagens científicas e o
discurso comum, através do qual ainda hoje fazemos – ou deveríamos fazer – política.
Esse divórcio de linguagens teria se originado a partir do século XVII,
prenunciado por filósofos como Francis Bacon (1561-1626) e René Descartes (1596-
1650) – o primeiro, precavendo-nos quanto aos “ídolos do foro”, isto é, quanto à
inadequação da linguagem vulgar à descrição unívoca e confiável das verdades da
natureza; e o segundo, recomendando pautar sobre clareza e distinção matemáticas
quaisquer pretensões nossas de cientificidade. Observa-se que a ciência foi sendo
instituída como uma forma de apropriação da realidade que, em contraponto ao papel da
Igreja da Idade Média na compreensão ou explicação do mundo, adotou a razão como
“autoridade” em estabelecer o que o brasileiro Hilton Japiassu (1997) chamou de
programa. Este programa seria a expressão da “Santa Aliança com a técnica e a
indústria” (Japiassu, 1977: 13), estando, assim, aliado ao processo de modernização na
medida em que “contribui para organizar e racionalizar seu funcionamento bem como
para instaurar sua soberania quase absoluta.” (id.). Neste sentido, a produção de
conhecimento seria “algo bom em si, [mas que] só diz respeito à coletividade científica,
não possuindo nenhuma significação moral ou política.” (id.: 14).
Na obra referida, Arendt preocupou-se especialmente com a “perda de
significado” político da ciência e com o problema da responsabilidade pelos poderes de
transformação do mundo por ela viabilizados. Passados mais de três séculos desde a
emergência da ciência moderna e da Nova Atlântida2, do citado Francis Bacon,
continuamos a buscar possíveis linhas de aproximação entre os presentes formuladores
e executores de políticas públicas. A discussão sobre a atual interação entre ciência,
tecnologia e sociedade é certamente compartilhada por incontáveis autores e assume
diversas ramificações.3
2 A cidade ideal imaginada por Bacon teria sua autoridade máxima na mão de três cientistas, os “intérpretes da natureza” (interpreters of nature), (Bacon, 1979:270). 3 Além dos epistemólogos e da citada Hannah Arendt, inúmeros autores debruçaram-se e debruçam-se sobre essas interfaces. Entre os já clássicos podemos citar: Max Weber (1864-1920), Martin Heidegger
4
A discussão de Arendt segue atual. Desde a publicação de A Condição Humana
assistimos à reedição de episódios de descompasso entre o universo técnico-científico e
o da tomada de decisão política, episódios ora encarnados na sobredeterminação da
política por fatores técnico-econômicos (em geral de cunho desenvolvimentista), ora em
tomadas de decisão arbitrárias informadas por interesses diversos, definidos por
completa desatenção ou por relativização das pesquisas científicas. Tais descompassos
verificam-se, mais recentemente e com especial frequência, na seara das políticas
ambientais.
Ao mesmo tempo em que na sua vertente mais tecnicamente apropriável a
produção científica gera transformações instrumentais de incrível monta nas sociedades
contemporâneas, sua vertente mais reflexiva e indicativa de direções a tomar, sobretudo
quando em conflito com os vetores desenvolvimentistas, tende a ser deixada de lado, em
significativa medida – sendo o que aqui mais de perto nos interessa –, pela incapacidade
de produzir consensos e/ou de traduzir-se em linguagem tempestivamente apropriada à
temporalidade das decisões políticas. Mas, dada a extensão dos problemas descritos, o
escopo do presente artigo é intencionalmente restrito ao seguinte grupo de perguntas: (a)
como aproximar ciência e política de maneira a dar acesso aos formuladores de políticas
públicas aos resultados das pesquisas; (b) quais os limites e possibilidades dessa
relação; (c) como limitar e resguardar o lugar da informação científica na elaboração
das políticas públicas, tendo em vista as outras vozes democraticamente envolvidas nos
processos políticos e de tomada de decisão; e (d) como isso ocorre no Brasil.
Soluções apontadas para suplantar as dificuldades de comunicação entre ciência
e política alimentam o debate. Uma delas é a Evidence Based Metodology, metodologia
proeminente na Europa, sobretudo no Reino Unido. Essa metodologia foi desenvolvida
visando a promover o uso, o mais criterioso possível, dos conhecimentos disponíveis
para informar os tomadores de decisões com base na crença de que a eficácia das
políticas públicas (e das práticas de certos profissionais) poderia aumentar se fossem
baseadas em evidências científicas. Inicialmente voltada para tornar o conhecimento
científico mais acessível aos profissionais da saúde, de maneira a beneficiar médicos e
pacientes da atualização dos resultados da pesquisa científica (Laurent et al., 2009), essa
(1889-1976), Michel Foucault (1926-1984), Jürgen Habermas (1926 - ), Pierre Bourdieu (1930-2002), etc.
5
metodologia “baseada em evidências” foi disseminada para outras áreas4, tornando-se
um instrumento importante de governança de alguns países, passando a ser conhecida
como Evidence Based Policy (Política Baseada em Evidência). Diversos organismos
internacionais também aderiram a esse método, como o Banco Mundial, a Organização
Mundial da Saúde e a Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação
(FAO). Especificamente no campo da governança ambiental internacional, vale a pena
mencionar o Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), o Clearing
House Mechanism (CHM) e a Plataforma Intergovernamental Ciência-Política sobre
Biodiversidade e Serviços de Ecossistemas (IPBES)5. Também a Unesco, em relatório
publicado em 2010 sobre o estado da arte das Ciências Sociais no Mundo, chama a
atenção para “a necessidade de mudanças no rumo da produção do conhecimento em
Ciências Sociais no sentido de acompanhar a demanda dos gestores públicos em
‘evidências transparentes e claras sobre o que funciona em determinados contextos, e
por que’, ao invés de o fazer em estudos ‘mais genéricos’” (UNESCO, 2010:317)
Mais recentemente, temos o exemplo da Declaração Final da Conferência Rio
+20 (The future we want), que reconhece a contribuição da ciência e do acesso aos seus
resultados no reforço e apoio de iniciativas sustentadas em evidências. No seu item 85,
relativo ao estabelecimento de um fórum universal intergovernamental de alto nível
político, sugere: “Enhance evidence-based decision-making at all levels and contribute
to strengthening ongoing efforts of capacity-building for data collection and analysis in
developing countries.” (2012: 17).
Por tudo isso, o presente artigo pretende contribuir com a análise da relação
entre ciência e política, tendo como tarefa primeira uma leitura crítica da abordagem da
4 Na área ambiental cabe citar o Centre for Evidence-Based Conservation, sediado na Bangor University, País de Gales, que tem como objetivo realizar sistematizações bibliográficas e meta-análises na área (Ver sítio do CEBC). 5 O IPCC funciona como um corpo científico internacional constituído para avaliar as mudanças climáticas, oferecendo para isso uma visão científica do estado do conhecimento sobre elas, os potenciais impactos ambientais e socioeconômicos, e fornecendo informações científicas rigorosas e bem balanceadas para tomadores de decisão. O IPBES, criado recentemente como interface entre a comunidade científica e os formuladores de políticas públicas, busca fortalecer a capacidade e o uso da ciência na formulação das políticas. O CHM é parte da Convenção sobre Diversidade Biológica, cujos principais objetivos incluem a implantação de uma rede operacional entre países membros e parceiros da CDB e fornecer informações eficazes para facilitar a implementação do Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011-2020, estratégias nacionais de biodiversidade e planos de ação (http://www.cbd.int/chm/; http://www.chm-cbd.net/).
6
Evidence Based Policy. Na sequência dos problemas levantados, virão naturalmente à
luz outras perspectivas para se construir essa ponte.
Serão convocados em auxílio à argumentação teórica resultados de pesquisas
realizadas entre 2008 e 2013 junto a gestores públicos dos ministérios do Meio
Ambiente, do Desenvolvimento Agrário, e da Agricultura e Pecuária, além de técnicos e
gestores de órgãos governamentais ambientais do Rio de Janeiro.6 Essas pesquisas
tiveram como foco políticas e gestores que lidam com temas na interface entre a
agricultura familiar e a conservação da biodiversidade. A singularidade deste trabalho é,
portanto, dada pelo cruzamento das questões teóricas ora esboçadas com a busca de
lastro empírico sobre o que acontece hoje com o processo de tomada de decisões ligadas
à necessidade de informação técnico-científica em alguns setores governamentais do
país.
Vale ainda lembrar que os poderes da sociedade contemporânea de transformar a
natureza e os homens suplantam, em muito, aqueles do século XVII, e que elevam
sobremaneira a necessidade de enfrentamento reflexivo do problema. Aumenta de fato a
nossa responsabilidade pela disponibilização do conhecimento científico, e pelo uso e
regulação de seus poderes de transformação. Basta não perder de vista os desafios
ambientais hoje postos ao mundo, com suas cifras de irreversibilidade e
imprevisibilidade, para darmo-nos conta da envergadura dos nossos atuais problemas.
Cabe por último alertar que as reflexões e argumentos aqui desenvolvidos são
limitados ao escopo das pesquisas já mencionadas. Quaisquer generalizações devem ser
cautelosas.
2. O RECURSO AO CONHECIMENTO PELOS FORMULADORES DE POLÍTICAS
PÚBLICAS
6 Referimo-nos aqui às pesquisas “Desenvolvimento Sustentável” e agricultura familiar: antagonismos e confluências nos campos dos saberes e das práticas (2007-2010) e A comunicação entre ciência e políticas públicas: o uso da metodologia baseada em evidências na interface biodiversidade-agricultura familiar, ambas coordenadas por Maria José Carneiro, sendo a primeira com financiamentos da ANR (Agence National de Recherche, França), da FAPERJ e do CNPq, e a segunda financiada integralmente pelo CNPq.
7
É praticamente impossível apresentar um retrato da maneira como os gestores
públicos brasileiros encarregados de formularem e implementarem políticas recorrem ao
conhecimento científico para subsidiarem suas decisões, mesmo que nosso universo
empírico seja limitado a temas relacionados à interface da agricultura familiar e a
conservação da biodiversidade. Isso porque a diversidade de práticas observadas deve-
se justamente à ausência de procedimentos institucionalizados para esse fim, ao
contrário do que é comum ocorrer em certos países da Europa, nos Estados Unidos, no
Canadá entre outros. Nesse contexto, tentaremos aqui descrever algumas práticas
encontradas, enfatizando que elas não estão igualmente presentes em todos os setores
dos órgãos públicos onde atuam os gestores entrevistados. No decorrer das duas
pesquisas referidas acima, entrevistamos gestores de órgãos ambientais nacionais,
estaduais e municipais além de deputados e stakeholders. Dessas entrevistas, deter-nos-
emos apenas nos relatos dos 34 gestores da esfera federal ouvidos no período de
setembro de 2012 a abril de 2013.
De modo geral, a pesquisa encontrou grande receptividade e interesse dos gestores,
refletindo o grau de importância que atribuíram ao conhecimento científico na
formulação de políticas. Ninguém negou a potencialidade dessa colaboração, ao menos
na frente de uma professora universitária e sua assistente; mas praticamente todos
levantaram inúmeras dificuldades em operacionalizá-la. Isso não significa que não se
recorra a algum tipo de conhecimento ou de informação durante o curto processo de
elaboração de políticas. Contudo, aqui nos deparamos já com alguma diversidade.
Inicialmente, há de se registrar algumas diferenças entre as representações do que
seja ciência ou conhecimento científico. No nível mais baixo da hierarquia interna da
administração pública, é comum encontrarmos uma equivalência entre “conhecimento”
e “informação estatística”, conforme aferido em sítios de busca, sem qualquer avaliação
criteriosa quanto à confiabilidade desses documentos. A imagem de ciência está
associada a números.
Nos casos onde há maior ênfase na biodiversidade, a mobilização de conhecimento
oriundo das Ciências Naturais é maior, enquanto que nos setores voltados para a
agricultura familiar e desenvolvimento local há uma preferência por dados quantitativos
de natureza socioeconômica caracterizando o cenário para o qual a política se orienta. É
difícil encontrar a combinação dos conhecimentos provindos dos dois campos
8
disciplinares, como seria o caso de estudos sobre populações afetadas pela criação de
unidades de conservação da biodiversidade. Os dados qualitativos são considerados de
difícil apropriação, sob a justificativa de que se referem a contextos e escalas distintos
daqueles da demanda imediata do gestor. Já os números, tidos como mais objetivos e
informativos, além de mais confiáveis, são mais fáceis de serem utilizados.
Apesar da receptividade à pesquisa, observamos em alguns casos uma compreensão
equivocada do nosso objetivo. Conforme as entrevistas iam se desenvolvendo,
inquietou-nos observar que o recurso à evidência científica não era uma prática corrente
nem tida como necessária, seja para subsidiar a formulação de políticas ou para ampliar
o leque de escolha dos policymakers. O recurso ao conhecimento científico nesse
processo, quando ocorre, é eventual e não responde a nenhum procedimento mais
sistemático e regular (Carneiro et al., 2009; Carneiro e Da-Silva-Rosa, 2011). A própria
palavra “evidência” é raramente empregada. Quando há uma tentativa de busca de
alguma informação técnica ou conhecimento científico, geralmente ela ocorre de
maneira ocasional, por meio de iniciativas pessoais de consulta direta a algum
especialista reconhecido, preferencialmente, ou do círculo de relações pessoais. A
consulta a material bibliográfico (livros, teses, relatórios de pesquisa), quando ocorre, se
limita ao que esteja à mão. O cotidiano do trabalho desses gestores os impede de
dedicar tempo a buscas mais aprofundadas e criteriosas. Dentro dessa realidade,
vislumbram que a melhor maneira de se ter certeza da boa formulação ou eventual
necessidade de aperfeiçoamento das políticas é submetê-las a avaliações criteriosas: aí,
sim, o papel dos pesquisadores e cientistas seria fundamental.
A mobilização do conhecimento científico pode se dar também a partir da
organização de seminários (oficinas), fóruns que reúnem especialistas (cientistas),
gestores e, em alguns casos, representantes da sociedade civil. São espaços onde ideias
podem ser consolidadas e virem a constituir um “consenso” entre os participantes,
contribuindo, assim, para corroborar e fortalecer a posição política. A opção por essa
relação direta com os próprios produtores do conhecimento tem a preferência dos
gestores dos setores governamentais observados nesse estudo, principalmente quando se
trata de questões de maior controvérsia política ou de maior impacto na sociedade.
Há casos em que essa mobilização ocorre para legitimar uma decisão já tomada,
escolhendo-se, então, pesquisadores conhecidos e de confiança – cuja posição a respeito
9
do tema da consulta coincide com a decisão política. Esse conhecimento pessoal, que se
traduz em confiança, torna a relação pessoal o principal meio de se chegar ao
especialista. Prefere-se chamar um especialista ou um conjunto deles para ouvir sobre
determinado assunto que consultar relatórios de pesquisa muitas vezes encomendados
pelos próprios órgãos governamentais. Recorre-se ao antigo professor do curso de pós-
graduação ou à própria instituição onde esta se realizou, no caso de convênios, tanto
para realizar consultas avulsas quanto para encomendar estudos. Alguns gestores em
posição mais elevada na hierarquia da administração pública constituem suas próprias
redes de especialistas, que são acionados formalmente através de consultorias
remuneradas, ou mesmo informalmente, quando a relação pessoal permite. Por vezes
esse assessor está dentro do próprio aparelho do estado, como se fosse “a universidade
aqui dentro”, como definiu uma entrevistada. Contudo, em alguns casos, a falta de
planejamento da política a médio e a longo prazo pode transformar esse assessor num
coletor incessante de informações desconjuntadas, rapidamente obtidas através da
internet e transmitidas ao demandante sem que haja tempo para análises e buscas mais
criteriosas. O depoimento de um gestor responsável pelo setor de estudos de um dos
ministérios é ilustrativo:
(Aqui) a pesquisa (funciona) muito por espasmos, intermitente. Eu estou
tentando dar um caráter mais institucional, mas é um pouco difícil, porque no setor
público você acaba funcionando muito como um assessor. Se você não tem uma
rotina, e aqui nós não temos (...), então, quando chega alguma coisa nova, alguém
vem e, pede prá mim, e aí vem o outro. (...) Então, no fundo eu nunca acabo
conseguindo tempo pra desenvolver o que eu quero aqui. Como diz um colega, isso
aqui é tipo curva de rio, tudo passa por aqui. (...) Então, acaba que eu faço um
pouco de tudo.
É claro que outros fatores atuam na decisão política. Seria ingenuidade acreditar
que esta deva obedecer unicamente à racionalidade científica, ou que a ciência deva
desempenhar o papel de legitimadora ou conselheira da política. Contudo, os defensores
da EBP argumentam que cabe à ciência mostrar como as coisas funcionam, de maneira
a aumentar a eficácia ou facilitar a tomada de decisão, e não responder diretamente às
demandas da política.
Muitos obstáculos na construção dessa ponte são identificados por parte dos
gestores. Em síntese, três obstáculos são mais recorrentes:
10
• Tempo
A referência ao tempo aparece de duas maneiras: como elemento em escassez e
como determinador de oportunidades. A falta de tempo para acessar o conhecimento
disponível é agravada pelo desconhecimento das fontes (banco de dados) e dos meios de
busca -- lacunas de familiaridade que necessitam de uma pesquisa dificultada pelas
frequentes demandas e pressões do cotidiano de trabalho. As oportunidades
relacionadas ao tempo apareceriam na forma do timing apropriado, sendo que o da
política e a da pesquisa andam descompassadas: a ciência necessita de um tempo longo
para realizar pesquisas criteriosas e amadurecer análises, e os gestores buscam respostas
imediatas.
• Diferenças epistemológicas
Outra queixa frequente dos gestores se refere à dificuldade de adaptação do
conhecimento científico às demandas da política. Enquanto a ciência é guiada por
dúvidas e incertezas, podendo a pesquisa resultar em um novo problema no lugar de
uma resposta, a política exige respostas e assertivas mais diretas. “A política quer
resultados enquanto a ciência está mais preocupada com a metodologia”, comenta um
gestor. Além disso, nem sempre o conhecimento existente trata diretamente do assunto
abordado pela política ou, quando o faz, a maneira de se elaborar o tema nem sempre
serve às demandas da política. Por exemplo, um mapeamento detalhado da distribuição
e organização espacial de uma população rural em áreas de difícil acesso, apesar de
avaliado positivamente como esforço científico, não produz dados estatísticos
relevantes para subsidiar os policymakers de modo convincente a respeito de políticas
formuladas para esse público.
• O trabalho de tradução e mediação
Dadas as dificuldades apontadas acima, um desafio que se coloca é a necessidade de
se construir pontes que comuniquem o conhecimento produzido (por demanda ou não
dos gestores) à prática cotidiana dos formuladores de políticas. A questão é quem, e de
que maneira, poder-se-ia preencher esse espaço vazio de modo a traduzir e adaptar os
enunciados científicos às demandas da política pública.
Ainda está por ser feita uma pesquisa para avaliar o impacto de pesquisas
encomendadas por organismos governamentais sobre as ações dos policymakers. Sabe-
11
se que boa parte delas não chega ao conhecimento dos gestores, e algumas não são
amplamente divulgadas até mesmo no âmbito do próprio órgão que as contratou. Não só
por isso, mas também pelas dificuldades apontadas acima, seus resultados raramente são
utilizados pelos gestores, segundo afirmaram eles próprios e os pesquisadores
entrevistados. Além da falta de hábito de se buscarem evidências para consubstanciar
decisões sobre as políticas, reconhece-se uma grande dificuldade em adaptar o
conhecimento produzido por essas pesquisas à questão em pauta. De modo geral, os
gestores que preparam as informações para os tomadores de decisão não são capacitados
para traduzir o discurso científico nos termos da política; por isso esperam que a ciência
responda diretamente às suas demandas. Como isso não acontece, há uma visão
pessimista da capacidade com que a política pode se beneficiar da ciência, o que causa
ambiguidade na percepção dos gestores -- principalmente entre os que ocupam os níveis
mais baixos na hierarquia -- sobre a relação entre ciência e política.
Reclama-se que os cientistas falam para si próprios, tornando seus textos
incompreensíveis fora dos círculos acadêmicos. A necessidade de um tradutor é sentida
também em alguns casos para facilitar a compreensão da linguagem científica.
Em síntese, o gestor não assume para si a responsabilidade de tornar o
conhecimento científico aplicável ao contexto da política. Esse papel caberia a
servidores ou núcleos de estudos e informação com funções específicas a esse fim, ou
então a cientistas que orientassem suas pesquisas para as questões levantadas pela
política. Outro caminho que vai na direção da EBP, a ser mais adiante discutida, seria o
do aprimoramento da institucionalização quanto aos procedimentos de busca e
sistematização das evidências. Tal solução, contudo, não foi espontaneamente
mencionada: ela surgiu quando provocada pelas pesquisadoras. Cabe citar ainda
algumas experiências ora em andamento de capacitação de servidores por meio de
formação acadêmica (como cursos de especialização específica ministrados pela
Universidade), adaptada aos fins da política pública.
O fato é que, sobretudo na sua vertente de aconselhamento ou indicação de direções
para os processos decisórios, o discurso científico encontra fortes dificuldades em fazer-
se ouvir: isso abre um cenário muito fecundo para a ação de lobbies, cristalizações
opiniáticas, puras arbitrariedades e por aí afora. Há de se considerar que a ausência de
12
critérios técnico-científicos por parte dos policymakers pode gerar problemas graves.7
Torna-se assim imperativo discutir as possibilidades de reversão desse quadro.
3. A PROPOSTA DE SOLUÇÃO METODOLÓGICA “BASEADA EM EVIDÊNCIAS”
E SUAS MITIGAÇÕES
É sobre esse fundo de descompassos que a noção de evidência ressurge como
legitimadora do discurso científico, a ponto de marcar presença em documentos
importantes como os acima citados. Likens (2010: e1) diz, por exemplo, em The role of
science in decision making: does evidence-based science drive environmental policy?:
“Arguably, there is a critical need for evidence-based information to guide
environmental policy”. Enfim, através das metodologias “evidence-based”, de seus
desdobramentos e meta-análises,8 persegue-se um cruzamento de fontes e de resultados
oriundos de diversos nichos de pesquisa para fortalecer as prescrições científicas. Essa
“solução” tende mesmo a ser particularmente sedutora para pesquisas como as que
partem de temas como os aqui priorizados − conservação da biodiversidade e
agricultura familiar.
Cabe, assim, entrar no mérito da noção de evidência posta em destaque por essa
metodologia, sobretudo visando superar (ou ratificar) a suspeita de que ela possa não ser
mais que a retomada impensada de um projeto que, pelo menos desde o já referido René
Descartes, passando pelos positivismos e neopositivismos dos séculos XIX e XX, ronda
a comunidade científica. Sobretudo depois das querelas epistemológicas do século
passado, envolvendo por exemplo o Círculo de Viena (1929)9 e nomes de peso como os
de Karl Popper (1902-1994), Imre Lakatos (1922-1974), Thomas Kuhn (1922-1996) e
Paul Feyerabend (1924-1994), resulta aberta a questão do método capaz de legitimação
positiva e unificada dos vários conhecimentos ditos científicos. É preciso,
incontornavelmente, perguntar pelo novo tipo de legitimação do conhecimento a que
7 Um exemplo pontual é o da demarcação de algumas unidades de conservação no Estado do Rio de Janeiro, na qual a escala da observação (um único sobrevoo) e a falta de recursos a estudos mais detalhados sobre a área resultaram no agravamento da vulnerabilidade da população local e na detonação de conflitos com o órgão governamental responsável.
8 Ver, por exemplo, STEWART, 2009. 9 Ver HAHN, et al. 2013.
13
aspira a evidence-based science, examinando criticamente a partir daí as bases dessa
aspiração.
Esse é de fato um ponto importante. Ainda que o escopo deste artigo não
permita uma abordagem exaustiva da questão, é possível todavia constatar que a
maioria dos textos disponíveis sobre o referido ressurgimento da noção de evidência
versa sobre a possível relação entre discursos científicos “baseados em evidências” e
seu modo de informar as práticas a eles ligadas (de início, práticas médicas), além da
possível transposição dessa metodologia para o campo da elaboração de políticas
públicas. É verdade que muitos discutem mais pontualmente a aplicabilidade da
evidence-based metodology a âmbitos outros que o da medicina, mas o fato é que
poucos entram no mérito da sua fundamentação epistemológica.
Entre as raras abordagens deste último tipo, encontram-se preferencialmente
ratificações da suspeita de que a redescoberta da evidência não representaria nenhuma
real novidade em relação ao debate epistemológico do século XX. Assim o defende, por
exemplo, o epidemiologista Eyal Shahar, da University of Minnesota, em seu ensaio A
Popperian perspective of the term ‘evidence-based’ medicine. É bem significativo o fato
de o autor escolher como epígrafe do artigo uma conhecida citação do filósofo Karl
Popper: “There are all kinds of sources of our knowledge: but none has authority.”
(Shahar, 1997:109). Todo o esforço de obtenção e cruzamento de fontes descrito nas
evidence-based pratices teria decerto serventia desde que não se pretendesse
“autoritativo”. No caso do citado Karl Popper, nenhuma fonte -- empírica, matemática,
documental, etc. -- tem autoridade inalienável. Todas as teses científicas são
conjecturais e assim devem ser tratadas, tanto epistemológica quanto politicamente. A
confiabilidade das mesmas, segundo esse autor, residiria nas críticas e testes que,
exaustivamente feitos, fracassaram em refutá-las.
Nessa mesma direção vai o artigo The Myth of Evidence-Based Practice:
Towards Evidence-Informed Practice. Os autores Isaac Nevo (filósofo) e Vered Slonim-
Nevo (clínico), da Ben-Gurion University, enxergam várias limitações nas evidence-
based pratices, tanto de natureza prática quanto teórica. Recorrem a epistemólogos
como Thomas Kuhn e Willard Quine para defender que “the logical gap between theory
and evidence has to be filled by autonomous decisions of the scientists” (Nevo &
Slonim-Nevo, 2011: 1180) e que “[…] evidence pertains to theory only through the
14
mediation of the whole science, which gives the theorist much ‘latitude of choice’ in
adapting any particular theory to the testimony of the senses” (p.1181). E concluem:
“[...] evidence-based science is a myth, long refuted by philosophers and historians of
science”. (p.1182).
O fato é que apesar dessas críticas veementes a uma noção pontual ou
tradicional de evidência, menções a práticas baseadas ou informadas por evidências têm
se feito presentes, como já foi mostrado, em momentos importantes da atual crônica
político-científica, pelo que vale a pena seguir tentando compreender por que motivo
isso acontece e quais as injunções aí presentes.
Um primeiro ponto a assinalar é que autores clássicos como os citados Karl
Popper, Thomas Kuhn e Willard Quine, nos quais se apoiam os autores dos artigos que
criticam as evidence-based pratices, apesar de colocarem em cheque a noção
“metafísica” de evidência, não pretendem com isso negar legitimidade às teses
científicas, borrando definitivamente a fronteira entre ciência e pseudociência -- enfim,
nivelando a primeira aos demais discursos. Tomando novamente Popper como exemplo,
os testes a que sobrevivem as teses genuinamente científicas lhes conferem graus de
corroboração crescentes, dotando-as de distinta confiabilidade até que sejam
efetivamente refutadas. Essa confiabilidade, todavia, jamais há de se pretender absoluta
e, sobretudo, dogmática.10 Em suma, mesmo não sendo Popper palavra definitiva em
epistemologia, o fato é que nenhum dos três autores, a despeito de suas diferenças e da
maior ou menor atenção dedicada aos fatores extracientíficos presentes na produção
científica, visa uma pura relativização do discurso científico.
É muito provavelmente com esses implícitos em mente que os autores do artigo
ora em destaque, de título bastante eloquente, voltam-se para uma flexibilização do
suporte teórico dado às práticas, migrando da ideia de práticas baseadas em evidências
para a de práticas informadas por evidências. Se por um lado preservam lexicamente o
termo “evidência”, passam a tratá-lo de forma menos impositiva. Como seja,
questionada a ideia de evidência em sentido estrito, passam Nevo e Slonim-Nevo a uma
discussão sobre possíveis flexibilizações do método baseado em evidências.
Esclarecem: “With many others [...] we seek to defend a comprehensive conception of
10 Ver por exemplo, Popper (1972), em especial o artigo que dá título ao livro: Conjecturas e refutações.
15
pratice as informed by but not adequately based on evidence” (op.cit.:178, grifos
nossos). Distinguem, assim, EBP (evidence-based practice) de EIP (evidence-informed
pratice), concentrando-se a discussão no possível grau de determinação dos resultados
teóricos sobre os desdobramentos práticos. A posição dos autores está adequadamente
descrita já no resumo do artigo:
“Under the EIP model, there is no need for the five-steps procedure11 of the
EBP model, but only that practitioners will become knowledgeable of a wide
rang of sources – empirical studies, case studies and clinical insights – and use
them in creative ways throughout the intervention process”. (op.cit:1176).
Continua presente portanto, mesmo que de maneira mitigada, a ideia de que as
intervenções práticas podem ser adequadamente justificadas se houver acesso à
“melhor” evidência disponível.
Defendem esses autores que a prática e o conhecimento podem ser enriquecidos
pela evidência gerada através de pesquisa, mas que não deve se limitar a estas
contribuições. A evidência não deve guiar as decisões práticas – sequer as teóricas, em
termos absolutos − mas participar enquanto fator importante da construção de um
equilíbrio juntamente com um conjunto de outros fatores e considerações. Este
equilíbrio há de ser logicamente coerente, mas não há como seguir uma fórmula
universal: diferentes pontos de equilíbrio podem ser encontrados a partir das mesmas
evidências, dependendo da situação.
Essa flexibilização entre teoria e prática feita pelos autores traz, como se vê, de
volta à cena a pergunta sobre que tipo de nova contribuição os discursos voltados para
“evidências” realmente trariam para abordar as questões que abrem estas notas. Ainda
que no âmbito médico seja possível pensá-los como exortação a um maior rigor ou
busca dirigida de esgotamento de fontes teóricas para a “informação” dos respectivos
procedimentos clínicos, a questão permanece demasiado aberta no que envolve a
extrapolação para a “informação” de políticas públicas a partir das prescrições teórico-
científicas. Mais exatamente, na medida em que, a partir da crítica à noção de evidência
recusa-se qualquer univocidade prescritiva das teorias às práticas, advogando-se espaço
para coisas como “latitude of choice” e para a apropriação dos resultados teóricos “in
11 Uma descrição detalhada dos referidos “cinco passos” encontra-se, em Bloom & Orme (2009).
16
creative ways”, recoloca-se o problema da informação, no presente caso, de políticas
públicas.
Autores ligados ao citado Centre for Evidence-Based Conservation, da
Universidade de Bangor, como Pullin, Knight e Watkinson (2009), não parecem todavia
intimidar-se diante desses desafios, remetendo-se constantemente aos paralelos com as
práticas médicas. Será preciso, por isso, examinar mais artigos a esse respeito em outra
ocasião, em busca de entendimento das formas de administração da referida elasticidade
teórico-prática, bem como do descompasso entre as macroquestões da política e o
universo da pesquisa científica.
A despeito desses esforços, é razoável crer, pelos motivos já aduzidos, que
persista o problema de se evitar que o campo “criativo e aberto a possibilidades de
escolha”, resultante da rejeição de uma noção estrita de evidência, seja
“democraticamente” invadido por interesses alheios a qualquer racionalidade científica.
É também razoável indagar, neste ponto, que tipo de racionalidade pode sustentar essa
administração. Ela pode ser feita em bases ainda puramente metodológicas, e em caso
positivo, quais seriam elas? Ou então a manutenção delas não terminaria levando
questões ético-políticas para o seio das próprias práticas científicas? Valeria a pena, por
tudo isso, examinar a bibliografia disponível mais amiúde, em busca de lucidez quanto
ao leque de problemas que assim se abre.
Chega-se a sugerir, por exemplo, que a EIP deveria pautar-se por uma
abordagem “centrada no cliente” (em nosso caso, no beneficiário da política) e não
primeira ou estritamente na busca de evidências. Como enfatizam Nevo and Slonim-
Nevo em suas conclusões:
EIP is a client-centred, not an evidence-centred approach. The evidence has to be
consulted only in so far as it can be integrated into a dynamic process of
counseling in which the practitioner has to keep with the client’s changing
perspectives and needs (op.cit.:1195)
Transpondo para o nosso campo de estudo, as questões centrais que guiariam a
procura por evidências seriam oriundas das necessidades dos gestores e, em última
instância, dos beneficiários da política e não da ciência num sentido mais autônomo ou
tradicional. Isso aviva a questão sobre a possibilidade de a ciência responder
diretamente às questões da política, prioritariamente àquelas que emergem dos próprios
17
programas de pesquisa. Sendo fato que a ciência sempre fugiu de qualquer interferência,
pelo menos explicitamente, aos seus procedimentos e objetos de estudo, esse tipo de
exigência significaria algo como uma revolução, nada simples de ser implementada.
Não se pode, enfim, perder de vista que esse problema é estreitamente ligado às
origens das práticas baseadas em evidências, ou seja, no âmbito das práticas médicas.
Lá, a busca por evidências pode e deve pautar-se pelas necessidades do paciente em
compartilhar com o médico as decisões sobre o tratamento. O deslocamento desse
procedimento para o âmbito de uma “clientela” político-social está, por tudo o que foi
dito até aqui, longe de ser simples.
4. OUTRAS FORMAS DE PENSAR O PAPEL DO DISCURSO CIENTÍFICO NA
CONSTRUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
Apesar de haver uma preocupação de certos setores do governo com o aumento
da institucionalidade do recurso à informação científica para subsidiar tomadas de
decisão nas políticas públicas, ela ainda é bastante limitada e concentrada em certas
áreas de ação. Na nossa pesquisa observamos dois problemas aparentemente
contraditórios que se encontram e se enfrentam nessa busca pela eficácia da política a
partir do uso do conhecimento científico. Um deles é resultado da crença na ciência
como neutra, objetiva e provedora de certezas, o que leva alguns gestores a buscarem
nela respostas imediatas a questões colocadas pelo cotidiano da política (policy). O
outro relativiza o anterior ao reconhecer os obstáculos, difíceis de serem superados,
decorrentes dos diferentes procedimentos de um e de outro, o que gera ceticismo sobre a
possibilidade de a ciência eventualmente vir a responder às demandas da política. Desta
maneira, permanecem inalteradas e até cristalizadas as práticas e decisões baseadas em
percepções subjetivas e sem critérios objetivamente definidos.
Essa reação, ainda que atrelada a certa representação do que seja ciência, nos leva
a refletir sobre os limites de construção de uma ponte entre ciência e política e a
reafirmar a propriedade de nossas questões. De que maneira poderia a ciência contribuir
para aumentar a eficácia da gestão pública em relação a seus fins? Para quem fala a
ciência para além das fronteiras de seus próprios pares? Caberia à ciência oferecer
respostas à formulação de políticas públicas, ou simplesmente oferecer matéria para
18
reflexão dos tomadores de decisão? Como vimos, a EBP e a EIP são tentativas de
responder a essas questões, mas deixam em aberto uma série de outras. Vale a pena,
pois, examinar ainda algumas abordagens alternativas que se esforçam para superar essa
dualidade, apontando para a necessidade de se construir um novo tipo de ciência, ou
uma nova percepção da ciência e não mais guiada pelos princípios que fundaram a
ciência moderna.
Uma das mais conhecidas no Brasil é a de Bruno Latour, que argumenta a favor
da inseparabilidade entre sociedade (ou política) e ciência na sociedade contemporânea,
já que ambas seriam “co-fundadas”. A ciência passaria a ser entendida como
internalizada na sociedade, produzindo híbridos que contenham, em seus produtos não-
humanos, elementos da natureza e da sociedade (Latour 1994). Mas, na crítica de
Nowotny, Scoot & Gibbons (2001), a abordagem latouriana continua vendo as coisas a
partir da perspectiva dominante da ciência. O ‘social’ teria sido “absorvido pelo
‘científico’”, permanecendo a ciência em foco de modo que a transformação da
sociedade é vista como “predominantly shaped by scientific and technical change. In
other words, the socialization of science has been contingent on the scientification of
society” (p. 3) Distintamente, esses autores propõem uma abordagem mais
contextualizada da ciência, onde ambas (ciência e sociedade) estejam integradas num
processo de “co-evolução” permanente. Na mesma direção, encontramos a perspectiva
da “co-produção” entre ciência e sociedade proposta por Sheila Jasanoff (2004), para
quem a ciência não pode ser produzida à revelia do que ocorre na sociedade, sendo
importante considerar que o que ela produz interfere intimamente na sociedade, através
da própria construção desta. Jasanoff, na verdade, já havia esclarecido em seu livro The
fifth branch: science advisers as policymakers (1994), ser contrária tanto à perspectiva
“tecnocrática” quanto à “democrática”, porque nenhuma das duas “takes adequate
account of the nature of science or of politics” (op.cit.: vii).
Preocupados com as dificuldades da ciência em dar conta de novos desafios da
sociedade contemporânea – como os ambientais, hoje particularmente mergulhados em
incertezas – Funtowicz e Ravetz (2000) propõem a consolidação de uma ciência que se
distinguiria pela ampliação e qualidade do acesso à informação. O uso das novas
tecnologias engendradas pela ciência vinham resultando em diversos problemas sociais
e ambientais, como o trágico acidente nuclear de Chernobyl, em 1986. Estes casos
19
demonstraram a necessidade da incorporação da incerteza (inclusive a incerteza ética),
da prudência e da precaução na construção do conhecimento. Seria necessário, portanto,
estabelecer uma via de expressão e comunicação à sociedade das incertezas que
permeiam o campo científico, bem como construir estratégias de resolução de
problemas por dentro e por fora da comunidade científica, a partir de uma “comunidade
de pares estendida” onde novos atores (e não apenas os cientistas) participariam dos
debates políticos. Esses autores chamam a atenção para a centralidade do risco nas
sociedades contemporâneas e deslocam a ciência para o mesmo lugar de tantas outras
vozes a serem ouvidas nos processos decisórios, ao contrário do que propõe a Evidence-
Based Policy, baseada na primazia da ciência e dos cientistas.
Mais uma vez, porém -- mesmo quando há uma relativização da autoridade final
do conhecimento científico através de uma crítica baseada na percepção construtivista
do conhecimento, de modo a tratá-lo como apenas uma interpretação dialogando com
outras no debate político --, autores como os próprios Funtowicz e Ravetz enfatizam a
importância da ciência na alimentação desse debate. Os cientistas seriam
particularmente importantes na construção de uma massa crítica de conhecimento sobre
uma determinada questão e para evitar que prevaleça um mero embate de opiniões.
Uma experiência interessante que merece ser relatada é a do Forum on Global
Land Grabbing, organizado pelo Journal of Peasants Studies. Preocupados em levantar
dados confiáveis sobre a maneira como se têm dado os negócios de terra em escala
mundial, um conjunto de especialistas recorreu a diferentes metodologias e fontes12.
Vários problemas e limites dessas escolhas metodológicas, assim como as implicações
das políticas baseadas em evidências decorrentes dessas metodologias, constituíram o
objeto de central de debate desse fórum. Alguns artigos relatando e analisando essa
experiência foram publicados no referido periódico13. Destacamos a contribuição de
Scoones et al., que enfatizam o aporte de diferentes pessoas, e não apenas dos
acadêmicos, em determinados momentos da construção do conhecimento. Os autores
questionam a existência de uma fronteira nítida entre o fato e o que é valor e contexto.
Defendem que os fatos pertencem também ao mundo da política, na medida em que eles
12 Basicamente, a abordagem Land Matrix que reuniu informações a partir de várias fontes disponíveis na internet, e não apenas as acadêmicas (crowd-sourcing approach), e a GRAIN, abordagem baseada principalmente em matérias da mídia. 13 Ver Journal of Pesants Studies, 2013, vol. 40, no. 3.
20
só têm alcance e influência se recebem apoio, ou seja, se são reconhecidos como tal.
Mas isso não significa que uma análise rigorosa e profunda seja irrelevante. Mesmo que
não se possa esperar por essa análise para balizar uma intervenção política, dada a
diferença das escalas temporais de cada uma, “if we ignore such research, the initial and
necessarily more impressionistic results may go unchallenged, untested and unverified,
and myths and misunderstanding will arise” (Scoones et al, 2013: 471). Os autores
defendem então o recurso a ambos os tipos de procedimento: o científico e a
constituição de fóruns de debates conduzidos por uma variedade de atores. Contudo,
alertam que é crucial nesse processo estabelecer-se um debate construtivo entre esses
atores para que a política seja “informed by evidence in a productive tension” (idem).
Resta saber como enfrentar, em cada contexto social específico, esse difícil desafio que
supõe a superação de barreiras levantadas em torno das hierarquias socialmente
estabelecidas, e confirmadas nos meios acadêmicos, entre interpretações e valorações
geradas pelos diferentes tipos de saberes e pela ciência.
Nesse contexto de discussão, cabe voltar a indagar sobre nosso objeto de
interesse aqui: como implementar uma real aproximação entre ciência e política?
Estamos cientes de que apenas parte dos problemas que enfrentamos se relacionam com
a eleição de base metodológica capaz de credenciar a produção científica a ser posta à
disposição dos elaboradores de políticas públicas, especialmente aqueles ligados à
conservação da biodiversidade e sua relação com a agricultura familiar.
Ainda assim, seguindo o raciocínio acima, se aceitamos que ciência e sociedade
(ou política) estão fundidas, qual seria o mecanismo epistemológico que nos permitiria
buscar na ciência respostas para a sociedade? Quais seriam os instrumentos de controle
possíveis e necessários a defender, cuidando ao mesmo tempo de evitar que sejamos
novamente embalados (ludibriados, adormecidos e envolvidos, acondicionados) pela
supremacia da ciência? Que caminho devemos percorrer para transformar a ciência,
produtora de incertezas e incapaz de ressuscitar “evidências” em sentido forte, em algo
capaz de orientar as decisões dos gestores públicos? Como contribuir para socializar o
conhecimento científico para além das fronteiras da academia, de maneira a torná-lo
mais operacional e acessível na formulação de políticas públicas? Não estaríamos com
essa abordagem reafirmando uma dualidade não mais cabível, dada a complexidade e as
incertezas que predominam na sociedade contemporânea?
21
5. PARA QUEM FALA A CIÊNCIA, AFINAL? REFLEXÕES INCONCLUSAS.
O esforço empenhado até aqui em organizar algumas reflexões sobre a relação
entre ciência e sociedade – esta representada aqui pelas políticas públicas
governamentais – nos levou a um conjunto de questões de difícil solução. Seria
arriscado e pretensioso de nossa parte sugerir um caminho das pedras, ainda que esta
possa ser a expectativa dos leitores.
Coerente com a proposta inicial deste artigo, enveredamos por uma avaliação
crítica da evidence-based policy não só a partir da discussão dos seus fundamentos
epistemológicos, como da tentativa de operacionalizá-la. Buscamos identificar como se
dá o uso do conhecimento científico por alguns gestores públicos de três Ministérios e
chegamos aos difíceis obstáculos que se interpõem nos ensaios de construção de uma
ponte entre essas esferas. Percebemos que a proposta de uma utilização racional de
assertivas científicas como subsídio na tomada de decisão do gestor público se sustenta
em uma visão de ciência assentada em uma hierarquia de conhecimentos e de
procedimentos que acabam por se tornar inoperantes do ponto de vista da gestão
pública.
Vimos que diferentes tipos de fontes e de literatura informam efetivamente a
formulação de políticas no cotidiano institucional. Indo na contramão da EBP, alguns
autores revisados nos levam a discutir a contribuição dessas diversas fontes, entre elas
particularmente a consulta direta a especialistas e conhecimentos advindos da
experiência profissional dos gestores. Cabe, enfim, uma reflexão sobre os meios de
submeter tais informações a um debate crítico que neutralize ou ao menos diminua o
peso valorativo dessas escolhas.
Críticas como as já feitas pelos defensores da Evidence Informed Policy
relativizam a primazia da ciência convocando outros interlocutores a participarem nos
processos decisórios e deslocando a noção de evidência para um papel informativo e
não sustentador da política. É uma abordagem pós-moderna que vai incorporando
incertezas, e faz com que a ciência informe os gestores e os prepare para lidar com essa
noção.
22
Ainda outras abordagens encaminham na direção da necessidade de construção
de uma nova ciência -- ou uma nova concepção de ciência, mais integrada ou “fundida”
à sociedade de maneira que, no mundo contemporâneo, não se possa mais falar de uma
sem incluir a outra.
Dada essa complexidade de questões, sugere-se algumas “direções”, ainda que
provisórias:
1. Para avançarmos num diálogo que possa resultar em uma contribuição mais
pertinente da ciência para a política (policy), é primordial estarmos abertos a ouvir
várias vozes: as dos cientistas, as da sociedade com seus diferentes saberes,
necessidades e desejos, e as dos gestores públicos.
2. Para responder questões que mobilizam diferentes especialistas, é necessário
que se estabeleça também um diálogo entre as várias ciências de maneira a produzir um
conhecimento que integre os distintos âmbitos da produção científica, o que supõe uma
predisposição para abandonar posições assentadas em verdades previamente
estabelecidas dentro de cada disciplina. Aqui encontramos outros desafios que implicam
a capacidade dos cientistas de se fazerem entender entre si e estabelecerem uma
linguagem comum que permita a comunicação entre eles, considerando sobretudo o
respeito à diversidade e visando construir narrativas mais amplamente inteligíveis. Se o
difícil mas necessário entendimento entre os pares não se viabilizar, como iremos
aconselhar ou informar a política? A tentativa de contornar essa aguda questão por meio
das EBMs e de suas meta-análises se depara, como vimos, com a série de problemas
que leva às EIPs e mesmo para além delas. Resta, pois, o desafio de lidar com a
indisponibilidade de verdades assentadas ou consensuais, impostas pelas atuais
incertezas e inerentes à multiplicidade de abordagens, que acabam por levar à crítica da
busca por “evidências” e ao mesmo tempo à responsabilidade de se manter viva a
credibilidade do procedimento científico.
3. Percorridos esses passos, ficamos com o desafio de viabilizar a interação
dessa voz científica, mantida respeitável e tornada inteligível, com as outras vozes (da
sociedade e dos policymakers). Mas as indagações permanecem. Até que ponto seria
possível a implementação de fóruns onde ocorram conversas entre diferentes atores,
numa tensão produtiva entre as partes? Até que ponto, por exemplo, as experiências
recentemente implementadas no Brasil, de organização de oficinas, seminários e
23
conferências, e a instituição de Conselhos de gestão de políticas públicas14 podem vir a
se constituir em embriões desse novo modo de fazer ciência e política?
Se entendermos que as retóricas da política e da ciência são co-produzidas e
entrelaçadas, somos levados a aceitar que, assim como a narrativa política, as evidências
científicas (e suas interpretações) são igualmente suscetíveis de disputas de interesses. O
desafio talvez seja então o de identificar a melhor forma de tornar tais disputas
transparentes, assim como os atores que as sustentam, de maneira a permitir a
elaboração de respostas (da política) que sejam fruto de uma negociação tensa entre o
conhecimento sistemático, outras formas de conhecimento e os diferentes atores
envolvidos. Pode ser que as diferentes modalidades de Conselhos e consultas públicas,
instituídas recentemente na vida política do país, sejam uma possibilidade de
constituição de um espaço de diálogo entre esses diferentes atores e suas interpretações,
valores e interesses; mas, para isso, um longo caminho de exercício de cidadania
sustentado no respeito à diversidade e na busca de uma sociedade menos injusta e
desigual ainda está por ser percorrido.
4. Para além dos contornos gerais capazes de organizar a condução das referidas
interações, reconhecemos ainda um derradeiro ponto a ser mais profundamente
explorado acerca das possíveis relações entre ciência e política no Brasil. É que a
política brasileira possui certa especificidade quanto ao seu grau de apego à
racionalidade científica, às propostas de tecnocratização e racionalização dos processos
políticos, sobretudo no que concerne à formulação de políticas públicas. Portanto, um
questionamento sobre por que estas relações entre políticas públicas e conhecimento
científico são no Brasil mais fracas do que nos citados países da Europa, não pode se
ater apenas a questões acerca de dificuldades práticas ou de complicações
epistemológicas, como se a ciência e a política fossem levadas a efeito da mesma
maneira em todos os países.
14 Tais Conselhos integram e articulam, diferentemente, membros do governo e da sociedade civil (incluindo em alguns casos, representantes de sociedades científicas) com o objetivo de propor diretrizes para a atuação governamental. O CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) e o CONDRAF (Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável) são exemplos. Um estudo aprofundado sobre o desempenho desses Conselhos sob a ótica das questões propostas no presente capítulo ainda está por ser feito.
24
O fato é que a política tropicalizada não aceita facilmente que a ciência se
apresente a priori como instrumento legítimo nos processos de tomada de decisão15.
Apesar de reconhecerem a importância do conhecimento científico, os gestores
simplesmente não o acessam como fonte primária ou mesmo auxiliar para sustentar as
tomadas de decisão; a ciência é vista como fundamental, mas na prática está sempre em
posição satélite no momento das decisões. Mas é claro que, com essa observação e no
âmbito da presente discussão, não vislumbramos que a política deva se submeter
unilateralmente à racionalidade científica. Longe disso.
Resta, ainda assim, questionar de onde vem esta relativa recusa à racionalização
do processo de tomada de decisões, tema que merece futuras investigações: será a
confusão entre público e privado baseada na figura dos “donos do poder” a chave para
compreensão desta particularidade? Seria a primazia, quem sabe, do “homem cordial”
na política, a responsável pela preferência por pessoalizar relações que deveriam ser
institucionais? Ou estaria o centro deste nó na característica antropofagia brasileira,
numa espécie de filtragem das influências culturais distantes do racionalismo ocidental?
BIBLIOGRAFIA
ARENDT, Arendt: A Condição Humana, trad. Roberto Raposo. Rio de Janeiro,
Forense, 1999.
BACON, Francis. A Nova Atlântida, trad. José Aluysio Reis de Andrade. Coleção Os
Pensadores. São Paulo: Abril, 1979.
BLOOM, M.; FISCHER, J & ORME J. Evaluating Practice: Guidelines for the
accountable professional. Boston: Allyn and Bacon, 2009.
CARNEIRO, Maria José ; LEITE, Sergio ; BRUNI, Rejan. Conhecimento científico e
políticas públicas: mobilização e apropriação do saber em medidas de conservação da
Mata Atlântica. Estudos Sociedade e Agricultura (UFRJ), v. 17, p. 254-303, 2009.
CDB. Convention on Biological Diversity. Disponível em <http://www.cbd.int/chm/ > e
<http://www.chm-cbd.net/>. Acesso em 17 jun. 2013.
15 Um exemplo relativamente recente disso foi o processo de reforma do Código Florestal.
25
CEBC. Centre for Evidence-Based Conservation. Disponível em
<www.cebc.bangor.ac.uk>. Acesso em 12 jul. 2013.
DA-SILVA-ROSA, Teresa & CARNEIRO, Maria José. The Use of Scientific
Knowledge in the decision making process of environmental public policies in Brazil.
JCOM, Journal of Science Communication, v. 10, p. A03, 2011.
FUNTOWICZ, Silvio & RAVETZ, Jerry. Epistemologia Política: ciencia com la gente.
Barcelona: Icaria Editorial, 2000.
HAHN, Hans; NEURATH, Otto and CARNAP, Rudolph. The Scientific Conception of
the World: the Viena Circle. Disponível em
<http://evidencebasedcryonics.org/pdfs/viennacircle.pdf>. Acesso em 12 jun. 2013.
JAPIASSU, Hilton. As máscaras da ciência. Ci. Inf., 6(1): 13-15, 1977.
JASANOFF, Sheila. Satates of Konowledge: the co-production of science and social
order. London: Routledge, 2004.
_________ The Fith Branch: Science Advisers as Policymakers. Cambridge,
Massachusetts, Harvard University Press, (1990), 1994.
LATOUR, Bruno. Jamais Fomos Modernos, trad. Carlos Irineu da Costa. Rio de
Janeiro, Editora 34, 1994.
LAURENT, Catherine. Et al. Knowledge production, Multifuncionality os agriculture
and public decisions: critical issues of contemporary controversies. European
Association of Agricultural Economists>113th Seminar, Belgrade, Serbia, December 9-
11, 2009.
LIKENS, Gene E. The role of science in decision making: does evidence-based science
drive environmental policy?, Frontiers in Ecology and Environment. v.8, n. 6, 2010.
NEVO, Isaac & SLONIM-NEVO, Vered. The Myth of Evidence-Based Practice:
Towards Evidence-Informed Practice. British Journal of Social Work v 41, p. 1176-
1197, 2011.
NOWOTNY, Helga; SCOTT, Peter & GIBBONS, Michael. Re-thinking science.
Knowledge and the public in an age of uncertainty. Cambridge: Polity Press, 2001.
26
POPPER, Karl: Conjecturas e refutações: o progresso do conhecimento científico, trad.
Sérgio Bath. Brasília, Editora Universidade de Brasília, 1972.
PULLIN, Andrew S.; KNIGHT, Teri M. & WATKINSON, Andrew R. Linking
reducionist science and holistic policy using systematic reviews: unpacking
environmental policy questionas to construct an evidence-based framework. Journal of
Applied Ecology v.46, p. 970-975, 2009.
SCOONES, Ian; Ruth HALL; Saturnino M. BORRAS; Ben WHITE e Wendy
WOLFORD. The politics of evidence: methodologies for understanding the global land
rush. The Journal of Peasant Studies, vol. 40, No. 3, 469-483, 2013.
SHAHAR, Eyal. A Popperian perspective of the term ‘evidence-based’ medicine.
Journal of Evaluation in Clinical Practice. v. 3, n. 2, p. 109-116, 1997.
STEWART, Gavin. Meta-analysis in applied ecology. Biology letters, September 23,
2009.
UNESCO. World Social Science Report: Knowledge Divides. Paris: United Nations
Educational, Scientific and Cultural Organization, 2010.
Sobre os autores:
Maria José Carneiro – Antropóloga, graduada em Ciências Sociais (UFF), Mestre em
Antropologia Social (PPGAS-MN, UFRJ), doutora em Antropologia Social (Ecole des
Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris), Pós-doutorado no LADYSS-Universidade
Paris X (Nanterre), na EHESS, e no Instituto de Economia da UNICAMP. Professora
do Programa de Pós-Graduação de Ciências em Desenvolvimento, Agricultura e
Sociedade (CPDA) da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Dedicou-se
27
durante muito tempo a pesquisas sobre dinâmicas da agricultura familiar, relações
sociais de gênero, juventude rural, ruralidade, relações rural-urbano, pluriatividade,
multifuncionalidade da agricultura. Publicou 2 livros: Camponeses, Agricultores e
Pluriatividade, e Ruralidade na Sociedade Contemporânea, alem de diversos artigos e
capítulos de livro sobre esses temas. Dedica-se desde 2007 ao estudo da relação entre
política publica e conhecimento científico no campo da interface entre agricultura e
biodiversidade. Coordena o Grupo de Pesquisa em Ciência, Natureza, Informação e
Saberes (CINAIS. WWW.ufrrj.br/cpda/cinais.). Foi bolsista “Cientista do Nosso Estado”
(FAPERJ) de 2007 a 2012. É bolsista de produtividade do CNPq.
Edgar Lyra - Possui graduação em Engenharia Química pela Universidade do Estado
do Rio de Janeiro (1981), mestrado (1999) e doutorado (2003) em Filosofia pela
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. Trabalhou como engenheiro até
1986, quando migrou para o âmbito das humanidades, chegando a exercer o cargo de
Secretário de Cultura de Teresópolis, município onde até hoje reside. Lecionou em
várias instituições de ensino, fixando-se atualmente como professor de tempo integral
no departamento de Filosofia da PUC-Rio, onde responde, desde 2009-2, pela
coordenação do curso de licenciatura, bem como, desde 2012-2, do PIBID-CAPES.
Tem experiência na área de Filosofia Contemporânea, especialmente em problemas
éticos, políticos e pedagógicos ligados à atual hegemonia tecnológica e aos seus efeitos
ambientais. Trabalha principalmente com os autores Martin Heidegger e Hannah
Arendt, nos quais estão concentradas suas publicações. Mais recentemente tem se
dedicado ao estudo da retórica com intenções político-pedagógicas, partindo do seu
contexto grego de sedimentação, marcadamente da "Retórica" de Aristóteles, em
direção aos seus ecos contemporâneos.
Laila Thomaz Sandroni - Bacharel em Ciências Sociais (IFCS/UFRJ) e licenciada
em Geografia (Universidade Estácio de Sá). Mestre em Ciências Sociais em
Desenvolvimento, Agricultura e Sociedade (CPDA, UFRRJ). Tem desenvolvido
pesquisas, consultorias e atividades educacionais que envolvem questões ambientais e
28
interdisciplinaridade das ciências humanas. Possui particular interesse e na dimensão
epistemológica das ciências e nas relações entre ciência e política pública. Pesquisadora
integrante do Grupo de Pesquisa Ciência, Natureza, Informação e Saberes (CINAIS).
Teresa da Silva Rosa - Formação interdisciplinar e internacional. Doutorado em Sócio-
économie du développement (EHESS, 2005). Professora dos Programas de Pos
Graduação em Sociologia Política e em Ecologia de Ecossistemas, da Universidade Vila
Velha. Pesquisadora do Nucleo de Estudos Urbanos e Socioambientais (NEUS,UVV) e
fo grupo de pesquisa CINAIS - Ciência, Natureza, Informação e Saber. Particular
interesse em duas linhas de pesquisa: a produção de conhecimento sobre questões
ambientais na perspectiva da comunicação entre a ciência e a politica; e a
vulnerabilidade socioambiental e resiliência a eventos climáticos.