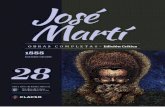José A Segurança Cidadã em debate
Transcript of José A Segurança Cidadã em debate
José Luiz RattonGino CostaCarlos RomeroLuiz Eduardo Soares
Enquanto ator ativo da discussão sobre políticas de segurança e de prevenção da violência, o Projeto URBAL – Políticas Locais de Prevenção da Violência desempenhou, em seus quatro anos de atuação, um papel localizado junto a três governos locais da América Latina.
A proposta de lançar a série “Cadernos sobre Segurança e Prevenção da Violência na América Latina” surge no exato momento em que o Projeto se prepara para a despedida e avalia o caminho percorrido. Como compartilhar e não deixar se perder o conhecimento adquirido? Como ampliar a nossa contribuição, mesmo que de forma modesta, aos debates atuais?
Parte deste Programa, o Projeto URBAL - Políticas Locais de Prevenção da Violência tem o objetivo de contribuir para o fortalecimento de políticas públicas de prevenção da violência e de promover a coesão social. O Projeto é executado pelo Governo do Estado de Pernambuco – Brasil, representado pela Secretaria de Defesa Social, em parceria com os Governos Locais da Região Loreto - Peru, da Intendência de Paysandu – Uruguai, da Municipalidade de Bérgamo – Itália e com Cesvi Fundação.
Realização:
Parceria:
URB-AL III é um programa de cooperação descentralizada da União Europeia dirigido a governos (locais e regionais) da União Europeia e da América Latina. Atualmente, o Programa encontra-se em sua terceira fase de execução (2008-2012). URB-AL III tem como objetivo geral contribuir para incrementar o grau de coesão social e territorial entre coletivi-dades subnacionais na América Latina. Seu objetivo específico é consolidar ou promover, apoiando-se em parcerias e troca de experiências, processos e políticas de coesão social que se possam converter em modelos de referência capazes de gerar debates e indicar possíveis soluções aos governos que desejem impulsionar dinâmicas de coesão social. URB-AL III conta com 20 projetos que desenvolvem ações na América Latina.
IntendenciaDepartamentalde Paysandú
A Segurança Cidadã em debate
Cadernos sobre Segurança e Prevenção da Violência na América Latina
3
Cad
erno
s so
bre
Segura
nça
e Pr
even
ção
da V
iolê
ncia
na
Am
éric
a La
tina
3A
Segu
ranç
a Cid
adã
em d
ebate
capa livro 3.pdf 1 27/11/2012 16:18:50
José Luiz RattonGino CostaCarlos RomeroLuiz Eduardo Soares
Enquanto ator ativo da discussão sobre políticas de segurança e de prevenção da violência, o Projeto URBAL – Políticas Locais de Prevenção da Violência desempenhou, em seus quatro anos de atuação, um papel localizado junto a três governos locais da América Latina.
A proposta de lançar a série “Cadernos sobre Segurança e Prevenção da Violência na América Latina” surge no exato momento em que o Projeto se prepara para a despedida e avalia o caminho percorrido. Como compartilhar e não deixar se perder o conhecimento adquirido? Como ampliar a nossa contribuição, mesmo que de forma modesta, aos debates atuais?
Parte deste Programa, o Projeto URBAL - Políticas Locais de Prevenção da Violência tem o objetivo de contribuir para o fortalecimento de políticas públicas de prevenção da violência e de promover a coesão social. O Projeto é executado pelo Governo do Estado de Pernambuco – Brasil, representado pela Secretaria de Defesa Social, em parceria com os Governos Locais da Região Loreto - Peru, da Intendência de Paysandu – Uruguai, da Municipalidade de Bérgamo – Itália e com Cesvi Fundação.
Realização:
Parceria:
URB-AL III é um programa de cooperação descentralizada da União Europeia dirigido a governos (locais e regionais) da União Europeia e da América Latina. Atualmente, o Programa encontra-se em sua terceira fase de execução (2008-2012). URB-AL III tem como objetivo geral contribuir para incrementar o grau de coesão social e territorial entre coletivi-dades subnacionais na América Latina. Seu objetivo específico é consolidar ou promover, apoiando-se em parcerias e troca de experiências, processos e políticas de coesão social que se possam converter em modelos de referência capazes de gerar debates e indicar possíveis soluções aos governos que desejem impulsionar dinâmicas de coesão social. URB-AL III conta com 20 projetos que desenvolvem ações na América Latina.
IntendenciaDepartamentalde Paysandú
A Segurança Cidadã em debate
Cadernos sobre Segurança e Prevenção da Violência na América Latina
3
Cad
erno
s so
bre
Segura
nça
e Pr
even
ção
da V
iolê
ncia
na
Am
éric
a La
tina
3A
Segu
ranç
a Cid
adã
em d
ebate
capa livro 3.pdf 1 27/11/2012 16:18:50
A Segurança Cidadã em debate 3
José Luiz RattonGino Costa
Carlos RomeroLuiz Eduardo Soares
Organização:
Júlia Loonis OliveiraMariângela Ribeiro
Edna Jatobá
1ª EdiçãoRecife-PE
Editora: Provisual2012
Esta publicação foi elaborada com o apoio financeiro da União Européia. O conteúdo desta publicação é responsabilidade exclusiva dos autores e entrevistados e de modo algum deve-se considerar que reflita a posição da União Européia ou das instituições parceiras do Projeto URBAL – Políticas Locais de Prevenção da Violência.
Distribuição gratuita. A reprodução de todo ou parte deste documento é permitida somente para fins não lucrativos desde que citada a fonte.
S456 A segurança cidadã em debate / José Luiz Ratton ... [et al.] ; organização: Júlia Loonis Oliveira, Mariângela Ribeiro, Edna Jatobá. – Recife : Provisual, 2012. 63 p. : il.
Inclui bibliografia.
1. SEGURANÇA PÚBLICA – BRASIL. 2. VIOLÊNCIA – BRASIL – ASPECTOS SOCIAIS. 3. VIOLÊNCIA – BRASIL – PREVENÇÃO. 4. PRE VENÇÃO DO CRIME – PARTICIPAÇÃO DO CIDADÃO. 5. CRIMINALI DADE – BRASIL – PREVENÇÃO. 6. POLICIAIS – BRASIL – RESPONSABI LIDADE SOCIAL. 7. POLÍTICAS PÚBLICAS. I. Ratton, José Luiz. II. Olivei-ra, Júlia Loonis. III. Ribeiro, Mariângela. IV. Jatobá, Edna.
CDU 351.78CDD 351.75
PeR – BPE 12-0673ISBN 978-85-65783-07-1
Sumário
Apresentação
IntroduçãoPor: Edna Jatobá
Apresentação Seminário Políticas Locais de Prevenção da Violência
Por: José Luiz Ratton
O que fazer com as gangues?Por: Gino CostaCarlos Romero
Reforma da Arquitetura Institucional da Segurança Pública no Brasil
Por: Luiz Eduardo Soares
6
810
24
34
Projeto URBAL – Políticas Locais de Prevenção da Violência
COORDENAÇÃO GERAL
Mariângela Ribeiro
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Aurora Oggioni
Escritório Brasil
ASSESSORIA TÉCNICA
Edna Jatobá
Giulia Donnici
Júlia Loonis Oliveira
ASSISTÊNCIA DE PROJETO
Marta Pontoglio
Escritório Uruguai
COORDENAÇÃO LOCAL
Fernanda Martinez
ASSESSORIA DE CAMPO
Judith Algalarrondo
Escritório Perú
COORDENAÇÃO LOCAL
Victor-Hugo Ruiz Tapayuri
ASSESSORIA DE CAMPO
Jeniffer Karina Polanco Diaz
Escritório Bérgamo
COORDENAÇÃO LOCAL
Sara Colombo
Secretaria de Defesa Social
Governo de Pernambuco/ Brasil
SECRETARIA ESTADUAL
Wilson Salles Damázio
GERÊNCIA GERAL DE ARTICULAÇÃO, INTEGRAÇÃO INSTITUCIONAL E COMUNITÁRIA
Manoel Caetano Cysneiros de Albuquerque Neto
REFERÊNCIA INSTITUCIONAL DO PROJETO URBAL
Vladimir Sales Brasiliano
Governo Regional de Loreto/ Peru
PRESIDÊNCIA REGIONAL E REFERÊNCIA INSTITUCIONAL DO PROJETO URBAL
Yván Enrique Vásquez Valera
Intendência de Paysandú/ Uruguai
INTENDÊNCIA
Bertil Randolf Bentos Scagnegatti
REFERÊNCIA INSTITUCIONAL DO PROJETO URBAL
Mauro Soto
Comune de Bérgamo
DIREÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS
Leonio Callioni
REFERÊNCIA INSTITUCIONAL DO PROJETO URBAL
Massimo Chizzolini
Cesvi Fundação
RESPONSÁVEL PARA AMÉRICA LATINA E REFERÊNCIA PROJETO URBAL
Stefania Cannavó
FOTOS Mariângela RibeiroPág. 35 e 37 - Acervo NAP - CBMPEPág. 46 - Fúlvio Zubiani
PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃOVia Design Criação Estratégica
EDITORAProvisual Gráfica e Editora
“Não seremos humanos sem segurança ou sem liberdade; mas não podemos ter as duas ao mesmo tempo e ambas na quantidade que quisermos. Isso não é razão para que deixemos de tentar (não deixaríamos nem se fosse uma boa razão).”
Comunidade: A busca por segurança no mundo atualZygmunt Bauman
O surgimento do Projeto URBAL – Políticas Locais de Prevenção da Violência se enraíza, em primeira instância, no momento vivido pela América Latina. Altos índices de crimi-nalidade e manifestações variadas de violência demandam cada vez mais uma resposta pública e a busca por soluções inovadoras.
Em segunda instância, a decisão de criar este projeto de cooperação descentralizada repousa no entendimento cada vez mais consensual de que segurança é um tema da sociedade, no qual atores tão diversos, como governos nacionais, governos locais, aca-demia, sociedade civil, polícias e setor privado, têm um papel a desempenhar.
O objetivo geral do projeto foi contribuir para a promoção e a consolidação dos proces-sos e das políticas de prevenção da violência como base para fortalecer a coesão social nos seus territórios de atuação. De fato, apesar de se tratarem de dois conceitos que continuam sendo abordados de forma desvinculada, o alcance da segurança cidadã é um dos componentes chaves de uma sociedade coesa.
Enquanto ator ativo da discussão sobre políticas de segurança e de prevenção da vio-lência, o Projeto URBAL desempenhou, em seus quatro anos de atuação, um papel localizado junto a três governos locais da América Latina. Desse lugar privilegiado foi possível observar não só tudo aquilo que já foi ou ainda precisa ser feito no campo das políticas públicas, mas, acima de tudo, foi possível constatar que esse campo de atuação
Apresentação
tem produzido, nas últimas duas décadas, um vasto conhecimento, debates estimulan-tes e experiências inovadoras e exitosas.
A proposta de lançar a série “Cadernos sobre Segurança e Prevenção da Violência na América Latina” surge no exato momento em que o projeto se prepara para a despedida e avalia o caminho percorrido. Como compartilhar e não deixar se perder o conheci-mento adquirido? Como ampliar a nossa contribuição, mesmo que de forma modesta, aos debates atuais?
Escolhemos este formato, que alia pequenos textos e entrevistas a atores estratégicos, e que, esperamos, possa contribuir para difundir de forma simples e acessível idéias, conceitos e experiências que nos animam.
Aproveitamos a oportunidade e o espaço para agradecer àqueles que diversas vezes contribuíram para os trabalhos do Projeto em seus diferentes territórios. E para a com-posição desta série, agradecemos em particular ao Prof. José Luiz Ratton, do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Criminalidade, Violência e Políticas Públicas de Segurança (NEPS) da Universidade Federal de Pernambuco, pela profícua interlocução, pelo apoio em articular colaboradores e, sobretudo, por seus conselhos judiciosos.
Boa leitura!
Segurança Cidadã: Uma ideia sempre em construção
O debate sobre segurança emerge do cenário político da América Latina a partir de variados conceitos. Entre eles tem se destacado, por sua atualidade e pertinência, o da segurança ci-dadã, cujo conteúdo dialoga com a necessidade de atualização democrática e desperta nos governos locais e na sociedade o sentimento de responsabilidade para com a convivência pacífica e segura de seus habitantes.
Esse debate traz à tona o tema da prevenção da violência, aprofundando suas particularida-des, seus atores, seus métodos e, sobretudo, seu alcance. Considerar a prevenção como um esforço que não pretende substituir a ação de repressão, mas contribuir para uma reorganiza-ção de prioridades no âmbito das políticas de segurança em geral, ajuda a compreender sua imprescindibilidade em razão dos novos desafios impostos pelo aumento da criminalidade e pelos altos índices de violência letal na América Latina.
Mesmo com o reconhecimento dos governos nacionais e locais sobre a importância da prevenção da violência, muitas questões metodológicas colocam-se como entraves à sua efetividade. E são essas as questões que merecem aprofundamento teórico-metodológico. Em outras palavras, precisa-se de novos olhares para velhos problemas. Para a construção de uma agenda pública de prevenção da violência empenhada na alteração de um quadro de insegurança, além do interesse de governantes, faz-se necessário reconhecer que estratégias usar, em que níveis atuar, com quais atores e em que escala. O tema da prevenção tem mais permeabilidade e alcance, pois, além de ser transversal (pode dialogar com outras políticas) é pauta de agências locais e nacionais de segurança, e isso, em tese, seria uma boa razão para apressar e fomentar sua operacionalização nos mais diversos territórios.
Outro tema que emerge no bojo da discussão sobre segurança é o tema do papel das orga-nizações policiais para além de suas atividades de controle e repressão. Como potencializar o papel da instituição polícia na prevenção do crime e da violência? É possível (re)significar sua
IntroduçãoPor: Edna Jatobá¹
1 Especialista em Políticas e Gestão em Segurança Pública pela FIR. Assessora de Articulação do Projeto URBAL – Políticas Locais de Prevenção da Violência.
prática marcadamente repressora? Um tema delicado que, assim como outros tantos, ganham paulatinamente eco na sociedade, impondo aos gestores a tarefa de encontrar os caminhos mais viáveis e condizentes com o vulto do desafio. Embora esta discussão não alcance todos os níveis de governo, isso não tem significado um impedimento para a realização de um deba-te, ainda que precise ser mais robusto, cada vez mais políssono.
Do mesmo modo acontece quando se trata da arquitetura institucional da segurança. As ques-tões continuam sendo delicadas e pertinentes. Em que medida nossa herança de uma cultura militarizada com base em regimes ditatoriais acaba por influenciar a forma como está orga-nizada e operando nossas instituições policiais? Os modelos atuais de segurança pública dos países latinos contribuem (ou não) para a consolidação de uma prática também preventiva?
Os artigos que integram este número dos Cadernos URBAL discutem de forma clara e precisa esses grandes temas da segurança pública. Desde a definição do termo prevenção, levando em consideração até sua tipologia (o que prevenir, em que tempo, para que públi-co), sua relação com a repressão e suas questões atuais, como o problema da escala e da sustentabilidade nos programas de prevenção, colocadas com muita competência no texto do Professor José Luíz Ratton.
Apresenta-se, também, uma interessante e bem colocada discussão do ex-ministro do inte-rior no Peru - Gino Costa, e do advogado Carlos Romero sobre a relação entre programas de prevenção e o problema da violência juvenil, tema dramático para a maioria dos países latinos, que possuem um alto número de violência letal praticada pelos e contra os jovens.
E, por fim, um artigo de fôlego do renomado especialista brasileiro em Segurança Pública, o antropólogo Luiz Eduardo Soares, sobre a arquitetura institucional da segurança pública no Brasil, discutindo com coragem temas delicados, como é o caso do papel das polícias e da necessidade de reforma no sistema de segurança brasileiro.
São reflexões que nos parecem pertinentes, sobretudo, num momento em que se pode iden-tificar múltiplos esforços em vários níveis para avançar democraticamente e assegurar o direi-to ao bem mais precioso: o direito à vida.
Apresentação do autor
José Luiz Ratton possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Minas Gerais (1993), mestrado em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco (1999) e doutorado em Sociologia pela Universidade Federal de Pernambuco (2003). Atualmente é Pesquisador e Professor da Universidade Federal de Pernambuco (Programa de Pós-Gradu-ação em Sociologia), coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFPE e coordenador do NEPS/UFPE (Núcleo de Estudos e Pesquisas em Criminalidade, Violência e Políticas Públicas de Segurança da UFPE). Foi assessor especial do governador de Per-nambuco para a área de Segurança Pública (entre janeiro de 2007 e agosto de 2012). Tem experiência na área de Sociologia e Ciência Política, com ênfase em Sociologia do Crime e da Violência, Políticas Públicas de Segurança, Sociologia do Direito e Sociologia da Juventude. Livros Publicados: Violência e Crime no Brasil Contemporâneo (1996) e Polícia, Democracia e Sociedade (2007), em co-autoria com Marcelo Barros; As Ciências Sociais e os Pioneiros nos estudos sobre crime, violência e direitos humanos no Brasil (2011), em co-autoria com Renato Lima. É conselheiro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Bolsista de Produti-vidade CNPQ II.
12
Apr
esen
taçã
o Se
min
ário
Pol
ític
as L
ocai
s de
Pre
venç
ão d
a V
iolê
ncia
. 22/
11/2
011
A Segurança Cidadã em debate
Antes de tudo, gostaria de dizer que minha fala vai ser uma espécie de provo-cação a respeito da ideia de prevenção. Vou tentar apontar alguns paradoxos, alguns problemas, algumas questões sobre as possibilidades de prevenção no sentido de ajudar a construir caminhos analíticos sobre o tema e a sua relevância para o Brasil e a América Latina em geral.
Como definir prevenção?
Em primeiro lugar, trata-se de perguntar: o que é prevenir? Nós estamos falando de políticas públicas de prevenção à violência e precisamos pensar o que é preve-nir. E quando formos falar do que é prevenir, temos que fazer outras três perguntas: prevenir o quê? Quem previne? E em que tempo previne? Essa pode parecer uma discussão escolástica, mas não se trata disso. Trata-se de pensar em que medida as oposições tradicionais entre controle e repressão, por um lado, e prevenção, pelo outro, ainda fazem sentido para pensarmos a questão da redução das diversas formas de violência na América Latina e no Brasil, mais especialmente. Esse debate está formado, em primeiro lugar, por um compromisso absoluto com os valores e a ideia de segurança cidadã que estão presentes, obviamente, em várias iniciativas de políticas públicas na área de segurança do Brasil e, fundamentalmente, no “Pac-to pela Vida” – Projeto de controle, redução e prevenção da violência em Pernam-buco –, sobre o qual vou falar. Parece-me preciso reafirmar aqui, neste momento, o compromisso valorativo e normativo com o qual estou ligado e que forma a minha apresentação, que é a idéia de segurança cidadã, a idéia de pensar segu-rança de uma forma ampla, que vai de encontro a algumas concepções, digamos, antiquadas e arcaicas de segurança pública, que opõem segurança e direitos hu-manos, repressão e prevenção, gestão e participação, informação e controle. Nós vamos romper com essas falsas dicotomias para podermos pensar efetivamente num campo de possibilidades das políticas públicas de prevenção que, ao mesmo tempo, tenha legitimidade. Então é preciso recuperar essa ideia de prevenir.
Prevenir o quê? Prevenir violência. O problema de falar em violência é falar de violência no geral. Podemos falar de violência e das violências, de suas diferentes formas de manifestação. Aqui, estou restringindo o pensamento ao campo da vio-lência interpessoal. Não estou falando da idéia de violência estrutural ou de outras formas de violência, como a fome. Quando formos falar das diferentes manifesta-ções da violência interpessoal, nós temos que pensar que as dinâmicas causadoras dessas diferentes formas de violência interpessoal são distintas e exigem mecanis-mos e processos públicos e societários também distintos. Essa distinção tem que ser trazida ao debate, sob pena de falarmos de prevenção de forma tão abrangente que acabe explicando pouquíssima coisa. Então vamos tratá-la de uma forma que seja mais específica ou, pelo menos, que reconheça as suas especificidades e a sua articulação com o geral.
13
Apr
esen
taçã
o Se
min
ário
Pol
ític
as L
ocai
s de
Pre
venç
ão d
a V
iolê
ncia
. 22/
11/2
011
A Segurança Cidadã em debate
Eu vou pontuar alguns exemplos voltados para questões específicas, que são problemas do Brasil e da América Latina. Nós podemos pensar que a violência no espaço doméstico tem especificidades e mecanismos de causalidades que são muito distintos, de forma geral, dos grupos de extermínio e da existência de matadores - usando um exemplo radical. A construção de estratégias públicas de prevenção dessas modalidades de violência exigiria de nós capacidades, com-petências, processos específicos de prevenção. A possibilidade de pensar a vio-lência institucional no interior das nossas polícias exige estratégias de prevenção que são muito distintas daquelas voltadas a pensar nos crimes de proximidade. Então, me parece que é preciso caracterizar a noção de violências para poder pensar em possibilidades distintas de prevenção, e, então, prevenir distintos tipos de violência. Uma coisa é tratar preventivamente a questão cultural do crime de mando na zona da mata de Pernambuco, outra coisa é tratar da questão da violência associada aos grupos de extermínio nas grandes cidades latino-ame-ricanas, brasileiras e pernambucanas, em geral. Obviamente, existem fatores es-truturais gerais que estão relacionados a essas diversas formas de violência. Mas existem fatores específicos que precisam ser captados para que os mecanismos de prevenção possam ser efetivamente produtivos.
Quem previne a violência? Trata-se de uma questão de igual importância. Pode-mos dialogar e pensar sobre experiências bem sucedidas de prevenção em vá-rios lugares do mundo – Boston e Chicago, Bogotá e Medelín, o “Pacto pela vida” de Pernambuco, as UPP’s e UPP’s sociais no Rio de Janeiro (que são um projeto relativamente novo e posterior às UPP’s), o caso de Diadema, em São Paulo, mas também o caso de Canoas, no Rio Grande do Sul. Podemos pensar também no “Fica vivo”, em Belo Horizonte, que é um exemplo importante e interessante de uma política de prevenção bem sucedida, além de outras iniciativas mais pon-tuais, vinculadas a parcerias entre sociedade civil e governo em diferentes ins-tâncias. É o caso, por exemplo, das iniciativas protagonizadas pelo Instituto Sou da Paz, em São Paulo, ou pelo “Viva Rio”, no Rio de Janeiro. Mas outras perguntas obrigatórias devem ser levantadas: “quem tem capacidade de prevenção?”. A ca-pacidade de prevenção é da comunidade? É dos governos – sejam eles locais ou não locais (estaduais, provinciais, federais...)? Das instituições, como secretarias de desenvolvimento social, de assistência social, de saúde, de educação? Ou das polícias? Então, devemos perguntar: quem são os atores da prevenção?
Qual é o tempo da prevenção? Essa é outra questão fundamental. Obviamente, eu já trago com isso uma resposta, pensando de forma integrada sobre a preven-ção, mas com um olhar sobre as diferentes competências dos diferentes atores capazes de prevenir os diferentes tipos de violência, com suas especificidades. Essa idéia de prevenir também envolve a dimensão da temporalidade. A urgência da percepção da insegurança e da violência – pelo menos como é apontada pelo Estado – associada ou não aos processos reais de produção do crime violento,
14
Apr
esen
taçã
o Se
min
ário
Pol
ític
as L
ocai
s de
Pre
venç
ão d
a V
iolê
ncia
. 22/
11/2
011
A Segurança Cidadã em debate
da violência em geral, nos obrigou a pensar a questão da temporalidade das estratégias de prevenção em termos de curto, médio e lon-go prazo, relacionada à nossa capacidade de produzir efetivamente a operação na realida-de que nos cerca. Vou dar um exemplo claro. Nós podemos pensar que no caso brasileiro e no latino-americano em geral, uma parte dos crimes violentos contra a mulher está relacio-nada a uma cultura patriarcal, machista, base-ada em valores da honra e da virilidade e que, obviamente, vinculados a processos de socia-lização históricos e a modelos de sociedades e de família, produzem homens propensos a praticarem atos violentos contra a mulher. Pro-cessos de prevenção e controle da violência masculina contra as mulheres envolvem uma discussão sobre temporalidade que não é me-
nor. Qual é a nossa capacidade de transformar, do ponto de vista cultural, uma geração de homens e mulheres? Isso pensando na possibilidade de prevenção. A questão da temporalidade não só é importante como está associada às espe-cificidades dos tipos de violência e à nossa capacidade de construir projetos que sejam específicos, mas estejam integralizados e articulados para que possamos ter uma resposta pública geral, de abrangência societária.
Tipologia de prevenção
Apesar de não ser tão recente, a discussão sobre prevenção no campo da segu-rança pública não é uma discussão ampliada, nem do ponto de vista conceitual, nem do conjunto de experiências que temos. Dialogando com o debate exis-tente na saúde pública e abordando a segurança de forma ampliada, não restrin-gindo a concepção de segurança pública ao entendimento de que segurança é só assunto de polícia, podemos pensar em três níveis gerais de prevenção, que seriam os similares ao que a saúde pública chama de prevenção primária, pre-venção secundária e prevenção terciária.
O primeiro nível de prevenção é relacionado à possibilidade geral de a violência ocorrer, o que significa construir processos, programas, projetos que evitem ou se antecipem à ocorrência da violência de forma ampla e abrangente. Nós pode-mos pensar a iluminação pública como um exemplo disso, já que essa permite
“Vou dar um exemplo claro. Nós podemos pensar que no caso brasileiro e no latino-americano em geral, uma parte dos crimes violentos contra a mulher está relacionada a uma cultura patriarcal, machista, baseada em valores da honra e da virilidade”
15
Apr
esen
taçã
o Se
min
ário
Pol
ític
as L
ocai
s de
Pre
venç
ão d
a V
iolê
ncia
. 22/
11/2
011
A Segurança Cidadã em debate
tornar os espaços de convivência mais visíveis, evitando, ou pelo menos dimi-nuindo, a ocorrência de certos tipos de atividades violentas ou criminosas. Uma parte importante dos projetos em Bogotá e Medelín está voltada para uma idéia de prevenção geral e para a percepção do ambiente, alterando-o e tentando criar mecanismos de convivência que dificultem a violência, mecanismos de colabo-ração e confiança que estabeleçam a coesão social.
Os processos de prevenção primária podem ser somados aos de prevenção se-cundária. A idéia de prevenção secundária é importante, pois exige trabalhar com a informação e o conhecimento, com os diagnósticos da realidade voltados para uma percepção de que certos grupos são mais vulneráveis à violência que ou-tros, no protagonismo ou na vitimização. Ou seja, a questão do protagonismo tem que ser tratada junto com a questão da vitimização, sem dissociá-las. Mas por que isso é importante? Porque se tratarmos apenas da vitimização sem pen-sar no protagonismo, estaremos supondo que os protagonistas são socialmente muito diferentes das vítimas da violência, quando, na verdade, a pesquisa cien-tífica indica que são socialmente muito parecidos, na maior parte das vezes. Os processos de prevenção secundária precisam buscar entender os grupos mais vulneráveis e, obviamente, suas diferenças e singularidades, para que as políticas públicas de prevenção possam ser mais efetivas. Ao pensar a juventude, temos que considerar que ela é protagonista e vítima da violência. E que, dentro da juventude, existem grupos específicos que são efetivamente tanto os maiores protagonistas quanto os mais vitimizados pela violência. Temos que pensar es-tratégias de prevenção sensíveis capazes de lidar com essas singularidades.
Finalmente, consideramos o que a saúde pública chamaria de prevenção terci-ária. Temos que ter a capacidade de lidar com aqueles setores, dentro ou fora dos grupos vulneráveis, que já se envolveram em processos de produção da violência, como protagonistas ou como vítimas, para que possamos prevenir a possibilidade de repetição do protagonismo e da vitimização. Obviamente estou fazendo um uso livre das contribuições da saúde pública e aplicando-a para pen-sar o problema da prevenção na segurança pública.
Essa forma de pensar a questão da e das violências, da e das prevenções é o eixo de minha fala. O objetivo é sairmos de uma retórica muito geral e nos orientar-mos por uma perspectiva que lide teoricamente com a multidimensionalidade e a multicausalidade da violência, e que nos possibilite pensar prevenção de forma a produzir efetividade. Pensando no nível da prevenção terciária, por exemplo, em indivíduos que estão repetidamente sendo vitimizados e/ou produzindo vio-lência, a construção de diagnósticos “parcializados” e “temporalizados” é funda-mental para poder pensar a efetividade dos processos de prevenção. Isso vale tanto para pessoas como para lugares.
16
Apr
esen
taçã
o Se
min
ário
Pol
ític
as L
ocai
s de
Pre
venç
ão d
a V
iolê
ncia
. 22/
11/2
011
A Segurança Cidadã em debate
A dinâmica de produção da violência e o desenho de ações preventivas
A dinâmica da produção da violência é multicausal e multidimensional. Tem, ao mesmo tempo, dimensões gerais, específicas e superpostas no tempo. Esse en-tendimento é fundamental para, analiticamente, podermos separar quais violên-cias podem - e como - ser produzidas e por quem podem ser prevenidas. Esses diferentes mecanismos de causalidade são também mecanismos de sustentação, de manutenção dos processos de produção da violência. É importante destacar aqui que as respostas preventivas podem estar dirigidas nas causas ou nas dinâ-micas dos processos, o que significa que, se as causas nem sempre podem ser atingidas, alguns fatores intervenientes, sim. Nós, muitas vezes obsessivamente pressionados pela percepção, fundada ou infundada, do problema público da violência, achamos que todas as questões da prevenção devem buscar as causas da violência. Isso é importantíssimo, claro. Mas do ponto de vista das políticas pú-blicas, os resultados nem sempre podem ser atingidos na temporalidade referida atacando unicamente as causas. Isso porque as causas últimas, aquelas causas que são as raízes do problema, podem demorar dezenas de anos para que pos-samos ter algum tipo de resultado que altere as condições de convivência.
Em compensação, muitas vezes podemos atacar fatores intervenientes. Ao falar de iluminação, de alguma forma falamos de elementos que são facilitadores ou dificultadores de processos de produção da violência. Se não podemos controlar ou prevenir, em um determinado momento do tempo, o conjunto de impul-sos para a violência distribuídos socialmente entre os indivíduos, nós podemos diminuir a letalidade dos conflitos produzidos por alguns indivíduos através da diminuição da situação de perigo. Nos termos utilizados pela saúde pública, eu estou tratando do vetor da violência, como pode ser a arma de fogo. Esse é um exemplo de políticas bem sucedidas do Brasil e fora dele. O estado São Paulo, nos últimos anos, passou por uma redução de uma magnitude de 70% da violência medida através do homicídio. Ou seja, a dimensão sistêmica e geral da circulação de armas de fogo.
Nós estamos tratando aqui de mecanismos que diminuem a letalidade dos con-flitos de uma sociedade dividida, segregada, étnica e socialmente complexa. E estamos pensando na prevenção enquanto ação não só sobre as causas, vin-culadas à longa duração, mas também sobre fatores intervenientes atuais das causas, que podem ser afetados, em curto e médio prazo, como diferentes es-tratégias para diferentes formas de violência, para diferentes possibilidades de políticas públicas.
17
Apr
esen
taçã
o Se
min
ário
Pol
ític
as L
ocai
s de
Pre
venç
ão d
a V
iolê
ncia
. 22/
11/2
011
A Segurança Cidadã em debate
18
Apr
esen
taçã
o Se
min
ário
Pol
ític
as L
ocai
s de
Pre
venç
ão d
a V
iolê
ncia
. 22/
11/2
011
A Segurança Cidadã em debate
Prevenção versus Repressão: a prevenção no âmbito das organizações policiais
Outra questão é a articulação entre as dinâmicas preventivas e “repressivas”. Re-pressivas entre aspas, pois estou querendo recusar a antiga ideia de repressão, trabalhando com um conceito de “repressão” mais próximo de controle, para mostrar que não há necessariamente oposição entre controle e prevenção, e que algumas formas de exercício das organizações policiais, por exemplo, podem ser formas importantes de prevenção. Por exemplo, no contexto do “Pacto pela Vida”, existem vários protocolos ou procedimentos acompanhados semanalmente nas 26 áreas integradas de segurança do Estado. Um deles é chamado de “Operação contra ameaça”. O que significa isso? Significa que sabemos que, em certos casos, ameaças antecipam uma parte das violências ou dos crimes violentos. Podem ser casos de vizinhos, familiares ou de disputas intracomunitárias. Normalmente, não temos sistemas de mediação de conflito para lidar antecipadamente com essas situações, seja no plano policial ou não policial, que possam se antecipar à ocorrência da violência. No contexto do “Pacto pela Vida”, uma vez que a au-toridade policial toma ciência da ameaça, encontra-se na obrigação de chamar o ameaçador para conversar. E efetivamente esse mecanismo estabelecido pela própria polícia garante, ou tem garantido, a redução de parte das violências nas comunidades em que isso acontece. Estou tentando mostrar aqui que a atuação da polícia não é necessariamente repressiva e posterior ao fato, mas que ela pode ocorrer preventivamente e pode estar associada a redes de mediação não-poli-ciais de conflito, antecipando a ocorrência dessas violências. Isso consistiria em uma combinação de estratégias associadas às mediações policiais ou ao sistema de justiça criminal, por exemplo.
Outro exemplo, associado a vários casos bem sucedidos de prevenção em ci-dades brasileiras, diz respeito à entrada de projetos de prevenção social em co-munidades violentas, sendo essa combinada com a chegada das organizações policiais. São áreas dominadas por grupos de extermínio, redes de tráfico de drogas, gangues que efetivamente impedem que os programas e projetos de prevenção possam ocorrer de forma isolada. Nesse contexto, a presença da ati-vidade policial antecipada ou anterior garante e dá sustentabilidade a existência de processos de prevenção de médio e longo prazo. Eu gosto de usar o seguinte exemplo: projetos voltados para o estímulo ao futebol de várzea nos bairros po-pulares por todo o país oferecem enormes possibilidades de usar o esporte como um instrumento de diálogo com a juventude, de integração e reconhecimento (em contraposição, ao menos em tese, à adesão a carreiras criminosas). Durante algum tempo, os processos de utilização de uma política pública de esportes no âmbito da prevenção tiveram como objetivo disputar a juventude com as alter-nativas criminosas ou violentas. Só que em várias das comunidades de todo o
19
Apr
esen
taçã
o Se
min
ário
Pol
ític
as L
ocai
s de
Pre
venç
ão d
a V
iolê
ncia
. 22/
11/2
011
A Segurança Cidadã em debate
país, as organizações criminosas locais começa-ram a capturar a organização desses programas e projetos, que tem fomento e financiamento público. É importante, portanto, associar pre-ventivamente a atividade policial nesses espaços para garantir o desenvolvimento de dinâmicas como aquelas vinculadas ao esporte. Por isso quero romper com essa ideia de que prevenção e controle estariam em campos diferentes. Des-de que tenhamos uma concepção de controle ampliada e qualificada.
Que ações para que público?
As ações de controle, assim como as ações de prevenção, podem ser mais ou menos abran-gentes, nas dimensões das quais tratamos ao início: primária, secundária e terciária. Assim, res-postas preventivas voltadas para públicos mais gerais podem ou não provocar efeitos positivos sobre públicos mais específicos. Isso significa que ao mesmo tempo em que discutimos nosso modelo de sociedade, de controle social, nada impede que possamos produzir políticas públicas no curto e médio prazo. É a questão da temporalidade. Então, por exemplo, as questões de empregabilidade e de educação, as questões relacionadas a processos de assistência social ou de-senvolvimento social das comunidades precisam ter a capacidade de distinguir dentro das comunidades setores ou grupos mais específicos que seriam objeto da prevenção. Precisamos, dessa maneira, conhecer as dinâmicas violentas das comunidades para poder atingir as dinâmicas letais das gangues, dos grupos de extermínio, os mecanismos perversos da própria comunidade que produzem violência. Isso significa entender, por exemplo, que as famílias dos indivíduos da-quela comunidade que estão em unidades prisionais ou de internação, do ponto de vista preventivo, formam grupos propícios (para projetos de prevenção) ainda mais específicos do que a própria comunidade (em geral), entendida como um lugar de vulnerabilidade.
Precisamos construir projetos, programas, que consigam localizar as vítimas e protagonistas eventuais da violência que possam receber o apoio desses proje-tos de maneira a garantir a integração desses indivíduos a essas comunidades e à sociedade de forma geral. Isso significa combinar o geral e o específico. Res-postas voltadas a públicos específicos podem ou não produzir respostas para
“Precisamos construir projetos,
programas, que consigam localizar
as vítimas e protagonistas
eventuais da violência que
possam receber o apoio desses
projetos de maneira a garantir a
integração desses indivíduos a essas
comunidades e à sociedade de forma
geral”
20
Apr
esen
taçã
o Se
min
ário
Pol
ític
as L
ocai
s de
Pre
venç
ão d
a V
iolê
ncia
. 22/
11/2
011
A Segurança Cidadã em debate
outros públicos específicos? Vou dar um exemplo aqui: posso tentar localizar grupos de jovens que estariam a “meio caminho” da participação em gangues ou grupos vinculados ao tráfico de drogas na comunidade. Contudo, aos meca-nismos que buscam integrar essa juventude a processos comunitários, é preciso associar outros processos de prevenção específicos que não a atingiriam nor-malmente. Por exemplo, a garantia da empregabilidade ou o reconhecimento da juventude não está necessariamente vinculado a mecanismos de prevenção da violência contra a mulher. Parte desses jovens que escolheram carreiras que não são criminosas – do ponto de vista da criminalidade geral, vinculada à ilegalidade no plano econômico, mas com desdobramento no plano cultural – podem, por outro lado, entrar em processos de produção da violência de outra natureza. Nós precisamos abordar esses diferentes tipos de especificidades e integralizá--las. Como combinar a idéia de que educação para todos é fundamental com a idéia de educação, empregabilidade e assistência social específica para certos grupos e indivíduos ainda mais vulneráveis dentro dessas mesmas comunidades? Isso exige de nós a construção de mecanismos de investigação etnográfica den-sa e profunda, de um conhecimento da comunidade, de uma identificação dos contextos comunitários específicos de produção da violência, que variam enor-memente dentro de uma cidade como o Recife, assim como em várias cidades no Brasil e na América Latina. Nesse ponto, é necessário abordar a questão do necessário protagonismo do poder local.
O conhecimento do território e o papel dos municípios
A ideia de território é fundamental: qual é o local da prevenção da violência? Essa discussão é muito mais desenvolvida na América Latina hispânica do que na América Latina portuguesa. No Brasil, os municípios ainda têm uma enorme dificuldade em pensar na questão da prevenção da violência. Há uma omissão generalizada. Se o poder público federal vem tomando, nos últimos anos, iniciati-vas que, ainda que acanhadas, são importantes (do ponto de vista da construção de uma presença do Governo Federal na elaboração e no monitoramento das políticas públicas de segurança), ainda é absolutamente tímida a capacidade dos governos municipais de produzir iniciativas contundentes que ultrapassem uma mera retórica de estar fazendo prevenção de forma geral através da saúde, da educação, da assistência social etc. Assim mesmo, o poder local é o mais próxi-mo e o que mais conhece as próprias comunidades, e as respostas – a prevenção – têm um nítido componente contextual e territorial.
Por outro lado, precisamos tentar entender as especificidades da produção da violência no nível local que muitas vezes são distintas, e que podem influir na própria construção de indicadores. Estou tentando trazer aqui a ideia de que podemos dialogar com outras experiências, mas ao mesmo tempo, temos que
21
Apr
esen
taçã
o Se
min
ário
Pol
ític
as L
ocai
s de
Pre
venç
ão d
a V
iolê
ncia
. 22/
11/2
011
A Segurança Cidadã em debate
entender profundamente nossos contextos singulares e como a prevenção pode ser sensível a esses contextos. Se não, vamos acabar produzindo receituários inespecíficos e gerais. E isso vale para a ideia de segurança cidadã, da qual sou um defensor. Temos que trabalhar para que o conceito de segurança cidadã e os seus mecanismos de prevenção estejam sempre adaptados aos diferentes con-textos e garantir uma espécie de sintonia fina, contextual, local para dar eficiência às políticas preventivas. É preciso perguntar que resultados as estratégias de pre-venção podem nos trazer. Qual o formato geral e ao mesmo tempo singular das estratégias de prevenção? Arrisco dizer que as estratégias públicas de prevenção devem e podem ter como objetivo prioritário tanto a redução da violência e da percepção da violência.
Comunicação, comunidade e prevenção da violência
Gostaria agora de desenvolver uma ideia que me parece central: a prevenção deve envolver a capacidade de produzir impacto através da publicização do pro-blema para o qual está voltada e da mobilização dos diferentes atores que ela articula. Em outros termos, ela tem que produzir efeito, e, ao mesmo tempo, mostrar que ela produz efeito. No entanto, temos uma enorme dificuldade de construir mecanismos de microcomunicação. Essa é uma questão absolutamen-te relevante. A comunicação publicitária convencional de governos não é sufi-ciente para a prevenção específica da violência. Temos que encontrar os contex-tos de prevenção nas rádios locais, nas áreas públicas locais, fazendo das formas de comunicação das comunidades uma forma de publicidade do problema que fale a linguagem da comunidade. Esse é um desafio enorme. Não podemos utilizar uma retórica que precise ser traduzida, como, muitas vezes, é o caso do discurso excessivamente abstrato sobre os direitos humanos. É um discurso com o qual estou comprometido, mas que tem uma retórica que precisa ser traduzida em microcontextos de comunicação para que possa ter eficiência na produção da prevenção da violência e na publicização do problema, que às vezes nem é percebido como problema.
As questões da escala e da sustentabilidade nos programas de prevenção
Outro ponto muito importante é a capacidade da realização de projetos e pro-gramas de prevenção em larga escala. Isso causa preocupação, porque temos muitos projetos-piloto e micro experiências muito bem sucedidas em vários lu-gares do Brasil e da América Latina que são desafios tanto em termos de sua ca-pacidade de ampliação, quanto no plano da sua continuidade e sustentabilidade. Nós precisamos combinar a densidade e a qualidade dos projetos e programas
22
Apr
esen
taçã
o Se
min
ário
Pol
ític
as L
ocai
s de
Pre
venç
ão d
a V
iolê
ncia
. 22/
11/2
011
A Segurança Cidadã em debate
de prevenção com a capacidade de generalização e de reprodução permanen-te. Caso contrário, não vamos conseguir produzir alterações nas realidades nas quais estamos situados.
É preciso levar em conta a dimensão quantitativa e a mudança qualitativa que aqueles processos geram nas relações sociais. Isso é uma forma de avaliar a eficiência não apenas pelos resultados – diminuição de mortes, diminuição de roubos, diminuição de furtos, diminuição de violências contra a mulher. Esses são resultados importantíssimos e fundamentais que devem ser medidos e utilizados como parâmetros. Mas temos que medir também a sustentabilidade desses pro-cessos. Por isso as estratégias combinadas são fundamentais. A sustentabilidade significa que as práticas sociais e as causas – os fatores intervenientes – que pro-duziam a violência precisam ser continuadamente alteradas. Por exemplo, fala-se “as taxas de homicídios foram consideravelmente reduzidas em um bairro X de qualquer grande cidade brasileira ou latino-americana”. Mas temos que avaliar se as práticas sociais de tal bairro constroem uma forma de convivência naquele es-paço que, no médio e longo prazo, dão continuidade a diminuição desse padrão de homicídios. Temos visto alguns casos de algumas cidades colombianas que estão passando por um processo de recrudescimento da violência, após perío-dos de expressiva redução da criminalidade violenta. Os processos de controle da violência são processos muito dinâmicos e instáveis e, por isso, é preciso pensar na questão da mudança qualitativa e do impacto quantitativo que as políticas de prevenção geram na situação de violência.
Isso significa que precisamos ter indicadores. Mesmo que não tenhamos capaci-dade plena de medição. As áreas de crime, violência, segurança pública – tanto na parte de controle quanto na parte de prevenção – são de extrema complexidade no que diz respeito a construção de indicadores significativos, mas precisamos saber se a situação temporalmente anterior tem efetivamente sido afetada pelos projetos e processos implementados. Analisemos o caso do estado de São Paulo: a violência foi reduzida de forma inequívoca, mas ainda não se sabe explicar por que (um conjunto de fatores pode estar relacionado de diversas naturezas com essa redução da violência, mas ainda não foi produzida uma explicação abran-gente que identifique a natureza e o peso dos diversos vetores causais plausíveis).
Alguns paradoxos das políticas públicas servem para entender por que os pro-jetos de prevenção devem ser construídos sempre levando em conta a preo-cupação com mensuração e avaliação. Isso pode nos ajudar a identificar se os projetos de prevenção estão produzindo os resultados pensados inicialmente ou se estão efetivamente produzindo outro tipo de resultados. É o caso, em minha opinião, dos programas conduzidos por polícias (no Brasil ou fora dele) com o intuito de prevenir o uso de drogas entre jovens. Não é plausível que tais progra-mas reduzam o número de jovens que consomem drogas, mas criam, de forma
23
Apr
esen
taçã
o Se
min
ário
Pol
ític
as L
ocai
s de
Pre
venç
ão d
a V
iolê
ncia
. 22/
11/2
011
A Segurança Cidadã em debate
muitas vezes não intencional e não antecipada, mecanismos sociais de confian-ça da população na polícia, aproximando-a da comunidade. Isso por si só já é um motivo legítimo para a existência de tais programas, mas não está relacionado aos objetivos almejados. Reforço aqui a necessidade e a capacidade de saber se o que está sendo feito com projetos de prevenção e redução da violência tem impacto sobre a situação visada ou se outros efeitos (benéficos ou não) estão sendo produzidos.
Termino a minha fala defendendo uma forma de prevenção que dialoga e é comprometida com a ideia de segurança cidadã como uma concepção valora-tiva e normativa, mas que precisa ser traduzida em termos práticos e concretos. Isso significa que, por um lado, recuso a ideia de ordem que não esteja submeti-da ao compromisso com a lei e com os direitos humanos. Mas, por outro, minha exposição também se inscreve em uma tentativa de mostrar alguns paradoxos, alguns dos problemas e alguns dos limites e possibilidades que temos se não le-varmos em conta que os projetos de prevenção só serão relevantes para garantir a sustentabilidade de qualquer processo de redução da violência no longo prazo se apresentarem capacidade de comunicar-se diretamente com as especificida-des das distintas realidades do crime e da violência no Brasil e na América Latina.
Apresentação dos autores
Gino Costa é advogado pela Pontifícia Universidad Católica do Peru e PhD em Histó-ria Contemporânea pela Universidade de Cambridge, Inglaterra. Presidente da “Ciudad Nuestra” e consultor sobre segurança pública. Foi ministro do Interior, presidente do Instituto Nacional Penitenciário, defensor adjunto para direitos humanos da Defensoria Pública e funcionário das Nações Unidas.
Carlos Romero é advogado pela Universidad de San Martín de Porres e ingressado do Mestrado em Ciências Penais da Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Investiga-dor de segurança pública da “Ciudad Nuestra”. Foi secretário permanente da Comissão Nacional de Direitos Humanos e defensor adjunto da Defensoria de Polícia do Ministério do Interior, membro da Unidade de Investigações Especiais da Comissão da Verdade e Reconciliação e assessor do presidente do Instituto Nacional Penitenciário.
O que fazer com as gangues?*
*Publicado originalmente em espanhol pelo Centro de Estudos em Segurança Cidadã da Universidade do
Chile em seu boletim de número 12 - Mais Comuni-dade, Mais Prevenção, de maio de 2011.
Por: Gino CostaCarlos Romero
A Segurança Cidadã em debate
26
O q
ue faz
er c
om a
s ga
ngue
s?
1. As gangues
A violência juvenil tem diversas modalidades. As gangues [pandillas] são uma delas, a mais importante e extensa. Outras são os “grupos escolares” e as “torcidas organi-zadas”. Os primeiros são compostos por colegiais identificados com sua escola que enfrentam outros grupos similares. As segundas são formadas pela torcida dos times de futebol (Cabrera, 2007).
As gangues tiveram origem em Chicago, Nova Iorque e Los Angeles no final do sé-culo XIX e envolveram jovens imigrantes. Em Los Angeles, gangues compostas por mexicanos existem há muitas décadas. Nos anos 1970, dezenove estados tinham gangues. Duas décadas depois, elas se espalharam por todo o país e se globalizaram. Havia nos Estados Unidos, nesse momento, mais de meio milhão de membros de gangues [pandilleros].
As gangues são muito diversas e de organização variável. São compostas por jovens entre 12 e 25 anos, majoritariamente homens, que compartilham de um sentimento de identidade, estão ligados a um território, contam com uma liderança e regras re-conhecidas e têm certo grau de inserção na atividade criminal, o que gera medo de vitimização na comunidade (Vanderschueren e Lunecke, 2004).
Para alguns, as gangues são uma forma de integração social, pois suprem as limi-tações da família, da escola e da comunidade como instâncias de sociabilidade. De algum modo, são produto do fracasso dessas instituições. Para outros, são uma mo-dalidade de empresa informal e ilegal. Também são consideradas uma expressão cul-tural (Vanderschueren e Lunecke, 2004).
A participação nas gangues é transitória: entre metade e dois terços dos jovens se integram por um ano ou menos. Diversas razões explicam a entrada de um jovem. Al-guns buscam segurança psicológica e financeira, outros, identidade, reconhecimento e proteção, uma “família simbólica”; alguns, terceiros, um espaço de encontro com seus iguais para desfrutar o tempo livre, drogas e álcool; por fim, para outros é a forma mais fácil e eficaz de ganhar dinheiro e poder. No geral, jovens com longa carreira nas gangues sobrevivem à violência e escapam da prisão, acabam adotando um estilo de vida normal, com trabalho e família, mas sem se desvincular de ações ocasionais de delito. Chegam a isso frequentemente pelas exigências da vida adulta ou familiar.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, são vários os fatores de risco que con-tribuem com a incorporação dos jovens, a saber: falta de mobilidade social, cultural ou econômica; impunidade; deserção escolar; baixa remuneração aos trabalhadores sem qualificação; falta de supervisão dos pais; maus-tratos familiares; por fim, exis-tência de gangues no entorno (WHO, 2002). Liza Zuñiga (2007), por sua vez, sustenta
A Segurança Cidadã em debate
27
O q
ue faz
er c
om a
s ga
ngue
s?
que os fatores de risco podem ser contingentes – acesso a armas, drogas e álcool –, contextuais – marginalidade e falta de oportunidades –, individuais – violência na infância –, familiares – abandono dos pais ou falta de afetividade paterna – e sociais – comportamento dos pares e ambiente escolar. Frequentemente, a incorporação às gangues é resultado de vários fatores.
2. A prevenção
Tradicionalmente, pensava-se que a melhor forma de responder às gangues era sua eliminação por meio de intervenção policial e penal. Esse enfoque começou a mudar com o desenvolvimento, na Universidade de Chicago, de uma nova metodologia preventiva, especialmente comunitária. Na Europa, a mudança de paradigma teve lugar recentemente na França, nos anos oitenta. Na América Latina, especialmente América Central, onde o fenômeno é mais grave, as respostas repressivas têm sido normal, ainda que o fracasso das políticas de pulso firme – que foram de fato contra-producentes – tenha levado ao surgimento de maior ênfase na prevenção dentro do discurso oficial.
Não há indícios de que as intervenções policiais e penais na região tenham obtido êxito (Rodgers, 1999). Primeiro, porque a polícia está familiarizada com a luta contra a grande criminalidade e assume que as gangues obedecem a uma racionalidade semelhante, quando para essas a atividade criminal é um componente a mais de sua razão de ser. Segundo, porque a intervenção policial e penal normalmente exclui outras intervenções necessárias. Apontar a supressão da gangue não basta. Se a co-munidade não rechaçá-las abertamente, as gangues continuarão se reproduzindo e aprenderão a viver em luta contra a polícia.
A prevenção é o conjunto de estratégias e ações direcionadas a reduzir o risco de produção de atos violentos ou delituosos por meio de intervenções que busquem in-fluenciar suas múltiplas causas (CIPC, 2008). Existem pelo menos cinco modalidades de prevenção: situacional, social, comunitária e cultural, assim como a policial (Costa e Romero, 2009).
A prevenção situacional tem por objetivo atuar sobre os fatores que facilitem a ocorrência dos delitos no meio físico. Os projetos de renovação urbana, a recuperação de espaços públicos abandonados, a iluminação de ruas escuras e perigosas e a instalação de alarmes comunitários são exemplos dessa atua-ção. Os principais atores responsáveis são os municípios e os ministérios, ou secretarias de vivência e urbanismo.
A prevenção social busca atuar sobre os fatores de risco associados à deter-minação de condutas delituosas, a fim de evitar sua materialização. Entre os
A Segurança Cidadã em debate
28
O q
ue faz
er c
om a
s ga
ngue
s?
fatores de risco, destacam-se maus-tratos e violência familiares, descuido ou abandono parental, deserção escolar, problemas de conduta, consumo de ál-cool e drogas e falta de oportunidade de trabalho. Segundo a população à qual se dirige ou o momento da intervenção em relação com o delito, a prevenção social pode ser primária, secundária ou terciária. É primária quando se dirige à população em geral; secundária quando envolve os grupos com maior risco de cometer delitos; terciária quando enfoca a população infratora e tem como propósito reabilitá-la e reinseri-la. Devido à multiplicidade de fatores de risco, a prevenção social envolve diversas instituições, entre elas os municípios e os ministérios ou secretarias de desenvolvimento social, da mulher, da criança e juventude, educação e saúde. As entidades condutoras das políticas antidrogas, as organizações da sociedade civil e as igrejas também são atores importantes.
A prevenção comunitária busca fortalecer os mecanismos de controle so-cial por meio da organização da vizinhança, para se contrapor à anomia e a indiferença que são fermento das condutas infratoras. Se os cidadãos são os principais protagonistas dessa forma de prevenção, os municípios e as polícias normalmente agem como catalizadores de sua organização para a segurança cidadã.
A prevenção cultural, também chamada cultura cidadã, que surgiu em Bogo-tá sob a inspiração do prefeito Antanas Mockus, parte da premissa de que a violência e o delito são resultado do divórcio da lei, da cultura e da moral, três sistemas normativos que se retroalimentam. Essa forma de prevenção propõe alinhar a conduta social – influenciada pela moral e, sobretudo, pela cultura – com as normas legais, especialmente por meio de campanhas educativas que contribuam para a formação de cidadãos e autoridades responsáveis e respeitosas (Mockus, 2001).
A prevenção policial tem por objetivo implantar efetivo nas ruas, especialmente nos lugares mais vulneráveis, para dissuadir possíveis atos delituosos, razão pela qual muitos a consideram uma forma de prevenção situacional. Faz-se efetiva por meio de vigilância e patrulhamento, a pé ou motorizado, e da resposta aos chamados de intervenção do público. Diferentemente da prevenção policial tradicional, o policiamento comunitário não se propõe somente a prevenir atos delituosos, mas contribuir para a melhora da qualidade de vida dos cidadãos e favorecer maior coesão e solidariedade social (Rico e Chinchilla, 2006).
Liza Zuñiga (2007) sugere também a prevenção epidemiológica, que identificaria – por meio da coleta, sistematização e análise de informações sobre delitos – os fatores causais da violência e dos delitos, com o objetivo de determinar as modalidades de prevenção requeridas. Sob nosso critério, a metodologia epidemiológica é um instru-mento indispensável para a elaboração de qualquer política preventiva, outorgando--lhe rigor científico, mas não constitui em si mesma outra modalidade.
A Segurança Cidadã em debate
29
O q
ue faz
er c
om a
s ga
ngue
s?
O surgimento do enfoque preventivo para fazer frente às gangues não deve levar ao descarte da intervenção policial e penal quando essa seja necessária. Na verdade, trata-se mais de complementá-la para obter uma intervenção integral.
3. Os elementos de sucesso dos programas de prevenção
Vários elementos explicam o sucesso dos programas de prevenção da violência ju-venil.
Uma estratégia integral e um plano de ação que abordem de modo simul-tâneo e coordenado todos os aspectos da prevenção e do controle. Os pro-gramas que tratam múltiplos problemas são mais efetivos que aqueles que tratam apenas um fator de risco. Para contar com uma estratégia integral, é necessário um bom diagnóstico, que deve envolver os jovens e a comunida-de.
O papel protagonista dos jovens. Sua participação será a demonstração de que qualquer esforço de prevenção trabalhará não somente para eles, mas com eles e em função de suas necessidades e aspirações. O fim último da intervenção deve ser transformar suas energias destrutivas em construtivas, o que significa levar as gangues a se tornarem associações, clubes, projetos comunitários ou empresas jovens.
Um leque de oportunidades e serviços para os jovens, determinado por eles mesmos, que deverá ser suficientemente amplo e diverso para abarcar as-suntos que vão desde a recreação, o esporte e a cultura, até a capacitação profissional e o apoio na colocação deles no mercado de trabalho, além da criação de micro e pequenas empresas.
A comunidade deve constituir um objetivo essencial da intervenção (Ro-man, 2009), na medida em que as gangues são uma expressão, um sinto-ma, um subproduto dela. Por esse motivo, a intervenção deve ter forte en-raizamento na comunidade. Os pontos anteriores são facilitados quando isso ocorre em uma comunidade com grande capital social, ou seja, sólidos re-cursos comunitários. Nem sempre é esse o caso; as gangues podem contar com o apoio da comunidade ou ser muito contrárias a elas.
Uma coalizão de atores locais que inclua, entre outros, os municípios, as autoridades educacionais e de saúde, as igrejas, a polícia e as organizações comunitárias e da vizinhança. Essas últimas e os municípios são os que estão em melhores condições de projetar os programas. Os vizinhos, por estarem em contato direto com os problemas, conhecem-nos e entendem-nos me-lhor, sofrem suas consequências e os vivenciam como próprios; os municí-
A Segurança Cidadã em debate
30
O q
ue faz
er c
om a
s ga
ngue
s?
pios, porque têm uma visão de conjunto da problemática local e têm cons-ciência do impacto da violência na convivência cidadã. Envolver as escolas, onde aparecem os primeiros sintomas de mal-estar juvenil, é fundamental, assim como os meios de comunicação, que têm a responsabilidade de abrir espaços para os jovens e informar objetivamente sobre seus problemas e desafios.
Uma equipe responsável, constituída por uma forma de comitê diretor, um coordenador e alguns promotores que trabalhem com ele (Vanderschueren e Lunecke, 2004). O comitê diretor deve integrar a coalizão já citada de atores locais e ser o responsável por garantir a continuidade e o comprometimento institucional de todos, tanto na fase do diagnóstico como no desenvolvimen-to do plano de ação e na oferta de serviços aos jovens. O coordenador deve ser o responsável executivo, ligação entre o comitê diretor e os promotores, que são atores fundamentais, pois trabalham diretamente com eles, não no trabalho, mas nas ruas. Eles devem ser proativos, trabalhar em tempo inte-gral, contar com a confiança dos jovens, ser discretos e ter tempo para o tratamento das informações de que dispõem. Calcula-se que um promotor não pode atender a mais de vinte e cinco jovens e precisa de um mínimo de formação. Frequentemente ex-membros de gangues podem ser ótimos promotores.
Continuidade política e sustentação financeira. Muitas experiências fracas-saram não devido a um equívoco no enfoque, mas por falta de continuidade. Um tratamento sustentado tem efeitos mais duradouros que uma interven-ção curta, ainda que intensa. As intervenções não devem acabar nem mesmo quando os membros de uma gangue tenham sido reinseridos, mas quando o processo seja irreversível. Para isso, é necessário complementar o esforço local com o apoio do governo nacional, que deve fornecer não apenas asses-soria e orientação técnica, mas também financiamento.
4. As boas práticas
O programa de prevenção social com maior impacto nos últimos anos é o Fica Vivo, desenvolvido em 2002 pelo Centro de Estudos em Criminologia e Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais. Foi posto em prática em uma das favelas mais pobres e violentas de Belo Horizonte para reduzir os homicídios, especialmente juvenis, que constituíam a maior parte. Sob liderança do governo municipal, envol-veu várias instituições e combinou controle de delitos com programas de educação, cultura, esporte, arte e capacitação profissional para jovens, assim como seminários sobre violência, drogas e doenças sexualmente transmissíveis. Em três anos, os homi-cídios caíram pela metade. Foi replicado em várias cidades do Brasil.
A Segurança Cidadã em debate
31
O q
ue faz
er c
om a
s ga
ngue
s?
31
Outras intervenções de sucesso também são ca-racterizadas por ampla oferta de oportunidades para desenvolvimento pessoal e plena integração social dos jovens. É o caso do Polígono Industrial Don Bosco, estabelecido em San Salvador em 1988, a Associação Martin Luther King, constituída em meados dos anos 1990 em El Agustino (Lima) e Luta Pela Paz, desenvolvido em 2000 pela Viva Rio no Rio de Janeiro. As duas primeiras são promovi-das pela Igreja Católica e a terceira por uma organi-zação não governamental. A última se associou ao governo da cidade de Resende, no Rio.
Um dos programas municipais mais ambiciosos é o da Prefeitura de Medellín. Desde 2004, o Programa Paz e Reconciliação atendeu a 6 mil jovens retira-dos da guerrilha e dos grupos paramilitares, 2.500 deles recebendo financiamento para concluir seus estudos e 1.500 já trabalhando. Também foi oferecido atendimento psicológico e acompanhamento social a 3.500. Investiu-se por volta de 40 milhões de dólares em recursos públicos.
Menos focalizados, dois programas merecem destaque. Abrindo Espaços, da UNES-CO, começou no Rio de Janeiro e em Pernambuco em 2000, e logo foi incorporado como política pública pelo Governo Federal. Consiste na abertura de escolas nos finais de semana para que os jovens pratiquem esportes e outras atividades recreati-vas e culturas sob supervisão de professores capacitados. Pró-jovens, financiado pela União Europeia, é um programa de renovação urbana e construção de espaços pú-blicos, especialmente desportivos, em bairros degradados e violentos da Grande San Salvador. Entre 2009 e 2010, os homicídios caíram em quase todos os 25 municípios mais violentos do país, ainda que a queda tenha sido superior naqueles com presença do programa.
Apesar de sua proximidade com o triângulo norte centro-americano, Nicarágua con-trolou as gangues. Houve ajuda no fato de que seu fenômeno migratório era dire-cionado a Costa Rica e a Miami e não a Los Angeles, onde foram geradas as gangues mais violentas dos Estados Unidos, que tiveram um impacto em seus vizinhos devido às deportações. A Revolução Sandinista, que deixou sólido tecido social, e a chegada tardia do narcotráfico também ajudaram. Contudo, o mais importante é que, longe de recorrer ao pulso firme, foi utilizada uma estratégia preventiva que incluiu a paci-ficação dos grupos juvenis que se enfrentavam, a reinserção no sistema educacional, a formação técnica, o tratamento dos vícios, o desenvolvimento de microempresas e a superação do machismo (Zalequet, 2009-2010).
Pró-jovens, financiado pela
União Europeia, é um programa de
renovação urbana e construção de
espaços públicos, especialmente
desportivos, em bairros degradados
e violentos da Grande San
Salvador
A Segurança Cidadã em debate
32
O q
ue faz
er c
om a
s ga
ngue
s?
Para conseguir maior foco, o Chile está desenvolvendo dois projetos paradigmáticos. O Vida Nova, que busca evitar o início de carreiras delinquentes de menores de 14 anos. Policiais [carabineros] comunicam aos municípios o nome dos adolescentes que deram entrada nos postos policiais devido a alguma infração, e esses – os mu-nicípios – realizam intervenções psicossociais e psiquiátricas, tratamento de vícios e reinserção educacional. O programa funciona inicialmente em 32 centros de oito municípios cobaias, selecionados por sua alta concentração de menores infratores, para expandir-se em breve às 25 comunas com a metade desses menores em todo o país. Um dos maiores fatores de risco para uma carreira criminal é ter pais delinquen-tes e privados de liberdade. O Abrindo Caminhos busca proteger os filhos de presos que vivem em territórios conflituosos e sem acesso à oferta social pública. O progra-ma conta com conselheiros familiares, tutores e profissionais de apoio. Começou em janeiro de 2009 com 1.000 crianças e hoje atende 4.000.
A Justiça Juvenil Restauradora promove, no caso de infrações sem gravidade, o trata-mento em liberdade dos adolescentes. O tratamento envolve a família e a comunida-de, e intenta que o infrator repare o dano. Um exemplo disso são os programas-piloto promovidos já há seis anos pelo Ministério Público e pelas organizações não gover-namentais “Terra de homens” e “Encontros Casa da Juventude”, em Lima e Chiclayo (Costa, Romero e Moscoso, 2010). As avaliações realizadas indicaram baixas taxas de reincidência e custos menores em relação à prisão, motivando sua réplica em outros três distritos de Lima.
A Segurança Cidadã em debate
33
O q
ue faz
er c
om a
s ga
ngue
s?
Bibliografia
Cabrera, JL. (2007). “Rostros de la violencia juvenil en el Perú”. Justicia para crecer. Re-vista Especializada en Justicia Juvenil Restaurativa, 8, octubre-noviembre, pp. 20-23.
Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad. (2008). Compendio inter-nacional de prácticas sobre prevención de la criminalidad. Para fomentar la acción a través del mundo. Québec: CIPC.
Costa, G. y Romero, C. (Eds.). (2009). ¿Qué hacer con las pandillas? Lima: Ciudad Nuestra.
Costa, G., Romero, C. y Moscoso, R. (2010). Quién la hace en seguridad ciudadana. Lima: Ciudad Nuestra.
Mockus, A. (2001). Cultura ciudadana. Programa contra la violencia en Santa Fe de Bogotá, Colombia, 1995–1997. Washington D.C.: Banco Interamericano de Desarrollo.
Rico, J. M. y Chinchilla, L. (2006). Las reformas policiales en América Latina: situación, problemas y perspectivas. Lima: Instituto de Defensa Legal.
Rodgers, D. (1999). Youth gangs and violence in Latin America and the Caribbean: a literature survey. Washington D.C.: World Bank.
Roman, C. G. (2009). Elementos comunes de los programas exitosos frente a la vio-lencia de las pandillas. En Costa G. y Romero, C. (Eds.). (2009). ¿Qué hacer con las pandillas? (pp. 237-243). Lima: Ciudad Nuestra.
Vanderschueren, F. y Lunecke, A. (2004). Prevención de la delincuencia juvenil. Análi-sis de experiencias internacionales. Santiago de Chile: División de Seguridad Ciudada-na del Ministerio del Interior y Universidad Alberto Hurtado.
World Health Organization. (2002) World Report on Violence and Health. Geneva: WHO.
Zalequet, M. (2009-2010). Juventud y seguridad ciudadana en Nicaragua. En Progra-ma de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Abrir espacios para la seguridad ciuda-dana y el desarrollo humano. Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010. Colombia: PNUD.
Zuñiga, L. (2007). Participación comunitaria en la prevención del delito: Experiencias de América Latina y Europa. En Dammert L. y Zuñiga L. (Eds.), Seguridad y violencia: desafíos para la ciudadanía (pp. 135-188). Santiago de Chile: FLACSO Chile.
Apresentação do Autor
Luiz Eduardo Soares formou-se em Literatura na PUC-RJ, é mestre em Antropologia, doutor em ciência política com pós-doutorado em filosofia política. Foi secretário na-cional de segurança pública (2003) e coordenador de segurança, justiça e cidadania do estado do RJ (1999/março 2000). Colaborou com o governo municipal de Porto Alegre, de março a dezembro de 2001, como consultor responsável pela formulação de uma política municipal de segurança. De 2007 a 2009, foi secretário municipal de valorização da vida e prevenção da violência de Nova Iguaçu (RJ). Em 2000, foi pesquisador visitante do Vera Institute of Justice de Nova York e da Columbia Uni-versity. Tem vinte livros publicados, entre eles o romance Experimento de Avelar, premiado pela Associação de Críticos Brasileiros em 1996, e Meu Casaco de General, finalista do Prêmio Jabuti em 2000. Seus livros Elite da Tropa e Elite da Tropa 2 foram publicados em vários países. Foi professor da UNICAMP e do IUPERJ, além de visiting scholar em Harvard, University of Virginia, University of Pittsburgh e Columbia University. É professor da UERJ e coordena o curso à distância de gestão e políticas em segurança pública, na Universidade Estácio de Sá.
Reforma da Arquitetura Institucional da Segurança Pública no Brasil*
Por: Luiz Eduardo Soares
*Texto publicado originalmente na Revista da Federa-ção Nacional dos Policiais Federais, em julho de 2012.
A Segurança Cidadã em debate
36
Ref
orm
a da
Arq
uite
tura
Ins
titu
cion
al d
a Se
gura
nça
Públ
ica
no B
rasi
l
A situação da segurança pública no Brasil permanece grave. Avanços no con-trole do crime e da violência, em algumas regiões, mesmo significativos, têm sido anulados, no cômputo agregado, pela deterioração verificada em outras, nas quais aumentam, consistentemente, as ocorrências de modalidades criminais re-levantes. O país continua estacionado na faixa dos 25 a 27 homicídios dolosos por 100 mil habitantes. Em termos absolutos, os 50 mil casos por ano correspon-dem ao segundo lugar, no campeonato mórbido do crime letal intencional em todo o planeta. Nosso país tem logrado conquistas expressivas na redução da pobreza e das desigualdades, no crescimento econômico e na consolidação da democracia, embora patine ante os desafios históricos da educação, da saúde, da infraestrutura, do patrimonialismo como cultura política e prática dos poderes públicos - embora preserve a tradição quase atávica do tratamento desigual aos cidadãos, em matéria de justiça, respeito à legalidade constitucional e provisão de segurança. A desigualdade no acesso à Justiça ainda é um dos centros gravi-tacionais das iniquidades nacionais, o que corrói a confiança popular nas institui-ções e dilapida a legitimidade do estado. Essa forma cruel de desigualdade co-meça na abordagem policial e na transgressão de direitos elementares, e termina na prolatação de sentenças e em seu cumprimento. A justiça criminal, as polícias, o sistema penitenciário constituem a arena em que o Brasil promissor e inclusivo, refratário a preconceitos e autoritarismos, duela com os espectros escravagistas e opressivos de seu passado. Passado que ainda nos assombra e que se infiltra nas rotinas cotidianas. Nosso país, que pleiteia um lugar de destaque no concerto das nações, mantém os pés no pântano da tortura, das execuções extrajudiciais, da traição aos direitos humanos, da aplicação seletiva das leis, submetendo-as à refração ditada pelo racismo e pelo bias de classe.
A síntese desse destino desafortunado, na contramão do processo civilizatório e da afirmação plena do estado democrático de direito, está aí, diante de nossos olhos, resistindo a maquiagens e hipocrisias:
a. 50 mil vítimas letais de ações violentas intencionais todo ano;
b. a terceira maior população carcerária do mundo (e a que mais cresce): cerca de 540 mil presos;
c. e a inexistência de relação entre tantas mortes brutais e tantas prisões. Ape-nas 8% dos homicídios dolosos, em média, são investigados com êxito, no Brasil; enquanto o alvo dessa perversa voracidade encarceradora têm sido os jovens pobres, frequentemente negros, com baixa escolaridade, que ne-gociam substâncias ilícitas sem uso de arma ou violência e sem vínculo com organização criminosa. Esse grupo social, não por acaso, é também aquele preferencialmente atingido por duas dinâmicas bárbaras: os assassinatos e as execuções extrajudiciais, as quais têm tornado as polícias brasileiras campeãs mundiais de brutalidade letal.
A Segurança Cidadã em debate
37
Ref
orm
a da
Arq
uite
tura
Ins
titu
cion
al d
a Se
gura
nça
Públ
ica
no B
rasi
l
A Segurança Cidadã em debate
38
Ref
orm
a da
Arq
uite
tura
Ins
titu
cion
al d
a Se
gura
nça
Públ
ica
no B
rasi
l
Não é preciso dizer que a privação de liberdade para quem atua sem violência no varejo desorganizado de drogas ilegais é a forma mais dispendiosa de produzir o pior resultado, tanto para esses jovens, quanto para a sociedade.
Eis porque nosso país tem gerado esse casamento surpreendente entre impuni-dade –relativa aos crimes mais graves, os homicídios dolosos - e furor punitivo, manifestado no encarceramento febril - o qual tampouco se estende aos crimes de colarinho branco, contra o patrimônio público e afins (malgrado meritórios esforços da polícia federal, do Ministério Público e de setores da sociedade civil).
Há, portanto, problemas suficientes para a militância de muitas gerações. Há ra-zões suficientes para a angústia e a insônia dos democratas com espírito solidário e com senso de justiça. Contudo, esse quadro escandaloso, ainda que tenha pro-vocado reações indignadas e torrentes caudalosas de votos, tem servido mais ao populismo penal e à renovação de mandatos eletivos dos demagogos (sempre à espreita, à espera de uma crise, de um crime espetacular, para propor penas mais duras, punições mais severas) do que à difusão da consciência de que mudanças estruturais são necessárias e inadiáveis. Diante de cada manchete banhada em sangue, autoridades reafirmam a correção dos rumos que escolheram e prome-tem mais do mesmo. Não se furtam a acobertar malfeitos das corporações pelas quais respondem, em nome da suposta importância de incentivar a disposição bélica dos comandados - para o que contam com a cumplicidade de setores das instituições cujo papel seria realizar o controle externo da atividade policial e julgar os acusados de ilegalidades. Sem a proteção superior e interinstitucional, a abjeta enxurrada de execuções extrajudiciais, edulcoradas por títulos nobres, como autos-de-resistência, teria sido obstada há décadas. Pior de tudo é o falso entendimento de que estamos em uma guerra. O corolário implica uma redefini-ção do papel das forças policiais, na contramão do mandato que a Constituição Federal lhes atribui.
Muitos crimes, sobretudo contra a vida, muita punição indevida e muita impuni-dade inaceitável, cumplicidades que traem a legalidade, impotência investigativa e ineficiência preventiva, brutalidade institucional fazendo rodar o círculo vicioso da violência contra os direitos humanos e as determinações constitucionais: os males do Brasil são. Entre outros, como vimos. E o deserto de iniciativas políticas ou governamentais. No máximo, os bem intencionados procuram identificar e punir desvios individuais de conduta, como se a dinâmica da corrupção e da brutalidade não tivesse alcançado a escala de um padrão que se repete. Pois muito bem: de padrões que se repetem, que se tornam regulares e previsíveis, diz-se institucionalizados. E de padrões institucionalizados deduz-se uma polí-tica subjacente, consciente ou não. Nesse caso, como imaginar ignorância ou inconsciência por parte de autoridades, governantes, observadores ou mesmo da sociedade, sendo tão ostensivos os resultados e o modus operandi? Por isso,
A Segurança Cidadã em debate
39
Ref
orm
a da
Arq
uite
tura
Ins
titu
cion
al d
a Se
gura
nça
Públ
ica
no B
rasi
l
não parece excessivo usar uma categoria mais forte: genocídio - cujas condições de possibilidade envolvem a anuência por omissão e silêncio, ou por demanda histérica e vingativa, da sociedade.
E quanto aos policiais e demais profissionais da segurança pública, estariam sa-tisfeitos? Não estão. A resposta não se refere somente às condições de trabalho e à insuficiência dos salários. Há uma insatisfação mais ampla. Segundo pesquisa que realizei com Marcos Rolim e Silvia Ramos, graças ao apoio do PNUD e do Ministério da Justiça, em 2009, na qual registramos a opinião de 64.120 profissio-nais da segurança pública em todo o país, 70% são contrários ao modelo policial fixado pelo artigo 144 da Constituição.
A maioria dos policiais e demais profissionais da segurança pública têm razão: os resultados pífios na investigação e na prevenção, assim como a ingovernabi-lidade da maior parte das instituições policiais (expressa nos elevados índices de corrupção, procedimentos ilegais e brutalidade) e a desvalorização profissional (com honrosas exceções) têm a ver, diretamente, com a arquitetura institucional da segurança pública - que envolve o modelo policial -, desenhada no artigo 144 da Constituição. Como a matriz dos problemas se concentra no arranjo institu-cional – e na cultura autoritária, promotora do arbítrio e belicista, que lhe está associada -, pode-se afirmar que os avanços locais não decorreram das virtudes do referido arranjo: ocorreram a despeito de seus vícios. De tal modo que as con-quistas rareiam e revelam-se mais difíceis, justamente por se darem a contrapelo, resistindo às irracionalidades e desfuncionalidades inscritas no modelo policial e, mais amplamente, no arranjo institucional.
As principais deficiências que a arquitetura institucional definida pelo artigo 144 apresenta - arquitetura que inclui as estruturas organizacionais das polícias, isto é, o modelo policial - são as seguintes:
1. A União tem participação diminuta e papel apenas coadjuvante no campo da segurança pública, salvo em situações extremas ou crises graves. O De-partamento de Polícia Federal, de Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional e a Secretaria Nacional de Segurança Pública integram o Ministério da Justiça, porém nem por isso articulam-se organicamente. A fragmentação supera a coordenação, enfraquecendo ainda mais o arsenal já pequeno de unidades e atribuições.
À SENASP compete formular uma política nacional de segurança, mas não se lhe confere autoridade para implementá-la. Seu único recurso de poder é o Fundo que gere e que lhe faculta distribuir recursos como ferramenta de indução. Verbas poderiam, eventualmente, representar um fator indutivo poderoso. Não tem sido o caso, entretanto, em razão do volume de recursos destinados ao Fundo pelo orçamento federal.
A Segurança Cidadã em debate
40
Ref
orm
a da
Arq
uite
tura
Ins
titu
cion
al d
a Se
gura
nça
Públ
ica
no B
rasi
l
A Força Nacional, cujo contingente é pequeno, opera com policiais cedidos, provisoriamente, pelos estados e age somente em circunstâncias bastante específicas e com poderes bastante limitados.
A quase completa impotência da União explica por que sucessivos governos federais têm assumido algum protagonismo em matéria de segurança pú-blica apenas em momentos de crise e, em geral, simplesmente prestando (o que tende a gerar dividendos políticos) apoio solidário e generoso a governos estaduais (que arcam com os ônus do desgaste político), sobre os quais re-caem todas as responsabilidades, uma vez que as polícias estaduais concen-tram as mais importantes atribuições. As exceções que qualificam a União como protagonista são proporcionadas por ações da PRF2 e, sobretudo, da PF,3 cada vez mais reconhecidas e aplaudidas pela população.
2. Os municípios são praticamente negligenciados, no artigo 144, não lhes ca-bendo qualquer responsabilidade e autoridade em matéria de segurança. As guardas civis municipais são reduzidas a zeladoras dos próprios municipais. Essa subestimação mostra-se ainda mais surpreendente e injustificável quan-do se a contrasta com a importância dos municípios –estabelecida na Cons-tituição e, progressivamente, na legislação infraconstitucional subsequente - em matérias decisivas como educação, saúde, assistência social e outras. A desvalorização constitucional colide com a realidade, na medida em que os municípios têm assumido crescente protagonismo também na segurança, mas o fazem ao desabrigo da lei, sobretudo quando criam guardas à imagem e semelhança das polícias militares.
3. As polícias estaduais, civis e militares, concentram a maior parte de responsa-bilidades e autoridade. Cada uma delas apresenta deficiências intrínsecas às suas respectivas estruturas organizacionais. Por isso, apesar da grande quan-tidade de excelentes profissionais, éticos e competentes, os resultados obti-dos estão muito aquém das necessidades e da potencialidade agregada de seus profissionais – potencialidades obstadas pela irracionalidade sistêmica e pelas desfuncionalidades intrínsecas às corporações. O mesmo se aplica às agências periciais, cuja contribuição seria decisiva para o aprimoramento das investigações se lhes fossem concedidas as condições institucionais e os meios operacionais indispensáveis.
3.1. Segundo a Constituição, as polícias militares são forças auxiliares e reserva do Exército (art. 144, parágrafo 6º) e sua identidade tem expressão institu-cional por intermédio do Decreto nº 88.777, de 30 de setembro de 1983, do Decreto-Lei nº 667, de 02 de julho de 1969, modificado pelo Decreto-Lei
2 Polícia Rodoviária Federal3 Polícia Federal
A Segurança Cidadã em debate
41
Ref
orm
a da
Arq
uite
tura
Ins
titu
cion
al d
a Se
gura
nça
Públ
ica
no B
rasi
l
nº 1.406, de 24 de junho de 1975, e do Decreto-Lei nº 2.010, de 12 de janei-ro de 19834. Em resumo, isso significa o seguinte: o Exército é responsável pelo “controle e a coordenação” das polícias militares, enquanto as secre-tarias de segurança dos estados têm autoridade sobre sua “orientação e planejamento”.
Em outras palavras, os comandantes gerais das PMs devem reportar-se a dois senhores. Indicá-los é prerrogativa do Exército (art. 1 do Decreto--Lei 2.010, de 12 de janeiro de 1983, que modifica o art. 6 do Decreto-Lei 667/69), ao qual se subordinam, pela mediação da Inspetoria-Geral das Po-lícias Militares (que passou a integrar o Estado-Maior do Exército em 1969), as segundas seções (as PM2), dedicadas ao serviço de inteligência, assim como as decisões sobre estruturas organizacionais, efetivos, ensino e ins-trução, entre outras. As PMs obrigam-se a obedecer regulamentos discipli-nares inspirados no regimento vigente no Exército (art.18 do Decreto-Lei 667/69) e a seguir o regulamento de administração do Exército (art. 47 do Decreto 88.777/83), desde que esse não colida com normas estaduais.
Há, portanto, duas cadeias de comando, duas estruturas organizacionais, convivendo no interior de cada polícia militar, em cada estado da Fede-ração. Uma delas vertebra a hierarquia ligando as praças aos oficiais, ao comandante-geral da PM, ao secretário de Segurança e ao governador; a outra vincula o comandante-geral da PM ao comandante do Exército, ao ministro da Defesa e ao presidente da República. Apesar da autoridade es-tadual sobre “orientação e planejamento”, a principal cadeia de comando é a que subordina as PMs ao Exército. Não é difícil compreender o primeiro efeito da duplicidade assimétrica: as PMs estaduais constituem, potencial-mente, poderes paralelos que subvertem o princípio federativo.
Nada disso foi percebido, porque o Exército tem tido imensa sensibilida-de política e tem sido parcimonioso no emprego de suas prerrogativas. Quando deixar de sê-lo e, por exemplo, vetar a nomeação de algum co-mandante-geral, as consequências serão muito sérias. Não obstante as cautelas do Exército, os efeitos da subordinação estrutural ao Exército têm sido sentidos no cotidiano de nossas metrópoles. Na medida em que as PMs não estão organizadas como polícias, mas como pequenos exércitos desviados de função, os resultados são, salvo honrosas exceções, os de-sastres que conhecemos: ineficiência no combate ao crime, incapacidade de exercer controle interno (o que implica envolvimentos criminosos em larga escala), insensibilidade no relacionamento com os cidadãos.
4 Paulo Brinckman de Oliveira colaborou, fazendo a arqueologia da trama legal. Esse trecho foi extraído de meu livro, Legalidade Libertária (Lumen-Juris, 2006).
A Segurança Cidadã em debate
42
Ref
orm
a da
Arq
uite
tura
Ins
titu
cion
al d
a Se
gura
nça
Públ
ica
no B
rasi
l
Polícias nada têm a ver com exércitos: são instituições destinadas a garantir direitos e liberdades dos cidadãos que estejam sendo violados ou na imi-nência de sê-lo, por meios pacíficos ou pelo uso comedido da força, asso-ciado à mediação de conflitos, nos marcos da legalidade e em estrita ob-servância dos direitos humanos. Por isso, qualquer projeto consequente de reforma das polícias militares, para transformar métodos de gestão e racio-nalizar o sistema operacional, tornando-o menos reativo e mais preventivo (fazendo-o apoiar-se no tripé diagnóstico-planejamento-avaliação), precisa começar advogando o rompimento do cordão umbilical com o Exército.
Uma barafunda institucional como essa, gerando ambiguidades, inviabi-lizando mudanças estruturais urgentes e alimentando confusões, tinha de dar no que deu tantas vezes: greves selvagens, nas quais todos saem perdendo: a população, os governos e os próprios policiais, mesmo quan-do ganham algumas vantagens residuais. A barafunda tinha de produzir esse resultado catastrófico, sobretudo quando turbinada por salários insu-ficientes, condições de trabalho desumanas, ausência de qualificação, falta de apoio psicológico permanente e códigos disciplinares medievais, cuja própria constitucionalidade deveria ser questionada, uma vez que afron-tam direitos elementares.
Esses códigos são tão absurdos que penalizam o cabelo grande, o coturno sujo e o atraso com a prisão do soldado, mas acabam sendo transigentes com a extorsão, a tortura, o sequestro e o assassinato. A falta disciplinar, cometida dentro do quartel, é alvo de punição draconiana. O crime perpe-trado contra civis é empurrado para as gavetas kafkianas da corregedoria, de onde frequentemente é regurgitado para o labirinto burocrático, em cuja penumbra repousa até que o esquecimento e o jeitinho corporati-vista o sepultem nos arquivos. Os policiais, de norte a sul do Brasil, estão aprendendo a usar o discurso dos direitos humanos a seu favor: cobram salários dignos, condições razoáveis de trabalho e um código disciplinar que os respeite, como profissionais, cidadãos e seres humanos.
Mudanças liberalizantes, quando bem administradas e formuladas, não implicam anarquia e quebra de hierarquia – como demonstraram algumas experiências reformistas. Portanto, é possível concluir: um novo regula-mento disciplinar, compatível com projetos consistentes de reforma das polícias, não deve ser um documento que atente contra a hierarquia e a disciplina. Ao contrário, deve ser um instrumento normativo que coloque a hierarquia e a disciplina a serviço da sociedade, tornando a polícia militar melhor e mais eficiente. Ocorre que esse aprimoramento não vai ser feito sem a valorização dos trabalhadores policiais, dos superiores aos de mais baixa patente – e isso envolve, além de regulamentos disciplinares mais
A Segurança Cidadã em debate
43
Ref
orm
a da
Arq
uite
tura
Ins
titu
cion
al d
a Se
gura
nça
Públ
ica
no B
rasi
l
saudáveis, salários mais altos, qualificação profissional mais adequada e condições de trabalho racionais e humanas5.
Em síntese: as PMs são definidas como força reserva do Exército e subme-tidas a um modelo organizacional concebido à sua imagem e semelhan-ça. Por isso, têm até 13 níveis hierárquicos e uma estrutura fortemente ver-ticalizada e rígida. A boa forma de uma organização é aquela que melhor serve ao cumprimento de suas funções. As características organizacionais do Exército atendem à sua missão constitucional, porque tornam possível o “pronto emprego”, qualidade essencial às ações bélicas destinadas à de-fesa nacional. Nesse contexto, entende-se o veto à sindicalização.
A missão das polícias no estado democrático de direito é inteiramente diferente daquela que cabe ao Exército. O dever das polícias é prover segurança aos cidadãos, garantindo o cumprimento da lei, ou seja, protegendo seus direitos e liberdades contra eventuais transgressões que os violem. No repertório cotidiano das atividades das PMs, confron-tos armados que exigem pronto emprego representam menos de 1%. Não faz sentido estruturar toda uma organização para aten-der a 1% de suas ações. Para essas, bastam unidades especiais, configuradas para tais finalidades. O funcionamento usual das ins-tituições policiais, com presença uniformiza-da e ostensiva nas ruas, cujos propósitos são, sobretudo, preventivos, requer, dada a variedade, a complexidade e o dinamismo dos problemas a superar, os seguintes atributos: descentralização; valorização do trabalho na pon-ta; flexibilidade no processo decisório nos limites da legalidade, do respeito aos direitos humanos e dos princípios internacionalmente concertados que regem o uso comedido da força; plasticidade adaptativa às especificidades locais; capacidade de interlocução, liderança, mediação e diagnóstico; li-berdade para adoção de iniciativas que mobilizem outros segmentos da corporação e intervenções governamentais intersetoriais. Idealmente, o(a) policial na esquina é um(a) micro gestor(a) da segurança em escala territo-rial limitada com amplo acesso à comunicação intra e extrainstitucional, de corte horizontal e transversal6.
5 Nas polícias civis temos um problema simétrico inverso: faltam códigos disciplinares que organizem (ou ajudem a organizar) a entropia.6 Este parágrafo foi escrito em parceria com Ricardo Balestreri para artigo que publicamos juntos na Folha de São Paulo, em 18 de maio de 2012, sob o título, “A Raiz de nossos problemas de segurança”.
O dever das polícias é prover segurança
aos cidadãos, garantindo o
cumprimento da lei, ou seja,
protegendo seus direitos e liberdades
contra eventuais transgressões que
os violem
A Segurança Cidadã em debate
44
Ref
orm
a da
Arq
uite
tura
Ins
titu
cion
al d
a Se
gura
nça
Públ
ica
no B
rasi
l
Engana-se quem acredita que mais rigor hierárquico, mais centralização, menos autonomia na ponta e regimentos mais duros garantem mais con-trole interno, menos corrupção, desmandos e brutalidade. Se fosse assim, nossas polícias militares seriam campeãs de virtude. Pelo contrário, sacrifi-camos a eficiência no altar da disciplina para colher tempestades e saldos negativos em todos os fronts.
Não há nenhuma razão para que as PMs copiem o modelo organizacional do Exército, o que não as impediria, necessariamente, de adotar elemen-tos da estética, da ética e da ritualística militar. Nesse novo contexto, a sindicalização tornar-se-ia legal e legítima. Quem teme sindicatos e supõe possível manter a ordem reprimindo demandas dos trabalhadores, proi-bindo sua organização, não compreende a história social e as lições que as lutas trabalhistas nos ensinaram. Não entende que o veto à organização provoca efeitos perversos para todos e planta uma bomba de efeito retar-dado sob nossos pés.
3.2. Na polícia civil, os policiais que atuam na ponta sabem muito; a instituição, (quase) nada sabe. Isso significa que a instituição carece do conhecimen-to qualificado sem o qual não há gestão: faltam diagnóstico, planejamen-to, avaliação e monitoramento. Quando há dados confiáveis, as dinâmicas criminais podem ser bem descritas e, em parte, antecipadas, dada a regu-laridade que caracteriza estes fenômenos sociais. Antecipadas, podem ser evitadas. Desde que haja planejamento em lugar da reatividade, do volun-tarismo instado pela mídia ou da inércia que apenas repete padrões. Evitar a recorrência de tais dinâmicas nem sempre é tarefa exclusivamente poli-cial – em geral, requer envolvimento de várias instâncias governamentais e mobilização bem focalizada das comunidades. Portanto, dados policiais confiáveis – isto é, bem coligidos, organizados, processados, distribuídos e analisados - servem a múltiplos propósitos e são, sempre, fundamentais.
Com frequência, falta à polícia civil, além de uma rede virtual para proces-samento informatizado dos dados básicos, padrão universal de investiga-ção e distribuição de recursos e iniciativas de acordo com identificação de metas, prioridades, cronogramas, divisão de atribuições, envolvendo também a definição de turnos de trabalho e a articulação operacional en-tre unidades distritais e segmentos locais da Brigada Militar.
O excesso de burocracia e o formalismo do inquérito dificultam a agilidade das investigações e a integração necessária, seja com a perícia, seja com o Ministério Público e a Justiça, seja com a PM e a própria sociedade civil.
Os policiais sabem muito e a instituição quase nada, porque a marca dis-tintiva da polícia civil é a fragmentação. Suas unidades locais estão literal-
A Segurança Cidadã em debate
45
Ref
orm
a da
Arq
uite
tura
Ins
titu
cion
al d
a Se
gura
nça
Públ
ica
no B
rasi
l
mente atomizadas: nem fornecem informações ao núcleo central dirigen-te, nem recebem orientação sistemicamente ordenada, nem se abrem, com transparência, para avaliações regulares quanto ao desempenho. Não se submetem a direção nem a controle e permanecem alheias à polí-tica institucional, quando ela existe. Nem o melhor gestor do planeta seria capaz de implementar qualquer política de segurança (boa ou má) ante tamanha inorganicidade. A gestão é, de fato, impossível. Portanto, é na-tural que o tema da gestão se imponha, pois não faz sentido discutir que políticas de segurança são boas ou más sem que haja condições mínimas para sua efetiva implementação.
A atomização cria condições para dois resultados: ineficiência e vulnera-bilidade à corrupção. Ineficiência, porque o isolamento impede a coor-denação que viabilizaria ações integradas, sem as quais não há sucesso na segurança pública. Vulnerabilidade à corrupção porque a precarieda-de dos meios de acompanhamento e controle, associada à “privatização” das informações, permite a negociação entre policiais e criminosos, assim como outros acordos escusos. Se apenas um pequeno grupo de policiais conhece a localização de suspeitos e sabe de determinadas operações localizadas, todo arranjo será possível, dependendo, claro, da disposição moral dos profissionais – mesmo sendo poucos os corruptos, as condi-ções descritas os protegem, estimulam e fortalecem.
A conclusão aponta numa direção interessante: as medidas necessárias para ampliar a eficiência (providências gerenciais e o desenvolvimento tecnológico) coincidem com as que seriam necessárias para deter a cor-rupção. Estas medidas (por exemplo, a informatização) são aquelas que transformem essa realidade fragmentada, fazendo do arquipélago inorgâ-nico uma instituição no sentido pleno da palavra, isto é, uma organização dotada de unidade e das condições que propiciam a gestão.
Suplementarmente assinale-se que valem para a polícia civil os pontos identificados no diagnóstico sumário da polícia militar, com exceção da-queles que derivam da confusão normativa e do desvio de função decor-rente dos contraditórios imperativos legais.
3.3. Há problemas que são comuns às polícias militares e civis e que remetem às respectivas estruturas organizacionais7. Entre eles, e com destaque, a crise da gestão ou, mais amplamente, de governabilidade. A impossibili-dade da gestão racional e do controle efetivo das ações em campo (assim como a impotência dos comandos face à proliferação de envolvimentos,
7 Observe-se, entretanto, que há diferenças significativas entre instituições e entre unidades no interior de cada instituição, em cada estado, em distintos momentos, sob governos diferentes. O que afirmo refere-se à realidade predominante no Brasil.
A Segurança Cidadã em debate
46
Ref
orm
a da
Arq
uite
tura
Ins
titu
cion
al d
a Se
gura
nça
Públ
ica
no B
rasi
l
A Segurança Cidadã em debate
47
Ref
orm
a da
Arq
uite
tura
Ins
titu
cion
al d
a Se
gura
nça
Públ
ica
no B
rasi
l
nas mais variadas e danosas modalidades de crime, de segmentos policiais numerosos), em função da carência dos instrumentos e das condições in-dispensáveis, constitui a debilidade mais grave, mais dramática das polícias brasileiras, sem cuja solução as medidas importantes não poderão ser ado-tadas. Poderão até ser decididas, mas dificilmente encontrarão os meios de sua implementação, por motivos óbvios. Assim, o nó da reforma das polí-cias situa-se neste ponto estratégico: a gestão (o controle, a governabilida-de) e o conjunto dos mecanismos sem cuja existência ela se inviabiliza. Os mecanismos em causa (deixando de lado, por ora, fatores relevantes como formação, capacitação, treinamento dos profissionais e sua socialização na cultura corporativa, mais importante do que os protocolos formais e as nor-mas oficialmente transmitidas) são aqueles que tornam possíveis os seguin-tes procedimentos e qualificam os seguintes momentos do trabalho policial: dados-diagnósticos-planejamento-avaliação-monitoramento, os quais de-pendem de formação/capacitação, rotinas, funções e estrutura organizacional compatíveis, além de cultura corporativa e práticas destinadas à construção da accountability, o que envolve participação da sociedade, controle externo, resultados concretos, respeito aos direitos humanos e à legalidade, elementos que, por sua vez, exigem adoção de estratégias de trabalho policial de tipo comunitário e/ou orientadas para a solução de problemas. Compreende-se que a introdução de todos esses elementos e procedimentos, que se referem a dimensões distintas, mas complementares das instituições policiais, requer alterações diversas, inclusive constitucionais, como se verá adiante.
A precariedade é tão séria que sequer há dados confiáveis sobre o desempe-nho policial. Quando se solicita a um profissional da segurança pública, mesmo a um oficial superior, a avaliação da performance de sua corporação, quase invariavelmente a resposta que se obterá confunde avaliação com relatório de atividades e lista de operações. Ao invés de observar a quantidade e a quali-dade dos crimes, se diminuíram ou aumentaram etc, o profissional certamen-te desviar-se-á e perder-se-á na exposição de números referentes a prisões e apreensões de drogas e armas, como se a criminalidade e a insegurança não importassem; como se bastassem as ações policiais; como se elas fossem um fim em si. Entretanto, na verdade, a lista de operações apenas demonstra que as corporações se esforçaram, e nada diz a propósito da eficiência, eficácia e efetividade do que se fez. A avaliação – momento absolutamente decisivo e indispensável para a calibragem e a correção das políticas públicas - sequer consta como item relevante da cultura profissional das polícias brasileiras, es-taduais e federais. Sabe-se quão difícil é definir uma metodologia adequada para avaliar o desempenho policial. Não se trata de matéria sobre a qual haja consenso internacional consolidado; mas é indispensável avançar neste terreno e é inconcebível a generalizada negligência à avaliação.
A Segurança Cidadã em debate
48
Ref
orm
a da
Arq
uite
tura
Ins
titu
cion
al d
a Se
gura
nça
Públ
ica
no B
rasi
l
A ausência de dados críveis e rigorosos sobre desempenho policial é apenas a ponta do iceberg. O problema é bem mais profundo e grave: tampouco há dados consistentes sobre as dinâmicas criminais, ou pes-soal qualificado para interpretá-los (coletá-los, organizá-los, processá-los, distribuí-los), ou rotinas adequadas que valorizem sua interpretação e a produção de diagnósticos para fins práticos – isto é, não há gestão do co-nhecimento. Não havendo dados, qualificação profissional, rotinas e es-truturas organizacionais, tampouco há processos decisórios que os levem sistematicamente em conta para o planejamento operacional adequado e compatível com as exigências dos desafios lançados ao poder público pelo crescimento da criminalidade.
Não é exagero dizer que o planejamento é sempre tópico e reativo, por isso espasmódico, e convive com ou se rende à inércia institucional, em que se reproduzem práticas como hábitos atávicos. Não há horizontes de tempo elásticos, nem exame das dinâmicas criminais que municie an-tecipações racionalmente instruídas. Sabemos que a criminalidade é um dos mais regulares fenômenos sociais, favorecendo, consequentemente, a previsão e a ação preventiva. Há, por exemplo, nos homicídios dolosos (dependendo de seu tipo), forte concentração espacial e temporal – mas essa característica raramente é explorada em benefício das polícias através de intervenções preventivas, as quais requerem proatividade.
Ocorre que sem planejamento (sem dados e diagnóstico, rotinas, estrutu-ras organizacionais apropriadas e pessoal preparado), não há estipulação de metas, sem as quais tampouco pode haver avaliação. O que, por sua vez, impede o monitoramento corretivo de todo o processo de trabalho da corporação. O mais grave não é o erro: somos humanos, estamos fadados ao erro. O verdadeiramente grave é não nos credenciarmos a identificá-lo, porque, se não o reconhecermos, correremos o risco de nos condenarmos a repeti-lo. Em vez de sistema racional, capaz de aprender com os erros, evoluir, amadurecer, acumular memória histórica, as insti-tuições policiais brasileiras, em função de sua organização irracional – não da incompetência de seus membros, pois não é disso que se trata, ainda que haja evidentemente problemas de formação e capacitação a superar -, tropeçam no voluntarismo espasmódico, na reatividade ou na simples inércia conservadora e absolutamente insensível para as demandas de nosso tempo e as mudanças em curso no mundo social contemporâneo e no universo da criminalidade.
Nas instituições policiais não há gestão, porque não há as condições mí-nimas para que uma gestão racional opere: não há formação de pessoal adequada às missões profissionais, especialmente não há educação cor-
A Segurança Cidadã em debate
49
Ref
orm
a da
Arq
uite
tura
Ins
titu
cion
al d
a Se
gura
nça
Públ
ica
no B
rasi
l
porativa compatível com as exigências da gestão do conhecimento, às quais as rotinas, estruturas organizacionais e processos decisórios tam-bém são indiferentes, quando não refratários ou mesmo hostis.
Em outras palavras, não há dados confiáveis, diagnósticos rigorosos, pla-nejamento consistente, avaliações sistemáticas, monitoramento corretivo regular. Não havendo gestão –ou suas pré-condições -, não é possível aplicar uma política de segurança. Antes, portanto, de examinar as quali-dades das políticas substantivas, é preciso verificar se há condições míni-mas para sua implementação. Em não havendo, como é o caso, resta pro-ceder às mudanças institucionais e organizacionais, para que se viabilize a gestão e para que, finalmente, em conformidade com a gestão racional, políticas inteligentes e consistentes se formulem e implantem.
Nesse sentido, faz parte de qualquer iniciativa séria de reforma das polícias e de qualquer política de segurança que mereça esse nome (a qual não tem como ser plenamente implementada sem reformas nas estruturas organizacionais, as quais dependem de mudanças no artigo 144 da Cons-tituição), a construção dos meios indispensáveis à gestão, não porque isso baste, não porque superestimemos essa dimensão, mas porque sem esses meios não haverá política alguma. Permanecerão as instituições policiais e afins condenadas ao círculo vicioso do improviso e da reatividade.
Requer-se, portanto, como fundamento das políticas substantivas, uma política de reforma institucional ampla, viabilizadora da gestão – da gestão de que precisamos, aquela que seja adequada à magnitude do desafio posto à sociedade e ao Estado pela criminalidade violenta.
Além das deficiências referidas, há outras duas que avultam:
a. a primeira delas e mais importante, a fratura do ciclo de trabalho poli-cial, que separa as funções ostensivas e preventivas das tarefas envol-vidas com a investigação, destinando-as, respectivamente, às polícias militar e civil. Não se trata de divisão racional do trabalho em sentido complementar para beneficiar a eficiência. Pelo contrário, produzem--se ineficiência e rivalidades, duplicam-se atividades e reduzem-se a efetividade e a qualidade dos esforços. A sociologia das organizações demonstra que cada instituição tende a desenvolver valores e iden-tidade próprios, cuja raiz é a diferença agonística e cujo combustível é a comparação competitiva e conflitiva com aquelas que atuam no mesmo campo. As disputas podem ser assimiladas e convertidas em energia construtiva para ambas, desde que a dependência recíproca não exija unidade e coesão para a consecução rotineira das respectivas atribuições, em todos os domínios de suas atividades. Prevenção e in-
A Segurança Cidadã em debate
50
Ref
orm
a da
Arq
uite
tura
Ins
titu
cion
al d
a Se
gura
nça
Públ
ica
no B
rasi
l
vestigação, ou, por um lado, rondas, vigilância territorial e policiamento comunitário, e, por outro lado, levantamento de informações visando a esclarecimento de crimes não constituem ações autossuficientes que se complementem na realização de objetivos comuns mais elevados. Pelo contrário, são ações intimamente ligadas e interdependentes. A colaboração entre a atuação ostensiva e as tarefas investigativas não se esgota na preservação da cena de um crime e no apoio para a coleta de vestígios. Ou seja, as duas metades não são metades de uma uni-dade, são etapas de um continuum as quais, por vezes, superpõem-se e que, de todo modo, não prescindem das demais e, consequente-mente, exigem articulação orgânica que apenas a unidade institucio-nal proporciona. Impõe-se, portanto, a unificação do ciclo de trabalho policial – o que é inteiramente diverso da unificação entre as atuais polícias civis e militares. Por motivos vários, inclusive os que estão aqui elencados, elas são instituições extremamente problemáticas. Unificá--las geraria um problema de dimensões ainda maiores.
Uma das mais ostensivas manifestações das dificuldades que decorrem da ruptura do ciclo é a falta de integração sistêmica na dimensão terri-torial, cujas implicações operacionais e gerenciais são muito graves.
Com exceção de poucos estados ou de algumas regiões limitadas de alguns poucos estados, as unidades locais das polícias civil e militar não compartilham responsabilidade territorial. Ou seja, as delegacias distritais responsabilizam-se por determinada área e as unidades locais da polícia militar responsabilizam-se por outras áreas, cuja delimita-ção segue orientações distintas. Como todo o território dos estados está sob responsabilidade de ambas as polícias, todo recorte espacial corresponde à superposição de responsabilidades, mas seus limites não coincidem. Isso impede a colaboração operacional, a avaliação integrada, o planejamento compartilhado, o monitoramento comum, o diálogo comum com as comunidades.
Ainda mais grave: as circunscrições territoriais não correspondem a se-tores censitários definidos pelo IBGE8 ou a seus múltiplos – os setores censitários são as unidades elementares com as quais trabalha o censo e, portanto, são as referências atômicas para os dados demográficos (e outros), indispensáveis para contextualizar os números absolutos de crimes e resultados de ações policiais, tornando-os relativos, isto é, comparáveis entre si e, portanto, passíveis de análise.
8 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, órgão do Estado, em nível federal, responsável pela geração das informações sobre a sociedade brasileira, em todos os aspectos relevantes para a formulação e implantação das políticas públicas - a começar pelos dados demográficos.
A Segurança Cidadã em debate
51
Ref
orm
a da
Arq
uite
tura
Ins
titu
cion
al d
a Se
gura
nça
Públ
ica
no B
rasi
l
Não haverá gestão efetiva sem a integração das áreas e sua subordi-nação às delimitações censitárias. Isso porque só há gestão (entenda--se: planejamento, avaliação, monitoramento, distribuição de funções, conhecimentos e recursos de poder, estabelecimento de rotinas e rea-dequação organizacional) havendo dados qualificados e diagnósticos. A qualificação envolve imputação, aos dados, do predicado da compa-rabilidade – ou eles nada significarão.
A superposição das áreas sob responsabilidade de cada polícia e sua sobreposição às circunscrições censitárias tornam possível - ou po-tencializam - o emprego de softwares de geoprocessamento, cuja im-portância para a análise das dinâmicas criminais e, consequentemente, para o planejamento e o trabalho preventivo (ou seja, para a gestão) deve ser sublinhada.
b. As duas polícias estaduais, na prática, são quatro: delegados e não-delega-dos; oficiais e não-oficiais. Cada uma dessas esferas compartilha valores, ambições e expectativas diferentes e, com frequência, em atrito. Basta imaginar o que significa para deze-nas de agentes da polícia civil lotados em determinada delegacia, com vin-te anos de carreira, a chegada para comandá-los de um novo delegado, recém-concursado - recebendo salá-rio superior e se beneficiando de mais prestígio e de incomparáveis perspec-tivas de ascensão -, um rapaz muito jovem, que concluiu há pouco seu bacharelado em Direito e teve pouca oportunidade de estudar segu-rança pública (que não se confunde com o conhecimento das leis) e menos ainda gestão de agências policiais. Pode-se também imaginar o que significa ingressar como soldado na PM, sabendo que há um teto para a ascensão profissional, independentemente de suas qualidades, a não ser que tenha ainda idade para sair e recomeçar, se dispuser dos títulos necessários, por meio de novo concurso, agora para o oficialato. Em algumas polícias militares, a carreira já está sendo unificada, o que representa um admirável avanço. Quanto às polícias civis e à polícia federal, não tem havido nenhuma sinalização nesse sentido.
Em algumas polícias militares, a carreira já está sendo unificada, o que representa um
admirável avanço. Quanto às polícias
civis e à polícia federal, não tem
havido nenhuma sinalização nesse
sentido
A Segurança Cidadã em debate
52
Ref
orm
a da
Arq
uite
tura
Ins
titu
cion
al d
a Se
gura
nça
Públ
ica
no B
rasi
l
A unificação das carreiras policiais, em cada especialidade, é indispen-sável para garantir coesão e adesão seja à disciplina, seja às eventuais divisões do trabalho. Todo neófito que chega às ruas para enfrentar o primeiro dia de trabalho sabe que nada o impede de alcançar o posto máximo de sua instituição, a depender de sua dedicação, de sua com-petência, de suas qualidades éticas e profissionais, de seus estudos, méritos, experiência e de seu desempenho nos testes e exames perti-nentes. Nesse sentido, a carreira é democrática e estimula a aplicação e o desenvolvimento de cada profissional. Os cursos serão recompen-sados e o conhecimento reconhecido.
A unificação das carreiras não implicaria, necessariamente, exclusivi-dade, porque o ingresso por concurso de jovens delegados pode ser importante para oxigenar a instituição, mas não me parece que a gra-duação exigida tivesse de ser, forçosamente, em Direito (ainda que fos-se preciso estudar Direito, além de segurança pública, no processo de formação). Contudo, esse processo deveria privilegiar os profissionais que já estão na instituição, desde que se preparassem (contando com apoio institucional) e se submetessem com sucesso a exames seleti-vos. Os candidatos externos ocupariam as vagas correspondentes a determinada cota.
4. Um ponto que parece secundário, mas é crucial, e deve figurar com desta-que no diagnóstico da segurança pública brasileira e na análise do arranjo estrutural e no desempenho de suas instituições é o relacionamento com a segurança privada e o lugar que esse setor ocupa. Sem um diagnóstico preciso e profundo, não há como formular propostas consistentes de refor-ma. Por isso, essa questão não pode ser subestimada, sob pena de o pro-jeto de mudança vir a negligenciar os desafios complexos que representa, condenando-se ao fracasso.
Outra maneira de definir essa mesma problemática seria a seguinte: um pon-to crucial, sine qua non, é o padrão salarial dos policiais – mais ainda: são suas condições de trabalho, que incluem dimensão psicológica, a qual exige acompanhamento e atenção permanentes, considerando-se o estresse pro-vocado pelas rotinas tensas e arriscadas.
Por que salários e segurança privada remetem a um único tópico? Porque a segurança privada informal e ilegal tornou-se fonte de financiamento in-direto do orçamento público na área da segurança. É o que costumo de-nominar “gato orçamentário”, ironicamente, recorrendo ao jargão miliciano (ou budgetcat, por analogia ao netcat das milícias fluminenses). Para evitar o colapso do orçamento, provocado por demandas salariais (estimuladas por salários irreais e indignos), as autoridades toleram o envolvimento de
A Segurança Cidadã em debate
53
Ref
orm
a da
Arq
uite
tura
Ins
titu
cion
al d
a Se
gura
nça
Públ
ica
no B
rasi
l
policiais com o bico ou o segundo emprego na segurança privada, a des-peito da ilegalidade (segundo os marcos legais vigentes na grande maio-ria dos estados – alguns, mal ou bem, estão começando a disciplinar esse universo sombrio e ardiloso, pleno de consequências perigosas). Culpar a polícia federal porque a ela cabe fiscalizar a segurança privada não passa de pseudo-justificativa e desvio de foco. Todos sabem que seria impossível cumprir essa função com 15 mil profissionais, responsáveis por uma miríade de missões em todo o país. Ocorre que, ao fechar os olhos para a ilegalidade benigna e em certo sentido legítima, considerando-se o esforço dos poli-ciais mal pagos em oferecer (por meio de seu trabalho bem intencionado que lhe complementa a renda) melhores condições de vida a suas famílias, as autoridades também deixam de ver (e reprimir) a ilegalidade maligna e seus tentáculos, que prosperam metastaticamente, gerando fenômenos criminais grotescos, como as milícias. Ressalve-se que o lado benigno da ilegalidade a que me refiro o é do ponto de vista da intenção dos trabalha-dores policiais, mas não do ponto de vista de seus efeitos, que são negativos por diversas razões, como tenho dito em artigos e entrevistas. Não é o caso, aqui, de descer a detalhes. Basta registrar que a esfera que chamei maligna estende-se da produção de insegurança para vender segurança à formação de grupos de extermínio e esquadrões da morte, e chegam ao extremo: a montagem das mencionadas máfias milicianas, as quais consolidam a ins-talação do crime organizado nas corporações policiais.
Enquanto o Estado aceitar, por omissão cúmplice, o financiamento de ori-gem ilegal e criminosa, que lhe permite pagar salários irreais, não poderá cumprir seu papel constitucional como fiador da legalidade e condenará suas polícias à degradação e à impotência. Por isso, pagar salários suficientes e dignos impõe-se como condição sine qua non para a reconstrução da se-gurança pública no Brasil. Afinal, sabemos todos que segurança não é ma-téria exclusivamente policial, que há fatores decisivos relativos a outras áreas da vida social e da responsabilidade estatal. Contudo, também sabemos que sem polícia não há segurança pública, nem estado democrático de direito – polícia legalista, bem entendido, comprometida com os valores da equidade e da dignidade humana, voltada à provisão de garantias para a fruição de direitos e liberdades por parte da cidadania.
Ocioso acrescentar que o outro tipo de vínculo de profissionais da segurança pública com a segurança privada constitui, pura e simplesmente, crime, e não guarda qualquer relação com níveis salariais inferiores às necessidades. Refiro-me a delegados e oficiais que se tornam proprietários de empresas de segurança, por interpostas pessoas (os “laranjas”), e agenciam seus comanda-dos. A inação das autoridades, nesse caso, não passa de cumplicidade ativa, absolutamente injustificável. Por que o Ministério Público não age? Por que
A Segurança Cidadã em debate
54
Ref
orm
a da
Arq
uite
tura
Ins
titu
cion
al d
a Se
gura
nça
Públ
ica
no B
rasi
l
a mídia silencia? Por que a sociedade não se manifesta e exige mudanças? Vê-se que não basta culpar governos. Omissões e cumplicidades parecem contagiosos.
Em resumo: a arquitetura institucional da segurança pública e o modelo poli-cial não funcionam. A quem interessa a preservação de um estado de coisas que não funciona? Ou funciona para alguém?
Em primeiro lugar, é preciso compreender uma tese fundamental das ciên-cias sociais: nem tudo o que existe corresponde a uma vontade, uma inten-ção ou um interesse. Nem tudo o que existe, na vida social, cumpre um papel funcional. Pode, inclusive, ser disfuncional e contrário a todos os interesses.
Se é assim, por que existe? Porque, não raro, ações sociais geram efeitos ines-perados ou perversos, que traem as intenções dos agentes (também chama-dos “efeitos de composição”), uma vez que provocam desdobramentos que se combinam com outras dinâmicas em curso.
A visão reducionista, mecânica e equivocada tende a fazer leituras reflexas: se a educação no Brasil é ruim, culpa-se algum interesse maligno ou algum agente mal intencionado, que se beneficiaria da ignorância. Por exemplo, políticos clientelistas, corruptos e manipuladores, ou empresários ganancio-sos que contam com a ignorância para intensificar a exploração do trabalho. Claro que esse tipo de hipótese não está excluído em contextos em que as condições sejam primitivas e simplórias, como na primeira República, talvez. Contudo, no capitalismo globalizado, o empresariado que apostasse na igno-rância de seus potenciais empregados estaria condenado à falência.
O mesmo vale para a segurança: a quem interessaria o fracasso da segurança pública? Aos empresários da segurança privada e aos fabricantes e comer-ciantes de armas e munições, e de outros utensílios do tipo? Sim, mas apenas no curto prazo. Projetada para o futuro, a insegurança dilapidaria o poten-cial de desenvolvimento do país e, portanto, degradaria o ambiente em que viveriam os netos dos supostos atuais beneficiários da insegurança. A que se reduziria esse patrimônio, originalmente nutrido pela insegurança, se não houver país nenhum, no futuro? Portanto, só uma visão muito pobre, míope, estreita, imediatista e pouco racional poderia apostar na insegurança pública. Seria muito mais razoável, mesmo da perspectiva estritamente capitalista e utilitária, privilegiar o aprimoramento da segurança pública e vender os pro-dutos voltados para a segurança privada nesse contexto, adaptando-os.
Há os que vivem do crime. Mas esses não têm poder para manter toda uma estrutura organizacional, constitucionalmente desenhada. Tampouco teriam tanto poder os empresários da segurança privada e do setor de armas, mu-
A Segurança Cidadã em debate
55
Ref
orm
a da
Arq
uite
tura
Ins
titu
cion
al d
a Se
gura
nça
Públ
ica
no B
rasi
l
nição e gadgets assemelhados. Mesmo a maioria dos profissionais da segu-rança pública sendo contrária ao atual arranjo institucional, há 30% a favor, muitos deles com poder nas corporações e articulações no mundo político. Eles formam um lobby significativo. Mas não teriam poder suficiente para bloquear mudanças se a sociedade desejasse a mudança. Ela quer, porque está insatisfeita com o status quo. Porém, não sabe em que direção mudar. A meta está clara: a sociedade deseja mais segurança, menos violência, menos crimes, menos corrupção, menos injustiças. Mas não sabe que arranjo institu-cional e que modelo policial alternativo seriam mais adequados à realização desses objetivos. Nem mesmo está convencida de que a arquitetura insti-tucional e, dentro dela, o modelo policial tenham relevância e contribuam para a atual ineficiência. Portanto, não tem consciência a respeito da neces-sidade de mudá-los. Os políticos servem para difundir e qualificar opiniões sobre problemas, para produzir agendas públicas, para formular propostas e métodos de ação e para negociar sua implementação. Não é o que têm fei-to, em matéria de segurança, com raríssimas exceções. Tampouco eles têm ideias claras, apoiadas em análises objetivas dos problemas. Pensam e agem, usualmente, a partir de preconceitos, calculando a receptividade da opinião pública e se adaptando a expectativas sociais, visando a credenciarem-se à escolha do eleitorado no mercado de votos.
Os grupos organizados e politizados, no sentido elevado da palavra, que mi-litam por causas coletivas com espírito crítico, respeitando valores demo-cráticos e republicanos, tampouco foram capazes de alcançar um consenso quanto ao diagnóstico e a propostas de mudança. As universidades tampou-co assumiram o protagonismo no debate público sobre a problemática da segurança, e deixaram de sugerir um caminho viável de transformação que reunisse clareza, racionalidade persuasiva e valores suscetíveis de atrair um consenso mínimo. Os motivos geradores desse quadro desalentador têm sido meu objeto constante de estudo e reflexão9.
Os gestores ligados ao executivo tentaram, algumas vezes, induzir processos de mudança, mas não encontraram respaldo social e político. Como não lhes cabe alterar a Constituição ou o arcabouço infraconstitucional, limitaram-se a operar nos marcos legais vigentes contra a corrente, na melhor das hipóteses reduzindo danos. Além disso, sendo os gestores não só membros do poder executivo, mas também e, sobretudo, políticos, há que se levar em conta o choque entre o ciclo eleitoral, bienal e o tempo de maturação de políticas públicas reestruturantes, cuja primeira etapa é marcada por dificuldades e de-clínio de efetividade. Aos políticos não interessa assumir o custo do desgaste e legar os resultados aos sucessores.
9 Vide, por exemplo, Legalidade Libertária (Lumen-Juris, 2006).
A Segurança Cidadã em debate
56
Ref
orm
a da
Arq
uite
tura
Ins
titu
cion
al d
a Se
gura
nça
Públ
ica
no B
rasi
l
O Ministério Público poderia impor ao executivo Termos de Ajuste de Con-duta (TACs), que obrigassem os governantes estaduais a promover mudanças profundas, as quais, revelando-se fortemente limitadas pela camisa de força do artigo 144, os levassem a pressionar por respostas legislativas no Con-gresso Nacional. Infelizmente, o MP não está convencido, em seu conjunto, quanto à possibilidade e à conveniência dessa hipótese. Talvez esse grau mais ostensivo de ativismo se choque com a relativa dependência política ao exe-cutivo, determinada pelo mecanismo de distribuição do poder interno. Além disso, uma das virtudes do MP está na autonomia de seus componentes, o que, paradoxalmente, fixa limites à formação de consensos e à gestação de ações coletivas, que unifiquem a instituição, politicamente.
O que fazer, então? Qual a melhor arquitetura institucional para o Brasil? Qual o melhor modelo policial para nosso país? Como chegar até lá?
5. Para chegar a qualquer lugar é imprescindível o apoio da opinião pública e a mobilização da sociedade. Tais requisitos supõem, por sua vez, a formação de um consenso mínimo em torno de pontos simples, claros, inteligíveis e obje-tivos. Um projeto de reforma institucional exige elaboração técnica complexa. Ou seja, não pode ser objeto de demanda popular. O que, sim, pode fazer a conexão entre alguma eventual bandeira popular e um projeto tecnicamente rigoroso é o valor. Só a mediação de um valor, plasmado em enunciados ob-jetivos, pode servir de combustível político para um processo de mudança, o qual, todavia, apenas será consistente e consequente se encontrar expressão técnica, sustentada por uma coalizão – limitada, numericamente, mas coesa e dotada de legitimidade - de gestores, policiais, pesquisadores, lideranças da sociedade civil e políticos.
Qual seria esse valor? A igualdade. Democracia pressupõe igualdade perante a lei; igualdade no acesso à justiça; igualdade de tratamento por parte das instituições da Justiça, inclusive, e no caso especialmente da justiça criminal, com destaque para as polícias. A segurança ou será, de fato, pública, ou seja, universal, para todos, ou não será de ninguém. Surge, então, o outro elemen-to indispensável, sem o qual a equação da igualdade na provisão da segu-rança não se sustenta: a efetividade do Estado, por meio de suas instituições, na provisão da segurança. A igualdade referida reduz-se a uma abstração se a segurança não for, realmente, garantida. Portanto, a síntese é: segurança pública é (deve ser) um bem universal (um direito de todos), cuja provisão cabe ao Estado garantir (para isso precisa de meios capazes, competentes). Os meios não se esgotam nas polícias e outras instituições do campo da segurança e da Justiça, mas os pressupõem. Tudo isso está contemplado na Constituição, é verdade. O que apenas facilita o processo de difusão da ideia. Ideia que mobiliza um valor (a equidade, a igualdade) profundamente
A Segurança Cidadã em debate
57
Ref
orm
a da
Arq
uite
tura
Ins
titu
cion
al d
a Se
gura
nça
Públ
ica
no B
rasi
l
enraizado na sociedade brasileira, a despeito de contradições e resistências do tradicional autoritarismo de classe, do racismo e de outros preconceitos asso-ciados ao patrimonialismo. A ideia mobiliza um valor matricial e, repito para enfatizar, uma qualidade (a efetividade) que deve ser atributo do Estado, sem o qual a igualdade perante a lei não se converte em prática.
Foi essa a bandeira que viabilizou o SUS, a LOAS, a universalização da educa-ção pública: a saúde é um bem universal, um direito universal etc.
A bandeira da universalidade, do bem coletivo, do direito de todos resolve to-das as questões mais importantes, do ponto de vista da definição de finali-dades, funções, responsabilidades, o que, por sua vez, orienta a construção do modelo institucional, uma vez que, como vimos, o melhor formato orga-nizativo é aquele que melhor atende à realização das finalidades atribuídas à organização. A bandeira serve também de guia para a adoção de políticas de segurança. Por exemplo: como autorizar uma incursão bélica a uma fave-la, colocando em risco a vida dos moradores, se eles são os destinatários da segurança, tanto quanto os habitantes dos demais bairros da cidade. O que justificaria abordagens diferenciadas? O que legitimaria a aplicação seletiva das leis? O que sustentaria a criminalização da pobreza?
A bandeira universalista atende ao conjunto da sociedade, a começar pelas atuais vítimas das iniquidades. Por isso, é curiosa e surpreendente a oposição de setores da esquerda a essa perspectiva, mesmo quando sabem que sua adoção inte-ressaria em primeiro lugar aos mais vulneráveis, àqueles grupos sociais que têm sofrido discriminação. Esse viés da esquerda explica por que grupos de direitos humanos se solidarizam com certas vítimas, não com todas elas; frequentam sepultamentos de pobres vitimados pela brutalidade policial, mas não de policiais vitimados pela violência de atores sociais egressos da pobreza, que convivem com a pobreza (como traficantes de drogas e armas, ou membros de facções cri-minosas como o PCC). Esses setores atuam como se o problema da violência se esgotasse naquela perpetrada pelo Estado. Evidente que essa forma de violência é gravíssima e deve ser considerada a mais importante, uma vez que sem superá--la não se avança no rumo da construção de instrumentos institucionais que ga-rantam a segurança pública em sentido universalista. Mas essa forma de violência não é a única e não pode ser focalizada unilateralmente e com exclusividade.
A bandeira universalista pode ser erguida pelo conjunto da sociedade, sem distinções, desde que conservadores e progressitas reconheçam o valor cons-titucional da igualdade e, por consequência, da universalidade dos bens públi-cos: segurança pública é bem coletivo, interesse universal, direito de todos e deve ser garantida pelo Estado. Para ser garantida, o Estado precisa dispor de meios que sejam efetivos e, ao mesmo tempo, orientem-se exclusivamente pelo princípio da igualdade.
A Segurança Cidadã em debate
58
Ref
orm
a da
Arq
uite
tura
Ins
titu
cion
al d
a Se
gura
nça
Públ
ica
no B
rasi
l
Quando a bandeira popular abrir espaço para a questão da efetividade dos meios ou das instituições que servirão ao propósito enunciado (garantir a provisão de segurança pública como direito de todos, como bem universal), surgirá a oportunidade para a apresentação de uma proposta de reforma da arquitetura institucional e do modelo de polícia, em consonância com os princípios e os limites evocados pelo novo consenso político.
A reforma incidirá sobre o artigo 144 da Constituição e terá de estipular uma metodologia e o desdobramento de etapas, de tal modo que nenhum traba-lhador policial seja ferido em seus direitos e que o aparato ora vigente não se desorganize (mais do que já está).
6. Quanto à arquitetura institucional da segurança, considerando-se o diagnós-tico exposto, a proposta alternativa está sintetizada no projeto denominado SUSP (Sistema Único de Segurança Pública), tal como formulado pela SENASP ao longo de 2003, a partir do já indicado no Plano Nacional de Segurança Pública, com o qual o presidente Lula venceu a eleição de 2002. A União as-sume maiores responsabilidades; a SENASP é valorizada; as polícias federais, mesmo não unificadas, são fortalecidas e articuladas por uma coordenação sistêmica. O DEPEN também amplia sua faixa de autoridade e responsabili-dade. No outro extremo da cadeia, o município também é valorizado, pas-sando a assumir responsabilidades pela segurança pública, conforme se verá, adiante, na apresentação de duas propostas alternativas para a mudança do modelo policial.
Mais especificamente: a União assume a responsabilidade de viabilizar a criação e o funcionamento de um Conselho Superior de Educação Policial, vinculado ao estado brasileiro, não ao Governo Federal, com mandato, cuja composição seria negociada com as instituições policiais, a SENASP, o Mi-nistério da Educação e a Associação de Reitores das Universidades Públicas. Caberia ao Conselho fixar um currículo básico nacional, comum a todas as instituições da segurança pública, independentemente de especializações. Cumpriria também ao Conselho supervisionar todas as escolas de forma-ção de profissionais da segurança pública e atestar a observância de critérios mínimos de qualidade. Seu poder incluiria recomendações e vetos e a nego-ciação de pactos análogos aos TACs com os governos estaduais, o Governo Federal e também os municipais.
A União assume também a responsabilidade de negociar com os governos estaduais e municipais, e com o Congresso Nacional, medidas que organi-zem a realidade babélica dos dados criminais no país, uniformizando cate-gorias e metodologias, e exigindo o cumprimento de medidas que garan-tam a comutabilidade das plataformas informacionais. Essa iniciativa já foi tomada e o projeto foi aprovado pelo Congresso, o que representa o maior
A Segurança Cidadã em debate
59
Ref
orm
a da
Arq
uite
tura
Ins
titu
cion
al d
a Se
gura
nça
Públ
ica
no B
rasi
l
(e único) avanço do atual Governo Federal em matéria de segurança pública até o momento.
A União, por meio da SENASP, assume a responsabilidade e a correspondente autoridade para implantar um sistema nacional de avaliação de desempe-nho das instituições da segurança pública, cujos critérios serão amplamente negociados com as instituições envolvidas e os governos estaduais e muni-cipais, mas que, necessariamente, incluirão o respeito aos direitos humanos e aos princípios de equidade e legalidade. Nesse sentido, farão parte do sis-tema nacional de avaliação as ouvidorias estaduais e municipais, dotadas de recursos, autoridade para fiscalizar e mandato. A implementação do referido sistema transformará a SENASP em uma Agência Nacional Reguladora da Se-gurança Pública. De acordo com os resultados, o Fundo Nacional de Seguran-ça Pública será distribuído, e eventuais problemas observados, caso tenham a natureza de ruptura da legalidade, poderão suscitar medidas legais, acionados os instrumentos judiciais pertinentes, a começar pelo MP. Essa iniciativa será relevante para estimular a criação de mecanismos racionais de gestão, assim como para incentivar o controle das ações policiais, no sentido da legalidade e da equidade.
A União assume a responsabilidade por apoiar a formação de unidades de perícia efetivas e tecnologicamente atualizadas, dotadas de autonomia fun-cional – relativamente às polícias -, de pessoal e recursos e de estrutura de carreira atraente. Os vínculos com institutos científicos e universidades são fundamentais.
7. Quanto ao modelo policial poder-se-ia dizer que não há somente um dese-nho alternativo defensável e superior ao atual. Há vários. Passo a descrever dois modelos, porque me parecem mais adequados e factíveis10. Um deles aponta na direção da municipalização da segurança pública, ainda que com provisos e cautelas, visando evitar que pequenas agências policiais se sub-metam ao poder político local como guardas pretorianas, na contramão dos princípios e valores, objetivos e metas aqui evocados. O outro tende a preser-var até o limite do possível o que já existe, promovendo mudanças importan-tes, mas talvez mais palatáveis, politicamente, e mais fáceis de implementar. A primeira venho defendendo há bastante tempo, ao lado de algumas lide-
10 Deixo de incluir a “Desconstitucionalização” entre as propostas, porque ela corresponde não à solução desejável, mas a um acordo politicamente viável que poderia iniciar um processo de mudança, capaz de gerar casos de sucesso os quais emulariam outros estados a adotarem as mudanças mais exitosas experimentadas pelos estados pioneiros. Desconstitucionalizar a segu-rança não significa retirar da Constituição a definição dos pressupostos e das finalidades da segurança pública ou das instituições que atuam na área. Além disso, a desconstitucionalização proposta no plano nacional do primeiro mandato do presidente Lula transferiria aos estados o poder para manter ou alterar o modelo policial vigente, mas impor-lhes-ia um conjunto normativo infraconstitucional – o SUSP -, que regeria aspectos centrais das polícias estaduais (fossem mantidas as atuais ou criadas outras, em novo arranjo institucional), quanto à formação, à informação, à gestão, à perícia, à conexão intersetorial nas ações pre-ventivas, à valorização profissional e ao controle externo. Portanto, não haveria risco de aumento da atual fragmentação (que decorre não do número de polícias, mas da desconexão entre elas e de características caóticas e irracionais de cada uma), nem de deterioração institucional.
A Segurança Cidadã em debate
60
Ref
orm
a da
Arq
uite
tura
Ins
titu
cion
al d
a Se
gura
nça
Públ
ica
no B
rasi
l
ranças políticas, sociais e policiais. A segunda foi proposta pelo ex-secretário nacional, Ricardo Balestreri, e faz eco - enriquecendo-as - a posições antes defendidas por atores políticos e institucionais de variada extração. Prestei, ao lado de Marcos Rolim, solidariedade a Balestreri, no momento em que tentou articular uma ampla aliança em torno de sua proposta. De meu ponto de vista, ambas as hipóteses são positivas e representariam extraordinário avan-ço. Pessoalmente, dispor-me-ia a endossar aquela que encontrasse melhor passagem na sociedade e nos meios policiais, porque mais importante do que eventuais preferências está a necessidade urgente de realizar a mudança – considerando-se, insisto, que ambas as hipóteses são virtuosas.
7.1. A proposta municipalista:
Os municípios tornar-se-iam responsáveis pela segurança pública em seu território, dispondo de uma polícia municipal de ciclo completo. A transi-ção deve ocorrer, inicialmente, nos municípios com mais de um milhão de habitantes e, aos poucos, naqueles com mais de 500 mil habitantes, e assim sucessivamente, de acordo com o sucesso alcançado pelas mu-danças promovidas nas cidades maiores. Os municípios, com sua capa-cidade de intervenção capilar e sua permeabilidade à participação social, constituem a unidade de gestão mais adequada ao tratamento das ques-tões mais complexas, que afetam o dia a dia da sociedade, a partir de di-nâmicas sempre específicas e processos locais. A gradual municipalização da segurança pública – devidamente acompanhada da correspondente
transferência de recursos, o que envolve-ria uma renegociação do pacto federati-vo - seria extremamente positiva, desde que algumas condições fossem atendidas: basicamente, que as polícias municipais se organizassem como polícias de ciclo completo (responsáveis, portanto, pelo trabalho preventivo-ostensivo e pelas fun-ções investigativo-judiciárias) e desde que respeitassem normas nacionais, previstas no Sistema Único de Segurança Pública, quanto a formação e capacitação, gestão do conhecimento, estrutura funcional, pe-rícia, controle interno, prevenção e contro-le externo. O risco haveria – sobretudo nos municípios menores - se essas condições não fossem cumpridas, o que nos levaria de volta ao passado, condenando o país a repetir os próprios erros, reproduzindo nas
Os municípios, com sua capacidade de intervenção capilar e sua permeabilidade à participação social, constituem a unidade de gestão mais adequada ao tratamento das questões mais complexas, que afetam o dia a dia da sociedade, a partir de dinâmicas sempre específicas e processos locais
A Segurança Cidadã em debate
61
Ref
orm
a da
Arq
uite
tura
Ins
titu
cion
al d
a Se
gura
nça
Públ
ica
no B
rasi
l
novas instituições municipais as deficiências que caracterizam, hoje e tradi-cionalmente, as polícias estaduais brasileiras. Com um agravante, mais pro-vável nos menores municípios: prefeitos inescrupulosos tratariam as novas instituições como guardas pretorianas a serviço das oligarquias locais. Por isso, a municipalização da segurança é uma faca de dois gumes: um avanço histórico extraordinário, exprimindo princípios republicanos e democráticos essenciais, expressão de uma necessidade incontestável, oportunidade de transformações profundas em nosso modelo de polícia e de segurança pú-blica; mas, ao mesmo tempo, risco de reprodução dos velhos vícios, que já se tornaram atávicos no Brasil por sua tradição centralizadora e autoritária, pouco afeita à transparência e à participação popular, marcada pela lamen-tável noção segundo a qual as polícias existem para proteger o Estado e não para servir a cidadania, defendendo seus direitos e suas liberdades. Para evitar esses riscos, o processo dar-se-ia, na primeira década, apenas nas cidades maiores e cada nova etapa seria antecedida por um exame sobre as condições, ou não, de avanço.
As atuais polícias estaduais, civis e militares, seriam unificadas sob estatuto civil e teriam sua responsabilidade restrita às regiões não cobertas pelas polícias municipais. As atuais polícias poderiam oferecer profissionais às novas corporações, mediante seleção rigorosa. As guardas civis munici-pais existentes seriam absorvidas e reordenadas pelas novas instituições.
7.2. A proposta de diferenciação por tipo criminal:
Nesse modelo, as polícias, todas elas civis, distinguem-se pela função e não pelo território, e a função refere-se a tipos criminais que deveriam ser ob-jeto de sua ação preventiva e/ou repressiva. A polícia municipal, de ciclo completo, ocupar-se-ia dos crimes de pequeno potencial ofensivo, defi-nidos pela Lei 9.099, e das transgressões a normas municipais. A polícia estadual, também de ciclo completo, visaria aos demais tipos criminais, à exceção daqueles praticados por organizações criminosas, os quais consti-tuiriam o alvo específico da polícia estadual especializada, também ela de ciclo completo. Mesmo não comportando rondas ostensivas e patrulhas uniformizadas, ou policiamento comunitário voltado para a resolução de problemas, o enfrentamento preventivo e repressivo do que se denomina crime organizado requer eventuais incursões, cuja operacionalização exige pessoal treinado e autoridade para tais ações. Sua articulação com a polícia federal seria indispensável.
7.3. Qualquer que viesse a ser o novo modelo policial, a cooperação interins-titucional seria essencial, o que pressuporia, para efetivar-se, a implan-tação das determinações do SUSP, já explicitadas, assim como o inves-timento na perícia técnico-científica, a unificação das carreiras em cada
A Segurança Cidadã em debate
62
Ref
orm
a da
Arq
uite
tura
Ins
titu
cion
al d
a Se
gura
nça
Públ
ica
no B
rasi
l
instituição, a valorização profissional que dignifica os trabalhadores e rompe a aliança promíscua do Estado com a segurança privada informal e ilegal. Tal rompimento, por sua vez, viabiliza a reorganização raciona-lizadora dos turnos de trabalho, cuja definição deverá ser menos forma-lista e burocrática e mais ditada por tarefas e missões. Sabemos que, no futuro, nem a municipalização progressiva, nem a divisão por tipo crimi-nal será um modelo flexível e dinâmico o suficiente para funcionar como plataforma institucional de uma polícia ágil e multiconectada, hiperfoca-lizada no local e também no transestadual e no transnacional. Na era do conhecimento e da complexidade, da informação e da alta tecnologia, os agentes, altamente qualificados e bem remunerados, provavelmente trabalharão em grupos pequenos, com autonomia (mas também trans-parência e controle externo) e tecnologia, em limites supervisionados pela Justiça. Nesse mundo futuro, ainda que provavelmente próximo de nós, o inquérito policial será peça de museu (museu de horrores de um tempo de paralisia e impotência) e o diálogo com o MP e a Justiça serão mais diretos, constantes e horizontais, com menos entraves formalistas e nobiliárquicos e menos rituais hierárquicos – sem que se sacrifique as linhas de comando e os vértices de autoridade, legitimamente constituí-dos e bem mais expostos ao controle da sociedade do que hoje. Esse fu-turo tão próximo e tão distante não será atingido sem mediações, quei-mando-se etapas que serão politicamente educativas. O primeiro passo precisa ser dado mesmo em caminhadas longas, que tomam décadas ou séculos. O nosso tem sido sucessivamente adiado. É tempo de ousar caminhar. Tanto a municipalização modular e progressiva da segurança pública, quanto a reorganização das instituições policiais por tipo crimi-nal trazem consigo conquistas e qualidade, a começar pela unificação do ciclo do trabalho policial. Mas nenhum modelo policial representará um avanço histórico real se não vier associado à implantação do SUSP, tal como descrito acima. Implementá-lo implica em ampliar as respon-sabilidades da União sem desrespeitar a autonomia dos entes federados e sem camisas de força centralizadoras. Implica em intervir com energia, obstando a corrupcão e a brutalidade policiais, assim como o corrente desapreço pelos profissionais da segurança pública. Implica revolucio-nar a formação policial, a gestão do conhecimento e a governança das instituições, abrindo-as ao diálogo com a sociedade e ao controle exter-no. Significa valorizar a inteligência investigativa e as políticas preventi-vas. Sobretudo, significa reafirmar o papel das instituições da segurança pública no estado democrático de direito: garantir direitos e liberdades da cidadania, respeitar a dignidade humana, reconhecer a prioridade da vida e submeter a esses valores a compreensão e a aplicação do uso comedido da força.
A Segurança Cidadã em debate
63
Ref
orm
a da
Arq
uite
tura
Ins
titu
cion
al d
a Se
gura
nça
Públ
ica
no B
rasi
l
Nada disso encerra o assunto. Temos que discutir como construir, ao longo do tempo, a nova institucionalidade, e o que fazer com as novas polícias, ou seja, quais deveriam ser as políticas de segurança e também qual deveria ser a política criminal – incluindo a desastrosa e hipócrita política de drogas. Urge repensar o encarceramento voraz (anverso da medalha da criminalização da pobreza e do racismo estrutural da so-ciedade brasileira) e o sistema penitenciário. Mas esses temas terão de aguardar outra oportunidade.
A Segurança Cidadã em debate
65
Entr
evis
ta: M
arta
Lag
os, L
atin
obar
ómet
ro
José Luiz RattonGino CostaCarlos RomeroLuiz Eduardo Soares
Enquanto ator ativo da discussão sobre políticas de segurança e de prevenção da violência, o Projeto URBAL – Políticas Locais de Prevenção da Violência desempenhou, em seus quatro anos de atuação, um papel localizado junto a três governos locais da América Latina.
A proposta de lançar a série “Cadernos sobre Segurança e Prevenção da Violência na América Latina” surge no exato momento em que o Projeto se prepara para a despedida e avalia o caminho percorrido. Como compartilhar e não deixar se perder o conhecimento adquirido? Como ampliar a nossa contribuição, mesmo que de forma modesta, aos debates atuais?
Parte deste Programa, o Projeto URBAL - Políticas Locais de Prevenção da Violência tem o objetivo de contribuir para o fortalecimento de políticas públicas de prevenção da violência e de promover a coesão social. O Projeto é executado pelo Governo do Estado de Pernambuco – Brasil, representado pela Secretaria de Defesa Social, em parceria com os Governos Locais da Região Loreto - Peru, da Intendência de Paysandu – Uruguai, da Municipalidade de Bérgamo – Itália e com Cesvi Fundação.
Realização:
Parceria:
URB-AL III é um programa de cooperação descentralizada da União Europeia dirigido a governos (locais e regionais) da União Europeia e da América Latina. Atualmente, o Programa encontra-se em sua terceira fase de execução (2008-2012). URB-AL III tem como objetivo geral contribuir para incrementar o grau de coesão social e territorial entre coletivi-dades subnacionais na América Latina. Seu objetivo específico é consolidar ou promover, apoiando-se em parcerias e troca de experiências, processos e políticas de coesão social que se possam converter em modelos de referência capazes de gerar debates e indicar possíveis soluções aos governos que desejem impulsionar dinâmicas de coesão social. URB-AL III conta com 20 projetos que desenvolvem ações na América Latina.
IntendenciaDepartamentalde Paysandú
A Segurança Cidadã em debate
Cadernos sobre Segurança e Prevenção da Violência na América Latina
3
Cad
erno
s so
bre
Segura
nça
e Pr
even
ção
da V
iolê
ncia
na
Am
éric
a La
tina
3A
Segu
ranç
a Cid
adã
em d
ebate
capa livro 3.pdf 1 27/11/2012 16:18:50
A Segurança Cidadã em debate
66
Entr
evis
ta: M
arta
Lag
os, L
atin
obar
ómet
ro
José Luiz RattonGino CostaCarlos RomeroLuiz Eduardo Soares
Enquanto ator ativo da discussão sobre políticas de segurança e de prevenção da violência, o Projeto URBAL – Políticas Locais de Prevenção da Violência desempenhou, em seus quatro anos de atuação, um papel localizado junto a três governos locais da América Latina.
A proposta de lançar a série “Cadernos sobre Segurança e Prevenção da Violência na América Latina” surge no exato momento em que o Projeto se prepara para a despedida e avalia o caminho percorrido. Como compartilhar e não deixar se perder o conhecimento adquirido? Como ampliar a nossa contribuição, mesmo que de forma modesta, aos debates atuais?
Parte deste Programa, o Projeto URBAL - Políticas Locais de Prevenção da Violência tem o objetivo de contribuir para o fortalecimento de políticas públicas de prevenção da violência e de promover a coesão social. O Projeto é executado pelo Governo do Estado de Pernambuco – Brasil, representado pela Secretaria de Defesa Social, em parceria com os Governos Locais da Região Loreto - Peru, da Intendência de Paysandu – Uruguai, da Municipalidade de Bérgamo – Itália e com Cesvi Fundação.
Realização:
Parceria:
URB-AL III é um programa de cooperação descentralizada da União Europeia dirigido a governos (locais e regionais) da União Europeia e da América Latina. Atualmente, o Programa encontra-se em sua terceira fase de execução (2008-2012). URB-AL III tem como objetivo geral contribuir para incrementar o grau de coesão social e territorial entre coletivi-dades subnacionais na América Latina. Seu objetivo específico é consolidar ou promover, apoiando-se em parcerias e troca de experiências, processos e políticas de coesão social que se possam converter em modelos de referência capazes de gerar debates e indicar possíveis soluções aos governos que desejem impulsionar dinâmicas de coesão social. URB-AL III conta com 20 projetos que desenvolvem ações na América Latina.
IntendenciaDepartamentalde Paysandú
A Segurança Cidadã em debate
Cadernos sobre Segurança e Prevenção da Violência na América Latina
3
Cad
erno
s so
bre
Segura
nça
e Pr
even
ção
da V
iolê
ncia
na
Am
éric
a La
tina
3A
Segu
ranç
a Cid
adã
em d
ebate
capa livro 3.pdf 1 27/11/2012 16:18:50