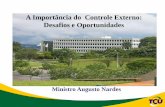Importância da toxicologia forense para resolução dos crimes ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Importância da toxicologia forense para resolução dos crimes ...
Importância da toxicologia forense para resolução dos crimes
contra a vida
Ana Paula Pereira de Almeida1 & Sheyla dos Santos Buckvieser*2
1Graduando do curso de Farmácia do Centro Universitário Campo Limpo Paulista (Unifaccamp) 2Docente do curso de Farmácia do Centro Universitário Campo Limpo Paulista (Unifaccamp)
*Rua Guatemala, 167 - Jardim América, Campo Limpo Paulista – São Paulo. E-mail: [email protected]
RESUMO
Toxicologia forense é a toxicologia a serviço da lei, ela é aplicada em
investigações criminais, e tem como finalidade detectar e/ou quantificar em
amostras biológicas antem mortem ou post mortem, substâncias nocivas ao
organismo. O presente trabalho tem por objetivo apresentar e esclarecer a
importância da toxicologia forense na elucidação dos crimes contra a vida,
selecionando as informações disponíveis na literatura, mostrando a importância
e abrangência deste departamento dentro da perícia criminal. Foi explorado as
principais matrizes biológicas para coleta e posterior análise, a importância do
transporte e armazenamento correto, como também, o fator crucial burocrático;
documentar toda e qualquer ação com os vestígios, desde sua coleta até sua
completa destruição, a cadeia de custódia é um documento do qual deve conter
detalhes de todo manuseio em ordem cronológica e identificação nominal das
pessoas envolvidas nos processos.
Palavras-chave: Toxicologia forense. Investigação Criminal. Ciências forenses.
ABSTRACT
Forensic toxicology is toxicology at the service of the law, it is applied in criminal
investigations, and its purpose is to detect and/or quantify in biological samples,
ante-mortem or post-mortem, substances that are harmful to the body. The
present work aims to present and clarify the importance of forensic toxicology in
the elucidation of crimes against life, selecting the information available in the
literature, showing the importance and scope of this department within the
criminal expertise. The main biological matrices were explored for collection and
subsequent analysis, the importance of correct transport and storage, as well as
the crucial bureaucratic factor; documenting any and all actions with the traces,
from their collection to their complete destruction, the chain of custody is a
document which must contain details of all handling in chronological order and
nominal identification of the people involved in the processes.
Keywords: Forensic toxicology. Criminal investigation. Forensic Sciences
4
1. INTRODUÇÃO
Em tempos antigos era muito comum mortes por envenamento, sem a
ciência para norteá-los era quase impossível comprovar um envenenamento por
meio de evidências cientificas. A toxicologia forense surgiu como ciência
somente a partir do século XIX com dois ilustres cientistas: Mathieu J. B. Orfila
e Jean Servais Stas. A partir daí, autópsias e métodos analíticos toxicológicos
se tornaram mais populares, a toxicologia forense evoluiu ao longo dos anos
juntamente com a tecnologia, possibilitando aos toxicologistas utilizar modernas
técnicas analíticas para identificar e quantificar substâncias para fins
criminalistas (DORTA et al 2018).
Como observado, desde os primórdios dos tempos a humanidade tinha
carência da toxicologia, a partir do Renascimento ela se torna crucial para a
resolução de crimes contra a vida (DORTA et al 2018). Ela tem por objetivo a
análise de amostras biológicas ante mortem e post mortem afim de identificar e
quantificar as drogas de abuso e terapêutica no organismo vivo. Tais substâncias
podem ter relevância crucial na conclusão de uma sentença, pois pode haver
correlação direta entre a droga e o fato ocorrido.
Por esta razão, todo o processo que envolva o trabalho do toxicologista
deve ser documentado na cadeia de custódia, deve conter detalhadamente todo
o manuseio com os vestígios e amostras biológicas, pois o resultado dessas
análises deve ser irrefutável, se seguidos todos os protocolos rigorosamente
(DINIS-OLIVEIRA et al 2010). No entanto, após a conclusão do laudo pericial,
as amostras devem ser armazenadas para contraprova.
5
2. METODOLOGIA
O presente estudo consiste em uma pesquisa bibliográfica da literatura, onde
foram utilizados artigos encontrados nas bases de dados Scielo, Medline, Lilacs
e Google acadêmico. A coleta de dados foi realizada no período de janeiro de
2021 a novembro de 2021. Somente artigos relacionados à toxicologia geral e
forense foram incluídos na pesquisa.
3. DESENVOLVIMENTO
3.1 Toxicologia forense
Uma vez constatado a presença de xenobióticos em investigações
criminais, a toxicologia forense se constitui em um determinante recurso na
elucidação dos fatos. A toxicologia é a ciência que estuda as consequências de
substâncias químicas em organismos vivos. A toxicologia forense utiliza desta
ciência em prol da justiça, é através dela que se pode averiguar a presença de
drogas e venenos naquele em que está sob investigação, pois pode haver
correlação entre o consumo de drogas e as circunstâncias da morte (PRITSCH,
2019).
A toxicologia forense também trabalha em situações em que o indivíduo
está vivo, desde que seja interesse forense buscar por substâncias químicas no
organismo do elemento. Exemplo desta aplicação é a utilização da Droga
Facilitadora de Crime (DFC) existem mais de 100 DFC’S, sendo a cetamina mais
empregada elas são administradas sem consentimento na vítima afim de
praticarem crimes como roubo, sequestro e estupro, isso porque a droga pode
6
alterar ou prejudicar o comportamento de uma pessoa, incapacitando sua
tomada de decisões, nesses casos é fundamental que a coleta de amostras
sejam feitas o mais breve possível, pois se trata de um fármaco de meia-vida
curto, com risco de perder a prova do crime (ADAMOWICZ, 2005).
3.2 Material biológico para análises toxicológicas pós-morte
Muitos materiais podem ser coletados para posterior análise, como a
urina, sangue, encéfalo, humor vítreo, conteúdo gástrico, coração, rim, bile, e em
casos de avançada decomposição, pode-se coletar cabelo, osso e tecido
muscular. Para cada material existe uma quantidade a ser coletada (tabela 1),
depende do que está sendo pesquisado e a causa mortis, pois pode ter envolvido
mais de uma substância, sendo necessário obter grandes quantidades e mais
de um tipo de material.
Tabela 1 — Materiais biológicos utilizados nas análises toxicológicas pós-morte
Material Biológico Quantidade
Encéfalo 50 gramas
Fígado 50 gramas
Rim 50 gramas
Sangue cardíaco 25 mililitros
Sangue periférico 10 mililitros
Humor vítreo Todo disponível
Bile Todo disponível
Urina Todo disponível
Conteúdo gástrico Todo disponível Fonte: SOFT/AAFS Forensic Laboratory Guidelines, 2006. [acessado em 10 de outubro de 2021].
7
3.3 Principais matrizes biológicas
Urina
A urina é de extrema importância biológica para os analistas toxicológicos,
pois apresenta maior concentração de metabólitos e menor número de
interferentes endógenos, sendo principalmente constituída por água, facilitando
a identificação de xenobióticos. No entanto, não é sempre possível a obtenção
da mesma, já que pode ocorrer micção após o momento da morte ou acidentes
com trauma, causando o rompimento da bexiga (OGA; CAMARGO;
BATISTUZZO, 2014).
Sangue
Em análises sanguíneas, é de maior interesse o sangue periférico, devem
ser obtidas através da punção das veias subclávia e/ou femoral, visto que,
nessas regiões a probabilidade de contaminação por propagação de outras
partes é menor. Contudo, não é sempre possível obter esta matriz divido ao
colabamento em casos de hemorragia e em casos de cadáveres putrefatos. A
alternativa é coletar sangue da cavidade cardíaca, sendo importante ressaltar
que nessa região pode haver maior concentração de analitos devido ao processo
de redistribuição pós-morte (OGA; CAMARGO; BATISTUZZO, 2014).
Humor vítreo
O humor vítreo é um gel transparente encontrado na cavidade posterior
do olho, preenchendo o espaço entre o cristalino e a retina. O líquido do vítreo é
bem protegido na maioria dos casos, mesmo os assassinos mais brutais
geralmente mantêm o olho intacto, ele mantém estável até após a degradação
do corpo após a morte. É encontrado em quantidades de 2,0-2,5ml, é composto
8
principalmente por água (99%), o restante por ácido hialurônico e siálico, ácido
ascórbico e láctico, glicose, alguns lipídios e outros componentes. Devido a sua
alta preservação, seu uso é indicado principalmente em análise de cadáveres
politraumatizados, carbonizados ou em estado de putrefação (OGA; CAMARGO;
BATISTUZZO, 2014).
Conteúdo estomacal
Importante amostra, principalmente em casos de intoxicação por via oral,
pois o estômago preserva a forma inalterada dos xenobióticos, além de ser
possível encontrar cápsulas e comprimidos em situações de superdosagem. Um
fato curioso é que o odor do conteúdo gástrico pode ser um forte indicador do
tipo de tóxico envolvido, o aroma de fruta pode indicar presença de etanol e
congéneres, o odor de xilol ou alho aponta a presença de inseticidas
organofosforados e o cheiro de amêndoa amarga sugere a intoxicação por
cianetos (CARVALHO et al, 2010).
Cabelo
O cabelo, historicamente, em conjunção com as unhas, é o mais eleito em
buscas de intoxicação por metais pesados como o chumbo, mercúrio e arsénio.
Isso se deve ao fato destes metais ligarem aos grupos sulfidrilo presentes nas
moléculas de cisteína (abundante no cabelo e unhas), formando ligações
covalentes. O cabelo também é utilizado em análises de uso crônico de drogas
de abuso ou terapêutica (RANGEL, 2004).
9
3.4 Coleta e conservação das amostras
A coleta e a preservação da amostra dependem de uma sucessão de
condições que se relacionam com a natureza, integridade da amostra sujeitada
à análise, tipo de investigação (antemortem e post-mortem), facilidade de coleta,
e, as considerações analíticas e de ensaio juntamente com a interpretação dos
resultados. Desafios específicos podem surgir dependendo da amostra
escolhida, como por exemplo, nos casos post mortem as alterações que as
amostras sofrem nos processos de autólise, redistribuição e putrefação podem
incluir dificuldades adicionais no uso dessas matrizes (MILLO et al, 2008).
Tendo em vista o impacto da coleta adequada nas análises toxicológicas,
cabe enfatizar a importância de que a coleta in vivo seja feita antes da realização
das medidas terapêuticas durante atendimento hospitalar, se houver. Nos casos
post-mortem, a autópsia deve ser realizada o quanto antes afim de evitar avarias
nas análises. Ou então, é recomendado, que o cadáver seja submetido a
refrigeração controlada para a preservação do mesmo (SOUZA, J. M.;
QUEIROZ, P. R. M. 2012)
No local do crime é possível encontrar vestígios de diversas formas, em
especial o sangue, que pode ser coletado na forma líquida, coagulada, úmida ou
seca, principalmente em casos de agressão corporal (homicídios e/ou lesão
corporal). O sangue deverá ser coletado de acordo com sua forma e localização,
se estiver na forma líquida, poderá ser recolhido por uma seringa ou pipeta e
imediatamente transferido para um tubo de coleta sanguínea com conservantes,
com ou sem anticoagulante, a depender da substância suspeita para ser
analisada. O anticoagulante pode causar interferências em alguns casos, como
10
a heparina que pode interagir com alguns fármacos e o EDTA, que é agente
complexante, não sendo indicado em análises suspeitas de metais ou
compostos organometálicos (PAWLISZYN, J. 2002)
Durante a autopsia, a urina poderá ser coletada pela punção da bexiga
com seringa, no entanto, em local de crime, a urina poderá ser encontrada líquida
ou em forma de mancha. Na forma líquida utiliza-se uma seringa ou pipeta para
transferir o líquido para um tubo estéril. Em forma de mancha deve ser levado
como um todo ao laboratório, ou em partes dentro de um envelope, afim de evitar
contaminações (SOUZA, J. M.; QUEIROZ, P. R. M. 2012).
Em caso de autópsia, o estômago deve coletado e amarrado as
extremidades cárdia e piloro para evitar o vazamento do seu conteúdo. E caso
houver, o conteúdo deve coletado, como também odores deverão ser anotados
e informados ao toxicologista analítico (OGA; CAMARGO; BATISTUZZO, 2014).
O humor vítreo é coletado dos dois olhos, em um ângulo de 45º com
seringa e transferido para um tubo estéril, e para a preservação da aparência do
corpo, é necessário preencher essas cavidades com água.
As mostras descritas deverão ser mantidas sob refrigeração a 4ºC até a
chegada no laboratório, após sua abertura, descrição e pesagem serão
armazenadas sob congelamento a -20ºC (OGA; CAMARGO; BATISTUZZO,
2014).
3.5 Cadeia de custódia
A cadeia de custódia tem a finalidade de fornecer segurança técnica e
legal referente aos vestígios da cena do crime. Portanto, é uma documentação
11
que o laboratório mantém com o intuito de rastrear todos os procedimentos
realizados com cada amostra, desde sua coleta, identificação,
acondicionanmento, manuseio, transporte, recebimento, armazenamento, sua
análise, armazenamento de contraprova, até sua completa destruição
(CARVALHO, 2016)
Neste documento, a equipe técnica responsável deve documentar
detalhadamente cada processo cronologicamente, além de identificar todos que
manusearam, bem como o tempo de cada manuseio e sua razão.
Todas as fases devem seguir um rigoroso protocolo afim de que não haja
brecha para contestações, embora a mesma passará por um armazenamento
de contraprova, pois, o Código Penal Brasileiro garante o princípio constitucional
da contraprova e da ampla defesa do acusado. É importante destacar que a
identificação dos profissionais envolvidos no processo juntamente com suas
responsabilidades com implicações leais e também morais (PARISE, R.F.;
ARTEIRO, R.L., 2009), tendo em consideração que o julgamento de vítimas e
réus proveem do resultado do laudo pericial.
3.6 Laudo pericial toxicológico
No laudo pericial toxicológico deve conter informações fundamentais para
a resolução da investigação. Deve possuir a identificação do processo e da
instituição solicitante, o método analítico empregado, os detalhes do transporte,
como a data e hora de chegada ao laboratório e a data e hora da finalização das
análises, também deve ser identificado todos os responsáveis pelos manuseios
12
das amostras, níveis de detecção e quantificação das substâncias analisadas,
bem como suas descrições (PARISE, R.F.; ARTEIRO, R.L., 2009).
O toxicologista deverá acrescentar toda e qualquer informação que
considerar relevante no laudo, além de concluir, adicionar eventual interpretação
dos resultados (PARISE, R.F.; ARTEIRO, R.L., 2009).
De acordo com o artigo 160 do Código de Processo Penal (Decreto Lei nº
3.689 de 03 de Outubro de 1941), o perito é encarregado pela construção do
laudo, no qual detalhará o vestígio que foi analisado. No laudo deve conter o
nome do toxicologista e o objetivo da perícia, sendo a primeira parte conhecida
como preâmbulo, em seguida é elaborada a exposição, nesse estágio os
responsáveis irão descrever minuciosamente tudo aquilo que foi objeto da
perícia; logo após realiza-se uma discussão em que o Perito analisará os
detalhes do exame argumentando a respeito, formulando assim suas
resoluções; por último é feito a conclusão com os quesitos formulados pelas
partes devidamente preenchidos. (PARISE, R.F.; ARTEIRO, R.L., 2009).
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A toxicologia forense é definida como a aplicação da toxicologia para os
propósitos da lei. É de extrema importância para elucidação dos crimes contra a
vida, quando houver suspeitas de drogas de abuso, uso terapêutico ou crônico.
As amostras deverão ser coletadas de acordo com sua disponibilidade,
visto que são encontradas de muitas maneiras no local de crime, como também
é indispensável o meio de conservação durante o transporte, por isso as
amostras devem ser armazenadas e refrigeradas conforme suas necessidades.
13
É de extrema importância cada processo dentro do laboratório, pois os
resultados gerados pelas análises devem ser inequívocos e, o laudo, irrefutável.
Por esta razão existem protocolos a serem seguidos, desde a coleta das
amostras biológicas até o descarte, sendo cada processo documentado
minuciosamente e em ordem cronológica na cadeia de custódia.
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ADAMOWICZ, Piotr; KALA, Maria. Urinary Excretion Rates of Ketamine and Norketamine Following Therapeutic Ketamine Administration: Method and Detection Window Considerations. Journal Of Analytical Toxicology, [s.l.], v. 29. 2005. Universidade de Oxford. ALVES, S.R. Toxicologia forense e saúde pública: desenvolvimento e avaliação de um sistema de informações como ferramenta para a vigilância de agravos decorrentes da utilização de substâncias químicas. 2005. 132p. Tese de doutorado (Escola Nacional de Saúde Pública) - Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro. BENFICA, F.S.; VAZ, M.; ROVINSKI, M.; COSTA, M.S.T.B. Rotinas do Departamento Médico Legal do Estado do Rio Grande do Sul, Instituto
Médico Legal do Rio Grande do Sul, 2004. CARVALHO, F.; DUARTE, J. A.; REMIÃO, F.; MARQUES, A.; SANTOS, A. Collection of biological samples in forensic toxicology. Toxicology
Mechanisms and Methods. Universidade do Porto. 2010. CARVALHO, J.L. Cadeia de Custódia e sua Relevância na Persecução Penal. Brazilian Journal of Forensic Sciences, Medical Law and Bioethics, v. 5. 2016. DOLAN, K.; ROUEN, D.; KIMBER, J.O. An overview of the use of urine, hair,sweat and saliva to detect drug use. Drug and Alcohol Review, v. 23. 2004. DORTA, D.J.; YONAMINE, M.; COSTA, J.L.; MARTINIS, B.S. Toxicologia Forense. 1. ed. São Paulo: Blucher, 2018. FRANCO, J. M. Recomendações para a colheita e acondicionamento de amostras em toxicologia forense. [Internet]. 2013. Disponível em:
http://www.inml.mj.pt/wdinmlWebsite/Data/file/OutrasInformacoes/PareceresOri
14
entacoesServico/Normas/NP-INMLCF-009-Rev01.pdf. [acessado em 20 de julho de 2021]. FUKISHIMA, A.R.; AZEVEDO, F.A. História da Toxicologia. Parte I – breve panorama brasileiro. Revista Intertox de Toxicologia, Risco Ambiental e Sociedade, v.1. 2008. MARIA, C.; CANOVA, L.; CAPRUCHO, R.; RIBEIRO NETO, L. A atuação do farmacêutico na toxicologia. In: IV Simpósio Ciências Farmacêuticas, São
Paulo, 2015. MILLO, T.; JAISWA, A.K.; BEHERA, C. Collection, preservation and forwarding of biolgical samples for toxicological analysis in medicolegal autopsy cases: A review. Journal of Indian Academy of Forensic Medicine, v.30. 2008. MOREAU, R. Fundamentos de Toxicologia. 4.ed. São Paulo: Atheneu, 2014.
OGA, Seizi; CAMARGO, Márcia Maria de A.; BATISTUZZO, José Antonio de O. Fundamentos de Toxicologia. 4. ed. São Paulo: Atheneu, 2014. PARISE, R.F.; ARTEIRO, R.L. Prova pericial na persecução penal e o princípio do contraditório. Revista Intertemas, v. 5. 2009.
Pawliszyn, J. Sampling and Sample Preparation for Field and Laboratory:
Fundamentals and New Directions in Sample Preparation. Amsterdan: Elsevier. 2002. PRITSCH, I. Z. Toxicologia forense: o estudo dos agentes tóxicos nas ciências forenses. 2019. Artigo (pós graduação em perícia criminal) – instituto de pós-graduação e graduação (IPOG), Curitiba – PR, 2019. RANGEL, R. Toxicologia. Toxicologia Forense. Noções gerais sobre outras ciências forenses. Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. 2004. SOUZA, J. M.; QUEIROZ, P. R. M. Coleta e preservação de vestígios biológicos para análises criminais por DNA. Ensaios e Ciência: Ciências
Biológicas, Agrárias e da Saúde, v. 16. 2012. Universidade Anhanguera. Campo Grande, Brasil.