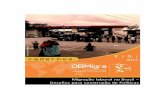Avaliação da biodiversidade na florestal de Potone e Topuiat
IMPACTO DA LEGISLAÇÃO FLORESTAL BRASILEIRA SOBRE OS CUSTOS DO AGRONEGÓCIO: ESTUDO DE CASO DE UMA...
Transcript of IMPACTO DA LEGISLAÇÃO FLORESTAL BRASILEIRA SOBRE OS CUSTOS DO AGRONEGÓCIO: ESTUDO DE CASO DE UMA...
FREDERICO FAVACHO
IMPACTO DA LEGISLAÇÃO FLORESTAL BRASILEIRA SOBRE OS CUSTOS DOAGRONEGÓCIO:
ESTUDO DE CASO DE UMA EMPRESA DE CAFÉ
ORIENTADOR: Prof. Evandro Faulin
FREDERICO FAVACHO
IMPACTO DA LEGISLAÇÃO FLORESTAL BRASILEIRA SOBRE OS CUSTOS DOAGRONEGÓCIO:
ESTUDO DE CASO DE UMA EMPRESA DE CAFÉ
Trabalho apresentado ao curso MBA em Gestão Estratégica doAgronegócio, Pós-Graduação lato sensu, Nível de Especialização.
Programa FGV Management
Campinas
Setembro/2011
FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
PROGRAMA FGV MANAGEMENT
MBA EM GESTÃO ESTRATÉGICA DO AGRONEGÓCIO
O Trabalho de Conclusão de Curso
IMPACTO DA LEGISLAÇÃO FLORESTAL BRASILEIRA SOBRE OS CUSTOS DOAGRONEGÓCIO: ESTUDO DE CASO DE UMA EMPRESA DE CAFÉ
elaborado por Frederico Guilherme dos Santos Coutinho Favacho eaprovado pela Coordenação Acadêmica do curso de MBA em GestãoEstratégica do Agronegócio, foi aceito como requisito parcial para aobtenção do certificado do curso de pós-graduação, nível deespecialização do Programa FGV Management.
Data:
___________________________________
Roberto Perosa Jr.
TERMO DE COMPROMISSO
O aluno Frederico Guilherme dos Santos Coutinho Favacho,abaixo assinado, do curso de MBA em Gestão Estratégica doAgronegócio, Turma II do Programa FGV Management, realizadonas dependências da IBE Business Education - Campinas, noperíodo de 07/11/09 a 07/05/11, declara que o conteúdo doTrabalho de Conclusão de Curso intitulado IMPACTO DALEGISLAÇÃO FLORESTAL BRASILEIRA SOBRE OS CUSTOS DOAGRONEGÓCIO: ESTUDO DE CASO DE UMA EMPRESA DE CAFÉ, éautêntico, original e de sua autoria exclusiva.
Campinas, 12 de setembro de 2011
_____________________________
AGRADECIMENTOS
Agradeço a Eduardo Tassinari e em seu nome todos os diretores da
empresa Ipanema Coffees S.A. que gentilmente forneceram os dados
para o estudo de caso. Meus agradecimentos também aos meus sócios
Regina Mara Massarente e Francisco Roberto da Silva Jr. pelo apoio e
suporte durante todo o período do curso do MBA.
“Há cerca de 20 anos, fiz uma viagem àSuécia para conhecer seu cooperativismoe sua agricultura, atividade difícil, emfunção do clima, que impõe apenas seisou sete meses por ano para as operações,do plantio à colheita. Quase todas asfazendas possuíam uma pequena áreaflorestada. Quando começava a nevar, jáem novembro, o agricultor ia até suamata, cortava um certo número deárvores, as removia para a sede e passavao inverno trabalhando na madeira,serrando, aparando, fazendo tábuas,vigotas, peças para móveis etc. Quando aprimavera dava seis primeiros sinais, elevendia a madeira preparada e plantava,na mata, o mesmo número de árvores quehavia cortado. Interessado nesse trabalho,perguntei a um fazendeiro quemfiscalizava isso. E ele, estranhando apergunta, respondeu: ‘Fiscalizar o que?’Respondi imediatamente, ‘quemfiscalizava o fato de ele repor as árvoresque tinha cortado?’ No mesmo instante,me dei conta da estupidez da pergunta eda distância oceânica que nos separavaculturalmente”.
Roberto Rodrigues. LucrosAmbientais. Folha de São Paulo,março de 2008 in Depois daTormenta, pág. 214.
RESUMO
Inegável é o sucesso do agronegócio brasileiro seja em razão de suaprodutividade, seja em razão do volume das exportações, seja emrelação à sua participação no PIB brasileiro. O Brasil segue, assim,atendendo à crescente demanda mundial por alimentos e agroenergia. Eo mundo demanda e demandará ainda mais alimentos. Relatório daOrganização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação – FAOalerta que é preciso aumentar a produção mundial de alimentos em 70%nos próximos 40 anos para erradicar a fome no planeta e que aoBrasil caberia responder por 40% deste crescimento. Ocorre que, aomesmo tempo, aumenta na sociedade mundial a consciência de que osrecursos naturais devem ser manejados de maneira sustentável,garantindo-se o direito das futuras gerações a um meio ambientesaudável. Esta preocupação, a chamada questão ecológica, acaba porjustificar a intervenção estatal para o controle do uso dos recursosnaturais e do direito de propriedade privada sobre estes recursos.Exemplo disto é o código florestal brasileiro e as regras delimitação de uso e exploração econômica das propriedades privadasnas áreas designadas por lei de preservação permanente (APP) e nasáreas de reserva legal (RL). Ao regular a criação de APP e RL, noentanto, a legislação florestal brasileira acaba transferindopraticamente de forma exclusiva ao produtor o ônus da conservação domeio ambiente ainda que os benefícios difundidos sejam para toda asociedade. Neste trabalho se demonstra qual o impacto nos custos daprodução que esta legislação traz ao agronegócio, tomando-se comoexemplo e caso de estudo uma empresa do setor de café, para seconcluir a necessidade de revisão do código florestal brasileiro e acriação de formas de participação de toda a sociedade sobre o ônusda conservação das florestas.
Palavras-chave: Código Florestal, Florestas, APP, Área de ProteçãoPermanente, Reserva Legal, Ecologia, Custos de Produção, Café,Serviços Ambientais.
ABSTRACT
It is undeniable the success of the Brazilian agribusiness whetherbecause of their productivity, whether due to the volume of exports,whether in relation to their participation in the Brazilian GDP.Brazil follows, therefore, attending to the growing worldwide demandfor food and bioenergy. And the world demand and require morefood. Report of the United Nations Food and AgricultureOrganization-FAO warns that we must increase world food productionby 70% over the next 40 years to eradicate hunger in the world andthat it would be up to Brazil account for 40% of thisgrowth. Nevetheless, at the same time, increases in world societythe awareness that natural resources should be managed in asustainable manner, ensuring the right of future generations to ahealthy environment. This concern, called the ecological question,justifies state intervention to control the use of natural resourcesand private property rights over these resources. An example is theBrazilian Forest Code and the rules limiting the use and economicexploitation of private property in areas designated by law forpermanent preservation (APP) and in the areas of Legal Reserve(RL). By regulating the creation of APP and RL, however, theBrazilian forest legislation has just transferred almost exclusivelyto the producer the burden of conservation of the environment whichbenefits are diffused throughout society. This work demonstrates thecost impact this legislation raises upon Brazilian agribusiness,taking as an example and case study a company of the coffee sector,to conclude for the need to complete the review of Brazil's ForestCode and the creation of forms of participation of the whole societyon the burden of forest conservation.
Keywords: Forest Code, Forest, APP, Permanent Protection Area,Reserve, ecology, production costs, Coffee, Environmental Services
LISTA DE TABELAS
Tabela 1. Alcance Territorial das Unidades de Conservação, Terras Indígenas e Reserva Legal. Disponibilidade de Terras Legalmente Agricultáveis.....................................................45
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
ABAG – Associação Brasileira do Agronegócio
ABIOVE – Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais
AM - Amazonas
ANEC - Associação Brasileira dos Exportadores de Cereais
AP - Amapá
APP – Área de Preservação Permanente
BA - Bahia
CAR - Cadastro Ambiental Rural
CF – Constituição Federal
CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente
COP - Conferência das Partes da Convenção do Clima das
Nações Unidas
EMBRAPA – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
ES – Espírito Santo
FAO - Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação
GO - Goiás
IBAMA - Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis
IN – Instrução Normativa
INCRA – Instituto Nacional de Colonização Reforma Agrária
LULUCF – Land Use, Land-Use Change Forestry. Uso Da Terra, Mudança De Uso
Da Terra E Florestas
MA - Maranhão
MAPA – Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento
MDL – Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
MG – Minas Gerais
MMA – Ministério do Meio Ambiente
MP – Medida Provisória
MS – Mato Grosso do sul
PA – Pará
PAC – Programa de Aceleração do Crescimento
PE - Pernambuco
PIB – Produto Interno Bruto
PR - Paraná
PRA - Programa de Regularização Ambiental
REC – Redução de Emissões Certificadas
RJ - Rio de Janeiro
RL – Reserva Legal
RS – Rio Grande do Sul
S.A. – Sociedade Anônima
SC – Santa Catarina
SE - Sergipe
SP – São Paulo
TI – Terras Indígenas
TNC – The Nature Conservancy
TO - Tocantins
UC – Unidade de Conservação
UPA – Unidade de Produção Agrária
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO.....................................................162. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL - INTERVENÇÃO ESTATAL, DIREITO E PROTEÇÃO DOMEIO-AMBIENTE.....................................................203. PROTEÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL – CÓDIGO FLORESTAL................26
4. O IMPACTO ECONÔMICO DO CÓDIGO FLORESTAL – VISÃO GERAL..........385. O IMPACTO ECONÔMICO DO CÓDIGO FLORESTAL – UMA VISÃO ESPECÍFICA A PARTIR DE UM ESTUDO DE CASO.......................................566. CONCLUSÕES.....................................................69
REFERÊNCIAS.......................................................70APÊNDICES.........................................................74
ANEXOS............................................................80
19
1 INTRODUÇÃO
Inegável é o sucesso do agronegócio brasileiro seja em
razão de sua produtividade, seja em razão do volume das
exportações, seja em relação à sua participação no PIB
brasileiro. O Brasil segue, assim, atendendo à crescente
demanda mundial por alimentos e agroenergia. E o mundo
demanda e demandará ainda mais alimentos. Relatório da
Organização das Nações Unidas para a Agricultura e
Alimentação – FAO alerta que é preciso aumentar a produção
mundial de alimentos em 70% nos próximos 40 anos para
erradicar a fome no planeta e que ao Brasil caberia
responder por 40% deste crescimento. Ocorre que, ao mesmo
tempo, aumenta na sociedade mundial a consciência de que os
recursos naturais devem ser manejados de maneira
sustentável, garantindo-se o direito das futuras gerações a
um meio ambiente saudável. Esta preocupação, a chamada
questão ecológica, acaba por justificar a intervenção estatal
para o controle do uso dos recursos naturais e do direito
de propriedade privada sobre estes recursos. Exemplo disto
é o código florestal brasileiro e as regras de limitação de
uso e exploração econômica das propriedades privadas nas
áreas designadas por lei de preservação permanente (APP) e
nas áreas de reserva legal (RL). Ao regular a criação de
APP e RL, no entanto, a legislação florestal brasileira
acaba transferindo praticamente de forma exclusiva ao
produtor o ônus da conservação do meio ambiente ainda que
20
os benefícios difundidos sejam para toda a sociedade. Este
ônus se traduz em custo para o produtor, seja ele direto,
com a recomposição da cobertura vegetal dessas áreas, com
investimento em novas terras para destiná-las à composição
da reserva legal, com as despesas de cartório para registro
e averbação dessas áreas, seja indireto, o chamado custo de
oportunidade medido, por exemplo, a partir do volume que o
produtor deixará de produzir naquelas áreas. Por outro
lado, as alternativas oferecidas ao produtor de
aproveitamento econômico das APPs e das áreas de RL,
basicamente o manejo florestal e os projetos de MDL para
fins de comercialização de crédito de carbono, quando
exeqüíveis, não conseguem compensar os custos
experimentados por ele inicialmente. Neste trabalho se
demonstra qual o impacto nos custos da produção que esta
legislação traz ao agronegócio, tomando-se como exemplo e
caso de estudo uma empresa do setor de café, para se
concluir a necessidade de revisão do código florestal
brasileiro e a criação de formas de participação de toda a
sociedade sobre o ônus da conservação das florestas.
1.1 Objetivos
Constitui objetivo geral deste trabalho demonstrar em que
medida o atendimento às regras da legislação florestal
brasileira impacta nos custos da produção agropecuária,
especificamente tomando-se por base o estudo de caso de uma
empresa produtora de café na região sul de Minas Gerais,
entendendo-se que esta empresa, por suas características
21
próprias, pode representar, para fins deste trabalho, um meio
termo entre os pequenos e os grandes produtores agropecuários,
(assim considerados em razão da extensão de suas propriedades
rurais próprias).
Os objetivos específicos são:
a) levantar o marco regulatório florestal brasileiro, sua
origem, evolução histórica e estágio atual.
b) a partir do marco regulatório florestal identificar
quais são os principais deveres e obrigações dos produtores em
relação à preservação da cobertura vegetal nativa
c) verificar e apontar de que forma aqueles deveres e
obrigações se traduzem em novos e específicos custos para a
produção.
1.2 Procedimentos Metodológicos
Parte-se da pesquisa bibliográfica e levantamento dos
textos legais vigentes e dos que lhe antecederam historicamente
para fixar-se o ambiente ontológico e jurídico de justificação e
legitimidade das regras de preservação florestal.
Definido este marco jurídico busca-se, junto a referências
bibliográficas e, principalmente, trabalhos similares anteriores
de outros pesquisadores, uma base econômica para a proposta
análise dos impactos da legislação florestal brasileira sobre os
custos do agronegócio.
Determinadas as premissas básicas a serem utilizadas neste
trabalho utilizam-se as respostas fornecidas pela empresa
escolhida como estudo de caso para verificar-se, na prática
22
daquela empresa, os pressupostos levantados na primeira parte
deste trabalho.
Esclareça-se que a pesquisa junto à empresa Ipanema Coffees
foi realizada à distância, por meio do envio de questionário a
seus representantes (v. APÊNDICE) com 16 perguntas que buscavam
abranger as hipóteses levantadas pela primeira parte do
trabalho.
As perguntas foram elaboradas para serem objetivas, mas
abertas o bastante para a empresa, na medida de seu conforto,
fornecer informações mais detalhadas.
A resposta também foi encaminhada por escrito e, embora
pudessem ser exploradas em novas perguntas, optou-se por
preservar a empresa em relação a informações que se entendeu
estratégicas.
Ao final, as respostas gentilmente fornecidas pela empresa
são suficientes para o objetivo deste trabalho e traduzem em
números claros os custos suportados por ela para ficar compliance
com a legislação florestal brasileira.
1.3 Estrutura do trabalho
Este trabalho está esquematizado da seguinte forma:
O capítulo 2, a seguir, apresenta os antecedentes lógico-
jurídicos da formulação de políticas de preservação do meio-
ambiente, sem a pretensão, no entanto, de esgotar o assunto ou
transformar este trabalho de conclusão de curso de MBA em um
trabalho essencialmente jurisfilosófico.
23
O terceiro capítulo apresenta o marco regulatório florestal
brasileiro, a legislação precedente e o atual Código Florestal,
com suas principais disposições, especialmente a configuração do
conceito legal de Área de Preservação Permanente e de Reserva
Legal.
No capítulo 4 busca-se estabelecer os pressupostos
econômicos para a análise do estudo de caso que se apresenta no
capítulo seguinte. Em especial, a referência ao custo de
oportunidade e ao trabalho seminal da Dra. Maria do Carmo
Fasiaben.
O capítulo 5 consiste na apresentação do caso da empresa
pesquisada e a análise das respostas por ela fornecidas. Neste
capitulo é possível se ter a exata dimensão do impacto da
legislação florestal brasileira no negócio da empresa graças aos
números por ela informados.
Por fim, nas considerações finais faz-se o fechamento do
trabalho com as conclusões deste autor e as recomendações que o
trabalho sugere.
24
2. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL - INTERVENÇÃO ESTATAL, DIREITOE PROTEÇÃO DO MEIO-AMBIENTE
É inegável o sucesso do agronegócio brasileiro seja em
volume de produção, em valores finais de exportações, em
participação no PIB, seja em produtividade por hectare. A
pujança do agronegócio brasileiro, sua capacidade de
crescimento para alimentar o mundo, aliada à quantidade de
terras agricultáveis disponíveis e seu regime de chuvas e
recursos hídricos, é a tábua de salvação para todos aqueles
preocupados com as previsões da FAO1 em relação às
projeções de fome no mundo e com as cantilenas dos
neomalthusianos. A importante publicação inglesa The
Economist, dedicou ao Brasil e ao seu agronegócio, com
destaque, duas reportagens que tiveram grande repercussão:Brazilian agriculture: The miracle of the cerrado. Brazil has revolutionised its own
farms. Can it do the same for others? e Brazil's agricultural miracle. How to feed the
1 Se calcula que la producción agrícola tendrá que aumentar en un 70 %de aquí al 2050 para alimentar a una población mundial que se prevéque superará los 9 000 millones de personas para entonces.Simultáneamente, será preciso adoptar medidas para garantizar a todaslas personas acceso ―físico, social y económico― a alimentossuficientes, inocuos y nutritivos, con especial atención a dar plenoacceso a las mujeres y los niños. Los alimentos no deberían emplearsecomo instrumento de presión política y económica. Reafirmamos laimportancia de la cooperación y la solidaridad internacionales, asícomo la necesidad de abstenerse de adoptar medidas unilaterales que nosean acordes con el Derecho internacional y la Carta de las NacionesUnidas y que pongan en peligro la seguridad alimentaria. Abogamos afavor de mercados abiertos, pues son un elemento esencial de larespuesta a la cuestión de la seguridad alimentaria mundial.(Declaración de la cumbre mundial sobre la seguridad alimentaria.Disponível em ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/Meeting/018/k6050s.pdf)
25
world. The emerging conventional wisdom about world farming is gloomy. There is an
alternative.
Ao mesmo tempo em que o sucesso do agronegócio
brasileiro gera tantos comentários positivos, e talvez por
isso mesmo, é cada vez mais atacado e acusado de ser fonte
e razão do desmatamento da cobertura florestal nativa
brasileira e, por conseqüência, responsável, em parte, pelo
aquecimento global.
A crescente preocupação com as questões ambientais,
com o desenvolvimento sustentável, com os chamado direitos
intergeracionais é um fato e uma realidade inegavelmente
importante e necessária. Em muitos aspectos, no entanto,
tal preocupação desemboca em uma nova ideologia, uma nova
utopia escolhida a dedo para substituir o sonho da
sociedade igualitária e socialista. Por esta razão,
assistimos muitas vezes a debates aguerridos, fundados
muito mais em argumentos emocionais e ideológicos nos quais
os produtores são geralmente colocados na berlinda ou à
margem, quando não postos como os grandes vilões de uma
sociedade que segue em ritmo acelerado de consumo e de
esgotamento dos recursos naturais disponíveis.
Convenientemente nessas horas aqueles que empunham as
bandeiras do respeito ao meio-ambiente esquecem-se que o
triple botton line da sustentabilidade também se apóia no
desenvolvimento econômico dos povos2.
2 Nesse sentido, emblemático o conteúdo do Princípio nº 1 daConferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento(Cnumad): “os seres humanos constituem o centro das preocupaçõesrelacionadas ao meio ambiente. Têm direito a uma vida saudável e
26
É fato que a destruição da vegetação natural é
apontada como a principal fonte de emissão de CO2 no Brasil
fazendo com que o país ocupe a 18ª posição entre os maiores
emissores no mundo3. Todavia, é inegável que a agricultura
brasileira passou por verdadeiras revoluções tecnológicas e
gerenciais. As práticas produtivas perderam suas
características de força exploratória e de ocupação de
espaço. Boas práticas agrícolas passaram a incorporar
conceitos de sustentabilidade, como equilíbrio ambiental e
responsabilidade social (DOSSA). Dentre as principais
contribuições do agronegócio brasileiro na luta contra o
efeito estufa destacam-se: 1. O sistema de plantio direto
na palha em mais de 25 milhões de hectares4; 2. Consórcio
de anuais e florestais: Teka, Pinus, Eucalipto5, 3. Integração
lavoura-pecuária; 4. Manejo intensivo das pastagens na
produção pecuária; 5. Investimentos na produção de etanol
de cana-de-açúcar (cf. Paulo Moutinho. Iniciativas
nacionais in Especial ABAG. Agroanalysis vol 30, nº 1, jan.
2010, pág. 32)
Além disso, o setor do agronegócio, em acordo ou mesmo
com a participação de organizações não governamentais
ambientalistas, firmaram projetos, ações e pactos com
vistas à preservação do meio-ambiente. A Associação dos
Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso (Aprossoja/MT),
produtiva em harmonia com a natureza”.3 88ª posição se considerarmos a emissão per capita, 96ª se considerarmospor quilômetro quadrado e, finalmente, 114ª posição se considerarmos arelação com o PIB.4 500kg/há/ano – 1 de carbono recuperado. 12,5 milhões de toneladas decarbono.5 2,5 toneladas de CO2 por há por ano.
27
por exemplo, lançou, em 2009, em parceria com o governo
daquele estado e com a The Nature Conservancy (TNC) uma
cartilha intitulada Área de Preservação Permanente – Como
preservar?, dentro do projeto Soja Mais Verde, desenvolvido
por aquela entidade. Em 24 de julho de 2006, a ABIOVE -
Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais e a
ANEC - Associação Brasileira dos Exportadores de Cereais e
suas respectivas associadas se comprometeram a não
comercializar nenhuma soja, oriunda de áreas que forem
desflorestadas, após aquela data, dentro do Bioma Amazônia,
em uma iniciativa inédita, que ficou conhecida como
"Moratória da Soja". O mesmo aconteceu na pecuária, com a
iniciativa da “Moratória da Carne”, assinada em 2009 pelos
três maiores frigoríficos brasileiros, Marfrig, Bertin e
JBS.
Como já apontou em inúmeras ocasiões o ex-ministro
Roberto Rodrigues “O Agricultor é o maior interessado na
preservação dos recursos naturais, pois, se ele não
conservar o seu solo, se não combater a erosão, se não
adubar corretamente, se não cuidar da cobertura vegetal
ciliar, ele acabará perdendo seu próprio patrimônio, seu
meio de via, a herança que deixará aos filhos e netos.
Portanto, o produtor rural é naturalmente um
preservacionista” (cf. Um Novo Código Florestal, in
Especial Código Florestal, Agroanalysis vol. 29, nº 06, jun
2009).
De toda forma, identificada na sociedade a preocupação
com a preservação do meio ambiente para as gerações futuras
28
(preocupação válida e justa), a chamada “questão
ecológica”, é ela capturada pela agenda política dos
Estados e traduzidas em diferentes meios de controle ou de
tentativa de controle via intervenção estatal “destinadas a
reequilibrar o que é compreendido como uma ruptura do
sistema de justiça, uma ruptura de relacionamento entre as
gerações presentes e as futuras” (GARCIA, pág. 369).
Não é simples, todavia, esta pretendida intervenção
estatal. Em primeiro lugar, em razão do muito que os
cientistas ignoram, a intervenção considerada ‘necessária’
nada terá, por isso, de evidente ou indiscutível. Será
sempre uma intervenção acompanhada de incertezas e dúvidas,
quer quanto às melhores propostas de solução, quer quanto
às exatas conseqüências futuras de cada intervenção, em
virtude da rede de interações não previsíveis em que se
insere. Em segundo lugar, o pensamento teórico dos peritos
é insuficiente se não se entrelaçar com o conhecimento e a
experiência do local, que a vivência das situações e a
proximidade dos fenômenos permitem. Em terceiro lugar, a
legitimação da intervenção política, no quando da
ignorância e incerteza, acarreta particulares problemas. Na
verdade, o tempo curto da ação adequada ao controle da
‘questão ecológica’ é exigido pela compreensão do sentimento
de justiça que a acompanha e se traduz numa específica
intencionalidade: a manutenção da vida no longo prazo”
(GARCIA, pág. 369).
Por outro lado a ‘questão ecológica’ é, antes de tudo,
uma questão cultural a exigir respostas tecno-econômicos.
29
Tome-se como exemplo o problema do aquecimento global e do
efeito estufa motivado pela emissão de grandes quantidades
de gás carbônico para a atmosfera. As propostas de solução
são propostas que se integram em sistemas de
‘descarbonização’ do crescimento a exigir uma mudança de
paradigmas tecnológicos e culturais, mais do que uma
solução jurídica. Tudo se passa no domínio científico e
técnico, a que acresce o de eficiência econômica, quanto os
custos da ação intervêm. Torna-se, no entanto, um problema
para o direito a partir do momento em que adquire
conotações éticas e, por essa via, se esboça uma
responsabilidade ecológica, i.e., quando se conscientiza
que o futuro da humanidade se apresenta crítico por força
daquelas realidades. Por outras palavras, torna-se jurídico
quando a comunidade reconhece que a sua ação presente põe
em risco a sobrevivência do homem e, por isso, é uma ação
injusta, porque nada justifica que a vida da geração
presente tenha mais valia do que a vida das gerações
futuras. Detectada a injustiça, compete à comunidade
reconhecer as conseqüências dessa injustiça e alterar a
forma de agir”. (GARCIA, pág. 395).
Por isso mesmo é fundamental ter-se em mente que a
proteção jurídica do meio ambiente não pode ser tratada
como um fim em si mesma, como se pudesse estar apartada dos
impactos sociais e econômicos que acarretem no
desenvolvimento de atividades humanas. É dizer, mesmo
quando estiver disciplinando a utilização e proteção de
recursos naturais, a legislação deve ter como objetivo
30
final a busca da promoção de “desenvolvimento sustentável”
o que também pressupõe a necessidade de se garantir um meio
ambiente socialmente justo e economicamente viável. A
inevitável vinculação da denominada legislação ambiental a
aspectos sociais e econômicos também se revela quando se
tem em mente que a “dignidade da pessoa humana”, os
“valores sociais do trabalho e da livre iniciativa”, o
“desenvolvimento nacional”, a “erradicação da pobreza e da
marginalidade”, além da “redução das desigualdades sociais
e regionais” foram expressamente indicados como fundamentos
e objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil
nos artigos 1º e 3º da sua Constituição Federal de 1988
(cf. Leonardo Papp – O impacto da legislação ambiental.
Premissas para revisão e atualização in Agroanalisys vol 29,
nº 07, pág. 26).
No Brasil o grande desafio é conciliar as demandas das
cadeias produtivas do agronegócio (pressionadas pela
crescente demanda mundial por alimentos e agroenergia) com
as necessidades de conservação dos recursos naturais.
Apesar de contar com terras agricultáveis, parte delas tem
seu uso legalmente impedido ou restringido por força da
legislação florestal. Isto implica em que o incremento e
manutenção da produção agropecuária do País não devem estar
baseados somente na expansão das áreas ocupadas com aquela
atividade, mas é necessário crescente aumento de
produtividade6 (cf. Claudio A. Spadotto. Área,6 Estudos da Embrapa Monitoramento por satélite apontam para o fato deque o aumento de produtividade média das lavouras para conseguirmanter a produção em níveis que compensem a limitação da áreadisponível legalmente para a agricultura sem comprometer a viabilidade
31
produtividade e meio ambiente in Agroanalysis vol. 29, nº
11, Nov. 2009, pág. 36). Incremente de produtividade, por
óbvio, implica em investimentos, em custos, hoje suportados
especialmente, senão exclusivamente pelos produtores. De
outro lado, as limitações ao uso da terra nas propriedades
rurais, com a instituição das Áreas de Preservação
Permanente e, mais do que estas, as áreas de Reserva Legal,
implicam em limitação dos ganhos do produtor, quando não em
custos extras com recomposição da flora nativa ou o
pagamento de multas ambientais.
O que pretendemos com o presente trabalho é, de uma
forma sucinta e direta, demonstrar, com base em um exemplo
prático, o impacto para o produtor da legislação florestal
vigente traduzindo, na medida em que for possível, em
demonstração dos custos envolvidos com o estar compliance
com aquela legislação.
Por não ser este um trabalho de economia ou
administração, não buscaremos o apuro matemático dos
cálculos envolvidos, mas trabalharemos com indicações e
aproximações.
Para um trabalho mais exaustivo sobre o tema,
indicamos a leitura da tese de doutorado da Dra. Maria do
Carmo Ramos Fasiaben, referida em nossa Bibliografia, cujas
conclusões são utilizadas e mencionadas neste texto.
Este trabalho compõe-se do levantamento da legislação
florestal brasileira vigente e suas implicações sobre as
das propriedades rurais teria de ser considerável
32
propriedades rurais. Em seguida passamos à análise dos
dados fornecidos pela empresa Ipanema Cofees em relação às
medidas por ela adotadas para atender àquela legislação.
33
3. PROTEÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL – CÓDIGO FLORESTAL
Mundialmente, a “Declaração do Ambiente”, adotada pela
Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente, realizada
em Estocolmo, de 5 a 16 de Junho de 1972, constitui o marco
de referência do início da política ambiental
contemporânea, ainda que anteriormente já existissem
exemplos de iniciativas de políticas ambientais, algumas
até remontando às Ordenações Filipinas, por exemplo,
faltando a estas, no entanto, coerência e estruturação de
ação que permitisse considerá-las parte de uma política
global ambiental (GASPAR, pág. 13). É na Declaração de
Estocolmo que vamos encontrar pela primeira vez os
princípios da solidariedade intergeracional e o da
estabilidade e renovação ecológica.
Antes de Estocolmo o que se pode afirmar é que as
iniciativas esparsas tinham mais um caráter meramente
conservacionistas, como a criação de parques e áreas de
proteção (a constituição do Parque Yellowstone, nos EUA,
por exemplo, é de 1872) e a proibição da caça e da pesca
nas épocas de reprodução.
No Brasil, a proteção do meio ambiente consolidou-se
com a promulgação da Constituição Federal em 1988, que
estabelece expressamente em seu Capítulo VI uma política
direcionada à proteção do Meio Ambiente, dispondo em seu
artigo 225 “que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente
34
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida,
impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-
lo para as presentes e futuras gerações”.
Assim, o artigo 225 da Constituição federal acaba por
estabelecer quatro concepções fundamentais no âmbito do
direito ambiental: a) de que todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado; b) de que o direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado diz respeito à
existência de um bem de uso comum do poço e essencial à
sadia qualidade de vida, criando em nosso ordenamento o
bem ambiental; c) de que a Carta Maior determina tanto ao
Poder Público como à coletividade o dever de defender o bem
ambiental, assim como o dever de preservá-lo; d) de que a
defesa e a preservação do bem ambiental estão vinculadas
não só às presentes como também às futuras gerações.
(FIORILLO, pág. 15).
Na sequência, o Parágrafo 1º do mesmo artigo 225 da
Constituição Federal, ainda dispõe sobre caber ao Poder
Público:
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover omanejo ecológico das espécies e ecossistemas;
II - .......
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais eseus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteraçãoe a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquerutilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquemsua proteção;
.....
35
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas quecoloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção deespécies ou submetam os animais a crueldade.
Consoante com o mandamento constitucional, a
legislação florestal brasileira, reconhecendo os serviços
ecossistêmicos prestados pelas florestas naturais,
estabelece limites ao direito de propriedade, criando a
delimitação das Áreas de Preservação Permanente (APP) -
onde não se admite uso antrópico -, e a recomposição, em
todas as propriedades agrícolas, de áreas como Reserva
Legal (RL) com espécies nativas - onde se admite exploração
sustentável.
Importante esclarecer que a própria Constituição
Federal, em seu Capítulo III – Da Política Agrícola e
Fundiária e da Reforma Agrária, permite que se lancem
restrições ao direito de propriedade, estabelecendo, no
Artigo 186, que a função social da propriedade só será
atendida se respeitados os seguintes critérios:
aproveitamento racional e adequado do imóvel; utilização
adequada dos recursos naturais nele disponíveis e
preservação do meio ambiente; observância das disposições
que regulam as relações de trabalho; exploração que
favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.
Todavia, embora se aceite, de modo geral, que a
intervenção governamental é relevante para a conservação de
ecossistemas, as iniciativas de comando-e-controle de
zoneamento - em que áreas são designadas para a proteção e
36
conservação – na maioria das vezes provocam reações
contrárias por parte dos proprietários e pedidos de
compensação financeira. Isto porque, esta solução implica
uma redução de direitos de propriedade, uma vez que pode
envolver redução dos retornos econômicos esperados da
propriedade e, consequentemente, do seu valor de mercado7.
(FASIABEN, pag. 2).
O antigo Código Florestal de 1934 determinava em seu
Artigo 1º que as florestas existentes em todo território
nacional “são bem de interesse comum” a todos os habitantes do
país e classificava-as como: protetoras, remanescentes,
modelo e de rendimento. Nenhum tipo de localização foi
definido para as florestas protetoras e também não se
vetava a utilização destas, uma vez que o artigo 53 daquela
Lei previa a exploração limitada das florestas protetoras
nas propriedades privadas. Por outro lado, o artigo 23 do
7 “O cerne da questão está no argumento de que a conservação ambiental,como prevista no Código Florestal brasileiro, gera encargosexclusivamente aos produtores, enquanto os benefícios se refletem paraa sociedade como um todo, inclusive ultrapassando as fronteirasnacionais. A obrigação de instituir e manter a reserva gravaatualmente todas as propriedades rurais privadas. As mudanças nalegislação florestal ocorreram paralelamente a dois movimentosantagônicos no seio da sociedade brasileira: por um lado, ocrescimento e consolidação do movimento ambientalista ao longo dosúltimos 30 anos; por outro, o crescimento e a modernização daagricultura. Para os autores, o conflito latente entre ambientalistase o setor rural foi agravado pelo aumento da demanda internacional porprodutos agrícolas, com destaque para a soja e a carne bovina, e pelaampliação da demanda doméstica pelo etanol. O conflito exacerbou-secom a ampliação da RL de 50% para 80% da área da propriedade naAmazônia pela MP nº 2.166-67/2001, e atingiu o “ponto de ebulição” coma edição dos Decretos nºs 6.321/2007 e 6.514/2008 e da Resolução nº3.545/2008 do Conselho Monetário Nacional, que enrijeceram omonitoramento do desmatamento e a imposição de sanções reduzindo oacesso a incentivos econômicos e fiscais aos agentes (privados emunicípios) que não estivessem de acordo com a legislação” (FASIABEN).
37
antigo Código Florestal não permitia o desmatamento de mais
de 3/4 da mata existente na propriedade, o que parece ser
uma disposição precursora do instituto da Reserva Legal que
viria a existir a partir de 1965. Neste ano foi promulgada
a Lei 4.771 que institui o novo Código Florestal que,
recepcionado pela Constituição Federal de 88, é o
instrumento nacional legal que dá suporte à legislação
florestal vigente.
Nessa lei, as florestas protetoras dão origem às
florestas de preservação permanentes e as áreas cobertas
por matas determinadas no artigo 23º do Código de 1934
passaram a ser chamadas de Reserva Legal no Código de 1965.
São consideradas Área de Preservação Permanente (APP) as
áreas adjacentes aos cursos d’água, cuja largura varia de
acordo com a largura do curso d’água, sendo a largura
mínima de 30m; as áreas com declives superiores a 45° ou
100% de declividade; as áreas no entorno de nascentes com
raio mínimo de 50m e as áreas situadas em altitudes acima
de 1800m ao nível do mar. Também são consideradas APP, as
áreas cuja delimitação está na Resolução do CONAMA: topos
de morros, áreas ao redor de lagoas e lagos naturais e
artificiais, dentre outros.
A segunda categoria de área protegida na propriedade
rural, a Reserva Legal (RL), é a área a ser conservada com
vegetação florestal, podendo ou não ser usada para fins
econômicos pelo proprietário rural, apresentando percentual
variável dependendo da região do Brasil.
38
Importante que se frise, desde logo, que as
responsabilidades na manutenção das Áreas de Preservação
Permanente bem como das Reservas Legais, recaem sobre o
proprietário da terra. No entanto, estas responsabilidades
resultam em benefícios para toda a sociedade, uma vez que
estas áreas estão associadas à manutenção e à conservação
dos serviços ambientais tais como, água, biodiversidade,
carbono, beleza natural (MANFRINATO, pag. 16).
De forma genérica, o Código Florestal de 1965 tinha
como propósito maior proteger outros elementos que não
apenas as árvores e as florestas: estas eram apenas um meio
para atingir outros fins. Uma leitura interpretativa,
teleológica, e que assim busque verificar a finalidade das
normas contidas no Código Florestal vigente, revela que em
sua essência fundamental, o mencionado diploma legal, à
época de sua proposição, tinha como objetivos principais
proteger:
• Os solos (contra a erosão); art 2°, incisos a, c, f,
g; art. 3°; e art. 10;
• As águas, os cursos d' água e os reservatórios d'
água, naturais ou artificiais (contra o assoreamento com
sedimentos e detritos resultantes da ação dos processos
erosivos dos solos); art. 20, incisos a, b, c;
• A continuidade de suprimento e a estabilidade dos
mercados de lenhas e madeiras (contra a falta de matéria-
prima lenhosa): arts. 16, 19, 20, 21 e 44.
39
Os mencionados objetivos deveriam ser alcançados por
meio da proteção das "florestas e as demais formas de
vegetação" e da normatização do seu respectivo uso8
(AHRENS, pág. 93).
A Resolução 04/85 do CONAMA – 1985, baseando-se no
artigo 18 da Lei 6938/81 declara como Reservas Ecológicas
“as formações florísticas e as áreas de florestas de preservação
permanentes...”, e determina a localização e o limite das
áreas até então só citadas no Artigo 2°, porém, sem limites
expressos na lei, como o caso do entorno de lagos, lagoas e
topo de morros e montanhas.
A Lei 7511 de 1986 modifica os limites das florestas
de preservação permanente, que ao longo dos cursos d’água,
passa a ser de no mínimo 30m. Essa Lei foi revogada pela
Lei 7803/89 que além de manter os 30 metros como largura
mínima para a proteção de cursos d’água, explicita a área
de proteção das nascentes como sendo de um raio mínimo de
50m e faz uma alteração significativa no artigo 19 da lei
4771.
8 Em qualquer caso, convém observar que o Código Florestal não dizrespeito apenas à proteção e utilização das florestas, mas também àspossibilidades de uso da terra em diferentes porções de umapropriedade imóvel rural. Assim, a Lei n° 4.771/65 não deveria serapreciada apenas como um Código Florestal, mas, em verdade, entendidacomo um verdadeiro "Código de Uso da Terra" e daquilo que (em termosflorísticos) sobre ela naturalmente exista ou deveria existir(conforme preceituado nas normas que compõem aquele diploma legal)."Ressalte-se que a inexistência da vegetação natural nos espaços em quea Lei determina a sua presença (v.g. a Reserva Legal e a vegetação dePreservação Permanente), constitui o que se denomina, na atualidade,um "passivo ambiental" (e que, obviamente, deve ser corrigido).(AHRENS, pág. 94)
40
Em 1989 o artigo 19 passa a vigorar com a seguinte
redação: “A exploração de florestas e de formações sucessoras, tanto de
domínio público como de domínio privado, dependerá de aprovação prévia do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis -
IBAMA, bem como da adoção de técnicas de condução, exploração, reposição
florestal e manejo compatível com os variados ecossistemas que a cobertura
arbórea forme”.
Finalmente, a Medida Provisória 2166-67 de 24 de
Agosto de 2001 explicita, pela primeira vez, qual a
definição de áreas de preservação permanente e de reserva
legal, sendo elas:
a) Áreas de Preservação Permanente: área protegida nos
termos dos Arts. 2º e 3º desta Lei, (4771/65) coberta ou
não por vegetação nativa, com a função ambiental de
preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade
geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e
flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das
populações humanas. Estabelece a largura mínima para
diferentes tamanhos de rios e áreas declivosas, assim como
topos de morros;
b) Reserva Legal: área localizada no interior de uma
propriedade ou posse rural, excetuada a de preservação
permanente, necessária ao uso sustentável dos recursos
naturais, à conservação e reabilitação dos processos
ecológicos, à conservação da biodiversidade e ao abrigo e
proteção de fauna e flora nativas. Percentuais para a
41
preservação destas áreas são estabelecidos para os
diferentes biomas nacionais.
No caso da APP, buscou-se encerrar a discussão que
existia sobre o que seria de preservação permanente: a área
ou a floresta. Já a Reserva Legal é retirada da Política
Nacional Agrícola e colocada no Código Florestal, portanto
a Reserva Legal deixa de ser somente produtora de madeira
para a propriedade rural e passa a ter também função
ambiental e ser protegida pela lei dos crimes ambientais.
Além disso, a medida provisória (2166-67) não
mencionou nenhuma exigência de recomposição florestal em
APP, porém, obrigou o reflorestamento de RL no Artigo 44.
Ainda em RL, esta medida provisória alterou a porcentagem
da propriedade rural a ser destinada a recomposição. No
Código Florestal de 1965, onde se determinava que todas as
propriedades rurais brasileiras deveriam destinar 20% à RL
passou em 2001 para: 80% na Amazônia, 35% no Cerrado
Amazônico e 20% no restante do país.
Enfatize-se que, na legislação atual, as APPs estão
excluídas das áreas de RL, ou seja, esse percentual é
adicional às áreas de preservação permanentes que devem ser
mantidas. Entretanto, a Medida Provisória n° 2.166-67/01 já
previa que as áreas de reserva legal e de preservação
permanente fossem somadas, se ultrapassassem determinados
limites. Assim, essa MP inclui no Código Florestal (Artigo
16, § 6º): “Será admitido, pelo órgão ambiental competente,
o cômputo das áreas relativas à vegetação nativa existente
42
em área de preservação permanente no cálculo do percentual
de reserva legal, desde que não implique em conversão de
novas áreas para o uso alternativo do solo, e quando a soma
da vegetação nativa em área de preservação permanente e
reserva legal exceder a: I - oitenta por cento da
propriedade rural localizada na Amazônia Legal; II -
cinqüenta por cento da propriedade rural localizada nas
demais regiões do País; e, III - vinte e cinco por cento da
pequena propriedade...”.
Cumpre dar destaque ao tratamento diferenciado dado
pela legislação atual à pequena propriedade rural, conforme
estabelecido pela Medida Provisória n° 2.166-67/01.
Considera-se como pequena propriedade aquela cuja extensão
não ultrapasse os limites estabelecidos para as diferentes
regiões do país, que variam entre 30 e 150 ha; que seja
explorada predominantemente com o trabalho familiar e cuja
renda bruta seja proveniente, no mínimo em oitenta por
cento, de atividade agroflorestal ou do extrativismo.
Nestes casos, além de admitir que sejam somadas as áreas de
APP e reserva legal, conforme descrito no parágrafo
anterior, também se permitem os plantios de árvores
frutíferas ornamentais ou industriais, compostos por
espécies exóticas, cultivadas em sistema intercalar ou em
consórcio com espécies nativas, para cumprimento da
manutenção ou compensação da área de reserva legal.
Com a redação dada pela MP nº 2.166-67/01, o Código
Florestal exige a todo proprietário ou possuidor de imóvel
rural com área de floresta nativa, primitiva ou regenerada,
43
a obrigação de em caso de inexistência ou de existência
parcial em dimensão inferior ao mínimo legal previsto,
adotar uma das seguintes alternativas, isoladas ou
conjuntamente (Artigo 44 do Código Florestal): I - recompor
a reserva legal de sua propriedade mediante o plantio, a
cada três anos, de, no mínimo, 1/10 da área total
necessária a sua complementação, com espécies nativas, de
acordo com critérios estabelecidos pelo órgão ambiental
estadual competente; II - conduzir a regeneração natural da
reserva legal; e, III - compensar a reserva legal por outra
área equivalente em importância ecológica e extensão, desde
que pertença ao mesmo ecossistema e esteja localizada na
mesma microbacia, conforme critérios estabelecidos em
regulamento 2.
A lei atual permite - na impossibilidade de compensá-
la na mesma microbacia hidrográfica - a compensação fora
desta, mas dentro da mesma bacia hidrográfica (nos termos
do Plano de Bacia Hidrográfica) e no mesmo ecossistema,
observado o critério da maior proximidade possível entre a
propriedade desprovida de reserva legal e a área escolhida
para compensação. A compensação fora da propriedade, em
princípio, seria uma opção para o produtor rural seguir
produzindo em áreas contínuas.
A Medida Provisória nº 2.166-67 de 2001 também prevê
que as alternativas de recomposição podem ser realizadas
pelos produtores, de forma isolada, ou de forma conjunta,
através de condomínios.
44
Outra lei que passou a integrar o Código Florestal
(parágrafo 6, artigo 44) foi formulada em 2006, a Lei nº
11.428 - que dispõe sobre a vegetação nativa do Bioma Mata
Atlântica. Ela dá a possibilidade de desoneração definitiva
(não mais por trinta anos, como previsto anteriormente) das
obrigações de recomposição da reserva legal previstas na
lei, mediante a doação pelo proprietário ao órgão ambiental
competente, de área localizada no interior de unidade de
conservação de domínio público (parque estadual, floresta
estadual, estação experimental, reserva biológica ou
estação ecológica), pendente de regularização fundiária.
Mas aqui também se exige que a área pertença ao mesmo
ecossistema e esteja localizada na mesma microbacia.
Há que se ressaltar, enfim, que a lei federal não
permite o corte raso da vegetação da reserva legal, mas
possibilita, sim, o seu manejo de forma sustentável. O
artigo 16, parágrafo 2o do Código Florestal prevê: “A
vegetação da reserva legal não pode ser suprimida, podendo
apenas ser utilizada sob regime de manejo florestal
sustentável, de acordo com princípios e critérios técnicos
e científicos estabelecidos no regulamento...”.
Foi somente em setembro de 2009 que o Ministério do
Meio Ambiente (MMA), lançou Instruções Normativas (IN) que
tratam de aspectos técnicos relativos ao manejo permitido à
reserva legal. Em número de três, elas especificam questões
relacionadas a: i) corte, exploração e transporte de
espécies florestais plantadas; ii) procedimentos técnicos
para a utilização da vegetação da Reserva Legal sob regime
45
de manejo florestal sustentável; e iii) procedimentos
metodológicos para restauração e recuperação das Áreas de
Preservação Permanentes e da Reserva Legal instituídas pela
Lei no 4.771/ 1965.
A IN nº 5 do MMA, entretanto, ao invés de “pequena
propriedade”, utiliza o conceito de “agricultor familiar” e
“empreendedor familiar rural” constante na Lei no 11.326,
de 24 de julho de 20063, que aí inclui o produtor que não
detenha área maior que quatro módulos fiscais; utilize
predominantemente mão-de-obra familiar; tenha renda
familiar originada predominantemente de atividades
econômicas vinculadas ao próprio estabelecimento ou
empreendimento; e dirija o estabelecimento ou
empreendimento com sua família. Destaque-se que os quatro
módulos fiscais suplantam, em muitos locais, área prevista
no atual Código Florestal para dimensionar o tamanho máximo
da pequena propriedade, a exemplo do que acontece no Estado
de São Paulo.
Foram diversas leis, decretos e resoluções que
tornaram mais rígidas as ações de monitoramento do
desmatamento e imposição de sanções às infrações. Tal é o
caso da Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998), que
especifica responsabilidades penais e administrativas para
o infrator que agrida o meio ambiente, por meio do
desmatamento de áreas preservadas, entre outros crimes.
O Decreto nº 6.321 de 2007 vem dispor sobre ações
relativas à prevenção, monitoramento e controle de
46
desmatamento no Bioma Amazônia, inclusive no que tange à
especificação de sanções aplicáveis às condutas e
atividades lesivas ao meio ambiente. De acordo com esse
decreto, o MMA deve elaborar e atualizar a lista de
municípios com desmatamento monitorado e sob controle no
bioma Amazônia, o que implica que seus imóveis rurais
estejam devidamente monitorados e que a taxa de
desmatamento anual do município esteja abaixo do limite
estabelecido pelo MMA. Esses municípios devem ter
prioridade na concessão de incentivos econômicos e fiscais
da União voltados para a região amazônica. Adicionalmente,
as agências oficiais federais de crédito não devem aprovar
crédito de qualquer espécie para atividades agropecuárias
ou florestais realizadas em imóveis rurais que descumpram a
legislação.
Na sequência, a Resolução nº 3.545/2008 do Conselho
Monetário Nacional define exigências para a concessão de
crédito rural no bioma Amazônia. Desde 1º de julho de 2008,
a concessão de crédito rural para atividades agropecuárias
nos municípios que integram esse bioma está condicionada à
apresentação do Certificado de Cadastro de Imóvel Rural;
declaração de que inexistem embargos vigentes de uso
econômico de áreas desmatadas ilegalmente no imóvel, e
documentos comprobatórios de regularidade ambiental do
imóvel onde será implantado o projeto a ser financiado,
expedido pelo órgão estadual responsável.
O Decreto nº 6.514/2008 dispõe sobre as infrações e
sanções administrativas ao meio ambiente, incluídas as
47
infrações sobre a fauna e a flora. As sanções vão desde
advertências até restrições de direitos, passando por
multas e embargos de obras e atividades. No que diz
respeito às infrações sobre a flora, incluem-se aquelas
referentes ao não cumprimento da legislação sobre APPs e
reserva legal, estando tipificada como infração, inclusive,
a não averbação da reserva legal.
Por fim, há que se destacar o Decreto no 7.029,
editado em 10 de dezembro de 2009, considerado uma forma de
abrandamento da legislação. Através dele se institui o
Programa Federal de Apoio à Regularização Ambiental de
Imóveis Rurais, denominado “Programa Mais Ambiente”.
Estendeu-se o prazo para regularização ambiental dos
imóveis para junho de 2011, devendo para tanto o
proprietário ou possuidor de imóvel rural firmar um termo
de adesão e compromisso junto ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) ou
outro órgão vinculado ao Programa. Um de seus instrumentos
é o Cadastro Ambiental Rural - CAR: sistema eletrônico de
identificação georreferenciada da propriedade rural ou
posse rural, contendo a delimitação das áreas de
preservação permanente, da reserva legal e remanescentes de
vegetação nativa localizadas no interior do imóvel, para
fins de controle e monitoramento. Esse prazo foi
posteriormente prorrogado para 11 de dezembro deste ano de
2011, por força do DECRETO nº 7.497, de 9 de junho de 2011.
Um dos pontos mais polêmicos deste Decreto é que, a
partir da data de adesão ao “Programa Mais Ambiente”, o
48
proprietário ou possuidor não será autuado com base nos
artigos 43, 48, 51 e 55 do Decreto no 6.514, de 2008, desde
que a infração tenha sido cometida até o dia anterior à
data de publicação do Decreto no 7.029, ou seja, antes de
10/12/2009.
Finalmente, para que conste o registro é preciso que
se diga que o Projeto de Lei 1.876/99, que reforma o Código
Florestal Brasileiro, de relatoria do deputado Aldo Rebelo
foi aprovada pela Câmara dos Deputados e enviado para
votação no Senado, onde se espera, seja aprovado sem
reformas.
As principais mudanças trazidas pelo Projeto de Lei
1.876/99 podem ser assim resumidas:
Áreas de Preservação Permanente - Criam-se
algumas exceções em relação a áreas desmatadas
até julho de 2008 (por exemplo, APPs de mata
ciliar, para rios de até 10 metros, só precisarão
se de 15 metros, ao invés dos 30 previstos
anteriormente) e a Recuperação de áreas
desmatadas em margens de rio e enconstas e
possíveis usos econômicos ficarão a cargo de
regulação de Estados e da União.
Reserva legal – Dispensam-se os proprietários de
até quatro módulos fiscais de recompor regiões
desmatadas até julho de 2008. As demais
propriedades devem respeitar as áreas mínimas de
RL. Para o cômputo da RL, para todas as
49
propriedades, poderá ser considerar APPs íntegras
ou em recuperação, desde que não haja novos
desmatamentos.
Regularização das propriedades – Criam-se
alternativas de regularização para áreas de
Reserva Legal desmatadas, como compensação dentro
do mesmo bioma ou unidade da Federação (compra ou
arrendamento de área com vegetação nativa) e
possibilidade de contabilizar APP dentro da RL.
Criam-se novos mecanismos de regularização pela
União e pelos Estados – Programa de Regularização
Ambiental (PRAs) - , de forma a facilitar a
adequação dos proprietários às novas regras.
Implementação de um Cadastro Ambiental Rural
(CAR) visando gerenciar as informações sobre APPs
e RL das propriedades.
Como aponta Rodrigo C. A. Lima (Controvérsias do novo
Código Florestal in Revista Agroanalysis, vol 31, nº 06,
pág. 22) é possível que alguns dispositivos do texto
aprovado na Câmara sejam revistos até a aprovação final.
Independentemente disso, as bases do novo Código estão
lançadas, e espera-se adesão massiva dos produtores a fim
de regularizarem suas propriedades e posses. Isso é central
para pacificar a visão enviesada de que o agricultor está à
margem da lei e para reforçar a relação de equilíbrio entre
o agro e a conservação ambiental. Dessa forma, será
possível transformar a produção de alimentos e de energia
no Brasil em modelo de sustentabilidade para o mundo.
51
4. O IMPACTO ECONÔMICO DO CÓDIGO FLORESTAL – VISÃO GERAL
O desenho de uma política ambiental que alie
conservação ambiental, justiça social e eficiência
econômica pode ser orientado pelos preceitos da Economia
Ecológica. Para a Economia Ecológica três objetivos devem
ser perseguidos no que diz respeito à utilização dos bens e
serviços ambientais: i) a determinação de uma escala
sustentável; ii) a definição de uma distribuição justa,
inclusive para com as gerações futuras; e iii) a alocação
eficiente. A principal preocupação da Economia Ecológica
são os limites ao crescimento, a escala da utilização dos
recursos naturais. Uma escala sustentável é aquela em que o
fluxo energético de alta entropia gerado pelas atividades
econômicas não ultrapassa a capacidade de assimilação do
ecossistema. Uma vez definida a escala, o problema seguinte
a ser resolvido é a questão da distribuição, isto é, o
problema da repartição dos direitos de uso dos bens e
serviços ambientais. Somente em seguida tem-se o problema
da alocação eficiente. Escala sustentável, distribuição
equitativa e alocação eficiente estão relacionadas, mas
suas soluções são distintas e através de instrumentos de
política independentes. Juntamente com as medidas
apropriadas, estratégias de mercado deveriam ser usadas
para controlar e dirigir as energias privadas e o capital
de modo a proteger e melhorar o meio ambiente. Existem dois
52
problemas que devem ser resolvidos politicamente para que o
mercado funcione dessa maneira: deve-se limitar, política e
socialmente, a escala total da produção material a um nível
sustentável. A sociedade deve proceder, então, a uma justa
distribuição inicial dos direitos a esgotar e a poluir até
o limite da escala sustentável, sendo o mercado usado para
resolver a questão da alocação, e não questões de escala e
de distribuição (FASIABEN et al, pág. 15)
Embora a Economia Ecológica entenda que são fatores
ligados a resiliência dos ecossistemas que deveriam ser
considerados na definição da escala – e que, portanto,
parâmetros biofísicos deveriam guiar sua determinação -,
reconhece que os limites impostos devem refletir acordos
sociais entre os envolvidos, no caso, a comunidade
científica, produtores, políticos e comunidade em geral.
Entretanto, a grande controvérsia que cerca os limites
estabelecidos para a reserva legal brasileira mostra que
tais acordos ainda estão longe de serem alcançados.
As leis florestais brasileiras são extremamene
restritivas e, como tal, geram limitações no uso da
propriedade, seja por instrumentos diretos, como é o caso
da RL, APP e UC, seja por meios indiretos, como é o caso
das condutas tipificadas em lei como crime e infração
administrativa: essas condutas oneram o produtor com
multas, muita vezes discricionárias e milionárias, e até o
embargo da propriedade. Desta forma, o produtor rural é
onerado: (i) por não utilizar parte produtiva de suas
propriedades destinadas por lei à preservação, havendo,
53
inclusive, casos em que a lei determina que a propriedade
seja destinada à preservação (quase em sua totalidade);
(ii) por multas milionárias, sejam elas resultado de
condutas realizadas no passado, em respeito à lei vigente à
época, sejam por desmatamentos (após 1996) realizados pelo
produtor desmotivado que acaba gerando uma conduta
irregular; (iii) pelos embargos comerciais interpostos
pelos mercados interno e externo com base na legislação
ambiental nacional e a repercussão da mídia sobre o
assunto; (iv) pela impossibilidade de buscar a
regularização, vez que não há denúncia espontânea
determinada em lei, na esfera ambiental – muitas vezes
quando procura o órgão competente, na tentativa de se
regularizar, acaba sendo autuado e até embargado; e (v)
pela própria morosidade dos processos nos órgãos ambientais
e administrativos, como é o caso do Incra” (BURANELLO et al,
pág. 1040).
Em relação à distribuição, o atual Código Florestal
estabelece algumas concessões para a pequena propriedade:
i) a elas se admite o cômputo das áreas relativas à
vegetação nativa existente em área de preservação
permanente no cálculo do percentual de reserva legal,
sempre que a soma da vegetação nativa em área de
preservação permanente e reserva legal exceder a vinte e
cinco por cento da área da propriedade, tratando-se do
Estado de São Paulo; ii) permite-se-lhe, para cumprimento
da manutenção ou compensação da área de reserva legal, o
cômputo de plantios de árvores frutíferas, ornamentais ou
54
industriais, compostos por espécies exóticas, cultivadas em
sistema intercalar ou em consórcio com espécies nativas;
iii) a averbação da reserva legal da pequena propriedade ou
posse rural familiar é gratuita, devendo o Poder Público
prestar-lhe apoio técnico e jurídico, além de ditar que
sejam simplificados os procedimentos para a comprovação da
necessidade de conversão. Já na proposta do Substitutivo,
as propriedades ou posses com menos de quatro módulos
fiscais estarão isentas da obrigação de manter a reserva
legal.
Além da divisão do ônus entre os distintos tipos de
produtores rurais, uma distribuição justa também diz
respeito à participação dos outros segmentos da sociedade
nos custos da preservação, já que todos se beneficiam dos
serviços ambientais prestados pelas florestas. Benefícios e
custos também se estendem para as gerações futuras, quando
há justiça distributiva.
A designação de áreas de propriedades privadas para a
proteção e conservação de ecossistemas é uma questão que
traz muita polêmica. Isto porque geram-se encargos
exclusivamente aos produtores, enquanto os benefícios são
estendidos a toda sociedade. Por esta razão estas
restrições deveriam estar acompanhadas de políticas como o
pagamento de serviços ambientais, em direção de uma
distribuição mais equitativa dos custos da conservação
ambiental entre toda a sociedade, aliada à criação de
mercados de vegetação nativa que busque promover ajustes
locacionais das reservas legais, na busca de um melhor
55
equilíbrio entre a conservação da biodiversidade e o custo
de oportunidade das terras (cf. FASIABEN et al, pág 19).
Como se verifica da legislação florestal brasileira
comentada na primeira parte deste trabalho reconhece-se a
importância ecossistêmica da floresta e da flora, bens
ambientais que, constitucionalmente, devem ser protegidos e
preservados pelo Poder Público e pela sociedade em prol das
futuras gerações.
Por outro lado, verifica-se que a responsabilidade
efetiva de preservação desses bens ficou exclusivamente com
o produtor que está obrigado a:
a) Abster-se de explorar as APPs e RL;
b) Recompor as APPs e RL
c) Arcar com o custo de averbação da RL no
cartório de registro de imóveis
d) Investir em tecnologia para aumentar a
produtividade da parcela da terra à sua disposição
para atender à demanda por alimentos e agroenergia,
cumprindo, assim, sua missão.
Não fora o bastante, é natural admitir-se, ainda, que
diante da profusão de leis, decretos, medidas provisórias,
resoluções e outros instrumentos normativos que se
proliferam nesta seara ambiental, o produtor tenha, hoje,
de manter um consultor jurídico à mão para permanentes
consultas e atualizações. Mesmo que o faça por meio de uma
56
associação ou cooperativa, é inegável que este transtorno
representa custo para esse produtor.
Neste trabalho veremos como uma emprega do
agronegócio, modelar em todos os sentidos, foi impactada
por estes custos.
Antes, porém, é preciso fazer a ressalva de que, por
ser um tomador de preço, o produtor não tem condições de
repassar os incrementos de seus custos para o preço final
de seu produto o que implica em imediata redução de sua
margem, de sua rentabilidade.
De fato, lembre-se que o preço de mercado, pela teoria
econômica, é determinado mediante interação de consumidores
e produtores. Logicamente, essa situação é plausível em
contextos bastante específicos de mercado (feira livre). A
formação de preço de mercado é resultado das condições de
oferta e demanda. O preço é a variável mais importante do
mercado. A análise da interação da oferta e demanda
fundamenta-se em três pressuposições básicas: livre mercado
(ou seja, cada mercado opera livremente, no sentido de que
não há forças externas que influenciem ou estabeleçam
condições artificiais, como a intervenção governamental, ao
tabelar ou controlar preços), maximização de lucro e da
satisfação dos consumidores. (MENDES, pág. 175).
A agricultura funciona em um ambiente de mercado muito
competitivo, ou seja, com as seguintes condições ou
características:
57
a) Grande número de compradores e vendedores,
de tal modo que nenhum deles, individualmente, pode
influenciar o preço ao decidir vender ou comprar um
produto. A agricultura, por ter um grande número de
produtores é o setor econômico com condições mias
próximas dessa característica;
b) Produto homogêneo, de tal modo que o produto
de uma empresa é essencialmente um perfeito substituto
do produto de outra empresa. Os produtos agrícolas são
muito homogêneos;
c) Ausência de restrições artificiais à
procura, á oferta e aos preço de qualquer produto que
esteja sendo negociado, ou seja, não deve haver
intervenções governamentais no mercado, como
tabelamento, racionamento e outras;
d) Mobilidade dos produtos e dos recursos, de
tal forma que novas empresas possam entrar no mercado
e os recursos possam ser transferidos para usos mais
econômicos, ou seja, para aqueles em que seus preços
sejam mais elevados;
e) Perfeito conhecimento de todas as
informações necessárias sobe preços, processos de
produção e ação dos outros produtores (embora um não
exerça influência sobre o outro).
As quatro primeiras condições caracterizam a
concorrência pura; a concorrência perfeita exige
58
adicionalmente a condição de perfeito conhecimento das
informações (MENDES, pág. 178)
Como os produtores individuais não podem afetar os
preços de seus produtos, há um forte incentivo para
aumentarem seus lucros pela redução de seus custos pela
melhoria da eficiência tecnológica na agricultura. Sob essa
estrutura econômica (competição perfeita), o agricultor não
tem decisão a tomar no que se refere a preço. Uma vez
estabelecidas as decisões de produção, de armazenamento e
de quando vender, o produtor deve apenas observar o preço
determinado pelo mercado. Em outras palavras, o produtor
agrícola é um tomador de preço. Ele não pode fixar um preço
para o seu produto. (MENDES, pág. 180).
Se há pouco ou nada a se fazer em relação ao preço
final de seu produto, deve o produtor cuidar com muita
atenção dos seus custos de produção assim considerada a
soma dos valores de todos os recursos (insumos e serviços)
utilizados no processo produtivo - custos explícitos, mas
também os chamados custos implícitos (v.g. o salário máximo
que poderia ganhar trabalhando em uma função similar para
outra pessoa, o retorno pela melhor alternativa de uso do
capital, da terra e de qualquer outro fator de produção que
ele possua e use). Esses recursos que a firma possui e usa
não são recursos ‘livres’. Para a firma, o custo
(implícito) envolvido no uso desses recursos é igual às
(melhores) alternativas que foram desperdiçadas (ou seja, o
que esses mesmos recursos teriam gerado como retorno em sua
melhor alternativa de uso). Toda vez que em economia
59
falamos de custos ou ilustramos curvas de custo, sempre
incluímos ambos os custos, explícitos e implícitos.
(SALVATORE, pág. 199). Em finanças estes custos implícitos
são chamados de Custo de Oportunidade do Capital (taxa
mínima de retorno, custo do capital, opportunity cost of capital,
hurdle rate ou cost of capital, o retorno esperado que se deixa de
obter por investir em um projeto, em vez de investir em
títulos de risco semelhante. (BREALEY, pág. 890)
Portanto, para a teoria econômica, o custo de
oportunidade ou custo alternativo surge quando o decisor
opta por uma determinada alternativa de ação em detrimento
de outras viáveis e mutuamente exclusivas, sendo assim,
representa o benefício que foi desprezado ao escolher uma
determinada alternativa em função de outras. Desta forma, o
custo dos fatores de produção só pode ser mensurado através
de seu custo de oportunidade (SANTOS, pág. 2).
A CONAB em sua publicação Custos de Produção Agrícola:
a metodologia da CONAB, assim refere-se aos critérios
adotados para a mensuração dos custos de oportunidade
social9:
Custos explícitos, cujos valores podem ser
mensurados de forma direta, são determinados de acordo
com os preços praticados pelo mercado, admitindo-se
que os mesmos representam seus verdadeiros custos de
oportunidade social. Situam-se nesta categoria os
componentes de custo que são desembolsados pelo
9 Item 3.8 – da mensuração dos componentes de custos. Pág. 27
60
agricultor no decorrer de sua atividade produtiva,
tais como insumos (sementes, fertilizantes e
agrotóxicos), mão de obra temporária, serviços de
máquinas e animais, juros, impostos e outros.
Custos implícitos – não são diretamente
desembolsados no processo de produção, visto que
correspondem a remuneração de fatores que já são de
propriedade da fazenda, mas não podem deixar de ser
considerados, uma vez que se constituem, de fato, em
dispêndios. Sua mensuração se dá de maneira indireta,
através da imputação de valores que deverão
representar o custo de oportunidade de seu uso, nesta
categoria enquadram-se os gastos com depreciação de
benfeitorias, instalações, máquinas e implementos
agrícolas e remuneração do capital fixo e da terra.
Como já esclarecido na introdução a este trabalho, não
se pretende discutir conceitos econômicos ou financeiros de
custo de produção ou suas variáveis. O que se pretende é, a
partir de uma observação arguta da realidade e sobre a
experiência de uma empresa do agronegócio, levantar-se os
principais pontos de impacto da legislação florestal
brasileira sobre esta atividade, deixando para os
economistas e profissionais mais capacitados a formulação
das regras matemáticas e financeiras que possam expressar
com mais acuidade o que aqui se apontará como resultado
esperado para situações análogas.
61
O primeiro ponto a merecer destaque, nesse sentido, é
a esperada valorização das terras agricultáveis ou não em
razão da diminuição de oferta de terras legalmente
utilizáveis para qualquer fim econômico.
Em recente trabalho, a EMBRAPA – Monitoramento por
Satélite demonstrou que, em termos legais, apenas cerca de
30% do país seria passível de ocupação agrícola intensiva
enquanto cerca de 70% do território estaria legalmente
destinado a minorias e a proteção e preservação ambiental.
Como na realidade, mais de 50% do território nacional já
está ocupado, por um processo secular em muitos casos,
configura-se um enorme divórcio entre a legitimidade e a
legalidade do uso das terras e muitos conflitos.
Apenas as Unidades de Conservação e as Terras
Indígenas somadas já ocupam cerca de 27% do território
nacional. Ainda que parte dessa área permita atividades
produtivas como coleta de látex, de castanha, de fibras,
pesca e pequena agricultura, está excluída a atividade
agrícola intensiva, com remoção da cobertura vegetal
nativa.
62
Figura 1. Total de áreas protegidas no Brasil
Fonte: Embrapa
Sobre o restante de terras disponíveis incide a
limitação da Reserva Legal, com porcentagens de reserva
variando de 80% no bioma Amazônia a 20% na Mata Atlântica.
Esse dispositivo imobiliza aproximadamente 32% do
território nacional segundo o levantamento da EMBRAPA.
Somadas as Reservas Legais às UCs e TIs, temos cerca de 59%
do Brasil dedicado à preservação e proteção ambiental, com
grande parte dessa área localizada no bioma Amazônia.
63
Tabela 1. Alcance Territorial dasUnidades de Conservação, Terras Indígenas
e Reserva Legal. Disponibilidade deTerras Legalmente Agricultáveis.
Km2 %
UCs + TIs 2.294.343 26,95
Reserva
Legal
2.685.542 31,54
Total 4.979.885 58,49
Disponível 3.534.992 41,51
Sobre essa área global, legalmente disponível para um
uso agrícola intensivo, ainda incidem as restrições ligadas
às Áreas de Preservação Permanente (APPs). Dois grandes
tipos de APPs foram considerados no estudo da EMBRAPA: os
ligados ao relevo e os ligados à rede hidrográfica10.
Os resultados líquidos somam 1.448.535 km2, cerca de
17% do território nacional, correspondentes às áreas de
APPs fora de UCs, TIs e eliminadas as superposições.
No referido trabalho foram considerados alguns
cenários sobre as áreas disponíveis legalmente para o uso
agrícola. Em um cenário em que as áreas de APPs não podem
ser incluídas no cômputo da Reserva Legal, teriam-se
números negativos no Bioma Amazônia e no Pantanal. Sem
10 Existem outras categorias de APPs previstas pela legislação que não foram estimadas em seu alcance territorial
64
computar esses números negativos, a área disponível para a
agricultura mais intensiva seria de 2.455.350 km2 (29%).
Se as regras existentes atualmente para inclusão das
APPs no cômputo da reserva legal fossem aplicadas na
totalidade do país, a disponibilidade dessas áreas
agrícolas cairia para 25,6%, mas se eliminariam os números
negativos no bioma Amazônia, num total de 449.532 km2.
Considerando-se sua aplicação apenas na Amazônia, a
única situação em que é permitido legalmente a incorporação
das APPs no cômputo dos 80% destinados à reserva legal sem
nenhuma restrição, a disponibilidade total de terras para a
agricultura seria de 2.543.981 km2 ou cerca de 30% do
território nacional.
Na hipótese dessa regra, válida para a Amazônia, ser
estendida a todo o país, e na qual as áreas de APPs
passariam a ser computadas na Reserva Legal sem
condicionamentos, a disponibilidade de terras para a
agricultura seria de 3.534.992 km2 o que representaria 41%
do território. Esse acréscimo de cerca de 1.000.000 km2
ocorreria essencialmente fora da Amazônia já que lá a regra
já é válida.
De toda forma, em qualquer dos cenários apresentados
no trabalho da EMBRAPA não se consegue contemplar a
realidade sócio-econômica existentes, nem a história da
ocupação territorial do Brasil. Como bem aponta o estudo,
existe um histórico secular de uso agrícola das terras no
Brasil, marcado por áreas rurais consolidadas com base no
65
que recentemente definiu-se como APPs. Essas medidas
colocam na ilegalidade muitas atividades agrícolas
praticadas em APPs como grande parte da produção de arroz
de várzea no RS, SP e MA; de búfalos no AM, AP, PA e MA; do
café em SP, MG, PR e BA; da maçã em SC; da uva e vinho no
RS, SC e SP; da pecuária no Pantanal; da pecuária leiteira
em MG, SP, RJ e ES; da cana de açúcar em SP, RJ, MG e PE;
dos reflorestamentos em MG, SP, MA e TO; da pecuária de
corte em grande parte no Brasil, da citricultura em SP, BA
e SE; da irrigação no PE; da mandioca no PE e AM; do tabaco
em SC e BA; da soja em MT, MS, GO, SP e PR, entre os casos
de maior impacto social e econômico.
Os pesquisadores da EMBRAPA alertam ainda para o fato
de que a perda de governança e os conflitos territoriais
tendem a agravar-se dada a demanda adicional por novas
terras da parte de vários segmentos da sociedade. São
demandas ambientais, agrárias, indigenistas, quilombolas,
agrícolas etc. Somente a demanda ambiental para a criação
de novas UCs, corredores ecológicos, áreas de restauração
ecológica e conservação prioritária da biodiversidade visa
mais de 3.000.000km². Só no bioma Amazônia, as áreas
consideradas de Prioridade Extremamente Alta para a
conservação representam quase 719.000km². Entre Prioridade
Alta, Muito Alta e Extremamente Alta essas áreas
representam quase 1.500.000 de km² adicionais só no Bioma
Amazônia. A demanda de terras para atender toda a
necessidade de colonização, assentamento e reforma agrária
é da ordem de 1.600.000 km², segundo estudos realizados
66
incluindo áreas de reserva legal e infra-estrutura. A
demanda para criação e ampliação de terras indígenas situa-
se entre 50 e 100.000 km². A demanda de áreas para
quilombolas chegaria a 250.000 km², segundo estimativas do
INCRA. A demanda agrícola para expansão de alimentos e
energia até 2018, mesmo com a conversão de pastagens em
áreas agrícolas e ganhos de produtividade, situa-se entre
100.000 e 150.000 km². Além disso, há de contar-se as
demandas difusas e concentradas do crescimento das cidades,
da infra-estrutura viária, industrial e energético-
mineradora, a exemplo da implementação das obras do
Programa de Aceleração do Crescimento – o PAC. Toda essa
demanda adicional, numa estimativa preliminar, representa
quase 6.500.000 km², uma área equivalente a soma dos
territórios da Argentina, Bolívia, Uruguai, Peru e
Colômbia. É fisicamente impossível conciliar o uso atual e
atender a totalidade dessas demandas futuras.
Diante deste quadro é inegável que o aquecimento da
demanda por commodities agrícolas implicará em aumento da
demanda por terras agricultáveis e que, limitada a oferta
destas terras, se experimentará uma grande valorização do
seu preço.
Em matéria publicada na revista Agroanalysis de abril
de 2008, intitulada Terra. Preços no Brasil, a partir de
análises extraídos da FGVDados, os autores José Garcia
Gasques e Eliana Teles Bastos informam que o período de
2000 a 2006 representa uma mudança nítida da tendência
anterior de decréscimo do preço da terra, com um aumento
67
real anual dos preços de terras de lavouras e de pastagens
superior a 10% ao ano, com valorização destas últimas um
pouco acima das lavouras em razão da dupla pressão com a
valorização das atividades pecuárias e a substituição de
terras de pastagem por outras atividades, como cana-de-
açúcar e soja.
Para os autores, os fatores que motivaram a elevação
dos preços da terra no Brasil no período de 2000 a 2006
seriam a política cambial de desvalorização do real, as
exportações agropecuárias favorecidas, principalmente nas
cadeias produtivas dos complexos soja e carnes e o
crescimento dos volumes de recursos concedidos do crédito
rural, sem esquecer-se, obviamente, dos preços externos e
internos favoráveis nas principais commodities agrícolas.
Embora não tenhamos dados mais recentes em relação à
valorização do valor da terra no Brasil, notícias
divulgadas na mídia continuam informando esta tendência.
Acreditamos que a proximidade do prazo final para
regularização das áreas de Reserva Legal vem exercendo
grande influência na procura de terras, agora
preferencialmente aquelas com cobertura vegetal nativa.
Outro impacto esperado da legislação florestal sobre
as propriedades rurais é a redução da área destinada à
produção quando ao produtor não for possível adquirir novas
glebas para compor a área de Reserva Legal.
Evidentemente esta redução da área destinada à
produção terá impacto econômico direto para o produtor
68
cabendo a ele, então, buscar meios de aumentar sua
produtividade para compensar a perda da área ou implementar
projetos legais de aproveitamento econômico da área de
Reserva Legal, como, tipicamente, projetos de manejo
florestal.
Em seu excelente e seminal trabalho de doutoramento no
Instituto de Economia da Universidade Estadual de Campinas,
Maria do Carmo Ramos Fasiaben avaliou o impacto econômico
da reserva legal sobre a margem bruta de diferentes tipos
de unidades de produção agropecuária (UPA) da Microbacia do
Rio Oriçanga – São Paulo. A partir de uma tipologia das
UPAs elaborada para a região, escolheram-se dois tipos para
detalhamento do estudo: os Pequenos Produtores de baixa
tecnologia e os Citricultores. Procedeu-se a modelagem da
estrutura produtiva dos dois tipos selecionados, através do
método de programação recursiva, abarcando o período de
2002/2003 a 2008/2009. Os sistemas atuais dos dois tipos de
UPAs foram confrontados a dois cenários de compensação do
déficit de reserva legal: i) através da realocação de áreas
produtivas no interior da própria unidade, procedendo-se a
recuperação da vegetação natural nestas áreas através do
plantio de espécies nativas, com vistas ao manejo
sustentável para exploração de madeira; ii) deixando que na
área se desse o crescimento da vegetação espontânea, sem
nenhum tipo de manejo ou exploração. Os resultados
evidenciam a importância de políticas que permitam uma
distribuição mais equitativa dos custos da conservação
ambiental entre toda a sociedade, bem como a importância de
69
ajustes locacionais das reservas legais, na busca de um
melhor equilíbrio entre a conservação da biodiversidade e o
custo de oportunidade das terras. Isto porque, os
resultados do trabalho sugerem que o pequeno produtor,
aquele que vem desenvolvendo sistemas com baixo nível
tecnológico e que faz parte de um grande contingente em
nosso país, pode se beneficiar do manejo da reserva legal.
Do ponto de vista econômico, o manejo sustentável da
reserva legal manteria inalterada a margem bruta da unidade
de produção. A vantagem reside no fato de que o produtor
obteria a mesma renda numa atividade muito menos intensiva
em mão-de-obra do que as que vem praticando. O problema é
que os maiores ingressos, oriundos da exploração da
madeira-de-lei, somente surgiriam 40 anos após o plantio.
Em relação à unidade típica produtora de citros da
Microbacia do Oriçanga, estimaram-se perdas econômicas da
ordem de 13% quando se convertem terras de culturas para
completar a área exigida para reserva legal, quando esta é
explorada de forma sustentável. No caso em que a área de
reserva não é explorada, essa perda chega a 17% para estas
unidades, enquanto ficaria em 10% para os pequenos
produtores.
A conclusão da autora em seu trabalho é a de que:
“Tais resultados evidenciam a importância de se realizarem
estudos regionalizados do impacto da legislação ambiental
sobre as unidades de produção agropecuárias, considerando a
variedade de situações que compõe a agropecuária paulista.
Tais estudos podem ajudar a orientar políticas públicas
70
complementares ao mecanismo legal de comando e controle,
com o intuito de promover um equacionamento mais justo da
dívida da sociedade para com o meio ambiente definindo,
inclusive, de que modo e em que proporção cada segmento
contribuiria para fazer frente aos custos da preservação
dos ecossistemas.
Mostram-se fundamentais políticas de apoio aos
produtores rurais para permitir o cumprimento da reserva
legal. Há que se fazer frente, inicialmente, a um dos seus
maiores empecilhos: os altos custos de implantação da
recuperação florestal. Aliado a isto, esta o longo prazo
para que se obtenham os retornos mais significativos do
manejo da reserva legal - a exploração da madeira-de-lei -,
previstos para que ocorram em torno de quarenta anos apos a
implantação. São imprescindíveis linhas de créditos
especiais que possibilitem a implantação de modelos de
recuperação das reservas legais, com taxas de juros
subsidiadas e prazos de carência compatíveis. Nos casos de
compensações da reserva legal fora da propriedade, e
relevante se contar com linhas de crédito especiais para o
financiamento de mecanismos como aquisições de terras,
arrendamentos ou aquisições de cotas de reserva legal. O
Estado, ao exigir a preservação de florestas em
propriedades privadas, pretende estender os serviços
ecossistêmicos a toda sociedade. Como essa preservação
representa um ônus aos proprietários de terras, há que se
pensar em mecanismos para recompensá-los, na busca de
justiça distributiva. O pagamento por serviços
71
ecossistêmicos representa o reconhecimento de que não é
justo que os produtores fiquem com todos os custos, além de
ser uma forma de garantir a provisão daqueles serviços.
Valores como os encontrados no presente trabalho podem
servir de orientação a esse tipo de pagamento. Uma vez
tratado o tema da distribuição, devem ser estudados os
desenhos de políticas institucionais que permitam uma
alocação economicamente mais eficiente do uso dos recursos,
mas que levem em conta as restrições ecológicas referentes
à conservação da biodiversidade. Estes desenhos devem, em
principio, possibilitar que este processo possa ser
conduzido através de estímulos de mercado. Na discussão de
uma alocação economicamente mais eficiente do uso dos
recursos, considerando as restrições ecológicas referentes
à conservação da biodiversidade, vem ganhando destaque a
idéia de criação de um mercado para reservas de vegetação
nativa. Para o funcionamento de tais mercados é necessária
a criação de um mecanismo de incentivos econômicos. A
questão da melhor localização das reservas legais poderia
se resumir na busca de um ponto de equilíbrio entre o
mínimo custo de oportunidade de uso das terras, sem perdas
ecológicas relevantes. É preciso ter claro, entretanto, que
os valores que medem o impacto da reserva legal sobre a
renda dos produtores rurais representam apenas uma das
faces de um complexo poliedro, uma vez que são inúmeros os
serviços prestados pelas florestas à humanidade, difíceis
de serem valorados. Por último, cabe reconhecer a limitação
da suposição implícita sobre a continuidade do
72
comportamento atual de indicadores econômicos no longo
prazo. Num horizonte de 80 anos – previsto no modelo de
manejo sustentável da reserva legal - pouco se pode inferir
em relação ao comportamento de indicadores como a taxa de
juros e os preços, por exemplo. Outra limitação diz
respeito à escassez de dados históricos, especialmente os
relacionados à produção, produtividade e preços de madeiras
nativas, que deveriam ser contabilizadas como madeira em pé
nas propriedades”.
Uma possibilidade de uso econômico para as áreas de
Reserva Legal, não contemplada no trabalho retro
mencionado, seria a sua utilização para projetos de MDL.
De acordo com o mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(MDL), os países do Anexo I (industrializados) do Protocolo
de Quioto, podem contribuir financeiramente e os países em
desenvolvimento (não relacionados no Anexo I) podem
beneficiar-se de financiamento para projetos aprovados e
que demonstram estar contribuindo para reduzir emissões de
carbono. A grande motivação do MDL baseia-se na diferença
de custos existentes entre os vários países no que se
refere ao esforço de redução de emissão dos gases de efeito
estufa. Essa diferença o custo marginal será o grande
atrativo para o mercado, de modo a cumprir o acordo com
menores preços11 (SESCOOP, pág. 16). O Brasil, por sua
grande vocação florestal, possui potencial para
11 Os custos marginais para abater uma tonelada de carbono são maisaltos nos países desenvolvidos do que naqueles não industrializados.Nos EUA, são de US$236,00; no Japão, de US$236,00, na EU US$ 180,00,enquanto o Brasil pode ser de apenas US$10,00.
73
implementação de projetos de MDL florestal, inclusive pelo
fato de já existirem metodologias aprovadas pelo Conselho
Executivo da UNFCCC, que são aplicáveis a projetos de
recomposição de mata nativa em áreas legalmente protegidas.
Com a inclusão das florestas no Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo, abriu-se uma janela de oportunidade
para as atividades de florestamente e reflorestamente,
tanto as comerciais quanto às de recomposição de vegetação
nativa. O princípio por trás desse conceito é que as
floresta, durante o seu crescimento, retiram CO2 da
Atmosfera. Cada tonelada desse mesmo CO2 corresponde a um
crédito de carbono, ou REC (Redução de Emissão
Certificada), que pode ser comercializada. Entretanto,
dentre as exigências e condições de aplicabilidade do MDL
florestal é necessário que a terra das atividades do
projeto sejam elegíveis para aquele projeto e que este seja
adicional, sendo estas condições afastadas em razão do
atual marco legal florestal brasileiro, como se explicará a
seguir, de tal forma que, em princípio, o produtor sequer
poderá minimizar seu custo de manutenção das APPs e RL com
projetos de MDL e venda de créditos de carbono.
A COP 7, realizada em Marraqueche, Marrocos no ano de
2001, resultou em decisões aglutinadas no Acordo de
Marraqueche, do qual destaca-se a Decisão 11/CP. 7 que
determina como elegíveis ao MDL – LULUCF no primeiro
período de compromisso (2008-2012), somente as atividades
de florestamento e reflorestamento.
74
As modalidades e procedimentos para a implantação de
tais projetos foram finalizados durante a COP 9, realizada
em Milão, Itália, em 2003.
Um projeto de florestamento ou reflorestamento somente
será adicional se for implantado em uma área não florestal,
como definida na Decisão 11/CP.7 e em consonância aos
critérios determinados pela Autoridade Nacional Designada.
Assim, a adicionalidade de um projeto de florestamento ou
reflorestamento está atrelada ao incremento observado no
fluxo de estoque de carbono decorrente da implantação das
atividades do projeto em áreas ausentes de ocupação
florestal, em comparação ao que teria ocorrido àquelas
áreas sem a presença das atividades do projeto (MANFRINATO,
pag. 26).
Em junho de 2003 em Bonn foi elaborado um relatório de
conclusão, discutindo os métodos para a inclusão de
florestamento e reflorestamento no Artigo 12 do Protocolo
de Quioto. Esse documento sugeriu que durante a COP 9 fosse
discutida a inserção ou não da sentença em colchetes que
afirmava que os projetos florestais somente seriam
adicionais se fossem além dos requisitos institucionais e
legais do país hospedeiro do projeto, assim como das
práticas comuns na região, conforme o texto original
abaixo.
“22. A CDM afforestation or reforestation Project activity
is additional if net anthropogenic greenhouse gas
removals by sinks are increased above those that would
75
have occurred in the absence of registered CDM
afforestation or reforestation project activity [, and it goes
beyond institutional and regulatory requirements and
common practice in the region]. ”
Uma vez inserida, a sentença entre colchetes poderia
excluir a possibilidade de inserção das APP e das RL em
atividades de florestamento e reflorestamento dentro do
MDL. No entanto, na COP 9, um dos aspectos mais relevantes
tratou da não aprovação desta sentença e sua retirada do
documento final. Permitiu-se assim, uma abertura para que,
em certas circunstâncias, os reflorestamentos de APP e RL
possam ser considerados elegíveis.
Essa decisão foi norteada pela possível penalização
que estaria sendo promovida aos países que apresentam
legislações ambientais restritas e de difícil
implementação, como é o caso do Brasil (MANFRINATO, pág.
27).
Assim, a adicionalidade de projetos de florestamento e
reflorestamento somente será aprovada se a quantificação do
estoque de carbono promovido pela implantação das
atividades do projeto na área não florestal, resultar em
incrementos crescentes do estoque de carbono não observados
sem a implantação do mesmo.
Dessa forma, devem ser fornecidas evidências de que
(SICOOB, pág. 61):
76
a) As atividades do projeto converteriam terras
não-florestadas em florestas, o que de outra maneira
não ocorreria;
b) No caso das atividades consistirem no
controle e prevenção de distúrbios (invasões, fogo), a
continuidade dessas ameaças precisa ser provada e
monitorada durante o prazo operacional do projeto;
c) As atividades do projeto levarão a uma
situação onde os limiares nacionais de floresta seriam
alcançados ou excedidos.
Em relação à elegibilidade da área para uma atividade
de projeto de reflorestamento no âmbito do MDL, é
necessário que elas estejam desmatadas, ou seja, não se
enquadram na definição brasileira de floresta, no mínimo,
desde 31 de dezembro de 198912. Para atividades de
florestamento é necessário que estas áreas se encontrem
desmatadas durante pelo menos os últimos 50 anos.
Diante destas condições, resta evidente a dificuldade
para os produtores de apresentação de projetos de MDL
baseados no manejo das áreas de Reserva Legal ou APPs de
suas propriedades.
Com isso descarta-se o que poderia ser uma alternativa
para amortização do custo da manutenção daquelas áreas para
o atendimento á legislação florestal brasileira.
12 Decisão 16/CMP.1 do Conselho Executivo da CQNUMC, disponível em HTTP://unfccc.int/resource/docs/2005/cmp1/eng/08a03.pdf
77
5. O IMPACTO ECONÔMICO DO CÓDIGO FLORESTAL – UMA VISÃOESPECÍFICA A PARTIR DE UM ESTUDO DE CASO.
Para verificar o impacto da legislação ambiental sobre
uma empresa do agronegócio escolhemos uma empresa modelo,
no setor de café a Ipanema Coffees.
Nossa escolha foi motivada pelo fato de que a empresa
representa a nova face do agronegócio brasileiro,
organizada empresarialmente, em um setor, a cafeicultura,
que tem um histórico recente de crises, principalmente em
razão da disparada dos custos de produção. Além disso, é
comum a produção de café me encostas, áreas que legalmente
são de preservação permanente e, portanto, de utilização
proibida.
A Ipanema Coffees, a despeito de toda esta
adversidade, mantém um firme compromisso sócio ambiental
que tem sido reconhecido com uma série de premiações, ao
longo do tempo:
Rainforest Alliance Annual Cupping Contest
(2010), classificado entre os quatro melhores
cafés do mundo em avaliação da Certificadora
Rainforest Alliance durante a SCAA Exhibition de
Anaheim, EUA.
Prêmio Bunge Produtividade (2009), Prêmio
concedido pela empresa BUNGE-Brasil aos melhores
78
produtores agrícolas, pela melhor produtividade
em café no Brasil.
Outstanding Producer (2009), Prêmio concedido
pela SCAE - Associação de Cafés Especiais da
Europa.
Rainforest Alliance Annual Cupping Contest
(2009), Classificado entre os sete melhores cafés
do mundo em avaliação da Certificadora Rainforest
Alliance durante a SCAA Exhibition de Atlanta,
EUA.
Melhor lote de Café brasileiro (2008),
Classificado como melhor café brasileiro em
avaliação da Certificadora Rainforest Alliance
durante a SCAA Exhibition de Long Beach, EUA.
Melhor lote de Café brasileiro (2007);
Classificado como melhor café brasileiro em
avaliação da Certificadora Rainforest Alliance
durante a SCAA Exhibition de Minneapolis, EUA.
Prêmio Assis Chateaubriand de Responsabilidade
Social (2006), Concedido pela TV Alterosa e
Unifenas, como finalista com o Projeto Ciranda da
Leitura do Instituto Ipanema. com o Projeto
Ciranda da Leitura.
Prêmio Assis Chateuabriand de Responsabilidade
Social (2005), Concedido pela TV Alterosa e
Unifenas, com o Projeto Educação em Ação.
79
Prêmio Sustentabilidade Internacional (2004),
Conferido pela Specialty Coffee Association of
America.
Prêmio Voluntários das Gerais (2003), Melhor
projeto de incentivo ao voluntariado – DIA V, do
Estado de Minas Gerais – FIEMG.
Prêmio Voluntários das Gerais (2002); Entre os
três melhores projetos de incentivo ao
voluntariado – Dia V, do Estado de Minas Gerais.
Prêmio Especial Gold Cup of Excellence (2002);
Finalista do Concurso de Qualidade Cafés do
Brasil, pela 2ª vez consecutiva.
Prêmio Especial Gold Cup of Excellence (2001),
Finalista do Concurso de Qualidade Cafés do
Brasil.
Assim, entendemos que tanto em razão da atividade por
ela ocupada, a cafeicultura, quanto de seu declarado
compromisso com o meio ambiente, esta empresa seria ideal
para ilustrar os impactos que uma empresa do agronegócio
experimenta ao buscar ficar compliance com a legislação
florestal brasileira.
Criada em 1969, a Ipanema Coffees é uma empresa
brasileira focada na comercialização e produção de cafés
especiais, sendo hoje uma das mais reconhecidas produtoras
de café do mundo, presente em mais de 20 países.
80
As empresas que compõem a Ipanema Coffees são: Ipanema
Agrícola S.A., Empresa de produção agrícola, especializada
no segmento de cafés especiais com unidades de produção na
região do Sul de Minas, a mais tradicional e reconhecida
região produtora do Brasil, nos municípios de Alfenas,
Machado e Conceição do Rio Verde; Ipanema Comercial e
Exportadora S.A.. Empresa comercial responsável pela
comercialização de café verde e industrializado, tanto para
mercado externo, como para mercado interno e Instituto
Ipanema, Empresa sem fins lucrativos responsável pela
condução dos programas sociais e ambientais das empresas.
Ipanema Agroindústria S.A. nasceu em 1969, como
Condomínio Aliança, quando os três fundadores, Carlos
Moacir, Luiz Cyrillo e Julio Bozano desembarcaram da cidade
de Alfenas, Minas Gerais, típica cidade do interior
mineiro, circundada pelo lago de Furnas buscando,
inicialmente, terras para investir no setor de laranja, mas
visualizaram um grande projeto não só em laranja, mas
principalmente em café. A fase de aquisição de terras,
implantação das lavouras de café e citros e a montagem de
infra-estrutura agroindustrial se estenderam de 1970 a
1986, quando a empresa atingiu a impressionante marca de
3.000 hectares de café e 3.000 hectares de citros. Nascia
assim a maior produtora de laranja de Minas Gerais e a
maior fazenda de café do mundo.
Consolidado o parque de produção a empresa partiu para
a montagem da estrutura de preparo de cafés especiais e a
estruturação de sua área comercial. Esta fase vai de 1987 a
81
1990. Aproveitando as oportunidades surgidas com a abertura
de mercado e o fim das restrições de exportação do então
IBC, em 1991, a empresa inicia sua fase exportadora com seu
primeiro embarque direto da fazenda para um cliente
estrangeiro. Ao longo de 20 anos de atuação a empresa
atinge a marca histórica de mais de 1.000.000 de sacas de
cafés especiais exportadas diretamente da fazenda, para
mais de 15 países. Em 2006, a Cia Bozano deixa o quadro de
acionistas da empresa, possibilitando a entrada do Grupo
Gávea Investimentos e Grupo Paraguaçu. Novo plano
estratégico é traçado e a empresa se estrutura para a sua
internacionalização que culmina com a entrada do Grupo
norueguês Friele em 2008. Em 2009 e 2010, a empresa fecha
acordos comerciais que abriram as portas da Coréia e da
China, para a entrada dos cafés especiais exclusivos da
empresa.
O pioneirismo da Ipanema na busca por certificação de
seu café, foi o grande responsável pela profunda mudança
que a cafeicultura brasileira sofreu depois de 2002. A
participação da Ipanema no processo de adaptação para a
cultura de café, do Código de Boas Práticas Agrícolas
Europeu - EUREPGAP, gerou e suscitou a profunda alteração
na postura das empresas produtoras brasileiras a partir de
então.
Em 1997, a Ipanema foi auditada e certificada em todos
os seus processos de beneficiamento e preparo pela CSC-
Caffè Speciali Certificati, tornando-se a primeira empresa
82
brasileira a embarcar cafés especiais certificados para o
mercado italiano.
Em 2002, a Ipanema alcançava o status da primeira
empresa brasileira a ser certificada pelo código Eurep-Gap
e pelo código UTZ Kapeh.
Em 2003, após recomendação da empresa de auditoria
independente British Institute, a Ipanema Coffees tornava-
se a primeira empresa sul-americana a obter a certificação
do programa Starbucks Preferred Suppliers. Em 2005, o
código é reavaliado e rebatizado com o nome C.A.F.E
Practices.
Em 2004, a Ipanema Coffees entrava para o seleto grupo
de fazendas certificadas segundo o programa Rainforest
Alliance, após rígido processo de auditoria conduzida pela
certificadora Imaflora.
Formulamos as seguintes perguntas à empresa (APÊNDICE
I):
1. A empresa mantém equipe própria específica dedicada
para cuidar das suas questões ambientais? Em caso positivo
favor descrever sua organização.
2. A empresa mantém contrato com terceiros para a
gestão de suas questões ambientais? Em caso positivo favor
descrever as atribuições do contratado.
3. Em caso de resposta positiva às questões
anteriores, favor indicar os custos anuais respectivos e a
respectiva participação nos custos totais da empresa.
83
4. A empresa já foi notificada ou inspecionada por
órgãos de fiscalização ambiental?
5. A empresa já sofreu alguma autuação por infração
ambiental? Em caso positivo favor informar valores e se foi
apresentada defesa e seu resultado e custos envolvidos.
6. Quais as medidas adotadas pela empresa para ficar
compliance com a legislação ambiental brasileira?
7. A empresa mantém áreas de reserva legal em suas
propriedades? Em caso afirmativo, qual o percentual em
relação ao total da propriedade?
8. Houve necessidade de recomposição da área de
reserva legal ou de aquisição de terras para sua
complementação? Em caso afirmativo favor informar os custos
envolvidos.
9. As áreas de reserva legal estão averbadas?
10. Qual o custo incorrido pela empresa para a
averbação das áreas de reserva legal?
11. As propriedades da empresa têm áreas de proteção
permanente? Qual o percentual ocupado por estas áreas em
relação ao tamanho total das propriedades da empresa?
12. A empresa tem produção de café em área de encosta
ou de declividade? Qual a produtividade dessa área, por
hectare, e qual a participação percentual na produção final
da empresa.
84
13. Qual a produtividade, por hectare, das áreas
produtivas das propriedades da empresa.
14. Qual a participação, em percentual, do custo da
terra, na composição do custo total da produção de café da
empresa? Qual a participação das áreas de reserva legal e
APPs neste custo?
15. Qual a política da empresa em relação aos
defensivos agrícolas e suas embalagens.
16. Alguma observação complementar que a empresa
gostaria de fazer?
Antes de analisarmos as respostas gentilmente
fornecidas pela empresa, é preciso se fazer uma breve
exposição do setor cafeicultor.
O Brasil é o maior e mais importante produtor de café
do mundo, apresentando notável diversidade no cinturão
cafeeiro, bem como em qualidades e modelos tecnológicos, o
que, consequentemente, gera custos de produção bastante
díspares. Além disso, o País é o maior exportador e segundo
maior consumidor mundial desta commodity, caminhando a
passos largos para assumir a liderança na quantidade de
bebida consumida (cf. Paulo André Colucci Kawasaki. Um
Raio-X da Cafeicultura Brasileira in Agroanalysis, out.
2009. Pág. 20).
A despeito da sua importância como produtor e
exportador, o Brasil é tomador de preços no café uma vez
que os novos estoques passaram a ser formados nas nações
85
importadoras, transferindo para elas o poder de formação de
preços, o que acentuou o desequilíbrio entre oferta
pulverizada e demanda oligopolizada, uma vez que os
principais consumidores são países desenvolvidos e que
concentram a pequena elite das indústrias torrefadoras
mundiais (Nestlé, Kraft Foofs, Sara Lee, Folgers, Tchibo e
Starbucks).
Enquadrado nessa nova situação de livre mercado, o
Brasil passou a sofrer com a disparada dos custos de
produção e a estabilização dos preços no mercado físico,
situação agravada pela valorização do real perante o dólar.
Este cenário foi o responsável pela queda de
rentabilidade das lavouras de café nos últimos anos, ainda
que a cotação da commodity tenha se valorizado desde o
final de 2010, especialmente para o café arábica, como
demonstram os gráficos abaixo.
86
Os custos da produção do café, calculados pela CONAB,
para a safra 2008/2009, para a região de Guaxupé, próxima a
Alfenas, foi de R$246,10 por saca de 60Kg, considerada uma
produtividade média de 25 sacas por há, quando a cotação
máxima naquela safra pagou aproximadamente R$290,00 por
saca.
Ainda assim, o cafeicultor brasileiro apresenta grande
produtividade em sua cultura, atingindo na média nacional
23,16 sacas de 60Kg por ha e uma média de 24,99 sacas/ha em
Minas Gerais no ano de safra cheia.
Lembramos que na metodologia de cálculo de custo de
produção agrícola da CONAB (cf. no Anexo I o modelo
utilizado para o café na safra 2008/2009) a remuneração da
terra é de 3,90%, considerando que os pólos cafeicultores
estão nas regiões de terra mais valorizadas no Brasil.
A seguir passamos a analisar a resposta que a empresa
generosamente nos forneceu.
87
1. A empresa mantém equipe própria específica dedicada
para cuidar das suas questões ambientais? Em caso positivo
favor descrever sua organização.
Resposta: A Empresa mantém uma Gestão Técnica Agrícola que é
responsável também pelas questões relacionadas á parte ambiental, também
há uma Diretoria Administrativa e Jurídica que cuida da parte da Legislação
Ambiental.
2. A empresa mantém contrato com terceiros para a
gestão de suas questões ambientais? Em caso positivo favor
descrever as atribuições do contratado.
Resposta: A Empresa utiliza alguns assessores na área Ambiental
- assessor para acompanhamento das Normas de Certificação
Ambiental: auditorias, implantação das mudanças das normas, treinamento –
assessoria de dois dias a cada 3 meses
- assessoria para recuperação de áreas de vegetal, plantio de árvores,
adubação, condução e manejo, e relatórios específicos de acompanhamentos
para os órgãos ambientais – assessoria de um dia por mês
3. Em caso de resposta positiva às questões
anteriores, favor indicar os custos anuais respectivos e a
respectiva participação nos custos totais da empresa.
Resposta: Custos
- assessoria de acompanhamento das Normas – R$ 2.250,00/ano
- assessoria de manejo de florestas – R$ 6.000,00/ano
88
Estes custos estão inseridos em um orçamento médio anual de R$
20.000.000,00 corresponde a tudo que se gasta para uma produção média de
100.000 sacas de café/ano
4. A empresa já foi notificada ou inspecionada por
órgãos de fiscalização ambiental?
Resposta: A Empresa já foi notificada pelo órgão ambiental, foi
necessário fazer o processo de Licenciamento Ambiental, as inspeções foram
feitas durante o processo de Licenciamento.
5. A empresa já sofreu alguma autuação por infração
ambiental? Em caso positivo favor informar valores e se foi
apresentada defesa e seu resultado e custos envolvidos.
Resposta: Não houve infração devido aos prazos para obtenção do
Licenciamento ter sido cumprido.
6. Quais as medidas adotadas pela empresa para ficar
‘compliance’ com a legislação ambiental brasileira?
Resposta: A Empresa teve de se adequar Ambientalmente tendo sido
feito:
- compra de uma área para completar a área de Reserva Legal
- recomposição de áreas (plantio) após o levantamento
- levantamento de todos os resíduos gerados pela Empresa e adequação
o seu destino correto
- registro dos recursos renováveis (água) utilizado nos processos
- outorgas onde necessárias
89
7. A empresa mantém áreas de reserva legal em suas
propriedades? Em caso afirmativo, qual o percentual em
relação ao total da propriedade?
Resposta: Sim, a Empresa mantém reserva Legal – 20,24% da área
total
8. Houve necessidade de recomposição da área de
reserva legal ou de aquisição de terras para sua
complementação? Em caso afirmativo favor informar os custos
envolvidos.
Resposta: Sim, houve necessidade da compra de 251 ha, num valor
total de R$ 350.000,00
9. As áreas de reserva legal estão averbadas?
Resposta: Sim, todas as áreas estão averbadas.
10. Qual o custo incorrido pela empresa para a
averbação das áreas de reserva legal?
Resposta: Além da compra das terras foram gastos R$ 335.482,00
referente a todas as adequações dentro da Empresa, registros, estudos.
11. As propriedades da empresa têm áreas de proteção
permanente? Qual o percentual ocupado por estas áreas em
relação ao tamanho total das propriedades da empresa?
Resposta: Sim, a Empresa possui 10,45% de Áreas de Preservação
Permanente.
Área Total 6.097,60 ha 100%
Reserva Legal 1.234,08 ha 20,24%
90
APP 636,94 ha 10,45%
Café 3.710,22 ha 60,85%
Outros –
eucalipto/milho/centr
o de serviços
516,36 ha 8,46%
12. A empresa tem produção de café em área de encosta
ou de declividade? Qual a produtividade dessa área, por
hectare, e qual a participação percentual na produção final
da empresa.
Resposta: Não, a Empresa não possui cafés em áreas de encosta,
houve necessidade da erradicação de cafés nas áreas de APP ao redor de
nascente e da represa de Furnas.
13. Qual a produtividade, por hectare, das áreas
produtivas das propriedades da empresa.
Resposta: A Empresa possui 3.400 há de área de café (área útil),
produzindo uma média de 30 sacas de 60 kg/ha, numa média de 100.000 sacas
de café a cada ano.
14. Qual a participação, em percentual, do custo da
terra, na composição do custo total da produção de café da
empresa? Qual a participação das áreas de reserva legal e
APPs neste custo?
Resposta: No custo da Empresa não é considerado o custo da terra,
também não é considerado o custo da Reserva Legal e APP´s.
15. Qual a política da empresa em relação aos
defensivos agrícolas e suas embalagens.
91
Resposta: Todas as embalagens de defensivos agrícolas são lavadas
(tríplice lavagem) furadas e são destinadas as usinas de reciclagem regionais,
mesmo antes de a Legislação entrar em vigor cobrando o destino correto das
embalagens a Empresa já exigia que os fornecedores de defensivos indicassem
no ato da compra o destino das embalagens.
16. Alguma observação complementar que a empresa
gostaria de fazer?
Resposta: A Empresa possuiu os certificados Rainforest, Utz Kapeh e
Starbucks, estes selos incentivaram a recuperação das RL e APP mesmo antes
da Legislação Nacional aprimorar o código. A recuperação e preservação das
áreas ambientais é compensador, mas achamos que para empreendimentos
que foram estabelecidos antes da legislação fosse dado um prazo maior para a
adequação.
Das respostas fornecidas podemos inferir as seguinte
informações importantes para este trabalho:
A empresa trabalha com um custo por saca planejado de
R$200,00 por saca e atinge índices de produtividade de 30
sacas por ha. Vê-se que a empresa conseguiu otimizar seus
custos e sua produtividade operando com valores menores do
que o estimado pela CONAB para aqueles e com resultados
superiores à média da sua região em relação a esta última.
Tais resultados devem-se inegavelmente à gestão
empresarial e ao investimento em tecnologia de ponta na
produção.
Chama nossa atenção que, conquanto os custos com
assessoria de acompanhamento de normas (compliance) e de
92
manejo florestal estejam incluídos no custo da produção, a
empresa informa que não incluir nesses mesmos custos aquele
referente à terra (e, dentro desta conta, consequentemente,
o custo das áreas improdutivas).
De toda sorte, temos que o investimento total da
empresa para ficar compliance com a legislação florestal foi
de R$ 685.482,00.
A este desembolso, deverá ser somado o custo de
oportunidade referente aos 1.234,08 ha de RL (sem considerar
as APPs de encosta de morro em que a Empresa deixou de
cultivar café).
No primeiro caso, tomando-se por paradigma o
investimento de Notas do Tesouro Nacional indexados ao
IPCA13, tem-se o custo de oportunidade equivalente a 5,07%
a.a.
Com relação á RL, sem nos preocuparmos em
precificarmos o valor da terra e calcularmos o custo de
oportunidade financeira, segundo o mesmo critério acima
utilizado, podemos calcular a quantidade de sacas que
deixaram de se produzidas, considerando a produtividade da
área agricultável e chegaremos ao total de 37.022,4 sacas.
Se tomarmos por base o custo da produção informado
pela empresa de R$200,00 por saca e o preço de venda de
13 Utilizamos a NTNB Principal 150515 com vencimento para 15/05/2015, cotação de 09/09/2011. Cf. http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro_direto/consulta_titulos/consultatitulos.asp
93
R$511,0014, termos uma margem de contribuição de R$311,00
por saca, o que implicaria em um custo de oportunidade para
a RL de, aproximadamente, R$11.5139.66,40.
Obviamente estes números são expressivos e evidenciam
a efetiva contribuição da empresa para o meio ambiente.
Fica igualmente evidente que o custo de oportunidade
da empresa é diretamente proporcional à sua produtividade
e, portanto, à sua eficiência.
Sabendo-se que a empresa estudada não representa a
maioria dos produtores de café (dada a pulverização desta
produção e a heterogeneidade das UPAs na cultura do café),
destacando-se, como já dito anteriormente, por sua gestão
empresarial, alta produtividade e controle de custos, é o
caso de se perguntar como impactará o cumprimento da
legislação florestal e estes outros produtores.
Inegavelmente não serão todos que poderão imobilizar
parte de seu ativo circulante em novas terras para
completar a área de Reserva Legal. Poucos mesmos poderão
abrir mão de suas culturas em encostas de morro, área de
proteção permanente.
A conta fica ainda mais sensível quando acrescentamos
os custos de recuperação de áreas degradadas, o que, no
nosso estudo de caso não foi necessário.
O fato é que o custo da preservação de um bem de
todos, o meio ambiente saudável, está posto como ônus14 Cotação em 09/09/2011 segundo o Centro do Comércio do Café de Minas Gerais. Cf. http://www.cccmg.com.br/cotacaocafe2.asp?codigo=3189
95
6. CONCLUSÕES
O que pode ser feito para conciliar a legalidade da
produção com a conservação da vegetação natural e o
desenvolvimento da agropecuária?
De pronto é preciso repensar o marco legal regulatório
do uso e proteção das florestas visando a) melhorar sua
eficácia, b) resolver o problema dos passivos já existentes
e com isto viabilizar sua aplicabilidade, e c) garantir que
ele seja cumprido no futuro.
Repensar o Código Florestal, como estamos vendo em
relação ao Projeto de Lei 1.876/99 não é um exercício fácil
e a principal dificuldade é a diversidade de situações
existentes, mas é uma tarefa á qual a presente geração não
se pode furtar sob pena de ver-se em débito com as gerações
futuras.
Outro caminho a ser necessariamente trilhado é o da
repartição do ônus da preservação ambiental com toda a
sociedade por ela beneficiada criando-se meios eficazes de
pagamento ao produtor pelos chamados serviços ambientais,
aí incluída a manutenção de vegetação nativa, além de
mercados fortes e ativos que estimulem o reflorestamento
e, principalmente, o florestamento, para além do manejo
florestal.
96
Evitar a degradação e revisar o Código Florestal de
maneira que ele possa melhorar sua eficiência nos parece
ser o caminho, provavelmente não o mais fácil, mas
provavelmente o mais responsável (SPAROVECK et al, pág. 7).
O que não se pode fazer é ignorar que a realidade
atual é perversa ao produtor e que pode criar obstáculos
sérios ao cumprimento pelo Brasil, de sua missão de
alimentar o mundo.
97
REFERÊNCIAS
AHRENS Sergio. O código florestal brasileiro e o uso da
terra: histórico, fundamentos e perspectivas (uma síntese
introdutória). Revista de Direitos Difusos - VoI. 31 -
Mai.-Jul/2005. Disponível em:
http://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/312076/1/O
codigoflorestalbrasileiroeousodaterra.pdf> Acesso em: 06 de
setembro de 2011
BREALEY, Richard A.; MYERS, Stewart C.; ALLEN, Franklin.
Princípios de finanças coporativas. Tradução Maria do Carmo
Figueira, Nuno Carvalho; revisão técnica Fabio Gallo
garcia, Luiz Alberto Bertucci. 8ª Ed. – São Paulo: McGraw-
Hill, 2008.
BURANELLO, Renato Macedo; SOUZA, André Ricardo Passos de;
PERIN JR., Ecio (coord.). Direito do Agronegócio: Mercado,
Regulação, Tributação e Meio Ambiente – São Paulo: Quartier
Latin, 2011.
Companhia Nacional de Abastecimento. Acompanhamento da
Safra Brasileira Café Safra 2011 segunda estimativa,
maio/2011 /. - Brasília: Conab, 2011Companhia Nacional de Abastecimento. Custos de produção
agrícola: a metodologia da Conab. Brasília: Conab, 2010
98
DOSSA, Derli, RIBAS, Newton Pohl. Produção agropecuária e
proteção ambiental. Revista Agroanalysis. Fundação Getúlio
Vargas, São Paulo, SP, p. 46 - 47, mar. 2009
FASIABEN, Maria do Carmo Ramos. Impacto Econômico Da
Reserva Legal Florestal Sobre Diferentes Tipos de Unidades
de Produção Agropecuária. Tese de Doutorado disponível em
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?
code=000615861&fd=y>. Acesso em: 06 de setembro de 2011.
FASIABEN, Maria do Carmo Ramos; PERES, Fernando Curi;
ROMEIRO, Ademar Ribeiro; MAIA, Alexandre Gori. Impacto
Econômico Da Reserva Legal Florestal Sobre Diferentes Tipos
de Unidades de Produção Agropecuária. Trabalho apresentado
no 48º Congresso da sociedade Brasileira de Economia,
Administração e Sociologia Rural em julho de 2010.
Disponível em http://www.sober.org.br/palestra/15/458.pdf>
Acesso em: 06 de setembro de 2011.
FASIABEN, Maria do Carmo Ramos; ROMEIRO, Ademar Ribeiro e
MAIA, Alexandre Gori. Reserva Legal Florestal: uma leitura
sob a ótica da Economia Ecológica. Trabalho apresentado no
V Encontro Nacional da Anppas 4 a 7 de outubro de 2010
Florianópolis - SC – Brasil
FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental
Brasileiro. 6ª Ed. Ampl. – São Paulo: Saraiva, 2005.
GARCIA, Maria da Glória F.P.D. O Lugar do Direito na
Proteção do Ambiente. Coimbra Edições Almedina S.A., 2007.
99
GASPAR, Pedro Portugal. O Estado de emergência Ambiental.
Coimbra: Almedina, 2005.
MANFRINATO, Warwick. Áreas de preservação permanente e
reserva legal no contexto da mitigação de mudanças
climáticas: mudanças climáticas, o código florestal, o
Protocolo de Quioto e o mecanismo de desenvolvimento
limpo / coordenação de Warwick Manfrinato; coautores Maria
Jose Zakia ... [et al.]. - Rio de Janeiro: The Nature
Conservancy; Piracicaba: Plant Planejamento e Ambiente
Ltda, 2005.
MENDES, Judas Tadeu Grassi e PADILHA JR., João Batista.
Agronegócio: uma abordadem econômica. São Paulo: Person
Prentice Hall, 2007
MIRANDA, E. E de; OSHIRO, O. T.; VICTORIA, D. de C.; TORRESAN,
F. E.; CARVALHO, C. A. de. O alcance da legislação ambiental e
territorial. Revista Agroanalysis. Fundação Getúlio Vargas, São
Paulo, SP, p. 25 - 31, dez. 2008.
MIRANDA, E. E.; CARVALHO, C. A.; SPADOTTO, C. A.; HOTT, M. C.;
OSHIRO, O. T.; HOLLER, W. A.; Alcance Territorial da Legislação
Ambiental e Indigenista. Campinas: Embrapa Monitoramento por
Satélite, 2008. Disponível em:
<http://www.alcance.cnpm.embrapa.br/>. Acesso em: 8 set. 2011.
MORAES, Luis Carlos Silva de. Código florestal comentado.
4ª Ed. – São Paulo: Atlas, 2009
MORAES, Luís Carlos Silva de. Código Florestal Comentado. 4º Ed.
São Paulo: Atlas. 2009.
100
Revista Agroanalysis. Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, SP,
vol 29, nº 11, Nov. 2009.
Revista Agroanalysis. Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, SP,
vol 31, nº 06, jun. 2011.
Revista Agroanalysis. Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, SP,
vol 28, nº 04, abr. 2008.
Revista Agroanalysis: Especial A importância do Cooperativismo.
Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, SP, p. 19 - 32, jul. 2009
Revista Agroanalysis: Especial Abag. Fundação Getúlio Vargas,
São Paulo, SP, p. 26 - 33, jan. 2010
Revista Agroanalysis: Especial Café. Choque de Gestão Público e
Privado. Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, SP, p. 21- 33, out.
2010
Revista Agroanalysis: Especial Café. Raio X da crise do café
brasileiro. Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, SP, p. 18- 33,
out. 2009
Revista Agroanalysis: Especial Código Florestal. Fundação
Getúlio Vargas, São Paulo, SP, p. 29 - 34, jun. 2009
RODRIGUES, Roberto. Depois da Tormenta. São Paulo, 2008
SALVATORE, Dominick. Microeconomia. Tradução Celina Martins
Ramalho; revisão técnica Paulo Sérgio Tenani. 3ª Ed. – São
Paulo: Makron Books, 1996.
SANTOS, Roberto Vatan dos. Aplicação Do Custo De Oportunidade Às
Decisões De Preço De Venda Sob O Enfoque Do Custeio Direto.
Trabalho apresentado no “IV Congresso Internacional de Custos”,
realizado na Universidade Estadual de Campinas, no período de 16
101
a 20 de outubro de 1995. Disponível em:
http://www.bibliotecadigital.unicamp.br/document/?code=114>
Acesso em: 08 de setembro de 2011.
Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. MDL
Florestal para Cooperativas. Publicação Coordenada pela Gerência
de Desenvolvimento em Mercados . Desenvolvida pela The Green
Iniciative. Brasília. 2010
SPAROVEK, G. Reflexões preliminares sobre o novo Código
Florestal. 2010. Disponível em: <
http://www.scribd.com/doc/32920361/OpNewCF-100610-v1>.
Acesso em: 06 de setembro de 2011
SPAROVEK, G.; BARRETTO, A.; KLUG, I.; BERNDES, G.
Considerações sobre o Código Florestal brasileiro.
Disponível
em:<http://www.scribd.com/doc/32533526/Consideracoes-Sobre-
o-CFlorestal>. Acesso em: 06 de setembro de 2011
The Economist: Brazilian agriculture: The miracle of the
cerrado. Brazil has revolutionised its own farms. Can it do the
same for others? 26/08/2010. Disponível em:
http://www.economist.com/node/16886442. Acessado em 08 de
setembro de 2011.
The Economist: Brazil's agricultural miracle. How to feed the
world. The emerging conventional wisdom about world farming is
gloomy. There is an alternative. 26/08/2010. Disponível em:
http://www.economist.com/node/16889019 . Acessado em 08 de
setembro de 2011.
102
APÊNDICES
Apêndice 1 – Correspondência enviada à empresa Ipanema Coffees
São Paulo, 28 de junho de 2011
À Diretoria
Ipanema Cofees
Rodovia BR 369,
Fazenda Conquista
Alfenas – MG
Ref.: Trabalho de Conclusão do Curso MBA em Gestão do
Agronegócio pela Fundação Getúlio Vargas
Prezados Srs.:
Inicialmente gostaria de expressar minha
imensa gratidão e satisfação em poder encaminhar-lhes a
inclusa pesquisa para as providências de V. Sas.
Esclareço-lhes que meu trabalho de conclusão
do curso MBA em Gestão do Agronegócio pela Fundação Getúlio
Vargas tem por objeto de pesquisa o impacto da legislação
ambiental, especificamente o Código Florestal Brasileiro
vigente, sobre os custos no agronegócio brasileiro.
Sei que a empresa de V. Sas. está compliance com
a legislação ambiental e, por isso, gostaria de usar os
respectivos dados exclusivamente como estudo de caso para
minha monografia.
Peço-lhes a permissão para identificação da
empresa de V. Sas. em meu trabalho e a utilização,
igualmente, dos dados que constam de seu sítio eletrônico na
internet, para os fins de descrição de suas atividades e
103
organização, em complemente aos dados solicitados na
pesquisa anexa.
Agradeço-lhes, uma vez mais, a atenção que me
foi dispensada, colocando-me à disposição de V. Sas. para
quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente
Frederico Favacho
PESQUISA
1. A empresa mantém equipe própria específica dedicada para
cuidar das suas questões ambientais? Em caso positivo favor
descrever sua organização.
2. A empresa mantém contrato com terceiros para a gestão de
suas questões ambientais? Em caso positivo favor descrever
as atribuições do contratado.
3. Em caso de resposta positiva às questões anteriores, favor
indicar os custos anuais respectivos e a respectiva
participação nos custos totais da empresa.
4. A empresa já foi notificada ou inspecionada por órgãos de
fiscalização ambiental?
5. A empresa já sofreu alguma autuação por infração ambiental?
Em caso positivo favor informar valores e se foi apresentada
defesa e seu resultado e custos envolvidos.
6. Quais as medidas adotadas pela empresa para ficar compliance
com a legislação ambiental brasileira?
7. A empresa mantém áreas de reserva legal em suas
propriedades? Em caso afirmativo, qual o percentual em
relação ao total da propriedade?
8. Houve necessidade de recomposição da área de reserva legal
ou de aquisição de terras para sua complementação? Em caso
afirmativo favor informar os custos envolvidos.
9. As áreas de reserva legal estão averbadas?
104
10. Qual o custo incorrido pela empresa para a averbação das
áreas de reserva legal?
11. As propriedades da empresa têm áreas de proteção
permanente? Qual o percentual ocupado por estas áreas em
relação ao tamanho total das propriedades da empresa?
12. A empresa tem produção de café em área de encosta ou de
declividade? Qual a produtividade dessa área, por hectare, e
qual a participação percentual na produção final da empresa.
13. Qual a produtividade, por hectare, das áreas produtivas das
propriedades da empresa.
14. Qual a participação, em percentual, do custo da terra, na
composição do custo total da produção de café da empresa?
Qual a participação das áreas de reserva legal e APPs neste
custo?
15. Qual a política da empresa em relação aos defensivos
agrícolas e suas embalagens.
16. Alguma observação complementar que a empresa gostaria de
fazer?
105
Apêndice 2 – Resposta da empresa Ipanema Coffees às questõespropostas no Apêndice 1.
RESPOSTAS PESQUISA:
Resposta 1:
A Empresa mantém uma Gestão Técnica Agrícola que é
responsável também pelas questões relacionadas á parte
ambiental, também há uma Diretoria Administrativa e
Jurídica que cuida da parte da Legislação Ambiental.
Resposta 2:
A Empresa utiliza alguns assessores na área Ambiental
- assessor para acompanhamento das Normas de Certificação
Ambiental: auditorias, implantação das mudanças das
normas, treinamento – assessoria de dois dias a cada 3
meses
- assessoria para recuperação de áreas de vegetal, plantio
de árvores, adubação, condução e manejo, e relatórios
específicos de acompanhamentos para os órgãos ambientais –
assessoria de um dia por mês
Resposta 3:
Custos
- assessoria de acompanhamento das Normas – R$
2.250,00/ano
- assessoria de manejo de florestas – R$ 6.000,00/ano
Estes custos estão inseridos em um orçamento médio anual
de R$ 20.000.000,00 corresponde a tudo que se gasta para
uma produção média de 100.000 sacas de café/ano
Resposta 4:
A Empresa já foi notificada pelo órgão ambiental, foi
necessário fazer o processo de Licenciamento Ambiental, as
inspeções foram feitas durante o processo de
Licenciamento.
106
Resposta 5:
Não houve infração devido aos prazos para obtenção do
Licenciamento ter sido cumprido.
Resposta 6:
A Empresa teve de se adequar Ambientalmente tendo sido
feito:
- compra de uma área para completar a área de Reserva
Legal
- recomposição de áreas (plantio) após o levantamento
- levantamento de todos os resíduos gerados pela Empresa e
adequação o seu destino correto
- registro dos recursos renováveis (água) utilizado nos
processos
- outorgas onde necessárias
Resposta 7:
Sim, a Empresa mantém reserva Legal – 20,24% da área total
Resposta 8:
Sim, houve necessidade da compra de 251 há, num valor
total de R$ 350.000,00
Resposta 9:
Sim, todas as áreas estão averbadas.
Resposta 10:
Além da compra das terras foram gastos R$ 335.482,00
referente a todas as adequações dentro da Empresa,
registros, estudos.
Resposta 11:
Sim, a Empresa possui 10,45% de Áreas de Preservação
Permanente.
Área Total 6.097,60 ha 100%
Reserva Legal 1.234,08 ha 20,24%
APP 636,94 ha 10,45%
Café 3.710,22 ha 60,85%
107
Outros – eucalipto/milho/centro de serviços 516,36 ha
8,46%
Resposta 12:
Não, a Empresa não possui cafés em áreas de encosta, houve
necessidade da erradicação de cafés nas áreas de APP ao
redor de nascente e da represa de Furnas.
Resposta 13:
A Empresa possui 3.400 há de área de café (área útil),
produzindo uma média de 30 sacas de 60 kg/há, numa média
de 100.000 sacas de café a cada ano.
Resposta 14:
No custo da Empresa não é considerado o custo da terra,
também não é considerado o custo da Reserva Legal e APP´s.
Resposta 15:
Todas as embalagens de defensivos agrícolas são lavadas
(tríplice lavagem) furadas e são destinadas as usinas de
reciclagem regionais, mesmo antes de a Legislação entrar
em vigor cobrando o destino correto das embalagens a
Empresa já exigia que os fornecedores de defensivos
indicassem no ato da compra o destino das embalagens.
Resposta 16:
A Empresa possuiu os certificados Rainforest, Utz Kapeh e
Starbucks, estes selos incentivaram a recuperação das RL e
APP mesmo antes da Legislação Nacional aprimorar o código.
A recuperação e preservação das áreas ambientais é
compensador, mas achamos que para empreendimentos que
foram estabelecidos antes da legislação fosse dado um
prazo maior para a adequação.
109
ANEXOS
Anexo 1. Tabela Conab para custo de produção estimado de caféarábica
CUSTO DE PRODUÇÃO ESTIMADOCAFÉ ARÁBICA
CULTIVO SEMI ADENSADO SAFRA 2008/2009
LOCAL: GUAXUPÉ -MG25 scs - de 60 kg/ha
A PREÇOS
DE:
18-abr-
08PARTICIPAÇÃO
DISCRIMINAÇÃO(R$/ha)
(R$/60
kg)(%)
I - DESPESAS DE CUSTEIO DA LAVOURA 1 - Operação com avião 0,00 0,00 0,00% 2 - Operação com máquinas 132,50 5,30 2,15% 3 - Analise de solo ,Sacaria e
outros185,42 7,42 3,01%
4 - Mão-de-obra temporária (com
encargos sociais)1.727,78 69,11 28,08%
5 - Mão-de-obra fixa (com
encargos sociais)1.139,55 45,58 18,52%
7 - Mudas 0,00 0,00 0,00% 8 - Fertilizantes 1.158,30 46,33 18,83% 9 - Defensivos 411,50 16,46 6,69%TOTAL DAS DESPESAS DE CUSTEIO DA
LAVOURA (A)4.755,05 190,20 77,29%
II - DESPESAS PÓS-COLHEITA 1 - Transporte externo 28,67 1,15 0,47% 2 - Recepção, limpeza, secagem e
armazenagem 30-d0,00 0,00 0,00%
3 - PROAGRO 0,00 0,00 0,00% 4 - Assistência Técnica 0,00 0,00 0,00%Total das Despesas Pós-Colheita (B) 28,67 1,15 0,47%III - DESPESAS FINANCEIRAS 1 - Juros 97,80 3,91 1,59%Total das Despesas Financeiras (C) 97,80 3,91 1,59%CUSTO VARIÁVEL (A+B+C = D) 4.881,52 195,26 79,34%
110
IV - DEPRECIAÇÕES 1 - Depreciação de
benfeitorias/instalações65,11 2,60 1,06%
2 - Depreciação de implementos 7,63 0,31 0,12% 3 - Depreciação de máquinas 24,00 0,96 0,39% 4 - Depreciação da cafezal 743,69 29,75 12,09%Total de Depreciações (E) 840,43 33,62 13,66%V - OUTROS CUSTOS FIXOS 1 - Manutenção periódica de
máquinas11,52 0,46 0,19%
2 - Seguro do capital fixo 9,16 0,37 0,15%Total de Outros Custos Fixos (F) 20,68 0,83 0,34%Custo Fixo (E+F = G) 861,11 34,44 14,00%CUSTO OPERACIONAL (D+G = H) 5.742,63 229,71 93,34%
VI - RENDA DE FATORES 1 - Remuneração esperada sobre
capital fixo146,92 5,88 2,39%
2- Remuneração esperada sobre o
cafezal22,94 0,92 0,37%
3 - Terra 240,00 9,60 3,90%Total de Renda de Fatores (I) 409,86 16,39 6,66%CUSTO TOTAL (H+I = J) 6.152,50 246,10 100,00%
CONAB/DIGEM/SUINF/GECUP