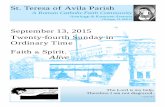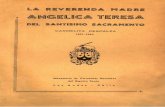Imagens de mulheres em Margarida Gil e Teresa Villaverde
Transcript of Imagens de mulheres em Margarida Gil e Teresa Villaverde
1
Novas & velhas tendências
no cinema português contemporâneo
ENSAIOS
Fig. 1. Esquema sinóptico das oposições pertinentes (designação de Pierre Bourdieu)(1).
Imagens de mulheres em Margarida Gil e Teresa Villaverde
Vanessa Sousa Dias
No colóquio internacional Três Dias sobre o Racismo, de Junho de 1991, cujas
participações se encontram compiladas no livro Racismo e Modernidade, sob
direcção de Michel Wieviorka, a psicanalista e politóloga francesa Antoinette
Fouque analisa a problemática da misoginia, colocando em evidência o facto de
certos tipos de discriminação – com base na etnia, na nacionalidade, na língua, na
cultura, entre outras – terem merecido, ao longo do séc. XX, uma atenção por parte
dos Estados que contrasta largamente com a omissão e desresponsabilização face à
discriminação com base no género. Se é verdade que nos movemos numa
sociedade que se preocupa progressivamente com a defesa de valores
2
democráticos que igualizam os seres humanos – sob a égide da não discriminação e
da promoção da igualdade –, reconhecemos também que a discriminação com base
no género parece ter criado raízes que fundamentam diferenças tão incongruentes
como a diferença salarial entre homens e mulheres1 ou como atitudes
generalizadas de tratamento desigual que têm sido, em grande medida,
promotoras de um sem número de tratamentos cruéis e degradantes que
continuam a ameaçar a segurança das mulheres, como a violência doméstica, a
violação, agressões físicas e verbais, o incesto, em tempos de paz ou de guerra (2).
O objecto do presente ensaio não é o desenvolvimento da particularidade do
discurso de Antoinette Fouque, mas sim a representação do lugar das mulheres
nas sociedades ocidentais, e, mais especificamente, a forma como o cinema (em
exemplos portugueses) se alimenta das representações da mulher fabricadas em
sociedade.
As problematizações enunciadas por Antoinette Fouque a propósito do
constante esquecimento (por parte de homens e de mulheres) das dinâmicas que
actuam diante e sobre o ser humano, conduzem-nos imediatamente ao que Pierre
Bourdieu teorizou como sendo a dominação masculina e a construção social dos
corpos; de acordo com Bourdieu, a construção social dos corpos tem como
principal referente a própria corporeidade biológica: é ela que está na base da
divisão entre sexos, sendo tida como algo de natural e inquestionável,
precisamente pelo facto de estar incorporado nos corpos sociais e por actuar ao
nível dos sistemas de percepção, do nosso pensamento e acções.
No seu livro A Dominação Masculina, Bourdieu parte da análise etnográfica
da sociedade histórica dos Beberes da Cabília estabelecendo, a partir daí, o
esquema sinóptico das oposições pertinentes, um instrumento de socioanálise do
inconsciente androcêntrico que convida à desmistificação da construção social dos
corpos feminino e masculino, permitindo ainda questionar categorias e atributos
tidos como naturais e que permanecem activos nas sociedades ocidentais. A
experiência que temos do mundo passa, também, pela apreensão de uma divisão
socialmente construída entre sexos como se estes fossem naturais, evidentes, logo
3
reconhecíveis (porque são social e inconscientemente aceites) e passíveis de ser
representados com base em princípios aprendidos, interiorizados – incorporados,
diria Bourdieu – nos nossos corpos e nas nossas estruturas de pensamento-acção.
Interessa acrescentar, sumariamente, que a ordem social em que nos movemos
funciona como uma máquina simbólica, que ratifica e confirma, a todo o momento,
a dominação masculina e androcêntrica em que assenta. Isso é possível, em boa
parte, graças aos efeitos de legitimação e de violência simbólica que, em certos
sentidos, conduz a que os próprios dominados – neste caso as mulheres (3) –
contribuam e promovam, por vezes sem noção disso, a dominação masculina (4).
Estas linhas de pensamento de Pierre Bourdieu permitem treinar um olhar
que aprofunda as características atribuídas, ou associadas ao sexo feminino –
características que unificam todos os seres de um género específico e que, ao
mesmo tempo, o tornam oposto a outro género; e permitem também promover um
pensamento crítico sobre a imagem da mulher nas sociedades ocidentais
contemporâneas. Neste sentido, torna-se pertinente deslocar estas questões para o
cinema, na sua qualidade de veículo que desempenha uma função de legitimição no
que respeita à promoção de imagens – positivas ou negativas – de actores sociais,
trabalhando frequentemente a partir de dominadores comuns de grupos sociais
para dar uma certa imagem e uma certa ideia da interioridade das personagens. Ou
seja: o cinema recorre, tendencialmente, fundamentalmente e com frequência, a
traços característicos e identificáveis, para englobar um sem número de sentidos –
pense-se na própria música, que com alguns acordes de acordeão nos introduz, na
qualidade de espectadores, em Itália ou em Roma (5) ; tais traços funcionam como
infra-estrutura (sustentando, assim, tudo aquilo que supostamente lhes subjaz).
Ao nível das representações e dos estereótipos da mulher – o que é que
caracteriza uma mulher; que imagens da mulher se promovem actualmente no
cinema português – interessa perceber sobre que tipo de estrutura está o cinema a
trabalhar quando nos introduz uma personagem feminina, especialmente se
pensarmos o protagonismo no feminino. Para efeitos de análise, seleccionámos
quatro filmes de duas realizadoras portuguesas, Margarida Gil – Relação Fiel e
Verdadeira e Adriana – e Teresa Villaverde – Água e Sal e Transe –, sendo que o
4
primeiro critério que orientou esta selecção residia no género das realizadoras e
das protagonistas; não obstante esse primeiro aspecto, interessou a redução deste
ensaio à produção nacional compreendida entre o final dos anos 80 e a
actualidade, tendo especificamente em conta casos de realizadoras que se
destacassem pelo volume de trabalho e pelo reconhecimento nacional /
internacional. Um terceiro critério foi o assegurar que as obras advêm de
argumentos originais e não de adaptações, sendo a única semi-excepção o filme
Relação Fiel e Verdadeira, que tem por inspiração a autobiografia da freira
escritora Clara do Santíssimo Sacramento, Fiel e Verdadeyra Relação.
Esclarece-se desde já que a opção de analisar o trabalho de realizadoras não
passa pela defesa de que existe uma “realizaç~o no feminino”, ou seja, que {s
mulheres é inerente uma abordagem específica e distinta da feita por realizadores
homens. Esta análise guia-se sobretudo pelo estruturalismo construtivista de
Bourdieu, rejeitando-se, assim, a ideia de que os estereótipos e ideias-feitas acerca
de um género são naturais, logo inatos (são, sim, e pelo contrário, fruto de
construção e de enraizamento nos corpos sociais). Resumindo: o olhar direcciona-
se aqui para a representação de mulheres por outras mulheres: que traços são
passíveis de ser deslindados? Que aspectos aproximam as protagonistas destes
filmes? E que aspectos as afastam? O que existe, nestes exemplos, que mereça
reflexão a partir dos enunciados propostos?
Relação Fiel e Verdadeira (1989) – Margarida Gil
No século XVII, Antónia Margarida Castelo Branco, oriunda de uma abastada
família rural do Norte do país e órfã de pai, é entregue por sua mãe a Brás Telles de
Menezes, um homem que é prontamente descrito como pobre, jogador e terrível.
Antónia, ao descobrir que o futuro marido terá agredido fisicamente o irmão desta,
Afonso, confessa preferir a castidade a casar-se. Apesar desse episódio de exercício
de violência gratuita, a mãe de Antónia dissuade a filha, afirmando que nunca
5
deverá entrar em confronto com Brás: a protagonista passa então a estar proibida
de fazer frente ao homem a quem pertencerá, sendo que ela própria admite estar
“pronta para obedecer a um homem que seja temente a Deus”.
Brás, dominado pelo seu hábito de jogo, perde toda a fortuna da mulher.
Quem o recrimina e pede satisfações é, não Antónia, mas sim a mãe desta –
precisamente a personagem que anteriormente induziu a filha à submissão
(paradoxalmente, esta personagem ocupa simultaneamente o papel de matriarca
com poder de decisão face ao que acontece em seu redor) –; na conclusão desse
confronto, Antónia assume o partido do marido e sublinha que é ele quem sabe o
que é melhor para o casal, apesar das evidências, mostrando assim a
irreversibilidade da união entre homem e mulher – na óptica de uma mulher
temente a Deus e assumindo a postura de submissão anteriormente encorajada
pela mãe.
Durante o filme Brás protagoniza uma série de agressões com violência
crescente: ameaça Antónia com um punhal (embora esse gesto seja puramente
simbólico, já que ela não apresenta um mínimo sinal de resistência; está sempre
cabisbaixa, solícita, submissa e mole diante do marido); acusa-a de fingir,
julgamento extensível a todas as mulheres (“como todas as mulheres, finges”);
fechando-a à chave e insultando-a, e chegando a declarar-lhe que ela lhe pertence e
que poderá matá-la, se assim o desejar.
Mais tarde assistimos a um exercício de brutalidade no qual Brás, dizendo-se
cheio de ódio, pede a Antónia que escreva uma confissão que vai ditando: Brás
assume que “as mulheres” s~o o seu mal e descreve as muitas aventuras sexuais –
num discurso ostensivo e promotor de uma imagem viril e de conquistador –
diante de Antónia, o que faz com que esta chore. Ele, por seu lado, continua como
que prisioneiro de um prazer sádico e martiriza a mulher.
6
Água e Sal (2001) – Teresa Villaverde
A protagonista de Água e Sal é Ana, uma mulher casada e com uma filha, que
se encontra em ruptura com o marido. Trata-se, neste caso, da história de uma
mulher que deambula e que se isola: logo no começo do filme é explicitada a
necessidade que Ana sente de estar só, longe do núcleo familiar, para se poder
concentrar no trabalho. Ao ficar finalmente só no Algarve (local onde se desenrola
boa parte da acção) e em pleno Estio, Ana não consegue trabalhar e começa a
frequentar festas locais, aceitando a companhia de desconhecidos – seduzindo e
sendo seduzida –, sendo ainda ela quem impõe um fim a todos esses jogos de
sedução.
Ao longo do filme, o marido de Ana fará pressão sobre a mulher, encontrando
uma forma eficaz de lhe arrancar uma reacção: o rapto da filha de ambos. Aqui fica
estabelecido que a filha é a única peça que parece realmente comover e sensibilizar
Ana. De entre as várias situações em que se envolve, a protagonista salva um
homem de morrer afogado e conhece um casal de namorados que virá a ajudar
(conhece, factualmente, Alexandre; a namorada deste, Emília, é uma personagem
que existe, durante praticamente todo o filme, apenas sob a forma de uma
evocação) envolvendo-se ainda, inevitavelmente, na resolução de uma série de
problemas dos quais não faz parte.
A destreza de Ana parece afectar tudo aquilo que se passa em seu redor: a
título de exemplo, neste filme dá-se uma transformação interior com resultados
exteriores, não propriamente na própria protagonista mas em duas mulheres com
as quais se cruza: a primeira será a dona de casa – sempre passiva, submissa e
obediente – que acabar| por matar o marido (num gesto de “justiça pelas próprias
m~os”) quando descobre que este espancou Emília; a segunda é precisamente
Emília (a namorada de Alexandre), que se encontra enclausurada durante todo o
filme e que é libertada no fim. O que estas transformações traduzem é o caminho
da clausura e do silêncio para a libertação, ruptura e negação do anonimato e da
indiferença face a presenças masculinas dominadoras.
7
Em termos de composição de planos, parece pertinente sublinhar um plano
em particular: num dos jantares da protagonista (nas festas locais já mencionadas)
há um homem que se aproxima, que se senta e conversa com ela e, durante um
largo período de tempo, o espectador não tem acesso ao rosto dele, já que o plano
fixa a atenção somente nas reacções de Ana, negando assim um contra-campo
clássico que delegue importância num interlocutor (bem como outros dispositivos
que fornecessem informações sobre ele) e criando um desnivelamento reforçado
por todo o filme.
Adriana (2005) – Margarida Gil
Adriana é uma jovem açoriana que é enviada pelo pai para o continente com
o objectivo de “constituir família por métodos naturais”. Similarmente a Relação
Fiel e Verdadeira, a origem desta personagem remete para um imaginário rural,
com tradições vincadas e instituídas, mas uma importante diferença sobressai:
Adriana não se move de forma desconfortável, antes flutua numa espécie de
paraíso perdido no tempo.
O nascimento de Adriana revolta profundamente o pai pelo facto de ela não
ser um rapaz, o que o levará a determinar que naquela ilha a procriação passa a
estar expressamente proibida – é este o ponto de partida para a narrativa, que
sublinha a desilusão masculina perante o nascimento de uma filha (quando o
esperado era um varão). Ao atingir a maioridade, é delegado em Adriana o papel de
procriar: a protagonista parte, a mando do pai, para o continente, onde se deverá
encontrar com Salvador, um homem escolhido pelo seu pai, e com quem deve
casar e constituir família.
O papel desta protagonista resume-se, portanto, a uma missão reprodutora –
partir virgem, regressar fecundada – e repovoar uma ilha com uma população
envelhecida. Adriana incorpora o seu papel e reproduz, incansavelmente, o mesmo
discurso, como se de um autómato se tratasse. Ao chegar ao continente a sua
identidade é roubada – e apropriada por Luiza, uma mulher calculista que
8
contrasta com a inocência de Adriana – e esta passa a delegar naqueles que
encontra um papel activo, o de a ajudarem a chegar até ao norte do país.
O interesse da história recai na transformação que a protagonista sofre –
Adriana é como que contaminada por Lisboa e pelas pessoas com quem se cruza,
tornando-se progressivamente mais autónoma, rebelando-se e proferindo
discursos de teor político, que exprimem a sua reacção contra injustiças sociais.
Essa mudança passa, em boa parte, pela ruptura com uma série de valores e de
qualidades que pertenciam a Adriana no começo da narrativa: a protagonista
embrutece, muda a sua postura – deixando de ser bem educada e de usar uma
linguagem cuidada – algo que suscitará condenações (repreensões verbais) por
parte de outras personagens e, no limite, fará com que seja a própria Adriana a ser
tida como impostora.
Transe (2006) – Teresa Villaverde
Contrariamente aos exemplos anteriormente enunciados, a acção de Transe
não se concentra particularmente em Portugal; é, também, um filme no qual é
abordada abertamente uma preocupação com os direitos humanos, a pretexto de
um caso de tráfico sexual. O filme retrata a história de Sónia que, para ter uma vida
melhor (com trabalho e em melhores condições), decide abandonar a Rússia,
deixando para trás a família e todas as suas referências. Os seus sonhos serão,
contudo, rapidamente destruídos, quando confia no homem errado: “Estar no lugar
errado { hora errada” é sinónimo de irreversibilidade na vida de Sónia, que se
apresenta como uma presa fácil, precisamente por se mostrar dependente de
qualquer pessoa que se disponha a ajudá-la –, entrando para um mundo que não
fará mais do que a destruir.
Ao longo do filme assistimos a discursos que fundamentam a rede de tráfico
que aprisiona Sónia, como tantas outras mulheres. O primeiro que a força a ter
relações sexuais diz que há uma guerra, não entre países mas entre pessoas, entre
fracos e fortes, sendo notoriamente Sónia um dos elos fracos desta relação. Daqui
resulta a promoção de uma lógica de mercado que abrange e que coage aqueles e
9
aquelas que são considerados fracos e vulneráveis, e que são tornados mercadoria
contra a sua própria vontade; para estes, anula-se o valor inestimável da vida
humana, é-lhes condicionado o acesso a direitos humanos indivisíveis.
Uma vez inserida na rede de tráfico, Sónia é enviada para uma casa de
prostituição em Itália, local onde são as mulheres mais velhas quem pune, gere e
ensina (quem veicula comportamentos, modos de estar). Após essa breve
passagem pela primeira casa de prostituição, Sónia é vendida a uma família
abastada, também italiana, e passa a pertencer a Arturo, um rapaz com deficiência
mental. Arturo, ao observar o sexo de Sónia, dir-lhe-á que o sexo dela parece uma
flor amachucada, e queixar-se-á de que o pai lhe ofereceu uma flor morta:
nenhuma outra designação caberia melhor à protagonista, que é continuamente
punida, vendida e violentada, perdendo o poder de decisão sobre si própria e a
vontade de conduzir a sua vida.
Conclusões
Excluindo a possibilidade de esboçar tendências a partir desta amostra,
podemos traçar linhas que aproximem estas protagonistas (e/ou que as
distanciem), à luz dos esquemas de pensamento que considerámos anteriormente,
bem como a partir dos aspectos que foram sublinhados e que dizem respeito a
cada um dos filmes.
Numa primeira abordagem, pensemos na forma como a postura das
protagonistas se enquadra no espectro passividade – capacidade de acção:
podemos opor Antónia (Relação Fiel e Verdadeira) a Ana (Água e Sal), no sentido
em que Antónia é objectificada por todas as personagens que a rodeiam: é
entregue em mão a Brás, com quem deverá casar por ordem da mãe, sendo que
este faz uso dela nessa mesma qualidade. Ana, por seu turno, é como que a antítese
da submissão de Antónia, é uma mulher que se encontra em ruptura – não só
familiar mas com uma série de imagens esperadas de uma mulher: a especificidade
da protagonista de Água e Sal remete precisamente para a forma como ideias de
representação dos homens e das mulheres se assumem, à partida, como estando
10
invertidas ou de tal forma encobertas que as categorizações sexuais parecem
inválidas.
Ana pode ser descrita como a personagem mais forte e implacável do filme,
uma personagem introspectiva – no sentido de discreção face a demonstrações de
afectos e de fechamento em si. No começo, bem como ao longo do filme, é visível a
forma como Ana está no centro das decisões do casal, negando e obrigando, sendo
que o marido obedece e não a confronta. Porém, se por um lado isto pode ser visto
como a inversão de papéis (6) – ou seja, como um exercício de masculinização da
mulher que, para ser forte e destacar-se, adquiriu uma série de características
associadas, no que respeita o estereótipo, ao modus operandi masculino –, o filme
promove igualmente o centramento nas necessidades da mulher, igualizando-as às
dos homens.
Se nos é possível estabelecer essa dicotomia entre Antónia e Ana, com base
na forma como a primeira se resigna e consente, e como a segunda reivindica e se
insurge, também nos será permitido encontrar em Sónia (Transe) um eco de
Antónia elevado ao expoente máximo da objectificação. Transe é um filme que vai
do geral para o particular, debruçando-se sobre a história de Sónia e a forma como
a vontade própria de um ser humano deixa de contar a partir do momento em que
se encontra dominada por um mecanismo que lhe é superior e que lhe traça os
caminhos – lógica que Antónia assume, recorrentemente, ao sublinhar a
irrevogabilidade da união entre homem e mulher. A partir do estabelecimento
desse laço, nada lhe resta senão aceitar o seu destino.
Abrindo um parêntesis, devemos acrescentar, a propósito da ligação entre
Antónia e Brás Telles de Menezes, que ao longo da narrativa nenhum indício
sugere ou implica certos atributos que Brás imputa à mulher, isto é, das muitas
acusações (referentes a adultério, a comportamentos “conden|veis por parte de
uma mulher casada”, ciúmes) feitas por Br|s, nenhum dado chega ao espectador
que as corrobore, pelo contrário: Antónia enquadra-se precisamente nos moldes
da feminilidade do esquema sinóptico das oposições pertinentes — é submissa,
silenciosa, fechada, dominada, limitada ao espaço do lar e da conjugalidade. Neste
sentido, Brás torna-se o seu dominador por excelência: insulta a mulher e acusa-a
de injúrias que esta nunca comete. É interessante observar como Brás inverte a
11
dinâmica do casal, colocando-se no papel de vítima – uma vez afectado pelo ciúme
– como se tal justificasse e legitimasse a agressividade, culpabilizando e
responsabilizando assim Antónia pela atitude do marido. Este ponto de vista
corresponde a uma violência simbólica que se repete noutros momentos: quando
Antónia dá à luz um menino, fruto do casamento com Brás, este rebela-se alegando
que “ela sabe que eu n~o quero ter filhos” ou “quem a manda parir a esta hora?”,
frases que claramente culpabilizam a protagonista e a sua feminilidade.
O que destaca Sónia neste contexto é o facto de o motor de acção e as
intenções iniciais desta personagem terem por base uma postura lutadora,
expectante e optimista (Sónia é ambiciosa, deseja uma vida melhor, e dispõe-se a
seguir os seus objectivos através do sucesso por via do trabalho); a sua passividade
resulta, não de um determinismo imediatamente aceite e respeitado, como
acontece com Antónia, mas sim de um mecanismo que a engole e aniquila,
passando Sónia a comportar-se de forma passiva até se anular por completo (no
sentido de anulação da vontade), algo que contrasta com a progressiva autonomia
de Adriana (do homónimo Adriana), na medida em que esta entra em ruptura, ao
contactar com as personagens com que se cruza, com a educação que recebeu e de
que se emancipa – emancipação que não será, como veremos mais adiante,
sinónimo de uma verdadeira libertação das aprendizagens que transporta consigo.
Um aspecto que do nosso ponto de vista se destaca é a forma como, nos
exemplos em análise são, em boa parte, as próprias mulheres as responsáveis pela
reprodução daquilo a que Bourdieu chama dominação masculina, promovendo a
incorporação e a aceitação de códigos de conduta noutras mulheres, a dominação
do dominado pelo próprio dominado. Em Relação Fiel e Verdadeira, é a mãe de
Antónia quem lhe inscreve uma série de formas de estar e de se comportar diante
do marido, algo que desincentiva a atitude contestatária de Antónia e a torna num
ser submisso que tudo aceita, incluindo a sua destruição por mão do marido. Em
Transe, as presas tornam-se abutres que se esforçam por aplicar as regras do
mercado, algo particularmente visível na passagem pela casa de prostituição em
Itália. No entanto, encontramos em Água e Sal um movimento contrário: é
precisamente a protagonista quem enceta a ruptura e que acabará por ser tida
12
como modelo para outras duas personagens – também elas se libertam de
convenções, de papéis que se viam obrigadas a desempenhar.
Outro dado que sobressai será um elemento que aparece como transversal
aos quatro filmes em análise – referimo-nos aqui à água (que nos direcciona
novamente para o esquema sinóptico das oposições pertinentes, já que este
elemento se encontra em estrita ligação com as os atributos e categorias da
feminilidade identificadas nesse mesmo esquema), denominador comum e que se
interrelaciona de forma íntima com estas protagonistas.
Os exemplos mais emblemáticos serão o filme Adriana e Água e Sal: no
primeiro predomina a ligação de Adriana a uma ilha (na qual a água tem uma
presença predominante, não a terra), sendo na água e pela água que Adriana se
torna mulher, que passa da infância à juventude. Em Água e Sal o mar funciona
como uma espécie de prolongamento da paisagem interior de Ana – mesmo
enquadrada no Algarve, numa região seca, aberta, plana e quente, as características
que se ressalvam são as opostas, é um Algarve constantemente banhado por água e
azulado, como se de uma ilha se tratasse. Relativamente aos outros dois exemplos,
não é especificamente a água que domina, mas sim um ambiente inóspito, algo
conseguido pelo frio – a título de exemplo, o Norte de Relação Fiel e Verdadeira não
é o mesmo Norte que António Reis e Margarida Cordeiro filmaram Trás-os-Montes:
no filme de Margarida Gil há uma primazia de elementos que estão intimamente
ligados com características femininas, o frio, o norte, a noite e o Inverno; o húmido;
a gestação e o nascimento. Também em Transe o ambiente é marcadamente
inóspito por via da atmosfera (que muito deve ao local de filmagem): tenha-se
como exemplo a cena em que Sónia é vendida – o cenário é um campo de ervas
muito altas e hirtas, secas, mas não por via do calor: o que lhes roubou a cor e a
vida foi precisamente o oposto, o frio, emergindo aqui a forma como um elemento
(tendencialmente masculino: o dourado/acastanhado, o seco) se subverte e se
torna profundamente estéril.
Uma vez que aqui interessou avaliar, não personagens femininas, mas
especificar o protagonismo no feminino, podemos perguntar se a categorização
sob a égide do binómio passivo / activo nos remete, não para papéis sociais, mas
para diferentes tipos de heroísmo / protagonismo – questão provavelmente
redundante, dada a forma como as protagonistas são caracterizadas e como se
13
dispõem diante de outros/as (reproduzindo dinâmicas sociais incorporadas e
promotoras de diferenciação com base no género feminino), mas que interessará
abordar na medida em que permite averiguar a linhagem em que se encontra cada
uma delas. Há uma distinção que sobressai de imediato: de entre estes quatro
exemplos, Ana, a protagonista de Água e Sal, é uma heroína suced}nea do “homem
moderno” – é, porventura, o único exemplo onde não existe um objectivo claro e
identificável que orienta as acções da protagonista; a própria personagem não se
deixa ler, é fugaz face a quem a rodeia. Em contrapartida, Antónia, Adriana e Sónia
encontram-se no pólo oposto, no pólo das heroínas clássicas, conclusão que nos
chega a partir do momento em que sabemos que todas elas foram forçadas a entrar
em ruptura com o mundo que conheciam – que se irão transformar e regressar, em
certos casos, com
Fig. 2. A sucessão de frames ilustra a elipse na qual se dá a passagem da infância para a idade adulta. Adriana, ainda
em criança, está com o amigo Oderico quando decide saltar, em off, para o mar. Através de um dissolve na imagem vamos
parar a uns anos mais tarde, estando Oderico, já adulto, a chamar por Adriana; ao fim de alguns momentos aparece a
protagonista, emergindo da água. Adriana é agora adulta e sai da água como quem nasce uma segunda vez (chegando a
assumir uma posição fetal quando sobe para o barco).
o conhecimento de um mundo desconhecido: Antónia é separada da família
para casar com Brás; Adriana é mandada, pelo pai, para o continente para procriar
e constituir família; Sónia começa por querer uma vida melhor e lutar por isso, mas
é interceptada por personagens que a arrastam para a prostituição. As palavras-
chave aqui parecem ser “forçada” e “submiss~o”: todos os caminhos que esperam
estas três personagens passam, não por uma escolha arbitrária, mas por algo que
lhes é imposto por alguém que lhes é exterior (e maior, em termos de força, de
14
poder e de dominação, sejam homens ou mulheres); não são, portanto,
protagonistas que à partida desempenhem uma postura activa na forma como as
acções que protagonizam se desenrolam. E Adriana, então, não acaba ela por se
transformar e rebelar, evidenciando inclusivamente atitudes e posturas opostas
àquelas que tinha no começo da narrativa? É verdade, por um lado, que se dá uma
mudança no seu discurso e que este se passa a dirigir, em larga medida, para a
denúncia de injustiças sociais; é também verdade que a linguagem e atitude
cuidada e respeitosa se perde – Adriana torna-se mais rude, menos silenciosa. Mas,
quando chega, finalmente, ao Norte e se encontra com Salvador, aquele com quem
dever| “acasalar”, repete uma vez mais o discurso que aprendera – a sua missão
reprodutora – como se tal dicurso se mantivesse inalterado e intocável, apesar das
demais mudanças. Adriana está tão enclausurada nas dinâmicas sociais que a
dominam como Sónia está aprisionada numa rede de tráfico de seres humanos ou
como Antónia está na sua relação destrutiva e castradora.
Notas do texto
1. Bourdieu, Pierre, A Dominação Masculina, Oeiras, Celta, 1999, p. 10
2. A remuneração média mensal de base recebida pelas mulheres em 2004 foi de 647,32€, e a dos homens
808,68€1. O que significa que a remuneração média das mulheres foi 80,0% da dos homens, ou, tomando como
referência a remuneração feminina, verifica-se que os homens receberam 124,9% do que receberam as mulheres.
Se em vez das remunerações considerarmos os ganhos, a diferença é ainda mais sensível: os ganhos das mulheres
representam, em média, 76,8% dos dos homens, ou, dito de outra forma, os dos homens representam 130,2% dos
das mulheres. Outros dados respeitantes a estatísticas e medidas para a promoção de igualdade entre homens
e mulheres em Portugal podem ser encontrados no site da Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género
http://www.cig.gov.pt/
3. Para informações sobre este aspecto, aconselha-se a consulta da página da Secção Portuguesa da
Amnistia Internacional (Campanhas > Mulheres) e a secção de estatísticas do portal da APAV – Associação de
Apoio à Vítima, http://www.amnistia-internacional.pt/ e http://www.apav.pt/, respectivamente.
4. Sublinhe-se no entanto que o trabalho de Bourdieu é inclusivo, tendo em conta a forma como os
próprios homens são afectados pela dominação masculina. Aconselha-se a leitura do subcapítulo “Virilidade e
violência”, do capítulo “Uma Imagem Aumentada” – Bourdieu, Pierre, A Dominação Masculina, Oeiras, Celta,
1999, pp. 42-45.
5. “Music, via the well-established conventions, contributes to the narrative’s geographical and
temporal setting, at the beginning of a film or during a scene within it. (…) Strongly codified Hollywood
15
harmonies, melodic patterns, rhythms, and habits of orchestration are employed as a matter of course in
classical cinema for establishing settings (…) Accordions are associated with Rome and Paris; harps often
introduce us to medieval, Renaissance, or heavenly settings”: Gorbman, Claudia, Unheard Melodies: Narrative
Film Music, Indiana University Press, 1987, p. 83
6. A título de exemplo podemos relembrar que a Mutilação Genital Feminina (amputação do clítoris,
embora possa assumir outras formas), é uma prática feita a mulheres por mulheres.
Bibliografia
BOURDIEU, Pierre (1999), A Dominação Masculina, Oeiras, Celta.
FOUQUE, Antoinette (1995), «A peste misógina», in V.V.A.A., Racismo e Modernidade, Venda Nova,
Bertrand Editora pp. 265 - 273
GORBMAN, Claudia (1987), Unheard Melodies: Narrative Film Music, Indiana University Press.
MENDES, João Maria (2009) Culturas Narrativas Dominantes: o caso do Cinema, Lisboa, EDIUAL.
SITES
Amnistia Internacional_Secção portuguesa http://www.amnistia-internacional.pt/
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima http://www.apav.pt/
Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género http://www.cig.gov.pt/