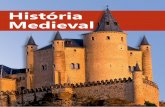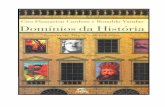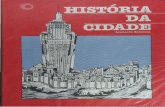HISTÓRIA CRÍTICA O Professor de História e a História do Seu Tempo
História, Memória e Testemunho
Transcript of História, Memória e Testemunho
Universidade Federal de São PauloProfessor: Dr. Henry Burnett
Avaliação:
História, Memória e Testemunho
Bianca Molinas GuidaFilosofia – Vespertino
8º Termo.
Guarulhos2013
Memória, Benjamin, Testemunho.
Nunca há um documento da cultura que não seja, aomesmo tempo, um documento da barbárie.
(Benjamin, W. 2005, p. 70)
Duas grandes questões permeiam o pensar de Benjamin: a
discussão da narração e da história, consequentemente da
memória, e as transformações das práticas artísticas, da
função do artista e da função da obra de arte, na
modernidade e na contemporaneidade. Com efeito, a questão
da narração desemboca na de nossa apreensão do passado e do
futuro: como podemos transformar nosso presente histórico.
Walter Benjamin. Filósofo vítima do nazismo.
A crítica à relação com o passado, por Benjamin, se
resume ao apontamento da interpretação e análise limitadas
da história pelo homem moderno, podendo ser aplicado também
ao contemporâneo, onde a memória não é mais um instrumento
de realização de uma tradição narrativa, que permite uma
retomada da experiência, ou seja, é uma crítica ao silêncio
e desaparecimento da testemunha.
É imprencindível, para que se compreenda o cerne da
crítica, a ideia da reitificação do homem, que o desvia da
experiência individual para então sufocá-lo na coletividade
da história nacional, neutralizando a possibilidade da
construção de uma experiência coletiva através do que
Adorno chamaria mais tarde de Indústria Cultural.
Nela, o progresso transforma toda a cultura em
propaganda e o sujeito se vê incapaz de diferenciar-se,
reduzindo-se então à massa. A comercialização da cultura
seria uma afronta à memória, uma vez que converte todo
sentido real de história em espetáculo e entretenimento.
Em suas teses Sobre o conceito de história (1940), Benjamin
diz ser um “perigo” tomar o passado como um simples fato
consumado. A admissão da história como algo acabado e
imutável, a história dos vencedores, direcionaria a
humanidade à ruína.
Articular o passado historicamente não significaconhecê-lo “tal como ele propriamente foi”.[...]O perigo ameaça tanto o conteúdo dado da tradiçãoquanto os seus destinatários. Para ambos o perigoé único e o mesmo: deixar-se transformar eminstrumento da classe dominante. Em cada época épreciso tentar arrancar a transmissão da tradiçãoao conformismo que está na iminência de subjugá-la.
Mas por que levaria à ruína da humanidade admitir a
história como a dos dominntes?
Ora, a história, para Benjamin, é aquela que deve dar
esperanças para as gerações seguintes, reconhecendo seus
opressores. E é com o testemunho, com a memória das
gerações passadas, na intrínseca da história de um povo e
sua identidade, que poderia nos ajudar a não repetir as
atrocidades do passado. Nas palavras de Jeanne Marie
Gagnebin: “somente esta retomada reflexiva do passado pode
nos ajudar a não repeti-lo infinitamente, mas a ousar
esboçar uma outra história, a inventar o presente.”
Para Benjamin, o presente não está morto pelo passado.
A história da opressão se apresenta repetidamente quando
há, pelo sujeito, a identificação afetiva com o dominante,
pois é uma forma que lhe garante um lugar privilegiado no
presente. O assentimento individual a um determinado
procedimento, confabulando a escolha e a liberdade.
E é, portanto, assim que Benjamin vê: “Todo aquele
que, até hoje, obteve a vitória, marcha junto no cortejo de
triunfo que conduz os dominantes de hoje [a marcharem] por
cima dos que, hoje, jazem por terra.” (Benjamin, Tese VII).
Nessa ilusão de liberdade, a esperança daqueles que
precisam da história para a possibilidade de revolução do
presente, é condenada.
A partir daí, a memória descaracteriza-se da vida,
para então, aparecer numa concepção determinista do tempo e
da história como um mero instrumento de auxílio para a
reafirmação da história como hábito. Não precisamos mais da
atividade do lembrar aqui. É a volta ao passado, trazendo
suas significaçãoes em termos de acontecimentos, para
justificar o presnte atual, ou para garantir, de forma
absurda, a ideia da possibilidade de reconstruir o
presente. “Assim, o lembrar do passado torna-se uma
acumulação de dados, fardo que pesa nos ombros dos homens
vivos de hoje e pode até impedi-los de agir com
inventividade e liberdade.” (Gagnebin, p. 63)
Benjamin pretende salvar do passado não a imagem
eterna da vitoriosa e, também falsa, história, justamente o
contrário, quer o algo frágil, porém verdadeiro, aquilo
mesmo que está sempre sendo negligenciado, ignorado,
entretanto, salvamente este não por compaixão, mas para que
a importância daquele que ficou para trás seja reconhecida
dentro da história. Ele quer uma desconstrução das versões
oficiais da narrativa, ou seja, uma memória sempre ativa
que permitiria o despontar de novas lembranças para uma
nova história.
Rembrandt, Tímoteo e sua avó, 1648. A tradição nos é transmitida pela linguagem,assim como tudo que sabemos da história que nos antecede e que dá sentido a
nossa chegada nesta vida.
O filósofo francês, Paul Ricoeur, também partilha
deste intuito, pois diz que, antes de tudo, temos para com
nossos antepassados, uma dívida que pagaríamos através da
retomada e transformação de seus anseios.
Entretanto, outro fator crucial, motivo também do
declínio do testemunho, é a dificuldade de expressão dos
próprios sobreviventes. A incapacidade de assimilar à
experiência à linguiagem para o legado narrativo. O choque
que separa a memória do acesso ao simbólico coeso.
O choque (trauma para Freud) esvazia o sujeito de
experiência, pois sem tornar-se inteligível (acima de tudo,
um saber social e socializável), dotado de um sentido
possível de ser transmitido, é a mera vivência. Numa
realidade onde o progresso capitalista sufoca o indivíduo
com as constantes transformações, torna-se cada vez mais
difícil estabelecer identificações para uma ação, assim, a
tradição como narrativa de conhecimento perde rapidamente a
validade dentro do amontoado de vivências. Dessa forma, o
indivíduo é obrigado a acomodar abruptamente os
acontecimentos, e é nesse sentido que o efeito de choque é
a manifestação de uma degradação da própria experiência. Em
seguida, o indivíduo é levado a “contentar-se com pouco”,
com o inédito sempre no solo devastado do presente.
ANGELUS NOVUS, Paul Klee, 1920. Em Sobre o conceito de história, Benjamin descreve atela, com o anjo "que parece querer afastar-se de algo que ele encara
fixamente.”
Diante de um mundo cada vez mais destituído de
significações humanas, cujas sustentações estão na
experiência, a arte responde desumanizando-se, pensada
somente no âmbito matemático e lógico. Por fim, a arte
moderna (atual) expõe a pobreza de experiência.
O choque, em termos gerais, diz respeito (na estética
e arte) a uma sensibilidade moderna, em contrapartida, a
modernidade (no que se refere à experiência) torna as
pessoas cada vez mais indiferentes ao efeito, ou seja, o
choque converge para uma expectativa, assim, um público
acostumado a se chocar é um público menos propenso a
reconsiderar seus valores.
No excepcional testemunho do italiano Primo Levi, sob
o título É isto um homem?, é narrado todo o ocorrido, desde
sua deportação ao campo de Auschwitz, em 1944. Fala sobre
seu recorrente sonho enquanto estava no campo: numa reunião
familiar, tenta contar seu sofrimento, mas sempre é
ignorado. “Por quê? Por que o sofrimento de cada dia se
traduz, constantemente, em nossos sonhos, na cena sempre
repetida da narração que os outros não escutam?” (Levi.
1988, p. 60).
Judeus no campo de concentração de Buchenwald, Alemanha, abril de 1945. Ozakhor hebraico, “lembra-te”, significa lembrar dos mortos e das esperanças não
cumpridas que eles tiveram em vida.
O genocida sempre visa a total execução do grupo
inimigo para impedir narrativas do terror e qualquer
possibilidade de vingança e, também procuram apagar as
evidências de seus crimes. Isto assombra o sobrevivente
como testemunha, pois na situação onde todos deveriam
morrer, um sentimento de culpa se instaura no sobrevivente,
a sensação de impossibilidade de tal fato ter ocorrido,
emerge com a encoberta dos locais e marcas de atrocidades,
para então, consolidar-se na frase: “não foi verdade.” A
narrativa, portanto, seria este desafio de restabelecer a
interação com aqueles que carregariam a função de ouvinte.
A dificuldade de um rearranjo da memória para a
significação linguística tem como base gradativa o efeito
do choque de acordo com o tipo de envolvimento no
acontecido. Levi parece compreender essa gradação na
introdução de Os afogados e os sobreviventes (1990), onde aponta
as limitações do testemunho: “a história do Lager foi
escrita quase exclusivamente por aqueles que, como eu
próprio, não tatearam seu fundo. Quem o fez não voltou, ou
então sua capacidade de observação ficou paralisada pelo
sofrimento e pela incompreensão.” (Levi. 1990, p. 5)
Em última instância, o trauma (usando o termo de
Freud) é caracterizado por ser uma memória de um passado
que não passa. Para o sobrevivente, sempre restará esse
estranhamento do agora, pois há a lacuna deixada pela
atrocidade que, a memória, muitas vezes, nega-se a
preencher.
É com esse esforço de valorização das tradições orais,
da procura por testemunhar a história dos derrotados, que
inseriríamos os sobreviventes novamente na memória da
história. A esperança da criação de uma nova história.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AGAMBEN, Giorgio. O que resta de Auschwitz. São Paulo: Boitempo, 2008.
BENJAMIN, Walter. Teses. São Paulo: Brasiliense, 1985.
GAGNEBIN, Jeanne Marrie. O enigma do passado. Ricoeur e a “justa memória”. Ed. Duetto. São Paulo. nº 11. pp. 44-49.
GAGNEBIN, Jeanne Marrie. Walter Benjamin. Memória, história e narrativa. Ed. Duetto. São Paulo. nº 7. pp. 58-67
LEVI, Primo. É isto um homem? Rio de Janeiro: Ed. Rocco, 1988.
LEVY, David. A identidade narrativa. Conhecer o si-mesmo é narrar sua história. Ed. Duetto. São Paulo. nº 11. pp. 50-57.
.