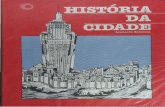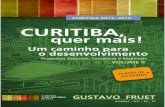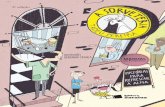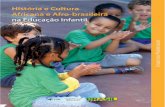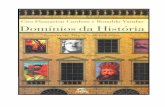História da Educação Curitiba 2013
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of História da Educação Curitiba 2013
História da Educação
Curitiba2013
Alicia Mariani Lucio Landes da Silva
Historia_da_Educacao.indd 1 29/08/2013 16:01:33
EDITORA FAELCoordenador Editorial Denise Gassenfert
Edição Silvia Milena Bernsdorf
Projeto Gráfico e Capa Denise Pires Pierin
Ilustração da Capa
Diagramação
Ficha Catalográfica elaborada pela Fael. Bibliotecária – Siderly Almeida CRB9/1022 ou Cleide Cavalcanti Albuquerque CRB9/1424
Silva, Alicia Mariani Lucio Landes da
S237a História da Educação / Alicia Mariani Lucio Landes da Silva. – Curitiba: Editora Fael, 2011.
160 p.: il.
ISBN 978-85-8287-057-0
Nota: conforme Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa.
1. Avaliação educacional. 2. Aprendizagem. I. Título.
CDD 371.26
Direitos desta edição reservados à Fael.É proibida a reprodução total ou parcial desta obra sem autorização expressa da Fael.
Historia_da_Educacao.indd 2 29/08/2013 16:01:34
apresentação
A História da Educação é um campo do conhecimento quepode contribuir muito para o entendimento dos caminhos, tensões e proposições que fizeram parte da constituição da Educação em nosso país. Sob as diretrizes teórico-metodológicas da Nova História,assume-se que existem diferentes representações sobre o passadoa partir de quem (ou qual fonte) fala. Esses múltiplos olhares nãosão necessariamente excludentes, podendo contribuir para melhor compreensão sobre agentes sociais, instituições e práticas, que envolvem o processo educativo.
A Educação em nosso país, e aquela desenvolvida em cada instituição escolar, tal como percebidas hoje, são resultado de um processo histórico que envolve muito mais do que as determinações da legislação ao longo do tempo. Cada instituição escolar é composta por pessoas (agentes) que possuem habitus, ou seja, têm valores, crenças, vivências, que orientam suas atitudes e escolhas, e que configuram regras e culturas práticas e sociais que as perpassam e que são compartilhadas, construídas, vivenciadas, reiteradas ou modificadas por esses agentes, ao longo do tempo. Dessa forma, compreende-se que o habitus e essas regras, intrinsecamente relacionados, são social e historicamente construídos.
Neste livro, História da Educação, a autora, Alicia, busca trazer elementos documentais e de pesquisas acadêmicas, para subsidiar e apresentar um olhar possível para essa história. A opção cronológica contribui para que se possa observar, nessa trajetória, permanências e mudanças, e como o contexto histórico as influencia, bem como às pessoas que, no entanto, não são passivas nesse processo, utilizando-se de diversas formas de resistência e de manutenção de suas práticas, estabelecendo, às mudanças orientadas legalmente, um ritmo muito particular e, por vezes, configurando-as de forma distinta daquela almejada pela norma.
apresentação
Historia_da_Educacao.indd 3 29/08/2013 16:01:34
Esse conhecimento é essencial para que o profissional da educação possa compreender melhor o seu ambiente de atuação, a escola, como instituição construída historicamente, em diversos âmbitos, desde o material (arquitetura, organização do espaço, materiais escolares, etc.) ao sociocultural (práticas, valores, entre outros).
Dessa forma, poderá identificar seu lugar e função nesta instituição, não reproduzindo automaticamente práticas e certezas comuns, mas tendo consciência dessa construção histórica, com maior possibilidade de fazer escolhas conscientes sobre sua prática profissional, pois essa também faz parte da história que está sendo construída hoje. A formação crítica e do cidadão, que se almeja para os estudantes, presume essa consciência e atitude por parte dos profissionais da educação, para que possa ser construída.
Nadia G. Gonçalves*
* Professora do Departamento de Teoria e Prática de Ensino e do Programa de Pós-Graduação em Educação – Universidade Federal do Paraná.
apresentação
apresentação
Historia_da_Educacao.indd 4 29/08/2013 16:01:34
1 História da educação: conceito .................................................11
2 Educação no Brasil: da Colônia aos anos de 1930 ...................23
3 Educação no Brasil: de 1930 ao Regime Militar .......................51
4 Educação no Brasil: o período de redemocratização ...............75
5 Concepções de educação no Brasil ...........................................93
6 Pensamentos e movimentos histórico-sociais pela educação ..............................................107
7 Educação contemporânea no Brasil ........................................127
Referências ..............................................................................148
sumário
sumário
Historia_da_Educacao.indd 5 29/08/2013 16:01:34
Capítulo
77
prefácio
prefácioConstantemente, lemos dados alarmantes e/ou esperançosos
sobre a educação brasileira. Podemos encontrar alunos de graduação que já não buscam mais cursos de licenciatura por não enxergarem neles um futuro financeiramente promissor e, em contrapartida, iniciativas fabulosas de profissionais da educação que mudaram a realidade de todo um grupo, comunidade ou mesmo de um aluno por meio da educação.
Pessimismos e otimismos a parte, o fato é que, particularmente, não consigo vislumbrar um futuro melhor para o nosso país sem estar pautado na valorização do sistema educacional e seus sujeitos. Seria impossível melhorar as relações humanas e sociais sem considerar o quão importante é a educação.
Nesse cenário, este livro apresenta-se como um olhar ao passado para tentar clarear nossa situação atual. Por que as crianças são alfabetizadas de tal modo? Por que o sistema educacional possui essa organização? Existe apenas um único método de ensino? É inegável que a educação atual é fruto de um rompimento ou continuidade de uma trajetória de movimentos, pensamentos educacionais, legislação, economia, política e outros fatores.
No entanto, este livro, em absoluto, não pretende dar respostas definidas sobre o presente – e esta nem é a função da história. Porém, a volta ao passado é sempre bem-vinda e necessária para melhor compreender as mudanças, permanências e simultaneidades que cercam o sistema no geral ou mesmo o nosso cotidiano. Como professora ligada à história e à educação, muito do que leitor vai
Historia_da_Educacao.indd 7 29/08/2013 16:01:34
8
encontrar é fruto de minha trajetória acadêmica e profissional. Afinal, a história é filha de seu tempo, e o historiador nunca consegue ser totalmente neutro.
Nesta obra, optei por fazer um recorte espacial e temporal. Não irei me debruçar em toda a História da Educação, desde suas aparições no mundo antigo. Meu olhar estará voltado para o período entre o Brasil Colônia e os dias de hoje. Impossível seria, pela limitação de páginas, detalhar todo esse conteúdo de maneira profunda. Por isso, ofereço um panorama geral de nossa história educacional. Um voo panorâmico, que ora desce mais à terra e observa alguns detalhes, ora voa mais alto e avista toda a paisagem, ficando a critério de cada viajante os locais de pouso e visitação, ficando para a apreciação do leitor o local que lhe chamou a atenção e poderá futuramente ser revisitado.
Para tornar mais didática essa visita, o primeiro capítulo traz uma conceituação do que é a História da Educação e sua importância tanto para o campo da história quanto para o campo da educação. Também são citadas as transformações pelas quais essa área do conhecimento passou e quais são os seus objetos de estudo atualmente.
No segundo capítulo, a discussão gira em torno da educação brasileira do tempo da Colônia até os anos 30 do século XX. Verificamos a influência das grandes navegações, da Reforma Protestante, da Educação Jesuítica e da Reforma Pombalina, a mudança brasileira de sede da Colônia para se transformar em Império e a educação na chamada República Velha.
prefácio
prefácio
Historia_da_Educacao.indd 8 29/08/2013 16:01:34
Capítulo
99
prefácio
prefácioNo terceiro capítulo, outro período retratado é a educação de
1930 até o Regime Militar. Nele, encontramos um cenário histórico e educacional da Era Vargas, do período de redemocratização após Getúlio Vargas, bem como ações e legislação do período do Regime Militar no Brasil.
O quarto capítulo trata do momento de abertura política que o Brasil vivenciou depois da Ditadura Militar e mostra-nos como esse cenário político e econômico influenciou na estrutura educacional de nosso país. A Constituição de 1988 é um dos exemplos de lei relacionada à educação. A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 também é um dos marcos educacionais mencionados.
As concepções educacionais de educação no Brasil são o assunto do capítulo cinco. Nele, são apresentados temas como: a concepção educacional tradicional religiosa, a concepção pedagógica tradicional leiga, a concepção pedagógica da Nova Escola e a concepção tecnicista.
Em continuação, no sexto capítulo, verificamos alguns pensamentos e movimentos histórico-sociais pela educação. Nomes como Maria Montessori, Marx, Emília Ferreiro, Paulo Freire e Saviani são brevemente analisados para entendermos algumas rupturas e continuidades do pensamento educacional no Brasil.
Por fim, o capítulo sete traz pensamentos e questionamentos sobre a educação contemporânea (a política neoliberal, as agências internacionais, mundo globalizado e sociedade de comunicação, novas leis educacionais, desafios e perspectivas).
Historia_da_Educacao.indd 9 29/08/2013 16:01:34
10
Espero que a leitura desta obra possa contribuir para uma reflexão sobre a História da Educação no Brasil, bem como despertar o leitor para a busca de aprofundamentos maiores sobre a temática. A bibliografia citada ao longo do texto já é um início para quem desejar continuar se aventurando nesse caminho. Boa leitura!
A autora.*
* Alicia Mariani Lucio Landes da Silva é Mestre em Educação, na linha de pesquisa de História e Historiografia da Educação, pela Universidade Federal do Paraná. É autora de livro didático de história para o ensino fundamental I e atua como professora na rede municipal e estadual de ensino no Paraná.
prefácio
prefácio
Historia_da_Educacao.indd 10 29/08/2013 16:01:34
11
Por que o estudo da História da educação é algo importante na formação de profissionais da educação? Você já parou para pensar nisso? Saiba que a situação atual do sistema de ensino, no Brasil, é resultado de uma construção histórica, política e social.
Neste capítulo, compreenderemos o que é história da educação, suas origens e relações com as áreas das ciências sociais. Verificaremos, ainda, as últimas mudanças no estudo e no olhar que os historiadores lançam sobre o passado, para entender as civilizações: a chamada Nova História. Consequentemente, veremos qual a relação da Nova História com a história da educação.
Por fim, vamos conhecer os objetos de estudo que este campo da história e da educação tem enfatizado (suas fontes, objetos e temas trabalhados, atualmente, nas universidades).
História da educação: suas origens e relaçõesA origem da história da educação tem seus estudos atrelados
ao campo da pedagogia. Inicialmente, o interesse sobre os assuntos escolares só se fazia presente nos cursos de formação de professores. Como disciplina, ela surgiu no final do século XIX, em universidades da Europa. Era um assunto mais presente na pedagogia, porque, nesse período, a história voltava suas pesquisas para assuntos econômicos e políticos. A história tradicional não se preocupava com assuntos sociais ou culturais. Dessa forma, a escola ficava fora de seu foco de interesse.
Sendo estudada pela pedagogia, a história da educação servia mais como uma coletânea de informações do que uma análise. Listavam os
História da educação: conceito
1
Historia_da_Educacao.indd 11 29/08/2013 16:01:34
História da Educação
FAEL
12
fatos, as leis, os pensadores, mas quase sempre não se historiava1 o con-teúdo. Também era chamada de história da pedagogia.
Segundo Lopes (2009), a história da educação começou a ser pro-blematizada no campo da sociologia, observe:
o caráter histórico da educação é dado de forma sistematizada por Émile Durkhein (1858-1917) em sua Educação e sociologia, o que não significa, absolutamente, que antes disso não se encontrem trabalhos de Educação de caráter histórico. No entanto, Durkhein já anuncia o quadro teórico no qual por muitos anos se inscreverá a História da Educação [...] A educação é, na concepção positivista durkheinamiana, uma coisa social, que cumpre, assim, esse enunciado em obediência à regra mais fundamental de seu método sociológico, qual seja, a de considerar os fatos sociais como coisas (LOPES, 2009, p. 19).
Se a educação tinha um caráter social, por que torná-la descritiva e factual? Se ela possuía agentes ativos, poderia ser contada apenas por meio de dados e datas? Começa a surgir a necessidade de estabelecer as relações sociais e culturais presentes no âmbito escolar. Ou seja, outras áreas do conhecimento começaram a estudar temas relaciona-dos à educação.
Nova História e história da educaçãoHá aproximadamente trinta anos, ocorreu, gradativamente, uma
mudança no foco de pesquisa da história e, consequentemente, da história da educação. Anteriormente, a história era pensada apenas pelo viés econômico e quantitativo. Não havia outras fontes para o seu estudo, a não ser as oficiais (lembramos que as fontes históricas são os relatos do passado). Documentos escritos, imagens, monumentos, objetos arqueológicos e entrevistas podem ser considerados pistas do que já aconteceu. Os historiadores analisam essas fontes para construir sua narrativa. No entanto, para a história tradicional, apenas as fontes oficiais poderiam ser consideradas confiáveis. Estas últimas referem-se a documentos produzidos por órgãos oficiais, como o governo, ministério, prefeituras, entre outros (exemplos deste tipo de fonte: leis, atas, publicações do governo em geral).
1 Entende-se aqui o verbo historiar como o ato de analisar a história e compreender suas relações com outras áreas.
Historia_da_Educacao.indd 12 29/08/2013 16:01:34
Capítulo 1
História da Educação
13
Todos que estudaram no antigo “ensino primário e secundário”, ou “1º e 2º grau”, devem recordar como a história era estudada. Quem estudou neste período ou já ouviu falar sobre isso lembra-se de como eram realizados os grandes eventos cívicos e de como eram exaltados os grandes vultos da história brasileira. Exaltava-se certos nomes (quase em sua totalidade pessoas envolvidas na política) e menosprezava-se a participação de outros sujeitos da história.
De acordo com Chartier (1998), antes de 1980, a história dominante estava fundamentada por dois pontos de vista: o estruturalista e o estatístico. O primeiro discorria acerca dos grandes discursos, da história das estruturas e das normas coletivas, bem como utilização de sistemas de posições, sem ater-se às particularidades individuais, marginalizadas por gênero e classe. O último procurava dar à história um tom de ciência social, ao aplicar procedimentos de contagens e estimativas numéricas: a seriação.
A chamada Nova História enfrentou o desafio de provocar um afastamento das ciências sociais. Reviu seus conceitos e mudou as antigas visões para outras, como a preocupação com as redes de sociabilidade, as situações vividas e as estratégias singulares. Neste sentido, a micro-história entra como a abordagem do normal, do excepcional e das particularidades, pois, sendo ela um estudo das sociedades, estes novos objetos devem ser examinados em pequena escala.
A micro-história é o estudo de objetos selecionados na história. Por exemplo: um pesquisador não consegue estudar a história de todas as escolas de um estado. Ele escolhe uma determinada escola, para estudar o seu caso específico e, dentro desta análise, faz as possíveis relações com o sistema educacional desse estado.
Os grandes heróis dão espaço aos anônimos, o que não desestrutura a história, pois sabe-se que a coletividade não desfigura o indivíduo. Tais indivíduos e sociedades estão inseridos em um espaço de sociabilidades marcado por diferenças e dependências. Contudo, para entender essas relações, a história precisa enfrentar outro desafio, o de abrir o leque para novos espaços de pesquisa, fontes, análises e conceitos. Não é possível conhecer as relações sociais e culturais analisando apenas tabelas, gráficos ou outras fontes numéricas. Outros documentos do passado começam a merecer a atenção do historiador.
Historia_da_Educacao.indd 13 29/08/2013 16:01:34
História da Educação
FAEL
14
Cabe ao historiador explorar estes signos e o universo de símbolos presentes na “linguagem das linguagens”, decifrando os seus significados, que são encontrados nas fontes, sejam elas quais forem, pois, na perspectiva cultural, qualquer produção humana foi produzida em um ambiente cultural (BURMESTER, 2003) e pode ser utilizada para conhecer e compreender as relações sociais.
Este tipo de análise trouxe para a historiografia uma mudança, mais do que metodológica, conceitual. Conceitual no sentido de que são estudadas as relações da micro-história em detrimento da macro. Ou seja, as coletividades são deixadas de lado para dar espaço às questões do indivíduo, gerando um campo de possibilidades maior com o estudo da singularidade, das regularidades e das resistências existentes em um espaço que, sabe-se, não é determinado nem determinante. Desta forma, os papéis sociais não são definidos a priori e as divergências são permitidas em territórios fluídos e não fixos, proporcionando ao investigador uma análise mais interdisciplinar.
Como exemplo desta mudança de visão da história podemos citar que, na historiografia tradicional, as relações de escravidão eram vistas como fixas. O senhor de engenho era o soberano que mandava no submisso escravo. Atualmente, temos estudos que revelam as contradições desta relação. Sabemos das fugas de escravos, de suas insubmissões, das relações conjugais entre brancos e negros e de acordos, concessões existentes entre senhor e escravos, de escravos que tinham seu próprio ganho e também possuíam seus escravos. Ou seja, os papéis sociais não são predefinidos. Dentro da regra existem exceções que devem ser conhecidas e estudadas.
Dentre os historiadores contemporâneos conceituados encontramos Carlo Ginzburg, Emmanuel Le Roy Ladurie, Robert Darnton, Jacques Revel e outros. Mesmo mantendo estilos diferentes (como a divergência sobre a utilização da escala de análises), eles realizam estudos sobre o cultural e possuem pontos em comum. Um desses pontos é o abandono das análises firmadas nos modelos explicativos. Para alguns não se pode abandonar certos princípios básicos, para outros, o “tempo das incertezas” é um momento propício de estimulação da criatividade e
Historia_da_Educacao.indd 14 29/08/2013 16:01:34
Capítulo 1
História da Educação
15
das possibilidades (palavras-chave desta corrente) de análises, fontes, vieses e escrita.
Para muitos destes estudiosos, tempos novos merecem uma Nova História, firmada na máxima de que “a história é sempre filha de seu tempo”. Uma última característica da historiografia contemporânea é a tendência de redescobrir autores já esquecidos e reler os clássicos, mas é claro que essa leitura se dá a partir de um olhar atual, de nosso tempo.
As mudanças na historiografia influenciaram algumas das transformações ocorridas na história da educação. Como já mencionado, na década de 1930, ela não passava de uma disciplina escolar. Presente no curso de formação de professores, estava fortemente marcada pela filosofia e possuía um caráter formativo e moralizador. Já na década de 50 do século XX começaram a surgir os estudos na área da história da educação, porém eram voltados para um “presentismo pragmatista”. Neste viés:
o atrelamento originário da disciplina a objetivos institucio-nais de formação de professores e pedagogos dificultou, até muito recentemente, a sua constituição como área de inves-tigação historiográfica capaz de se autodelimitar e de definir, com base em sua própria prática, questões, temas e objetos. Isso tornou a disciplina frágil diante das demandas postas a partir de outros campos de investigação sobre educação que hegemonizaram a produção da pesquisa, a partir da insta-lação dos Programas de Pós-Graduação, na década de 70; o que, do meu ponto de vista, reforçou a dificuldade de a dis-ciplina definir-se a partir de questões postas do seu interior ( CARVALHO, 2003, p. 330).
Como já afirmamos, nos últimos trinta anos a historiografia da educação brasileira tem realizado debates sobre estudos voltados para a cultura, mais especificamente a cultura escolar. Sob a influência de autores estrangeiros (como André Chervel, Alain Chopin, Anne-Marie Chartier, Pierre Caspard, Jean Hérbrand,
O presentismo pragmatista afirma que um estudo deve servir apenas para resolver, pra-ticamente, um problema atual. Nesta visão, a história da educação servia apenas para responder a questões imediatas e acabava
deixando de lado a análise historiográfica e as relações mais profundas de investigação do passado. Procurava apenas respostas práticas
sobre o que estava acontecendo.
Saiba mais
Historia_da_Educacao.indd 15 29/08/2013 16:01:34
História da Educação
FAEL
16
Dominique Julia, António Novoa, Pierre Bourdieu, Roger Chartier, entre outros) os pesquisadores brasileiros começaram a se dedicar aos estudos voltados para aspectos culturais. Dentre esses autores podemos destacar: José Mário Pires Azanha, Denice Catani, Cynthia P. de Souza, Marta Maria Chagas de Carvalho, Luciano Faria Filho, Rosa Fátima de Souza, Maria Lúcia Hilsdorf, Clarice Nunes e Diana Gonçalves Vidal.
Marta Maria Chagas de Carvalho e Clarice Nunes são, de acordo com Vidal (2005), autoras que trilharam um caminho de interlocução muito próximo entre história da educação e a produção francesa do campo histórico. Assim, entrelaçaram a história cultural com os interesses dos saberes pedagógicos. Sobre a relação entre história da educação e história e, ainda, história da educação e história cultural, Carvalho afirma:
é, entretanto, do inusitado prestígio adquirido pela produção historiográfica nos dias atuais que a disciplina extrai forças para se renovar. As redefinições dos objetos e dos critérios de rigor científico que transformam essa produção vêm tendo enorme impacto na História da Educação, matizando a pertinência dela ao campo das chamadas ciências da educação e fortalecendo seu estatuto de saber historiográfico especializado. [...] Nesse processo, são, sobretudo, as perspectivas abertas e as questões lançadas pela chamada Nova História Cultural que vêm redesenhando as fronteiras e redefinindo objetos da História da Educação (CARVALHO, 2005, p. 32).
Podemos observar que as mudanças ocorridas na historiografia a partir dos anos 80 do século XX provocaram reflexos na maneira de escrever a história educacional.
A história cultural ampliou o leque de possibilidades de novos temas, objetos e o uso de fontes que antes eram desprezadas e afastou-se da história tradicional, que privilegiava a exaltação de grandes heróis e dos documentos oficiais. Com essa reviravolta, a história da educação, que era secundarizada apenas como uma disciplina escolar, começou a ganhar mais visibilidade a partir do momento em que voltou suas preocupações para as questões culturais e sociais. Desta maneira, fontes, como livros de chamadas, fotografias, objetos pedagógicos, entre outros, passaram a fazer parte dos estudos historiográficos, enriquecendo os trabalhos acadêmicos e tornando-os mais interessantes, pois já não eram apenas pragmáticos e presentistas.
Historia_da_Educacao.indd 16 29/08/2013 16:01:34
Capítulo 1
História da Educação
17
Outro fator que mudou a forma de se escrever a história da educação foi a incorporação de conceitos advindos da história, sociologia, antropologia e outras áreas das ciências sociais e humanas. Autores como Roger Chartier, Dominique Julia, Guy Vincent, Viñao Frago e Michel De Certeau estão sendo utilizados como referencial teórico em diversos trabalhos acadêmicos. Tais autores não concordam totalmente na definição do termo cultura ou cultura escolar. Entretanto, chegam a um acordo para afirmar que o pesquisador, ao analisar uma instituição, indivíduo ou grupo, não pode desprezar a análise do contexto histórico. Isso deve ser realizado conjuntamente com as questões que envolvem o cultural e o social. Poderíamos, ainda, citar as contribuições de Norberto Elias, Pierre Bourdieu, Michel Foucault, André Chervel, Edward Thompson, Anne-Marie Chartier.
Apesar de, atualmente, estar presente como uma disciplina dos cursos de licenciatura, a história da educação ainda não recebe a devida atenção. Nos cursos de pós-graduação de Educação existem linhas de pesquisa em história e historiografia. Nos cursos de História, a educação pode aparecer, também, como uma linha de pesquisa ou temática. Para Lopes (2009), a pedagogia precisa tomar para si a responsabilidade do estudo da história da educação. Citando e concordando com alguns autores, ela acredita que os melhores trabalhos de história da economia foram escritos por economistas (e não por historiadores). Desta forma, a história da educação deve ser escrita por pessoas da área, que já dominam o conteúdo. Por isso, afirma:
[...] trata-se de enfrentar, então, a questão da formação do pesquisador da História da Educação, tarefa ainda não assumida de forma mais generalizada pelos cursos de educação e de pedagogia. Na verdade, o educador ou pedagogo, não recebendo formação específica nem a metodologia da pesquisa histórica nem das teorias da História, dificilmente pode tornar-se um historiador. [...] A ciência da história exige rigor e método; para o crescente entendimento da História da Educação, que deve ser escrita através de pesquisas rigorosas que obedeçam aos critérios e as exigências da própria ciência da história ( LOPES, 2009, p. 39).
Será que somente os pedagogos deveriam escrever esse tipo de história ou, ainda, que os historiadores não conheçam nada de educação? Como escrever um texto com relações históricas sem saber os métodos da
Historia_da_Educacao.indd 17 29/08/2013 16:01:34
História da Educação
FAEL
18
pesquisa histórica? Como historiar a educação, sem conhecer as relações educacionais? Existe um longo caminho a ser percorrido nessa área.
Certo é que podemos perceber que, por meio de mudanças metodológicas e conceituais, a história da educação vem ampliando o seu campo de pesquisa, atuação e participação em eventos e publicações, conferindo a si mais credibilidade entre os estudiosos da educação e entre os historiadores. São muitas as dificuldades que permaneceram das linhas tradicionais de pesquisa, porém a história da educação está caminhando por rumos mais claros e evidentes ao privilegiar a cultura escolar, sem abandonar as visões sobre os demais aspectos nos quais a educação está envolvida (político, social, econômico, histórico, e outros).
História da educação: objeto de estudoQuais são os novos temas abordados pela cultura escolar? Tudo que
possui uma história e pode ser contextualizado para se compreender a realidade educacional pode ser estudado. Conheça alguns aspectos estudados pela atual história da educação.
● Arquitetura escolar e história das instituições escolares (estudo de plantas escolares; como eram construídos os colégios e escolas; as mudanças e permanências no espaço escolar ao longo dos anos; locais e modos de construção; entre outros).
● Tempos escolares (exemplos de estudo: organização e objetivo do calendário escolar; divisão dos horários de aula; o recreio; atividades que aconteciam nas férias).
● Relações de gênero na escola (divisão da escola entre meninos e meninas, as análises sobre escolas de meninos e escolas de meninas; as diferenças entre os uniformes masculinos e femininos; e outros).
● Intelectuais da educação (um exemplo deste estudo é a análise das ideias de pensadores envolvidos diretamente ou não com a escola).
● Escola e poder (as relações de poder existentes dentro da escola; a ligação da escola com instâncias maiores, como o Estado, entre outras situações).
Historia_da_Educacao.indd 18 29/08/2013 16:01:34
Capítulo 1
História da Educação
19
● Legislação educacional (estudo das leis, decretos e docu-mentos oficiais sobre a educação).
● Projetos educacionais não escolares (projetos educativos desenvolvidos pela mídia, por empresas ou pelo governo, entre outros).
● A escola e a religião (escolas religiosas, escolas dirigidas por religiosos, a influência da religião na educação, etc.).
Visto as mudanças pelas quais passaram a história da educação e alguns de seus objetos de estudo, surge uma indagação: por que estudar as relações escolares através do tempo? Observe estas perguntas: Por que temos um determinado grupo de disciplinas escolares para estudar? Por que estudamos em um horário dividido por aulas, intervalos e períodos manhã, tarde, noite ou integral? Qual a justificativa dos currículos escolares? Ou melhor: para que serve a história da educação? Tentando dar pistas sobre uma possível resposta, Lopes (2009, p. 43-44) afirma que:
Antoine Léon2 considera a abordagem histórica dos fatos da educação um indispensável instrumento de análise das situações do presente, devido à preocupação em relativizar os problemas atuais. Considera-a ainda como uma fase preliminar da ação, ao evidenciar a ambiguidade de todas as inovações, ao apontar os conflitos que pontuam todo o processo evolutivo e ao introduzir a exigência de longo prazo na avaliação dos efeitos educacionais.
Nesta visão, estudamos a história da educação para compreender as relações do presente. Para Lopes (2009), o pesquisador está comprometido com os problemas educacionais de hoje. Por isso, o seu olhar volta-se para o passado, para descobrir onde esse problema surgiu e para tentar resolvê-lo. No entanto, a história da educação não pode ser considerada pragmática. Ela não serve para resolver problemas, apesar de poder encontrá-los. A história da educação nos faz compreender o presente. Faz com que entendamos por que as nossas escolas e instituições são o que são. Por exemplo: o estudo das leis educacionais nos faz compreender a organização da escola através do tempo. Ela é um instrumento de conhecimento e, quando possível, de ação.
2 Lopes faz referência à obra de Antonie Léon, Introdução à História da Educação (Lisboa: Dom Quixote, 1983).
Historia_da_Educacao.indd 19 29/08/2013 16:01:34
História da Educação
FAEL
20
Da teoria para a práticaDurante a leitura deste capítulo, compreendemos que a “história é
filha de seu tempo”, o que significa dizer que a maneira como olhamos o passado está relacionada com os fatos que vivemos hoje. Em uma época em que a economia e a política predominavam, os estudos históricos estavam voltados para isso. Em outra época, na qual a preocupação era com as relações socioculturais, o olhar era diferenciado. Compreendemos que o estudo da história da educação também segue esse princípio.
Dentro desta perspectiva, produza um texto sobre a sua própria história escolar. Utilize-se de sua fonte de memória sobre a sua trajetória educacional e liste as lembranças que possui de sua escola, dos métodos utilizados, dos professores, dos uniformes, das mobilhas da sala de aula, dos materiais escolares e dos conteúdos estudados. Saiba que estará produzindo um texto de história da educação. Apesar de suas lembranças serem singulares, ao final da produção, perceberá que tudo o que escreveu está relacionado a um contexto histórico dentro de uma estrutura governamental e legal de seu período.
Além disso, o estudo das arquiteturas escolares também faz parte da pesquisa em História da Educação. Levando essas informações em consideração pesquise fotografias, plantas ou outros registros iconográficos de duas escolas distintas: uma que tenha sido construída há mais de trinta anos e outra edificada há menos de dez anos. Estabeleça as semelhanças e diferenças arquitetônicas e como isso pode estar ligado ao o contexto histórico em que as escolas foram construídas. Pontos a serem pensados: data, local, material utilizado para a construção, tipo da instituição (pública ou privada), etc.
SínteseVimos, neste capítulo, que as origens da história da educação estão
na pedagogia, mas, ao longo dos anos, também tornaram-se objeto de
Historia_da_Educacao.indd 20 29/08/2013 16:01:34
Capítulo 1
História da Educação
21
interesse de outras ciências sociais, como a história. Entendemos que o estudo da história passou por um processo de transformações nos últimos trinta anos, que mudaram seu foco de pesquisa. Atualmente, a Nova História privilegia as relações sociais e culturais, e não somente os aspectos políticos e econômicos como acontecia anteriormente.
Outro assunto apresentado neste capítulo foi objeto de estudo da História da Educação, o qual, conforme observamos, envolve tudo o que se refere ao passado do ensino e da educação: legislação, tempos escolares, arquitetura, relações de gênero e outros temas.
Devemos compreender a importância da História da Educação, para compreender, também, as atuais relações educacionais.
Historia_da_Educacao.indd 21 29/08/2013 16:01:34
23
Antes da chegada dos portugueses, nosso país era habitado por diversos povos nativos. Os indígenas possuíam suas maneiras de transmitir seus conhecimentos, rituais e cultura para as futuras gerações. Podemos dizer que eles tinham um sistema informal de ensino, pois a educação acontecia na explicação ou no exemplo de algo transmitido de pais para filhos, ou dos mais velhos para os mais novos.
Neste capítulo, contudo, vamos nos dedicar a conhecer e compreender um panorama da História da Educação do Brasil a partir do início da colonização. Nosso foco é a educação formal e a maneira como ela foi oferecida pela religião e pelo Estado.
Inicialmente, vamos entender como as Grandes Navegações e a Reforma Protestante influenciaram na chegada dos portugueses ao nosso país e qual a sua relação com a educação religiosa existente no início da colonização. Depois de observar o que foi o ensino jesuítico, conheceremos as mudanças ocorridas com as reformas lideradas pelo Marquês de Pombal. Veremos a influência da chegada da família real ao Brasil, a educação durante o Império e a Primeira República.
Grandes Navegações e a Reforma ProtestantePara entender os primórdios da educação no Brasil, é necessário
conhecer o cenário que antecedeu a chegada dos portugueses em nosso país. Na civilização do ocidente medieval europeu a Igreja católica procurava controlar o acesso à informação religiosa, moral e científica. A alfabetização estava destinada quase exclusivamente a uma parcela dos religiosos e todos os cientistas deveriam estar submissos aos preceitos da
Educação no Brasil: da Colônia aos anos de 1930do século XX
2
Historia_da_Educacao.indd 23 29/08/2013 16:01:34
História da Educação
FAEL
24
Igreja. Qualquer conduta contrária seria considerada heresia e poderia ser julgada e punida pelo Tribunal da Inquisição.
A partir do século XI, a Revolução Comercial, as Cruzadas e os avanços do Humanismo deram abertura às transformações ocorridas na Europa. As Grandes Navegações foram uma dessas mudanças e, neste caso, Portugal estava em uma posição geográfica favorável. Dom João I de Avis procurava poder ao promover grandes conquistas que desbravavam o Oceano Atlântico. Parte dessa expansão aconteceu nas costas africanas, contornando o continente e chegando à Índia em 1498. Era a chamada rota de comércio das especiarias. Segundo Francisco Filho (2004), a chegada dos portugueses ao Brasil foi apenas um coroamento das conquistas, visto que outros domínios já haviam sido realizados ao longo dos últimos cem anos. Continuando, o autor afirma que:
analisando de maneira ampla os acontecimentos, notamos que a Idade Moderna (1453-1789) já estava caminhando a passos firmes e o Mercantilismo (1ª fase do capitalismo) fornecia as bases de pensamento econômico, amparado por um Estado poderoso, que possuía exército, polícia, justiça, cunhava moeda, tinha contornos territoriais definidos, com balança comercial favorável, estoque de metais, apoiando as exportações, promovendo a exaltação do nacionalismo, adotando colônias para fornecer matérias-primas e obedecer o estatuto dos monopólios estabelecido pela Coroa. No tocante à educação, a hegemonia das Sete Artes Liberais, Trivium (Gramática, Dialética e Retórica) e Quadrivium (Aritmética, Geometria, Música e Astronomia) estruturadas durante a Idade Média da Europa Ocidental (Século V ao XV), já não atendia as necessidades do novo momento histórico. As ideias de Santo Tomás de Aquino (1224-1274), procurando superar a dicotomia fé-razão, não encontravam tantos seguidores, isto é, a Escolástica estava em decadência, depois de muitos séculos de soberania no campo educacional (FRANCISCO FILHO, 2004, p. 10-11).
A economia e o comércio estavam mudando e, com isso, o pensamento educacional. Uma nova configuração de sociedade estava surgindo. Outro fator que contribuiu para tal transformação foi a revolução tecnológica da imprensa a partir de Gutenberg3. Ao produzir
3 Em 1455 o alemão Johannes Gutenberg criou a tipografia. A partir de então os textos que antes eram somente manuscritos passaram a ser impressos por meio de peças metálicas que recebiam tintas para serem transferidas por pressão para o papel. O primeiro livro impresso pelo inventor foi a Bíblia. Esse método ampliou a reprodução de materiais e tornou a transmissão do conhecimento mais dinâmica e veloz.
Historia_da_Educacao.indd 24 29/08/2013 16:01:35
Capítulo 2
História da Educação
25
literatura em maior escala, aumentou-se o acesso ao conhecimento. O que estava restrito ao campo religioso passou a ser manuseado pelos leigos. A burguesia, classe em ascensão, tinha o desejo de ser alfabetizada para conseguir ler os textos clássicos e religiosos.
Neste contexto surgiram movimentos contrários à Igreja Católica, que seriam chamados de Reforma Protestante. O primeiro deles foi liderado pelo monge agostiniano Martinho Lutero, que, em 1517, declarou-se descontente com as práticas católicas (como a venda de indulgências) e escreveu 95 teses como forma de denunciar a corrupção que observava.
A Reforma Protestante condenava a avareza, a usura e o paganismo. Também criticava a Igreja quanto a não deixar os seus fiéis fazerem a leitura e tirarem a sua própria interpretação dos textos sagrados. Lutero começou a traduzir a Bíblia para o alemão e incentivou a sua leitura. A Reforma não mudou apenas a forma como enxergar a religião, ela conseguiu mexer com as ditas estruturas educacionais, já que a leitura e a escrita não eram mais privilégio dos religiosos.
Com a Reforma Protestante e o Humanismo ganhando cada vez mais adeptos, a Igreja incentivou as Grandes Navegações no objetivo de conquistar territórios para a evangelização de novos fiéis. A Igreja estava perdendo território missionário e precisava expandir seus horizontes.
A colonização do Brasil foi um meio para que os clérigos católicos conseguissem aumentar o número de membros da Igreja. Assim, começa a história da educação em território colonial, como vere- mos a seguir.
Educação jesuíticaEnquanto a Europa passava por movimentos de Contrarreforma,
um grupo de estudantes da Universidade de Paris (liderados por Inácio de Loyola) uniu-se, em 1534, para montar uma congregação interes-sada em combater o avanço da Reforma Protestante. Este grupo ficou reconhecido através de bula papal, no ano de 1540.
Na intenção de ser um instrumento contra as ideias protestantes, a então chamada Companhia de Jesus procurou manter a estratégia de, por meio de seus ensinamentos cristãos, converter pessoas ao catolicismo.
Historia_da_Educacao.indd 25 29/08/2013 16:01:35
História da Educação
FAEL
26
Logo, a Companhia de Jesus tornou-se uma congregação religiosa poderosa e eficiente. Possuía um caráter de milícia. Eram os soldados de Cristo em favor da fé católica. Embora submetidos à autoridade do papa, os jesuítas viviam em uma ordem religiosa, mas podiam transitar em espaços seculares. Inicialmente, as suas atividades estavam voltadas somente para a caridade.
Ensinavam os “ignorantes”, aqueles que não tinham conhecimento da fé e da linguagem e que de outra maneira não teriam acesso a elas. Tinham uma visão de combate perante o meio social, estavam dispos-tos a militar em favor de sua fé. Segundo Neto (2008), seus principais fundamentos eram:
[...] a busca pela perfeição humana por intermédio da palavra de Deus e a vontade dos homens; a obediência absoluta e sem limites aos superiores; a disciplina severa e rígida; a hierar-quia baseada na estrutura militar; e a valorização da aptidão pessoal de seus membros (SHIGUNOV NETO; MACIEL, 2008, [s. p.]).
Inicialmente, o interesse na evangelização era espiritual. Desejava-se a pregação, confissão e catequização. No entanto, gradativamente, a intenção de ensinar foi ocupando espaços maiores no projeto jesuíta.
Depois de se fazer presente em países como Portugal, Espanha e Alemanha, a Companhia de Jesus desembarcou no Brasil, no ano de 1549. Chegou à Bahia trazida pelo governador-geral Tomé de Souza. O primeiro líder jesuíta no Brasil foi o sacerdote Manuel da Nóbrega.
Os jesuítas desembarcaram no Brasil com o objetivo de catequizar os povos nativos e educá-los para que se tornassem pessoas civilizadas (na visão do europeu). Os indígenas precisavam sair do seu aparente ócio para uma postura produtiva. De início, o indígena foi visto como o“bom gentio”, mas a sua falta de insubordinação foi logo encaradacomo um empecilho. Sair do sistema de sobrevivência para o de acumulação não era algo fácil de ser ensinado pelos jesuítas.
Em concordância com Shigunov Neto e Maciel (2008, [s. p.]), que partem do pressuposto de que “o fenômeno educacional não é um fenômeno independente e autônomo da realidade social de determinado momento histórico [...]”, acredita-se que o projeto de educação jesuítica no Brasil não se resumiu apenas a catequizar e ensinar a ler e a escrever em português.
Historia_da_Educacao.indd 26 29/08/2013 16:01:35
Capítulo 2
História da Educação
27
Os jesuítas contribuíram com os planos do rei de Portugal em transformar a estrutura da sociedade presente na colônia. A Ordem dos Jesuítas atendia aos interesses da Igreja e do Estado. Desta forma, o projeto educacional jesuítico contribuiu para o processo de colonização almejado pelo o governo português.
Dica de Filme
A missão
Um mercador de escravos indígenas arrepende-se de seus atos e torna-se missionário jesuíta em uma das missões na América do Sul.
A MISSÃO. Direção de Roland Joffé. Estados Unidos; Reino Unido: Flashstar, 1986. 1 filme (125 min), sonoro, legenda, color., 35 mm.
Dica de Filme
O ensino não pretendia mudar politicamente a sociedade, era alheio à realidade social e estritamente voltado para a filosofia. Atendia aos interesses portugueses e não incitava uma nova organização den-tro desta sociedade fundada na agricultura rudimentar e no trabalho escravo (ROMANELLI, 2010, p. 34).
Em agosto de 1549, foi fundada, na Bahia, a primeira escola de “ler e escrever” no Brasil. Primeiramente, havia a necessidade de alfabetizar os indígenas na língua portuguesa, para, então, transmitir a doutrina católica. Após esta primeira fase, os jesuítas dariam oportunidade para decidir entre o ensino médio e o ensino profissionalizante.
Manuel da Nóbrega mandava construir aldeias de catequização próximas das cidades e vilas portuguesas. Eram habitadas pelos indíge-nas e pelos padres jesuítas. Essas aldeias tinham três objetivos:
objetivo doutrinário – que visava ensinar a religião e a prática cristã aos índios;
objetivo econômico – visava instituir o hábito do trabalho como princípio fundamental na formação da sociedade brasileira;
objetivo político – visava utilizar os índios convertidos contra os ataques dos índios selvagens e, também, dos inimigos externos (SHIGUNOV NETO; MACIEL, 2008, [s. p.]).
Historia_da_Educacao.indd 27 29/08/2013 16:01:35
História da Educação
FAEL
28
Apesar de querer inserir o indígena no processo produtivo do trabalho, a Companhia de Jesus sempre defendeu a liberdade dos nativos. Porém, não fazia frente contrária à escravatura por causa da relação com a Coroa Portuguesa. Neste sentido, até certo ponto, o padre Manuel da Nóbrega ficou conhecido como grande defensor dos indígenas. Coube a ele a contribuição da fundação de diversas escolas no Brasil (cinco de instrução elementar: São Paulo de Piratininga, Porto Seguro, Ilhéus, São Vicente e Espírito Santo; e três colégios: Bahia, Pernambuco e Rio de Janeiro).
Figura 1 A fundação de São Paulo, de Antonio Parreiras. O povoamento de São Paulo começou no dia 25 de março de 1554, juntamente com a construção de um colégio jesuíta.
Fundação de São Paulo, 1913. Antonio Parreiras. Pinacoteca Municipal de São Paulo. Óleo sobre tela. 179 x 279,5 cm.
Com o crescimento das escolas da Companhia de Jesus surgiu a necessidade de adotar um método para unificar o trabalho educacional dos padres jesuítas. Em 1599, ficou pronto um conjunto de regras que procurava normatizar as ações da Ordem. As fontes de ensinamento eram Aristóteles e Santo Tomás de Aquino, além da influência do Renascimento. O foco era a formação humanista e literária.
Historia_da_Educacao.indd 28 29/08/2013 16:01:35
Capítulo 2
História da Educação
29
O método utilizado pelos jesuítas era o Ratio Atque Institutio Stu-diorum Societatis Jesu, mais conhecido como Ratio Studiorum, com-posto por uma coletânea de 467 regras que procuravam estabelecer uma definição do trabalho pedagógico dos jesuítas. Em 1584, uma comissão ficou responsável por organizar e codificar as informações e experiências acontecidas no Colégio Romano e em outras escolas. Em 1586, o anteprojeto foi submetido a críticas e a uma nova comissão. Em 1591, tornou-se um texto redigido e, em 8 de janeiro de 1599, foi promulgado o texto do Ratio Studiorum. Ele estabelecia todo o método de ensino (incluindo currículo e orientações educacionais e adminis-trativas) a ser seguido pelos padres jesuítas. As orientações deveriam ser aplicadas na Colônia e na metrópole e em todos os locais em que estavam estabelecidos.
Figura 2 Capa do método jesuítico Ratio Studiorum.
Historia_da_Educacao.indd 29 29/08/2013 16:01:35
História da Educação
FAEL
30
Sua estrutura oferecia três cursos em dois níveis distintos:
a) “os estudos inferiores”, que compreendiam o ensino secun- dário. Tal ensino durava entre cinco e seis anos. Estava destinado à formação clássica, humanista e literária;
b) os estudos superiores que ofereciam o curso de teologia e o de filosofia, que duravam três anos. Shigunov Neto e Maciel (2008) afirmam que, enquanto o ensino universitário estava destinado à formação profissional do homem, os cursos secundários formavam o homem para viver na sociedade.
Para Ribeiro, o Ratio Studiorum foi adaptado no Brasil para atender às especificidades da Colônia. Começava pelo aprendizado da língua portuguesa (ler e escrever) e a catequização; já a continuação do ensino era opcional: podia-se aprender canto orfeônico, música instrumental, aprendizado profissional e agrícola e aulas de gramática. Havia até mesmo a possibilidade de realizar uma viagem de estudos à Europa (RIBEIRO, 1998, p. 21-22).
Francisco Filho faz um resumo de como acontecia o ensino em escolas jesuítas: “A metodologia de ensino começava com uma preleção. Nas classes elementares após a leitura era feito o resumo do texto, oprofessor tirava as dúvidas. Mais tarde chegava-se à retórica, à arteda composição, à sintaxe e ao estilo; o professor aceitava o diálogo.” (FRANCISCO FILHO, 2004, p. 32).
Além dos indígenas, outras pessoas poderiam frequentar as escolas jesuíticas. Mamelucos e órfãos poderiam ser alunos internos e alguns filhos de colonos, alunos externos. Tempos depois, já mais consolidada no Brasil, a Companhia deu instrução para alunos provenientes da burguesia urbana, como os filhos dos donos de engenho (esses filhos da burguesia poderiam prosseguir seus estudos superiores em universidades na Europa).
Foi em 1550 e 1551 que chegaram ao Brasil os meninos do Colégio de Jesus Órfãos de Lisboa. Com a autorização de Lisboa e a ajuda do governador Tomé de Souza, que doou as terras para a construção, eles viveram e estudaram em uma espécie de confraria chamada de Colégio dos Meninos de Jesus. Chambouleyron (1999) lembra que essa instituição vivia uma situação jurídica ambígua, pois, ao mesmo tempo
Historia_da_Educacao.indd 30 29/08/2013 16:01:35
Capítulo 2
História da Educação
31
em que era religiosa, também tinha um caráter civil, por se tratar de um local que cuidava de órfão (sujeito a uma legislação específica). Esses meninos eram ensinados a ser “pequenos catequistas e doutrinadores”, acompanhando os padres nas procissões e romarias, auxiliando no ato de levar a palavra de Deus aos nativos (CHAMBOULEYRON, 1999).
No entanto, essa mistura de caráter religioso e civil não era bem-vista por moradores portugueses que viviam no Brasil. O fato da Ordem Jesuíta ampliar o seu patrimônio físico e financeiro era questionado. Assim, na segunda metade de 1550, a Companhia de Jesus em todo o mundo decidiu deixar os encargos com meninos órfãos e o Colégio dos Meninos de Jesus passou a se chamar Colégio de Jesus, tendo o caráter de um colégio canônico.
Os ideais propostos pela nova constituição da Companhia de Jesus (1556) firmavam a proibição de manter nos internatos estudantes leigos que não desejassem seguir a vocação religiosa. Como Manuel da Nóbrega não concordava com isso, ocorreram alguns desentendimentos.
Além de tal problema, críticas externas surgiram. Os adversários políticos dos jesuítas os acusavam de tornarem o pensamento intelectual uniforme, dogmático e abstrato. Criticavam a ausência das ciências e das línguas modernas (como o francês) no plano de estudo e rejeitavam o excesso de literatura e retórica (AZEVEDO, 1976, p. 48).
O pensamento iluminista que ganhava força na Europa ajudou a reforçar a necessidade de se acabar com o modelo de educação jesuíta. Segundo Shigunov Neto e Maciel (2008), as causas da expulsão dos jesuítas foram políticas/ideológicas e educacionais. Veja as consideraões dos autores sobre as causas da expulsão em 1759:
• política – os jesuítas representavam um empecilho aos interesses do Estado Moderno, além de ser detentora de grande poder econômico, cobiçado pelo Estado;
• educacional – a necessidade da educação formar um novo homem – o comerciante e o homem burguês, e não mais o homem cristão –, pois os princípios liberais e o movimento iluminista trazem consigo novos ideais e uma nova filosofia de vida.
[...] A Companhia de Jesus teve suas atividades suspensas na Colônia brasileira a partir de 1759, com o Decreto-lei de 3 de setembro de 1759 promulgado pelo Rei D. José I. Com a promulgação da lei, o Ministro de Estado, Marquês de Pombal,
Historia_da_Educacao.indd 31 29/08/2013 16:01:35
História da Educação
FAEL
32
exilava de Portugal e da colônia brasileira a Companhia de Jesus, confiscando para a coroa portuguesa todos os seus bens materiais e financeiros. Quando da assinatura do decreto pelo Marquês de Pombal, havia no Brasil 670 membros da Companhia de Jesus, incluindo noviços e estudantes, sendo repatriados para Portugal 417. Permaneceram no Brasil 253 membros, entre aqueles que ainda não haviam recebido ordens ou os noviços que foram induzidos a deixarem a ordem religiosa (SHIGUNOV NETO; MACIEL, 2008, [s. p.]).
Os jesuítas podem ser considerados os primeiros professores em território brasileiro. Contribuíram com o plano do governo português de transformar a estrutura da sociedade brasileira. Catequizaram indígenas e ofereceram educação para uma pequena parcela da população..
A partir de 1564 foram instaladas escolas dentro das vilas, como foi ocaso do Colégio da Bahia e do Colégio de São Paulo de Piratininga.Chambouleyron (1999, p. 78-79) ressalta que as escolas autorizadas pelo rei de Portugal (que tinham alvará para funcionamento e recebiam uma dotação para sustento, manutenção e despesas) eram muito diferentes das escolas que ficavam localizadas nas aldeias. Há relatos de que os alunos chegaram a visitar as cadeias para levar a palavra de Deus aos encarcerados. Além disso, nessas escolas era possível observar a presença de cerimoniais acadêmicos portugueses, ou seja, atividades como encenações, disputas, interesse em continuar os estudos, recepções de autoridades e procissões eram práticas presentes nas escolas da vila.
Muito se fala e se estuda sobre a presença dos jesuítas na história da educação; no entanto, outras ordens religiosas católicas, como os franciscanos, tiveram importante participação no processo educacional ocorrido em território brasileiro. Parte deste silêncio sobre as demais ordens religiosas pode se dar ao fato de haver uma abundância de fontes historiográficas sobre os jesuítas e, em contraponto, uma aparente escassez de fontes sobre as demais ordens religiosas. No entanto, quebrando os paradigmas e rompendo o silêncio sobre o assunto, autores como Sangenis (2004) apontam para a atuação dos franciscanos e outros grupos religiosos.
Historia_da_Educacao.indd 32 29/08/2013 16:01:35
Capítulo 2
História da Educação
33
Sangenis ressalta o fato de que, ao acompanhar as caravelas do primeiro desembarque ao Brasil, podemos considerar que os franciscanos representaram a primeira ordem religiosa católica que atuou na evangelização e educação do povo nativo. Para o autor, não há dúvidas sobre a importância dos franciscanos para a educação brasileira, já que:
foram os franciscanos os fundadores da primeira escola em território brasileiro, os iniciadores das missões junto aos indígenas, os sistematizadores de línguas nativas, os idealizadores de uma Igreja autenticamente ameríndia, os estudiosos de nossa história, da flora e da fauna, os propagadores de um cristianismo confraternizante, os promotores da educação e da cultura. A participação franciscana, na América e no Brasil, é tão expressiva que aludir ao terceiro franciscano Cristovão Colombo, descobridor deste Continente, ou a Frei Henrique Soares, que, em nossa terra, plantou a primeira cruz, parece-nos mera referência retórica (SANGENIS, 2004, [s. p.]).
Segundo o autor, os franciscanos tiveram uma atuação contínua e ininterrupta na história da educação brasileira, em diferentes níveis educacionais, por isso é importante ressaltar a sua participação na construção educativa de nosso país.
Sugestão de Leitura
Para aprofundar o conhecimento sobre a atuação dos franciscanos na edu-cação brasileira e suas relações com a ordem dos jesuítas, sugerimos a lei-tura a seguir.
SANGENIS, L. F. C. Gênese do pensamento único em educação: franciscanismo e jesuitismo na história da educação brasileira. Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2006.
Sugestão de Leitura
É interessante ressaltar a existência de outras ordens religiosas, além do fato de que elas estiveram presentes em toda a história da educação brasileira até os dias de hoje. Ao mesmo tempo, verificamos que, em determinado momento, a Companhia de Jesus (especialmente) já não
Historia_da_Educacao.indd 33 29/08/2013 16:01:35
História da Educação
FAEL
34
atendia aos anseios da Corte Portuguesa. A partir de então, podemos observar uma nova forma de pensamento educacional ganhando espaço no Brasil, como veremos a seguir.
Reforma PombalinaNo século XVIII, Portugal estava atrasado em relação aos países
considerados as potências da época. O país queria passar de uma posição mercantil para outra industrial. A Inglaterra, por exemplo, destacava-se por sua industrialização e avanços tecnológicos. Nesse cenário, um ministro português surgiu para causar muitas transformações no país: Sebastião José de Carvalho, o Marquês de Pombal.
Pombal esteve no poder de 1750 a 1777 e foi o responsável pelas mudanças ocorridas na economia, educação e administração de Portugal e suas colônias. Apesar de serem influenciadas pelo Iluminismo, as reformas pombalinas atendiam aos interesses do Estado e nada tinham de compromisso com a liberdade individual do cidadão. Boto (2010, s.p.) afirma que a “escola pombalina não era conduzida pela utopia daemancipação”.
Com suas medidas, Pombal pretendia colocar Portugal em uma posição de destaque entre as metrópoles europeias. Uma das ações foi tentar forçar o progresso da industrialização no país, além de incentivar a construção naval. Passou-se a cobrar impostos altíssimos de produtos importados para forçar o avanço interno industrial. Segundo Maciel e Shigunov Neto (2006, [s. p.]), podemos destacar que:
as principais medidas implementadas pelo marquês, por intermédio do Alvará de 28 de junho de 1759, foram: total destruição da organização da educação jesuítica e sua metodologia de ensino, tanto no Brasil quanto em Portugal; instituição de aulas de gramática latina, de grego e de retórica; criação de cargo de ‘diretor de estudos’ – pretendia-se que fosse um órgão administrativo de orientação e fiscalização do ensino; introdução das aulas régias – aulas isoladas que substituíram o curso secundário de humanidades criado pelos jesuítas; realização de concurso para escolha de professores para ministrarem as aulas régias; aprovação e instituição das aulas de comércio.
Pombal realizou mudanças na educação e decidiu expulsar os jesuítas de Portugal e de suas colônias (escolas de outras ordens
Historia_da_Educacao.indd 34 29/08/2013 16:01:35
Capítulo 2
História da Educação
35
religiosas continuaram existindo). A sociedade que estava surgindo não necessitava mais de um cidadão cristão. As prioridades e prin-cípios mudaram e um novo homem precisava surgir para atender às modificações dos Estados modernos.
O Brasil mudou a cobrança de impostos e investiu na organização da mineração e extração. Transferiu a capital de Salvador para o Rio de Janeiro. As capitanias hereditárias que ainda eram particulares foram compradas pela Coroa e transformadas em capitanias reais. Com relação aos indígenas, Pombal foi o responsável por legalizar o fim de sua escravidão, em 1755, o que desagradou os proprietários de escravos indígenas e os jesuítas. Ao libertar os indígenas e expulsar os jesuítas, pretendia-se libertar a população local das amarras do catolicismo e miscigenar colonos e indígenas para gerar um povoamento estratégico em terras brasileiras.
Extintos os colégios jesuítas4, a maior parcela do ensino passou a ficar sob a responsabilidade do Estado. O fato de a educação ser laica não queria dizer que atendia aos interesses dos cidadãos, pelo contrário, o Estado queria garantir seu absolutismo, controlando, inclusive, o material didático. Enquanto mudanças ocorriam em Portugal, o Brasil ficava estagnado.
Somente dezessete anos após a expulsão dos jesuítas, o Brasil conseguiu ter novamente o ensino, porém, de uma maneira fragmentada e desarticulada. Surgiu no país a escola pública de responsabilidade do Estado. Professores leigos e despreparados ministravam aulas avulsas (ou aulas régias) de Latim, Grego, Retórica ou Filosofia, que não possuíam conexão. Segundo a definição de Fonseca, redigida em forma de verbete no site da Unicamp, as aulas régias:
[...] compreendiam o estudo das humanidades, sendo perten-centes ao Estado e não mais restritas à Igreja – foi a primeira forma do sistema de ensino público no Brasil. Apesar da novi-dade imposta pela Reforma de Estudos realizada pelo Marquês de Pombal, em 1759, o primeiro concurso para professor so-mente foi realizado em 1760 e as primeiras aulas efetivamente implantadas em 1774, de Filosofia Racional e Moral. Em 1772
4 É importante ressaltar que a Igreja católica continuou atuando nas colônias após a expul-são dos jesuítas. Continuaram realizando atividades as Ordens religiosas, como os francis-canos e beneditinos, por exemplo.
Historia_da_Educacao.indd 35 29/08/2013 16:01:35
História da Educação
FAEL
36
foi criado o Subsídio Literário, um imposto que incidia sobre a produção do vinho e da carne, destinado à manutenção dessas aulas isoladas. Na prática o sistema das Aulas Régias pouco al-terou a realidade educacional no Brasil, tampouco se constituiu em uma oferta de educação popular, ficando restrita às elites locais. Ao rei cabia a criação dessas aulas isoladas e a nomeação dos professores, que levavam quase um ano para a percepção de seus ordenados, arcando eles próprios com a sua manutenção. Azevedo [1943, p. 315] menciona a abertura de uma aula régia de desenho e de figura, em 1800, nas principais cidades da orla marítima e em algumas raras do planalto e do sertão. Em 1816 consta que o pintor Manoel da Costa Athaíde solicitou uma aula régia de desenho em Vila Rica, obtendo a aprovação.
A permanência praticamente inalterada do sistema das Aulas Régias no Brasil da virada do século XVIII para o seguinte, estendendo-se ainda durante o primeiro reinado, deveu-se à continuidade dos modelos de pensamento em nossa elite cultural. Existiu um grande descompasso entre o pretendido pelo governo monárquico – tanto o português quanto o brasileiro, após a independência – e aquilo que as condições sociais e econômicas viriam permitir, dentro de um modelo produtivo excludente, escravista e pautado em uma mentalidade que contribuía para se perpetrar tal situação. (CARDOSO, 2004 apud FONSECA, 2012, [s. p.]).
Sugestão de Leitura
Para aprofundar o conhecimento sobre as aulas régias e compreender melhor a educação nesse período histórico, leia CARDOSO, T. M. R. F. L. As luzes da educação: fundamentos, raízes históricas e prática das aulas régias no Rio de Janeiro 1759-1834. Bragança Paulista: Editora da Universidade São Francisco, 2002.
Sugestão de Leitura
Dentro deste sistema, os alunos, filhos de uma pequena elite, eram educados para serem os novos nobres. O ensino procurava ser facilitado, pois a entrada no ensino superior era o almejado. Maciel e Shigunov Neto (2006, [s. p.]) fazem uma crítica contundente à Reforma Pombalina educacional, dizendo que ela:
Historia_da_Educacao.indd 36 29/08/2013 16:01:35
Capítulo 2
História da Educação
37
[...] pode ser avaliada como sendo bastante desastrosa para a Educação brasileira e, também, em certa medida para a Educação em Portugal, pois destruiu uma organização educacional já consolidada e com resultados, ainda que discutíveis e contestáveis, e não implementou uma reforma que garantisse um novo sistema educacional. Portanto, a crítica que se pode formular nesse sentido, e que vale para nossos dias, refere-se à destruição de uma proposta educacional em favor de outra, sem que esta tivesse condições de realizar a sua consolidação.
Desta feita, podemos concluir que a Reforma Pombalina não foi um avanço na educação brasileira. Ao criticar a estrutura religiosa do ensino jesuítico, ela desarticulou o ensino existente no Brasil. O país vem colhendo de longa data este tipo de erro: querer implantar novas tendências em detrimento de outras, sem ponderar o que é significativo e o que deve ser abandonado.
Passadas as reformas pombalinas, o Brasil recebeu a família real portuguesa, o que modificou o cenário político, social, econômico e, consequentemente, educacional.
Educação no Brasil: da sede da Coroa para o Império
No início do século XIX, Inglaterra e França estavam em guerra. Na tentativa de destruir economicamente a Inglaterra, o imperador francês Napoleão Bonaparte proibiu os países de fazerem comércio com os britânicos. Portugal, que mantinha uma estreita relação financeira com esse país, continuou negociando com seu parceiro. Por causa da pressão francesa e das invasões de Napoleão, o rei de Portugal decidiu levar sua família e cerca de dez mil pessoas consigo para o Brasil. Em 1808, chegou a família real portuguesa.
O país deixava de ser uma simples colônia para se tornar a sede do Império português. A Corte, que tinha sido transferida de Salvador para o Rio de Janeiro, começou a se modernizar. Ruas foram abertas e pavimentadas, construções foram erguidas. Nessa época foram construídos oJardim Botânico, o Museu Nacional e a Imprensa Régia, e o acervo da biblioteca de Portugal foi trazido para o Rio de Janeiro. A sede estava ficando moderna.
Historia_da_Educacao.indd 37 29/08/2013 16:01:35
História da Educação
FAEL
38
O pensamento do mercantilismo deu lugar ao liberalismo inglês, baseado na industrialização. Adam Smith, um dos intelectuais mais citados, defendia que cada nação deveria ser livre para fazer o comércio daquilo que “produz mais e melhor, e fazer troca do excedente por produtos oferecidos por outras nações” (FRANCISCO FILHO, 2004, p. 42). A Inglaterra teve muita influência sobre o Brasil durante esse período. Apesar da abertura dos portos brasileiros para todas as nações, o país britânico continuava obtendo privilégios. Os produtos ingleses eram os que pagavam menos impostos para serem importados. A elite brasileira comprava produtos supérfluos só para sentir-se “europeia civilizada”.
Devido aos conflitos na Europa, a família real e as elites (brasileira e europeia recém-chegada) não podiam enviar seus filhos ao local para cursar o ensino superior. O novo contexto exigiu a reformulação do pensamento educacional. Instituições de ensino superior e técnico precisavam ser abertas no Brasil para atender a essa fatia da população. Foram criadas instituições como as elencadas a seguir.
● Academia Real da Marinha, 1808.
● Cursos de Cirurgia, Medicina e Anatomia, 1809.
● Cursos técnicos de Agricultura e Indústria.
● Academia Real Militar, 1810.
● Laboratório de Química, 1812.
● Curso de Agricultura, 1814.
● Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios, 1816.
Apesar das mudanças ocorridas no ensino superior, a educação continuou deixando as classes menos favorecidas de lado. A educação elementar “não sofreu modificação, os cuidados continuaram a ser com o conhecimento superior [...]. Não houve alteração na linha adotada durante a colonização [...]” (FRANCISCO FILHO, 2004, p. 46).
Em 1822, o Brasil deixou de ser governado por Portugal. Sua independência foi liderada pelo futuro sucessor do trono português. Dom Pedro I tornou-se o primeiro imperador do Brasil, em uma ação planejada e desejada (ao contrário do que muitos livros de história trouxeram antes de 1990).
Historia_da_Educacao.indd 38 29/08/2013 16:01:35
Capítulo 2
História da Educação
39
Cursos superiores, técnicos e escolas religiosas, colégios públicos e particulares continuaram sendo abertos na tentativa de acompanhar o crescimento da elite brasileira. O discurso sobre a educação podia parecer eficiente, mas na realidade faltavam verbas e a população menos abonada continuava sendo esquecida. A elite estudava por meio das aulas avulsas, muitas das vezes ministradas nas escolas confessionais. Francisco Filho (2004, p. 62-63) afirma:
em 1834 o Ato Adicional à Constituição de 1824 centralizou o ensino superior no governo Imperial e deu às províncias o direito de legislar e promover o ensino primário e secundário. [...] As escolas de primeiras letras tiveram pouca ascensão [...] As meninas da elite recebiam educação sobre afazeres domésticos e as meninas das camadas mais pobres só recebiam a educação informal de mãe para filha. [...] Foi instituído o ensino parcelado. Nas bancas das faculdades eram feitas avaliações para ingresso no ensino superior. A preparação, anterior, ficava por conta do aluno, que não precisava frequentar o ensino seriado. Somente a elite tinha condições de pagar professores ou um colégio religioso.
As mulheres continuavam sendo educadas para o lar e o foco do governo estava voltado para o ensino superior. A maioria dos colégios secundários estava nas mãos de instituições particulares e só as elites poderiam pagar seus estudos. Muitos desses colégios acabaram sendo apenas um curso preparatório para o ensino superior. As famílias ricas queriam acelerar o acesso de seus filhos ao “rol dos homens cultos” (ROMANELLI, 2010, p. 41).
A partir de 1840, o Brasil passou a ser governado por D. Pedro II, que, por meio de um golpe de maioridade, assumiu o governo com 14 anos. Chamamos este período de Segundo Reinado, o qual se estendeu até a Proclamação da República, em 1889. Durante seu governo, aconteceram muitas manifestações políticas e sociais, entre elas o fim da Guerra dos Farrapos, a Revolução Praieira e a Guerra do Paraguai.
Foi durante o Segundo Reinado que o Brasil viu
A Guerra do Paraguai (1864-1870) proporcionou a discussão entre as camadas
pobres e escravas sobre o direito de acesso à educação. Nos navios os “homens comuns”
compartilhavam do mesmo sofrimento e desenvolviam com a mesma capacidade as
atividades dos jovens oficiais. Um movimento de classe começava a surgir.
Saiba mais
Historia_da_Educacao.indd 39 29/08/2013 16:01:35
História da Educação
FAEL
40
aumentar, significativamente, a produção de café. Os fazendeiros, conhecidos como barões do café, enriqueceram por meio do trabalho escravo nas lavouras; ostentaram seu poder econômico e político e com suas riquezas favoreceram a industrialização no país, sobretudo nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro.
Devido às discussões em âmbito internacional, os discursos abolicionistas chegaram ao Brasil. Durante o Segundo Reinado, podemos destacar:
● Lei Eusébio de Queiróz (1850) – extinção oficial do tráfico de escravos no Brasil;
● Lei do Ventre Livre (1871) – liberdade dos filhos de escravos nascidos após a promulgação da lei;
● Lei dos Sexagenários (1885) – liberdade aos escravos que completassem 65 anos de idade;
● Lei Áurea (1888) – abolição da escravidão assinada pela Prin-cesa Isabel, filha do Imperador D. Pedro II.
Com o fim da escravidão sendo anunciado desde 1850, os fazendeiros precisariam substituir a mão de obra que existia em suas lavouras e, por isso, começou a acontecer um grande movimento imigratório. Imigrantes vindos, principalmente, da Europa chegavam de navio ao país com a promessa de trabalho e moradia garantidos. No entanto, ao aportarem em terras brasileiras, a realidade não parecia ser tão promissora. A maioria passou a trabalhar em fazendas de café e alguns poucos conseguiram se estabelecer como comerciantes ou industriais.
Houve, também, uma abertura na liberdade religiosa. Nosso país já não era mais exclusivamente católico (se ignorarmos as manifestações religiosas dos povos indígenas e africanos que aqui já existam), pois muitos dos imigrantes recém-chegados traziam, em suas bagagens, seus anseios, cultura e religião.
Desta forma, além dos grupos de evangelização católica, começaram a chegar ao país grupos de missionários protestantes, a fim de levar os seus dogmas a países da América. A cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro, recebeu a sua primeira turma de Escola Dominical (ensino da Bíblia mediante preceitos protestantes) no ano de 1855,
Historia_da_Educacao.indd 40 29/08/2013 16:01:35
Capítulo 2
História da Educação
41
por intermédio do casal de missionários escoceses Sarah e Robert Kalley. Para ensinar a Bíblia, consequentemente, eles precisavam alfabetizar as pessoas que frequentavam as aulas. Via-se, assim, a oportunidade de evangelizar e ensinar.
Em 1959, chegou ao Brasil o missionário presbiteriano Simonton, que, entre outras coisas, tinha a missão de uma escola, um seminário e um jornal5. Basicamente, a proposta de evangelização trazida por ele era:
1) a santidade da igreja deve ser ciosamente mantida no tes-temunho de cada crente; 2) é preciso inundar o Brasil de Bíblias, livros e folhetos; 3) cada crente deve comunicar o evangelho a outra pessoa; 4) é necessário formar um ministé-rio nacional idôneo; 5) escolas paroquianas para os filhos dos crentes devem ser estabelecidas (CÉSAR, 2000, p. 89).
A evangelização pessoal e nas igrejas alcançou um grupo de pessoas menos favorecidas que tiveram a oportunidade de serem alfabetizadas para, basicamente, ler a Bíblia. As escolas seriam a oportunidade dos protestantes de também alcançar as classes mais abastadas.
Em 1869, foi fundada, em Campinas, pelo reverendo Nash Morton, a primeira escola presbiteriana chamada de Colégio Internacional. A instituição tinha como um de seus objetivos atender aos filhos dos presbiterianos assegurando a continuidade da cultura e religião. Em 1870, também fundada pelos presbiterianos, surgiu a Escola Americana, possuindo características como classes mistas de meninos e meninas e uma nova pedagogia de ensino. Essa escola começou a ganhar visibilidade pela dita qualidade de ensino, que contava com professores qualificados. Uma das pessoas que teve sua atenção voltada para o colégio foi o advogado Jonh Theron Mackenzie, que realizou doações em vida e em herança para que a instituição crescesse. Em 1896, ela passou a abrigar o curso superior de engenharia e tornou a se chamar Mackenzie College6.
5 Este primeiro jornal protestante chamava-se Imprensa Evangélica e circulou entre 1864 a 1892.
6 O Mackenzie College é atualmente dividido ente a Universidade Presbiteriana Mackenzie e o Colégio Presbiteriano Mackenzie. Para saber informações sobre essas instituições acesse: www.mackenzie.br e www.emack.com.br.
Historia_da_Educacao.indd 41 29/08/2013 16:01:35
História da Educação
FAEL
42
Figura 3 Escola. Ginásio Anglo-Brasileiro. Aula de física e quími-ca. São Paulo, 1910.
Repr
oduç
ão Ic
onog
raph
ia
Figura 4 Instituto Granbery, Juiz de Fora, Minas Gerais, 1946.
Inst
ituto
Gra
nber
y
Já os metodistas fundaram seu primeiro colégio no ano de 1881, mantendo relações estreitas com a elite republicana. O Colégio Piraci-cabano era elogiado por manter um grupo de professores seletos, for-mados nos Estados Unidos ou na Europa. Mesquida (1994) lembra
Historia_da_Educacao.indd 42 29/08/2013 16:01:37
Capítulo 2
História da Educação
43
que esses professores eram chamados por fazendeiros para ensinar, em casa, as primeiras letras a seus filhos, tecnologias agrícolas ou mesmo religião, por isso o prestígio e proximidade das elites de Piracicaba e região. Entre as características do Colégio Piracicabano estavam:
prédios próprios, com arquitetura que os distinguia pelas salas amplas e construídas especificamente para o ensino. As classes eram mistas. As carteiras de estudante passaram a ser individuais. Havia salas especiais para música, geografia, com imensa quantidade de mapas, cartazes com esqueleto do corpo humano, pesos e medidas para o ensino do sistema métrico, microscópios. E, já no colégio Piracicabano, as disciplinas eram latim, português, inglês, francês, gramática, caligrafia, aritmética, matemática, álgebra, geometria, astronomia, cosmografia, geografia, história universal, história do Brasil, história sagrada, literatura, botânica, física, química, zoologia, mineralogia, desenho, música, piano, costura, bordado e ginástica (ELIAS, 2005, p. 82).
O Colégio Piracicabano tinha à sua frente a missionária Martha Hite Watts, que ajudaria a criar e liderar outros colégios como: Colégio Americano de Petrópolis (1895); Colégio Mineiro em Juiz de Fora (1902); Colégio Izabela Hendrix em Belo Horizonte (1905).
Foi também nesta época que surgiram os kindergarten ou, em nossa tradução, jardins de infância, destinados à educação das crianças pequenas, de zero a seis anos. Cardoso Filho afirma que o primeiro jardim de infância do Brasil surgiu em 1862, na cidade de Castro, no interior do Paraná (CARDOSO FILHO, 2009, p. 49). O mais conhecido deles é o Colégio Menezes Vieira (1875-1887), fundado pelo médico e educador Joaquim José de Menezes Vieira. Outros jardins de infância conhecidos pela historiografia surgiram em 1877, em São Paulo, na Escola Americana e no Colégio Piracicabano.
Educação na República VelhaChamamos de República Velha ou Primeira República o período
que vai de 1889 a 1930, quando o Brasil proclamou a sua independência e passou a ser governado por presidentes. Durante este período histórico,
Jardim de infância é um termo criado pelo alemão Friedrich Froebel (1782-1852); ele teve
a ideia de dar este nome para a instituição que cuidaria de crianças pequenas enquanto
passeava por bosques.
Saiba mais
Historia_da_Educacao.indd 43 29/08/2013 16:01:37
História da Educação
FAEL
44
podemos ressaltar o surgimento dos grupos escolares, instituições de ensino primário que existiram até o ano de 1971. Os grupos escolares surgiram no estado de São Paulo e representavam o ideal republicano presente na educação. Estes locais educativos procuravam ser modelares e padronizadores da educação primária completa. Utilizavam um ensino enciclopédico e seus métodos e processos pedagógicos eram considerados modernos para a época (SOUZA, 1996).
Souza (1996, p. 118) afirma que, em 1929, já havia 297 grupos escolares no estado de São Paulo, sendo 47 instalados na capital e 250 localizados nas demais cidades. Estudos recentes da história da educação têm percebido que o modelo de grupo escolar de São Paulo acabou sendo uma tentativa de padronização para os demais estados, ou seja, muitas das características presentes nesses grupos foram incorporadas por outros estados brasileiros. Nas palavras de Souza e Faria Filho (2006), esta inovação significou uma transformação da organização da educação pública dos estados brasileiros, assim:
o novo modelo de escola exigia altos investimentos, pois pres-supunha a edificação de espaços próprios e adequados para o funcionamento das escolas, professores habilitados, mobiliário moderno e abundante material didático. A racionalidade e a uniformidade perpassavam todos os aspectos da ordenação es-colar, desde o agrupamento homogêneo das crianças (alunos) em turmas mediante a classificação pelo grau de conhecimen-to, consolidando a noção de classe e série, o estabelecimento de programas de ensino (distribuição ordenada de atividades e dos saberes escolares), a atribuição de cada classe a um professor, a adoção de uma estrutura burocrática hierarquizada – uma rede de poderes, de vigilância e de controle envolvendo professores, diretores, porteiros, serventes, inspetores, delegados e diretores de ensino. Perpassavam também a ordem disciplinar impingi-da aos alunos – asseio, ordem, obediência, prêmios e castigos (SOUZA; FARIA FILHO, 2006, p. 28).
Como vimos, a instalação deste modelo de escola possuía um custo muito alto. Era necessária uma arquitetura escolar específica, um mobiliário considerado moderno, professores preparados e, por este motivo, somente os estados de maior posse financeira conseguiram implantar a proposta dos grupos escolares com mais sucesso. Souza e Faria Filho (2006) destacam São Paulo, Minas Gerais e Pará como os estados que conseguiram ampliar, significativamente, as vagas e implantar um sistema moderno de ensino.
Historia_da_Educacao.indd 44 29/08/2013 16:01:37
Capítulo 2
História da Educação
45
Nos estados de melhores condições, a construção dos prédios dos grupos escolares era grandiosa. A arquitetura era inovadora: as divisões do ambiente, o pátio escolar, a separação entre a rua e a sala de aula geravam uma postura diferenciada entre ter um comportamento de criança na rua e outro como aluno na escola. No entanto, os demais estados, apesar de também contarem com grupos escolares (talvez não tão suntuo- sos), dividiam o sistema primário com as já existentes escolas isoladas.
Sugestão de Leitura
Para saber mais sobre os grupos escolares indicamos a seguinte leitura:
BENCOSTTA, M. L. Grupos escolares no Brasil: um novo modelo de es-cola primária. In: STEPHANOU, M.; BASTOS, M. H. C. História e me-mórias da educação no Brasil. Século XX. Petrópolis: Editora Vozes, 2005. v. 3.
Sugestão de Leitura
Figura 5 Grupo Escolar Dom Pedro II, Ouro Preto/MG, década de 20 do século XX.
APM
– E
scol
a Es
tadu
al D
om P
edro
II
Historia_da_Educacao.indd 45 29/08/2013 16:01:37
História da Educação
FAEL
46
Figura 6 Sala de aula. Rio de Janeiro, 22 de outubro de 1914.
Repr
oduç
ão Ic
onog
raph
ia
Figura 7 Instituto Muniz Barreto (escola – sala de aula só para meninos). Rio de Janeiro, 1904.
Repr
oduç
ão Ic
onog
raph
ia
Historia_da_Educacao.indd 46 29/08/2013 16:01:37
Capítulo 2
História da Educação
47
Com relação ao período histórico, os cafeicultores paulistas e fazendeiros mineiros detinham o poder político. Eles revezavam-se na presidência e controlavam o cenário econômico brasileiro. Este sistema ficou conhecido como política do café com leite. A presidência do Senado e da Câmara dos Deputados Federais ficava dividida entre os políticos do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Existiam muitas fraudes nas eleições e não havia uma fidelidade aos partidos políticos. Francisco Filho (2004, p. 76) resume o período afirmando que:
tudo tinha como alicerce o coronelismo, que nomeava autoridades e altos funcionários e em troca apoiava os candidatos aceitos pelas bases do governo. [...] O voto era de “cabresto” e os coronéis tinham “pequenos exércitos particulares armados” para manter a segurança. [...] Nesse período surgiram alguns movimentos de peso, o Tenentismo em 1922 e depois a Coluna Prestes, no campo militar. No plano intelectual surge a Semana de Arte Moderna, também em 1922, alterando os rumos da cultura.
No campo educacional, logo no início da República, em 1890, Benjamim Constant troca a tradição humanista pelos princípios positivistas. Segundo Francisco Filho (2004), o ensino era seriado, enciclopédico, obrigatório e gratuito. Novas disciplinas passaram a fazer parte do currículo: Política, Economia, Noções de Sociologia, Direito e Ciências. O ensino passava pela tendência de imitar a educação francesa. Com o fim do Império, o Colégio Dom Pedro II teve seu nome mudado para Ginásio Nacional. Era a tentativa de modernizar o país e esquecer as antigas estruturas.
Vamos observar no quadro a seguir algumas leis e reformas que ocorreram neste período.
Quadro 1
NOME E DATA OBJETIVOS LEGAIS
Reforma Epitácio Pessoa – 1901
• O ensino secundário continuava preparando para o ensino superior;
• O ensino secundário passava a ter seis anos de duração;
• Continuava a liberdade de ensino.
Historia_da_Educacao.indd 47 29/08/2013 16:01:37
História da Educação
FAEL
48
NOME E DATA OBJETIVOS LEGAIS
Lei Orgânica Rivadávia Corrêa
– 1911
• Ofereceu autonomia aos estabelecimentos de ensino;
• Muitos estabelecimentos de ensino voltaram minis-trar um ensino parcelado, o que pode ser conside-rado um retrocesso;
• Fim do caráter oficial do ensino;
• Volta dos exames de admissão para o ensino superior;
• O estado não controlava a emissão de títulos e diplomas.
Reforma de Carlos
Maximiliano – 1915
• Cancelava as alterações de 1911;
• Cancelava o ensino parcelado;
• Obrigava a conclusão do curso secundário para ter acesso ao curso superior;
• Criava o vestibular para ingressar no curso superior.
Lei Rocha Vaz – 1925
• Última lei antes da Era Vargas;
• Era contrária às ideias da Escola Nova;
• Considerada reacionária e conservadora;
• O Estado controlava ideologicamente através de inspeções e autorizações;
• Moral e Cívica tornou-se disciplina obrigatória na escola primária e secundária.
Como pudemos observar no quadro, ocorreram algumas mudanças na educação brasileira. Parte dos interesses imperiais foi substituída pelos novos objetivos da oligarquia café com leite. O discurso da República deu abertura para a discussão de uma escola gratuita para todos. Porém, a elite continuou sendo educada e os menos favorecidos continuavam deixados à parte. É certo que, em sua maioria, os ideais humanistas foram substituídos pelo Positivismo, mas o ensino ainda estava longe de preparar cidadãos atuantes e conscientesde seu papel na sociedade. Ainda havia um longo caminho para ampliar a democratização do ensino.
Outro assunto discutido na época foi o aumento significativo de mulheres procurando ser professoras de escolas primárias. Elas
Historia_da_Educacao.indd 48 29/08/2013 16:01:37
Capítulo 2
História da Educação
49
procuravam as escolas normais para “obter conhecimentos, preparo para a vida no lar e também ter uma profissão que lhes permitisse sobreviver com seu próprio rendimento” (ALMEIDA, 2009, [s. p.]). O Positivismo, que regia a tendência educacional, valorizava a mulher moralmente (apesar de vê-la como ser frágil e incapaz) e sua função de professora muito se assemelhava à de mãe, por isso era socialmente aceita. Os homens que se formavam nas escolas normais procuravam cargos de direção e chefia nas escolas.
Na época, houve uma discussão sobre a introdução de classes mistas na escola primária. Se uma professora ministrasse aulas para meninos e meninas, a sua formação também deveria estar voltada para os assuntos e conhecimentos do universo masculino. Apesar de opiniões contrárias, e o conhecimento de “assuntos” que eram considerados exclusivos do sexo oposto, o “instinto maternal” superou as críticas. As professoras seriam mais afáveis e protetoras no desempenho desse papel. Era a mulher ganhando espaço na educação brasileira.
No próximo capítulo, abordaremos os acontecimentos ocorridos entre 1930 e o período do Regime Militar.
Da teoria para a práticaVimos, neste capítulo, que os jesuítas, juntamente com outros
religiosos, foram os primeiros professores em território brasileiro. Formaram e catequizaram uma parcela da população do país. Quando já não atendiam mais às necessidades da Coroa Portuguesa, acabaram sendo expulsos de suas colônias. Sabe-se que outras ordens religiosas puderam continuar exercendo suas atividades, no entanto, apesar da expulsão da Companhia de Jesus e da repressão realizada, a Ordem, posteriormente, no século XIX, voltou a exercer suas atividades e, hoje, atua, inclusive, no âmbito educacional.
Realize uma breve pesquisa sobre a presente atuação dos jesuítas no Brasil. Procure saber se em sua região existem escolas lideradas pelos jesuítas e quais são os princípios organizadores e norteadores dessas instituições educacionais. Veja, também, com quais níveis de educação essa ordem religiosa está envolvida.
Historia_da_Educacao.indd 49 29/08/2013 16:01:37
História da Educação
FAEL
50
SínteseO início da educação brasileira foi dirigido pelos padres jesuítas,
que procuravam novos fiéis da Igreja católica e transmitiam sua religião e cultura baseados na obra de Aristóteles e Santo Tomás de Aquino. Com a tentativa de modernidade, liderada por Marquês de Pombal, eles foram expulsos e a educação ficou fragmentada, nas mãos de professores, geralmente, despreparados.
A partir de 1808, com a chegada da família real ao Brasil, houve a preocupação de investir no ensino superior, já que a Corte e a elite não estavam indo à Europa para finalizar seus estudos. O Império continuou privilegiando o ensino superior em detrimento do primário e secundário. A República Velha tentou romper com as antigas estruturas do Império e investiu nas ideias positivistas e na discussão das escolas gratuitas, apesar do ensino ainda ser algo inalcançado pela maioria da população.
Historia_da_Educacao.indd 50 29/08/2013 16:01:37
51
O século XX trouxe mudanças significativas para a história do Brasil, bem como para a história da educação brasileira. Os avanços alcançados pela Revolução Industrial, as guerras mundiais, os pensamentos sociais e políticos transformaram esse século em uma profusão de informações e acontecimentos.
Neste capítulo, estudaremos três momentos diferentes da educação brasileira paralelamente a três momentos históricos distintos: a Era Vargas, o período de democratização e o Regime Militar.
Na primeira parte do capítulo, veremos como Getúlio Vargas conseguiu permanecer no poder durante quinze anos, quais foram suas medidas educacionais e a proposta de seu Ministério da Educação. Depois, encontraremos o momento em que o Brasil passou por um período de democratização, no qual o país procurou se modernizar (apesar das dívidas externas) e promulgou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 1961. Para encerrar, o tema abordado será o período do Regime Militar e seus reflexos no contexto educacional.
A educação e a Era VargasA partir de 1930, a política regida pelas estruturas rurais começou
a perder força. O Coronelismo e a política oligárquica, conduzida pelas famílias ricas de Minas Gerais e São Paulo, começaram a entrar em decadência. Um novo Estado estava configurando-se no cenário nacional. A agricultura deu espaço para um novo movimento: o da industrialização.
A aristocracia rural voltava-se para os investimentos na indus- trialização e a política dos governadores, o Coronelismo e a política do
Educação no Brasil: de 1930 ao Regime Militar
3
Historia_da_Educacao.indd 51 29/08/2013 16:01:37
História da Educação
FAEL
52
café com leite já não atendiam aos seus interesses. Esta nova burguesia saiu do campo e migrou para os centros urbanos que estavam em ascensão.
No campo das ideias também aconteceram mudanças. O ideário marxista e anarquista já havia conquistado adeptos. A fundação do Partido Comunista, o Tenentismo e a Semana de Arte Moderna também influen- ciaram o pensamento da época. No campo educacional, surgiu a Escola Nova, que estudaremos com mais dedicação no capítulo 5 deste livro.
O ano de 1930 era de eleições presidenciais, no entanto, prevendo a decadência da aliança da política café com leite, os paulistas decidiram romper com o acordo e indicaram Júlio Prestes para o cargo. Os mineiros aliaram-se ao Rio Grande do Sul e lançaram a candidatura de Getúlio Vargas. Júlio Prestes venceu as eleições, porém, uma série de acontecimentos foi aumentando a rivalidade entre os partidos, culminando no assassinato de João Pessoa (vice de Getúlio Vargas nas eleições).
Vargas aproveitou a situação unindo-se aos tenentes no movimento Tenentismo e, em 3 de outubro, seguiram rumo ao Rio de Janeiro, para impedir a posse de Júlio Prestes. Antes de chegar ao Rio, Vargas recebeu a notícia de que o então presidente Washington Luís havia sido deposto por uma junta militar. Vargas tornou-se o novo presidente do Brasil.
O governo de Getúlio Vargas passou por algumas fases. Observe o quadro:Quadro 1
NOME PERÍODO CARACTERÍSTICAS E ACONTECIMENTOS
Governo provisório
1930-1934
Política de valorização do café.
Conseguiu transformar os paulistas em seus aliados.
Início do populismo.
Governo constitucional
1934-1937
Ideias fascistas e anticomunistas.
Culto ao líder e valorização do nacionalismo.
Plano Cohen.
Estado Novo 1937-1945
Regime Militar.
Criação da Vale do Rio Doce, investimentos na siderúrgica nacional e a formação do con-selho nacional de petróleo.
Consolidação das Leis Trabalhistas.
Segunda Guerra Mundial.
Historia_da_Educacao.indd 52 29/08/2013 16:01:37
Capítulo 3
História da Educação
53
Vargas tornou-se o líder supremo do país. Um ditador que reprimia com censura tudo e todos que se posicionassem contrários às suas ordens. Apesar de apoiar os Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial, ele era simpatizante das ideias fascistas e nazistas, vindas, respectivamente, da Itália e Alemanha.
O momento histórico exigiu mudanças na sociedade e, conse-quentemente, na educação. Havia o interesse de romper com as antigas estruturas do ensino. A sociedade, predominantemente rural, passou a se tornar mais industrializada e necessitou de uma nova mão de obra.
O analfabetismo precisava ser diminuído, pois o trabalhador urbano teria que ter conhecimento e preparo para desenvolver as suas funções. Nessa época, foi criado o ensino supletivo para alfabetizar os trabalhadores que não tiveram oportunidade de estudar durante a infância e a juventude. Apesar da criação do ensino supletivo, a alfabetização não foi prioridade, o que estava em foco era a educação das elites. O ministro Capanema, por exemplo, acreditava que “com verdadeiras eli-tes se resolveria não somente o problema do ensino primário, mas o da mobilização de elementos capazes de movimentar, desenvolver, dirigir e aperfeiçoar todo o mecanismo de nossa civilização” (BOMENY, 1999, p.139). Essa elite seria preparada e selecionada no ensino secundário esua instrução completa se daria no ensino superior.
Francisco Filho (2004, p. 86) faz uma crítica a este sistema de ensino, afirmando que:
algumas coisas não mudaram, persistiu no seio da escola um sistema dual. De um lado, escolas preparando para carreiras universitárias, do outro, escolas preparando para a força de trabalho. Eram escolas para as classes médias e ricas e outra diferenciada para os mais pobres, os trabalhadores. Esse sistema ainda perdura neste início do século XXI. Foram criados, também, cursos rápidos e rapidíssimos para treinamento dos trabalha- dores das diversas profissões emergentes. Em geral, era uma população urbana procedente da área rural, empurrada para as cidades pelas sucessivas ondas de êxodo rural, que se avolumava.
O Ministério da Educação e Saúde Pública foi criado em 1930 e nomeou Francisco Campos como seu responsável. Em 1931, foi realizada a reforma do Ensino Secundário, que pretendia preparar o aluno não só para a entrada na universidade, mas também a entrada em vários setores da sociedade.
Historia_da_Educacao.indd 53 29/08/2013 16:01:37
História da Educação
FAEL
54
Foi estabelecido o ensino seriado e de frequência obrigatória. O funcionamento ficou dividido da seguinte maneira:
● Grupo Escolar7: quatro anos; ensino primário, obrigatório e gratuito;
● 1º Ciclo do ensino secundário: cinco anos;
● 2º Ciclo do ensino secundário (pré-universitário): dois anos.
Esse sistema acabou sendo popularmente conhecido como 452.
Segundo Francisco Filho (2004, p. 88), muitos estudiosos apontam falhas no sistema educacional alegando que prosseguiu dando uma importância e valorização ao ensino superior em detrimento dos outros níveis. O ensino técnico continuou sendo desvalorizado e a estrutura do primário e secundário prosseguiam sendo seletivas. “As decisões foram excessivamente centralizadas, dificultando a articulação e continuidade entre os níveis de ensino.”
Depois do golpe de Estado, em 1937, um aspecto que se destacou no governo de Vargas foi o clima de guerra e militarização permeando a população. Vargas utilizou-se do discurso de guerra para poder mani-pular e controlar as ações do povo. Essa militarização também envolveu a educação do país, cuja juventude foi mobilizada por meio do projeto de Organização Nacional da Juventude, chefiado pelo Minis-tério da Justiça. Em certo sentido, as ideias organizadas pelo ministro Francisco Campos estavam pautadas no fascismo e no nazismo e em organização similar, que acontecia em Portugal. Seria uma organização paramilitar, que arregimentaria a juventude a favor da nação (BOMENY, 1999, p. 147).
Esse projeto alcançou espaço nas escolas utilizando-se, principalmente, das disciplinas de Educação Física e Educação Moral e Cívica. Era o jovem aluno/soldado, defensor da nação, preparado fisicamente e moralmente para reconhecer o seu país com patriotismo e devoção. Em 1940, foi instituída pelo Decreto-Lei n. 2.072 a Juventude Brasileira.
7 Os primeiros Grupos escolares já haviam sido instalados no final do século XIX, como é o caso do Primeiro Grupo Escolar de Campinas, de 1897, que, em 1917, foi denominado Grupo Escolar Francisco Glicério e, atualmente, chama-se Escola Estadual Francisco Glicério.
Historia_da_Educacao.indd 54 29/08/2013 16:01:37
Capítulo 3
História da Educação
55
Assim, a forte militarização que surgiu em 1938 foi, gradativamente, deixada de lado.
Em 1938, havia um projeto do ministro Francisco Campos para organizar a Juventude Brasileira. O projeto de Organização Nacional da Juventude tinha o objetivo de unir os jovens brasileiros em uma organização para-militar muito semelhante à que existia em países fascistas. No entanto, o ministro Eurico Dutra contrariou a tentativa paramilitar e questionou os ideais, classificando-os como estranhos à ideologia brasileira. Em março de 1940, durante o ministério de Gustavo Capanema, foi instituída a Juven-tude Brasileira, obscurecendo o caráter de milícia, tentando tornar-se um movimento cívico de culto aos símbolos nacionais. Com a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a organização esvaziou-se e, em 1945, deixou de existir. Para saber mais sobre a Juventude Brasileira, leia o capítulo 4 da obra de Schwartzman (2000).
SCHWARTZMAN, S. Tempos de Capanema. São Paulo: Paz e Terra, 2000.
Figura 1 Desfile da Juventude por ocasião da visita de Capanema a Curitiba, 14 de outubro de 1943.
FGV
– CD
POC
– Ar
quivo
Gus
tavo
Cap
anem
a
Historia_da_Educacao.indd 55 29/08/2013 16:01:38
História da Educação
FAEL
56
Figura 2 Desfile da Juventude Brasileira durante o Estado Novo, foto de Peter Langue.
FGV
– CD
POC
– Ar
quivo
Gus
tavo
Cap
anem
a
Romanelli (2010, p. 157) destaca que, em 1937, as “lutas ideológicas em torno dos problemas educacionais entraram em uma espécie de hibernação”, pois apesar de intelectuais ainda lutarem no campo das ideias para uma melhoria no ensino, estavam fadados a uma luta individual, já que esta não poderia se concretizar em um movimento social. A Constituição de 1934, que afirmava que a educação era um dever do Estado, foi substituída pela Constituição de 1937, que não outorgava obrigação ao ele, o que, segundo a autora, foi uma conquista das mentalidades conservadoras e dos moldes do regime do Estado Novo.
Em 1942, outras mudanças ocorreram a partir do ministério de Gustavo Capanema, foram as chamadas Reformas de Gustavo Capanema. Ele realizou reformas em diferentes níveis da educação. Veja a seguir a lista de algumas destas leis orgânicas do ensino e acontecimentos relacionados à educação.
● Decreto-Lei n. 4.048, de 22 de janeiro de 1942: criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – Senai.
● Decreto-Lei n. 4.073, de 30 de janeiro de 1942: regulamentação do Ensino Industrial.
● Decreto-Lei n. 6.141, de 28 de dezembro de 1943: regulamentação do Ensino Comercial.
● Os cursos técnicos tinham duração de três ou quatro anos.
Historia_da_Educacao.indd 56 29/08/2013 16:01:38
Capítulo 3
História da Educação
57
● Eram cursos técnicos do 2º ciclo do ensino secundário: administração, comércio, propaganda, contabilidade, estatística e secretariado.
● Decreto-Lei n. 4.244, de 9 de abril de 1942: regulamentação do ensino secundário. O 1º ciclo do ensino secundário passou a se chamar ginasial e o 2º ciclo de colegial. Este último ficou reestruturado como Clássico e Científico.
● Em 1943, a CLT (Consolidação das Leis de Trabalho) exigiu a implantação de creches em empresas para os filhos de funcionários.
● Fundação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), em 1943.
● O ano de 1944 marcou a criação da Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, que divulgava as orientações do Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (Inep).
● Decreto-Lei n. 8.529/46: regulamentação do ensino primário. Voltado para crianças de 7 a 12 anos, o ensino era dividido em elementar (4 anos) e complementar (mais um ano). Os adultos e adolescentes que não tiveram oportunidade para estudar po-diam cursar o ensino primário supletivo, em dois anos.
Sobre o ministério de Gustavo Capanema Bomeny (1999) afirma que foi o:
ministério dos modernistas, dos Pioneiros da Escola Nova, de músicos e poetas. Mas foi também o ministério que perseguiu comunistas, que fechou a Universidade do Distrito Federal (UDF), de vida ativa e curta, expressão dos setores liberais da intelectualidade do Rio de Janeiro (1935-1939). Foi, ainda, o ministério que apoiou a política nacionalizante de repressão às escolas dos núcleos estrangeiros existentes no Brasil. O mi-nistério Capanema nos desafia ao refinamento da análise e a escapar das associações mais apressadas entre políticas e com-portamentos e entre os limites das ações dos atores diante da imponderabilidade dos processos (BOMENY, 1999, p. 137).
Dentro desta análise podemos destacar que o ministério de Gustavo Capanema foi marcado pela ideologia do Estado Novo ou, então, que ele mesmo ajudou a marcar esta ideologia. As reformas propostas pelo ministério de Capanema estavam, basicamente, focadas nos níveis
Historia_da_Educacao.indd 57 29/08/2013 16:01:38
História da Educação
FAEL
58
secundário e superior. O ensino primário, mais uma vez, acabou por ser esquecido. Porém, no que se propõem as reformas, podem ser consideradas bem-sucedidas.
A visão pautada para o ensino secundário era de formar um “novo homem”. Ora, um Estado Novo, pautado no nacionalismo e paternalismo precisava de um novo cidadão e de novos profissionais para atender a esta sociedade emergente. Cidadão culto ou trabalhador técnico? Ensino clássico ou prático? Estas dúvidas opostas (ou complementares) permearam o pensamento de estruturação do novo ensino secundário. Segundo Bomeny (1999, p. 138):
confrontavam-se nesse momento posições distintas a respeito do teor que se deveria imprimir à formação dos jovens cidadãos. Educação humanista versus educação técnica; ensino generali-zante e clássico versus ensino profissionalizante são pares de opo-sição (falsa oposição?) que até hoje permanecem como desafios à reforma do ensino secundário. O Estado Novo resolveria o problema com uma solução engenhosa. Ao lado da reforma do ensino secundário, onde acabou prevalecendo a matriz clássica humanista, montou-se todo um sistema de ensino profissional, de ensino industrial que deu origem ao que conhecemos hoje como “Sistema S”, ou seja, os Senai, Senac, Sesi etc. Coroando todo o empreendimento, o ministério reestruturaria o ensino superior, criando e dando corpo ao projeto universitário.
Uma nova identidade estava sendo forjada. Para isso, um senti-mento de nacionalidade ou de brasilidade estava sendo embutido nas mentes e nas ações dos trabalhadores. A ideologia estado-novista era transmitida por meio da cultura, das ações sociais e, agora, por meio da educação. Podemos afirmar que:
politização da educação, holismo pedagógico ou educação inte-gral são termos que traduzem o ethos estado-novista. A concep-ção de democracia que os atores políticos e ideólogos do Estado Novo defendiam se articulava precisamente na crítica ao indi-vidualismo desagregador, conflitivo, efêmero e excessivamente pragmático. Democracia se refere à totalidade, à comunhão de uma ideia, à integração de cidadãos em um estado benfeitor e condutor das mentalidades (BOMENY, 1999, p. 164).
Neste sentido, o sistema educacional brasileiro servia de um meio de propagação do plano de controle nacionalista de Getúlio Vargas. Democracia era a união da nação brasileira e um dos meios de pregação deste ethos era via educação.
Historia_da_Educacao.indd 58 29/08/2013 16:01:38
Capítulo 3
História da Educação
59
Para alcançar o intuito de unificar o país em um só sentimento, o Ministério da Educação acabava esbarrando em dois obstáculos:
[...] a sobrevivência de uma prática regionalista e a presença de núcleos estrangeiros nas zonas de colonização. À primeira dificuldade o Estado deveria responder com um projeto de pa-dronização do ensino e de centralização de atividades escolares pela defesa da unidade de programas, de material didático etc. [...] A segunda dificuldade exigiria intervenção mais enérgica: tratava-se de “homogeneizar” a população, afastando, assim, o risco de impedimento do grande projeto de identidade na-cional. A esta última intervenção convencionou-se chamar a questão da nacionalização do ensino, ou na terminologia da época, “abrasileiramento” do ensino (BOMENY, 1999, p. 151-152, grifos do autor).
Estas duas questões foram combatidas durante o governo do Estado Novo. Escolas de imigrantes foram fechadas, a obrigatoriedade do uso da língua portuguesa foi reforçada e a unificação do sentimento de brasilidade foi imposta. No entanto, Vargas não ficaria muito tempo mais no governo, pois um período de democratização estaria por vir, como veremos adiante.
Educação e o período de democratizaçãoDurante os últimos anos do período ditatorial do governo de
Getúlio Vargas houve manifestações favoráveis à democratização do país. Em 1943, o Manifesto dos Mineiros foi assinado por políticos e profissionais liberais.
Em 1944, a oposição começou a organizar o partido que mais tarde seria conhecido como União Democrática Nacional (UND). No mesmo ano, o Brasil já estava diretamente envolvido com a Segunda Guerra Mundial. Apesar de ser simpatizante das ideias fascistas e nazistas, Vargas aliou-se aos Estados Unidos e enviou a Força Expedicionária Brasileira para combater os fascistas e nazistas na Itália.
Um ato adicional foi assinado por ele, em 1945, convocando eleições diretas. Alguns partidos organizaram-se, como o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), União Democrática Brasileira (UDN), Partido Comunis- ta Brasileiro (PCB) e Partido Social Democrático (PSD). A continuidade de Vargas no poder parecia anunciada. O PTB divulgou o “Queremismo”,
Historia_da_Educacao.indd 59 29/08/2013 16:01:38
História da Educação
FAEL
60
movimento daqueles que queriam que Vargas continuasse no poder. No entanto, os partidos contrários articularam-se para que os rumos da política mudassem e, em 29 de outubro do mesmo ano, o presidente Getúlio Vargas acabou sendo deposto pelos militares.
Entraram na disputa o Brigadeiro Eduardo Gomes (UDN) e o General Eurico Gaspar Dutra (PTB e PSD), este último saiu eleito como o novo presidente do Brasil. A partir de seu governo o país passou a apresentar uma política econômica voltada para o capital financeiro internacional, consequência do mundo Pós-Guerra, baseado em uma nova ordem mundial.
No âmbito educacional, em 1946, a nova Constituição determinou a obrigatoriedade do ensino primário e fixou que a educação como “direito de todos”. Outros ocorridos durante o mandato de Dutra, em 1946, são destacados a seguir.
● Ministro da Educação Raul Leitão da Cunha baixou os Decretos-lei.
● Decreto-Lei n. 8.529, de 2 de janeiro, regulamentava o ensino primário.
● Decreto-Lei n. 8.530, de 2 de janeiro, regulamentava o ensino normal.
● Decretos-Lei n. 8.621 e n. 8.622, de 10 de janeiro, criavam o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial).
● Decreto-Lei n. 9.613, de 20 de agosto, regulamentava o ensino agrícola.
● Fundação da Universidade Federal de Pernambuco e a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Vargas voltou ao poder nas eleições de 1950, com o apoio dos sindicalistas. O país voltou à prática do populismo e muitos acreditavam que ele desejava manter-se no poder mediante algum ato de intervenção. O país passou por um período de desenvolvimento, no qual foi criada a Petrobrás, Eletrobrás e BNDE (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico). Apesar do desenvolvimento, Getúlio sofreu oposição de empresários nacionais e de empresários ligados ao capital estrangeiro.
Historia_da_Educacao.indd 60 29/08/2013 16:01:38
Capítulo 3
História da Educação
61
Também em 1950, a Lei n. 1.076 iria a mudar barreira existente no ensino técnico, até então marginalizado. Até 1950 quem cursava o ensino técnico era obrigado a fazer também o ensino secundário, para podercursar o ensino superior. Com a nova lei, os ensinos técnicos e secundários tornaram-se equivalentes. A Lei n. 1.821/53 permitia a entrada, no ensino superior, dos alunos que concluíssem o 2º ciclo, desde que fizessem exames das disciplinas que não haviam cursado no ensino secundário (ginasial e colegial). Porém, a equivalência só aconteceu em 1961, com a Lei n. 4.024, que incluiu o ensino industrial, comercial e agrícola no ensino médio.
Depois do episódio da Rua do Tonelero, Vargas suicidou-se, em 24 de agosto de 1954, e seu vice, Café Filho, assumiu o poder. Dezesseis meses depois desse acontecimento , o país passou a ser governado por Juscelino Kubitschek.
Seu governo foi marcado por metas de desenvolvimento. A capital do Brasil foi transferida para a recém-projetada Brasília. Hidrelétricas foram construídas e indústrias de bens duráveis foram instaladas (como automobilísticas e de eletrodomésticos); no entanto, a dívida externa, o desemprego e a inflação aumentaram.
Em 1961, subiu ao poder o presidente Jânio da Silva Quadros. Seu governo foi marcado pelo populismo caricato. Aproximou-se de países socialistas, como Cuba, URSS e China. Depois de seis meses, em 25 de agosto de 1961, Quadros acabou renunciando e deixando a cadeira presidencial para seu vice João Belchior Marques Goulart.
Todo esse cenário político influenciou as decisões em relação à educação brasileira, pois já no ano de 1948 o ministro Clemente Mariani havia enviado um projeto de lei educacional, projeto esse que foi regulamentado somente em1961. Após muitas discussões entre católicos e adeptos da Escola Nova, entre simpatizantes do centralismo e os contrários a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a lei foi aprovada, mas na prática, segundo Francisco Filho (2004), não trouxe grandes mudanças em relação à Lei Orgânica de Capanema (FRANCISCO FILHO, 2004, p. 104). A educação, a partir da Lei n. 4.024/61, ficou assim organizada:
O atentado da Rua do Tonelero foi a tentativa de assassinato do político e jornalista Carlos Lacerda. Ele era um dos maiores opositores
de Getúlio Vargas e o acusou de ter armado a emboscada em frente à sua residência.
Saiba mais
Historia_da_Educacao.indd 61 29/08/2013 16:01:38
História da Educação
FAEL
62
Quadro 2
NOMENCLATURA DURAÇÃO ABRANGÊNCIA
Pré-primário.Crianças com até seis anos de idade.
Englobava escolas maternais e jardins de infância.
Ensino primário. Mínimo quatro anos.Crianças com sete anos ou mais.
Ensino secundário.
Dois ciclos.
Ginasial: mínimo de quatro anos.
Colegial: mínimo três anos.
Abrangia toda a antiga estrutura do ensino médio, incluindo cursos técnicos e normal.
Ensino superior.Considerava aulas, pesquisa e extensão.
Graduação e pós-graduação.
Fonte: Adaptado da Lei n. 4.024/61 e Francisco Filho (2004, p. 104-105).
Romanelli (2010) lembra que a promulgação da lei gerou diversos sentimentos. Houve aqueles que a encararam como a “carta libertadora da educação nacional”, até aqueles que a viram de forma pessimista. Ainda ressalta que nenhuma lei educacional pode, por si só, ser cocretizada com sucesso se não faz parte de um projeto geral de reformas existentes. Ou seja, depende da infraestrutura e da adequação da lei às reais necessidades a ela destinadas. “Enfim, a eficácia de uma lei depende dos homens que a aplicam.” (ROMANELLI, 2010, p. 185). Certo é que, segundo a autora, a lei de 1961 praticamente anulou a obrigatoriedade do ensino primário, com seu Art. 30. Neste sentido, podemos perceber que, em determinados aspectos, a lei acabou retrocedendo e anulando direitos já conquistados.
Observe o Art. 30 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1961:
Art. 30.
Parágrafo único – Constituem casos de isenção (da obrigatoriedade), além de outros previstos em lei: [...]c) comprovado estado de pobreza do pai ou responsável;
d) insuficiência de escolas;
Historia_da_Educacao.indd 62 29/08/2013 16:01:38
Capítulo 3
História da Educação
63
e) matrículas encerradas;
f) doença ou anomalia grave da criança.
(BRASIL, 1961)
Em uma sociedade em que a maioria da população mal tinha condições para sobreviver, a educação seria algo fora do alcance de muitos. Segundo Romanelli (2010, p. 188), a “sua única vantagem talvez esteja no fato de não ter prescrito um currículo fixo e rígido para todo território nacional, em cada nível e ramo”. Na verdade, essa abertura se deu praticamente na teoria da própria lei, pois, na prática, os governos estaduais não modificaram, em geral, seus programas, por falta de professores, por exemplo.
O mundo passava pelo período da Guerra Fria e, apesar de ser latifundiário, Jango (como ficou conhecido João Goulart), era simpatizante das ideias socialistas. Foi responsável pelo estabelecimento do regime parlamentar no Brasil; porém, em 1963 o país volta a ser republicano. Seu governo realizou algumas reformas de base nas áreas agrária, política e educacional (como a LDB, de 1961), em meio as oposições.
A situação política do país acabou se tornando insustentável e, em 31 de março de 1964, Jango foi deposto pelos militares. A história do Brasil entrou em uma nova fase, como veremos no próximo tópico deste capítulo.
A educação e o Regime MilitarA instabilidade do governo de João Goulart, juntamente com a insatis-
fação em relação às suas promessas de diminuir a inflação do país e realizar uma reforma de base na economia, agricultura e educação, atrelados ao medo da classe média de que o socialismo fosse instituído no país, gera-ram movimentos sociais e manifestações contrários ao governo de Jango.
Em 31 de março de 1964, os militares tomaram o poder e passaram a comandar o Brasil. O general Humberto de Alencar Castelo Branco assumiu a Presidência da República. Apesar de seu discurso de posse estar voltado para a promessa de defender a democracia do país, seu
Historia_da_Educacao.indd 63 29/08/2013 16:01:38
História da Educação
FAEL
64
governo foi marcado por medidas autoritárias. Dissolveu os partidos políticos e acabou com as eleições diretas para presidente. Como a antiga constituição já não atendia aos anseios do Regime Militar, em 1967 foi promulgada uma nova Constituição, moldada aos interesses militares.
Arthur da Costa e Silva assumiu o governo em 1967 sob protestos e insatisfação popular. Os estudantes da União Nacional de Estudantes (UNE) organizaram manifestações e passeatas demonstrando o seu repúdio ao controle autoritário instalado no país. Em Minas Gerais e São Paulo, operários entraram em greve. Um clima de guerrilha urbana assombrava o governo, que tomou uma medida radical para tentar conter os insatisfeitos. Em 1968, foi instituído o Ato Institucional Número 5 (AI-5), o mais duro e repressivo de todos os atos.
Com o auge da repressão, reforçou-se a ideia de nacionalismo. Não muito diferente do que já havia acontecido durante o Estado Novo, esse governo militar ditatorial apropriou-se de algumas disciplinas esco-lares para tentar controlar a população e condicioná-la aos seus interes-ses. A disciplina de Educação Física, velha conhecida do Ministério de Guerra, foi novamente utilizada para treinar a população à obediência, mas, também, para afastá-la da vida política. A lógica era que um jovem que estivesse envolvido com treinos e atividades desportivas não teria tempo para engajar-se em movimentos de esquerda.
A disciplina de Educação Moral e Cívica também foi voltada para a dominação das massas. Cunha e Góes nos trazem uma listagem dos objetivos dessa disciplina, pautada nas “tradições nacionais”. Vejamos:
a) a defesa do princípio democrático, por meio da preser-vação do espírito religioso, da dignidade da pessoa humana e do amor à liberdade com responsabilidade, sob a inspiração de Deus;
b) a preservação, o fortalecimento e a projeção dos valores espirituais e éticos da nacionalidade;
c) o fortalecimento da unidade nacional e do sentimento de solidariedade humana;
d) o culto à Pátria, aos seus símbolos, tradições, instituições, e aos grandes vultos de sua história;
e) o aprimoramento do caráter, com apoio na moral, na dedicação à família e à comunidade;
f) a compreensão dos direitos e deveres dos brasileiros e o conhe- cimento da organização sociopolítico-econômica do País;
Historia_da_Educacao.indd 64 29/08/2013 16:01:38
Capítulo 3
História da Educação
65
g) o preparo do cidadão para o exercício das atividades cívicas, com fundamento na moral, no patriotismo e na ação construtiva visando ao bem comum;
h) o culto da obediência à lei, da fidelidade ao trabalho e da integração da comunidade (CUNHA; GÓES, 2002, p. 73).
A disciplina seria ministrada do ensino primário ao ensino superior e pós-graduação (no ensino superior teria o nome de Estudos de Problemas Brasileiros). A disciplina era uma mistura do catolicismo conservador, do movimento reacionário e dos ideários nacionalistas.
De 31 de agosto a 30 de outubro de 1969, devido à doença de Costa e Silva, o país passou a ser comandado por uma Junta Militar formada por ministros: Aurélio de Lira Tavares (Exército), Márcio de Sousa e Melo (Aeronáutica) e Augusto Rademaker (Marinha).
Considerado o presidente mais repressivo do período do Regime, Emílio Garrastazu Médici foi eleito pela Junta Militar em 1969. Em seu mandato, que se estendeu até 1974, áreas da cultura e imprensa foram duramente censuradas. Jornais, revistas, teatros, compositores, filmes foram recriminados e proibidos de chegarem ao seu público. Foi um período bastante turbulento para o país, gerando investigações, até os dias atuais, sobre os fatos ocorridos, tanto pelos repressores quanto pelos reprimidos. Igualmente é fato que a oposição ao Regime Militar também fez uso da força e de atos terroristas.
Em contrapartida, aconteceu o chamado “milagre econômico”, no qual a economia do país cresceu e recursos foram investidos na infraestrutura. Grandes obras foram realizadas (como a Rodovia Transamazô-nica e a Ponte Rio-Niterói) e milhares de empregos foram gerados, No entanto, este crescimento teve um preço alto a ser pago. A dívida externa do país cresceu muito e os prejuízos arrastaram-se por vários anos.
Francisco Filho (2004, p. 116) nos lembra que entre 1960 e 1970 o número de analfabetos do país praticamente estacionou. E continua, ao afirmar que:
a educação por essa época passou a ter caráter compensatório, teria de contribuir decisivamente para romper com o atraso da nossa sociedade. Foram assinados acordos internacionais para orientação do esquema a ser seguido.
Não há como afirmar que a educação privilegiava as camadas marginalizadas da sociedade, assim como, anteriormente, isso também
Historia_da_Educacao.indd 65 29/08/2013 16:01:38
História da Educação
FAEL
66
não aconteceu. Os intuitos eram outros. Nesta época de crescimento econômico e abertura de novas vagas de emprego, o país necessitava de um grande número de mão de obra especializada. Foi neste contexto que o tecnicismo ganhou força.
O regime político implantado em 1964 veio reforçar o desejo de aceleramento da economia do país, aumentando o capitalismo e consolidando uma sociedade urbano-industrial que já vinha sendo delimitada pelo “milagre econômico”. Neste sentido, Ferreira Junior e Bittar (2008) afirmam que o projeto de educação que aconteceu durante o Regime Militar estava intrinsecamente ligado à economia brasileira. Os autores ainda ressaltam que:
na esteira desse processo, o regime militar implantou as reformas educacionais de 1968, a Lei n. 5.540, que reformou a universidade, e a de 1971, a Lei n. 5.692, que estabeleceu o sistema nacional de 1º e 2º graus, pois ambas tinham como escopo estabelecer uma ligação orgânica entre aumento da eficiência produtiva do trabalho e a modernização autoritária das relações capitalistas de produção. Ou seja, depois damaterialização dessas diretivas no âmbito educacional. A sucessão dos fatos surgiu a seguinte linha do tempo: Plano de Ação Econômica do Governo (1964-1966), Plano Decenal deDesenvolvimento Econômico e Social (1967-1976), Programa Estratégico de Desenvolvimento (1968-1970), ReformaUniversitária (1968) e Lei de Diretrizes e Bases para o Ensinode 1º e 2º graus (1971). Ou seja: no contexto da estratégiade crescimento acelerado e autoritário do capitalismo brasileiro, adotada duramente no Regime militar, a educaçãoseguia a lógica dos interesses econômicos (FERREIRAJUNIOR; BITTAR, 2008, p. 340-341).
Seguindo esta lógica, o governo trocava os políticos pelos técnicos nos ministérios. Havia o anseio de transformar o país em um estado de “grande potência” e, para tanto, a administração começou a ser comparada com a de uma grande empresa, em que os técnicos especialistas assumiriam os papéis antes destinados aos políticos. Na educação, seguindo estes mesmos princípios, os tecnocratas (como ficaram conhecidos esses técnicos) aplicavam a “teoria do capital humano”. De acordo com esta teoria, a educação era um bem de consumo, ou seja, seus valores estavam ligados ao caráter econômico. Esta relação direta entre educação e economia acontecia “na medida em que atribuía a primeira a capacidade de incrementar a produtividade
Historia_da_Educacao.indd 66 29/08/2013 16:01:38
Capítulo 3
História da Educação
67
da segunda. Portanto, a educação deveria ser condicionada pela lógica que determinava o crescimento econômico da sociedade capitalista” (FERREIRA JUNIOR; BITTAR, 2008, p. 344).
Com um discurso unilateral, a educação era posta como a atividade capaz de “maximizar a produtividade do PIB, independente da distribuição da renda nacional”, no entanto, podemos dizer que esta lógica de ação pretendida pelos tecnocratas do governo fracassou. Tal fracasso ocorreu, pois, apesar de tentar criar um grupo de mão de obra integrado ao sistema produtivo, não conseguiu modificar a realidade brasileira de analfabetismo (FERREIRA JUNIOR; BITTAR, 2008, p. 350-351). Ensinava-se pouco e mal. À população em geral eram oferecidas noções básicas de uma formação técnica. Em contrapartida, os índices de analfabetismo não baixavam satisfatoriamente e a grande massa do povo continuava sem acesso ao universo de um conhecimento mais profundo e libertador. Durante este período foram promulgadas duas importantes leis educacionais: a Reforma Universitária de 1968 e a Lei n. 5.692/71, que fixou a Lei De Diretrizes e Bases para o Ensino de 1º e 2º Grau.
O contexto do Regime Militar fez aflorar vários movimentos de contestação entre professores e alunos do ensino superior; por outro lado, em alguns casos, as Universidades também colaboraram com o governo, cedendo seus professores para a formação do quadro dosMinistérios, por exemplo. A União Nacional dos Estudantes (UNE) ganhava força ao lutar por seus direitos e reivindicar mais vagas e verbas; assim, os confrontos com o exército tornaram-se cada vez mais frequentes. De acordo com Sousa (2008, p. 119):
Na tentativa de minimizar os descontentamentos, o governo militar firmou vários acordos com os norte-americanos, por intermédio da Agency for Internacional Development dos Estados Unidos (Usaid). Devido a esses acordos, foi constitu-ída a Equipe de Assessoria de Planejamento do Ensino Supe-rior (EAPES), que em 1968, produziria um documento sobre as reais carências da área educacional brasileira, apontando soluções. O encaminhamento dado ao Ensino Superior era
A Teoria do Capital Humano surgiu em me-ados dos anos 50 do século XX, nos Estados
Unidos. Seu autor, Theodore W. Schultz, dizia que o trabalho humano realizado por meio da qualificação adquirida pela educação ampliava
a produção econômica.
Saiba mais
Historia_da_Educacao.indd 67 29/08/2013 16:01:39
História da Educação
FAEL
68
essencialmente privatizante e elitista, tendo em vista que a partir dos anos 1960 o Estado passou a ter a iniciativa privada como parceira na oferta de ensino superior. Então, a política de educação superior começou a adquirir contornos em que a diferenciação entre o público e o privado tendeu a ser frágil e diluída, em virtude da confluência de alguns fatores.
Como visto, o ensino superior estava abrindo mais ainda as suas portas para as instituições particulares. As vagas das universidades particulares deveriam atender aos alunos oriundos das classes menos favorecidas que não conseguiriam entrar nas universidades públicas. Além disso, as preocupações estavam voltadas para o mercado de trabalho. Como lembra Germano (1994), a reforma do ensino universitário visava:
1) Controle político e ideológico da educação escolar, em to-dos os níveis [...] 2) Estabelecimento de uma relação direta e imediata, segundo a “Teoria do Capital Humano”, entre educação e produção capitalista e que aparece de forma mais evidente na reforma do ensino do 2° grau, através da pre-tensa profissionalização. 3) Incentivo à pesquisa vinculada a acumulação de capital. 4) Descomprometimento com o financiamento da educação pública e gratuita, negando, na prática, o discurso de valorização da educação escolar e con-correndo decisivamente para a corrupção e privatização do ensino, transformada em negócio rendoso e subsidiado pelo Estado. Dessa forma, o Regime delega e incentiva a partici-pação do setor privado na expansão do sistema educacional e desqualifica a escola pública de 1º e 2º graus, sobretudo (GERMANO, 1994, p. 105).
A Lei n. 5.540, de novembro de 1968, e o Decreto-lei n. 464, de 11 de janeiro de 1969, fizeram fixar em lei as seguintes mudanças:
● o ensino superior deveria funcionar preferencialmente em Universidades;
● estimulou a privatização;
● criou a departamentalização e deu fim às cátedras;
● criou a matrícula por disciplina;
● adotou o vestibular unificado e classificatório;
● regulamentou os cursos de pós-graduação.
Historia_da_Educacao.indd 68 29/08/2013 16:01:39
Capítulo 3
História da Educação
69
Segundo as afirmações de Germano (2000), verifica-se que:com efeito, a reforma assimilou certas demandas e reivin-dicações oriundas do movimento estudantil e de parcela do professorado. Ao mesmo tempo incorporou, embora de for-ma desfigurada, experiências tidas como renovadoras, como a desenvolvida na UnB. [...] A reforma acarretou, finalmente, a efetiva implantação da pós-graduação, tornando possível a pesquisa universitária, ainda que permeada de notórios limites.
[...] apesar dos golpes desferidos na educação pelo Regi-me Militar, a reforma universitária contém, sem dúvida, elementos de renovação, sobretudo na pós-graduação. Ao mesmo tempo que o estado exercia o mais severo controle político-ideológico da educação, possibilitava, contradito-riamente, o exercício da crítica social e política, não somente ao regime político vigente no país, mas também do próprio capitalismo no âmbito universitário. Estamos nos referin-do, evidentemente, à pós-graduação em Ciências Huma-nas. Por sua vez, isso revela que o aspecto restaurador [da ordem] não elimina a possibilidade de ocorrerem mudan-ças efetivas, que se tornam matrizes de novas modificações, segundo Gramsci (1977, p. 767 apud GERMANO, 2000, p. 145-148).
Com esta citação podemos concluir que o período de Regime Militar no Brasil não excluiu por completo as vozes de luta e resistência. A busca pela melhoria do ensino superior foi um exemplo disso.
Outra lei importante oriunda deste período foi, como vimos, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação n. 5.692, de 11 de agosto de 1971. Ela veio fixar as normas para a educação de 1º e 2º grau. Em seu Art. 1º podemos observar o seu objetivo geral:
Art. 1º. O ensino de 1º e 2º graus tem por objetivo geral proporcionar ao educando a formação necessária ao desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de autorrealização, qualificação para o trabalho e preparo para o exercício consciente da cidadania (BRASIL, 1971, [s. p.]).
A lei aumentava a obrigatoriedade escolar para oito anos (assim os alunos deveriam permanecer na escola dos 7 aos 14 anos) e o ano letivo deveria ter 180 dias. O ensino de 1º grau teria uma duração de oito anos e uma carga horária de 720 horas anuais. Esse nível era obrigatório, destinado às crianças e pré-adolescentes. Já o ensino de 2º grau podia durar 3 ou 4 anos. Os cursos de três anos teriam uma
Historia_da_Educacao.indd 69 29/08/2013 16:01:39
História da Educação
FAEL
70
carga horária de 2.200 horas e os de quatro seriam de 2.900 horas, destinados à formação do adolescente. Seguindo a lógica educacional do período do Regime Militar, os cursos eram destinados à inicialização ou ao ensino profissional/técnico.
Os Artigos 4 e 5 fixavam as normatizações em relação aos conteú-dos curriculares e às disciplinas, determinando o seguinte:
Art. 4º Os currículos de 1º e 2º graus terão um núcleo comum, obrigatório em âmbito nacional, e uma parte diversificada para atender, conforme as necessidades e possibilidades concretas, às peculiaridades locais, aos planos dos estabelecimentos e às diferenças individuais dos alunos.
Art. 5º As disciplinas, áreas de estudo e atividades que resul-tem das matérias fixadas na forma do artigo anterior, com as disposições necessárias ao seu relacionamento, ordenação e sequência, constituirão para cada grau o currículo pleno do estabelecimento.
§1º Observadas as normas de cada sistema de ensino, o currí-culo pleno terá uma parte de educação geral e outra de forma-ção especial, sendo organizado de modo que:
a) no ensino de primeiro grau, a parte de educação geral seja exclusiva nas séries iniciais e predominantes nas finais;
b) no ensino de segundo grau, predomine a parte de forma-ção especial.
§ 2º A parte de formação especial de currículo:
a) terá o objetivo de sondagem de aptidões e iniciação para o trabalho, no ensino de 1º grau, e de habilita-ção profissional, no ensino de 2º grau;
b) será fixada, quando se destina a iniciação e habilitação profissional, em consonância com as necessidades do mercado de trabalho local ou regional, à vista de levantamentos periodicamente renovados (BRASIL,
1971, [s. p.]).
Além das disciplinas comuns e da parte diversificada, a lei trouxe a inclusão das seguintes disciplinas na grade curricular: Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação Artística e Programas de Saúde. Sobre as disciplinas comuns, podemos observar o quadro elaborado por Romanelli (2010), que traz um resumo acerca dos conteúdos destinados ao 1º e 2º grau.
Historia_da_Educacao.indd 70 29/08/2013 16:01:39
Capítulo 3
História da Educação
71
Quadro 3
NÚCLEO
1º GRAU 2º GRAUDISCIPLINASAtividades Áreas de estudo
1ªs, 2ªs, 3ªs, 4ªs e 5ªs
6ªs, 7ªs e 8ªs. 1ªs, 2ªs, 3ªs e 4ªs.
1. Comunicação e Expressão
2. Estudos Sociais
3. Ciências
1. Comunicação e Expressão
1. Integração Social
2. Iniciação às Ciências
1. Língua Portuguesa
2. Estudos Sociais
1. Matemática
2. Ciências
1. Língua Portuguesa
2. Literatura Brasileira
1. História
2. Geografia
3. Organização Social e Política Brasileira
1. Matemática
2. Ciências Físicas e Biológicas
Fonte: Romanelli (2010, p. 253).
As disciplinas de História, Organização Social e Política Brasileira, Educação Moral e Cívica e a Educação Física colaboraram para a formação do cidadão almejado pelo governo ditatorial.
O ensino de 1º grau, mas, principalmente, o de 2º grau, procurava formar técnicos, ou seja, profissionais de áreas específicas que formariam uma grande massa de trabalhadores não graduados. A esses trabalhadores restaria uma remuneração baixa, o que encorpava o número de trabalhadores, mas não onerava os empregadores, seguindo a lógica do capitalismo e da Teoria do Capital Humano.
Em 1974, o General Ernesto Geisel tornou-se o novo presidente em pleno fim do “milagre econômico”. Os empréstimos estrangeiros diminuíram devido à recessão mundial e à crise do petróleo.
Vendo-se neste cenário, Geisel anunciou que começaria uma lenta e gradual abertura política no país (o que gerou insatisfação por parte dos militares linha dura). Uma das medidas que indicou
Historia_da_Educacao.indd 71 29/08/2013 16:01:39
História da Educação
FAEL
72
a abertura foi o fim do AI-58 e a restauração dos habeas corpus. A democracia estava chegando aos poucos.
Entre 1979 e 1985 o Brasil teve o seu último presidente no Regime Militar, o general João Baptista Figueiredo. Ele continuou o processo de abertura política realizando a Lei da Anistia; também o pluripartidarismo foi reestabelecido. Enquanto a recessão e a inflação aumentavam, novos partidos e sindicatos começaram a ganhar poder na política nacional. O movimento “Diretas Já”, lançado em 1984, encontrou milhares de adeptos e exigiu as eleições diretas para presidente. Em 1985, por meio de uma eleição indireta, o Colégio Eleitoral elegeu Tancredo Neves como presidente do país; porém, ele veio a falecer antes da posse e seu vice, José Sarney, assumiu o governo como o primeiro presidente do período democrático após o Regime Militar.
Da teoria para a práticaDurante o período de Getúlio Vargas e do Regime Militar, a disciplina
de Educação Física era vista como uma preparação civil-militar. Os jovens estudantes eram considerados soldados que deveriam ser treinados e condicionados para defender a sua nação. A disciplina de Educação Moral e Cívica também era um meio de interferência do Estado dentro das escolas. Vultos nacionais, símbolos e hinos eram ensinados nas escolas com o objetivo de implantar o sentimento nacionalista, obrigando uma dedicação patriota de todos os alunos/cidadãos.
Quando você estudou, como eram ministradas as aulas de Educação Física? Atualmente, como esta disciplina é vista pelo governo, professores e alunos? Faça uma breve pesquisa em sites,
8 O AI-5 (Ato Institucional n. 5) foi instituído em 13 de dezembro de 1968, durante o gover-no do presidente Costa e Silva, e vigorou até dezembro de 1978. Ele ampliava o poder do presidente e contrariava várias garantias da constituição brasileira. Suas determinações fizeram com que a censura e a repressão exercida durante o período do Regime Militar aumentassem. O seu 5º Art. suspendia direitos políticos e o Art. 10 suspendia a garantia de habeas corpus no caso de crimes políticos. A imprensa, o teatro, o cinema e a música foram rigorosamente censurados e punidos.
Historia_da_Educacao.indd 72 29/08/2013 16:01:39
Capítulo 3
História da Educação
73
livros ou revistas especializadas no tema, para verificar se aconteceram mudanças ou não na forma de pensar e executar esta disciplina. Se desejar, pode realizar uma visita a uma escola, para conversar com professores e alunos da área.
SínteseO século XX representou profundas transformações na sociedade
brasileira. As mudanças no cotidiano das pessoas influenciaram, inclu-sive, a educação. A sociedade, anteriormente rural, passou a viver na cidade e a trabalhar na área urbana. O ensino básico começou a ser ofertado gradativamente para a população e o analfabetismo começou a ser “combatido” como um mal que assolava a nação.
Durante este período, o país passou por dois momentos ditatoriais, nos quais o nacionalismo foi embutido na mentalidade da sociedade por meio de propagandas, ações governamentais e até das disciplinas escolares (como Educação Física e Educação Moral e Cívica).
As leis educacionais, durante o Regime Militar, estavam voltadas para a Teoria do Capital Humano e seguiam a lógica de ensinar para aumentar a produtividade do país. Assim, por meio de pouca formação técnica, profissionais foram “preparados” para ser mão de obra especia-lizada, sem, necessariamente, passar pelo ensino superior.
Historia_da_Educacao.indd 73 29/08/2013 16:01:39
75
Os anseios e as expectativas, com o fim do Regime Militar, eram muito grandes. O país estaria liberto da censura, opressão e repressão para entrar em um período de redemocratização, segundo o qual o povo poderia participar dos rumos da política nacional. No entanto, os desafios a serem enfrentados eram igualmente grandes: inflação e dívida externa estavam entre eles.
Como o antigo modelo político já estava ultrapassado, a herança de sua legislação, consequentemente, também necessitava ser trocada. Neste momento, os intelectuais e políticos de direita e esquerda reuniram-se para discutir a nova Constituição Brasileira, que seria aprovada em 1988. Não encaramos a promulgação da Constituição como rupturas com as amarras do passado, no entanto, foram grandes os avanços proporcionados por ela, inclusive no tocante à educação.
A década de 1990 viria permeada por uma educação pautada na lógica do mercado. Ou seja, concordamos com a afirmação dos autores que aqui serão apresentados de que a Lei de Diretrizes e Bases, aprovada em 1996, estava pautada na lógica mercadológica, na qual a educação serve para aumentar a produtividade da economia.
Breve contexto histórico e educacionalComo já afirmamos no capítulo anterior, a partir de 1979
começou, gradativamente, a abertura política do país. Intelectuais, artistas e políticos engajaram-se para que a democracia voltasse a ter seu devido lugar no Brasil. Em 1984, grandes comícios foram
Educação no Brasil: o período de redemocratização 4
Historia_da_Educacao.indd 75 29/08/2013 16:01:39
História da Educação
FAEL
76
realizados em favor das “Diretas Já” (movimento que lutava pelas eleições diretas e pelo voto secreto). Em 1985, foi eleito, de maneira indireta, o presidente Tancredo Neves, que faleceu antes de assumir o governo.
Seu vice, José Sarney, assumiu a presidência da república em meio às turbulências da transição democrática, juntamente com a alta inflação e as constantes greves. Nesta época, vários partidos foram reorganizados e legalizados, inclusive os de cunho comunista. Uma nova Constituição para o país foi promulgada, em 1988, e, apesar de trazer algumas novidades, manteve-se, em parte, conservadora em certos “direitos antigos e obsoletos” (FRANCISCO FILHO, 2004, p.133).
Em 1989, foi realizada a tão esperada eleição direta para presidente. Nesta eleição, o ex-prefeito de Maceió e ex-governador de Alagoas, Fernando Collor de Melo venceu o segundo turno com 34 milhões de votos. Com seu tipo carismático, de postura jovem e atlética (assim vendida pelos meios de comunicação) tentou convencer a população de que seria um “caçador de marajás”, ou seja, que iria conseguir acabar com a corrupção no país. Collor era adepto do neoliberalismo, bloqueou aplicações financeiras e depósitos bancários por dezoito meses, investiu na importação e congelou salários e preços. Suas medidas prejudicaram milhares de brasileiros, gerando um clima de insatisfação.
No tocante à educação, em 1991, Collor lançou os Centros Integrados de Apoio à criança, os CIACs, baseado no projeto dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), que já existiam no Rio de Janeiro. Esses centros faziam parte do “Projeto Minha Gente”. Tinham oobjetivo de atender a crianças e adolescentes nos aspectos que envolvessem educação em tempo integral, saúde, lazer, cursos, etc. Foram construídas cerca de 5 mil escolas neste formato. Houve várias críticas ao investimento, que chegou a dois milhões de dólares por unidade. Muitos defendiam que seria mais viável investir este dinheiro nas escolas já existentes. Com o fim do governo Collor, o ministro Murílio Hingel continuou o projeto com algumas mudanças. A partir de 1992, sua nomenclatura foi mudada para Centros de Atenção Integral à Criança (CAICs).
Historia_da_Educacao.indd 76 29/08/2013 16:01:39
Capítulo 4
História da Educação
77
Figura 1 Centro de Atenção a Criança e ao Adolescente (CAIC), que foi implantado em 1992.
UFRR
J
O fato de não ter a maioria parlamentar e não estabelecer um bom diálogo com o Congresso Nacional, fez com o governo de Fernando Collor começasse a se desestabilizar. Escândalos políticos envolvendo seu irmão, Pedro Collor, e o político Paulo Cesar Faria foram investigados por uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito). Era o início do fim do governo Collor.
Para completar a situação, milhares de pessoas descontentes com seu governo (em sua maioria estudantes) foram para as ruas, em um movimento chamado “caras pintadas”, e exigiram o impeachment do presidente. Em 1992, o presidente Collor renunciou ao cargo e seu vice, Itamar Franco, assumiu a presidência.
Itamar Franco realizou, em seu governo, uma significativa mudança para a economia brasileira. Em 1994, juntamente com o Ministro da Fazenda Fernando Henrique Cardoso, realizou o Plano Real, o que gerou, além de outras medidas, a adoção da atual moeda brasileira, o Real. Na época a moeda em vigência era o Cruzeiro Real. Respeitado por sua intelectualidade e por sua participação no Plano Real, Fernando
Historia_da_Educacao.indd 77 29/08/2013 16:01:39
História da Educação
FAEL
78
Henrique Cardoso ganhou as eleições para a presidência da república em 1994. Foi em seu governo que mudanças mais profundas aconteceram na educação brasileira. Um exemplo é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) n. 9.394, de 1996, como veremos melhor a seguir.
Frigotto e Ciavatta analisam o governo de Fernando Henrique Cardoso e definem seu projeto neoconservador da seguinte maneira:
o conjunto de pressupostos assumidos e partilhados pelo projeto econômico-social do Governo Cardoso é extraído da cartilha neoliberal do Consenso de Washington e pode ser resu-mido nos seguintes: primeiramente que acabaram as polarida-des, a luta de classes, as ideologias, as utopias igualitárias e as políticas de Estado nelas baseadas. A segunda ideia-matriz é a de que estamos em um novo tempo – da globalização, da mo-dernidade competitiva, de reestruturação produtiva, de reen-genharia –, do qual estamos defasados e ao qual devemos ajus-tar-nos. Este ajustamento deve dar-se não mediante políticas protecionistas, intervencionistas ou estatistas, mas de acordo com as leis do mercado globalizado, mundial ( FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 105-106).
O governo passou a ter um caráter privado. O país abandonou o Regime civil-militar e passou a ser regido pelo Regime da ideologia do mercado (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2002). Este pensamento mercadológico refletiu-se na educação em uma perspectiva pedagógica “individualista, dualista e fragmentária, coerente com o ideário da desregulamentação, flexibilização e privatização e com o desmonte dos direitos sociais, ordenados por uma perspectiva de compromisso social coletivo” (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 108).
Não casualmente, os Parâmetros Curriculares Nacionais tratam de habilidades e competências como mecanismos de avaliação.
Apesar de certas turbulências, neoliberalismo e outros fatores, Fernando Henrique conseguiu (aparentemente) manter um governo tranquilo ao ponto de conseguir a reeleição e governar o país por mais quatro anos.
De forma geral, a década de 1990 foi um período em que o Brasil foi “pressionado” a superar as altas taxas de analfabetismo, já que, naquele momento, ainda era um dos países com a maior taxa de cidadãos analfabetos. Foi nesta década, também, que o país estreitou
Historia_da_Educacao.indd 78 29/08/2013 16:01:39
Capítulo 4
História da Educação
79
seus laços com os interesses do Banco Mundial, retomando a teoria do capital humano e dando atenção às relações de custo/benefício. Ou seja, a educação deveria diminuir a pobreza e, em contrapartida, aumentaria a produtividade, preparando trabalhadores (FRIGOTTO; CIAVATTA 2003, p. 100).
Constituição de 1988 e a educaçãoA Constituição de 1988 trouxe, em sua redação, um avanço
em relação às anteriores, pois, em seu texto, ela declarou o direito à educação. No entanto, a permanência na escola e as condições para tal ainda foram pontos esquecidos. Reportando-se ao momento histórico, lembramos que a sociedade dos anos 80 do século XX estava em busca de uma democratização. A Constituição refletia este desejo de romper com as amarras do militarismo e promover a plena cidadania, porém, os laços com o passado político conservador eram muito fortes.
Com a tentativa de ser a mais democrática possível, a lei apresentou seu Art. 205 afirmando que “a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988, [s. p.]). Prosseguindo o seu discurso, o Art. 206 trouxe as finalidades a que se destina a educação brasileira. Em seu texto podemos observar os intuitos legais:
I – igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II – liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber;
III – pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;
IV – gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;
V – valorização dos profissionais da educação escolar, garan-tidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingresso exclu-sivamente por concurso público de provas e títulos, aos das
Historia_da_Educacao.indd 79 29/08/2013 16:01:39
História da Educação
FAEL
80
redes públicas (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 53, de 2006);
VI – gestão democrática do ensino público, na forma da lei;
VII – garantia de padrão de qualidade;
VIII – piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal (Inclu-ído pela Emenda Constitucional n. 53, de 2006) (BRASIL, 1988, [s. p.]).
ReflitaReflita
Apesar de em seu texto lermos os termos “igualdade”, “liberdade”, “valorização”, “qualidade”, sabemos que a educação brasileira ainda tem um longo caminho para chegar ao ideário da Constituição. Na prática, os índices ainda revelam um grande número de pessoas fora da escola, sem condições de acesso ou permanência. A legalização já aconteceu em 1988, esperamos agora por sua realização plena, ainda que pareça utopia.
ReflitaReflita
Como lembra Oliveira (1999), os principais mecanismos que reforçam o direito à educação estão presentes no Art. 208. Conforme o texto original de 1988, o:
I – ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria;
II – progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio.
III – atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino;
IV – atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade;
V – acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um;
Historia_da_Educacao.indd 80 29/08/2013 16:01:39
Capítulo 4
História da Educação
81
VI – oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;
VII – atendimento ao educando, no ensino fundamental, através de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde (BRASIL, 1988, [s. p.]).
Podemos destacar alguns comentários em relação a estes incisos do Art. 208:
● 1º O ensino médio se tornou gratuito com a Emenda Constitucional n. 14, de 1996, porém, ainda não era considerado obrigatório. Somente em 2009 uma emenda constitucional aprovou a obrigatoriedade gradativa do Ensino Médio, no entanto, os governos têm até 2016 para fazer as adequações;
● 2º Ainda não temos um ensino completamente especializa-do para receber portadores de deficiências na rede regular de ensino. Em determinados casos esses alunos acabam sendo excluídos, ao invés de incluídos, já que nem todas as institui-ções de ensino possuem profissionais qualificados e ambiente planejado e adequado para receber esses alunos;
● 3º Conflitos entre municípios e estados trazem prejuízos para os alunos no que se refere ao direito de transporte, alimentação e assistência à saúde. A precariedade desses serviços, em certas cidades brasileiras, estampam diariamente os noticiários.
Na mesma perspectiva de melhora da qualidade de ensino, o Art. 214 trazia a meta de estabelecer “o plano nacional de educação, de duração plurianual, visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do Poder Público” (BRASIL, 1988, [s. p.]). Esse plano estaria responsável pela:
I – erradicação do analfabetismo;
II – universalização do atendimento escolar;
III – melhoria da qualidade do ensino;
IV – formação para o trabalho;
Historia_da_Educacao.indd 81 29/08/2013 16:01:39
História da Educação
FAEL
82
V – promoção humanística, científica e tecnológica do País (BRASIL, 1988, [s. p.]).
Compreendemos que essas finalidades do Plano Nacional de Educação ainda vêm sendo aos poucos conquistadas. Apesar das taxas terem diminuído, o analfabetismo não foi “erradicado” e nem todos têm um ensino de qualidade, entre outras questões.
Os demais artigos da Constituição estão listados a seguir e são comentados para que possamos conhecer de forma geral todos os pontos relacionados à educação. Vejamos.Quadro 1
ARTIGO TEXTO LEGALCOMENTÁRIO/COMPLEMEN-
TO
207
“As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”
As universidades podem contratar seus próprios professores dentro do processo da lei. O ensino superior é algo novo dentro das Constituições.
209
“O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:
I – cumprimento das normas gerais da educação nacional;
II – autorização e avaliação de qualidade pelo Poder Público.”
Obrigação das instituições privadas de se submeterem ao Poder Público.
210
“Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais.”
O ensino religioso aparece como disciplina facultativa. Afirma-se a língua portuguesa como a língua oficial ensinada nas escolas, salvo em comunidades indígenas que têm liberdade para utilizar a língua materna e seus próprios métodos de aprendizagem.
Historia_da_Educacao.indd 82 29/08/2013 16:01:39
Capítulo 4
História da Educação
83
ARTIGO TEXTO LEGALCOMENTÁRIO/COMPLEMEN-
TO
211
“A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino.”
Com a redação atualizada em 2006 pela Emenda Constitucional n. 14, os municípios ficam responsá-veis pela educação infantil e ensino fundamental e os estados e Distrito Federal atuarão no ensino fundamental e médio.
212
“A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Es-tados, o Distrito Federal e os Mu-nicípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino.”
Fixou que o investimento da União seria de 18% e dos Estados, Municípios e Distri-to Federal seriam de 25% da receita de impostos.
213
“Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas comunitárias, confessionais ou fi-lantrópicas, definidas em lei, que:
I – comprovem finalidade não lu-crativa e apliquem seus exceden-tes financeiros em educação;
II – assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou con-fessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades.”
Os recursos não são de exclusividade das escolas públicas.
Fonte: BRASIL (1988, [s. p.]).
A Constituição foi um avanço para a sociedade brasileira em muitos aspectos. Na área da educação ela significou a chamada de atenção e a responsabilização do Estado em questões antes deixadas à margem.
Historia_da_Educacao.indd 83 29/08/2013 16:01:39
História da Educação
FAEL
84
A próxima Lei específica sobre a educação seria promulgada oito anos mais tarde, em 1996. É o assunto que abordaremos na próxima seção.
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Com a promulgação da Constituição de 1988, a Lei de Diretrizes e
Bases da Educação de 1961 foi considerada em desuso e, por isso, uma nova lei precisava atender aos anseios do momento histórico presente. Em 1992, o senador Darcy Ribeiro apresentou um projeto de reformulação da educação brasileira, destinado a fixar diretrizes e bases para a educação nacional. No entanto, esse projeto seria sancionado pelo presidente somente oito anos depois, em 20 de dezembro de 1996, sob o n. 9.394.
Estudiosos como Otranto, Frigotto e Ciavatta criticam a forma como a nova LDB foi promulgada, já que veio a atender mais à lógica mercadológica do governo do que à ideologia dos educadores. Ainda em 1996, pouco antes da lei ser aprovada, Otranto (1996) fez a seguinte crítica:
assistimos, então, perplexos, a um confronto inusitado, entre um projeto que é fruto de seis anos de amplos debates, que se não é o ideal de todos, pelo menos traduz a reivindicações de muitos, com um outro de autor único, que só recentemente se submeteu a pouquíssimos debates, apenas sob grande pressão de outros parlamentares e dos segmentos organizados da so-ciedade civil (OTRANTO, 1996, [s. p.]).
A autora referia-se à comparação entre o substitutivo Cid Sabóia e o substitutivo Darcy Ribeiro. A primeira sugestão da nova Lei Cid Sabóia já tramitava no Congresso há mais tempo e havia sido submetida à discussão e opinião de diversos intelectuais da educação, enquanto a outra proposta – Darcy Ribeiro – retirava do Estado grande parte de sua responsabilidade. Mesmo não representando as reais necessidades da educação no Brasil, a Lei Darcy Ribeiro foi promulgada no final de 1996.
Neste mesmo sentido, acredita-se que até 1994 havia uma discussão democrática de construção da Lei, no entanto, a partir de 1995 a mudança ocorrida no Congresso e no Senado, bem como a “coalizão conservadora que elegeu Fernando Henrique Cardoso deram novos rumos para os projetos de lei, em disputa no legislativo nacional, que estavam debatendo a nova LDB” (ABREU, 2011, p. 56).
Historia_da_Educacao.indd 84 29/08/2013 16:01:39
Capítulo 4
História da Educação
85
A nova LDB trouxe inovações em relação às leis anteriores, uma delas foi a inclusão da educação infantil (creches e pré-escolas) na educação básica. Ela está baseada no princípio de direito universal de educação para todos – apesar de sabermos que, na prática, isso ainda é algo aguardado.
Após sua redação inicial, sua estrutura ficou com 92 artigos orga-nizados da seguinte forma: Título I – Da educação; Título II – Dos Princípios e Fins da Educação Nacional; Título III – Do Direito à Edu-cação e do Dever de Educar; Título IV – Da Organização da Educação Nacional; Título V – Dos Níveis e das Modalidades de Educação e Ensino; Capítulo I – Da Composição dos Níveis Escolares; Capítulo II – Da Educação Básica; Seção I – Das Disposições Gerais; Seção II – Da Educação Infantil; Seção III – Do Ensino Fundamental; Seção IV – Do Ensino Médio; Seção V – Da Educação de Jovens e Adultos; Capítulo III – Da Educação Profissional; Capítulo IV – Da Educação Superior; Capítulo V – Da Educação Especial; Título VI – Dos Profissionais da Educação; Título VII – Dos Recursos Financeiros; Título VIII – Das Disposições Gerais; e Título IX – Das Disposições Transitórias.
Outra novidade da lei foi a divisão do ensino em dois níveis: educação bási-ca e ensino superior. A educação básica é dividida em três etapas: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O ensino fundamental é de obrigatoriedade e tem a sua oferta garantida pela lei.
Santos nos fornece uma listagem das principais novidades da Lei n. 9.394/96, bem como os seus principais artigos:
• gestão democrática do ensino público e progressiva auto-nomia pedagógica e administrativa das unidades escolares – Art. 3º e 15;
• ensino fundamental e gratuito – Art. 4º;
• carga horária mínima de oitocentas horas distribuídas em duzentos dias na educação básica – Art. 24;
• previsão de um núcleo comum para o currículo do ensino fundamental e do médio e uma parte diversifi-
Historia_da_Educacao.indd 85 29/08/2013 16:01:39
História da Educação
FAEL
86
cada em função das especificidades regionais e locais – Art. 26;
• formação de docentes para atuar na educação básica de nível superior – Art. 62;
• formação de especialistas da educação em curso superior de pedagogia ou pós-graduação – Art. 64;
• a União deve gastar, no mínimo, 18%, e os estados e muni-cípios, no mínimo, 25% de seus respectivos orçamentos na manutenção e desenvolvimento do ensino público – Art. 69;
• o dinheiro público pode financiar escolas comunitárias, confessionais e filantrópicas – Art. 77;
• previsão da criação do Plano Nacional da Educação – Art.
87 (SANTOS, 2011, p. 80).
Segundo a nova LDB, a educação infantil – primeira etapa da edu-cação básica – está destinada às crianças de 0 a 5 anos, sendo atendidas integralmente sob a responsabilidade do município. As orientações da lei referentes à educação infantil estão expressas em seus Arts. 29, 30 e 31, como podemos ler a seguir:
Art. 29 A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
Art. 30 A educação infantil será oferecida em: I – creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;
II – pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. Art. 31 Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino
fundamental (BRASIL, 1996, [s. p.]).
A educação infantil acaba sendo um espaço de ensinar e educar, atendendo, em parte, às necessidades da realidade dos trabalhadores brasileiros. Muitas famílias que trabalham precisam de um local para deixar suas crianças em segurança. Até certo ponto, as creches e pré--escolas também realizam essa função de cuidar da criança.
Historia_da_Educacao.indd 86 29/08/2013 16:01:40
Capítulo 4
História da Educação
87
O ensino fundamental, de caráter obrigatório e direito de todo cidadão, ficou organizado de maneira que o aluno tenha direito a 800 horas de aula, distribuídas, no mínimo, em 200 dias letivos; a carga horária mínima é de quatro horas diárias, sendo ampliadas para período integral, conforme possibilidade do estabelecimento; ensino ministrado na língua portuguesa, assegurando, contudo, às comunidades indígenas o aprendizado de sua língua materna; que o ensino seja presencial, ocorrendo a distância somente em situações emergenciais ou em casos de complementação do estudo. Estas orientações legais sobre o ensino fundamental estão descritas a seguir, nos Arts. 32 e 34.
Art. 32º O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na escola pública, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II – a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fun-damenta a sociedade;
III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, ten-do em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se as-senta a vida social.
§ 1º É facultado aos sistemas de ensino desdobrar o ensino fundamental em ciclos.
§ 2º Os estabelecimentos que utilizam progressão regular por série podem adotar no ensino fundamental o regime de progressão continuada, sem prejuízo da avaliação do processo de ensino-aprendizagem, observadas as normas do respectivo sistema de ensino.
§ 3º O ensino fundamental regular será ministrado em língua portuguesa, assegurada às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem.
§ 4º O ensino fundamental será presencial, sendo o ensino a distância utilizado como complementação da aprendizagem ou em situações emergenciais.
Historia_da_Educacao.indd 87 29/08/2013 16:01:40
História da Educação
FAEL
88
Art. 34º A jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola.
§ 1º São ressalvados os casos do ensino noturno e das formas alternativas de organização autorizadas nesta Lei.
§ 2º O ensino fundamental será ministrado progressivamente em tempo integral, a critério dos sistemas de ensino (BRASIL, 1996, [s. p.]).
Em 2006, com a Lei n. 11.274, o ensino fundamental passou de oito para nove anos de obrigatoriedade. As crianças passaram a entrar no ensino fundamental com um ano de antecedência, aos seis anos de idade. Os municípios tiveram até o ano de 2010 para iniciar esta transição, assegurando às crianças o direito a um ano a mais de apren-dizagem. Na antiga disposição, o aluno estudaria da 1ª à 8ª série. Com a nova organização, entrou em vigor outra nomenclatura: os alunos estudam do 1º ao 9º ano.
Tudo isso demandou uma corrida dos municípios e estados para organizarem toda a proposta de ensino para os nove anos, ampliando o atendimento, contratando profissionais e arrumando espaço físico para atender à nova demanda. Este processo, apesar de iniciado, ainda está em andamento.
O ensino médio era uma garantia de formação rápida, visto que nem todos os estudantes vislumbravam a oportunidade de continuar seus estudos e entrar no ensino superior. Como já vimos, o contexto histórico no qual surgiu a nova LDB era pautado em uma lógica mercadológica, em que as habilidades e competências eram voltadas para a formação geral básica destinada à preparação do trabalho. As orientações da Lei foram:
Art. 35. O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de três anos, terá como finalidades:
I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosse-guimento de estudos;
II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do edu-cando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
Historia_da_Educacao.indd 88 29/08/2013 16:01:40
Capítulo 4
História da Educação
89
III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico;
IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina BRASIL, 1996.
Já o Art. 36 trouxe as definições do que seria estudado no Ensino Médio, vejamos:
Art. 36. O currículo do ensino médio observará o disposto na Seção I deste Capítulo e as seguintes diretrizes:
I – destacará a educação tecnológica básica, a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes; o processo his-tórico de transformação da sociedade e da cultura; a língua portuguesa como instrumento de comunicação, acesso ao co-nhecimento e exercício da cidadania;
II – adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimu-lem a iniciativa dos estudantes;
III – será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina obrigatória, escolhida pela comunidade escolar, e uma segunda, em caráter optativo, dentro das disponibilida-des da instituição.
§1º Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação serão organizados de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre:
I – domínio dos princípios científicos e tecnológicos que pre-sidem a produção moderna;
II – conhecimento das formas contemporâneas de linguagem;
III – domínio dos conhecimentos de Filosofia e de Sociologia necessários ao exercício da cidadania (BRASIL, 1996, [s. p.]).
Assim, um ensino que procurasse ofertar conhecimento geral e específico aumentou a demanda, o que fez com que as turmas do período noturno tivessem suas vagas ampliadas (SANTOS, 2011, p. 90).
Apesar de parecer ter caráter conclusivo, pois “consolida” o que foi apreendido no ensino fundam ental, o ensino médio apareceu como uma “preparação básica para o trabalho e a cidadania” e base para o prosseguimento e aperfeiçoamento de estudos posteriores (BRASIL, 1996[s. p.]).
Historia_da_Educacao.indd 89 29/08/2013 16:01:40
História da Educação
FAEL
90
Sugestão de Leitura
Para saber mais e aprofundar as discussões e análises sobre a educação nas constituições brasileiras e LDB, leia:
ABREU, D. C. Políticas públicas e legislação educacional. Curitiba: Fael, 2011.
Sugestão de Leitura
Quanto ao ensino superior, as orientações são de que as institui-ções podem ser privadas ou públicas (federais, estaduais ou municipais), desde que todas estejam registradas e credenciadas pelo Ministério da Educação. O Art. 43 da nova LDB n. 9.394/96 é o que normatiza sobre o Ensino Superior, em seu texto ele define como sendo sua finalidade:
I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espíri-to científico e do pensamento reflexivo;
II – formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção, em setores profissionais, e para a partici-pação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;
III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação cientí-fica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, cien-tíficos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;
V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos em uma estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;
VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
Historia_da_Educacao.indd 90 29/08/2013 16:01:40
Capítulo 4
História da Educação
91
Sugestão de Leitura
Para saber mais e aprofundar as discussões e análises sobre a educação nas constituições brasileiras e LDB, leia:
ABREU, D. C. Políticas públicas e legislação educacional. Curitiba: Fael, 2011.
Sugestão de Leitura
Quanto ao ensino superior, as orientações são de que as institui-ções podem ser privadas ou públicas (federais, estaduais ou municipais), desde que todas estejam registradas e credenciadas pelo Ministério da Educação. O Art. 43 da nova LDB n. 9.394/96 é o que normatiza sobre o Ensino Superior, em seu texto ele define como sendo sua finalidade:
I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espíri-to científico e do pensamento reflexivo;
II – formar diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, aptos para a inserção, em setores profissionais, e para a partici-pação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;
III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação cientí-fica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, cien-tíficos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;
V – suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos em uma estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;
VI – estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
VII – promover a extensão, aberta à participação da popula-ção, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica geradas na institui-ção (BRASIL, 1996, [s. p.]).
No interior destes níveis da educação existem algumas modalidades de ensino previstas pela nova LDB para atender a situações diferenciadas, são elas:
● educação de jovens e adultos; ● educação profissional; ● educação especial; ● educação a distância (EaD).
Sugestão de Leitura
Depois de publicada, a Lei n. 9.394/96 sofreu algumas modificações em seu texto original, que podem ser verificadas no link <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>.
BRASIL. Lei n. 9.934, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília, 20 dez. 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9394.htm>. Acesso em: 11 nov. 2012.
Sugestão de Leitura
Da teoria para a práticaOs Centros Integrados de Apoio à Criança – os CIACs - foram
implantados a partir de 1991 pelo governo Collor. Eram baseados no projeto dos Centros Integrados de Educação Pública (CIEPs), que já existiam no Rio de Janeiro. Como já vimos no decorrer desse capítulo, a construção dos CIACs (que seriam chamados posteriormente de CAICs) foi duramente criticada por especialistas que alegaram que o investimento altíssimo poderia ter sido aplicado em instituições já existentes.
Historia_da_Educacao.indd 91 29/08/2013 16:01:40
História da Educação
FAEL
92
Pesquise se em sua região foi construído algum CAIC e verifique qual a sua situação atual. Ainda está em funcionamento? Que atividades são desenvolvidas no espaço construído? Que instituição mantém a parte física e humana que ali existem? Caso não exista algum em sua região, ou próximo a ela, pesquise nos sites dos Conselhos Estaduais e descubra onde ainda existe, ou existiam. Entre em contato com eles para realizar sua pesquisa.
SínteseNeste capítulo, estudamos um panorama da educação brasileira
depois do fim do Regime Militar no país. Vimos um breve histórico dos primeiros governos do período da abertura política e algumas de suas realizações. Como mais significativo encontramos a Constituição de 1988 e a Lei de Bases e Diretrizes da Educação de 1996.
A Constituição de 1988 foi um marco na história do país, pois estabeleceu as leis para a nova sociedade democrática. Em seus arts. 205 a 213, a Constituição trata da educação como (em parte) responsabilidade do Estado, aprova a obrigatoriedade gradativa do ensino médio (que está em andamento) e inclui a educação infantil e o ensino superior.
Sobre a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, estudiosos como Otranto (1996), Frigotto e Ciavatta (2003) afirmam que a Lei foi aprovada sem a discussão necessária dos intelectuais da educação. Na verdade, ela veio a atender mais aos interesses mercadológicos do que às reais necessidades educacionais.
Podemos encerrar lembrando que taxas de analfabetismo, evasão escolar e falta de recursos destinados à educação são alguns dos problemas que os governos brasileiros ainda precisam dar conta de resolver.
Historia_da_Educacao.indd 92 29/08/2013 16:01:40
93
As teorias de ensino que perduraram, mudaram ou se adapta-ram ao longo dos anos, nas escolas do Brasil, são o resultado de um processo histórico, político e social. As vertentes pedagógicas receberam a influência de pensadores de diversos países, como Portugal, Estados Unidos, França, etc.
Este capítulo propõe-se a explanar três concepções educacionais. São elas: a escola tradicional (religiosa e laica); a Escola Nova; e a Escola Tecnicista. Sabemos que elas não são as únicas que influenciaram e estiveram presentes na história escolar do país, mas foram elencadas por representar momentos marcantes relacionados a contextos históricos. Para maior compreensão, o capítulo está dividido em quatro tópicos (separando a educação tradicional religiosa da tradicional laica), bus-cando oferecer mais pontos de análise.
Ao longo da leitura, traçaremos as diferenças marcantes existentes entre as concepções, mas ressaltamos que uma não foi a substituta da outra. Existiram momentos em que elas coexistiram ou até estiveram presentes em conjunto nas práticas escolares.
A concepção educacional tradicional religiosaComo já vimos no capítulo 2, a educação brasileira foi, inicialmente,
dirigida por religiosos – os jesuítas, em sua maioria expressiva. Isso fez com que a primeira concepção pedagógica nas escolas do Brasil estivesse pautada em uma perspectiva tradicional religiosa. Baseados na concepção ideológica da Companhia de Jesus, os jesuítas tinham a missão de preparar bons “soldados cristãos” para combater as heresias
Concepções de educação no Brasil
5
Historia_da_Educacao.indd 93 29/08/2013 16:01:40
História da Educação
FAEL
94
e o paganismo (existentes na Europa e, também, em terras brasileiras), representados pelas crenças e costumes dos povos nativos.
A pedagogia católica instalou-se no país com o interesse de moldar os princípios da metrópole para a colônia. Inicialmente, a adaptação do Plano de Nóbrega era chamado de “pedagogia brasílica”, o que, posteriormente, foi substituído pela implantação do Ratio Studiorum (1549-1759).
A primeira fase dos jesuítas no Brasil envolveu a implantação das ideias de Nóbrega. Com espírito empreendedor, ele pretendia criar uma extensa e numerosa rede de colégios nos povoamentos litorâneos que fossem da Bahia (Norte) a São Vicente (Sul do país). Para atrair os indígenas e catequizá-los, seu trabalho começou com as crianças. Era uma maneira de alcançar o “gentio”. Segundo Saviani (2005):
o realismo de Nóbrega o levou a estar atento à necessidade de prover condições materiais dos colégios jesuítas envolvendo: a posse de terra para a construção de colégios; a sua manuten-ção, o que implicava prover os viveres que envolviam a criação de gado e o cultivo de alimentos como mandioca, o milho, o arroz, a produção de açúcar, de panos; e, para realizar regu-larmente essas tarefas, a aquisição e manutenção de escravos. Sua filosofia educacional era a concepção que em nossa siste-matização classificamos como tradicional religiosa na versão católica da contrarreforma (SAVIANI, 2005, p. 4).
Com Anchieta, a filosofia educacional continuou pautada na doutrina da contrarreforma. Ele aprendeu a língua tupi para se aproximar dos indígenas e, assim, ter maior eficácia no seu projeto de educação/evangelização. Enquanto os protestantes pregavam a tradução de textos bíblicos e a leitura de textos originais do grego e do hebraico, os católicos defendiam a transmissão oral de sua fé. Conhecendo a língua tupi, essa transmissão ocorreria de maneira direta e eficaz.
Como exemplo da aproximação que Anchieta procurou fazer para transmitir seus conhecimentos podemos citar a criação de uma peça de teatro mesclando a doutrina católica e as crenças dos povos nativos. Nesse teatro o:
[...] correlato imaginário é um mundo maniqueísta cindido entre as forças em perpétua luta: Tupã-Deus, com sua cons-telação familiar de anjos e santos, e Anhangá-Demônio, com sua coorte de espíritos malévolos que se fazem presentes nas cerimônias tupis (BOSI, 1992, p. 67-68).
Historia_da_Educacao.indd 94 29/08/2013 16:01:40
Capítulo 5
História da Educação
95
O maniqueísmo ou dualismo do teatro estava presente como tentativa de tornar a palavra visível. Esse era o recurso utilizado pela contrarreforma, de tornar visível o invisível, ou seja, de utilizar imagens e símbolos para tipificar o sagrado.
No entanto, segundo Saviani (2005), esta “pedagogia brasílica” sofreu oposição inclusive dentro da Ordem Jesuíta e acabou sendo substituída pelo método de ensino do Ratio Studiorum, que era um conjunto de regras formais. Atualmente, chamamos esse método de Pedagogia Tradicional. Uma definição desta concepção pedagógica pode ser conferida nas palavras de Saviani, ao afirmar que:
essa concepção pedagógica se caracteriza por uma visão essencialista de homem, isto é, o homem é concebido como constituído por uma essência universal e imutável. À educação cumpre moldar a existência particular e real de cada educando à essência universal e ideal que define enquanto ser humano. Para a vertente religiosa, tendo sido o homem feito por Deus à sua imagem e semelhança, a essência humana é considerada, pois, criação divina. Em consequência, o homem deve se empenhar em atingir a perfeição humana natural para fazer merecer a dádiva da vida sobrenatural (SAVIANI, 2005, p. 6).
Assim, para alcançar a plenitude humana, a Pedagogia Tradicional religiosa pretendia moldar o ser humano dentro do “plano divino”. Esse era um ensino que exigia a obediência e o não questionamento.
Com a expulsão dos jesuítas do Brasil e com a implantação das reformas pombalinas, os ensinos religiosos e laicos começaram a coexistir em nosso país, visto que continuaram a existir outras escolas religiosas, como as franciscanas e protestantes, ao mesmo tempo em que a educação laica ganhava espaço, sobretudo com a chegada do século XX.
Concepção pedagógica tradicional leigaA partir de 1759, com as reformas pombalinas, a educação
brasileira começou a receber as ideias laicas do Iluminismo. O religioso passou a ser considerado arcaico e as ideias de modernidade e racionalidade passaram a ser valorizadas. Porém, isso não significa que a formação católica foi completamente abandonada. As duas concepções tradicionais de ensino (laica e religiosa) coexistiram durante os anos de 1759 a 1932.
Historia_da_Educacao.indd 95 29/08/2013 16:01:40
História da Educação
FAEL
96
Como já vimos anteriormente, a retirada dos jesuítas do sistema de ensino no Brasil não significou um avanço pedagógico. Não restaram muitos professores preparados para lecionar e dar conta da demanda de alunos que a colônia possuía.
Enquanto a Pedagogia Tradicional religiosa defendia a ideia da essência humana ser a criação divina, a pedagogia tradicional leiga defendia a relação da essência humana com a própria natureza humana. Esta concepção pedagógica tipificou o pensamento moderno, a ascensão e consolidação da burguesia. Era o período do Iluminismo, o tempo das luzes e das ideias liberais. Neste cenário, a escola tinha “o seu papel na difusão das luzes, tal como formulado pelo racionalismo iluminista que advogava a implantação da escola pública, universal, gratuita, leiga e obrigatória” (SAVIANI, 2005, p. 33).
Apesar de não existir a exigência religiosa, as escolas laicas se assemelham em muitos aspectos educacionais com as escolas de caráter católico. O ensino ainda era rígido e rigoroso. Os alunos eram obedientes e não questionavam os seus professores. Segundo Manacorda (1989, p. 260), com “exceção da ‘voz baixinha’, nada mudou. Igualmente mecânico é o ensino da aritmética e, naturalmente, toda a orientação para o comportamento das crianças”.
Conforme Francisco Filho (2004), a modernidade do século XIX trouxe, junto com as ideias liberais, os preceitos do Positivismo e Anarquismo. No Brasil, essas ideias também chegaram até as escolas. O Anarquismo chegou ao Brasil trazido por imigrantes italianos e influenciou a formação de sindicatos. Suas visões de uma autogestão (baseadas em Bakunin9) teve a aderência da elite intelectual e da “nobreza” latifundiária. .
A teoria do Positivismo marcou a história do Brasil, no sentido de ser um símbolo de rompimento com o Império. A racionalidade explicada pela ciência transformava o ser humano em um ser racional, deixando para trás o ser humano firmado na fé ou na metafísica.
Eventos importantes, como a Proclamação da República e a Abolição da Escravatura, tiveram representantes positivistas. A própria
9 Mikhail Aleksandrovitch Bakunin (1814-1876) foi um dos nomes mais expressivos do anarquismo. Era um teórico russo e revolucionário que pregava o anarquismo e influenciou movimentos de trabalhadores do século XIX.
Historia_da_Educacao.indd 96 29/08/2013 16:01:40
Capítulo 5
História da Educação
97
Bandeira do Brasil é símbolo do lema positivista, por meio da frase “Ordem e Progresso”. Não diferente de outras camadas da sociedade, a escola brasileira também foi visitada pelos princípios do Positivismo.
Na disciplina de História, por exemplo, a influência do Positivismo ficou marcada por uma visão de que somente os documentos oficiais (pro-duzidos pelo governo) poderiam ser considerados verdadeiros. Assim, a história era ensinada somente pelo ponto de vista da classe dominante, valorizando a memorização de datas e fatos relacionados a personagens considerados importantes para a história nacional.
Segundo Francisco Filho (2004, p. 162-163), após a Primeira República, outro pensamento que influenciou a educação foi o Darwinismo. Charles Darwin elaborou a teoria da evolução das espécies, que ficou conhecida como “seleção natural”. Ela refutava o criacionismo (crença de que tudo fora criado por Deus) e defendia a evolução das espécies de seres vivos, segundo a qual os mais fortes sobreviveriam ao longo de milhares de anos, realizando uma seleção natural das espécies. Ou seja, os indivíduos com capacidade maior de se adaptar ao ambiente teriam maiores possibilidades de sobreviver e se reproduzir. Essa teoria revolucionou o ensino das ciências naturais, racionalizando e buscando provas científicas da história do ser humano, dos animais e do ambiente em que vivemos.
No quadro a seguir podemos observar pontualmente aspectos que marcam a concepção pedagógica tradicional (seja ela religiosa ou laica).
Quadro 1
CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA TRADICIONAL
Período
• De 1549 a 1930;
• Predomínio religioso: 1500 a 1759;
• Educação laica: 1759 a 1930.
Função da escola
• Evangelizar (durante período jesuítico);
• Transmitir conhecimento;
• Privilegiar camadas sociais mais favorecidas.
Historia_da_Educacao.indd 97 29/08/2013 16:01:40
História da Educação
FAEL
98
CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA TRADICIONAL
Papel do aluno
• Receber passivamente o conteúdo;
• Ser obediente e receptivo;
• Sujeito a castigos corporais.
Papel do professor
• Transmitir sistematicamente o conhecimento;
• É o centro do processo educativo;
• Autoritário.
Avaliação
• Ênfase na memorização;
• Reprodução fiel do que foi aprendido;
• Era uma forma de medir conhecimentos e classificar alunos.
Metodologia
• Aulas expositivas;
• Cópias, memorização e leituras repetitivas;
• Incentivo do individualismo e da competição.
Fazendo uma leitura desse quadro, não é difícil de imaginar que algumas das práticas da Escola Tradicional perduram no sistema de ensino até os dias de hoje. Com o advento da Revolução Industrial, novos objetos industriais, domésticos e educacionais foram criados: quadros-negros, mapas, globos, objetos de madeira, caixas educativas de cores e formas diferentes, aros, linhas, vestuário, etc. Com isso, novas maneiras de pensar a utilização e a metodologia dos materiais escolares passaram a ser consideradas. O livro, que era voltado exclusivamente para o aluno, passou a ser um manual de recomendações e orientações para o professor. Um dos manuais mais conhecidos foi o Primeiras lições das coisas, traduzido por Rui Barbosa e publicado no Brasil em 1886.
No final do século XIX e início do século XX começaram as dis-cussões sobre o acesso à escola pública e sobre os métodos rigorosos de ensino, como veremos a seguir.
A concepção pedagógica Escola NovaA organização da Escola Tradicional passou a ser questionada por
pensadores da educação no início do século XX. A escola não estava atendendo às necessidades da nova estrutura social do país – a República. Havia a preocupação de tornar o ensino mais acessível e prazeroso.
Historia_da_Educacao.indd 98 29/08/2013 16:01:40
Capítulo 5
História da Educação
99
Uma nova forma de pensar o ambiente escolar começou, inicial- mente, a ser formulada no campo das ideias e, posteriormente, levada até as salas de aula.
Criticando a Escola Tradicional, rígida e conteudista, um sistema que ficaria conhecido como “escolanovismo” ou Escola Nova surgiu.
A Escola Nova procurava acabar com a marginalização dos indivíduos. O diferente também deveria ser contemplado pela educação. Neste sentido, estudos ligados à psicologia foram intercalados com o discurso da pedagogia.
Sabendo que todos os indivíduos são diferentes, as formas de se ensinar não poderiam ser únicas e fixas, pois, se continuassem desta forma, só excluiriam pessoas da escola. Por isso, a educação adquiriu o papel de corrigir a “marginalidade na medida em que contribuir para a constituição de uma sociedade cujos membros, não importam as dife-renças de quaisquer tipos, aceitem-se mutuamente e respeitem-se na sua individualidade específica” (SAVIANI, 1992, p. 8-9).
A pedagogia da Escola Nova, ou Pedagogia Progressista, queria acabar com os modelos e cânones predefinidos pela Escola Tradicional. Com base na sociologia, biologia e psicologia, ela disponibilizava para os professores coleções bibliográficas “das quais seria possível a deri-vação para práticas diferenciadas, voltadas para contextos e clientela específicos” (VALDEMARIN; CAMPOS, 2007, [s. p.]).
Em 1932, intelectuais da educação assinaram o Manifesto dos Pioneiros da Escola Nova, no intuito de romper com a antiga Escola Tradicional. Como base de mudança o documento propunha: escola pública, obrigatoriedade, gratuidade, escola única, laicidade e coeducação. Entre os seus assinantes estavam: Fernando de Azevedo, Afrânio Peixoto, Anísio Teixeira, Lourenço Filho, Roquete Pinto, Delgado de Carvalho e Cecília Meirelles. Estes intelectuais (os pioneiros da educação), mesmo que não concordassem em todos os pontos, assinaram o Manifesto com o sonho de que a nova proposta de educação mudasse a sociedade brasileira, rompendo com o atraso econômico, social e político.
Esta nova teoria mudou os focos de importância da educação. Antes o importante era aprender, agora, era aprender a aprender. Observe a seguir as mudanças de princípios da Escola Tradicional para a Escola Nova.
Historia_da_Educacao.indd 99 29/08/2013 16:01:40
História da Educação
FAEL
100
Figura 1 Mudanças de princípios da Escola Tradicional para a Escola Nova.
Escola Tradicional(professor)
Disciplina
Esforço
Conteúdos cognitivosIntelecto
Ciência lógica
Escola Nova(aluno)
Espontaneidade
Interesse
Métodos pedagógicosSentimento
Ciência experimental
Podemos notar que uma das mudanças principais representa o foco central. A Escola Nova privilegia o aluno, o seu interesse por estudar, a sua vontade de aprender, conhecer, experimentar e vivenciar diferentes métodos e processos pedagógicos. O quadro a seguir detalha a definição dos papéis e métodos presentes no escolanovismo.
Historia_da_Educacao.indd 100 29/08/2013 16:01:40
Capítulo 5
História da Educação
101
Quadro 2
CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA ESCOLA NOVA DIRETIVA
Período 1932-1960
Função da escola
• Valorizar o aluno;
• Ser democrática;
• Retratar a vida do aluno.
Papel do aluno
• Ser ativo;
• Centro do processo educativo.
Papel do professor
• Facilitador da aprendizagem;
• Criador de situações de aprendizagem.
Avaliação
• Estímulo à autoavaliação;
• Valorização dos aspectos afetivos, socialização e conduta.
Metodologia
• Aumento da utilização de recursos didáticos;
• Método de pesquisa:
a) atividade;
b) identificação de um problema;
c) levantamento de dados;
d) organização de dados e formulação de hipóteses;
e) teste das hipóteses ou experimentação.
• Estudo dirigido;
• Projetos.
A ideia inicial era de que a escola se tornasse um ambiente agradável e social. Cada professor trabalharia com grupos pequenos de alunos. Esses alunos estariam reunidos por interesses em comum. Espontaneamente, eles buscariam o conhecimento, experimentando, pesquisando e mostrando o quanto aquilo poderia se tornar significativo para eles. No entanto, a implantação de escolas com estrutura para tal proposta tornou-se muito cara. Foram criados alguns poucos núcleos (destinados a grupos da elite).
Historia_da_Educacao.indd 101 29/08/2013 16:01:40
História da Educação
FAEL
102
Na prática, a Escola Nova substituiu a escola tradicional em apenas alguns aspectos. Segundo Saviani (1992), a absorção feita pelos educadores foi mais negativa do que positiva, pois:
[...] provocando o afrouxamento da disciplina e a despreocupação com a transmissão dos conhecimentos, acabou a absorção do escolanovismo pelos professores por rebaixar o nível de ensino destinado às camadas populares, as quais muito frequentemente têm na escola o único meio de acesso ao conhecimento elaborado. Em contrapartida, a “Escola Nova” aprimorou a qualidade de ensino destinado às elites (SAVIANI, 1992, p. 10).
Refutando o seu ideal, a Escola Nova acabou aumentando a marginalidade ao invés de eliminá-la. Além disso, achando o escolanovismo muito fraco em relação à transmissão dos conteúdos, muitas famílias, notadamente as mais abastadas, continuaram mantendo seus filhos em escolas tradicionais que preparavam melhor o aluno para conseguir uma vaga na universidade.
Concepção Pedagógica TecnicistaA partir do final da década de 50 do século XX, o escolanovismo
começou a dar sinais de desgaste e insatisfação na prática. A nova sociedade rumo à industrialização e em busca de mão de obra especializada começou a exigir um tipo de escola diferenciada.
Para melhor compreender as especificidades desta tendência, Saviani (1992) reporta-se ao universo fabril. Na fábrica, o operário é responsável por uma parcela específica da produção. Ele já não detém o conhecimento de todo o processo criativo, como acontecia com os artesãos. O operário é sabedor de uma parcela exata e precisa e, em conjunto com outros operários – especializados nas outras partes do processo –, a harmonia da produção ocorre de forma que seja eficaz e rápida. Essa é a lógica e o tempo da indústria. Dentro do mesmo raciocínio, a Escola Tecnicista procurava formar trabalhadores com conhecimentos pontuais, para atuar em ramos específicos do mercado de trabalho.
O professor e o aluno não fazem mais parte do centro da concepção pedagógica. São os meios que determinam a ação do docente e do discente. Por exemplo: a máquina já existe e precisa
Historia_da_Educacao.indd 102 29/08/2013 16:01:40
Capítulo 5
História da Educação
103
ser operada: cabe ao aluno aprender como fazer isso. A premissa tecnicista é aprender a fazer, ou seja, o cidadão/aluno é um ser produtivo. Assim, aquele que está fora da escola – o marginalizado – passa a ser improdutivo para a sociedade.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação n. 5.540, de 1968, assim como a Lei n. 5.692, de 1971, veio confirmar essa tendência, que, na prática, absorveu alguns “rituais” da Escola Tradicional e outros métodos da Escola Nova. As duas leis acima citadas foram implantadas no país em pleno Regime Militar. Os governantes militares importaram para o Brasil estudos psicológicos norte-americanos realizados, principalmente, por Skinner. Ele realizava experimentos com ratos de laboratórios no intuito de condicioná-los a um determinado comportamento, punindo-os ou desestimulando-os, quando desobedientes. O psicólogo Pavlov também realizou experimentos com animais (em especial cachorros) na União Soviética. Conforme lembra Francisco Filho:
as teorias de Skinner e Pavlov, parecidas, foram utilizadas pelas duas maiores potências da época. Ambas treinaram soldados para a Segunda Guerra Mundial, como também usaram o condicio-namento no trabalho empresarial, principalmente em linhas de montagem. Depois de algum tempo, pensando em eficiência, a teoria do condicionamento passou a fornecer as bases teóricas para o ensino escolar. A aprendizagem era pensada como mudan-ça de comportamento, através de condicionamentos. Em 1964, os militares assumiram as rédeas do poder político no Brasil e através de convênio com os EUA, chamados de MEC/USAID, trouxeram, além das ideias, técnicos para mudar os rumos da educação brasileira (FRANCISCO FILHO, 2004, 165).
Esta referência nos faz pensar que tal mudança educacional, diferente da Escola Nova (que foi um movimento erguido por pensadores da educação), veio de encontro com os interesses políticos, diplomáticos e, principalmente, econômicos do Brasil. A Lei n. 5.692/71 também recebeu influência da “teoria do capital humano”, criada em meados dos anos de 1950, por Theodore W. Schultz. Segundo essa teoria, a educação está diretamente ligada ao desenvolvimento econômico de um país.
Como forma de sistematização do assunto discutido, segue um quadro sobre os aspectos da Concepção Pedagógica Tecnicista.
Historia_da_Educacao.indd 103 29/08/2013 16:01:40
História da Educação
FAEL
104
Quadro 3
CONCEPÇÃO PEDAGÓGICA TECNICISTAPeríodo Implantada no final da década de 60 do século XX.
Função da escola
• Preparar para o mercado de trabalho;
• Articular-se com o sistema capitalista;
• Mensurar e observar.
Papel do aluno
• Aquele que irá aprender a fazer;
• Ser fragmentado que será preparado para o trabalho.
Papel do professor
• Ligação entre o conhecimento e o aluno;
• Técnico responsável pelo processo educativo.
Avaliação
• Mede a produtividade;
• Utilização de testes;
• Constata se o aluno alcançou os objetivos.
Metodologia
• Utilização excessiva do livro didático;
• Ênfase nas atividades pautadas em métodos instrucionais;
• Objetivos alcançados por comportamentos mensuráveis e observáveis.
Mais contundente no ensino de 2º grau, esta concepção transformou o ensino em escolas técnicas. A maioria dos estudantes que acreditavam não conseguir acesso à universidade cursavam os ensinos profissionalizantes que lhes garantiriam uma formação rápida e básica. No entanto, como
os cursos destinavam grande parte do seu currículo para a formação específica, os conteúdos das disciplinas comuns acabavam tornando-se secundários, o que gerava uma formação rasa e inconsistente. Com o certificado em mãos, conseguiam entrar no mercado de trabalho, ganhando menos do que aqueles que possuíam o diploma de graduação. A escola continuava sendo
exclusiva. Com o fim do Regime Militar, o tecnicismo não dava mais conta de atender às especificidades do contexto histórico.
Devido à existência de cursos profissionalizantes, a Lei n. 5.692/71 previa
parceria entre escolas e empresas, como observamos no texto legal: “Art. 6º Parágrafo
único. O estágio não acarreta para as empresas nenhum vínculo de emprego,
mesmo que se remunere o aluno estagiário, e suas obrigações serão apenas as especificadas no convênio feito com o estabelecimento.”
Saiba mais
Historia_da_Educacao.indd 104 29/08/2013 16:01:41
Capítulo 5
História da Educação
105
Da teoria para a práticaApesar de observarmos a existência de concepções pedagógicas
diferentes, podemos constatar que elas coexistiram, ou seja, a implantação de uma nova concepção pedagógica não significa a total extinção da anterior. Além de existirem paralelamente, uma nova teoria pode incorporar antigas práticas de sua antecessora.
Resquícios de costumes e métodos da Escola Tradicional, como decorar, copiar e reproduzir, podem perdurar até hoje na prática de algumas instituições de ensino ou na sala de aula de algum professor “saudosista”.
Entreviste um estudante ou professor da educação básica e questione-o sobre como são tratados em sala de aula os seguintes temas: a) Quem está no centro da aprendizagem? b) O que é mais importante: aprender ou fazer? c) Como são realizadas as avaliações? d) Como é vista a questão da disciplina e do comportamento? e) Quais são as atividades mais comuns realizadas em sala de aula?
Com base neste questionário, você obterá pistas para entender se na sala de aula desse aluno ou professor é seguida uma única linha de pensamento pedagógico ou se a prática escolar perpassa mais de uma das concepções que a educação brasileira vivenciou.
SínteseAs concepções pedagógicas brasileiras estão diretamente relacionadas
ao contexto social no qual estão inseridas. A Escola Tradicional religiosa esteve marcada pela luta da colonização, catequização e resistência contra a Reforma Protestante. Os religiosos ensinavam para dominar e converter.
A Escola Tradicional laica continuou mantendo os mesmos métodos de autoritarismo, segundo os quais o professor era o centro do processo. Por causa da independência do país e da proliferação das ideias iluministas, o ensino passou a respeitar o ensino religioso em favor de uma educação firmada na ciência e na razão.
Historia_da_Educacao.indd 105 29/08/2013 16:01:41
História da Educação
FAEL
106
Com a chegada da República, a discussão sobre democracia e acesso à educação levaram pensadores a escrever o Manifesto dos Pioneiros da Educação. A partir de 1932, as escolas brasileiras entraram em uma nova dinâmica de atuação. O aluno passou a ser o centro do processo educativo, mas a forma como o ensino era conduzido fez com que a Escola Nova recebesse críticas por não ensinar adequadamente o conteúdo.
A partir do golpe militar de 1964, os militares passaram a intervir em todos os setores da sociedade, inclusive na educação. As leis educacionais do período foram pautadas no interesse de formar uma massa de trabalhadores técnicos em áreas. O foco da Escola Tecnicista era de aprender a fazer.
Historia_da_Educacao.indd 106 29/08/2013 16:01:41
107
No capítulo anterior conhecemos quatro tendências ou concepções da educação: tradicional religiosa e laica, Escola Nova e a Pedagogia Tecnicista. Em continuação, trataremos de outras concepções que influenciaram a educação brasileira. A diferença é que, nesse capítulo, além de falar sobre a tendência pedagógica, conheceremos um pouco dos seus autores e de movimentos pela educação.
Num panorama geral, as teorias e teóricos que aqui veremos são frutos do final do século XIX e decorrer do século XX. Recebemos influências de intelectuais da educação da Europa, mas também podemos ressaltar a importância de nossos pensadores brasileiros.
As teorias explanadas ao longo deste texto são: a educação “montessoriana”, o Marxismo e a educação, o Construtivismo, a pedagogia libertadora, além do movimento de educação de base. A luta pela democratização do ensino irá perpassar esses temas e veremos as contribuições para a educação brasileira e até as influências que tais teorias tiveram entre si.
Educação montessorianaA educação montessoriana teve importante influência nos estudos
educacionais e nas escolas do Brasil. Este pensamento pedagógico foi criado pela médica e educadora Maria Montessori. De nacionalidade italiana, a educadora tinha como foco inicial de estudos acerca da aprendizagem de crianças especiais – o que se estendeu para as crianças ditas normais.
Pensamentos e movimentos histórico-sociais pela educação
6
Historia_da_Educacao.indd 107 29/08/2013 16:01:41
História da Educação
FAEL
108
Na Itália, ela fundou, em 1907, a Casa dei Bambini, centros de educação mais completos que as antigas escolas de instrução. As casas eram
destinadas à educação pré-escolar, mas também se estendiam para crianças da segunda infância. Os materiais utilizados estimulavam os aspectos motores e sensoriais da criança, com jogos atrativos.
Figura 1 Maria Montessori.
Bibl
iote
ca d
o Co
ngre
sso
dos
Esta
dos
Unid
os
Montessori focava seus estudos, principalmente, nos aspectos biológicos de aprendizagem, por isso, sua concepção de educação era pautada no desenvolvimento e crescimento. Segundo suas conclusões, a educação ajuda o indivíduo a socializar-se e desenvolver a personalidade integral. Na concepção de Montessori, a escola era um local de maior liberdade, não deveria ter carteiras fixas, premiações ou castigos. O aluno precisava sentir-se livre para estudar e crescer. Ela defendia que a escola deveria oferecer uma “educação para a vida”, pois seu método respeitaria as etapas de desenvolvimento e das faixas etárias dos alunos. Segundo Francisco Filho (2004, p. 168):
Montessori desejava criar um homem consciente, integrado à natureza, com corpo e alma em harmonia, com capacidade para refletir, dialogar, amar, com sensibilidade, feliz, procurando a
Maria Montessori fazia parte do grupo de intelectuais europeus que estava buscando
uma “nova educação”. Em 1946, Paris sediou o primeiro Congresso da Educação Nova.
Saiba mais
Historia_da_Educacao.indd 108 29/08/2013 16:01:41
Capítulo 6
História da Educação
109
autoconstrução, inteligente, criativo, comunicativo, com mente consciente, capaz de comparar, de viver a sua própria vida, encarnando a cultura, caminhando para a autorrealização, com raciocínio natural, com habilidade para leitura, exercícios para a lógica, para valores e virtudes, com visão ampla, etc.
Os alunos poderiam escolher os jogos e atividades com materiais que a educadora italiana havia criado para estimular a aprendizagem. Não caberia ao professor intervir nesta aprendizagem, caberia a ele, na sala, acompanhar o desenvolvimento e potencial de cada um.
Segundo Cambi (1999, p. 475), o método de Montessori teve mais aceitação e ficou mais conhecido no exterior do que na própria Itália, onde encontrou “forte resistência, em consequência da hegemonia idealista na cultura filosófica e pedagógica”.
Não podemos definir com precisão quem foi o responsável por trazer as ideias de Maria Montessori para o Brasil. Um dos primeiros indícios data de 1915, quando o Dr. Miguel Calmon Dupin e Almeida realizou uma palestra na Bahia, divulgando os princípios da educadora italiana (ALMEIDA; ALVES, 2010). Desde 1937, diversas escolas com este método foram instaladas em nosso país, como a Casa da Infância do Menino Jesus, que estava sob a responsabilidade da Liga das Senhoras Católicas de São Paulo.
A chegada das escolas montessorianas no Brasil não ocorreu como nos ideários originais. Enquanto na Itália esse método atendeu a crianças desprovidas de condições financeiras, aqui no Brasil não existia uma estrutura para montar escolas com o ambiente e materiais adequados. O custo era alto e isso fez com que somente escolas particulares tivessem condições de equipar sua instituição para desenvolver o método em sua plenitude.
A educação montessoriana ajudou a mudar o pensamento e as práticas de educadores brasileiros que antes adotavam a educação tradicional. No entanto, não adiantava o aluno frequentar a pré-escola montessoriana e depois ter que estudar em uma escola comum, que não tinha os mesmos padrões de atendimento, materiais e quantidade de funcionários como na primeira escola (FRANCISCO FILHO, 2004, p. 168).
A concepção de educação proposta por Maria Montessori aju-dou a mudar a maneira de pensar a criança e a escola e influenciou as
Historia_da_Educacao.indd 109 29/08/2013 16:01:41
História da Educação
FAEL
110
mudanças da Escola Tradicional para a Escola Nova. Até hoje essas ideias influenciam o pensamento de muitos educadores. Segundo informações
do site da Organização Montes-sori do Brasil, em 2012 existiam 57 escolas filiadas a esta organi-zação. Elas ficam nos seguintes estados: seis no Rio Grande do Sul; quatro em Santa Catarina; uma no Paraná; uma no Mato
Grosso do Sul; nove em São Paulo; dez no Rio de Janeiro; três em Minas Gerais; três no Distrito Federal; onze na Bahia; uma em Alagoas; duas em Pernambuco; uma no Piauí; três no Maranhão; e duas no Pará.
Marxismo e a educaçãoO século XIX marca, na Europa, a ascensão da burguesia ao poder.
Esta classe conseguiu o status de privilegiada e começou a dominar a classe pobre. Neste contexto surgiram Marx e Engels, teóricos que passaram a analisar os pensamentos de Hegel, o passado histórico e sua evolução política e econômica, além das teorias utópicas.
Em 1848, lançaram O manifesto comunista e publicaram, trinta anos depois, os escritos de O capital. Em linhas gerais, a teoria marxista acredita que a sociedade é formada por duas classes principais: a dominante e a dominada. A classe dominante seria aquela formada pela burguesia, aquela que detém o poder e o capital (a riqueza). A classe dominada seria formada pela grande massa de trabalhadores que vendem a sua mão de obra por um mísero salário.
Tal teoria possui teor anticapitalista. Rapidamente, ganhou adeptos e espalhou-se pela Europa. Países utilizaram-se do discurso marxista para promover mudanças e revoluções. Em 1917, a Rússia tornou-se socialista – na verdade, incorporou o socialismo real. Algo semelhante ocorre na China, em 1949. Depois da Segunda Guerra Mundial, Cuba, Moçambique e Angola passaram a adotar este mesmo sistema.
Como lembra Francisco Filho (2004), as ideias de Marx foram um tanto distorcidas, pois os governos autoritários passaram a manipular a população por meio do discurso do socialismo/comunismo. O fato
Para saber mais sobre a atual situação das propostas montessorianas no Brasil, acesse o
site da Organização Montessori no Brasil: <www.omb.org.br>.
Saiba mais
Historia_da_Educacao.indd 110 29/08/2013 16:01:41
Capítulo 6
História da Educação
111
de abolir a propriedade privada não significava o sucesso da implanta-ção do socialismo. Segundo o autor, estas tentativas práticas marxistas foram equivocadas, pois:
fazendo uma análise rápida, não é difícil verificar que o so-cialismo real estava muito distante dos ideais de Marx. Sim-plificou tudo, pensando que apenas abolindo a propriedade privada, tudo estaria resolvido; criou uma burocracia muito mais parasitária que a burguesia existente no capitalismo; con-tinuou acreditando no fatalismo histórico, isto é, que depois de esgotado o capitalismo, naturalmente aconteceria o socia-lismo e depois como por um passe de mágica cairia no comu-nismo, quando a sociedade de iguais não teria nem mesmo necessidade do Estado. Na prática o socialismo real é apenas o capitalismo de estado, e Marx ficaria muito triste, se estivesse vivo, para ver a aplicação prática de suas teorias (FRANCIS-CO FILHO, 2004, p. 170).
Há um ditado recorrente no meio acadêmico: “o problema não é o marxismo, são os marxistas”. Ou seja, as falhas não estavam nas ideias de Marx, mas nas formas como elas foram aplicadas.
Além de ser adotada, em alguns países, na vida prática, a teoria marxista foi utilizada como meio de mudança intelectual, sobretudo de áreas de história, sociologia, filosofia e outras ciências sociais, áreas notadamente influenciadas pelos pensamentos de igualdade social de Marx e Engels (1978).
Para Marx, a educação era usada pela burguesia como meio de dominação, na qual a classe dominante controlava o conhecimento adquirido da classe dominada. A escola que servia aos interesses do capitalismo só poderia se tornar um ambiente de transformação quando quebrasse as amarras da alienação e dominação. Marx pregava uma educação que não fosse destinada a uma classe específica. O conhecimento técnico e industrial deveria chegar a todos. Somente uma escola que rompesse com as amarras do capitalismo poderia promover uma mudança social.
Os problemas educacionais passaram a ser considerados problemas de ordem histórica. Para superar a fase do capitalismo e das desigualdades sociais, os educadores deveriam ser agentes ativos e conhecedores do processo histórico. Segundo Marx e Engels (1978; 1997), as classes dominantes escolhem o conteúdo a ser transmitido e
Historia_da_Educacao.indd 111 29/08/2013 16:01:41
História da Educação
FAEL
112
limitam o conhecimento dos operários, e isso se prolonga no decorrer da história. A tradição das gerações passadas atormentaria como um pesadelo a geração atual.
Somente uma escola feita por educadores não alienados poderia mudar essa situação. Seria a chance de mudar do capitalismo para o socialismo, para um dia chegar ao ideal de sociedade que era o comunismo. A educação seria um agente de libertação, principalmente das ideologias dominantes. Neste sentido, podemos dizer que, apesar de não ser um teórico exclusivo da educação, Marx (em seus poucos escritos sobre ela) nos propõe uma política-educacional.
As ideias marxistas começaram a ser amplamente divulgadas no Brasil a partir de 1930, pelo Partido Comunista do Brasil. Paschoal Lemme foi um dos principais educadores a difundir o Marxismo.
Atualmente, as ideias marxistas estão presentes no estudo da his-tória da educação, entre outras áreas sociais. O Novo Marxismo, ou a Nova Esquerda Inglesa, reúne um grupo de intelectuais que se baseiam nos pensamentos de Marx para elaborar suas perspectivas de análise e pesquisa. Entre eles estão: Raymond Williams (1921-1988), Edward Thompson (1923-1993), Eric Hobsbawn (1917-), Cristopher Hill (1912-2003), Perry Anderson (1928-) e Maurice Dobb (1900-1976).
ConstrutivismoO Construtivismo foi aplicado à educação, mas teve suas origens
na psicologia. Seus fundamentos estão baseados nos estudos de Jean Piaget, Emília Ferreiro e Vygotsky. A ênfase está no aspecto cognitivo do aluno e, por isso, o conhecimento das etapas do desenvolvimento é tão importante.
Segundo Piaget (apud DAVIS; OLIVEIRA, 1991, p. 56), o desen-volvimento humano engloba quatro etapas: a sociomotora, a pré-ope-ratória, a operatório-concreta e a operatório formal. É importante res-peitar estas etapas para que a aprendizagem ocorra de maneira natural. De acordo com Davis e Oliveira (1991, p. 56):
Piaget acredita que a aprendizagem subordina-se ao desen-volvimento e tem pouco impacto sobre ele. Com isso, ele minimiza o papel da interação social. Vygotski, ao contrário,
Historia_da_Educacao.indd 112 29/08/2013 16:01:41
Capítulo 6
História da Educação
113
postula que desenvolvimento e aprendizagem são processos que se influenciam reciprocamente, de modo que, quanto mais aprendizagem, mais desenvolvimento.
Para o Construtivismo, o saber, como o próprio nome diz, é construído pelo aluno mediante formulação de hipóteses e a resolução do problema. O aluno socializa-se, busca, investiga e a “socialização da criança é ao mesmo tempo o processo de sua individualização, de formação de sua personalidade” (ARIAS; YERA, 1996, p. 11).
Nesta perspectiva, o papel do professor não é de transmitir o conhecimento, mas estimular o aluno a ir em busca de sua autono-mia intelectual. Ele é um “instigador”. A avaliação é construída ao longo das aulas, por isso as provas não fazem parte da proposta inicial do Construtivismo, no entanto, grande parte dos professores acabam incorporando o conceito de construção e transformando-o em avalia-ções escritas. Nesse contexto, a prova tem um peso menor do que as aplicadas na Escola Tradicional e não pode ser realizada por uma pessoa de fora do cotidiano de sala de aula (uma coordenadora, por exemplo, como poderia acontecer na Escola Tradicional).
O erro não é visto como algo negativo, mas como parte do pro-cesso. O aluno acaba errando algumas vezes na tentativa de acertar e construir o seu conhecimento. Um exemplo clássico é quando uma criança de 4 ou 5 anos pega uma bola de massinha de modelar e a transforma em uma cobrinha. Ela acha que a cobrinha tem mais massa do que a bola por ser mais comprida. A criança não errou, esse é apenas o raciocínio próprio de sua idade. Seu desenvolvimento intelectual será evidenciado ao amadurecer para a próxima etapa de desenvolvimento. Isso não significa que a escola não deva corrigir o aluno. Quando neces-sária, a correção é feita como meio de proporcionar a aprendizagem e não como forma de censura. A criança pode, inclusive, ser retida de ano, caso não demonstre condições de acompanhar a série seguinte.
Ao contrário da Escola Tradicional, a competição não é estimulada. O convívio e as atitudes de cooperação entre os alunos são valorizados. O estímulo para avançar nos estudos fica por conta do educando encarar seus desafios pessoais.
A rigidez no ensino, tão almejada na Escola Tradicional, é aqui criticada. A escola deve ser um ambiente acolhedor e estimulante. Além
Historia_da_Educacao.indd 113 29/08/2013 16:01:41
História da Educação
FAEL
114
das provas, o uso de materiais didáticos que não façam parte do coti-diano do aluno é condenado. O ensino deve ser significativo e espon-tâneo. O aluno deve estar rodeado de materiais que façam parte de seu universo pessoal. As atividades de pesquisa em grupo também represen-tam parte importante do processo de aprendizagem.
Emília Ferreiro (apud NOVA ESCOLA, 1995) utiliza-se das teo-rias de Piaget e as transfere para o estudo do processo de alfabetização de crianças, chegando à conclusão de que uma criança pode ser alfabe-tizada espontaneamente, desde que esteja em um ambiente estimulador e propício. Veja como acontece a alfabetização na visão de Ferreiro.
Quadro 1
FASE APTIDÕES EXEMPLO
Pré-silábica
A criança não relaciona a fala com a escrita. Escreve a letra que lhe soou mais
“simpática”.
Ao escutar a palavra BO-NECA, escreve BBBBBBB
ou OOOOOO.
SilábicaTem sua própria
interpretação da letra e atribui um valor silábico.
Pode escrever BONECA da seguinte maneira:
BNA
(B=BO, N=NE e A=CA).
Silábico-alfa-bética
Oscila entre a fase silábica e alfabética. Faz sílabas
completas com mais frequência.
BONECA pode ser escrita =
BONEK.
AlfabéticaDomina o valor das letras e
das sílabas.Escreve BONECA correta-
mente.
Fonte: adaptado de Ferreiro (apud NOVA ESCOLA, 1995, [s. p.]).
As práticas construtivistas já estavam presentes no Brasil, mas tornaram-se mais efetivas com a Constituição de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, influenciadas por elas. Com a abertura democrática no país, assim como todos os ramos da sociedade, a educação estava procurando novos horizontes e possibilidades.
As ideias construtivistas, principalmente o método de alfabetização de Emília Ferreiro, foram ganham espaço nas escolas brasileiras. Cada vez mais os professores aderiam à nova prática pedagógica sem ao menos saber com segurança como aplicá-la. Como afirmamos anteriormente,
Historia_da_Educacao.indd 114 29/08/2013 16:01:41
Capítulo 6
História da Educação
115
a educação é dinâmica e práticas pedagógicas não substituem por completo as suas antecessoras. Assim, podemos observar a coexistência de métodos tradicionais e construtivistas. Não é tão comum encontrar uma escola pública que tenha espaço e material adequado, número de alunos pequeno e professor preparado para ministrar aulas dentro desta proposta. O que ocorre, em muitos casos, é a mistura de diferentes práticas pedagógicas, que refletem a formação inicial, profissional e as experiências diárias de cada professor.
Movimento de Educação de BaseO objetivo de uma educação de qualidade e acessível a todos
permeou a luta de diversos teóricos educacionais. Muito possuem sonho de ver uma escola aberta para todos, em que não exista o analfabetismo e a igualdade possa alcançar os lares.
A educação de base seria o mínimo que um cidadão deveria receber de conhecimentos, considerando suas necessidades pessoais, “mas levando em conta os problemas da coletividade, e promovendo a busca de soluções para essas necessidades e esses problemas, através de métodos ativos” (FÁVERO, 2004, p. 2).
Desde 1947, a Unesco, por exemplo, promoveu programas voltados para a educação de adultos. Ela defendia a educação gratuita, universal e obrigatória para as crianças. Recomendava-se que, assim como existiam as escolas tradicionais para as crianças, deveria haver escolas de educação de base para adultos.
Já, em 1950, bispos brasileiros da região do Nordeste realizaram experiências educativas por meio de programas de rádio. O Movimento de Educação de Base (MEB) foi criado em 1961, pela Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB). Era um programa de educação de base através de escolas radiofônicas. O programa de rádio deveria alcançar regiões subdesenvolvidas. Sua fundação teve o apoio e a parceria do presidente da República Jânio Quadros e de diversos ministros da época. Sua atuação abrangia estados do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Tinha como objetivo realizar uma educação que superasse a visão materialista. A formação humana deveria acontecer em todas as dimensões: política, social, cultural, espiritual, moral, etc.
Historia_da_Educacao.indd 115 29/08/2013 16:01:41
História da Educação
FAEL
116
Até 1962 as escolas radiofônicas englobavam o ensino da leitura e escrita com aulas de Português, Matemática, Orientação Agrícola, Economia Doméstica, Educação Cívica e Religiosa e Organização Comunitária. O ensino pretendia ser uma ponte de integração social, baseado nos parâmetros da Unesco. No entanto, as aulas ministradas encontravam-se longe da realidade dos trabalhadores rurais que a escutavam.
Com a realização de pesquisas, estudos, conversas e trocas de experiências, o MEB foi aprofundando suas ideias e, em 1962, com o Encontro Nacional de Coordenadores, traçou um novo plano de ação para o movimento. Os objetivos eram:
1º – Alfabetização e iniciação em conhecimentos que se traduzam no comportamento prático de cada homem e da comunidade, no que se refere: à saúde e à alimentação (higiene); ao modo de viver (habitação, família, comunidade); às relações com os semelhantes (associativismo); ao trabalho (informação profissional); ao crescimento espiritual.
2º – Conscientização do povo, levando-o a descobrir o valor próprio de cada homem; despertar para os seus próprios pro-blemas e provocar uma mudança de situação; buscar soluções, caminhando por seus próprios pés; assumir responsabilidades no soerguimento de suas comunidades.
3º – Animação dos grupos de representação, promoção e pressão.
4º – Valorização da cultura popular, pesquisando, aproveitando e divulgando as riquezas culturais próprias do povo (MEB, 1962c, p. 1).
Realizadas as mudanças de objetivos, o MEB consegue mais apoio financeiro e aumenta seu atendimento. Segundo Fávero (2004), o período áureo de sua atuação ocorreu entre 1961 a 1966. Segundo dados levantados em relatórios oficiais do MEB pelo autor, a abrangência do movimento foi a seguinte:
a) O número de escolas radiofônicas variou de 2.687, em dezembro de 1961, ao máximo de 7.353, em setembro de 1963. A ampliação do noticiário oficial “A Voz do Brasil” de 30 para 60 minutos, em meados de 1963, comprometeu o melhor horário para as aulas e ocasionou uma queda brusca no número de escolas: 5.573 em dezembro de 1963. Em março de 1964, no entanto, eram novamente 6.260
Historia_da_Educacao.indd 116 29/08/2013 16:01:41
Capítulo 6
História da Educação
117
e, apesar de todas as crises, em dezembro de 1965 ainda existiam mais de 4.500 escolas radiofônicas.
b) No início de 1964, ponto alto das estatísticas, o trabalho era realizado em 14 Estados: Amazonas, Pará, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambu-co, Alagoas, Sergipe, Bahia, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso e no Território de Rondônia. Nessas unidades da federação, funcionavam 60 Sistemas de Educação de Base e igual número de Equipes Locais, atingindo cerca de 500 municípios, em 1963.
c) As Equipes Locais reuniam cerca de 500 pessoas, entre pessoal administrativo e técnico, inclusive supervisores municipais. Por sua vez, o Secretariado Nacional, com sede no Rio de Janeiro, contratava outras 50 pessoas, qua-se todas em tempo integral.
d) Em cinco anos, cerca de 320 mil alunos concluíram o ciclo de alfabetização, dos quais quase 120 mil só em 1963. 29 emissoras irradiavam programas e aulas do MEB, estiman-do-se de 5 a 8 milhões de pessoas direta e indiretamente atingidas por essas emissões.
e) No período estudado, foram realizados 35 treinamentos para 871 professores, supervisores e animadores das Equipes Locais, em uma média de dez dias por treinamento. E, de 1961 a 1965, 518 treinamentos para 13.771 monitores de escolas radiofônicas e animadores do grupo de base, com duração média de quatro dias por treinamento (FÁVERO, 2004, p. 13).
Os dados são expressivos e nos mostram um grande alcance. O que era para ser uma proposta de cinco anos de existência já completou seus cinquenta anos. O MEB ainda está em funcionamento e, atualmente, está presente no Ceará, Piauí, Amazonas, Roraima, Distrito Federal e no Norte e Nordeste de Minas Gerais.
Segundo seu site10 oficial, a presente missão do MEB é “Contribuir para a promoção humana integral e superação da desigualdade social por meio de programas de educação popular libertadora ao longo
10 Disponível em: <http://www.meb.org.br/index.php/missao>. Acesso em: 29 março 2013.
Para obter mais informações dobre o MEB, acesse o site oficial: <www.meb.org.br>.
Saiba mais
Historia_da_Educacao.indd 117 29/08/2013 16:01:41
História da Educação
FAEL
118
da vida”. Sua metodologia está referenciada na obra de Paulo Freire no que se refere à alfabetização de adultos. Pelo fato do próximo tópico tratar da pedagogia de Paulo Freire, consequentemente, compreenderemos melhor como o ensino e a alfabetização de adultos acontece recentemente no ensino do MEB.
Paulo Freire e a educaçãoO educador Paulo Freire nasceu em 1921, em Recife, Pernambuco.
Formou-se na Escola de Direito de Recife, mas, rapidamente, desistiu de advogar. Apaixonou-se pela educação com a experiência que teve como professor de português do Colégio Oswaldo Cruz (no qual ele foi aluno do ensino secundário).
Em 1947, tornou-se diretor do setor de Educação e Cultura do Sesi de Pernambuco e de 1954 a 1957 esteve à frente da superintendência desta instituição. No ano de 1960, já com o título de doutor, foi nomeado para o cargo de professor efetivo de Filosofia e História da Educação na Universidade do Recife. Participou, em 1960, do Movimento de Cultura Popular (MCP) que aconteceu no Recife e, dois anos depois, foi diretor do Serviço de Extensão e Cultura (SEC) da Universidade do Recife. Em 1963, foi presidente da Comissão Nacional de Cultura Popular e, em 1964, tornou-se coordenador do Programa Nacional de Alfabetização.
Seus estudos voltados para a alfabetização de adultos só começaram a ficar conhecidos no Brasil em “1963, quando o seu método de alfabetização de adultos foi divulgado em ampla campanha publicitária promovida pela Secretaria de Educação do Estado do Rio Grande do Norte” (BEISIEGEL, 2010, p. 14).
Com o início do Regime Militar, Freire pediu exílio político para o Chile, onde ficou até 1969. Neste período, trabalhou no Instituto de Pesquisa e Treinamento Agrária, no Escritório Especial para a Educação de Adultos, na Universidade Católica de Santiago e no escritório regional da Unesco. Lecionou em Harvard, nos Estados Unidos, em 1970. Voltou para o Brasil em 1980, onde lecionou na PUC-SP, Unicamp e USP.
Historia_da_Educacao.indd 118 29/08/2013 16:01:41
Capítulo 6
História da Educação
119
Figura 2 Paulo Freire.
Folh
apre
ss/B
el P
edro
sa
Esta descrição de vida e atuação nos serve para compreender a importância do educador brasileiro no cenário da educação mundial. Seus estudos contribuíram para pensar uma educação que se libertasse das amarras das desigualdades. Freire foi mais um pensador que se utilizou do Marxismo para desenvolver suas ideias. Por isso, para ele, a educação era um ato político. Com ela, o cidadão poderia libertar-se da opressão da classe dominante. Preocupado com a marginalização e a exclusão, ele voltou sua preocupação para a formação das classes populares e desenvolveu um método de ensino para jovens e adultos.
Sugestão de Leitura
Para aprofundar o conhecimento sobre os estudos de Paulo Freire, sugerimos a leitura da obra Pedagogia do oprimido.
FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 18. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.
Sugestão de Leitura
Historia_da_Educacao.indd 119 29/08/2013 16:01:42
História da Educação
FAEL
120
Freire firmava sua visão no pensamento cristão. Para ele, o homem era criação divina e devia viver de forma consciente no espaço e tempo em que estava inserido. A escola seria um meio pelo qual o homem alcançaria esta consciência, conforme lembra Beisiegel (2010, p. 30):
Entre os numerosos temas do pensamento cristão renovador envolvidos nas reflexões entre educação e humanização, o tema do comprometimento do homem com a sua realidade prevalece sobre os demais. Aberto para o mundo, criador de cultura no âmbito das relações que mantém com os outros homens, com o mundo e com o Criador, é enquanto interfere que o homem realiza plenamente sua humanidade. Mas as possibilidades de interferência do homem se definiam e en-contravam limitações no interior de uma realidade histórica e social determinada. E somente a formação e o desenvolvi-mento de uma consciência capaz de apreender criticamente as características dessa realidade particular possibilitariam o exercício de sua atuação criadora.
Desta feita, seria dentro do processo educativo que o homem conseguiria alcançar a plenitude de humanidade. Com consciência, poderia interagir com a natureza e com os outros homens e, consequentemente, interferir na sua realidade. A educação é agente transformador da sociedade.
Como princípio de democracia, Freire propõe uma educação com base no diálogo, desprovida de opressão e violência. Isso reflete em muitos aspectos o momento histórico vivido – Regime Militar. Ele critica a educação tradicional, chamando-a de “educação bancária”, ou seja, os alunos são méritos depositários do saber. De acordo com a concepção freireana, ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho, pois a educação é um ato de amor e de comunhão entre os homens.
Foi por este discurso de mobilização da sociedade e sentimento de libertação que Freire precisou ficar exilado, porque foi considerado subversivo pelo governo da época.
Acreditava que a própria nomenclatura utilizada no ambiente escolar era uma forma de dominação e opressão, por isso, em seu método de alfabetização de adultos, sugeriu uma mudança de nomes.
Historia_da_Educacao.indd 120 29/08/2013 16:01:42
Capítulo 6
História da Educação
121
Figura 3
Classes Círculos de cultura
Alunos Participantes dos grupos de discussões
Professores Coordenadores de debates
Aula Debate ou diálogo
Programa Situações existenciais
Professor e aluno são entendidos como sujeitos ativos do conhecimento. O professor é aquele que coordena os debates e consegue adaptar o encaminhamento da aula conforme as necessidades e características do grupo, permitindo que o aluno participe ativamente. Por meio de grupos de discussões, conversas e entrevistas são selecionadas “palavras geradoras” (provenientes do cotidiano dos alunos) para engatilhar o estudo da língua portuguesa e demais disciplinas.
Visando a um melhor aproveitamento, esse grupo de “‘palavras geradoras’ deveria conter todas as possibilidades silábicas da língua, para permitir o estudo das diferentes situações que pudessem vir a ocorrer durante a leitura e escrita” (BEISIEGEL, 2010, p. 49). As palavras que surgiam no diálogo eram exploradas na ordem do grau de complexidade de leitura e escrita. Apresentava-se a palavra, uma imagem que a representasse, sua divisão silábica, a família silábica de cada sílaba, e assim por diante.
Este método dispensava o preparo rígido de aulas e conteúdos, visto que o assunto a ser trabalhado partia das expectativas do cotidiano do adulto trabalhador a ser alfabetizado. Neste sentido, a avaliação também não era formal ou fixa. Ela acontecia na prática vivenciada entre professor e aluno, mediante trabalhos escritos e autoavaliações que os educandos faziam e que refletiam suas compreensões e reflexões sobre o tema estudado. O grupo de alunos, de certa forma, realizava a avaliação firmando um “compromisso” com a prática social.
Pedagogia Histórico-CríticaEm pleno período do Regime Militar, surge, também, um novo
pensamento educacional: a Pedagogia Histórico-Crítica. Podemos
Historia_da_Educacao.indd 121 29/08/2013 16:01:42
História da Educação
FAEL
122
assinalar seu marco teórico em 1979. Esta prática é assim chamada por Saviani (seu principal representante) por motivos simples: histórico por se tratar de um pensamento que acredita que a educação tem o poder de interferir na sociedade e pode ser agente de transformação da história; e crítica por se tratar de uma perspectiva consciente de sua ação educacional na sociedade. Segundo o autor, esta concepção nasceu do anseio de propor algo novo, pois a Escola Nova e a Tradicional já não correspondiam as necessidades do presente contexto histórico (Saviani, 2007).
Focando a transformação da sociedade, esta prática oferece a interação entre a realidade concreta e o conteúdo. Percebe o conteúdo como uma produção construída historicamente e socialmente pelos homens, preten-dendo superar as antigas visões não críticas ou reprodutivistas do saber.
Assim como outros pensamentos educacionais, este se propõe a universalizar o ensino e vai além ao afirmar que a escola é o local onde todas as camadas sociais podem obter o saber universal. Este saber faz o aluno compreender a sua realidade para poder atuar criticamente e democraticamente no sentido de transformar a sua realidade.
A relação entre professor e aluno é dinâmica. Neste pensamento, tanto professor quanto aluno são sujeitos ativos, seres sócio-históricos que fazem parte de uma determinada classe social. O professor é aquele que direciona, interfere e cria condições de aprendizagem, ou seja, ele interage junto ao aluno na aquisição do conhecimento.
A interação professor e aluno é estimulada por meio do diálogo. Trabalhos que envolvam debates, leituras, discussões, conversas, exposições, trabalhos em grupos e individuais marcam a metodologia de ensino.
As provas tradicionais não fazem parte desta prática. A avaliação não está voltada somente para o aprendizado do aluno. Por meio de uma avaliação permanente e contínua (diagnóstica) o professor percebe o desenrolar de sua prática pedagógica e pode reformular ou interferir para que o aprendizado aconteça de maneira mais eficaz. Ao mesmo tempo, o aluno recebe o resultado de sua avaliação para programar mudanças na sua forma de aprender.
Historia_da_Educacao.indd 122 29/08/2013 16:01:42
Capítulo 6
História da Educação
123
Esta tendência utiliza-se de elementos provenientes da filosofia, psicologia e da didática. Suas influências vêm dos estudos do Materialismo Histórico-Dialético (de origem do pensamento de Marx) e da Teoria Histórico-Cultural de Vygotsky. Utiliza-se, portanto, de dois teóricos que anteriormente embasaram outros pensamentos da educação. No site da Unicamp Saviani possui um link de glossário publicado sobre o verbete “Pedagogia Histórico-Crítica”. Em linhas gerais, o próprio intelectual define que:
essa pedagogia é tributária da concepção dialética, especifi-camente na versão do materialismo histórico, tendo fortes afinidades, no que se refere às suas bases psicológicas, com a psicologia histórico-cultural desenvolvida pela “Escola de Vigotski”. A educação é entendida como o ato de produ-zir, direta e intencionalmente, em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens. Em outros termos, isso significa que a educação é entendida como mediação no seio da prática social global. A prática social se põe, portanto, como o ponto de partida e o ponto de chegada da prática educativa. Daí decorre um método pedagógico que parte da prática social onde professor e aluno se encontram igualmente inseridos, ocupando, porém, posições distintas, condição para que tra-vem uma relação fecunda na compreensão e encaminhamen-to da solução dos problemas postos pela prática social, ca-bendo aos momentos intermediários do método identificar as questões suscitadas pela prática social (problematização), dispor os instrumentos teóricos e práticos para a sua compre-ensão e solução (instrumentação) e viabilizar sua incorpora-ção como elementos integrantes da própria vida dos alunos (catarse) (SAVIANI, 2012, [s. p.]).
É neste sentido que surge um método de aprendizagem pautado em cinco passos: prática social, problematização, instrumentalização, catarse e prática social. Vejamos como cada um desenvolve-se.
● Prática social – é o ponto de partida, no qual professor e aluno demonstram seus conhecimentos sobre o conteúdo (cada um em nível diferente). O docente apresenta o conte-údo, verifica o conhecimento prévio dos alunos e instiga-os a saberem mais.
● Problematização – momento de verificar a importância do conteúdo estudado e de problematizá-lo, ou seja, lançar
Historia_da_Educacao.indd 123 29/08/2013 16:01:42
História da Educação
FAEL
124
mão de questões que devem ser resolvidas para satisfazer a prática social.
● Instrumentalização – ocorre a mediação pedagógica, professor irá mediar o aluno ao conhecimento científico, abstrato e formal. Os alunos fazem uma comparação mental entre sua vivência e o conhecimento a fim de formar um novo conteúdo.
● Catarse – através dos conhecimentos adquiridos no passo anterior, o aluno faz um resumo de tudo que aprendeu por meio de uma avaliação escrita ou oral, formal ou informal, refletindo em uma tomada de consciência.
● Prática social – é o ponto de chegada, no qual o aluno volta-se para a prática social com um conteúdo concreto já organiza-do. Com o conhecimento, ele pode atuar fora da sala de aula, consciente do seu papel transformador na sociedade.
Todos estes passos pretendem alcançar os objetivos a que se propõe a educação histórico-crítica e, neste caminho, Saviani (2008) define que a tarefa dessa proposta pedagógica implica:
a) Identificação das formas mais desenvolvidas em que se expressa o saber objetivo produzido historicamente, reconhecendo as condições de sua produção e compre-endendo as suas principais manifestações, bem como as tendências atuais de transformação.
b) Conversão do saber objetivo em saber escolar, de modo que se torne assimilável pelos alunos no espaço e tempo escolares.
c) Provimento de meios necessários para que os alunos não apenas assimilem o saber objetivo enquanto resultado, mas aprendam o processo de sua produção, bem como as tendências de sua transformação (SAVIANI, 2008, p. 9).
Podemos concluir que a Pedagogia Histórico-Crítica pretende desenvolver cidadãos conscientes de seu lugar histórico e social, que consiga transfor-mar o saber objetivo em saber escolar e que não apenas assimilem estes conteúdos, mas que consigam utilizá-los como formas de transformação da sociedade.
Historia_da_Educacao.indd 124 29/08/2013 16:01:42
Capítulo 6
História da Educação
125
Da teoria para a práticaO Construtivismo tem seus princípios vindos da psicologia, por
isso uma das preocupações é respeitar as fases do desenvolvimento da criança. Piaget e Vygotsky são os principais pensadores que apresentam as bases desta teoria. Nesta perspectiva, o aluno passou a ser um agente de investigação. O conhecimento não está pronto, ele é construído.
Mesmo entendendo que não existe um modelo fixo e rígido de metodologia do Construtivismo, pois o conhecimento não é progra-mado, podemos conhecer alguns planos de aula que refletem esta con-cepção pedagógica.
Pesquise experiências pedagógicas construtivistas realizadas por professores e alunos, em sites ou por meio de entrevistas, depois trace um paralelo com a teoria de Piaget e Vygotsky, para verificar se a base do Construtivismo está sendo empregada nas práticas ditas pertencen-tes a este movimento educacional.
SíntesePodemos afirmar que os pensamentos pedagógicos aqui explanados
são frutos do contexto histórico, social e econômico. As contribuições de Maria Montessori refletiam o anseio europeu de uma educação diferenciada, que atendesse às aspirações da nova vida moderna do século XX. Assim como os estudos da médica e educadora Montessori foram transportados para a educação, as análises psicológicas de Piaget, Vyigotsy e Emília Ferreiro foram levadas para a Teoria do Construtivismo. Essa última teoria influenciou duas legislações brasileiras e se faz presente (ainda que não no seu sentido original) em muitas escolas do país.
Marx, por sua vez, apesar de ser um estudioso das relações de poder e das estruturas, teve sua teoria transportada para o campo educacional influenciando, inclusive, outros pensadores, como Paulo Freire.
Historia_da_Educacao.indd 125 29/08/2013 16:01:42
História da Educação
FAEL
126
Verificamos que as teorias desenvolvidas no século XX, apesar de diferentes entre si, trazem algo em comum: o desejo de tornar o ensino mais significativo e democrática para o aluno (embora a falta de recursos e de estrutura das escolas públicas não permitam a implantação plena dos métodos de ensino). Para encerrar, relembramos que, em determinados momentos, essas teorias coexistiram, ou seja, uma não veio para substituir a outra.
Historia_da_Educacao.indd 126 29/08/2013 16:01:42
127
A educação contemporânea brasileira é um desafio. Vivemos um momento de intensa transformação da sociedade como consequência da globalização e da chamada era da comunicação. Atualmente, existe uma discussão sobre o uso das tecnologias em salas de aula. Professores perguntam-se até que ponto os aparelhos tecnológicos devem fazer parte do cotidiano escolar. Alunos requerem a utilização de tais aparelhos como parte de seu material. Em certas regiões do país, professores, alunos e a população, de maneira geral, não têm acesso a toda esta tecnologia. Vivemos em um mundo global e tecnológico, mas que ainda, infelizmente, não alcançou todas as regiões geográficas e classes sociais.
De outro lado, temos uma falta de definição metodológica. Professores misturam os métodos que receberam, enquanto estudantes, com aqueles sobre os quais foram orientados a lecionar. Quando perguntados, respondem: “eu misturo um pouco de tudo”. Realmente, o século XXI trouxe novidades e incertezas para a educação.
Atreladas a este cenário, ainda vamos verificar algumas mudanças ocorridas a partir da década de 1990, como a política neoliberal, os financiamentos da educação, o mundo globalizado, a sociedade da informação e algumas leis educacionais.
Política neoliberal e agências internacionaisA educação brasileira, a partir dos anos de 1990, leva a crer que
foi marcada pela intensa presença do capitalismo, em que o Estado assinala a sua participação com ações de políticas públicas, para manter a reprodução do capital. Neste contexto de fim do Regime Militar e abertura política, chegam ao Brasil as ideias do neoliberalismo. O
Educação contemporânea no Brasil
7
Historia_da_Educacao.indd 127 29/08/2013 16:01:42
História da Educação
FAEL
128
governo brasileiro das duas últimas décadas do século XX e da primeira do século XXI começou a delegar parte de suas funções para o mercado e empresas privadas. Sobretudo no governo de Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso, intensificaram-se as privatizações de organizações estatais e a procura de financiamentos para manter sua política de governo. Era o Estado de atuação mínima.
A teoria neoliberal estimula a competição e a liberdade do comércio, pois, segundo ela, quando o mercado tem livre funcionamento, cresce, gera empregos e aumenta o acúmulo de capital. Em contrapartida, o Estado corta gastos com a privatização de setores, como usinas de energia, indústrias de base, construção e administração de estradas e portos, e enxuga as despesas referentes à saúde, moradia e educação. Em outras palavras, “[...] os direitos sociais tornam-se mercadorias e o movimento econômico restringe a esfera social da cidadania em favor da projeção do mercado” (GIRON, 2008, p. 19). Privatizam-se as instituições e até a escola torna-se um empreendimento comercial. Como o Estado não se sente o responsável por atender toda a demanda educacional, escolas públicas são crescentemente deixadas de lado, funcionários são “trocados” por voluntários (pois a sociedade também
teria o dever de ajudar) e escolas particulares ganham espaço e competem por alunos/clientes.
Agências internacionais e, principalmente, o Banco Mundial tornam-se os grandes prestadores de empréstimos para a educação dos países pobres e, dentre esta lista, encontra-se o Brasil. Os financiamentos não são ingênuos e livres de interesses. Instituições como o
Banco Mundial veem estas “ajudas” como um controle do capitalismo. O ato de investir na educação não pressupõe a sua democratização. A visão está voltada para dar condições mínimas para as classes subjugadas, que se transformariam em uma massa de trabalhadores que fazem as empresas e instituições privadas manterem seu ritmo de trabalho. Há, ainda, uma preocupação das potências mundiais (em destaque os EUA)
O neoliberalismo é uma teoria criada em 1947, por Friedrich August Von Hayek.
Foi inicialmente aplicada nos governos de Margareth Thatcher (Reino Unido) e Ronald Reagan (Estados Unidos). O neoliberalismo
parte do princípio de que o mercado regula a sociedade. O mercado tem um papel mínimo, restando a ele e às empresas privadas o papel
de atender à sociedade.
Saiba mais
Historia_da_Educacao.indd 128 29/08/2013 16:01:42
Capítulo 7
História da Educação
129
de atender, minimamente, aos países pobres, para não gerar um povo revoltoso ou revolucionário.
As consequências desta política podem ser duramente percebi-das na educação brasileira. Como sustenta Andrioli (2002), podemos levantar alguns pontos que refletem essas consequências:
1 – Menos recursos, por dois motivos principais: a) diminui-ção da arrecadação (através de isenções, incentivos, sonega-ção); b) não aplicação dos recursos e descumprimento de leis;
2 – Prioridade no Ensino Fundamental, como responsabilida-de dos Estados e Municípios (a Educação Infantil é delegada aos municípios);
3 – O rápido e barato é apresentado como critério de eficiência;
4 – Formação menos abrangente e mais profissionalizante;
5 – A maior marca da subordinação profissionalizante é a re-forma do ensino médio e profissionalizante;
6 – Privatização do ensino;
7 – Municipalização e “escolarização” do ensino, com o Es-tado repassando adiante sua responsabilidade (os custos são repassados às prefeituras e às próprias escolas);
8 – Aceleração da aprovação para desocupar vagas, tendo o agravante da menor qualidade;
9 – Aumento de matrículas, como jogo de marketing (são feitas apenas mais inscrições, pois não há estrutura efetiva para novas vagas);
10 – A sociedade civil deve adotar os “órfãos” do Estado (por exemplo, o programa “Amigos da Escola”). Se as pessoas não tiverem acesso à escola a culpa é colocada na sociedade que “não se organizou”, isentando, assim, o governo de sua responsabilidade com a educação;
11 – O Ensino Médio dividido entre educação regular e profissionalizante, com a tendência de priorizar este último: “mais ‘mão de obra’ e menos consciência crítica”;
12 – A autonomia é apenas administrativa. As avaliações, livros didáticos, currículos, programas, conteúdos, cursos de formação, critérios de “controle” e fiscalização continuam dirigidos e centralizados. Mas, no que se refere à parte financeira (como infraestrutura, merenda, transporte), passa a ser descentralizada;
Historia_da_Educacao.indd 129 29/08/2013 16:01:42
História da Educação
FAEL
130
13 – Produtividade e eficiência empresarial (máximo resulta-do com o menor custo): não interessa o conhecimento crítico;
14 – Nova linguagem, com a utilização de termos neoliberais na educação;
15 – Modismo da qualidade total (no estilo das empresas pri-vadas) na escola pública, a partir de 1980;
16 – Os PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) são ambí-guos (possuem 2 visões contraditórias), pois se, por um lado, aparece uma preocupação com as questões sociais, com a pre-sença dos temas transversais como proposta pedagógica e a participação de intelectuais progressistas, por outro, há todo um caráter de adequação ao sistema de qualidade total e a reti-rada do Estado. É importante recordar que os PCNs surgiram já no início do 1º mandato de FHC, quando foi reunido um grupo de intelectuais da Espanha, Chile, Argentina, Bolívia e outros países que já tinham realizado suas reformas neolibe-rais, para iniciar esse processo no Brasil. A parte considerada progressista não funciona, já que a proposta não vem acom-panhada de políticas que assegurem sua efetiva implantação, ficando na dependência das instâncias da sociedade civil e dos próprios professores.
17 – Mudança do termo “igualdade social” para “equidade social”, ou seja, não há mais a preocupação com a igualdade como direito de todos, mas somente a “amenização” da desi-gualdade;
18 – Privatização das Universidades;
19 – Nova LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-nal) determinando as competências da federação, transferindo responsabilidades aos Estados e Municípios;
20 – Parcerias com a sociedade civil (empresas privadas e orga-nizações sociais) (ANDRIOLI, 2002, [s. p.]).
Transferência de responsabilidades, parcerias, foco longe da qualidade, priorização de uma educação rápida e, de preferência, sem repetência, entre outros fatores lidos anteriormente, marcaram a política e o período, e permanecem até os dias atuais. Lamentavelmente, podemos visualizar que, por trás de um discurso de ajuda internacional, o que realmente aconteceu foi um controle das potências em relação aos países periféricos, sendo normal a ausência do Estado. Tentando “remar contra a maré”, movimentos e educadores posicionaram-se contra este sistema. A busca pela democracia e qualidade de ensino permeou a história da educação
Historia_da_Educacao.indd 130 29/08/2013 16:01:42
Capítulo 7
História da Educação
131
brasileira, como descrito no capítulo anterior. No entanto, essa luta foi e é muito difícil mediante os instrumentos legais e ações do Estado.
Sugestão de Leitura
Para ampliar o estudo e conhecimento sobre a atuação das agências multi-nacionais e sua interferência na educação brasileira é interessante a leitura da obra citada:
OLIVEIRA, R. de. Agências multinacionais e a educação profis-sional brasileira. Campinas: Alínea, 2006.
Sugestão de Leitura
Mundo globalizado e sociedade de comunicaçãoConcomitantemente às práticas neoliberais, anda a chamada
globalização, influência de métodos e recursos. Vivemos um período em que o mundo está interligado, no sentido positivo ou negativo, dependendo do ponto de vista. Atualmente, as notícias e informações podem transitar de uma parte do mundo para outra em fração de segundos. A era da comunicação (por meio do rádio, telefone, televisão e, principalmente, da internet) faz o mundo estar interligado. O fluxo de informações tornou-se cada vez maior, a sua transmissão também tenta seguir o mesmo ritmo. Por outro lado, a globalização também procura transmitir uma homogeneidade cultural e uma política mundial.
Além de afetar o âmbito político, econômico e social, a globalização alcança o espaço da educação. Neste sentido, Dale (2004) apresenta duas abordagens que relacionam a globalização e a educação. A primeira, chamada de Cultura Educacional Mundial Comum, (CEMC), criada por John Meyer, “defende que o desenvolvimento dos sistemas educativos nacionais e as curriculares se explicam através de modelos universais de educação, de estado e de sociedade, mais do que através de fatores nacionais distintivos” (DALE, 2004, p. 425). A segunda abordagem, desenvolvida pelo autor através de estudos recentes sobre economia política internacional, é chamada de Agenda Global
Historia_da_Educacao.indd 131 29/08/2013 16:01:42
História da Educação
FAEL
132
Estruturada para a Educação (AGEE). Nestes últimos estudos de Dale, baseia-se em trabalhos recentes de economia política internacional que encaram “a mudança de natureza da economia capitalista mundial como a força directora da globalização e procuram estabelecer o seus efeitos, ainda que intensamente mediados pelo local, sobre os sistemas educativos” (DALE, 2004, p. 426).
Baseada no estudo de Dale (2004), Enes (2010) apresenta uma síntese comparativa entre a AGEE e a CEMC:
a diferença fundamental entre as abordagens CEMC e AGEE reside na compreensão da natureza do fenômeno global. Para a CEMC, a globalização é um reflexo da cultura ocidental, baseada em torno de um conjunto particular de valores que penetram em todas as regiões da vida moderna. Para a AGEE, a globalização é um conjunto de dispositivos político-econômicos para organização da economia global, conduzido pela necessidade de manter o sistema capitalista, mais do que qualquer conjunto de valores.
Outro aspecto relevante das discussões apontadas por Dale (2004) é a teoria da agência e o parque das organizações internacionais que, como estratégia, explicam dados sobre o crescimento dos sistemas educativos, e deixam de lado os fatores econômicos e funcionais do estado nação. Utilizam como argumento a autoridade dos cientistas e especialistas que, com racionalidade técnica, podem acelerar o processo de padronização educacional, por meio de grupos, corpos científicos e profissionais. Esse argumento é ideal para a operação de processos de imitação, difusão de modelos e categorias como deseja a globalização. Essa estratégia é encontrada no trabalho de organizações como a UNESCO, a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, o Banco Mundial e muitas outras que assumem uma pertença global (ENES, 2010, p. 4-5).
Enes (2010) continua sua reflexão afirmando que, apesar do anseio de estabelecer padrões globais para a educação, sabemos que nela não existe uma técnica “para implementar um ‘fazer’ padronizado. Há muitos modelos de desenvolvimento, e na adoção de um desses modelos é mais baseado na política do que nos fundamentos técnicos” (ENES, 2010, p. 5).
Acima podemos conhecer duas teorias sobre a globalização e a educação. Porém, de maneira mais comum, também podemos perceber
Historia_da_Educacao.indd 132 29/08/2013 16:01:42
Capítulo 7
História da Educação
133
a globalização e a sociedade de comunicação como algo que interliga a escola ao restante do mundo. Nesta visão, os atuais educadores precisam ter a consciência de que, atualmente, é quase impossível viver isoladamente (ainda que este isolamento mantenha relações de convivência e importância local). Livros didáticos, internet, correio, jornais e outros meios de comunicação fazem o ser humano entrar em contato, diariamente, com novos conhecimentos, novas culturas e novas informações.
Um profissional da educação dificilmente consegue usufruir das possibilidades de estar ligado ao que acontece no mundo sem dominar a utilização dos recursos tecnológicos. Cada vez mais temos acompanhado a chegada da inclusão digital nas salas de aula, na tentativa de alcançar padrões do que já acontece em muitos países. Uma sociedade globalizada é uma sociedade conectada. Como exemplo desta prática conectada, encontramos cursos a distância, transmitidos por diversas mídias. Com uma sociedade na qual a tecnologia está em constante evolução, a formação não é estática e, muito menos, tem um fim (no sentido de esgotar). Ela passa por um processo de formação continuada.
Vivemos em uma sociedade em que os meios de comunicação têm tomado parte do convívio das pessoas. E as relações sociais e o convívio podem ser mais virtuais do que presenciais. O que não devemos esquecer é que ainda existe um número expressivo de brasileiros que não têm acesso a estas tecnologias, assim, o mundo globalizado é, por efeito, um universo excludente, individualista (paradoxalmente) e competitivo.
As novas leis educacionaisDepois da promulgação da LDB de 1996, novas leis foram
inseridas no contexto educacional, como forma de complementar a organização da escola e do magistério. Dentre elas, podemos citar a Lei n. 10.172, de 9 de janeiro de 2001, que aprova o Plano Nacional de Educação (PNE), a Lei n. 11.494, de 20 de junho de 2007, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) e a Lei n. 10.639, de janeiro de 2003, que estabelece diretrizes e bases da educação nacional e trata da obrigatoriedade da inclusão do tema “história e cultura afro-brasileira” no currículo oficial da rede de ensino.
Historia_da_Educacao.indd 133 29/08/2013 16:01:42
História da Educação
FAEL
134
Sobre a Lei n. 10.172/2001 o plano traz os seguintes objetivos: a elevação global do nível de escolaridade da população; a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; a redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na educação pública; a democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola; e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes (BRASIL, 2001).
Logo a seguir, na descrição dos intuitos propostos, o texto legal já introduz uma justificativa do grau de dificuldade que é transportar para a prática estes objetivos. Alega que “os recursos financeiros são limitados e que a capacidade para responder ao desafio de oferecer uma educação compatível, na extensão e na qualidade, à dos países desenvolvidos precisa ser construída constante e progressivamente [...]” (BRASIL, 2001).
Justificado que a contemplação do texto legal não será tarefa imediata e até (aparentemente) possível, a lei propõe que alguns aspectos passem a ser a prioridade do plano, conforme o “dever constitucional e as necessidades sociais”. Veja na íntegra do texto legal quais são os princípios:
1. Garantia de ensino fundamental obrigatório de oito anos a todas as crianças de 7 a 14 anos, assegurando o seu ingresso e permanência na escola e a conclusão desse ensino. Essa prio-ridade inclui o necessário esforço dos sistemas de ensino para que todas obtenham a formação mínima para o exer-cício da cidadania e para o usufruto do patrimônio cultural da sociedade moderna. O processo pedagógico deverá ser adequado às necessidades dos alunos e corresponder a um ensino socialmente significativo. Prioridade de tempo inte-gral para as crianças das camadas sociais mais necessitadas.
2. Garantia de ensino fundamental a todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria ou que não o concluíram. A erradicação do analfabetismo faz parte dessa prioridade, considerando-se a alfabetização de jovens e adultos como ponto de partida e parte intrínseca desse nível de ensino. A alfabetização dessa população é entendida no sentido amplo de domínio dos instrumentos básicos da cultura letrada, das operações matemáticas elementares, da
Historia_da_Educacao.indd 134 29/08/2013 16:01:42
Capítulo 7
História da Educação
135
evolução histórica da sociedade humana, da diversidade do espaço físico e político mundial e da constituição da sociedade brasileira. Envolve, ainda, a formação do cidadão responsável e consciente de seus direitos e deveres.
3. Ampliação do atendimento nos demais níveis de ensino – a educação infantil, o ensino médio e a educação superior. Está prevista a extensão da escolaridade obrigatória para crianças de seis anos de idade, quer na educação infantil, quer no ensino fundamental, e a gradual extensão do acesso ao ensino médio para todos os jovens que completam o nível anterior, como também para os jovens e adultos que não cursaram os níveis de ensino nas idades próprias. Para as demais séries e para os outros níveis, são definidas metas de ampliação dos percentuais de atendimento da respectiva faixa etária. A ampliação do atendimento, neste plano, significa maior acesso, ou seja, garantia crescente de vagas e, simultaneamente, oportunidade de formação que corresponda às necessidades das diferentes faixas etárias, assim como, nos níveis mais elevados, às necessidades da sociedade, no que se refere a lideranças científicas e tecnológicas, artísticas e culturais, políticas e intelectuais, empresariais e sindicais, além das demandas do mercado de trabalho. Faz parte dessa prioridade a garantia de oportunidades de educação profissional complementar à educação básica, que conduza ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia.
4. Valorização dos profissionais da educação. Particular atenção deverá ser dada à formação inicial e continuada, em especial dos professores. Faz parte dessa valorização a garantia das condições adequadas de trabalho, entre elas o tempo para estudo e preparação das aulas, salário digno, com piso salarial e carreira de magistério.
5. Desenvolvimento de sistemas de informação e de avaliação em todos os níveis e modalidades de ensino, inclusive educação profissional, contemplando também o aperfeiçoamento dos processos de coleta e difusão dos dados, como instrumentos indispensáveis para a gestão do sistema educacional e melhoria do ensino (BRASIL, 2001, grifos do autor).
Assim, como prioridades temos a obrigatoriedade de oito anos escolares para o ensino fundamental, garantia de acesso à escola para aqueles que não a frequentaram em idade escolar adequada ( priorizando
Historia_da_Educacao.indd 135 29/08/2013 16:01:42
História da Educação
FAEL
136
o fim do analfabetismo), o atendimento progressivo à educação infantil, ensino médio e ensino superior, valorização do profissional do magistério (formação, tempo para preparar aula, salário, condições de trabalho, etc.) e desenvolvimento de sistemas de informação e de avaliação. Sabemos que essas prioridades estão distantes de serem concretizadas. Ainda há um longo caminho para que a Lei esteja completamente em prática, no entanto, o fato dela existir já é um passo. Após estas apresentações, a Lei reflete sobre os níveis de ensino, as modalidades de ensino, o magistério da educação básica e o financiamento e gestão em três níveis: diagnóstico, diretrizes, objetivos e metas.
Sugestão de LeituraO espaço não permite uma explanação detalhada deste conteúdo, mas o leitor poderá conferir o texto integral da Lei n. 10.172/2001 no site do pla-nalto do governo, acessando o link <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10172.htm>.
BRASIL. Lei n. 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. Brasília, jan. 2001. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10172.htm>. Acesso em: 14 nov. 2012.
Sugestão de Leitura
A Constituição de 1988 promulgou que 25% da receita dos impostos deveriam estar destinados para a Educação. Em 1996, 60% desse percentual foi vinculado ao ensino fundamental, mediante Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), que funcionou de 1997 até 2006, quando foi substituído pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).
Sena (2008) nos traz uma listagem que permite visualizar as características do Fundeb que foram adotadas diretamente do Fundef:
• natureza contábil do fundo;• contas únicas e específicas com repasses automáticos;
Historia_da_Educacao.indd 136 29/08/2013 16:01:42
Capítulo 7
História da Educação
137
• âmbito de cada estado, sem comunicação de recursos para além das fronteiras estaduais;
• aplicação de diferentes ponderações para etapas e modali-dades de ensino e tipos de estabelecimento;
• controle social e acompanhamento exercido por conselhos nas três esferas federativas;
• destinação a ações de manutenção e desenvolvimento do ensino na educação básica (Art. 70 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB);
• possibilidade de retificação dos dados do censo por de-manda dos entes federados;
• complementação da União (SENA, 2008, p. 322).
O projeto do Fundeb está programado para funcionar de 2007 a 2020, atuando em toda a educação básica – da creche ao ensino médio e pretende redistribuir os recursos da educação. Essa distribuição é rea-lizada de acordo com o censo escolar do ano anterior de cada escola.
O Fundeb está presente em todos os estados e no Distrito Federal. A sua renda é composta de 20% das receitas do Fundo de Participação dos Estados (FPE); Fundo de Participação dos Municípios (FPM); Imposto de Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações (IPIexp); Desoneração das Exportações (LC n. 87/96); Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações (ITCMD); Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA); e de cota parte de 50% do Imposto Territorial Rural (ITR) devida aos municípios.
Conforme informações do site oficial do governo, o aporte de recursos do governo federal destinados ao Fundeb alcançou suas metas numéricas em apenas três anos de funcionamento. Observe o quadro:
Quadro 1
RECEITA/ANO 2007 2008 2009 2010/2020FPE 16,66% 18,33% 20%
FPM 16,66% 18,33% 20%
ICMS 16,66% 18,33% 20%
IPIexp 16,66% 18,33% 20%
Desoneração Exportações
16,66% 18,33% 20%
Historia_da_Educacao.indd 137 29/08/2013 16:01:42
História da Educação
FAEL
138
RECEITA/ANO 2007 2008 2009 2010/2020ITCMD 6,66% 13,33% 20%
IPVA 6,66% 13,33% 20%
ITR – Cota Municipal
6,66% 13,33% 20%
Complementação da União
R$ 2 bilhões
R$ 3,2 bilhões
R$ 5,1 bilhões
10%
Fonte: FNDE (2012, [s. p.]).
Os valores são definidos anualmente e também levam em conside-ração fatores de ponderação que podem variar de acordo com desdo-bramentos da educação básica, como sugere a lista a seguir.
1. Creche pública em tempo integral2. Creche pública em tempo parcial3. Creche conveniada em tempo integral4. Creche conveniada em tempo parcial5. Pré-escola em tempo integral6. Pré-escola em tempo parcial7. Anos iniciais do ensino fundamental urbano8. Anos iniciais do ensino fundamental no campo9. Anos finais do ensino fundamental urbano10. Anos finais do ensino fundamental no campo11. Ensino fundamental em tempo integral12. Ensino médio urbano13. Ensino médio no campo14. Ensino médio em tempo integral
15. Ensino médio integrado à educação profissional
16. Educação especial
17. Educação indígena e quilombola
18. Educação de jovens e adultos com avaliação no processo
19. Educação de jovens e adultos integrada à educação profissio-nal de nível médio, com avaliação no processo.
Historia_da_Educacao.indd 138 29/08/2013 16:01:42
Capítulo 7
História da Educação
139
Não nos alongaremos na discussão sobre o Fundef, visto que o tema já foi mais amplamente abordado no livro Políticas Públicas e Legislação Educacional, de Diana Cristina de Abreu.
Para finalizar esta seção, queremos mencionar que, em meio a tantas discussões sobre as práticas neoliberais e o processo de globalização que invade o século XXI, algumas discussões, no sentido de valorar e respeitar o ser humano, ainda tentam florescer. Para complementar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996, foram publicadas emendas e reformulados artigos. Como exemplo, apontamos a Lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “história e cultura afro-brasileira”. A Lei estabelece, em seus artigos e parágrafos, que:
Art. 26-A Nos estabelecimentos de ensino fundamental e mé-dio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.
§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste Art. incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinentes à História do Brasil.
§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasi-leira serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras.
Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como “Dia Nacional da Consciência Negra” (BRASIL, 2003).
É notório que a Lei reflete uma luta do movimento social negro. Para Rocha (2006), ao analisarmos a Lei, podemos vislumbrar dois pontos de partida. Ela pode ser considerada uma política afirmativa que representa avanços significativos na educação e relações sociais? Ou ela faz parte de uma estratégia das políticas dominantes de financiamento que dão uma falsa autonomia, sentido e significado mínimo para os países dominados? Até que ponto a Lei representa uma luta ou uma concessão?
Historia_da_Educacao.indd 139 29/08/2013 16:01:42
História da Educação
FAEL
140
Nosso país é fruto da herança da miscigenação que aconteceu entre povos (principalmente na mistura entre índios, europeus e africanos). Devido ao intenso processo de escravidão, o Brasil é um dos lugares com a maior quantidade de afrodescendentes. A contribuição do povo africano em todos os aspectos da cultura brasileira é inegável. Muito tempo foi desperdiçado ao se deixar de lado o estudo e a valorização desta contribuição social.
Seria muita ingenuidade imaginar que a Lei só foi aprovada porque instâncias maiores queriam dar um mínimo significado para as classes populares brasileiras, como se dessem um pouco de felicidade para abafar possíveis revoltas sociais (como o pensamento neoliberal poderia imaginar). A Lei reflete uma intensa luta pela igualdade das relações raciais e sociais. Pressões e discussões foram calorosamente realizadas até a publicação do texto legal. Se isso precisou tornar-se obrigatório é porque, na prática, o tema não era considerado natural ou corriqueiro. Foi necessária uma lei para “forçar” escolas e educadores a darem o devido valor para o assunto. Desta feita, concordamos com a afirmação de Rocha (2006, p. 113):
[...] nosso entendimento é o de que a Lei 10.639/03, se tra-balhada dentro da perspectiva da superação da ideologia de dominação racial, pode constituir-se como um instrumen-to importante, no campo do currículo, para a explicitação das contradições presentes no sistema econômico do capi-tal. Aliando o específico ao universal, na perspectiva de superação das bases constitutivas das desigualdades raciais e sociais. Assim posto, os conteúdos relacionados à cultura e à história da África e dos negros brasileiros poderão atuar no sentido de expor as lacunas e as ideias que fundamen-taram a ideologia de dominação racial. [...] Ao explicitar as lacunas, os silêncios, a base constitutiva da ideologia de dominação racial, a Lei colocará em xeque pilares estrutu-rais da produção das desigualdades raciais e sociais no país e, consequentemente, pilares que dão sustentação ao atual ordenamento econômico mundial.
A lei é um instrumento contraideológico, que busca uma afirmação racial, inter-racial e de aceitação de identidades. Em busca da superação do preconceito e do conhecimento histórico de um povo, a história da África, dos africanos e dos descendentes de africanos é, hoje, um conteúdo obrigatório em todas as escolas do Brasil. Um dos entraves
Historia_da_Educacao.indd 140 29/08/2013 16:01:43
Capítulo 7
História da Educação
141
da transmissão desse conteúdo é que nem todos os professores possuem formação adequada, já que profissionais formados há anos não tiveram, em sua matriz curricular de magistério ou faculdade, este tema, pois, em nível de formação de educadores, isso também só se tornou mais visível depois da Lei. Cursos de História, de graduação e pós-graduação, reorganizaram-se para contemplar o conteúdo. Os livros didáticos, essencialmente os de História, são crivados pelos analistas do MEC, um dos critérios é a presença do estudo sobre a cultura afro-brasileira (e indígena) desprendida de estigmas e preconceitos.
Para não cair em conflitos com outros grupos etnorraciais que poderiam receber igual ênfase na legislação educacional (por alegar semelhante importância na contribuição do povo brasileiro), a Lei n. 9.394/96, no Art. 25, parágrafo 4º, afirma que “o ensino da história e do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígenas, africanas e europeias” (BRASIL, 1996).
Em 2008, por conta de discussões, luta de representantes de gru-pos indígenas e valorização do povo (que já habitava nessas terras antes de serem chamadas de Brasil) foi reformulada a redação do Art. 26 com a Lei n. 11.645/2008 para o seguinte texto:
Art. 26-A Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o es-tudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.
§ 1o O conteúdo programático a que se refere este artigo inclui-rá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos ét-nicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da socie-dade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil.
§ 2o Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileiras” (NR).
Assim a Lei n. 11.645, de 10 de março de 2008, modificou e com-plementou a Lei n. 10.639 (que já em 2003 incluía a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira no currículo oficial da
Historia_da_Educacao.indd 141 29/08/2013 16:01:43
História da Educação
FAEL
142
Rede de Ensino), ampliando a obrigatoriedade para o ensino dos povos indígenas na formação da sociedade, bem como as suas contribuições. Cabe, agora, a escola formar cidadãos conscientes de sua história e diver-sidade cultural, acabando com as práticas de discriminação, racismo e violência. Pois as leis não servem apenas de uma afirmação social, mas porque não dizer, de transformação.
Desafios e perspectivasApesar de todas as concepções educacionais, de todos os movimen-
tos pela educação e do (a nosso ver) pouco investimento, a educação brasileira ainda tem muitos desafios pela frente. Nosso país ainda pos-sui pessoas analfabetas ou analfabetas funcionais (que sabem ler, mas não compreendem a língua). Nossas escolas continuam tendo prédios antigos e sem estrutura e nossos profissionais da educação permanecem esperando a remuneração almejada.
Se fôssemos listar todos os desafios que a educação brasileira ainda tem para superar, faríamos uma longa lista, mas vamos elencar apenas alguns pontos, para deixar como provocação e reflexão para o leitor.
● Reformulação da lei em aspectos inoperantes.
● Discussão de uma legislação que represente o pensamento educacional e não o político.
● Definição clara de uma proposta pedagógica adequada para a realidade brasileira.
● Preparação adequada e competente de profissionais da educação.
● Contratação de funcionários formados e capacitados para o ato de lecionar.
● Revisão da estrutura funcional das instituições de ensino.
● Democratização verdadeira e acesso à escola pública.
● Valorização do profissional da educação em aspectos como tempo de trabalho, condições e salário.
● Atendimento adequado a alunos, respeitando suas necessida-des especiais.
Historia_da_Educacao.indd 142 29/08/2013 16:01:43
Capítulo 7
História da Educação
143
● Construção de escolas equipadas e adequadas para a realidade.
● Criação de meios coerentes de fiscalização e avaliação do sis-tema escolar.
● Melhoria da relação escola X família X comunidade.
Enfim, são inúmeros os pontos a serem pensados. Além de todas as questões políticas e burocráticas, precisamos considerar que, em uma sociedade de informação, as metodologias e formas de aprender pre-cisam ser reavaliadas. Gadotti (2000), pautado nas ideias de Jacques Delore (1998), faz uma reflexão sobre a educação do futuro. O autor aponta alguns princípios que devemos seguir para caminhar na educa-ção do século XXI: aprender a conhecer; aprender a fazer; aprender a viver juntos; aprender a ser.
Baseado nas informações levantadas por Gadotti (2000, p. 9-11), verificamos as particularidades de cada pilar anteriormente citado.
Quadro 2
PILAR PRINCÍPIO
Aprender a conhecerAprender a compreender, a pensar. Reinventar o pensar e reinventar o futuro. É mais do que
aprender a aprender.
Aprender a fazer
Competência para enfrentar situações. Trabalho em equipe. Vai além da qualificação
profissional (lembrando que muitos dos afazeres hoje são substituídos por máquinas).
Aprender a viver juntosViver em conjunto. Administrar conflitos.
Participar de projetos comuns.
Aprender a ser
Desenvolvimento pleno do ser humano: criati-vidade, espiritualidade, inteligência, inicia-tiva, pensamento autônomo e crítico, entre
outros fatores.
Fonte: Gadotti (2000, p. 9-10).
O autor completa seu pensamento citando algumas categorias necessárias para que a educação se desenvolva, como exemplo:
● cidadania;
● planetariedade;
Historia_da_Educacao.indd 143 29/08/2013 16:01:43
História da Educação
FAEL
144
● sustentabilidade;
● virtualidade;
● globalização;
● transdisciplinariedade;
● dialogicidade ou dialeticidade.
O certo é que a educação brasileira já conseguiu superar muitos desafios educacionais. Retornando ao início deste livro, quando verificamos as ações desenvolvidas pelos jesuítas com objetivos de catequização e de dominação, passamos por tendências tradicionais, religiosas, laicas, que privilegiavam ora o professor, ora o aluno, que procuravam a transformação da sociedade ou a sua manutenção.
Se quisermos vislumbrar um futuro melhor para a educação brasileira, um dos primeiros passos será cumprirmos o papel de cidadãos, no exercício da democracia, de maneira consciente e ativa. É importante escolhermos melhor nossos representantes políticos, que, afinal, estarão criando, promulgando, assinando e vetando as leis que podem beneficiar a população brasileira. Cabem, também, aos cursos de formação de profissionais da educação capacitar educadores capazes de romper com as amarras do sistema e colaborarem para uma transformação social. Ou seja, a educação brasileira é responsabilidade de todos.
Da teoria para a práticaA Lei n. 10.639/2003 decretou, em calendário escolar, a inclusão
do “Dia da Consciência Negra”. A data foi escolhida por fazer alusão ao dia da morte de Zumbi dos Palmares, em 1695. Zumbi foi um dos líderes mais conhecidos do movimento negro de resistência da escravidão. Ele era o líder do Quilombo de Palmares, um refúgio tão grande que estudiosos estimam que tivesse o tamanho aproximado do país de Portugal.
Essa lei vigora na prática? As escolas realizam alguma come-moração no dia 20 de novembro? É uma lembrança isolada e reali-
Historia_da_Educacao.indd 144 29/08/2013 16:01:43
Capítulo 7
História da Educação
145
zada somente no dia ou existem práticas diárias de conscientização? Verifique, em uma escola, estas questões e aproveite para analisar o livro didático de História selecionado pela instituição, verificando se ele traz informações sobre a cultura afro-indígena e sob qual perspec-tiva elas são expressas.
SínteseNo decorrer do capítulo, montamos um breve panorama de pontos
que interferiram na educação brasileira a partir de 1990. Observamos que, com a política neoliberal, a educação passou a ser tratada como uma mercadoria comercial. De maneira crescente, o governo federal procurou isentar-se de suas responsabilidades, realizando financiamentos e deslocando o compromisso para outras instâncias.
Verificamos que a globalização pode ser vista como algo positivo ou negativo. Positivo, por interligar os povos e realizar a comunicação entre todos, transmitindo informações cada vez mais rápidas. Negativo, por querer igualar as condutas sociais e espalhar modelos a serem seguidos.
Com as novas legislações, grupos sociais antes marginalizados conseguiram reconhecimento e espaço no currículo escolar. O estudo obrigatório da cultura afro-indígena representou o rompimento de barreiras sociais e valorização da identidade nacional. Por fim, provocamos a reflexão sobre pontos e atitudes que precisam ser tomadas para uma educação do futuro.
Historia_da_Educacao.indd 145 29/08/2013 16:01:43
147
50 QUESTÕES básicas sobre construtivismo. In: Revista Nova Esco-la. Editora Abril: março de 1995. Disponível em: <http://www.ufpa.br/eduquim/construtquestoes.htm>. Acesso em 29/03/2013.
ABREU, D. C. Políticas públicas e legislação educacional. Curitiba: Fael, 2011.
ALMEIDA, D. D. M.; ALVES, M. L. Considerações sobre a influ-ência de Montessori na educação Brasileira. In: ROHRS, H. Maria Montessori. Recife: Fundação Joaquim Nabuco; Editora Massangana, 2010.
ALMEIDA, J. S. de. Indícios do sistema coeducativo na formação de professores pelas escolas normais durante o regime republicano em São Paulo (1890/1930). Educar em Revista, Curitiba, n. 35, 2009.
ANDRIOLI, A. I. As políticas educacionais no contexto do neolibe-ralismo. Espaço Acadêmico, ano 2, n. 13, jun. 2002. Disponível em: <http://www.espacoacademico.com.br/013/13andrioli.htm>. Acesso em: 17 jul. 2012.
ARIAS, J. O. C.; YERA, A. P. O que é a pedagogia construtivista. Edu-cação Pública, Cuiabá, v. 5, n. 8, p. 11-22, jul./dez. 1996. Disponível em: <http://ie.ufmt.br/revista/userfiles/file/n08/8_O_fazer_pedagagi-co.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2012.
AZEVEDO, F. (Org.). A recontrução educacional no Brasil: ao povo e ao governo. Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova. São Paulo: Nacional, 1932.
AZEVEDO, F. de. A cultura brasileira. 5. ed. São Paulo: Melhora-mentos; INL, 1976.
Referências
Historia_da_Educacao.indd 147 29/08/2013 16:01:43
História da Educação
FAEL
148
BEISIEGEL, C. R. Paulo Freire. Recife: Fundação Joaquim Nabuco; Editora Massangana, 2010. (Coleção Educadores.)
BOMENY, H. M. B. Três decretos e um ministério: a propósito da educação no Estado Novo. In: PANDOLFI, D. Repensando o Estado Novo. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1999.
BOSI, A. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
BOTO, C. A dimensão iluminista da reforma pombalina dos estu-dos: das primeiras letras à universidade. Revista Brasileira de Edu-cação, Rio de Janeiro, v. 15, n. 44, maio/ago. 2010. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782010000200006&lang=pt>. Acesso em: 27 maio 2013.
BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil de 1988. Brasília: Senado Federal, 1988.
______. Lei n. 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. Altera a redação dos arts. 29, 30, 32 e 87 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, dispondo sobre a duração de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. Brasília: 6 fev. 2006.
______. Decreto n. 2.072, de 8 de março de 1940. Dispõe sobre a obrigatoriedade da educação cívica, moral e física da infância e da ju-ventude, fixa as suas bases, e para ministrá-la organiza uma instituição nacional denominada Juventude Brasileira. Brasília: 8 mar. 1940.
______. Lei n. 1.076, de 31 de março de 1950. Assegura aos estudan-tes que concluírem curso de primeiro ciclo do ensino comercial, indus-trial ou agrícola, o direito à matrícula nos cursos clássico e científico, e dá outras providências. Brasília: 31 mar. 1950.
______. Lei n. 1.821, de 12 de março de 1953. Dispõe sobre o regi-me de equivalência entre diversos cursos de grau médio para efeito de matrícula no ciclo colegial e nos cursos superiores. Brasília: 12 mar. 1953.
______. Lei n. 4.024, de 20 de dezembro de 1961. Fixa as diretrizes e bases da educação nacional. Brasília: 20 dez. 1961.
Historia_da_Educacao.indd 148 29/08/2013 16:01:43
História da Educação
149
______. Lei n. 5.540, 28 de novembro de 1968. Fixa normas de or-ganização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola média, e dá outras providências. Brasília: 28 nov. 1968.
______. Lei n. 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa as diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras providências. Brasília: 11 ago. 1971.
______. Lei n. 9.394, 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretri-zes e bases da educação nacional. Brasília: 20 dez. 1996.
______. Lei n. 10.172, de 9 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Na-cional de Educação e dá outras providências. Brasília, jan. 2001. Dis-ponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LEIS_2001/L10172.htm>. Acesso em: 14 nov. 2012.
______. Lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Altera a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira”, e dá outras providências. Brasília: 9 jan. 2003.
______. Lei n. 11.494, de 20 de junho de 2007. Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias; altera a Lei n. 10.195, de 14 de fevereiro de 2001; revoga dispositivos das Leis n. 9.424, de 24 de dezembro de 1996, 10.880, de 9 de junho de 2004, e 10.845, de 5 de março de 2004; e dá outras providências. Brasília: 20 jun. 2007.
______. Lei n. 11.645, de 10 de março de 2008. Altera a Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei n. 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacio-nal, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. Brasília: 10 mar. 2008.
BURMESTER, A. M. O. A história cultural: apontamentos, conside-rações. ArtCultura, Uberlândia, v. 5, n. 6, jan./jun. 2003.
CAMBI, F. História da pedagogia. São Paulo: Unesp, 1999.
Historia_da_Educacao.indd 149 29/08/2013 16:01:43
História da Educação
FAEL
150
CARDOSO FILHO, R. São José, o Colégio de Castro: 1904-1994. 311 f. Tese. (Doutorado em Educação) – Universidade Federal do Pa-raná, Curitiba, 2009.
CARDOSO, T. F. L. As aulas régias no Brasil. In: STEPHANOU, M.; BASTOS, M. H. C. Histórias e memórias da educação no Brasil: Séculos XVI-XVIII. Petrópolis: Vozes, 2004. (v. 1.)
CARVALHO, M. M. C. A configuração da historiografia educacional brasileira. In: FREITAS, M. C. (Org.). Historiografia brasileira em perspectiva. São Paulo: Contexto, 2003.
______. In: VIDAL, D. G. Culturas escolares: estudo sobre práticas de leitura e escrita na escola pública primária (Brasil e França, final do século XIX). Campinas: Autores Associados, 2005.
CÉSAR, E. M. L. História da evangelização do Brasil – dos jesuítas aos neopentecostais. Viçosa: Ultimato, 2000.
CHAMBOULEYRON, R. Jesuítas e as crianças no Brasil Quinhentis-ta. In: DEL PRIORE, M. História das crianças no Brasil. Campinas: Contexto, 1999. Disponível em: <http://pt.scribd.com/doc/19449677/Jesuitas-e-as-Criancas-no-Brasil-Quinhentista-Raphael-Chambou-leyron>. Acesso em: 14 nov. 2012.
CHARTIER, R. A história cultural: entre práticas e representações. Lisboa: DIFEL; Rio de Janeiro: Bertrand do Brasil, 1998.
CUNHA, L. A.; GÓES, M. de. O golpe na educação. 11. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002.
DALE, R. Globalização e educação: demonstrando a existência de uma “cultura educacional mundial comum” ou localizando uma “agenda globalmente estruturada para a educação”? Educação e Sociedade, Campinas, v. 25, n. 87, p. 423-460, maio/ago. 2004. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/es/v25n87/21464.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2012.
ELIAS, B. V. Inovação americana na educação do Brasil. Nossa Histó-ria, São Paulo, n. 23, p. 81-83, set. 2005.
ENES, E. N. S. Globalização e educação. Revista Eletrônica Multi-disciplinar Pindorama do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Historia_da_Educacao.indd 150 29/08/2013 16:01:43
História da Educação
151
Tecnologia da Bahia – IFBA, ano 1, n. 1, p. 1-14, ago. 2010. Dispo-nível em: <http://www.revistapindorama.ifba.edu.br/files/Eliene%20Nery%20UNIVALE%20MG.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2012.
FÁVERO, O. MEB – Movimento de Educação de Base. Primeiros tempos: 1961-1966. texto apresentado no 5º Encontro Luso-Brasileiro de História da Educação, 2004, Évora, Portugal. Disponível em: <http://forumeja.org.br/files/meb_historico.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2012.
FERREIRA JUNIOR, A.; BITTAR, M. Educação e ideologia tecno-crática no Regime Militar. Caderno Cedes, Campinas, v. 28, n. 76, p. 333-335, set./ dez. 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scie-lo.php?pid=S0101-32622008000300004&script=sci_arttext>. Aces-so em: 21 nov. 2012.
FONSECA. S. M. Aulas Régias. Disponível em: <http://www.histe-dbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_aulas_regias.htm>. Acesso em: 14 nov. 2012.
FRANCISCO FILHO, G. A educação brasileira no contexto histó-rico. 2. ed. Campinas: Alínea, 2004.
FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M. (Coord.). Caminhos para a rede-finição da política pública para a educação tecnológica e o sistema de formação profissional continuada: proposições. Niterói, 2002 (mimeo).
______. Educação Básica no Brasil na década de 1990: subordinação ativa e consentida à lógica do mercado. Educ. Soc., Campinas, v. 24, n. 82, p. 93-130, abr. 2003.
FUNDEB. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Fi-nanciamento da Educação. Funcionamento. Disponível em: <http://www.fnde.gov.br/index.php/fundeb-funcionamento>. Acesso em: 14 nov. 2012.
GADOTTI, M. Perspectivas atuais da educação. São Paulo em Pers-pectiva, n. 14, 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/spp/v14n2/9782.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2012.
GERMANO, J. W. Estado militar e educação no Brasil (1964-1985). São Paulo: Cortez, 1994.
______. ______. 2. ed. São Paulo: Cortez, 2000.
Historia_da_Educacao.indd 151 29/08/2013 16:01:43
História da Educação
FAEL
152
GIRON, G. R. Políticas públicas, educação e neoliberalismo: o que isso tem haver com cidadania? Revista de Educação PUC-Cam-pinas, n. 24, p. 17-26, jun. 2008. Disponível em: <http://profes-sor.ucg.br/SiteDocente/admin/arquivosUpload/3172/material/Pol%C3%ADticas_p%C3%BAblicas.pdf>. Acesso em: 14 nov. 2012.
LOPES, E. M. T. Perspectivas históricas da educação. 5. ed. São Paulo: Ática, 2009.
MACIEL, L. S. B.; SHIGUNOV NETO, A. A educação brasileira no período pombalino: uma análise histórica das reformas pombali-nas do ensino. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 32, n. 3, set./ dez. 2006. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-97022006000300003&lang=pt>. Acesso em: 14 nov. 2012.
MANACORDA, M. A. História da educação: da Antiguidade aos nossos dias. São Paulo: Cortez; Autores Associados, 1989.
MARX, K. O 18 Brumário e carta a Kugelmann. 6. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1997.
______; ENGELS, F. Crítica da educação e do ensino. Lisboa: Moraes, 1978.
MESQUIDA, P. Hegemonia norte-americana e educação protestan-te no Brasil: um estudo de caso. Juiz de Fora: EDUFJF; São Bernardo do Campo: Editeo, 1994.
OLIVEIRA, R. P. O direito à educação na Constituição Federal de 1988 e seu restabelecimento pelo sistema de Justiça. Revista Brasileira de Educação, n. 11, p. 61-74, maio/jun./jul./ago. 1999.
ORGANIZAÇÃO Maria Montessori. Disponível em: <http://www.omb.org.br/escolas.php>. Acesso em: 29 março 2013.
OTRANTO, C. R. A nova LDB da educação nacional: seu trâmite no Congresso e as principais propostas de mudança. Revista Universida-de Rural, v. 18, n. 1-2, dez. 1996. (Série Ciência Humanas.)
RIBEIRO, M. L. S. História da educação brasileira: a organização escolar. 15. ed. Campinas: Autores Associados, 1998.
ROCHA, L. C. P. Políticas afirmativas e educação: a lei 10.639/03 no contexto das políticas educacionais no Brasil contemporâneo. 125 f.
Historia_da_Educacao.indd 152 29/08/2013 16:01:43
História da Educação
153
Dissertação (Mestrado em Educação e Trabalho) – Universidade Fede-ral do Paraná, Curitiba, 2006.
ROMANELLI, O. O. História da educação no Brasil: (1930/1973). 36. ed. Petrópolis: Vozes, 2010.
SANGENIS, L. F. C. Gênese do pensamento único da educação: franciscanismo e jesuitismo na educação brasileira. Tese. (Doutorado em Educação) – Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2004. Disponível em: <http://www.uff.br/pos_educacao/ joomla/ima-ges/stories/Teses/luizfsangenis04.pdf.> Acesso em: 22 março 2013.
SANTOS, J. G. Fundamentos, concepção e reflexões sobre a gestão da educação Brasileira. In: Faculdade Educacional da Lapa. Organização e gestão educacional. Curitiba: Fael, 2011. p. 7-124.
SAVIANI, D. As concepções pedagógicas na história da educação brasileira. Disponível em: <http://www.histedbr.fae.unicamp.br/nave-gando/artigos_frames/artigo_036.html>. Acesso em: 14 nov. 2012.
______. Escola e democracia. São Paulo: Autores Associados, 1992.
______. Escola e democracia. 39. ed. Campinas: Autores Associados, 2007.
______. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 10. ed. rev. Campinas: Autores Associados, 2008.
______. Pedagogia histórico-crítica. Disponível em: <http://www.histedbr.fae.unicamp.br/navegando/glossario/verb_c_pedagogia_his-torico.htm>. Acesso em: 14 nov. 2012.
SENA, P. A Legislação do FUNDEB. Cadernos de Pesquisa, v. 38, n. 134, p. 319-340, maio/ago. 2008.
SHIGUNOV NETO, A; MACIEL, L. S. B. O ensino jesuítico no período colonial brasileiro: algumas discussões. Educar em Revista, Curitiba, n. 31, 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-40602008000100011&lang=pt>. Acesso em: 14 nov. 2012.
SOUSA. P. R. C. A Reforma Universitária de 1968 e a expansão do en-sino superior federal brasileiro: algumas ressonâncias. Caderno de His-tória da Educação. Edufu, n. 7, p. 117-134, jan./dez. 2008. Disponível
Historia_da_Educacao.indd 153 29/08/2013 16:01:43
História da Educação
FAEL
154
em: <http://www.seer.ufu.br/index.php/che/article/view/1886/1571>. Acesso em: 14 nov. 2012.
SOUZA, R. F. Templos da civilização: a implantação da escola primá-ria graduada no Estado de São Paulo. São Paulo: UNESP, 1996.
______; FARIA FILHO, L. M. A contribuição dos grupos escolares para a renovação da história do ensino primário no Brasil. In: VIDAL, D. G. (Org.) Grupos escolares: cultura escolar primária e escolariza-ção da infância no Brasil (1893-1971). Campinas: Mercado das Letras, 2006.
VALDEMARIN, V. T.; CAMPOS, D. G. dos S. Concepções pedagó-gicas e método de ensino: o manual didático Processologia na Escola Primária. In: Paidéia (Ribeirão Preto), Ribeirão Preto, v. 17, n. 38, set./dez. 2007.
VIDAL, D. G. Culturas escolares: estudo sobre as práticas de leitura e escrita na escola pública primária (Brasil e França, final do século XIX). Campinas: Autores Associados, 2005.
Historia_da_Educacao.indd 154 29/08/2013 16:01:43