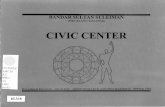Fred Izumi Utsunomiya.pdf - DSpace Home
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of Fred Izumi Utsunomiya.pdf - DSpace Home
UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE
FRED IZUMI UTSUNOMIYA
ANÁLISE DE DISCURSOS DE SITES DE KENJINKAI DO BRASIL: A CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE CULTURAL TIPICAMENTE NACIONAL
São Paulo
2014
FRED IZUMI UTSUNOMIYA
ANÁLISE DE DISCURSOS DE SITES DE KENJINKAI DO BRASIL: A CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE CULTURAL TIPICAMENTE NACIONAL
Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Letras.
Profa. Orientadora: Dra. Diana Luz Pessoa de Barros
São Paulo
2014
U92a Utsunomiya, Fred Izumi. Análise de discursos de sites de Kenjinkai do Brasil : a cons-
trução de uma identidade cultural tipicamente nacional / Fred Izumi Utsunomiya. – 2014.
276 f. : il. ; 30 cm.
Tese (Doutorado em Letras) - Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2014.
Referências bibliográficas: f. 253-264.
1. Kenjinkai. 2. Imigração japonesa. 3. Brasil. 4. Comunida-de Nikkei. 5. Análise de discurso. 6. Identidade cultural. 7. Site institucional. I. Título.
CDD 401.41
FRED IZUMI UTSUNOMIYA
ANÁLISE DE DISCURSOS DE SITES DE KENJINKAI DO BRASIL: A CONSTRUÇÃO DE UMA IDENTIDADE CULTURAL TIPICAMENTE NACIONAL
Tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-graduação em Letras da Universidade Presbiteriana Mackenzie, como requisito parcial para a obtenção do título de Doutor em Letras.
Aprovada em
BANCA EXAMINADORA
___________________________________________________________________
Profa. Dra. Diana Luz Pessoa de Barros - Orientadora Universidade Presbiteriana Mackenzie
___________________________________________________________________
Prof. Dr. José Gaston Hilgert Universidade Presbiteriana Mackenzie
___________________________________________________________________
Prof. Dr. Adolpho Carlos Françoso Queiroz Universidade Presbiteriana Mackenzie
___________________________________________________________________
Prof. Dr. Roberval Teixeira e Silva - Co-orientador Universidade de Macau
___________________________________________________________________
Prof. Dr. Nilton Hernandes
Dedico esta tese
À minha esposa, Mirian,
pelo incondicional apoio
nesta jornada.
Aos meus filhos
Michelle, Gabriel e Leonardo,
pela paciência com a qual
aguardaram a elaboração
deste projeto.
AGRADECIMENTOS
A Deus, por sua graça, direção e provisão constantes.
A meus pais, Hissao e Kiyoko Utsunomiya, sem os quais não teria chegado até aqui.
À professora Dra. Diana Luz Pessoa de Barros, mestre ímpar, orientadora exemplar
e segura. Obrigado pela paciência e pelo apoio e incentivo dados e também pela
insistência para fazer o doutorado sanduíche. Esta foi uma experiência sem igual!
Ao Prof. Dr. Roberval Teixeira e Silva, co-orientador e amigo, pelo cuidado e atenção
a mim dispensados quando estive em Macau.
A todos os professores do Programa de Pós-graduação em Letras da UPM pelas
aulas e experiências transmitidas que tornaram o curso extremamente proveitoso.
Ao prof. Marcos Nepomuceno, amigo que me mostrou o “caminho das Letras”.
Ao prof. Dr. Alexandre Huady, diretor do Centro de Comunicação e Letras por todo o
apoio e companheirismo que recebi como professor doutorando do CCL.
À Universidade Presbiteriana Mackenzie, pela bolsa de doutorado e pelo apoio e
suporte que recebi quando estive realizando pesquisas na Ásia.
À Universidade de Macau por me receber tão bem no período que estive na China.
Ao International Research Center for Japanese Studies, em Kyoto, na pessoa do
prof. Shuhei Hosokawa pelas portas abertas para minha pesquisa.
Ao governo de Yamagata, que através do sr. Takehiro Igarashi, do Yamagata Prefecture
Government International Affairs Office, forneceu importantes informações.
Ao Fundo Mackenzie de Pesquisa por financiar boa parte desta tese através dos
recursos de Subvenção para Reserva Técnica para Programas de Pós-Graduação.
À CAPES que, através da concessão de bolsa do Programa de Doutorado
Sanduíche no Exterior, possibilitou a realização da pesquisa em Macau e no Japão.
E, daí a pouco, aproximando-se os que
ali estavam, disseram a Pedro:
Verdadeiramente também tu és deles,
pois a tua fala te denuncia.
Mateus 26:73
RESUMO
O kenjinkai é uma associação estabelecida no Brasil que reúne imigrantes de uma
determinada província japonesa e seus descendentes, com o objetivo de servir como
elo de ligação entre os associados e a província de origem. O Japão possui 47
províncias e no Brasil existem 47 kenjinkai, que são formados predominantemente
por um público nikkei de nacionalidade brasileira. Essas organizações de origem
japonesa estão profundamente ligadas às províncias de seus fundadores, mas
passados quase cinquenta anos após o encerramento do ciclo de imigração, quando
desenvolveu-se o processo de adaptação e absorção desses imigrantes na
sociedade brasileira, o que elas professam ser? Entidades japonesas ou brasileiras?
Esta tese investiga qual é a identidade cultural construída pelos kenjinkai no Brasil
através dos discursos dos sites dessas instituições. Três sites foram selecionados
para análise segundo metodologia proposta pela semiótica narrativa e discursiva e,
a partir da perspectiva proposta pelos Estudos Culturais de construção de identidade
cultural a partir do discurso, levantou-se que o ator da enunciação dos kenjinkai no
Brasil é um ator brasileiro e que possui uma identidade cultural brasileira.
Palavras-chave: Kenjinkai, imigração japonesa no Brasil, comunidade nikkei, análise
de discurso, identidade cultural, site institucional.
ABSTRACT
Kenjinkai is an association established in Brazil which gathers immigrants from an
specific Japanese prefecture (province) and its descendents. Its objective is to work
as a liaison between its members and their original province. Japan has 47 provinces
and there are 47 associations of this kind in Brazil, which are formed by a Nikkei
Brazilian citizen public. Those Japanese rooted associations are strongly connected
to the provinces of their founders. Considering that its been fifty years since the
closing of the Japanese immigration period in Brazil happened, period when it was
developed a process of adaptation and inclusion of these immigrants in the Brazilian
society, how do they present themselves? As Brazilian entities or Japanese ones?
This thesis investigates the cultural identity which is built by these Kenjinkai in Brazil
through the discourses of their institutional websites. The theory and methodology of
narrative and discoursive semiotics were chosen to analyze three kenjinkai's
websites. From the perspective proposed by the Cultural Studies about the
construction of cultural identity trough the discourse, we concluded that the actor of
enunciation of Kenjinkai in Brazil is a Brazilian actor and has a cultural Brazilian
identity.
Key-words: Kenjinkai, Japanese immigration in Brazil, Nikkei community, discourse
analyze, cultural identity, institutional website.
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Mapa com as nove regiões e 47 províncias do Japão ........................... 18
Figura 2.1 – Níveis do sistema enunciativo ............................................................. 78
Figura 2.2 – O quadrado semiótico e suas relações ............................................... 88
Figura 2.3 – Operações de negação e asserção no quadrado semiótico ............... 89
Figura 2.4 – Mapa com as províncias de Hokkaido, Yamagata e Shimane ............ 99
Figura 2.5 – Sites de kenjinkai selecionados: Hokkaido, Yamagata e Shimane ... 100
Figura 3.1 – Cabeçalho da home page da Associação Hokkaido ......................... 104
Figura 3.2 – Visual parcial da home page do site da Associação Hokkaido ......... 105
Figura 3.3 – Links do menu inferior ao pé da home page ..................................... 106
Figura 3.4 – Frame XVI Hokkaido Matsuri ............................................................ 107
Figura 3.5 – Frame com três temas ....................................................................... 108
Figura 3.6 – Imagem do cabeçalho da home page da Associação Hokkaido ....... 123
Figura 3.7 – Imagens do link “Ishin Yosakoi Soran” .............................................. 130
Figura 3.8 – Foto do grupo Ishin Yosakoi Soran ................................................... 136
Figura 3.9 – Foto do grupo Ishin Yosakoi Soran: 10 anos em 2013 ...................... 138
Figura 3.10 – Imagem da página do link “Higuma” ................................................ 140
Figura 3.11 – Home page do site do Yamagata Kenjinkai do Brasil ...................... 151
Figura 3.12 – Home page do site do Shimane Kenjinkai ....................................... 190
Figura 3.13 – Menu expansível do site do Shimane Kenjinkai .............................. 191
Figura 3.14 – Boletim trimestral Dan Dan, nº 136, de jun/2010, página 1 ............. 203
Figura 3.15 – Boletim trimestral Dan Dan, nº 136, de jun/2010, página 2 ............. 204
Figura 3.16 – Página do link “Bazar Beneficente” – parte inicial ........................... 219
Figura 3.17 – Página do link “Bazar Beneficente” – parte final .............................. 220
Figura 3.18 – Aspecto de exibição de imagem do aplicativo Picasa ..................... 223
Figura 3.19 – Exibição de legenda no aplicativo Picasa ....................................... 224
Figura 3.20 – Início de exibição no aplicativo YouTube ........................................ 224
Figura 3.21 – Exibição de textos sobre imagem no aplicativo YouTube ............... 225
Figura 3.22 – Exemplo de transição de imagens no aplicativo YouTube .............. 225
LISTA DE DIAGRAMAS
Diagrama 3.1 – Quadrado semiótico com as relações “Tradição x Novidade” ........... 128
Diagrama 3.2 – Quadrado semiótico com as relações “Tradicional x Moderno” ........ 139
Diagrama 3.3 – Quadrado semiótico com as relações “Participação x Alienação”...... 144
Diagrama 3.4 – Quadrado semiótico com as relações “Japão x Brasil” ...................... 160
Diagrama 3.5 – Quadrado semiótico com as relações “Crise” x “Superação” ............ 172
Diagrama 3.6 – Quadrado semiótico com as relações “Vínculo” x “Separação” ........ 183
Diagrama 3.7 – Quadrado semiótico com as relações “Isolamento” x “Interação” ..... 201
Diagrama 3.8 – Quadrado semiótico com as relações “Passividade” x “Atividade” .... 218
Diagrama 3.9 – Quadrado semiótico com as relações
“Monoculturalidade” x “Biculturalidade” ............................................... 232
LISTA DE QUADROS
Quadro 1.1 – Principais movimentos migratórios japoneses para o exterior ......... 39
Quadro 2.1 – Quadro indicativo de associações de províncias que possuem
site na Internet em dez/2013 ............................................................ 98
Quadro 2.2 – Endereços de sites de kenjinkai ...................................................... 98
Quadro 3.1 – Resumo esquemático do texto “Motivos da imigração japonesa
no Brasil .......................................................................................... 114
Quadro 3.2 – Resumo esquemático do texto “A História da Imigração
Japonesa no Brasil” ....................................................................... 164
Quadro 3.3 – Resumo esquemático do texto “A Caminhada do Yamagata
Kenjinkai no Brasil” ........................................................................ 176
Quadro 3.4 – Resumo esquemático dos álbuns de imagens do link “Bazar
Beneficente” .................................................................................... 221
SUMÁRIO
PRÓLOGO .............................................................................................................. 15
INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 17
CAPÍTULO I KENJINKAI E IDENTIDADE CULTURAL ............................................................... 29
1.1. O ESPÍRITO ASSOCIATIVO DOS JAPONESES .............................................. 30
1.2. ANTECEDENTES DA IMIGRAÇÃO JAPONESA ............................................ 33
1.2.1. A IMIGRAÇÃO JAPONESA NO BRASIL .................................................. 41
1.2.2. ADAPTAÇÃO DOS IMIGRANTES JAPONESES AO BRASIL .................. 45
1.2.3. NIHONJIN, JAPONÊS, NIKKEI E NIPO-BRASILEIRO ............................ 51
1.3. A ORGANIZAÇÃO DE UM KENJINKAI ............................................................ 58
1.3.1. OBJETIVOS DO KENJINKAI .................................................................... 62
1.3.2. IDENTIDADE CULTURAL DO KENJINKAI .............................................. 64
1.3.3. O KENJINKAI E A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL ............................. 68
CAPÍTULO II
FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS PARA A ANÁLISE DO DISCURSO DO KENJINKAI .................................................................................... 71
2.1. A PERSPECTIVA DA TEORIA SEMIÓTICA ..................................................... 72
2.2. DEFININDO ENUNCIAÇÃO, ENUNCIADO, DISCURSO E TEXTO .................. 75 2.2.1. O ATOR DA ENUNCIAÇÃO .................................................................... 79
2.2.2. O DISCURSO E O TEXTO ....................................................................... 80
2.3. A SEMIÓTICA NARRATIVA E DISCURSIVA .................................................. 82 2.3.1. PERCURSO GERATIVO DE SENTIDO .................................................. 87
2.4. METODOLOGIA DA SELEÇÃO DO CORPUS ................................................ 97
CAPÍTULO III
ANÁLISE DOS DISCURSOS DOS SITES .............................................................102
3.1. ANÁLISE DO SITE DA ASSOCIAÇÃO HOKKAIDO.......................................104
3.1.1. TEXTO “MOTIVOS DA IMIGRAÇÃO JAPONESA...” .............................110
Em busca do novo espaço para o japonês .......................................116 Hokkaido e o Japão ancestral ............................................................120 Tradição e novidade vivenciados num novo espaço ........................126
3.1.2. TEXTO “O QUE É YOSAKOI SORAN” ...................................................129
Yosakoi Soran, a dança dos jovens de Hokkaido .............................130
De Hokkaido para o Japão inteiro e o mundo ....................................132
Tradicional x moderno? Não, é o Tradicional-moderno! .................139
3.1.3. TEXTO “HIGUMA-KAI” ...........................................................................140
Os jovens e suas atividades sociais ..................................................141
Os jovens ursos da província do norte .............................................142
Não deixe de participar! ......................................................................144
3.1.4. O ATOR DA ENUNCIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO HOKKAIDO ................145
3.2. ANÁLISE DO SITE DO YAMAGATA KENJINKAI DO BRASIL ................... 150
3.2.1 TEXTOS DO FRAME PRINCIPAL DA HOME PAGE ............................ 154
A tradição japonesa e a cultura do Brasil ........................................ 155 Brasil e Japão em equilíbrio a partir da província-mãe .................. 157
Japão e Brasil: a nipo-brasilidade ..................................................... 160
3.2.2 TEXTO “HISTÓRICO DA IMIGRAÇÃO JAPONESA NO BRASIL” ......... 161
Enfrentando e vencendo crises com união e trabalho .................... 165 Trabalhando em equipe, rumo à vitória! .......................................... 167 Crise, união, trabalho e superação .................................................... 171
3.2.3. TEXTO “A CAMINHADA DO YAMAGATA KENJINKAI DO BRASIL” ... 174
Os provincianos de Yamagata, o YKB e a província-mãe .............. 177 Provincianos de Yamagata legitimando a comunidade nikkei ........ 179
Japonesidade e brasilidade vinculadas à província de Yamagata .... 183
3.2.4. O ATOR DA ENUNCIAÇÃO DO YAMAGATA KENJINKAI ................... 186
3.3. ANÁLISE DO SITE DO SHIMANE KENJINKAI ........................................... 190
3.3.1. TEXTOS DO FRAME PRINCIPAL DA HOME PAGE ........................ 194
Shimane Kenjin: intercâmbio, integração e auxílio ...................... 195 Ponto de encontro de japonesidade e de brasilidade .................. 197
Movimentos de dentro para fora e de fora para dentro ............... 200
3.3.2. TEXTO DO BOLETIM DAN DAN NEWS NÚMERO 136 ................... 202
Trabalhando duro para atingir os objetivos do kenjinkai ............. 208 O trabalho em equipe construindo a identidade cultural ............ 210 Shimane Kenjin: atividades e institucionalização ........................ 217
3.3.3. TEXTO DO LINK “BAZAR BENEFICENTE” ...................................... 219
Todos trabalhando juntos para fazer o bem ................................. 226 Beneficência expressando japonesidade e brasilidade .............. 228 Uma cultura ou duas culturas ........................................................ 232
3.3.4. O ATOR DA ENUNCIAÇÃO DO SHIMANE KENJIN ......................... 234
3.4. O ATOR DA ENUNCIAÇÃO DOS SITES DOS KENJINKAI ........................ 238
CONCLUSÃO ........................................................................................................ 246
EPÍLOGO .............................................................................................................. 252
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ...................................................................... 253
ANEXOS ............................................................................................................... 265
LISTA DOS KENJINKAI DO BRASIL ......................................................... 266
LISTA DE ASSOCIAÇÕES NIPO-BRASILEIRAS ...................................... 269
PRÓLOGO
BRASILEIRO, JAPA, NIKKEI OU NIPO-BRASILEIRO?
Antes de dar voz ao enunciador “pesquisador Fred Utsunomiya”, estabelecendo o
discurso da tese que o leitor poderá ler a seguir, gostaria de fazer uma breve
interferência e me colocar como pessoa de carne, osso e alma, com RG e CPF, ao
fazer um compartilhamento pessoal antes que se adiante na leitura desta obra.
Graduei-me em Publicidade e Propaganda. Fiz pós-graduação lato sensu em Gestão
de Processos Comunicacionais e, para concluí-la, desenvolvi a monografia “A
Gestão da Comunicação de Projetos Sociais”, por causa do interesse que sempre
nutri por instituições assistenciais e pelas organizações sem fins lucrativos. Sempre
tive interesse por movimentos sociais, organizações orientadas por valores, ONGs e
pelo Terceiro Setor. Dessa forma, no mestrado, minha dissertação também abordou
essa temática, com o título “O Desafio da Gestão da Comunicação Institucional de
Organizações do Terceiro Setor Brasileiro”. E agora, no doutorado, defendo uma
tese que trata do discurso identitário de associações de províncias do Japão
estabelecidas no Brasil. Novamente, o foco é uma organização social, comunitária,
sem fins lucrativos. De fato eu me interesso por pessoas, por comunidades e pelo
modo como elas se organizam e atuam na sociedade. As pessoas e suas criações
são um objeto de estudo fantástico.
Tomei conhecimento, nos últimos anos, da existência de 47 associações de
província japonesas no Brasil que representam o mesmo número de províncias
existentes no Japão e fiquei boquiaberto: Perguntei-me: “Todas essas associações
de províncias japonesas no Brasil ainda existem, mesmo após tanto tempo de
encerramento do processo imigratório no país”? Fiquei curioso em saber o que elas
fazem hoje, quem são as pessoas que as compõem e o que elas dizem sobre si
mesmas. Então, resolvi desenvolver esta tese.
Na busca por essas respostas, realizei muitas leituras, entrevistei pessoas,
desenvolvi pesquisas e relembrei diversos fatos e experiências que vivi como nipo-
brasileiro. Apesar de ser sansei – nikkei de terceira geração – e de ser chamado de
“japonês” muitas vezes, nunca me assumi como “japonês”. Embora eu tenha
convivido com muitas pessoas da “colônia japonesa“, tenha lutado judô e karatê,
goste de mangás e de comida japonesa, tenha visitado o Japão várias vezes, tenha
estudado a língua japonesa, conhecendo até alguns rudimentos do idioma, ainda
assim, nunca tive dúvidas quanto à minha identidade cultural: sempre me considerei
e me senti brasileiro. Apesar de ter tantas ligações com o Japão, imaginava que
minha identidade cultural fosse somente brasileira, e não “hifenizada” – “nipo-
brasileira”. Nessa trajetória de pesquisa científica, foi impossível não me envolver
pessoalmente. A “objetividade científica” e o “distanciamento do objeto” por parte do
pesquisador estão presentes no discurso que virá a seguir: enunciado pelo ator da
enunciação “pesquisador Fred Utsunomiya”. No entanto, o desenvolvimento desta
tese foi como a realização de uma grande viagem no passado e dentro de mim
mesmo, que me fez ver que a vida não é produto apenas de escolhas e decisões
pessoais. Aquilo que somos também é fruto da trajetória e da escolha de tantas
outras pessoas que nos antecederam. Podemos fazer escolhas, mas muitas delas
estão limitadas a um leque de possibilidades que “herdamos” de nossos
antecessores. No meu caso, de meus ancestrais que vieram do Japão.
17
INTRODUÇÃO
ANÁLISE DE DISCURSO DE SITES DE KENJINKAI NO BRASIL
Kenjinkai1 é uma entidade formada por imigrantes japoneses e seus descendentes
originários de uma determinada província no Japão, estabelecida quando eles vivem
em outras regiões do país ou em outras partes do mundo. No Brasil, ela é
organizada em forma de associação civil, sendo composta por imigrantes japoneses
e seus descendentes que se fixaram no país ao longo de todo o processo imigratório
desenvolvido no país a partir de 1908 até os anos 1970. Os kenjinkai2 têm dois
objetivos: servir de contato entre os conterrâneos imigrantes e ser o elo de
comunicação entre os imigrantes e sua província natal. Atualmente, o Japão é dividido
administrativamente em 47 províncias, denominadas genericamente de ken (em
inglês, prefecture), que correspondem mais ou menos aos estados brasileiros. Cada
província (prefecture ou ken) tem um governador e é constituída por várias cidades e
distritos, que por sua vez, podem, ainda, ser subdivididos em subdistritos e vilas3. As
províncias geograficamente próximas formam nove regiões (tal como as regiões
formadas por estados no Brasil): Hokkaido, Tohoku, Chubu, Kanto, Kansai, Chugoku,
Shikoku, Kyushu e Okinawa (figura 1). No Brasil existem exatamente uma associação
de província para cada uma das províncias japonesas. Os kenjinkai são fruto do
desenvolvimento da presença japonesa no país, comunidade já assimilada e
1 O termo kenjinkai (県人会) significa literalmente: “associação de provincianos” 2 Nesta tese utilizam-se os termos em japonês sem a flexão de número, tal como na língua japonesa (por ex.: os kenjinkai e os nikkei). Quando o termo já estiver incorporado ao vocabulário do português brasileiro, seguiremos as regras gramaticais deste (por ex.: os decasséguis). A romanização dos vocábulos japoneses utilizados nesta tese segue o sistema Hepburn, padrão adotado pelo Japão. É utilizada a forma abrasileirada do termo se este já constar em algum dicionário de língua portuguesa.3 Província: ken (県), cidade: shi (市), distritos: to (郡), subdistritos: chō ou machi (町) e vilas: mura (村).
18
incorporada à sociedade brasileira e que desenvolvem eventos sociais que fazem
parte do calendário oficial de eventos comemorativos locais, como o “Festival do
Japão” que reúne milhares de pessoas no mês de julho na cidade de São Paulo.
Figura 1 – Mapa com as 9 regiões e 47 províncias do Japão
19
A imigração japonesa no Brasil deu-se ao longo de um período que durou cerca de
seis décadas e se desenvolveu em duas etapas distintas (antes e depois da
Segunda Guerra Mundial). Tal processo, coordenado pelos países envolvidos –
Brasil e Japão – começou oficialmente em 1908, quando o primeiro navio
proveniente do Japão, o Kasato Maru, atracou no porto de Santos trazendo 781
japoneses para trabalhar nas fazendas cafeeiras do interior de São Paulo. De 1908 a
1973 – ano que marca o fim da imigração japonesa negociada entre os dois países –,
cerca de 230 mil imigrantes japoneses fixaram-se no país, sobretudo nos estados de
São Paulo e do Paraná, mas também se dirigiram e se estabeleceram em algumas
regiões do Pará, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul. Após esse
período, ainda houve imigrantes japoneses que vieram ao Brasil, mas numa escala
bem menor, e sem a intermediação dos governos. Hoje, um século depois de
iniciado o processo de imigração e cerca de 40 anos após sua finalização, os
imigrantes japoneses e seus descendentes – a grande maioria já com a
nacionalidade brasileira – formam uma comunidade bastante visível e plenamente
identificável (pelos traços físicos e pelo sobrenome) de aproximadamente um milhão
e quinhentas mil pessoas. Essa população é conhecida como comunidade nikkei4,
está espalhada por diversas partes do país e é o maior contingente de descendentes
de japoneses fora do Japão do mundo.
Desses nikkei brasileiros, cerca de duzentos a trezentos mil moram e trabalham hoje
no Japão – número superior ao de japoneses que vieram ao Brasil no período
imigratório –, desenvolvendo o mesmo percurso, em sentido inverso, de seus
antecessores, que atravessaram os mares no século passado em busca de novas
4 Nikkei (日系) é um termo em japonês que se refere aos descendentes dos japoneses que nasceram fora do Japão, bem como ao imigrante que vive regularmente em outro país, geralmente no continente americano.
20
perspectivas de vida. Esse movimento de migração para o Japão começou nos anos
de 1980, durante a estagnação econômica do Brasil, quando a inflação anual
chegou a de 1000%. Diante da falta de perspectivas profissionais e econômicas,
muitos brasileiros, dentre os quais os nikkei aqui já estabelecidos deixaram o Brasil
(KAWAMURA, 2003 e SASAKI, 2009) em direção à Terra do Sol Nascente, que se
apresentava naqueles anos como uma grande oportunidade para acúmulo de capital
em curto espaço tempo. O Japão passava por um período de grande
desenvolvimento econômico, já havia se consolidado como a 2ª maior economia do
mundo, e necessitava de mão de obra para serviços braçais que estavam sendo
rejeitados pelos próprios japoneses. Para ocupar esses postos de trabalho pesado,
muitos descendentes de japoneses partiram para a terra de seus ancestrais, com o
objetivo de juntar recursos financeiros e, assim, melhorar de vida. Tal como seus
pais e avós, a intenção era trabalhar muito, acumular capital rapidamente e retornar
ao Brasil. Eles ficaram conhecidos pelo nome pejorativo de decasséguis5.
No entanto, por diversos motivos, muitos deles estão se estabelecendo no Japão.
Apesar de ser nipo-descendente, a maioria não possui cidadania japonesa e muitos
vivem precariamente inseridos na sociedade de lá – não obstante a ascendência, o
sobrenome e a fisionomia nipônicos. Boa parte deles se identifica mais com a cultura
brasileira do que com a japonesa, e apesar de carregarem a herança cultural dos
antepassados, eles absorveram muito mais a cultura do país onde nasceram – o
Brasil – do que a de seus pais e avós. Por outro lado, seus filhos que nasceram no
Japão têm a cidadania brasileira, mas estudaram e estudam no sistema educacional
5 Forma abrasileirada de dekasegi (出稼ぎ), que significa literalmente: “sair” e “ganhar dinheiro”. Refere-se à pessoa que sai de sua terra para trabalhar. O termo era usado para denominar os trabalhadores temporários japoneses, sobretudo das regiões mais frias, que deixavam suas terras no período de inverno, quando não se podia exercer atividades agrícolas, para obter sustento. Modernamente tem um sentido pejorativo, pois faz referência justamente ao trabalhador estrangeiro temporário que executa tarefas que o cidadão japonês comum se recusa a realizar, sintetizado nos 3K: kitanai, kiken e kitsui (sujo, perigoso e pesado).
21
japonês e se sentem mais japoneses que brasileiros. Por esses motivos, as famílias
de decasséguis encontram dificuldades de adaptação à sociedade japonesa,
principalmente devido às barreiras impostas pela língua – a qual a primeira geração
de brasileiros não domina – e às características culturais e sociais sobre as quais o
Japão moderno está construído. Isso faz com que diversas reordenações e
rearranjos nas relações familiares e o estabelecimento de novos projetos e modos
de vida sejam realizados por essas famílias brasileiras (SILVA, 2012 e SASAKI,
2009).
A Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil (Kenren)6
(http://www.kenren.org.br) é uma organização que reúne e representa essas
associações de províncias ativas no país. É uma das mais importantes e
representativas instituições nipo-brasileiras e sua existência atesta a influência que a
questão da representatividade das províncias japonesas exerce inclusive nos
descendentes dos imigrantes. A maioria das sedes das associações de província se
localiza na cidade de São Paulo, onde vive a maior comunidade nikkei do Brasil (e
do mundo). Alguns kenjinkai possuem filiais em outras regiões do país, cidades que
foram foco de imigração japonesa e ainda concentram grande número de
descendentes, como Londrina, Campo Grande e Belém.
Portanto, mesmo que há mais de quarenta anos o movimento imigratório conduzido
entre os governos do Brasil e do Japão tenha terminado e a população da primeira
geração de imigrantes japoneses tenha diminuído consideravelmente, seus filhos,
netos e bisnetos – brasileiros – mantêm essas organizações em atividade. Algumas
6 Kenren (県連) - Forma abreviada da denominação em japonês da Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil (Burajiru Nihon Todōfuken Hito-kai Rengō-kai).
22
delas possuem sites na Internet, embora seu conteúdo nem sempre esteja
atualizado. A questão que se levanta aqui emerge desse panorama e pode ser
traduzida pela seguinte indagação: “Quem os membros dos kenjinkai declaram
ser?”. Esses descendentes de japoneses – brasileiros, em sua maioria – reúnem-se
em torno de uma associação de província, estabelecida para servir como elo de
contato entre os imigrantes e sua terra de origem, que permanece ativa,
desenvolvendo uma série de atividades. Isso acontece após quase cinquenta anos
do término do processo imigratório japonês para o Brasil. Que identidade esses
kenjinkai incorporam em seu discurso no site? Essa questão envolve um aspecto
extremamente relevante: que identidade cultural e social é reivindicada por um
kenjinkai estabelecido no Brasil por imigrantes, em que a maior parte dos membros
são, sim, descendentes de japoneses, porém também são brasileiros? Há inúmeras
outras associações culturais japonesas (veja-se, na seção “Anexos”, uma listagem
contendo mais de 300 dessas instituições) que possuem propósitos e modo de
trabalho semelhantes, mas a existência de uma comunidade que se diferencia e se
estabelece ainda hoje, por estar relacionada a uma província do Japão, décadas
após o término da grande fase de imigração conduzida pelos governos dos dois
países, parece ser um caso digno de atenção.
Apesar de uma associação ser uma entidade coletiva formada por diversos
indivíduos distintos, cada qual com variadas visões de mundo e objetivos pessoais,
há alguma homogeneidade cultural, histórica e mesmo de objetivos compartilhada
pelos membros de organizações dessa natureza. Acrescente-se o fato de que a
maior parte dos integrantes dessas associações, apesar da origem japonesa, são
cidadãos brasileiros, plenamente integrados à sociedade, muitas vezes com pais e
avós já nascidos no Brasil. Findo o processo migratório do Japão para o Brasil,
23
haveria algum anacronismo identitário identificável no discurso dessas associações
presente nas páginas de Internet de seus respectivos sites? Uma “brasilidade” ou
uma “japonesidade”7 podem ser detectadas nesse discurso? Eis aqui, portanto, uma
questão relevante: o lugar dessas associações na construção identitária do povo
nipo-brasileiro. Se, por um lado, a construção da identidade se faz por meio do
resgate do passado, da história, sendo necessário compreender as trajetórias
históricas e as relações entre os dois países, por outro, a identidade se elabora
também com a organização das relações efetuadas com os elementos do presente.
O Brasil e o Japão desenvolveram percursos históricos distintos, que os conduziram
a modelos de desenvolvimento econômico e posicionamento geopolítico diferentes –
às vezes, opostos –, levando a cada nação a ocupar uma posição peculiar como
ator social no panorama global. Nesse período de um século desde o início do
processo migratório para o Brasil, houve duas guerras mundiais, e o Japão elevou-
se da condição de potencial, mas inexpressivo, ator econômico do sul da Ásia, no
final do século XIX (um período de grandes contrastes e conflitos sociais), para a
posição de segunda potência econômica do planeta, já no final do século XX8, com
uma população considerada bastante homogênea social e culturalmente. As crises
econômica e social motivaram os grandes fluxos migratórios de japoneses para o
Peru, Estados Unidos e Brasil, momento de encontro decisivo entre dois países tão
diferentes. O Japão vivia um momento de governo de inspiração nacionalista e
militarista, que mais tarde cederia a ímpetos imperialistas e entraria na Segunda
Guerra Mundial, compondo com a Alemanha e a Itália a chamada Aliança do Eixo –
portanto, combateu as forças Aliadas, às quais o Brasil mais tarde se aliaria. No final
7 “Japonesidade”: termo usado por pesquisadores das áreas de Ciências Sociais e Antropologia para expressar características culturais nipônicas nos nikkei do Brasil (MACHADO, 2011) 8 O Japão perdeu a posição de 2ª maior economia do mundo para a China, em 2010.
24
da guerra, o Japão sofreu sua primeira grande derrota militar na história, mas se
recuperou e hoje possui um alto índice de desenvolvimento social e um sistema
político bastante democrático. Concomitantemente, o Brasil no mesmo período,
passou de um país com uma economia essencialmente agrária, recém-saído de um
regime monárquico e de uma economia baseada na mão de obra escrava, para uma
sociedade moderna, que teve necessidade de importar a mão de obra japonesa para
suas lavouras no início do século passado. Ao longo de sua trajetória econômica, o
país passou por uma crescente industrialização e urbanização, para ocupar, no
começo do século XXI, a uma posição junto às nações de economia emergente, com
grandes perspectivas de desenvolvimento econômico – o chamado BRICS (Brasil,
Rússia, Índia, China e África do Sul). O Brasil tem procurado sair da influência
hegemônica econômica e política dos Estados Unidos e da Europa, visando a
ocupar um espaço maior no cenário geopolítico que vem se configurando nas
primeiras décadas deste século. No contexto atual há, também, o surgimento da
figura do nikkei brasileiro que vive no Japão – inicialmente, como decasségui, mas
agora representado por seus descendentes –, abrindo novas possibilidades de
construção identitária.
Essas trajetórias diversas – do Japão e do Brasil – encontram pontos de contato em
algumas instâncias. As associações de províncias – os kenjinkai – são um deles. Por
meio dos kenjinkai, essas realidades socio-históricas se entrecruzam e se
relacionam. Estabelecidos em sua maioria durante o período migratório do pós-
guerra, com a finalidade de manter contato com a província-mãe e funcionar como
ponto de referência para os imigrantes, eles subsistem num contexto em que as
relações transnacionais entre Brasil e Japão agora se dão numa esfera tecnológica,
cultural e geopolítica, e não apenas no campo econômico. Há novas relações, novos
25
papéis e novas demandas para ambos os países no atual panorama histórico
mundial. E para o povo nikkei do Brasil – brasileiros de origem japonesa –, há
elementos identitários, sociais e culturais intrinsecamente relacionados, que
emergem desse cenário tecnológico, cultural e político, cujas mediações são
realizadas por indivíduos, comunidades e instituições, sendo o kenjinkai uma delas.
Há um trânsito maior de pessoas entre os países, hoje com perspectivas
econômicas muito diferentes: se no passado havia apenas o interesse brasileiro pela
mão de obra japonesa para a lavoura cafeeira, hoje a troca de produtos e
tecnologias envolve carne bovina, soja, minério de ferro, automóveis, videogames e
computadores. Se no passado as trocas culturais restringiam-se aos usos e
costumes exóticos dos primeiros imigrantes, hoje existe um fluxo de informação e
cultural intenso, com mangás, animês, games, sushis, jiu-jitsu e judô, de um lado, e
samba, bossa-nova, feijoada, caipirinha e capoeira de outro. Os kenjinkai estão
inseridos nesse processo de interação e de trocas culturais, o que deve refletir-se na
construção identitária do kenjinkai hoje.
A relevância de se estudar a dimensão dessas questões é manifesta na busca pela
compreensão da dinâmica da formação da identidade cultural brasileira
contemporânea, que não comporta mais a antiga e tradicional formulação escolar
sobre a formação do povo brasileiro: de que ela é baseada apenas na figura do
negro trazido como escravo para o Brasil, do índio, que aqui já se encontrava e do
branco – o colonizador português. A identidade do povo brasileiro encontra fortes
raízes também na interação e absorção de elementos culturais dos imigrantes de
várias nações que aqui se estabeleceram, amalgamando-se culturalmente,
constituindo-se em elementos integrantes na formação cultural e identitária,
sobretudo, das populações urbanas do país. Dessa forma, as comunidades de
26
imigrantes alemã, italiana, espanhola, libanesa e japonesa – e, mais recentemente,
a coreana e a chinesa – deixam suas marcas na formação da identidade cultural
brasileira. As múltiplas formas de ser, de pensar e de fazer dos cidadãos do Brasil
são construídas sobre diversas culturas de etnias que interagem. Um texto publicado
pelo autor exemplifica bem essa afirmação, a partir da perspectiva da influência
cultural japonesa no Brasil:
O intercâmbio cultural entre a “colônia” de japoneses (esse termo ainda é utilizado para definir o grupo de japoneses e seus descendentes no Brasil) e os brasileiros foi intensificado. Hoje, há cerca de um milhão e trezentos mil brasileiros descendentes de japoneses, dos quais perto de trezentos mil vivem no Japão. Essa é a maior comunidade nikkei fora do Japão. Cerca de 80% dessa população vive no Estado de São Paulo, a maior parte na região metropolitana da capital paulista. Nessa região, algumas palavras japonesas foram incorporadas no vocabulário popular do paulistano através desse contato, principalmente as do campo da culinária (sushi, sashimi, moyashi), dos esportes (judô, karatê, sumô, aikidô, jiu-ji-tsu, tatami) e das artes (origami, ikebana, haikai), pois tornaram-se elementos do cotidiano vivenciados pela própria comunidade paulistana, tornando-se parte da cultura local. Por exemplo, tornou-se comum nas famílias de classe média de São Paulo “as meninas fazerem balé e os meninos lutarem judô”; ir comer yakissoba no “restaurante do japonês” à tarde; fazer origami (dobradura de papel) na escola e ir ao karaokê à noite com os amigos comer um sushi e beber saquê. Essa realidade vivida pelos não-japoneses deveu-se ao contato que essas pessoas tiveram com os descendentes de japoneses, o que promoveu um intercâmbio cultural, com a absorção desses elementos culturais nipônicos por parte da população local, mesmo as que não tiveram um contato pessoal direto com essa população nikkei. (UTSUNOMIYA, 2011)
O objetivo desta tese é levantar, por meio da análise do discurso dos sites de
kenjinkai, a identidade cultural dessas associações de província. A identidade de
uma comunidade é construída através do discurso e procedeu-se à análise de textos
dos sites selecionados para a composição do “ator da enunciação” kenjinkai do
Brasil, uma figura construída a partir dos discursos dos sites dessas organizações.
Para o desenvolvimento desse tema, adotou-se a perspectiva teórica da semiótica
narrativa e discursiva e optou-se pela conceituação de identidade cultural a partir da
teoria dos Estudos Culturais. Pesquisas realizadas no Brasil, em Macau, na China, e
no Japão dão suporte a esta tese, que está dividida em quatro capítulos:
27
O capítulo I, denominado “Kenjinkai e identidade cultural”, traz algumas informações
sobre a trajetória histórica dos imigrantes japoneses no Brasil e o panorama atual no
qual o kenjinkai está inserido. A associação de província é apresentada quanto à
sua formação, estrutura e tradições culturais, a fim de situar o discurso dos sites dos
kenjikai. Nessa parte, é abordada a história da imigração japonesa no Brasil e o
entendimento da construção da identidade cultural do nikkei brasileiro. Entender o
processo de imigração e a fixação dos descendentes de seus filhos e netos no Brasil
fornece elementos que subsidiam a construção do ambiente no qual se
desenvolvem os discursos dos sites e o entendimento da identidade do enunciador.
Nesse mesmo capítulo, serão analisados os termos “nikkei”, “nipo-brasileiro”, e
“japonês”, assim como o conceito de “japonesidade” e de “identidade cultural”. Uma
vez que o site de um kenjinkai é um instrumento de comunicação concebido com
objetivos institucionais, a compreensão destes como ferramenta e estratégia de
comunicação a partir da visão do campo da Comunicação Institucional estimulará
um diálogo entre essa área e a semiótica narrativa e discursiva para o estudo da
construção identitária de uma associação. Esse processo se dá através do discurso
num processo denominado “institucionalização”.
O capítulo II, “Fundamentos teóricos para a análise do discurso do kenjinkai”,
apresenta a perspectiva teórica sobre a qual estão baseados o desenvolvimento da
análise do discurso dos sites selecionados. Essa parte define o conceito de discurso,
de enunciado e de texto utilizados na tese. A perspectiva teórica da metodologia
empregada para a análise dos textos é o da teoria semiótica narrativa e discursiva,
desenvolvida por Algirdas Julien Greimas. O conceito de “ator da enunciação”, a
figura construída a partir dos discursos dos textos dos sites dos kenjinkai é
apresentado nessa parte da tese.
28
O capítulo III, “Análise de discurso dos sites” desenvolve as análises dos sites. Das
47 associações de província ativas no Brasil hoje, 15 possuem sites, dos quais 3
foram selecionados para serem analisados nesta tese: o da Associação Hokkaido de
Cultura e Assistência, o do Yamagata Kenjinkai do Brasil, e o da Associação
Shimane Kenjin do Brasil. Cada site teve três partes extraídas do texto total que
foram analisadas nos níveis narrativo, discursivo e fundamental. Cada parte fornece
pistas para a elaboração de um “ator da enunciação” de um kenjinkai específico. A
análise conjunta das características observadas dos “atores da enunciação” de cada
kenjinkai permite a formulação final do “ator da enunciação” dos kenjinkai do Brasil,
a construção identitária elaborada a partir da análise da somatória dos discursos
presentes nos sites, que fornece pistas para a compreensão da identidade cultural
dessas associações nipo-brasileiras. Ao término desse percurso serão apresentadas
as considerações finais desta tese.
29
CAPÍTULO I
KENJINKAI E IDENTIDADE CULTURAL
Conforme foi apontado na introdução, o objeto de estudo desta tese é o discurso de
sites de associações de províncias do Japão no Brasil e o objetivo final que norteia
toda esta pesquisa é a identificação, por meio da análise do discurso, da identidade
cultural de quem “fala” através do site. E “quem” fala, o faz a partir de um site que
está no Brasil, escrito em português, voltado para alguns públicos específicos, que
possui, no entanto, o potencial para atingir uma audiência quase universal, visto o
alcance que a Internet atinge hoje. O kenjinkai é uma associação que tem como um
dos principais objetivos manter contato com a província de origem de seus
associados, cuja maioria – nesta segunda década do século XXI – tem a
nacionalidade brasileira. Trabalhamos com a hipótese de que o discurso do site
revela a identidade cultural do kenjinkai. Queremos saber se essas associações se
consideram “japonesas”, “brasileiras” ou algo intermediário. O questionamento,
portanto, reside na pergunta: “Essa identidade está expressa no discurso do site?”
Se estiver, de que maneira ela é construída? Cada site de associação de província
japonesa no Brasil pressupõe um enunciador distinto, mas é possível pensar numa
categoria generalizada e idealizada de kenjinkai – no singular –, que expresse uma
identidade homogênea, apesar das particularidades de cada associação. Este
capítulo apresenta o que são os kenjinkai, seu contexto de formação, seus
propósitos e sua forma de organização. Para se obter subsídios para compreensão
da identidade cultural das associações de província será apresentado sucintamente
o percurso histórico do imigrante japonês no Brasil e de seus descendentes. Essa
apresentação do grupo nikkei trará uma maior clareza para a contextualização do
discurso dos sites, fornecendo subsídios para a sua análise.
30
1.1. O ESPÍRITO ASSOCIATIVO DOS JAPONESES
O kenjinkai é o nome genérico de uma associação de uma província do Japão que
reproduz um típico modelo associativo comunitário japonês, com características
antropológicas e culturais bastante peculiares. O termo poderia ser traduzido para o
português como “associação de provincianos”. O imigrante japonês e seus
descendentes possuem, em geral, um forte senso de pertencimento a uma
comunidade, destacando-se dentre outras comunidades asiáticas de imigrantes, fato
evidenciado pela existência de diversas modalidades de associações de origem
japonesa no país1. O kenjinkai é um tipo de associação que liga o imigrante e seus
descendentes à sua província de origem no Japão. Entretanto, há outras
associações nipônicas, conhecidas como nihonjinkai2 – associação de japoneses, ou
simplesmente, kaikan (literalmente, “salão de reunião”3) –, cuja afiliação não é
restrita à província de origem dos antepassados, nem mesmo à etnia, pois hoje, para
se associar a um kaikan não é preciso, necessariamente, ser descendente de
japoneses, sendo suficiente, na maioria dos casos, identificar-se com a cultura
japonesa e querer participar e contribuir com seus esforços para a agremiação
realizar suas atividades. Essas associações nipônicas geralmente são registradas no
Brasil com nomes de “associação nipo-brasileira”, “associação beneficente” ou,
ainda, “associação cultural e esportiva” com objetivos de divulgar e preservar
aspectos da cultura japonesa no Brasil, evidenciando o caráter comunitário e as
finalidades não-econômicas dessas organizações.
1 No Apêndice há uma lista, incompleta, de 380 associações nipo-brasileiras. 2 Nihonjinkai (日本人会) significa literalmente “associação ou reunião de japoneses”. 3 Kaikan (会館) é um “salão de reunião”, um edifício, mas acabou assumindo, ao menos no Brasil, o sentido de “associação”, de reunião de pessoas. Quando se diz “fui à atividade do kaikan”, há o sentido primordial de se referir à associação e não ao salão. É o caminho inverso que o vocábulo “igreja” acabou assumindo no Brasil. O termo que significa “assembleia, reunião de pessoas” mas é entendido primeiramente como “templo”, “edifício”.
31
Além dessas modalidades associativas, existem agremiações esportivas e culturais
representadas por entidades esportivas de judô, caratê, jiu-jitsu, aikidô, tênis de
mesa, beisebol, softball4, gateball5, kendô, sumô etc., bem como associações
culturais para o desenvolvimento de atividades como bonsai6, ikebana7, origâmi8,
mangá, escotismo etc. As organizações religiosas – orientais e cristãs – também
podem ser encontradas nas formas de organizações, como diversas comunidades
budistas, xintoístas e até protestantes, fundadas por japoneses. O modelo
administrativo das instituições cristãs – apesar de seguir os moldes de suas
congêneres religiosas ocidentais – reproduz vários aspectos do sistema de governo
das organizações japonesas. Características do modelo associativo japonês nessas
associações esportivas, culturais ou religiosas são identificáveis em muitas
instâncias: na linha de comando extremamente hierárquica, mas com muitas
decisões tomadas em conjunto; nas divisões da comunidade por grupos segundo
sexo e faixa etária (sociedade de jovens, de senhoras, de senhores, de seniores); na
dicotomia do relacionamento paternal e de submissão (os líderes sentem grande
responsabilidade pelos liderados, ao ponto de se dedicarem exaustivamente à
liderança, enquanto os liderados, submetem-se aos líderes com de maneira plena,
confiando inteiramente neles). Nota-se, também, a cumplicidade e o grande grau de
lealdade da liderança para com o público interno e o alto nível de cooperação e
compromisso para com o grupo, entre outras características. Há associações de
4 Softball (ソフトボール - Sofutobōru) é um esporte derivado do beisebol, mas com campo e bola com dimensões menores, praticado principalmente por mulheres. Apesar do nome em inglês, o esporte foi introduzido no Brasil pela colônia japonesa e é muito praticado pelos descendentes de japoneses. 5 Gateball (ゲートボール - Gētobōru) é um esporte coletivo jogado com tacos e bolas, semelhante ao críquete que, apesar do nome em inglês, foi criado no Japão em 1947, e é indicado especialmente para pessoas da terceira idade. 6 Bonsai (盆栽), literalmente “árvore em bandeja”. É uma arte de cultivo de árvores em miniatura. 7 Ikebana (生け花): “vivificação floral". A arte japonesa de montar arranjos florais. 8 Origami (折り紙): “dobrar papel”. Técnica tradicional japonesa de se dobrar o papel criando representações do mundo concreto, como animais, flores, utensílios e formas geométricas.
32
origem nikkei sem fins lucrativos, mas a serviço de interesses comerciais, como a
Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Japão e a Câmara Júnior Brasil-Japão (JCI).
Também existem instituições representativas da comunidade nikkei, como a
Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil (Kenren), a Sociedade
Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social (Bunkyo), a Federação
Evangélica Nikkey9 do Brasil e diversas sociedades beneficentes, como a Aliança
Beneficente Universitária de São Paulo (ABEUNI); a Sociedade Beneficente Casa
da Esperança (Kibo no Ie); a Associação Pró-Excepcionais Kodomo no Sono; a
Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo (Enkyo), entre outras. Essas
associações geralmente estão sediadas na cidade de São Paulo, região que
concentra grande número de nipodescendentes. Essas formas associativas são
comuns em várias organizações da comunidade nikkei e são encontradas em
outros países que receberam imigrantes japoneses, como o Peru e os Estados
Unidos da América.
Um relatório de 1943 sobre grupos japoneses e associações nos EUA, obtido nos
arquivos de um campo de realocação de imigrantes japoneses10 localizado no
Colorado – o “Granada Relocation Center” –, mais conhecido como “Amache” e
escrito em plena Segunda Guerra Mundial apresenta informações sobre esses
diversos tipos de associações de japoneses, com funcionamento e organização
análogos ao que se observou no Brasil. Esse documento, localizado nos arquivos da
9 “Nikkey” é uma variação da forma romanizada no padrão Hepburn Revisto (“nikkei”), que é o mais utilizado no mundo, mas há outros padrões de romanização, como o Kunrei-shiki e Nihon-shiki. 10 Em 1942, após o ataque japonês à base norte-americana de Pearl Harbor, no Havaí, fator decisivo para a entrada daquele país na Segunda Guerra Mundial, o governo estadunidense determinou o “internamento” de cerca de 110 mil nikkei norte-americanos em diversos “War Relocation Camps” espalhados pelo país. Muitos desses nikkei eram cidadãos americanos, não constituíam perigo à nação, mas foram confinados nesses campos. Muitos anos mais tarde o presidente Ronald Reagan (1981-1989) reconheceu o erro do governo à época, pedindo perdão e pagando pesadas indenizações.
33
biblioteca Auraria11, nos Estados Unidos e o texto de André Hayashi (HAYASHI,
p.357-358) disponibilizou informações que, somadas aos dados de pesquisa de
campo obtidos no Japão e à experiência pessoal do autor com a comunidade nikkei,
forneceram subsídios para a descrição das características do kenjinkai no Brasil,
apresentadas mais à frente. As associações de província são organizações
comunitárias que manifestam o modo de ser dos imigrantes japoneses e seus
descendentes. A maior parte dos membros dos kenjinkai vive há muito tempo no
Brasil ou nasceu no país. Esse típico nikkei brasileiro – tanto o imigrante japonês
quanto seus filhos, netos e bisnetos – possui algumas características próximas às
dos japoneses, apresenta outras similares às de nikkei de outros países e, por fim,
tem traços culturais e identitários exclusivos daqui, adquiridos na interação com as
culturas e contextos histórico-sociais vividos neste país. Esses traços identitários
referem-se tanto à “brasilidade” quanto à “nipo-brasilidade”. Para entender a
condição desse nikkei membro do kenjinkai é importante conhecer a trajetória do
imigrante japonês no Brasil, cujas informações foram baseadas principalmente nas
obras de Handa (1987), Oshima (1992), Cardoso (1995), Saito (1980), Moraes
(2004) e nas teses de Célia Sakurai (2000), Nucci (2000) e Elisa Sasaki (2009).
1.2. ANTECEDENTES DA IMIGRAÇÃO JAPONESA
O Japão, conhecido como a “Terra do Sol Nascente”12, é composto por um
arquipélago formado por mais de seis mil ilhas e se localiza no extremo da Ásia
11 Biblioteca localizada em Denver, Colorado, nos EUA, compartilhada pelas universidades locais. Documento disponível em http://archives.auraria.edu/sites/default/files/AmacheReports/rpt10.pdf acessado em 08/03/2013. 12 Em japonês, o país se chama Nihon (日本) e significa “Origem do Sol”. Os japoneses chamam a si mesmos de nihonjin (日本人) e sua língua de nihongo (日本語). O nome oficial do Japão é Nihon Koku (日本国).
34
oriental, no Oceano Pacífico. Sua área territorial soma cerca de 370 mil km2, área
correspondente ao Estado brasileiro de Mato Grosso do Sul, mas cerca de 70% de
seu território é constituído por montanhas inabitáveis, fazendo com que a sua
densidade demográfica média seja de 328 habitantes por km2, em contraste com os
22 hab/km2 do Brasil. As quatro maiores ilhas do arquipélago japonês são Honshu,
Hokkaido, Kyushu e Shikoku, as quais, juntas, representam mais de 95% da área
terrestre nacional. A maior parte do relevo das ilhas é montanhosa e há a presença
de vulcões adormecidos, como o ponto culminante do Japão, o Monte Fuji.
A formação insular do Japão concorreu para isolar geograficamente o país e foi um
fator determinante para a limitação das interações culturais entre os japoneses e
outros povos, influenciando no processo de formação do povo japonês (OLIVEIRA E
COSTA, 1995 p. 24). Além do isolamento natural imposto pelas águas do Mar do
Japão, o país fechou-se política e culturalmente para o mundo por um longo período
na Idade Moderna, de 1639 a 1854. Apesar de possuir uma tradição de comércio
milenar com a China e outros países da região, o Japão só começou a desenvolver
relações comerciais com o mundo ocidental por meio de Portugal, atividade que
ficou conhecida como comércio Namban13. Os mercadores portugueses começaram
a negociar com os japoneses e, a partir de 1550, esse comércio passou a ser
monopólio da coroa portuguesa. O estabelecimento dos portugueses, em 1557 em
Macau, na China (após a conquista de Goa, na Índia, em 1510 e de Malaca, na
Malásia, em 1512), ajudou no comércio de prata com o Japão. Os missionários
cristãos europeus também seguiram essa rota e começaram a entrar em terras
nipônicas, obtendo significativo sucesso na conversão de japoneses à fé católica.
13 Nanban bōeki (南蛮貿易) - Na história do Japão, compreende o período que vai da chegada dos primeiros portugueses, em 1543, até sua saída total do arquipélago entre 1637 e 1641.
35
Esse período em que Portugal manteve relações comerciais e culturais com o Japão
proporcionou intensas trocas culturais para ambos os países, tais como influências
na culinária local, a troca de tecnologias de produção de manufaturas e produção
agrícola e a incorporação de palavras de origem japonesa ao vocabulário português
e vice-versa. Entretanto, por diversas razões, algumas delas relacionadas à
presença portuguesa no Japão, as quais não serão enumeradas aqui, em 1639
ocorreu o fim das relações comerciais e sociais entre o Japão e os países do
ocidente, por meio da promulgação do Édito de Exclusão – Sakoku14. A partir
daquele ano, não foi permitido a nenhuma pessoa entrar ou sair do Japão – a
desobediência era punida com a morte. Os únicos contatos com estrangeiros
permitidos eram por meio de relações comerciais com a China e da concessão de
um pequeno posto de comércio em Dejima, uma ilha artificial, em Nagasaki, aos
holandeses. No entanto, mesmo esse comércio com a Holanda era bastante restrito,
e por mais de dois séculos essa foi a única porta legal aberta para contato do Japão
com o mundo ocidental. Tal política foi ocasionada por diversos fatores, dentre os
quais a preocupação com a crescente influência estrangeira no país nos campos
econômico, político e religioso (esse último decorrente da expansão do cristianismo,
que foi associada a movimentos sociais políticos de contestação e revolta), que
ameaçava a ordem política e social estabelecida pelos daimiôs (senhores feudais) e
a autonomia do país diante do expansionismo imperialista das potências europeias.
Esse período em que o Japão esteve fechado às influências ocidentais consolidou a
unificação do país sob o comando do xogunato15 e promoveu um desenvolvimento
14 Sakoku (鎖国), significa, literalmente, “país acorrentado” e refere-se à reclusão política e econômica voluntária que perdurou de 1639 a 1854, na era Edo (período Tokugawa). 15 Xogunato: forma aportuguesada para denominar o regime político “de fato” baseado na figura do shogun (将軍), abreviação de Seii Taishōgun (征夷大将軍), que significa “Grande General Apaziguador dos Bárbaros”. Em japonês, esse regime é chamado de bakufu (幕府), “governo a partir da tenda”, local onde ficava o xogum nos períodos de guerra e às vezes é traduzido como “generalíssimo”. Do século XII a 1868, o xogum era quem exercia o poder supremo no Japão, tendo o imperador apenas função simbólica.
36
cultural mais homogêneo. As unidades administrativas regionais do Japão –
antecessores das atuais províncias japonesas – eram chamadas de kuni (国), ou
seja, “países” ou “reinos”, até por volta do final do século XIV. Posteriormente,
passaram a se chamar han (藩), “feudos” até a restauração Meiji, quando passaram
a ser denominadas ken (県).
Essa política de isolamento do Japão teve fim com a intervenção de uma esquadra
de navios americana, comandada pelo Comodoro Matthew Perry que, em junho de
1853, forçou as negociações para a abertura dos portos japoneses aos Estados
Unidos da América, por meio da demonstração, com tiros de canhão, da supremacia
dos armamentos ocidentais sobre os arcaicos armamentos japoneses. Após quase
um ano de negociações, o xogunato – enfraquecido internamente por fatores sociais
e políticos, como a decadência do modelo feudal japonês e o descontentamento da
população e de outros senhores feudais – pressionado pelos países estrangeiros,
cedeu às exigências dessas nações e firmou um acordo de abertura do comércio,
encerrando finalmente, em 1854, a bicentenária política Sakoku de isolamento
político e econômico. O interesse das nações imperialistas em romper esse bloqueio
japonês autoimposto era poder atuar livremente num mercado inexplorado de cerca
de 50 milhões de potenciais consumidores de produtos manufaturados ocidentais. A
sociedade japonesa feudal e sua estagnada economia baseada num sistema agrário
e dependente da cultura do arroz estavam à mercê da história global, em que as
potências ocidentais, industrializadas e tecnologicamente mais avançadas,
conquistavam colônias na África e na Ásia. Com a abertura econômica, o xogunato
teve que enfrentar uma crise interna sem precedentes. Diversos levantes locais
levaram o país a uma guerra civil, que culminou em 1868 com a vitória dos setores
que defendiam a restauração do poder “de fato” ao imperador e pregavam a
37
modernização rápida do Japão em moldes ocidentais. A renúncia do xogum ao
poder fez com que o poder político efetivo do Japão voltasse para a casa imperial, a
qual tivera apenas papel simbólico no panorama político japonês nos séculos
antecedentes, encerrando o período do xogunato e iniciando a era da Restauração
Meiji16 (1868-1912). Mas apesar da destituição de poder do xogunato, da abolição
do sistema feudal e da formação de um parlamento, essa transferência de poder
para o imperador continuava a ser apenas simbólica, pois o poder político passara
das mãos do clã Tokugawa – último xogum – para o parlamento, controlado pelos
senhores feudais e samurais que haviam liderado o movimento de restauração.
Para compensar esse período de isolamento, que produzira atraso tecnológico do
país com relação ao resto do mundo, houve um intenso movimento de modernização
patrocinado pelo governo, que buscava estabelecer intercâmbios com países mais
desenvolvidos para aquisição de novos conhecimentos e de tecnologia. Reformas
estruturais profundas foram feitas na sociedade com o intuito de desenvolver a
indústria e a economia do país num período de tempo muito curto. O desmonte da
estrutura feudal agrária, no entanto, provocou um grande êxodo rural, aumentando
excessivamente a população das metrópoles, acarretando grandes custos sociais
decorrentes desses deslocamentos de pessoas e famílias em busca de ocupação e
sustento. O Japão começou um grande movimento de modernização,
industrialização e militarização – baseado nos modelos ocidentais –, a fim de
aumentar sua influência política e econômica na Ásia, fundamentada em interesses
expansionistas, orquestrados pelo governo sob o lema: “Enriquecer o país, fortalecer
o exército”, política conhecida como Fukoku kyohei. Essa política visava também a
16 O imperador Mutsuhito, posteriormente conhecido como Meiji (明治), “Iluminado”, foi o 122º imperador do Japão, chegou ao trono com 14 anos e inaugurou a era Meiji, que marcou o início do Japão moderno.
38
ocupar um espaço no conturbado cenário geopolítico e econômico mundial, que era
dominado pelos países europeus. Em cerca de meio século após a abertura, o
Japão passou da posição de país inexpressivo no panorama mundial para a de
potência econômica e militar regional, tendo obtido vitória nas duas guerras de que
participara: a Guerra Sino-Japonesa (1894-1895) e a Guerra Russo-Japonesa
(1904-1905). Essas incursões militares revelaram o caráter expansionista e
colonialista do novo governo japonês, controlado por militares, que chegou a
subjugar política e economicamente a Coréia, Taiwan e parte da Manchúria obtendo,
também, vantagens econômicas com a vitória sobre a Rússia.
No entanto, esse rápido desenvolvimento econômico e social do Japão causou,
entre outras consequências, grandes concentrações populacionais urbanas que não
eram plenamente absorvidas na nova sociedade que ora se delineava. Apesar de o
Japão já ter convivido com problemas de superpopulação em centros urbanos nos
séculos anteriores (Tóquio já tinha uma população de quase 900 mil pessoas no ano
de 1695, muito superior à das grandes capitais europeias no mesmo período), as
demandas de um acréscimo populacional sem ocupação definida em meados do
século XIX, num sistema social e econômico em transformação, era um grande
desafio ao país. Em duas décadas, a política de modernização iniciada no início da
era Meiji transformou o país, dando a alguns antigos senhores feudais
oportunidades para ocupar cargos estratégicos na nascente moderna estrutura
político-governamental. Paralelamente, desenvolveu-se uma emergente burguesia
que se enriqueceu com a exploração dos empreendimentos industriais e financeiros
recém-importados do mundo ocidental. A falta de trabalho nas áreas rurais criou um
movimento de migração para as cidades de pessoas em busca de empregos e
melhores condições de vida, atingindo, inclusive, o extremo norte do Japão, na ilha
39
de Hokkaido, onde ainda havia regiões a ser desbravadas. As opções de migração,
contudo, logo escassearam, e o governo japonês passou a promover a emigração
do excedente populacional como alternativa de equilíbrio social no país. A primeira
emigração oficial de japoneses ocorreu em 1883, quando um grupo se dirigiu para a
Austrália a fim de trabalhar na extração de pérolas. A partir de 1885, emigrantes do
Japão passaram a ir para o então reino independente do Havaí. Nos anos seguintes,
Canadá, Estados Unidos e Peru também foram o destino de milhares de famílias e
trabalhadores nipônicos. A emigração era uma alternativa para fugir de uma vida de
penúria, embora, mesmo sendo patrocinada pelo governo, apresentasse riscos de
insucesso. Esse movimento migratório teve como destino alguns países específicos,
os quais concentraram praticamente todo o contingente de emigrantes voluntários
(veja-se o quadro 1.1). Por volta de 1900 o Japão já possuía uma população de
cerca de 50 milhões de pessoas, enquanto o Brasil tinha menos de 18 milhões de
habitantes.
País Início Objetivo População hoje % Havaí e EUA 1858 Trabalhar na Agricultura 1 milhão e 300 mil 37,0 Reino Unido 1863 Estudar 51 mil 1,5 Canadá 1877 Fugir da crise econômica 85 mil 2,6 China 1894 Trabalhar na agricultura 11mil 3,5 Peru 1899 Trabalhar na agricultura 81 mil 2,5 Brasil 1908 Trabalhar na agricultura 1 milhão e 500 mil 46,0
Quadro 1.1 – Principais movimentos migratórios japoneses para o exterior Fonte: Relatório do Ministério de Relações Exteriores do Japão (2010)
O período de aproximadamente 80 anos de emigração japonesa (de 1858 a 1938),
que vai da era da Restauração Meiji até o início da Segunda Grande Guerra Mundial,
também foi uma época de grandes transformações sociais e econômicas globais. A
turbulenta e tardia entrada do Japão no cenário geopolítico internacional é realizada
40
numa fase igualmente concorrida para o resto do mundo: trata-se do século de
consolidação das recém-formadas nações da América, das condições políticas e
econômicas que configurariam a atual Europa e lançariam as bases para os conflitos
das duas grandes guerras mundiais e para o advento do socialismo. É o período do
declínio e da abolição da escravatura e da consolidação das ciências humanas e
naturais numa velocidade e extensão impressionantes. O Império britânico atinge o
seu auge, mas também é o início da ascensão do poderio e da influência norte-
americana sobre o mundo. É o período em que aconteceram as grandes
transformações sociais oriundas da Segunda Revolução Industrial – baseada na
indústria siderúrgica, no uso da energia elétrica e na utilização em escala industrial de
produtos químicos, que intensifica o já crescente processo de industrialização e
urbanização da Europa. A atividade de manufatura e os trabalhos artesanais são
substituídos por máquinas, pelos operários braçais e pela lógica da produção em
massa. O mercado de trabalho europeu também não absorve toda a mão de obra que
surge da expansão demográfica e do êxodo rural. As pessoas começam a buscar
oportunidades de trabalho em outros países, dando origem aos grandes fluxos
migratórios modernos, sobretudo em direção às Américas. Nesse período, que vai do
final do século do XIX ao início do século XX, cerca de 50 milhões de europeus
deixaram o Velho Mundo em direção às Américas e à Oceania. A modernização do
meio de transporte transoceânico e a consolidação das rotas comerciais
ultramarinas contribuem para que esses fluxos acontecessem numa proporção sem
precedentes na história humana. Imigrantes britânicos, italianos, alemães,
espanhóis, russos e portugueses constituíam cerca de 80% do total de imigrantes
europeus. Os EUA receberam nesse período cerca de 33 milhões de imigrantes; a
Argentina, mais de seis milhões; o Canadá, mais de cinco milhões; o Brasil, mais de
quatro milhões e a Austrália, mais de três milhões. Além dos imigrantes desses
41
países, vários outros europeus emigraram para as colônias de seus respectivos
países. Os chineses e os japoneses também começaram a emigrar para as terras do
Novo Mundo. Por volta de 1880, somente a América do Norte recebeu cerca de meio
milhão de asiáticos, sobretudo chineses e japoneses (OLIC, 2002). Esse é o
contexto no qual começou o período de imigração japonesa no Brasil.
1.2.1. A IMIGRAÇÃO JAPONESA NO BRASIL
A chegada do navio Kasato Maru ao porto de Santos, em 18 de junho de 1908,
trazendo 781 pessoas (165 famílias) para trabalhar nos cafezais do oeste paulista
marcou oficialmente a chegada de imigrantes japoneses ao Brasil, coroando todo um
período de negociações que havia começado em 1895, com a celebração do
Tratado de Amizade, Comércio e Navegação entre o Brasil e o Japão firmado em 5
de novembro, na França. A viagem durou 52 dias, com partida do porto da cidade de
Kobe, no Japão, e estabeleceu o início de um processo que a especialista em
história da imigração japonesa no Brasil Célia Sakurai denomina de “imigração
tutelada” pelo estado japonês, ou seja, o processo imigratório japonês foi organizado
pelo governo imperial do Japão, com arranjos e acordos firmados entre os governos
dos dois países envolvidos (SAKURAI, 2000). Por esse motivo, todo esse processo
de imigração está amplamente documentado.
O Brasil que recebia os primeiros imigrantes japoneses, particularmente a então
província de São Paulo, já tinha larga experiência em receber levas de mão de obra
estrangeira. No período de 1827 (quando se começou a registrar oficialmente a
entrada de estrangeiros em São Paulo) a 1874, São Paulo recebeu pouco mais de
onze mil estrangeiros. Entre 1875 e 1886, com a proibição do comércio de escravos,
entraram no Brasil mais de quarenta mil imigrantes, cerca de quatro vezes mais
42
estrangeiros que nos cinquenta anos do período anterior. Esse boom imigratório
tinha como objetivo principal encaminhar trabalhadores para as lavouras de café
paulistas, que se encontravam em franca expansão (CARDOSO, 1995, p.29). A
imigração de estrangeiros para o interior paulista, concebida como importação de
força de trabalho assalariada era diferente da promovida na região sul do país, cujo
modelo objetivava a ocupação e era baseada no conceito do agricultor proprietário.
Nesse modelo, alemães e italianos povoaram grande parte da região sul do Brasil.
Devido à expansão de sua cultura cafeeira em decorrência da grande demanda
internacional pelo produto, o Estado de São Paulo recebeu o maior número de
imigrantes desde o final do século XIX até meados do século XX. Os dados sobre os
movimentos migratórios na região estão muito bem documentados devido a esses
interesses do governo estadual em promover a imigração para suprir a demanda de
mão de obra para os cafezais paulistas. Dessa forma, o Brasil necessitava de braços
para sua lavoura cafeeira em virtude do crescimento da demanda pelo produto nos
mercados internacionais. O Japão, por sua vez, como foi mencionado, vivia uma
crise social e populacional havia algumas décadas, que culminou, entre outras
medidas, numa política governamental de incentivo à emigração, como solução
imediata para aliviar o problema de superpopulação dos centros urbanos, provocada
pela saída dos camponeses do interior rumo aos grandes centros, em busca de
trabalho. Essas duas condições explicam as bases do início do processo de
imigração japonesa no Brasil, o qual durou quase sete décadas e pode ser dividido
em dois grandes períodos: o período anterior à Segunda Guerra Mundial e o período
pós-guerra. De acordo com dados obtidos com o Departamento de Imigração e
Colonização da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo, no período que
vai de 1870 a 1952, 2.593.652 imigrantes entraram no país pelo Estado de São
Paulo, dos quais 190.063 eram japoneses. A comunidade japonesa constituiu-se
43
durante esse período na quarta maior comunidade de imigrantes em São Paulo, com
7,9% do total, precedida pelas comunidades italiana com 34,5% (894.037
imigrantes), portuguesa com 18,6% (481.572) e espanhola com 15,7% (406.448). No
entanto, no período que vai de 1930 a 1939 – um período de baixa emigratória para
o Brasil –, 51% de todos os imigrantes que entraram no Brasil são provenientes do
Japão (CARDOSO, 1995, p.30).
No final do século XIX, o Japão era considerado um país exótico e desconhecido
pelo Brasil. A China era mais conhecida, pois alguns imigrantes chineses já vinham
se estabelecendo no país desde 1812, vindos sobretudo, da província de Cantão,
que fica ao sul daquela nação. A política de imigração brasileira era orientada por
uma elite governante branca que naquela época tinha objetivos não apenas
econômicos e estratégicos, mas ideológicos: havia necessidade, sim, de
providenciar mão de obra que faltava aos produtores rurais e de colonizar áreas
desabitadas do país. Mas o intuito era “branquear” a população brasileira, pois havia
o pensamento de que a população negra, trazida como mão de obra escrava para o
país representaria um atraso social, cultural e econômico, devido à “inferioridade”
étnica dos negros. Assim, dava-se preferência aos de imigrantes europeus, já que
negros estrangeiros e asiáticos amarelos não eram considerados apropriados para a
execução dessa política (SASAKI, 2009, p.44-45). Em 1890, o decreto nº 528,
assinado pelo presidente Deodoro da Fonseca tornava a imigração de negros e
asiáticos praticamente impossível, condicionando a entrada de imigrantes da África e
da Ásia à prévia autorização do Congresso Nacional. Esse mesmo decreto não
restringia, antes, incentivava a entrada de imigrantes europeus. Mas em 1892 foi
aprovada a lei nº 97 que permitia a entrada de imigrantes chineses e japoneses no
Brasil tornando nulo o decreto nº 528 de 1890. Na época, o preconceito contra o
44
recebimento de imigrantes asiáticos era muito forte: os asiáticos eram considerados
raça inferior, que prejudicariam o desejado "embranquecimento" que ocorria no
Brasil com o recebimento de imigrantes europeus (política que visava a combater a
supremacia de habitantes afrodescendentes no país). Há registros de discussões no
Congresso e em editoriais de jornal defendendo esses pontos de vista
preconceituosos. Paralelamente, havia também o medo do "perigo amarelo", isto é,
o temor de que as grandes populações orientais se espalhassem étnica e
culturalmente pelas Américas (fenômeno que estava ocorrendo no mundo desde
meados do século XIX). Esse temor foi exacerbado pelo expansionismo militarista do
império nipônico, que derrotou a China, em 1895 e a Rússia, em 1905,
estabelecendo a nação como potência econômica e militar na Ásia (NUCCI, 2000,
p.39-45). No entanto, por volta de 1900, a lavoura cafeeira encontrava-se em
expansão, e o governo do Brasil começou a estudar o recebimento de imigrantes
japoneses. Manuel de Oliveira Lima, encarregado de negócios da primeira missão
diplomática brasileira no Japão, em consulta feita pelo governo, deu parecer
contrário ao projeto de recebimento de imigrantes japoneses, mencionando o perigo
de o brasileiro se misturar com "raças inferiores” (SUZUKI Jr., 2008). Em 1902, o
governo da Itália proibiu a emigração subsidiada de italianos para o Brasil, ao
constatar as condições degradantes a que seus cidadãos eram submetidos nos
contratos de trabalho assalariado. Os italianos que quisessem vir ao Brasil
precisariam custear as próprias despesas. Com a diminuição de oferta de mão de
obra italiana, o governo brasileiro aceitou o recebimento de imigrantes japoneses.
Em 1907, a Lei de Imigração e Colonização regularizou a entrada de todos os
imigrantes, acabando definitivamente com as restrições impostas pelo decreto nº
528, de 1890. Sasaki resume bem essa decisão aparentemente paradoxal:
45
Os “amarelos”, isto é, os asiáticos, não condiziam com os ideais da construção da identidade nacional brasileira, que era baseada na política de embranquecimento, embora eles tenham sido vistos como uma alternativa para compor a mão-de-obra e atender à demanda na lavoura cafeeira. Além disso, havia uma preocupação em relação à sua adaptação nas terras brasileiras. A questão da assimilação esperada pelos nacionais se contrapunha à racionalidade econômica e produtiva. Isso configurava uma das contradições da política imigratória brasileira, pois, ao receber os imigrantes, por um lado, desqualificava o nacional como trabalhador (uma vez que o trabalhador brasileiro era tido como indisciplinado e indolente), para justificar a imigração estrangeira, e, por outro, desqualificava o imigrante como estrangeiro para justificar medidas discriminatórias. (SASAKI, 2006, p.100)
Isso permitiu que, em novembro de 1907, fosse firmado um acordo entre o Japão e o
Estado de São Paulo para trazer três mil imigrantes japoneses para trabalhar como
agricultores e o navio Kasato Maru representava a primeira fase desse projeto. O
Japão queria aliviar sua pressão social e populacional num momento em que os
tradicionais destinos migratórios cerravam suas portas – os Estados Unidos, Austrália
e Canadá restringiam o acesso a imigrantes japoneses – e o Brasil precisava de
trabalhadores para a crescente produção agrícola de café e via-se privado de uma
costumeira fonte de mão de obra, a de imigrantes italianos. Estabeleciam-se, assim,
as condições ideais para o início da imigração japonesa no Brasil.
1.2.2. ADAPTAÇÃO DOS IMIGRANTES JAPONESES AO BRASIL
Os primeiros imigrantes chegados em 1908 foram recebidos com um misto de frieza
e curiosidade pelo povo paulista. Havia muita expectativa sobre a aparência e o
modo de ser desse povo que aportava em terras brasileiras pela primeira vez. O
registro de um jornal da época, o Correio Paulistano17, que acompanhou os
primeiros imigrantes à Hospedaria dos Imigrantes de São Paulo18 –, descrito pelo
17 Órgão do Partido Republicano de São Paulo. Artigo de J. Amândio Sobral publicado na primeira página da edição de 25 de junho de 1908. 18 As hospedarias de imigrantes eram estruturas criadas pelo governo a partir da segunda metade do século XIX para receber imigrantes recém-chegados ao Brasil, que seriam enviados a colônias e fazendas no interior ou mesmo para viverem e trabalharem na capital. Muitos deles chegavam enfermos e precisavam ficar em quarentena nessas hospedarias, antes de seguir viagem.
46
historiador Tomoo Handa (1987, p. 4-12), revela alguns sentimentos desse momento
de encontro entre duas civilizações por parte do povo brasileiro: a percepção de que
o povo era relativamente mais baixo e franzino que os imigrantes aos quais os
paulistas estavam costumados a encontrar (italianos, espanhóis e alemães); a
notória limpeza, disciplina e silêncio dos japoneses; o modo de vestir ocidental
elegante dos homens e mulheres e suas bagagens arrumadas e limpas, que
contrastavam com as vestes simples, às vezes pobres e sujas, dos imigrantes
europeus. Alguns desses comentários são reproduzidos a seguir. Sobre a percepção
em relação à aparência e constituição física dos imigrantes nipônicos:
Todos os japonezes vindos são geralmente baixos: cabeça grande, troncos grandes e reforçados, mas pernas curtas. Um japonez de 14 annos não é mais alto que uma criança das nossas de 8 annos de edade. A estatura média japoneza é inferior à nossa estatura baixa. Mas vieram alguns homens altos, regulando a sua estatura pela nossa média. O que, sobretudo, attráe a nossa attenção é a robustez, o reforçado dos corpos masculinos, de músculos pouco volumosos (admira, mas é verdade!) mas fortes e de esqueleto largo, peito amplo [...]
Com relação à organização, disciplina e educação:
Depois de estarem uma hora no refeitório, tiveram de abandona-lo, para saberem quaes eram as suas camas e os quartos, e surprehendeu a todos o estado de limpeza absoluta em que ficou o salão: nem uma ponta de cigarro, nem um cuspo, perfeito contraste com as cuspinheiras repugnantes e pontas de cigarro esmagadas com os pés dos outros imigrantes. Têm feito as suas refeições sempre na melhor ordem e, apesar de os últimos as fazerem duas horas depois dos primeiros, sem um grito de gaiatice, um signal de impaciência ou uma voz de protesto [...]
São muito dóceis e sociaveis, tendo manifestado uma grande vontade de aprender a nossa lingua, e no refeitório não deixam cahir um grão de arroz ou uma colher de caldo. Depois de cada refeição, que dura de uma e meia a duas horas, o pavimento do salão está como antes delia. Os dormitórios quasi não precisam ser varridos, mal se encontrando de longe em longe um pedacinho de papel ou um phosphoro queimado, que algumas vezes são dos serventes da hospedaria [...]
São do maior asseio com o seu corpo, tomando repetidos banhos e trazendo sempre roupas limpas [...]
Nas mil e cem malas que trouxeram, a alfândega não encontrou um único objecto nas condições de pagar imposto, embora a conferência tenha sido feita com todo o rigor e durado quasi dois dias inteiros. Os empregados da alfândega declaram que nunca viram gente que tenha, com tanta ordem e com tanta calma, assistido à conferência de suas bagagens, e nem uma só vez foram apanhados em mentiras.
47
Então, o repórter do Correio Paulistano finaliza:
A riqueza paulista terá no japonez um elemento de produção que nada deixará a desejar. A raça é muito differente, mas não é inferior. Não façamos, antes de tempo, juizos temerários a respeito da acção do japonez no trabalho nacional.
Esse breve texto registra as impressões de um brasileiro acerca de um encontro
histórico, a estranheza do primeiro contato, as confirmações de algumas
expectativas e o começo de uma construção de imagem do imigrante japonês diante
da realidade do Brasil. Muitas dessas impressões certamente foram compartilhadas
por tantos outros brasileiros ao travarem contato com o povo nikkei que começava a
tomar parte na construção também da identidade do povo paulista e,
consequentemente, do povo brasileiro. Por outro lado, a impressão que os
japoneses que aqui chegavam tiveram sobre o Brasil e sobre os brasileiros
começava a ser construída a partir de duas expectativas e um pré-conceito:
• a possibilidade de enriquecimento rápido;
• o plano de retorno ao país de origem e
• a ideia de que o brasileiro era um povo atrasado (HANDA, 1987).
E foi sobre essas premissas que os imigrantes japoneses chegaram ao Brasil em
grandes grupos organizados e por aqui se estabeleceram, com o intuito de
permanecerem por pouco tempo. A imigração tutelada, com modelo familial e para
exploração agrícola (CARDOSO, 1995), desenvolveu-se de 1908 até ser
interrompida pela 2ª Guerra Mundial. O período compreendido entre 1928 e 1934
foram os anos de maior fluxo de entrada de imigrantes japoneses (cerca de 57% do
total), conforme descreve Ruth Cardoso (1995, p. 34). A segunda onda imigratória
ocorreu após a 2ª Guerra e correspondeu a apenas 3% do total de imigrados, sendo
uma boa parte destes (40%) imigrantes solteiros, contrastando com o modelo familial
48
que predominou na primeira fase (idem, p. 36). Segundo Cardoso, a mobilidade
social da população imigrante e seus descendentes foi rápida:
A rapidez do processo que transformou estes imigrantes de simples trabalhadores agrícolas em pequenos e médios proprietários rurais e urbanos indica sua alta mobilidade social. Esta rapidez é ainda mais surpreendente quando se leva em conta que o período de pouco mais de sessenta anos em que ocorre todo este processo de integração social foi ainda perturbado pela II Guerra Mundial, a qual, colocando o Brasil e Japão em campos opostos, trouxe dias difíceis para os japoneses aqui radicados, considerados então como inimigos. Como o período de maior entrada de japoneses no Brasil ocorreu na década de 30, a maioria das famílias japonesas imigrada teve que enfrentar os problemas de discriminação surgidos com a guerra quando ainda era quase recém-chegada. (1995, p.52).
Durante o período da Segunda Guerra Mundial, o Japão uniu-se à Alemanha e à
Itália, compondo a terceira força do Eixo. O país constituiu-se, assim, indiretamente,
numa nação inimiga do Brasil a partir de 1942, quando este se juntou às forças
Aliadas. Em decorrência da desconfiança do governo brasileiro para com a
comunidade imigrante japonesa no país nesse período, proibiu-se a existência de
um sistema de ensino paralelo japonês alternativo19 aos filhos dos imigrantes – entre
outras restrições e medidas impostas pelo governo sobre os imigrantes japoneses,
alemães e italianos. Esse fator aumentaria o isolamento cultural da colônia no
período da primeira fase da imigração japonesa. Os primeiros imigrantes geralmente
estavam fixados no campo e haviam projetado seu retorno ao Japão assim que
acumulassem recursos financeiros suficientes. O estudo da língua portuguesa não
era primordial dentro desse projeto de vida, e sim o aprendizado formal da própria
língua materna, uma vez que havia a expectativa de volta ao Japão em curto espaço
de tempo. A proibição governamental de ensino exclusivo da língua japonesa
influenciou na educação dos filhos dos imigrantes, pois obrigou as comunidades
19 Estima-se que tenha havido entre 178 a 486 escolas japonesas no Brasil no período anterior à Segunda Guerra Mundial. (KREUTZ, 2000, p.160).
49
nikkei a desenvolverem um contato maior com a sociedade brasileira, uma vez que
seus filhos precisavam frequentar a escola brasileira fora da colônia de japoneses.
Com a derrota do Japão ao final da Segunda Guerra Mundial, a pátria dos
imigrantes enfrentava graves problemas econômicos e sociais, tornando inviável o
velho sonho de retorno à terra natal. O antigo “Grande Império Japonês” fora
dissolvido e milhões de japoneses tiveram que voltar ao já combalido Japão. Houve,
então, um momento em que a maior parte da comunidade de imigrantes decidiu
fixar-se definitivamente no Brasil, esforçando-se para se integrar à nova pátria e
direcionando seus filhos a estudarem em escolas brasileiras, a assumirem sua
cidadania e buscarem a ascensão social por meio do trabalho e do estudo.
Incentivou-se a escolarização e a adoção da religião majoritária no Brasil: o
catolicismo. A boa aceitação da comunidade brasileira – apesar do registro de
diversas atitudes locais e até governamentais de discriminação – e a resignação e
esforço para se integrarem na sociedade, fizeram com que os nikkei conquistassem o
status de membros da comunidade brasileira. Foi um processo longo, mas, pouco a
pouco, a comunidade japonesa acabou conquistando admiração e respeito por parte
da sociedade receptora, que, desde o início, reconheceu os imigrantes japoneses e
seus descendentes como trabalhadores e ordeiros (QUINTANEIRO, 2006, p.167;
ALMEIDA, 2012, p. 109). O final da Segunda Guerra também proporcionou uma
nova entrada de imigrantes japoneses no Brasil. As associações de emigração das
províncias eram responsáveis pelo recrutamento e pela seleção dos candidatos. Em
janeiro de 1954, a Federação das Associações Japonesas no Ultramar (Kaikyōren)
foi criada pelo governo japonês para centralizar os processos de envio e adaptação
desses novos emigrantes. Organizações internacionais japonesas, como a JAMIC
(Japan Migration and Colonization), estabeleceram empreendimentos econômicos –
50
geralmente agrícolas – para fixação de colônias e administração de propriedades no
Brasil e fomentaram a imigração japonesa no pós-guerra. Entre as colônias sob a
administração direta da JAMIC, destacam-se: Tomé-Açu II, no Pará, Várzea Alegre,
no Mato Grosso do Sul, Funchal, no Rio de Janeiro, e Guatapará, em São Paulo. A
JAMIC do Brasil manteve-se ativa durante muitos anos, encerrando suas atividades
em 1981. Nos anos 1960, com o desenvolvimento econômico do Japão, o fluxo
migratório ao Brasil diminuiu, e em 1973 o programa de emigração foi encerrado.
Aproximadamente 53 mil imigrantes japoneses chegaram aqui no período pós-
guerra, entre 1953 e 1973. A comunidade nikkei passou a se institucionalizar
principalmente no período pós-guerra, criando a maior parte das entidades
associativas, culturais, religiosas, esportivas, recreativas, agrícolas etc. existentes
hoje (SASAKI, 2009, p. 107).
Após mais de um século do início do processo de imigração japonesa e quase
cinquenta anos após o seu fim, os imigrantes sobreviventes e seus descendentes
constituem uma comunidade de mais de um milhão e meio de pessoas, inserida e
integrada ao contexto brasileiro, tendo obtido, como grupo étnico, um relativo
sucesso econômico e ascensão social, além de reconhecimento e penetração na
sociedade brasileira – três representantes da comunidade nikkei já foram ministros:
Fábio Ryoji Yasuda, ministro da Indústria e do Comércio (1969), Shigeaki Ueki,
ministro das Minas e Energia (1974), e Seigo Tsuzuki, ministro da Saúde (1989);
Junichi Saito tornou-se comandante da Força Aérea Brasileira em 2007.
Os kenjinkai se originaram e se desenvolveram no contexto desse processo
migratório e, não obstante o final desse ciclo de imigração, ainda subsistem como
instituições. Em geral, o processo imigratório começava na própria província do
51
candidato a emigrante, através da intermediação das associações de imigrantes da
província e talvez por esse motivo, os kenjinkai continuaram a ser um ponto de
referência para eles no Brasil. O decréscimo do número de imigrantes japoneses
vivendo aqui, juntamente com o distanciamento dos jovens descendentes de suas
raízes nipônicas têm estimulado discussões entre as diversas associações de
província sobre os objetivos e estratégias dessas instituições no atual contexto. Mas
em geral, elas continuam ativas e mantêm objetivos comuns, desenvolvendo suas
atividades costumeiras e adaptando-se às condições atuais. Utilizam-se, por
exemplo, da Internet para comunicação com seus membros, com a comunidade
nikkei e com a sociedade brasileira.
1.2.3. NIHONJIN, JAPONÊS, NIKKEI E NIPO-BRASILEIRO
Alguns termos utilizados para identificar o japonês imigrante e seus descendentes
são básicos para a construção identitária. O vocábulo “nihonjin”, significa “japonês” e
essa condição, junto com a de imigrante – “imin” –, com certeza traduzem a primeira
formulação identitária do imigrante japonês sobre si mesmo: “imigrante japonês”,
alguém que saiu de sua terra, mas pretende voltar. Entretanto, essa condição o
transforma em “nikkei”, um japonês que vive fora do Japão, embora, pensavam os
primeiros imigrantes, essa fosse uma condição provisória. Sasaki afirma:
Até eclodir a Segunda Guerra Mundial, os imigrantes japoneses no Brasil se consideravam ‘nihonjin’ 日本人, isto é, japoneses, uma vez que ainda havia perspectiva de retornar enriquecidos ao Japão. Depois desse evento, eles passaram a construir suas vidas nas terras brasileiras, distantes da possibilidade do retorno (SASAKI, 2000, p. 107).
Quando se apropria da língua portuguesa, o imigrante e seu filho – o “nissei” – ainda
se veem como “nihonjin”, mas, com o passar dos anos, esse termo é vertido para o
52
português e é frequentemente utilizado, reforçando sua identidade. O nihonjin passa
a ser “o japonês” (ou “japa”), e assim são chamados pelos brasileiros. E eles
acabaram assimilando esse termo, a ponto de um filho de imigrante japonês,
nascido no Brasil – brasileiro, portanto –, dizer: “nós, os japoneses, somos assim...”.
Essa apropriação de uma “identidade” japonesa incorporada (“identidade”, não a
“nacionalidade”) muitas vezes está presente no discurso de netos e bisnetos de
japoneses, a ponto de uma campanha publicitária brasileira de uma empresa de
eletrônicos nos anos de 1990 afirmar “os nossos japoneses são mais criativos que
os japoneses dos outros”, referindo-se a uma marca nacional (Semp) que firmou
parceria com uma firma japonesa (Toshiba). Ou seja: ser “japonês”, começa a
significar mais do que ter uma “nacionalidade”; aliás, essa é a última acepção a ser
considerada em determinados momentos quando se chama alguém de “japonês”.
Refere-se, antes de tudo, a uma etnia, mas que envolve, também, aspectos culturais
e identitários. Mas, mesmo entre os descendentes de japoneses, o termo “nihonjin” é
assimilado por esses brasileiros natos, e seu uso é feito em contraposição aos não-
japoneses, os “gaijin”20. É comum esses descendentes de japoneses fazerem
colocações como: “Eles eram ‘gaijin’ e não ‘nihonjin’ como a gente, por isso agiram
de tal modo”, ou então: “você é burajirujin (brasileiros) e não ‘nihonjin’, por isso não
entende”. A utilização pelos descendentes de japoneses dos termos “japonês” e
“nihonjin” para se referirem a si mesmos evidencia a incorporação desse traço
identitário cultural de identificação com a origem e a cultura japonesas. Por outro
lado, o uso do termo “gaijin” revela um pouco do código de relação interpessoal dos
japoneses, que é reproduzido em várias instâncias no seu universo de
relacionamentos. As pessoas “de fora” do círculo referencial, no modo de pensar
20 Gaijin (外人) significa literalmente “pessoa de fora” (do grupo). “Estrangeiro” é gaikokujin (外国人).
53
japonês, podem ser indivíduos que não pertencem à família ou que estão “de fora”
da organização de que se participa. Dessa forma, o não-japonês é um gaijin –
estrangeiro – aos olhos do imigrante japonês e de seus descendentes, é alguém “de
fora”. Como afirma Stuart Hall (2006), a identidade cultural é construída em dois
níveis: o de similaridade (o grupo étnico, o familiar) e o da diferenciação (pessoas do
grupo “de fora”).
O termo “nikkei”, atribuído aos japoneses e seus descendentes que vivem fora do
Japão, reforça o sentido de “japonesidade”. Ele submete o nissei, o sansei e o
yonsei à perspectiva do issei, isto é, o filho, o neto e o bisneto são “classificados” e
“identificados” a partir de sua relação com o primeiro japonês. O nikkei tem sua
identidade ligada ao Japão e à sua cultura. O termo é reconhecido principalmente em
duas instâncias culturais: a da sociedade japonesa e a da comunidade nikkei
brasileira. O vocábulo “nipo-brasileiro”, expressão que talvez se aproxime bastante do
sentido do vocábulo “nikkei”, é mais conhecido na sociedade brasileira. As
“identidades com hífen”, que remetem a um duplo pertencimento, são um exemplo
de conciliação de categorias múltiplas de identificação, como argumenta Jeffrey
Lesser (LESSER, 2001), ao discutir sobre a negociação da identidade nacional dos
imigrantes e minorias na sua luta por seu espaço social no Brasil. Ambos os termos,
“nipo-brasileiro” e “nikkei”, quando adjetivam o sujeito, trazem ideias que o qualificam
e o relacionam culturalmente ao conceito de “japonês”, que por sua vez, não seria
uma função adjetiva, mas substantiva, pois nomearia o que poderia ser identificado
como “japonesidade”, como aponta a antropóloga Érica Hatugai
O termo “japonês/japoneses” se apresenta como uma categoria que engloba issei (imigrante) e nikkei (seus descendentes) de diferentes gerações e é utilizado correntemente por descendentes e não descendentes e, dado sus usos e significados, ele pode ser entendido como uma categoria nativa brasileira. O termo
54
“japonês” adquiriu seus contornos no passado, nas relações entre imigrantes japoneses e brasileiros, expressando estranhamentos e preconceitos praticados por ambos. O que se verifica hoje é que esse termo expressa uma classificação brasileira constituída em marcas corporais que etnicizam como “japoneses” pessoas e grupos descendentes de etinias asiáticas por conta de seus traços fenotípicos. (HATUGAI, 2011, p.60)
Ser “japonês” no Brasil, portanto, assume mais que o sentido de ser “natural do
Japão”, e sim, ter características e valores que identificariam um sujeito com a
cultura e o “modo de ser” dos japoneses, quem sabe, até, um modo de “estar no
mundo”. A percepção que a sociedade tem sobre “japonês”, “nikkei” ou “nipo-
descendente” (empregados aqui todos como sinônimos), pode ser resumida num
espectro que varia entre dois extremos: um, no qual o grupo “japonês” não possui
uma conotação negativa, mas constitui uma “minoria positiva”, que é vista pela
grande massa da população brasileira favoravelmente (MURAOKA, 2010), seja pelo
“bom exemplo” da comunidade nikkei no Brasil (de trabalho, disciplina, bom
desempenho escolar e ascensão social), seja pelo desempenho econômico e
tecnológico do Japão, que ajuda a valorizar o povo japonês e sua cultura (TSUDA
apud RIBEIRA, 2010, p. 30). O extremo oposto do espectro está assentado em
estereótipos preconceituosos que, num processo de exotização – exacerbação e
solidificação das características de um grupo –, acaba desqualificando-o (RIBEIRA,
2011, p. 90). Esses fatores seriam, entre outros, “falta de flexibilidade”, “falta de
‘jogo-de-cintura’”, “timidez excessiva”, “problemas de comunicação” (idem, p. 91),
além do exagero da depreciação de características físicas dos orientais: “olhos
rasgados”, “nariz chato”, “baixa estatura”, “sem curvas” (para as mulheres) e “pouco
dotados” (para os homens), entre outras. No olhar do “outro”, esses dois extremos
podem ser fatores “estereotipados” para a construção identitária cultural individual.
Por outro lado, a partir do levantamento de diversos pesquisadores (SUGIYAMA,
2009; SILVA, 2008 e 2013; OLIVEIRA, 1997) sobre a construção da identidade
55
cultural do próprio nikkei, pode-se dizer que ela pode ser influenciada por sua
relação com três aspectos culturais principais: a) nível de conhecimento da língua
japonesa do indivíduo; b) o grau de convívio com japoneses ou descendentes que
expressam a cultura japonesa de variadas formas e c) a experiência de ter vivido ou
não no Japão, que proporcionou contato direto com o Japão contemporâneo.
O grau de domínio da língua japonesa define o nível de interatividade com a cultura
através do diálogo pessoal e o acesso aos meios de comunicação do Japão,
permitindo que alguém tenha maior ou menor acesso a informações e manifestações
culturais japonesas. Nessa perspectiva, teríamos, então:
• o grupo issei – que se divide em dois subgrupos: imigrantes do período pré e
do pós Segunda Guerra Mundial. Ambos têm o japonês como língua materna
mas frequentemente esses dois grupos têm perspectivas de mundo distintas;
• o grupo composto por nissei e sansei, que compreendem bem ou
parcialmente o idioma japonês, tendo-o, ou não, como língua materna e que
também se dividem, por esse motivo, em dois subgrupos diferentes.
• descendentes de segunda, terceira ou quarta gerações (nissei, sansei e
yonsei) que não compreendem o idioma e se identificam muito mais com a
cultura brasileira do que com a japonesa.
Outro fator que influencia culturalmente a japonesidade do nikkei é o seu contato
com pessoas que vivenciam aspectos culturais japoneses, como a língua, a arte, o
esporte, culinária etc. Nessa categoria, teríamos pelo menos três situações:
• pessoas que convivem ou conviveram com familiares japoneses (avós e pais)
e por isso têm ou tiveram um nível de exposição maior à expressão de uma
japonesidade mais “original”;
56
• o nikkei que convive frequentemente com outras pessoas que vivenciam
aspectos da cultura japonesa, seja no trabalho – numa firma japonesa, por
exemplo – ou participando de atividades sociais em outras organizações
japonesas, e
• o público que vivencia as manifestações de japonesidade de terceiros
somente no âmbito do kenjinkai.
Finalmente, outro elemento que pesa na expressão de uma japonesidade do nikkei é
a experiência de ter conhecido o Japão atual, o que proporciona, então, um
referencial cultural distinto. E essa percepção e atitude para com os aspectos
culturais japoneses varia de acordo com a vivência positiva/negativa que se teve. O
motivo da ida – se a trabalho, se a estudo ou se a lazer – é um fator grande de
influência. A partir dessa perspectiva de experiência de ter visitado ou vivido no
Japão, pode-se obter os seguintes grupos:
• nikkeis que já foram ao Japão como turistas, como decasséguis e como
bolsistas, cada grupo com experiências e perspectivas distintas sobre o país.
Esse grupo é bastante heterogêneo e as impressões que cada um deles teve
do Japão pode influenciar na manifestação de sua japonesidade.
• Decasséguis (que estão passando por um período no Brasil) e ex-decasséguis.
Marcadamente, esse grupo
• japoneses que estão vivendo no Brasil como bolsistas de intercâmbio ou
como funcionários de empresas, empreendedores, executivos e
• público nikkei que nunca foi ao Japão
Todas essas realidades contextuais e histórias de vidas pessoais distintas
concorrem para que a japonesidade do kenjinkai seja multiplicada e variada. Por
57
exemplo, os elementos culturais e históricos presentes na memória do issei do pré-
guerra é de uma realidade que já não mais existe nem sua terra natal: parte do
vocabulário e alguns dos costumes se mantiveram apenas no Brasil, e manifestam
no século XXI um Japão de um outro tempo que nem mais existe lá. Por outro lado,
a percepção da cultura japonesa na perspectiva do sansei – o neto do imigrante
japonês – que determina sua japonesidade nikkei inclui elementos como mangás,
animês e games. Para os que estiveram no Japão recentemente, há a lembrança de
grandes lojas de departamento com uma profusão de produtos eletroeletrônicos, a
pontualidade e lotação dos trens japoneses, os espaços exíguos de moradia.
Portanto, a construção identitária simbólica é peculiar a cada grupo, a partir da
vivência proporcionada, principalmente pela posição do nikkei na árvore geracional e
por sua experiência e contato com a cultura japonesa, manifesta tanto no Japão
quanto no Brasil. Um outro exemplo dessa diferente vivência de japonesidade é o
dos decasséguis, que contribuem com uma leitura de um Japão vivido e interpretado
segunda a ótica de brasileiros nikkeis numa determinada realidade sociocultural que
lida sobretudo com os fatores do dia a dia das pessoas que trabalham nas fábricas
do Japão moderno. Já os imigrantes japoneses do pós-guerra, e os recém-chegados
vivem uma japonesidade fora de seu país de origem, mesclada, portanto, a uma
cultura nikkei brasileira, vivenciada também no âmbito dos kenjinkai. Exemplificando:
há alimentos de origem japonesa no Brasil, produzidos em escala industrial,
presentes nos supermercados e incorporados à realidade brasileira, como o shoyu, o
tofu e o macarrão japonês. Mas esses produtos, apesar de terem origem japonesa,
apresentam um “quê” de brasilidade. É evidente, então que termos e elementos
culturais também sofreram essa releitura e adaptação no Brasil. A culinária, a língua
e o vestuário são os elementos culturais mais visíveis nessa transição cultural, mas
há outros, que nem são prontamente identificados, como o modo de falar, de agir e
58
de pensar “japoneses” que já são influenciados pelo modo de viver no Brasil. Há
inúmeras referências culturais midiáticas no Brasil, cuja origem é japonesa, mas já
estão perfeitamente integradas numa realidade cultural brasileira, como o consumo
de produtos culturais como animês – Pokemón, Dragon Ball-Z – e mangás, que já
foram até incorporados pelo desenhista de história em quadrinhos Maurício de
Souza, que transformou seus famosos personagens infantis da turma da Mônica em
adolescentes com traços de mangá: a turma da Mônica Jovem. Nos games, a
maioria dos jovens conhecem os personagens “Mario Bross”, “Legend of Zelda”,
“Final Fantasy” e “Sonic” e reconhecem que eles são uma expressão do universo
cultural midiático japonês. No campo esportivo e gastronômico, a japonesidade
brasileira envolve a prática do judô, do jiu-jitsu e do karatê e a apreciação de pratos
japoneses como sushi, pastel, rolinho primavera e yakissoba.
1.3. A ORGANIZAÇÃO DE UM KENJINKAI
Numa consulta realizada pessoalmente pelo autor em dezembro de 2012 no Centro
Internacional de Pesquisas de Estudos Japoneses, conhecido como “Nichibunken”21,
em Kyoto, no Japão, a fim de obter subsídios para pesquisa, foi constatado que não
há estudos acadêmicos específicos – sociológicos, antropológicos nem de qualquer
natureza – sobre o tema “kenkjinkai”. As informações que serão passadas a seguir,
foram obtidas de modo empírico e informal, a partir da experiência do autor com
essas organizações, por meio do relatório do Granada Relocation Center,
21 International Research Center for Japanese Studies (国際日本文化研究センタ - Kokusai Nihon Bunka Kenkyū Sentā). Site da instituição: http://www.nichibun.ac.jp.
59
mencionado anteriormente, e de pesquisas realizadas no Japão com o Escritório de
Assuntos Internacionais em Yamagata (International Affairs Office in Yamagata) e ao
Centro Internacional de Pesquisas de Estudos Japoneses, em Kyoto (International
Research Center for Japanese Studies). Como já mencionado, kenjikai é uma
associação de imigrantes e seus descendentes com a finalidade de manter
relacionamento com sua província de origem e desenvolver atividades culturais e
sociais envolvendo as culturas japonesa e brasileira. Frequentemente ele é o canal
de comunicação oficial dos associados com o governo da província do Japão22.
Possui uma diretoria eleita e associados e se sustenta com colaborações financeiras
obtidas através da cobrança de mensalidades, de recursos provenientes de
atividades beneficentes desenvolvidas para esse fim, além de valores ofertados
espontaneamente por seus associados ou benfeitores. Dificilmente há aporte de
recursos por parte do governo da província japonesa à qual estão ligados. O
relatório obtido nos arquivos digitais da biblioteca Auraria relata o processo de
fundação de um kenjinkai:
Os japoneses mais velhos quando chegaram a este país associaram-se o mais prontamente com outros japoneses de suas províncias de origem. E como era de costume, ao se atingir um número suficiente de pessoas de uma mesma província, eles formaram um kenjinkai. Essas sociedades se encontram de vez em quando para a sociabilidade e o Ano Novo geralmente é comemorado com um grande banquete. Os membros do grupo ajudam membros em dificuldades. No tocante às pessoas mais velhas, o Kenjinkai é simplesmente uma sociedade de interesse mútuo e amizade, sem conotações nacionalistas particulares. (JAPANESE GROUPS AND ASSOCIATIONS, 1943) [Tradução do autor]23.
22 Tais associações também existem no Japão, isto é, há associações de conterrâneos de uma certa província que se organizam quando estes moram em outra região do país. 23 The older Japanese, when they arrived in this country, mingles most readily with other Japanese from their own home prefectures or provinces. As was almost inevitable, when there were a fair number of people from one prefecture or one area, they formed a Prefectural Association, or Kenjinkai. These societies meet from time to time for sociability and at New Year's usually celebrate with a large banquet. Members of the group help out fellow members in distress. So far as the older people are concerned, the Kenjinkai is simply a mutual interest and friendship society, with no particular nationalistic connotations.
60
Em 1943, os Estados Unidos da América já haviam encerrado o processo migratório
japonês e a comunidade nikkei já estava em sua segunda e terceira gerações, por
isso o uso da expressão “japoneses mais velhos” e o uso no passado. O segundo
aspecto é o caráter associativo, espontâneo e seletivo que o texto revela: “associam-
se o mais prontamente” (mingle most readily). Isso indica que há uma tendência
natural de se associar com pessoas da mesma localidade, evidenciando um espírito
associativo presente na constituição da comunidade do nikkei. E tal movimento é
realizado de maneira espontânea e voluntária, pois o relator explicita que “e como era
quase inevitável, ao se atingir um número suficiente de pessoas...” tal processo era
“inevitável”, ou “previsível” para esse grupo. A criação de uma associação é levada
adiante quando um número suficiente de pessoas justifica a sua existência e permita a
sua manutenção econômica.
Há um fator de constituição identitária relacionada ao local de nascimento, expondo
uma dimensão de pertencimento a um grupo que é muito forte no espírito japonês e
se reproduz nessas organizações de província. De fato, duas coisas que os nikkei
que estão mais próximos da cultura japonesa geralmente perguntam um ao outro ao
se conhecerem são: 1) qual é o sobrenome, a fim de identificar a família, e 2) de que
província a pessoa, ou seus antepassados são provenientes. Saber a família e a
província de origem do nikkei são duas informações fundamentais para a elaboração
identitária do indivíduo diante da comunidade Nikkei. Portanto, sua origem (família) e
sua procedência (província) constituem-se nas suas primeiras credenciais. O
kenjinkai representaria, portanto, uma constituição simbólica bastante forte com
relação à formação de uma identidade nikkei relacionada à procedência. Uma
província japonesa possui um significado muito maior do que ser apenas uma
unidade administrativa do Japão moderno. Há séculos atrás, a “província” era
61
chamada de kuni, ou seja, “país”, ou “reino”. A ideia de “país” está implícita no
caractere que o representa na escrita japonesa: 国 (país, reino) e se estende a
outras nações que mantinham relações diplomáticas ou comerciais com o Japão até
o final do século XIV, como a China, que se escreve: 中国 (Chugoku24 - o “país
central”) e a Coreia, que cuja escrita é: 韓国 (Kankoku – “grande país”).
Curiosamente, o próprio Japão (日本 - Nihon) não tem um ideograma que expressa
a ideia de “kuni” em seu nome: ele é simplesmente, o lugar “onde nasce o sol”. O
processo de unificação do Japão significou a incorporação dos diversos “países” (os
kuni) – as províncias atuais. Entende-se, então, que variados “países” que existiam e
representavam identidades culturais distintas, cuja somatória resultou no “país”
Japão. A denominação “kuni” foi substituída para “província”, como já foi
mencionado, somente no final do século XIV. Não é de se admirar, portanto, que a
indagação quanto à província de origem seja uma referência obrigatória na conversa
de apresentação entre dois japoneses ou nikkeis que se encontram pela primeira
vez. A província japonesa, portanto, é mais que a terra natal, é a ideia de nação, a
referência cultural ancestral e que dá identidade ao “japonês”. A província é a
“primeira nação”, uma construção simbólica elaborada pelo discurso. Essa relação
umbilical identitária, “genética”, mantém-se até hoje, pois o kenjinkai existe
prioritariamente em função do imigrante – o “primeiro japonês” – e se estende a seus
descendentes. Além dessa perspectiva histórica, há também o pensamento
xintoísta-budista25 nipônico que estabelece a dependência e o débito de gratidão
aos antepassados, que leva os japoneses a reverenciar seus antecessores,
apregoando que o desempenho nesta vida depende da relação que se mantém com
24 O ideograma kuni (国) também pode ser lido como “koku” ou “goku” em japonês. 25 O xintoísmo e o budismo possuem dogmas distintos, mas eles sofreram um processo de sincretismo ao longo dos séculos, gerando uma forma de religiosidade peculiar japonesa (OSHIMA, 1991, p.50-53).
62
os antepassados, forjando uma identidade que se encontra ligada espiritualmente e
cerimonialmente aos ancestrais. Esses sentimentos de gratidão, de reverência e de
dívida são manifestos em diversos momentos da vida comunitária – como a
preservação da memória dos pioneiros, através da exposição permanente de fotos
de todos os presidentes da associação numa área de destaque, a frequente
lembrança dessas pessoas em discursos e documentos oficiais do kenjinkai, entre
outras coisas. Essa forma de agir é transposta para a relação dos provincianos e
seus descendentes com a província-mãe. O kenjinkai é uma expressão concreta do
povo nikkei dessa forma de ver o mundo que confere importância fundamental às
origens e aos antecessores.
1.3.1. OBJETIVOS DO KENJINKAI
E quais são os objetivos e atividades dessa associação? De acordo com o mesmo
relatório “esses associados se encontram de tempos em tempos para sociabilidade e
o Ano novo geralmente é celebrado com um grande banquete”. E termina dando um
parecer que sintetiza o espírito do kenjinkai: “é uma sociedade de amigos e de ajuda
mútua”. Num kenjinkai tradicional, há a reprodução de uma comunidade japonesa
em diversos aspectos: oferta de atividades educacionais (ensino da língua, de artes
e esportes japoneses) e atividades sociais, com o envolvimento de pessoas de
diversas faixas etárias (crianças, jovens, adultos e idosos), caracterizadas pelos
diversos departamentos que podem existir numa associação desse tipo
(departamento de jovens, de senhoras, de senhores, de anciãos). Há atividades
voltadas para cada grupo específico: para as crianças menores, atividades de
recreação; para os rapazes, esportes como beisebol, judô, sumô; para as moças,
atividades de culinária, dança, aprendizado de instrumentos típicos; para as
senhoras, cursos de ikebana, da cerimônia do chá, de caligrafia etc. Para os
63
anciãos, há atividades para entretenimento direcionadas, como música, exibição de
filmes e atendimento na área de saúde, por exemplo, além de homenagens
proporcionadas às pessoas mais velhas, a partir dos 70 anos. Há os festivais
comemorativos, como o Matsuri Tanabata (geralmente em julho), além de outras
festividades da própria província que podem ser motivo de ajuntamento da
comunidade. Nesses eventos, todos os departamentos do kenjinkai se envolvem
para o seu preparo e realização. Geralmente há apresentação de danças e consumo
de comidas típicas. Quando há venda de produtos, a renda é revertida para a
associação ou para determinada causa. Essas atividades envolvem pessoas de
diversas idades e classes sociais, evidenciando a dimensão comunitária,
participativa e familiar de um kenjinkai, reforçando a noção de que este representa
uma base de desenvolvimento de construção identitária sobre a qual seus
integrantes elaboram sua identidade pessoal ou dela retiram para essa formulação.
A ligação da pessoa com a província é extremamente relacionada ao valor que o
japonês dá à sua terra natal.
O descendente de japoneses, portanto, tem à sua disposição muitas opções de
associações culturais com raízes nipônicas. É possível que um nikkei faça parte da
associação de províncias – kenjinkai – e de um kaikan ou bunkyo (outra
denominação para uma associação de cultura japonesa), além de outras
modalidades de associações esportivas e culturais. Pode-se arriscar enunciar que os
japoneses e seus descendentes têm uma forte propensão de se associarem devido
a fatores históricos e culturais de origem ancestral. O fato de eles se organizarem –
nos primórdios da imigração no Brasil – em comunidades para o trabalho coletivo,
sobretudo nas tarefas agrárias, fortaleceu essa característica cultural. A necessidade
de se pertencer a uma comunidade no contexto migratório para sobrevivência tanto
64
física quanto psicológica, também ajuda a entender esse espírito associativo,
sobretudo porque as diferenças culturais entre Brasil e Japão – a começar pelas
características físicas de seus naturais, passando pela língua e pelos costumes –
eram enormes. Isso com certeza exacerbou o espírito associativo dos imigrantes e
seus descendentes. Dentre as diversas formas de organizações voluntárias
acessíveis aos descendentes de imigrantes japoneses, a proporcionada pelas
associações de província tem um diferencial importante – os kenjinkai serviam de elo
de comunicação oficial entre o governo da província e os japoneses e seus
descendentes dessa província no Brasil.
1.3.2. IDENTIDADE CULTURAL DO KENJINKAI
O advogado e professor André Hayashi ao descrever sobre o papel das associações
das províncias japonesas, na obra “O nikkei no Brasil” (HARADA, 2009), atesta a
importância dessas organizações na própria formação da identidade cultural do
kenjinkai:
Pode-se afirmar, sem qualquer receio de se cometer algum equívoco grave, que as maiores contribuições prestadas pelos kenjikai no Brasil se situam no terreno cultural. A preservação das identidades culturais e dos valores regionais, permitindo que a sociedade brasileira possa aprender sobre a pluralidade dos aspectos culturais do arquipélago japonês, e, por conseguinte, respeitar e preservar, em seu seio, a diversidade cultural é, sem dúvida alguma, a grande contribuição dada por essas instituições ao nosso país. (HAYASHI, 2009)
“Identidade” é hoje um termo complexo, bastante utilizado tanto pela área das
Ciências Sociais quanto pela Psicologia. Em Ciências Sociais, por sua vez, existem
variadas teorias que a conceituam, adjetivando-a, como os termos “identidade
social”, “identidade étnica” ou “identidade linguística”. Esses conceitos propõem
abordagens distintas para estudo da identidade. Mas independentemente da
perspectiva teórica, um conceito geral de identidade cultural na sociedade
65
contemporânea refere-se não a uma descrição estanque e imutável, mas a um
estado, a um processo de transformação constante e dinâmico, que influencia e é
influenciado por diversos fatores e que implica em estratégias de construção e
destruição, como afirma Zygmunt Bauman:
“A identidade é um conceito altamente contestado. Sempre que se ouvir essa palavra, pode-se estar certo de que está havendo uma batalha. O campo de batalha é o lar natural da identidade” (BAUMAN, 2005, p. 83).
Interessa-nos, nesta tese, a perspectiva do conceito de “identidade cultural”,
entendida – de modo extremamente sintético – a partir do campo dos Estudos
Culturais, como “todo um modo de vida”, conforme defendia seu expoente e um dos
fundadores, o acadêmico galês Raymond Williams:
... Cultura [...] na História e nos Estudos Culturais (refere-se aos) sistemas de significação ou simbólicos. Isso confunde amiúde, mas, ainda mais frequentemente esconde a questão central das relações entre produção "material" e "simbólica" (WILLIAMS, 2007, p. 122).
Pela ótica do cientista social jamaicano Stuart Hall (1932-2014), um dos grandes
nomes da área, os Estudos Culturais consideram o estudo da cultura, da política e
dos meios de comunicação perspectiva importante para o propósito desta tese, que
é análise de discurso de sites, um fenômeno cultural que se estabelece com
interação de uma mídia – a Internet, num contexto social e político que se manifesta
nos dias atuais. Hall expõe que o entendimento do conceito de "identidade cultural"
pressupõe uma análise processual: a identidade deve ser vista como um processo
construído historicamente, baseado tanto nas características que reúnem os
indivíduos – um grupo cultural – como as características que os separam
(similaridade e diferenciação). Portanto, as identidades não são estáticas nem
imutáveis, estão em permanente construção. A identidade cultural deve ser sempre
66
considerada como relacional e situacional, pois implica um jogo simultâneo de
identificação tanto de si como de outros que a reconhecem. Para Hall, as culturas
nacionais são a fonte primordial de identidade cultural, pois as nações desenvolvem
e proporcionam um repertório cultural com o qual um determinado grupo pode se
identificar (HALL, 2006, p. 22). Contudo, pode-se questionar a homogeneidade da
identidade nacional, já que, segundo o autor, as nações modernas são “híbridos
culturais”. Ele discute tópicos como o fundamentalismo, o hibridismo e a diáspora no
contexto da formação das identidades culturais. O fundamentalismo seria uma
tentativa de construção de identidades culturais “puras”, uma busca que,
potencializada ao extremo, pode gerar preconceitos e rupturas socioculturais, e
sociopolíticas, até. Por outro lado, o hibridismo seria a fusão de diferentes matrizes
culturais, produzindo uma nova forma de cultura – segundo alguns – ou relativizando
e descaracterizando as “culturas originais”, com o custo de empobrecê-las ou
extingui-las, no julgamento de outros. Por fim, a diáspora – relacionada
principalmente aos fenômenos imigratórios da pós-modernidade do mundo
globalizado – é uma realidade fundadora dessa perspectiva de Estudos Culturais. As
implicações relacionais envolvem sempre aspectos políticos históricos, como por
exemplo, a questão do colonialismo britânico, ou da presença dos estados japonês e
brasileiro no processo de imigração tutelada no Brasil, daí a perspectiva política
estar sempre presente nos Estudos Culturais.
... as identidades nacionais não são coisas com as quais nós nascemos, mas são formadas e transformadas no interior da representação. Nós só sabemos o que significa ser "inglês" devido ao modo como a "inglesidade" (Englishness) veio a ser representada – como um conjunto de significados - pela cultura nacional inglesa. Segue-se que a nação não é apenas uma entidade política mas algo que produz sentidos – um sistema de representação cultural. As pessoas não são apenas cidadãos/ãs legais de uma nação; elas participam da ideia de nação como representada em sua cultura nacional. Uma nação é como uma comunidade simbólica e é isso que explica seu poder para gerar um sentimento de identidade lealdade. (HALL, 2006, p.48-49)
67
O conceito de identidade cultural, portanto, compreende uma construção simbólica,
com base na noção individual de pertencimento a uma nação, por parte de um grupo
social que se identifica com o mesmo conjunto de significados e dele compartilha. O
próprio conceito de cultura nacional, segundo Hall, é uma construção simbólica, uma
“comunidade imaginada”, histórica e socialmente construída através de discursos.
“Uma cultura nacional é um discurso” (HALL, 2006, p. 50):
As culturas nacionais, ao produzir sentidos sobre "a nação", sentidos com os quais podemos nos identificar, constroem identidades. Esses sentidos estão contidos nas estórias que são contadas sobre a nação, memórias que conectam seu presente com seu passado e imagens que dela são construídas (HALL, 2006, p.51).
Dessa forma, amplia-se o conceito de identidade nacional – não a que é entendida
pelo viés político de direito à cidadania e a um passaporte de um país, mas aquela
ligada à história, à cultura e à etnia de um grupo que partilha de um legado cultural
comum e reconhece a si mesma e aos seus integrantes como uma comunidade. A
identidade cultural de um kenjinkai pode ser definida, então, como uma comunidade
imaginada, sem fronteiras geográficas, formada por indivíduos que comungam de
uma “mesma história fundadora”, de valores e traços culturais que são construídos
simbolicamente por meio de um discurso. Essas histórias não se limitam,
necessariamente, ao passado: elas podem estar sendo construídas hoje, no
momento em que se vivenciam, como comunidade, fatos sociais relevantes. Hall
identifica cinco elementos principais da narrativa da cultura nacional (p. 51-55):
• Há uma “narrativa da nação, tal como é contada e recontada nas histórias e
nas literaturas nacionais, na mídia e na cultura popular”.
• Há a “ênfase nas origens, na continuidade, na tradição e na atemporalidade”.
A identidade nacional é representada como primordial e eterna.
68
• Tradições são inventadas, para “buscar inculcar certos valores e normas de
comportamentos através da repetição, a qual, automaticamente, implica
continuidade com um passado histórico adequado”.
• Existe um “mito fundacional, estória que localiza a origem da nação, do povo
e de seu caráter nacional” num passado muito distante.
• É baseada na ideia de um povo “puro”, “original”.
A construção identitária por meio do discurso é uma formulação simbólica complexa.
Há alguns outros elementos que podem ajudar a construir uma identidade cultural,
como a história pessoal, os aspectos biológicos, o parentesco, a língua, o contexto
etc. No entanto, nossa hipótese é de que a análise do discurso dos sites dos
kenjinkai seja suficiente para fornecer elementos necessários à construção
identitária do enunciador. Portanto, essa é a razão por que esta tese examina a
identidade cultural do kenjikai como um discurso.
Antes de se proceder à análise do discurso, no entanto, devemos considerar a
dimensão institucional do kenjinkai como uma associação voluntária com objetivos
definidos. É preciso compreender seu posicionamento como ator social em busca da
institucionalização e que se relaciona com outras entidades sob a forma de pessoa
jurídica. Essa perspectiva será brevemente abordada no tópico “O kenjinkai na
perspectiva da Comunicação Institucional”.
1.3.3. O KENJINKAI E A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
O kenjinkai é uma associação de província, que possui uma diretoria e associados.
Dessa forma, pela perspectiva das Ciências Sociais Aplicadas, é uma organização e,
como tal, possui “existência” e “papel” na sociedade. Essa é uma dimensão que
69
precisa ser considerada quando se propõe a analisar o discurso de uma
organização, situada numa sociedade organizacional, como expõe Margarida
Kunsch, especialista em comunicação organizacional:
Vivemos numa sociedade organizacional, formada por um número ilimitado de diferentes tipos de organizações, que constituem parte integrante e interdependente da vida das pessoas. O indivíduo, desde que nasce e durante a sua existência, depara-se com um vasto contingente de organizações, que permeiam as mais diversas modalidades no âmbito dos setores público, privado e do chamado terceiro setor (KUNSCH, 2002, p.19).
Apesar de frequentemente ser utilizado como sinônimo de “organização”, o termo
“instituição” nas Ciências Sociais se constitui, com bastante consenso entre os
teóricos, num conceito diferente. Como “organização”, refere-se a um grupamento
humano, com vistas à instrumentalização para se atingir determinados objetivos;
para a maioria dos autores, a “instituição” seria um organismo vivo, produto das
necessidades e pressões da sociedade, que possui valores e identidade. De modo
generalizado, então, as organizações teriam foco na função de produzir bens ou
prestar serviços, atendendo às necessidades de seus participantes, e na estrutura,
para atingir seus objetivos; as instituições, por sua vez, focam a função social, para
atender a alguma necessidade básica da sociedade, e possem uma estrutura
baseada em crenças, valores e ideias (idem, p.33-34).
O campo da Comunicação Organizacional, que é aquele que estuda e desenvolve
teorias e estratégias para o atendimento das demandas comunicacionais das
organizações nas áreas administrativa, interna, mercadológica e institucional,
compreende também a área da Comunicação Institucional, que segundo Kunsch
é a responsável direta, por meio da gestão estratégica das relações públicas, pela construção de uma imagem e identidade corporativas fortes e positivas de uma organização. A Comunicação Institucional está intrinsecamente ligada a aspectos
70
corporativos institucionais que explicitam o lado público das organizações, constrói uma personalidade creditiva organizacional e tem como proposta básica a influência político-social na sociedade onde está inserida (Id., ib., p. 164).
Uma organização, portanto, pode desenvolver um “processo de institucionalização”,
que, conforme Kunsch, “possibilita que uma organização venha a transformar-se em
instituição na medida em que assume compromisso e objetivos relevantes para a
sociedade e o mercado” (Id., ib., p. 39). Segundo a autora, a Comunicação
Institucional utiliza-se de:
... instrumentos que convergem para formatar uma comunicação da organização em si, como sujeito institucional, perante seus públicos, a opinião pública e a sociedade em geral”. Os instrumentos são: as relações públicas, o jornalismo empresarial, a assessoria de imprensa, a publicidade/propaganda empresarial, a imagem e a identidade corporativa, o marketing social, o marketing cultural e a editoração multimídia (Id., Ib., p. 166)
Portanto, o kenjinkai, por se constituir como uma organização, está inserido num
contexto social em que indivíduos e outras organizações interagem. O site da
associação é uma ferramenta de comunicação institucional, que procura atender a
objetivos específicos da organização, entre eles, o de desenvolver um processo de
institucionalização, de legitimação, ganhando “vida” e se tornando um ator social
com atuação relevante na sociedade. Na ótica da Comunicação Institucional, o
discurso do site possui uma dimensão de construção identitária, com vistas à
institucionalização. O próximo capítulo será dedicado à análise desse discurso, na
perspectiva da semiótica narrativa e descritiva.
71
CAPÍTULO II
FUNDAMENTOS TEÓRICOS E METODOLÓGICOS PARA A ANÁLISE DO
DISCURSO DO KENJINKAI
Como já foi apresentado, o objetivo desta tese é identificar no discurso de sites de
associações de províncias japonesas no país a construção da identidade cultural do
ator da enunciação kenjinkai do Brasil. Essas associações de província foram
estabelecidas no Brasil ao longo do processo imigratório japonês no país e tinham
como um de seus principais objetivos manter conexões entre seus membros e a
província de origem. Como a imigração japonesa tutelada terminou há quase
cinquenta anos, e essas instituições permanecem desenvolvendo suas atividades
até hoje, levanta-se a questão sobre o caráter da identidade cultural que elas
assumem e divulgam através da web: Elas dizem ser japonesas? Brasileiras? Nipo-
brasileiras? E se identidade cultural é construída através do discurso é importante
analisar o discurso dos sites dessas instituições, os quais foram concebidos para
comunicar seus propósitos e interesses junto a públicos escolhidos. Os sites de
associações, portanto, projetam um discurso que traz elementos que permitem
reconstituir a formulação identitária do “ator da enunciação”, o personagem
construído a partir do conjunto dos textos enunciados e que emite a “voz oficial” do
kenjinkai para os seus diversos públicos. Para fazer a análise desses discursos,
buscando identificar um “discurso único” possível aos kenjinkai do Brasil, foi
estabelecida a perspectiva da semiótica narrativa e discursiva, que é o fundamento
teórico sobre o qual os conceitos de discurso e de texto e a metodologia de análise
estão baseados e que será apresentada brevemente a seguir.
72
2.1. A PERSPECTIVA DA TEORIA SEMIÓTICA
O objeto de estudo – discurso dos sites – pode ser abordado inicialmente a partir da
compreensão do que é um site. Site é um termo de origem inglesa bastante utilizado
no português brasileiro, apesar de haver um termo equivalente – sítio – em nossa
língua. Ambas as palavras derivam do latim situs, que significa “lugar demarcado,
local, posição”. O termo “sítio” já possui, em português, o sentido de “endereço na
Internet”, um nome que apresenta páginas de textos informativos, imagens, sons etc.
Em termos concretos, um site é um conjunto de páginas em formato de hipertexto,
acessíveis geralmente por um protocolo chamado de “http”, sigla de Hypertext
Transfer Protocol, que em português significa “protocolo de transferência de
hipertexto”. Um protocolo em informática é um conjunto de normas e padrões
técnicos que determinam o formato da transmissão de dados entre computadores
para diversos tipos de conteúdos. Esse protocolo é a base na Internet, a rede
internacional de computadores. O conjunto de todos os sites públicos existentes
compõem a World Wide Web, ou seja, uma “rede de alcance mundial”, cuja sigla é
“www”. Um site é, portanto, “um lugar” onde se tem acesso a conteúdos
hipermidiáticos (textos e imagens, dispostos numa sequência não necessariamente
linear), um endereço onde são encontradas páginas que formam um discurso
expressas por “linguagens” diferentes (textual, visual, sonora), disponibilizadas por
alguém – pessoa física ou instituição. Do ponto de vista da Comunicação, a Internet
é não apenas uma implementação técnica para trabalho e entretenimento, mas
constitui uma mídia convergente que tem causado profundas transformações em
toda a sociedade. O site confunde-se com o meio (a forma) e com a mensagem (o
conteúdo), concorrendo para a sua compreensão na perspectiva da semiótica: ele é
um “texto”, por conter tanto o “plano de expressão” quanto o “plano de conteúdo”.
73
“Site” refere-se tanto a lugar, quanto ao meio, como também ao conteúdo. Pela
perspectiva semiótica, o site contém o texto enunciado, cuja definição mais precisa
será apresentada logo adiante.
Para atingir o objetivo desta tese – levantar a identidade cultural do kenjinkai do
Brasil através do discurso dos sites das associações de província –, faz-se
necessário adotar uma perspectiva teórica que sustente o percurso metodológico a
ser desenvolvido. Identidade cultural é uma construção simbólica desenvolvida
através do discurso. E no caso do kenjinkai, haveria uma personagem, um “ator” que
produziu o discurso. Parte-se do pressuposto de que é possível identificar um
discurso identitário comum às associações de províncias, a fim de se construir
esse “ator”. Entende-se que haja “várias mensagens” num site, e que cada kenjinkai
possa construir um discurso distinto. No entanto, a organização desses discursos
“distintos” nos três sites analisados confirmará a natureza de um discurso identitário
comum aos kenjinkai do Brasil, que é o fundamento para o estabelecimento da
figura do ator da enunciação, como será visto mais adiante.
Para fazer a análise do discurso de sites de kenjinkai no Brasil é preciso adotar uma
perspectiva teóricam pois, atualmente, diversas teorias se propõem a servir como
base para a “análise de discurso”. Dentre elas, está a análise de discurso de linha
francesa (AD), desenvolvida pelo filósofo francês Michel Pêcheaux (1938-1983),
com uma vertente denominada análise de discurso crítica (ADC), desenvolvida por
Norman Fairclough (1941). Outra abordagem teórica da análise de discurso é a da
teoria semiótica, que também possui suas vertentes: a semiótica da cultura ou
semiótica russa, desenvolvida a partir dos anos 1950 por meio dos estudos
produzidos pela escola de Tartu, e a vertente desenvolvida pelo linguista de origem
74
lituana, Algirdas Julien Greimas (1917-1992), e pelo Grupo de Investigações
Semiolinguísticas da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, em Paris. Essa
última ficou conhecida também como semiótica narrativa e discursiva, ou
semiótica greimasiana. Essa vertente semiótica teórica é que fundamentará a
análise dos discursos dos sites.
O objeto de estudo é o discurso dos sites dos kenjinkai que pode ser expresso
verbal e visualmente, em textos sincréticos. Segundo Barros (2008, p. 11), o texto
pode ser conceituado como:
• um objeto de significação cuja análise se faz pelo estudo da organização ou
estruturação que o tornam um "todo de sentido";
• um objeto de comunicação entre dois sujeitos, o destinador e o destinatário,
que assume, assim, a posição de objeto cultural situado no tempo e no
espaço (como a estruturação da sociedade em que o texto foi produzido e as
formações ideológicas com as quais ele se relaciona). Esses outros textos
(contexto histórico e social) atribuem sentido ao texto do discurso.
Essa compreensão do texto a partir da semiótica fornece duas perspectivas
complementares para seu estudo: a análise focada apenas no texto, que se
preocupa com “o que o texto diz e que mecanismos linguísticos e discursivos são
utlizados para dizê-lo” e a análise que, além do texto, trata de fatores contextuais ou
sócio-históricos de fabricação de sentido do texto, concebendo-os como relações
entre textos. A semiótica narrativa e discursiva apresenta conceitos e procedimentos
para se relacionar o texto ao seu contexto e foi adotada como base teórica para o
desenvolvimento metodológico desta tese por duas razões: pela preocupação em
considerar a análise no contexto histórico, social e cultural no qual está se dando
75
esse processo de construção de sentido e pelo fato de o método do percurso
gerativo de sentido ter por objeto principal o texto procurando “descrever e explicar o
que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz” (BARROS, 2008, p.7). Isso
permite extrair elementos contextuais presentes no discurso, pois a própria forma de
se construir o texto propicia e inserção desses elementos. Esse método desenvolve
a análise da mensagem do site por meio de um percurso que proporciona a
compreensão do processo de produção de sentido, e faz isso abordando o texto em
três níveis: o fundamental, o narrativo e o discursivo. Tal processo será abordado
resumidamente adiante. Barros escreve que:
Para explicar "o que o texto diz" e "como o diz", a semiótica trata, assim, de examinar os procedimentos da organização textual e, ao mesmo tempo, os mecanismos enunciativos de produção e de recepção do texto" (2008, p.8).
2.2. DEFININDO ENUNCIAÇÃO, ENUNCIADO, DISCURSO E TEXTO
Termos como “discurso” e “texto” são empregados em comunicação e análise
semiótica com diversos sentidos. Para definir o sentido de cada um deles a partir da
perspectiva teórica que será adotada, apresentaremos alguns conceitos que
concorrerão para estabelecer uma compreensão. Faremos isso contextualizando o
discurso e o texto a partir da perspectiva teórica da enunciação e do enunciado.
Conforme Fiorin (2012 B, p. 49), “a fala é a realização individual daquilo que a língua
permite produzir”, e “a enunciação é uma instância de mediação entre a língua e a
fala” (2012, p. 49). Ele afirma que “todas as teorias que enfatizam a organização
linguística do discurso derivam das proposições de Benveniste (Émile Benveniste,
76
linguista francês, 1902-1976) sobre a enunciação” (2012, p. 49) e, segundo a
perspectiva fundadora benvenisteana, a enunciação seria, portanto, o conjunto de
categorias que permitiria a passagem “da língua” para “a fala”:
... as categorias que compõem a instância da enunciação são a pessoa, o espaço e o tempo... ego, hic et nunc, ou seja, do eu, aqui e agora, porque, nela, alguém, num espaço e num tempo criados pela linguagem, toma a palavra e, ao fazê-lo, institui-se como "eu", e dirige-se a outrem, que é instaurado como um "tu". (p.50)
A enunciação é um ato, um momento, e o enunciado, a captação desse momento, a
reprodução desse ato, na forma de um simulacro desse momento único. O
enunciado fundamenta uma instância em que “pessoa”, “espaço” e “tempo” são
estabelecidos. O enunciador é sempre pressuposto e é estabelecido no momento da
enunciação. Nesse processo de enunciação, estabelece-se o “eu”, pressupondo-se
o “tu”. Como a enunciação é um momento único e irrepetível, a “captura” desse
momento – um simulacro, desse momento, na verdade – possibilita a obtenção de
um objeto de estudo: o texto-enunciado. Esse processo é explicado por Fiorin:
Quando se produz esse ato de fala, o enunciador se apropria do conhecimento linguístico e, ao fazê-lo, se institui como "eu". "Eu" é quem diz "eu", quem toma a palavra. Então, o ato de tomar a palavra estabelece um "eu" e, ao mesmo tempo, como esse "eu" fala para alguém, ele constitui simultaneamente um "tu". Esse "eu" fala num determinado espaço, que é o "aqui", o lugar onde está o "eu". [...] Além de falar num dado espaço, o "eu" fala num determinado tempo, o "agora". O "agora" é o momento da fala. "Agora" é o momento em que o "eu" toma a palavra". (FIORIN, 2012 B, p.49).
Como Fiorin esclarece, o enunciador se estabelece como tal, no tempo e no espaço,
a partir do enunciado, e também estabelece o enunciatário, existindo ele ou não
objetivamente, pois ele é sempre pressuposto. Portanto, o texto-enunciado é o
resultado de todo o sistema enunciativo. Quando “eu” diz algo, há a projeção de uma
imagem desse “eu” naquilo que foi dito. A semiótica como teoria discursiva
compreende o sujeito da enunciação a partir dessa perspectiva. Esse não é o sujeito
77
“real” – pessoa física, com RG e CPF – mas, sim, um sujeito criado a partir do “eu”
que elabora o seu dizer no enunciado. A partir daí é que se levantam os subsídios
para se elaborar essa construção do sujeito. Conforme sintetiza a linguista Beatriz
Gaydeczka, a questão da discursivização da pessoa nos enunciados pode ser
apresentada de forma resumida assim:
• Eu – é aquele que “fala”, em uma narração em primeira pessoa, criando um
efeito de sentido de subjetividade.
• Tu – é aquele com quem se fala, é parceiro do “eu” na enunciação, é
deduzido nos enunciados, mesmo que o enunciado não seja dialogal.
• Ele – é aquilo de que se fala, pode não ser uma pessoa, é tudo, mesmo
quando não se fala de nada ou se fala do nada. Em um enunciado em terceira
pessoa, não é o “ele” que fala e sim um “eu” que não se apresenta no
enunciado para criar um efeito de sentido de objetividade.
• Nós – é um enunciador “eu” ampliado (“eu” e outras pessoas).
• Vós – pode ser plural do “tu” (“tu” ou “você” e outras pessoas).
• Eles – só “eles” pode ser plural de “ele”, instância em que não há pessoa
ampliada. (GAYDECZKA, 2010, p. 97-98).
Na análise do discurso do site do kenjinkai, é preciso, antes de tudo, compreender
que o site é componente de um sistema enunciativo, que liga o enunciador ao
enunciatário – sujeitos que estão estabelecendo uma comunicação através do texto-
enunciado. Esse sistema permite compreender a figura pressuposta do narrador e
do narratário do site que se estabelece como “eu” (figura 2.1).
78
Figura 2.1 – Níveis do sistema enunciativo
Interlocutor é o personagem com características físicas e psíquicas apresentadas no
texto pelo narrador. A diferença entre enunciador e narrador é que os traços do
narrador são levantados na análise de uma só obra, por exemplo, mas o estudo da
totalidade de obras de um determinado autor pode levar à identificação do éthos do
enunciador, do ator da enunciação. Enunciador e enunciatário são co-enunciadores
da enunciação, pois ela é construída a partir de uma “relação” discursiva entre o
enunciador e o enunciatário, pois o primeiro, pressupõe-se deve conhecer algo
sobre o segundo para tentar persuadi-lo, convencê-lo. Encontrar um enunciatário na
modalização, na seleção de temas, na norma linguística escolhida etc. Essas
marcas não estão naquilo que é “dito” sobre o outro, mas na enunciação enunciada.
(GAYDECZKA, 2010, p.100).
As variadas formas como se conduzem os processos enunciativos nos auxiliam a
compreender os efeitos de sentido criados como o efeito de sentido de objetividade,
de subjetividade, de credibilidade, de mentira etc. A fundamentação teórica do
sistema enunciativo relaciona-se com a retórica de Aristóteles na gênese do conceito
de éthos, a imagem que o orador pretende dar de si mesmo, não pelo que ele afirma
acerca de suas qualidades supostamente “positivas”, mas pelo modo e pelo tom de
79
voz expresso e depreendido pelo ouvinte na totalidade daquilo que é enunciado.
Assim, o éthos não está no enunciado, mas na enunciação, no sujeito construído no
discurso, sendo, portanto uma imagem do autor, não o autor real, de carne e osso,
mas um autor construído pelo discurso. A relação de éthos com estilo na enunciação
marca o jeito individual de ser social. Para Aristóteles, há alguns conceitos éticos
que inspiram confiança em um autor de discurso: Phorónesis, o bom senso, a
prudência, a sabedoria prática de uma pessoa ponderada que tem vivência; Areté, a
virtude, coragem, e Eúnoia, a benevolência, aquele que passa uma imagem
agradável de si mesmo (GAYDECZKA, 2010, p. 98-99).
2.2.1. O ATOR DA ENUNCIAÇÃO
Consideremos os sites dos kenjinkai do Brasil como uma totalidade de discursos,
formados por um conjunto de mais de um texto e que, supõe-se, tenha uma unidade
de sentido. Poderíamos depreender, então, que emerge um “eu” pressuposto dessa
totalidade enunciada, o sujeito da enunciação, observado pelas relações
estabelecidas na construção do sentido. Haveria, então, um modo recorrente de
avaliar e interpretar o mundo, encarnado pelo narrador instaurado no enunciado. A
recorrência das mesmas formas de lidar com o mundo dá uma “corporalidade” a
esse ator da enunciação. Para Discini, o ator da enunciação:
corresponde então, a um efeito de sujeito, a um simulacro do “eu” que fala, não a um indivíduo biografado ou a um autor empírico. Trata-se de ator tematizado e figurativizado. Tematizado, porque é a reunião de temas recorrentes de um conjunto de discursos. Tais temas vêm de transformações de valores axiologizados, isto é, revestidos com o julgamento do Bem ou do Mal, valores resultantes da fidúcia, da crença de um sujeito em um objeto, do julgamento que esse sujeito faz do que lhe é dado perceber do mundo. Importa que se narrativizam tais valores, na (re)construção do sentido, enquanto espetáculo, do fazer e do ser humanos, que é o que constitui o nível narrativo. (DISCINI, 2003, p. 110).
80
O ator da enunciação é figurativizado, concretiza temas, reorganiza o mundo a seu
modo e é construído pelo próprio discurso. Para Discini, o sujeito da enunciação da
totalidade do discurso realiza-se no ator da enunciação (DISCINI, 2004, p. 28), e é
atribuição de quem faz a análise do discurso reconstruir o ator da enunciação a partir
de uma totalidade de discursos, observando, para isso, a recorrência de um “fazer” e
de um “ser”, que indicam o seu aspecto ou modo de ser e fazer. Deve-se prender a
uma “imagem-fim”, um simulacro “heteroconstruído” pelo próprio ator para si mesmo,
supondo a visão que ele tem de si mesmo e que os outros têm sobre ele. A
construção do ator da enunciação se apoia nos níveis do percurso gerativo de
sentido, que por meio da narratividade e do discurso elabora a geração do sentido
da totalidade do discurso, aumentando sua inteligibilidade (idem, p. 29).
Metodologicamente, portanto, cada site de kenjinkai terá suas três partes
selecionadas analisadas separadamente e, posteriormente, estudadas em conjunto,
a fim de se identificar o “discurso totalizante” daquela associação de província, a
partir do qual serão identificados “traços identitários” que constroem o ator da
enunciação de cada kenjinkai. A segunda etapa é proceder à análise conjunta
desses três sites permitindo o levantamento do ator da enunciação do discurso dos
sites dos kenjinkai do Brasil.
2.2.2. O DISCURSO E O TEXTO
O discurso é produto de uma enunciação num certo tempo e num determinado lugar.
Há várias definições para o termo “discurso”, segundo diferentes perspectivas
teóricas. Para Elisa Guimarães, segundo a Linguística Textual, discurso é o lugar de
intermediação entre a língua e a fala, o conjunto de enunciados realizados,
81
produzidos a partir de certa posição do sujeito numa estrutura social. É uma forma
de interação, um evento comunicativo, influenciado por estruturas sociais, políticas
ou culturais mais abrangentes. O discurso seria, portanto, construído no processo de
interlocução, como parte do funcionamento social (GUIMARÃES, 2009, p. 87-90). Na
perspectiva da AD, Brandão (p. 2, 2000) declara que discurso é uma atividade
comunicativa que produz efeitos de sentidos entre interlocutores situados social e
historicamente. Ele é compreendido como uma atividade de construção de sentidos
entre falantes, com significação relacionada a coisas implícitas, a efeitos que se
pretende atingir, ao lugar social onde ele é produzido e a outros discursos que
circulam na sociedade. Em ambas as perspectivas, o conceito de discurso está
intimamente ligado ao contexto social de sua produção.
A definição de “discurso” a partir da perspectiva semiótica discursiva – que é a
adotada nesta tese – é concebida como uma construção do plano do conteúdo do
texto, elaborada por etapas, que se utiliza de recursos e estratégias linguísticos e
discursivos que produzem um “todo organizado de sentido, delimitado por dois
brancos, pertencente à ordem da imanência” [cf FIORIN, 2012, p. 154]. Como
produto desenvolvido, ele se constitui como “a última etapa da construção dos
sentidos, na qual a significação se apresenta de forma mais concreta e complexa” (cf
BARROS, 2010, p.209).
O texto de um site é uma construção bidimensional, constituído pelo plano de sua
expressão – o texto sincrético – e pelo plano do seu conteúdo – o seu discurso. Em
semiótica, esse texto pode ser uma manchete de jornal, um livro, ou uma fotografia,
ou ainda um texto sincrético como é o caso do site. O texto do site tem dimensão
verbal escrita e linguagem visual com imagens estáticas (fotos) ou em movimento
82
(filmes ou animações). Para atender a alguns propósitos específicos de estudos, um
site poderia ser analisado somente em sua dimensão verbal escrita ou imagética.
Mas para esta tese, o texto dos sites a ser considerado é sua concepção como um
texto sincrético, ou seja, em que o plano do conteúdo é expresso pelo visual e pelo
verbal. Nele serão analisados a narrativa e o discurso do site. Fiorin afirma que “o
discurso é do plano do conteúdo, enquanto o texto é do plano da manifestação [...] o
texto é a manifestação de um discurso. Assim, o texto pressupõe logicamente o
discurso, que é, por implicação, anterior a ele” (FIORIN, 2012, p.148). Barros
acrescenta que o discurso é uma “narrativa enriquecida”:
O discurso é, assim, a narrativa "enriquecida" pelas opções do sujeito da enunciação que assinalam os diferentes modos pelos quais a enunciação se relaciona com o discurso que enuncia. (BARROS, 2008, p. 85).
É esse discurso que será considerado para levantamento de características
identitárias do ator da enunciação kenjinkai.
2.3. A SEMIÓTICA NARRATIVA E DISCURSIVA
Segundo Barros (2002, p. 13), a proposta da teoria semiótica narrativa e discursiva é
baseada nas proposições do linguista suíço Ferdinand de Saussure (1857-1913) e
do linguista dinamarquês Louis Hjelmeslev (1899-1965). Essa perspectiva teórica
compreende a linguagem como um sistema de significações, e não de signos, pois a
significação dos textos advém das relações desenvolvidas pelos elementos da
linguagem e não das atribuições convencionadas aos termos. Fiorin afirma que o
83
sentido de um texto não é redutível à soma dos sentidos das palavras que o
compõem nem dos enunciados em que os vocábulos se encadeiam, antes, decorre
de uma articulação dos elementos que o formam – ou seja, há uma sintaxe e uma
semântica do discurso (2008, p. 44). De acordo com a ótica saussuriana, as relações
surgem da “diferença”, ou seja, da relação entre dois conceitos. Barros afirma que a
perspectiva semiótica proposta por Greimas caracteriza-se por:
a) construir métodos e técnicas adequadas de análise interna, procurando chegar ao sujeito por meio do texto;
b) propor uma análise imanente, ao reconhecer o objeto textual como uma máscara, sob a qual é preciso procurar as leis que regem o discurso;
c) considerar o trabalho de construção do sentido, de imanência à aparência, como um percurso gerativo, que vai do mais simples e abstrato ao mais complexo e concreto, em que cada nível de profundidade é passível de descrições autônomas;
d) entender o percurso gerativo como um percurso do conteúdo, independente da manifestação linguística ou não, e anterior a ela (2002, p.13).
A análise interna é o foco condutor da análise semiótica, que se utiliza de modelos e
procedimentos para determinar o modo de produção de sentido de um texto. No
entanto, de acordo com Barros, essa procura por mecanismos de produção de
sentido “não se fecha no texto, mas vai do texto à cultura, ao mesmo tempo em que
dela depende”, (2011, p. 14). Na semiótica narrativa e discursiva, o estudo das
condições extratextuais nas quais o discurso foi construído – o contexto – pode ser
feito através de um “diálogo” entre textos de diferentes estilos, autorias e, até mesmo,
de diferentes linguagens. Mikhail Bakhtin (1895-1975), filósofo e pesquisador russo,
trouxe importantes colaborações para as teorias de análise de discurso e a semiótica,
ao desenvolver os conceitos de intertextualidade e de dialogismo. Conforme
salienta Barros (2008, p. 26), Bakhtin apresenta duas diferentes concepções da
questão comunicacional dialógica: a do diálogo entre os interlocutores e a do diálogo
entre discursos. A dimensão dialógica do discurso a que Bakthin se refere não é
apenas a conversacional, face a face, mas, sobretudo, a constatação de que uma
84
característica intrínseca do discurso é de que ele é feito a partir de “diálogos”
internos com outros discursos. O conceito de dialogismo de Bakthin é de grande
contribuição para a compreensão de um texto, pois estabelece que este não deve
ser interpretado isoladamente, mas precisa ser relacionado com outros textos
similares e/ou próximos. Fiorin sintetiza que “o dialogismo são as relações de sentido
que se estabelecem entre dois enunciados” (2011, p. 18), assinalando, ainda, que os
enunciados são elos de uma cadeia comunicacional que se relaciona com os
enunciados que o precedem, assimilando-os ou refutando-os, construindo uma
resposta que futuramente será contestada ou aceita. Dessa forma há o dialogismo
constitutivo, quando se travam relações com enunciados já constituídos e, portanto,
anteriores e passados, e o dialogismo composicional, que é a incorporação pelo
enunciador da voz do outro no enunciado (2011, p. 27). Outro conceito importante
descrito por Bakhtin é o de Intertextualidade. Conforme explica Fiorin:
Como o texto é uma unidade de manifestação do discurso, não é necessário que ele mantenha relações dialógicas com outros textos. No entretanto, isso pode acontecer. Assim, denominar-se-á intertextualidade os casos em que a relação entre discursos é materializada em textos (FIORIN, 2012, p. 154).
O texto, na concepção de Bakhtin, similarmente à concepção semiótica, é a
materialização de uma enunciação, um simulacro do enunciado de um sujeito,
inserido num contexto social, histórico e cultural, produzido com finalidade
comunicacional entre duas instâncias num determinado momento e que precisa ser
analisado considerando-se todos esses parâmetros. Para Bakhtin, o texto não existe
como objeto destituído de contexto: por isso, sua contribuição para a análise
semiótica revela-se na compreensão de que um texto relaciona-se dialogicamente
com outros textos e discursos. A partir desse conceito de dialogismo, a semiótica
consegue analisar discursos de textos distintos (apesar de eles serem
85
independentes e suficientes em si), e mesmo um texto sincrético – aquele
constituído por linguagens diferentes – pode ser analisado pela semiótica narrativa
em suas dimensões discursiva, narrativa e fundamental. Fiorin complementa:
Isso significa que a intertextualidade pressupõe sempre uma interdiscursividade, mas o contrário não é verdadeiro. Quando a relação dialógica não se manifesta no texto, temos interdiscursividade, mas não intertextualidade. No entanto, é preciso verificar que nem todas as relações dialógicas mostradas no texto devem ser consideradas intertextuais. Quanto temos, por exemplo, um caso de discurso indireto livre, as duas vozes estão presentes no mesmo texto. Nesse caso, trata-se de uma relação intratextual. A intertextualidade diz respeito à relação entre mais de um texto; ocorre quando um texto de relaciona dialogicamente com outro texto já constituído, quando um texto se encontra com outro, quando duas materialidades se entrecruzam, quando duas manifestações discursivas se atravessam (FIORIN, 2012, p.154).
Por meio do dialogismo, é possível estabelecer um “diálogo” entre textos diversos,
por meio de um nivelamento de categoria – que os submete às mesmas
metodologias e regras de análise – com o texto que é objeto de estudo.
Na análise do discurso dos sites dos kenjinkai os textos dos sites poderão “dialogar”
com outros textos, possibilitando o estabelecimento de relações de comparação, de
complementaridade e até mesmo de contraposição. Dessa maneira, a
intertextualidade e o dialogismo poderão identificados, e como o texto produzido
pelo kenjinkai não é fechado em si, mas se relaciona com o mundo, constituindo-se
num produto de uma realidade social e histórica, o dialogismo e a intertextualidade
são conceitos importantíssimos para o desenvolvimento da análise do discurso em
busca de elementos que auxiliem na construção identitária do ator da enunciação. A
análise imanente manifesta a consciência da distinção entre os conceitos de
“imanência” e “aparência”, das “estruturas profundas” e das “estruturas de superfície”
de um texto, considerando-se assim, que há “camadas” de estruturas de sentido
num texto, que partem da imanência para a aparência. Entende-se, então, que para
a sua análise é importante, metodologicamente, “desbastar” a camada superficial
86
formada por efeitos de sentidos aparentes, a fim de se chegar às estruturas
imanentes do discurso, àquilo que é a estrutura fundamental do discurso, pois os
elementos que se manifestam na superfície do texto estão já “enriquecidos” e
“concretizados” (BARROS, 2011, p. 188).
A partir dessa estrutura imanente, reconstitui-se o percurso ao inverso, a fim de se
completar a compreensão do processo de construção de sentido do texto. Tal
processo é denominado, segundo a semiótica, percurso gerativo de sentido, que
que vai do mais simples e abstrato ao mais complexo e concreto e se estabelece em
três etapas (cf BARROS, 2008 p. 9):
• a primeira etapa do percurso, a mais simples e abstrata, é chamada de nível
fundamental e nele surge a significação como uma oposição semântica
mínima.
• A segunda etapa, a do nível narrativo ou das estruturas narrativas, organiza-
se a narrativa, do ponto de vista de um sujeito.
• A terceira etapa é a do nível discursivo, em que a narrativa é assumida pelo
sujeito da enunciação, localizando-a temporal e espacialmente. Nessa etapa,
também é disseminado o discurso de modo abstrato, na forma de percursos
temáticos e caracterizado em figuras.
Em cada uma dessas instâncias, ou etapas, que segue o percurso da estrutura de
significação mais simples à mais complexa, “há um componente sintáxico e um
componente semântico” (FIORIN, 2008, p. 141). Existe, então, uma estrutura formal
sobre a qual se dá a formulação de significado. Daí a necessidade de se analisar
cada etapa desses patamares de geração de sentido que caracterizam o “percurso
gerativo”. Barros complementa:
87
Em semiótica, as estruturas profundas são as estruturas mais simples que geram as estruturas mais complexas. A maior complexidade deve ser entendida como “complementação” ou “enriquecimento” do sentido, já que novas articulações são introduzidas em cada etapa do percurso e a significação nada mais é que articulação. Considera-se, portanto, o trabalho de construção do sentido, da imanência à aparência como um percurso gerativo (2002, p. 15).
Portanto, a análise semiótica do discurso considera os níveis sobre os quais se
constrói o significado que, conforme mencionado, foi elaborado em três planos
examinados separadamente. O percurso gerativo de sentido trata do plano do
conteúdo de um discurso, que possui, ao mesmo tempo, uma expressão linguística.
Como explica Fiorin:
Discurso é uma unidade de plano de conteúdo, é o nível do percurso gerativo de sentido em que formas narrativas abstratas são revestidas por elementos concretos. Quando um discurso é manifestado por um plano de expressão qualquer, temos um texto. Poder-se-ia perguntar por que diferenciar a imanência (plano de conteúdo) da manifestação (união do conteúdo com a expressão), se não existe conteúdo sem expressão e vice-versa. Essa distinção é metodológica e decorre do fato que um mesmo conteúdo pode ser expresso por diferentes planos de expressão (2005, p. 45).
2.3.1. PERCURSO GERATIVO DE SENTIDO
Segundo Barros (2011, p. 189), no percurso gerativo de sentido, no nível
fundamental os sentidos do texto são entendidos como uma categoria ou oposição
semântica cujos termos são:
• determinados pelas relações sensoriais do ser com os conteúdos
considerados atraentes (ou eufóricos) e repulsivos (ou disfóricos);
• negados ou afirmados por operações de uma sintaxe elementar;
• representados e visualizados por meio de um modelo lógico de relações
denominado quadrado semiótico.
88
A estrutura elementar mínima sobre a qual se estabelece o nível fundamental baseia-
se na relação estabelecida entre dois termos-objetos cuja relação manifesta uma
dupla natureza de conjunção e disjunção. Esses termos são conceitos como, por
exemplo, “morte”, com sua contraposição expressa no termo “vida”; “continuidade”,
que contrasta com “ruptura”; “vitória”, opondo-se ao termo “derrota”, entre outras
várias possibilidades. Esses termos podem ser representados dentro do esquema do
quadrado semiótico de modo lógico que traduza as relações em oposição de
contradição, contrariedade e complementaridade (e subcomplementaridade),
conforme é exemplificado no modelo da figura 2.2:
Figura 2.2 - O quadrado semiótico e suas relações Fonte: Barros, 2002, p. 21
Os termos elementares s1 e s2 têm entre si uma relação de oposição por contrastes
no mesmo eixo semântico, podendo projetar, por sua vez, uma condição de
negação, um novo termo contraditório (s1 e s2). Existirá uma estrutura elementar
quando s1 e s2 forem polos de uma mesma categoria semântica. Por exemplo:
considere-se que S = existência, sendo s1 = morte e s2 = vida; S = não-existência,
89
sendo s1 = não-morte e s2 = não-vida. Esses termos surgem graças às operações de
negação e asserção. Essas operações negam um conteúdo e afirmam outro, dando
origem à significação e tornando possível, por meio dessa dinâmica de oposição, a
narrativização. (Figura 2.3).
Figura 2.3 - Operações de negação e asserção no quadrado semiótico Fonte: Baseado em Barros, 2002a, p. 21
Além das relações de asserção e de negação, as categorias podem assumir valores
de “euforia” e de “disforia”, extrapolando uma classificação meramente descritiva
desses termos que constroem o universo semântico do texto no nível fundamental.
Esses valores, ainda virtuais nesse nível de análise, serão relacionados a um sujeito
numa narrativa no nível subsequente, num processo denominado atualização.
Segundo Barros (2002a, p. 24) “eufórica é a relação de conformidade do ser vivo
com o meio ambiente, e disfórica, sua não-conformidade”. No exemplo anterior, a
vida é um valor de euforia e a morte de disforia. Os elementos de euforia e disforia
identificados no nível fundamental do discurso, assim como a categoria tensiva
(tensão x relaxamento), constituem o sistema de valores virtuais que serão
atualizados pelos sujeitos da narrativa, explicando as articulações modo-passionais
que vão reger as relações entre os sujeitos e os objetos e compondo, então, a
90
dinâmica do próximo nível a ser analisado. A passagem de análise do nível
fundamental ao nível narrativo se dá “graças ao sujeito do fazer, em enunciados do
fazer que regem enunciados de estado” (BARROS, 2002a, p. 27). Há uma
“antropomorfização” da sintaxe fundamental por sujeitos do fazer e definição dos
sujeitos de estado pela junção com objetos-valor, formulando a narrativa da relação
básica do sujeito com o mundo. Esse processo é sintetizado, segundo Barros:
Pela conversão semântica, os valores virtuais, isto é, ainda não assumidos por um sujeito na instância fundamental, são selecionados e atualizados na instância narrativa. A atualização realiza-se em duas etapas: inscrição dos valores em objetos, que se tornam objetos-valor, e junção dos objetos-valor com os sujeitos. Os valores axiológicos virtuais convertem-se, dessa forma, em valores ideológicos, entendidos como valores assumidos por um sujeito, a partir de seleção no interior dos sistemas axiológicos (BARROS, 2002a, p. 27-28).
A segunda etapa do percurso gerativo de sentido é o das estruturas narrativas, que,
segundo Barros (2011, p. 191), se dá da seguinte forma:
• Introduz-se o sujeito – em lugar das operações lógicas fundamentais, ocorrem
transformações narrativas operadas por um sujeito.
• As categorias semânticas fundamentais tornam-se valores do sujeito e são
inseridas nos objetos com que o sujeito se relaciona.
• As determinações tensivo-fóricas fundamentais são convertidas em
modalizações que modificam as ações e os modos de existência do sujeito e
suas relações com os valores.
Para fazer a análise do nível narrativo de um discurso, a semiótica adotou um
modelo canônico básico e universal, por meio do qual se desenrola uma história em
que um sujeito busca valores, os quais estão inseridos em objetos. Os objetos com
seus valores circulam entre os sujeitos. Quando algum sujeito adquire um valor –
dado ou subtraído de alguém –, algum sujeito fica dele privado. A narrativa se
91
desdobra e se redefine como a história de um sujeito em busca de um valor, que
pode também ser sintetizada como simulacro “do fazer do sujeito que transforma o
mundo” (BARROS, 2002a, p. 28). No entanto, como adverte Barros, a proposição
de modelos e esquemas canônicos:
só tem sentido se tais modelos forem entendidos como instrumentos de análise e de previsão, que facilitam a decomposição do discurso e a explicação coerente das transformações e dos estados e que possibilitam a comparação, por exemplo, de narrativas diferentes. Enquanto instrumentos de previsão, permitem reconhecer, por catálise — explicitação dos pressupostos —, elementos narrativos implícitos (BARROS, 2001, p. 28).
Há duas possibilidades de concepção narrativa: a narratividade como transformação
de estados (o sujeito que age no mundo em busca de objetos que têm valores) e a
narratividade que estabelece ou rompe contratos entre um destinador e um
destinatário (conflitos entre os sujeitos e a circulação de objetos-valor). O elemento
mínimo de uma sintaxe narrativa é definido pela relação transitiva (de um estado a
outro) entre dois actantes – aqueles que realizam ou sofrem a ação indicada, muitas
vezes, pelo verbo utilizado na construção do processo semântico. Na perspectiva
semiótica, a relação-função define os actantes na narrativa, ou seja, quem exerce ou
sofre a ação do verbo no enunciado: o actante sujeito e o actante objeto. Há duas
funções elementares na relação de transitividade entre os actantes: a de junção e a
de transformação. A junção determina o estado do sujeito em relação a um objeto e
se desdobra em disjunção e conjunção. A transformação é a relação que indica a
mudança de estado e articula-se em estado conjuntivo e estado disjuntivo. Na
semiótica narrativa, o sujeito é determinado pela relação transitiva com o objeto. Se a
relação for de disjunção, os actantes serão denominados sujeitos ou objetos
atualizados; se for de conjunção, serão chamados de realizados. Antes da junção,
serão ditos virtuais. Há, ainda, a possibilidade de o objeto receber investimentos de
92
projetos do sujeito (objetos do estado) e de suas determinações (objetos do fazer),
transformando-o num objeto-valor (BARROS, 2002a, p.31).
Um programa narrativo é a unidade elementar de análise do nível narrativo e pode
ser definido como “um enunciado de fazer que rege um enunciado de estado”. Um
enunciado de fazer é um enunciado modal, pois rege outro enunciado, o que é
regido, e é chamado de enunciado descritivo. Há vários tipos de programas
narrativos, que podem ser analisados segundo a natureza da junção (programas de
aquisição ou privação de objetos-valor), o valor investido no objeto, entre outros.
Um discurso analisado no nível narrativo pode ser subdividido em vários programas
narrativos, que possuem uma organização canônica nas quais três percursos se
relacionam: o percurso da manipulação, o da ação e o da sanção. Nem todos
esses percursos estão presentes de modo explícito no texto, sendo necessária,
muitas vezes, a sua reconstituição para que a narrativa tenha sentido. No modelo do
percurso da manipulação, um destinador propõe um contrato a um destinatário e
procura persuadi-lo a aceitá-lo com estratégias diversas. Por sua vez, o destinatário
aceita ou não o acordo proposto. O percurso da ação, também conhecido como
percurso do sujeito, é a fase em que se dá a transformação principal da narrativa
(mudança de um estado a outro), ou seja, em que agindo sobre os objetos e seus
valores o sujeito opera uma transformação no mundo e em si mesmo, passando ao
estado de conjunção (ou disjunção) com algum objeto. Essa aquisição opera
modificações nele e provavelmente em outros sujeitos. Já no percurso da sanção, o
sujeito da ação procura convencer o seu destinador do cumprimento do contrato,
esperando receber a sanção positiva de seu feito. O destinador sanciona
positivamente ou negativamente o sujeito da ação, atribuindo-lhe uma recompensa
93
pelo cumprimento do contrato ou uma punição por não conseguir cumpri-lo (cf.
BARROS, 2011, p. 190 e FIORIN, 2005, p. 29-31).
O esquema narrativo propõe diferentes percursos que o sujeito constituído pode
assumir a partir do encadeamento dos vários tipos de programas propostos na narrativa
do discurso. O actante funcional pode assumir três tipos de percursos: o do sujeito (ou
percurso da competência ou da performance), o do destinador-manipulador (ou
percurso da manipulação) e do destinador-julgador (ou percurso da sanção). O
percurso do sujeito constitui-se pelo encadeamento do programa da competência e
do programa da performance: o sujeito querer, saber e poder fazer a ação que o
caracterizará como sujeito. No percurso do destinador-manipulador, este é a fonte
dos valores a que o sujeito visa; este quando os adquire, recebe competência modal
para ser o sujeito do fazer. Esse percurso pressupõe um contrato fiduciário, em que
o destinador, por meio de um fazer persuasivo, consegue a adesão do destinatário,
convencendo-o e criando um vínculo de confiança, um contrato, que poderá ser
aceito ou recusado. O percurso do destinador-manipulador pode ser,
resumidamente, desmembrado em três etapas: o contrato fiduciário, o espaço da
persuasão e a aceitação ou recusa do contrato. Essa persuasão pode se dar por
quatro tipos de figuras de manipulação: a provocação, a sedução, a tentação e a
intimidação. O percurso do destinador-julgador é uma interpretação que se cumpre
em duas etapas: a do reconhecimento e a de integração do sujeito e de seu
percurso no sistema de valores do destinador (BARROS, 2002, p. 40). O sujeito,
reconhecido e considerado cumpridor do contrato que assumiu, é julgado
positivamente e recebe uma retribuição, encerrando o ciclo narrativo.
94
Há, ainda, no nível narrativo, a questão do percurso passional, uma organização de
modalidades tais como o querer, o poder, o crer, entre outras, que produzem efeitos
de sentidos de paixões tais como amor, ódio, satisfação, tristeza, confiança e assim
por diante (BARROS, 2011, p. 193). Eles são divididos em paixões de objetos
(satisfação, felicidade, alegria, tristeza etc.) e paixões relacionadas a outros sujeitos
(confiança, decepção, desconfiança, dúvida etc.).
A terceira e última etapa do percurso gerativo de sentido é a das estruturas
discursivas, na qual, conforme Barros (2011, p. 204), são posicionados os estados
narrativos, localizando-os temporal e espacialmente, e os actantes são investidos
pela categoria de pessoa. Além disso, os valores do nível narrativo também são
disseminados no discurso de modo abstrato, na forma de percursos temáticos, e
concretizados em figuras e outras estratégias.
Na semiótica, enunciador e enunciatário são instâncias implícitas de um autor que é,
na verdade, um efeito produzido no texto e pode não ter nenhuma semelhança com
o “autor real” do texto. Por isso, o texto traz marcas de seu enunciador, suas
ideologias, sua personalidade, ocorrendo de modo análogo, o mesmo com o
enunciatário, que é o destinador a quem o texto quer se dirigir. A semiótica
desconsidera em sua análise qualquer consideração sobre o “verdadeiro autor” do
texto, quais são suas intenções, sua história de vida ou personalidade. Na análise de
um texto, nem sempre se tem acesso direto ao enunciador. Quando uma história é
contada, ouve-se a “voz de um narrador que se dirige a um narratário”. O narrador e
o narratário são construções de instâncias implícitas no enunciado, que podem se
confundir com a “voz” do enunciador e a figura do “enunciatário”.
95
A semiótica identifica as possibilidades de efeitos produzidos por diferentes modos de
enunciação. Diversas estratégias linguísticas são utilizadas para criar no texto
sentidos de realidade, objetividade, imparcialidade. A narração em terceira pessoa,
por exemplo, transmite ao leitor a impressão de distanciamento e de racionalidade, o
que não é o caso da subjetividade passional, comum nos textos narrados em primeira
pessoa. O emprego de constantes citações alheias ou menções a datas precisas,
horários exatos, nomes completos, locais etc., são recursos que visam a aproximar o
conteúdo do texto de uma suposta realidade histórica e produzir efeito de
confiabilidade. No processo da enunciação há duas formas de enunciar – a
desembreagem enunciativa e a desembreagem enunciva de pessoa, tempo e espaço.
Desembreagem Enunciativa: É uma estratégia cuja finalidade é produzir efeitos de
proximidade entre enunciador e enunciatário. O discurso torna-se mais passional e
subjetivo. A desembreagem actancial muito utilizada é a do “eu”, a narração em
primeira pessoa que estabelece um narrador pessoal, com sentimentos e opiniões
mais explícitas. A desembreagem temporal, nesse caso, costuma ser a do “agora”,
em que o tempo de referência do texto geralmente está no tempo presente da
própria narração, ligando o narrador aos episódios narrados. A desembreagem
espacial cria um efeito de proximidade ao empregar o “aqui” como lugar referencial
da narrativa. Esse conjunto de escolhas produz o efeito de proximidade,
caracterizando uma “enunciação enunciada”, aquela na qual as marcas da
enunciação trazem a impressão de que o enunciado ocorre no momento da leitura.
Desembreagem Enunciva: O objetivo é gerar as sensações de distanciamento,
imparcialidade e objetividade, efeitos que se obtêm quando se omitem as marcas da
enunciação. A desembreagem actancial é a do “ele”, a terceira pessoa, em que o
96
narrador fala de outrem e cria a impressão de distanciamento. A desembreagem
temporal assume o “então”, um tempo de referência geralmente no passado, não
concomitante com o tempo presente da enunciação. A desembreagem espacial
emprega o “lá”, um cenário mais distante. Da desembreagem enunciva, tem-se o
“enunciado enunciado”. No entanto, nem sempre as três formas de desembreagem
(actancial, temporal e espacial) coincidem como acima sugerimos. Principalmente
em textos mais modernos, os autores desenvolvem combinações que produzem
efeitos ainda mais interessantes (BARROS, 2003, p. 204-206).
Ainda no nível discursivo, ocorrem os procedimentos de tematização e figurativização,
que se configuram como “enriquecimentos semânticos” do discurso. “Tema” pode ser
entendido como o emprego de traços semânticos com características abstratas que se
disseminam no discurso. As figuras recobrem os temas e evocam características
físicas, materiais, geralmente percebidas a partir dos sentidos. Dessa forma, entende-
se a figura “coração partido” como um sentimento, e não literalmente. Os temas e
figuras disfarçam as estruturas comuns do nível narrativo, mas eles também possuem
traços semânticos que os aproximam, podendo ser estudados a partir de “percursos
temáticos e figurativos” (FIORIN, 2005, p. 96-104), ou seja, da recorrência de temas
ou figuras que possuem traços comuns e cobrem todo o texto.
A recorrência de determinados traços semânticos que formam percursos temáticos
e/ou figurativos do discurso permitem avaliar a “coerência” discursiva de um texto.
Essa reiteração semântica também é conhecida como “isotopia” (FIORIN, 2005, p.
112-113). Um texto pode introduzir sem razão aparente elementos supostamente
desconexos com os demais do seu percurso semântico, provocando estranheza e
um sentido de incoerência. Mas a inclusão de expressões inesperadas pode ser uma
97
estratégia discursiva. Alguns termos podem carregar uma potencialidade de sentidos
que escondem outra leitura – menos imediata, mas perfeitamente possível.
Um site institucional – com seu conteúdo e expressão, é um texto, segundo a teoria
da semiótica. Dessa forma, o site, em seu nível de conteúdo, é um discurso que
pode ser analisado segundo a perspectiva da semiótica narrativa e discursiva. A
busca por uma identidade cultural do kenjinkai, expressa no discurso dos sites se
dará no levantamento de características detectadas nos textos de cada um dos sites
de província analisados, que ajudarão na composição do “ator da enunciação
kenjinkai”, o personagem criado e identificado por suas marcas presentes nos textos.
2.4. METODOLOGIA DA SELEÇÃO DO CORPUS
A partir das 47 associações de províncias presentes e ativas no Brasil foi realizada
uma pesquisa para identificar quais delas possuíam sites na Internet. Em abril de
2014, levantou-se que havia quinze sites de kenjinkai brasileiros (quadro 2.1). Três
deles foram escolhidos para compor o corpus desta tese e a seleção se deu por
conveniência do pesquisador, tendo-se o cuidado de se selecionar sites de províncias
que não pertencessem à mesma região do Japão – das nove regiões existentes –, a
fim de se evitar uma concentração da amostra de províncias numa mesma área
geográfica, o que poderia constituir uma condição homogeneizante. O critério de
atualização dos sites não foi essencial, mas aqueles que apresentavam – à primeira
vista – um conjunto de informações textuais verbais que apresentavam de forma mais
objetiva e tradicional a instituição, seus propósitos e atividades (quadro 2.2).
98
Província Japonesa
Associação no Brasil
Tem Site
Província Japonesa
Associação no Brasil
Tem Site
1 Aichi sim sim 25 Miyazaki sim 2 Akita sim 26 Nagano sim 3 Aomori sim 27 Nagasaki sim 4 Chiba sim 28 Nara sim sim 5 Ehime sim 29 Nigata sim 6 Fukui sim 30 Okayama sim 7 Fukuoka sim sim 31 Okinawa sim sim 8 Fukushima sim 32 Ooita sim 9 Gifu sim sim 33 Osaka sim 10 Gunma sim 35 Saga sim 11 Hiroshima sim 35 Saitama sim sim 12 Hokkaido sim sim 36 Shiga sim 13 Hyogo sim 37 Shimane sim sim 14 Ibaraki sim 38 Shizuoka sim sim 15 Ishikawa sim 39 Tochigui sim 16 Iwate sim sim 40 Tokushima sim 17 Kagawa sim 41 Tokyo sim 18 Kagoshima sim 42 Tottori sim 19 Kanagawa sim 43 Toyama sim sim 20 Kouchi sim 44 Wakayama sim 21 Kumamoto sim sim 45 Yamagata sim sim 22 Kyoto sim 46 Yamaguchi sim 23 Mie sim sim 47 Yamanishi sim 24 Miyagi sim sim
Quadro 2.1 – Quadro indicativo de associações de províncias que possuem site na Internet em dez/2013
Associação Endereço de URL Condição Aichi http://www.etiquetajaponesa.com.br/conteudo.asp?id=30 - Fukuoka http://www.fukuoka.org.br - Gifu http://www.gifukenjinkai.com.br - Hokkaido http://www.hokkaido.org.br Selecionado Iwate * http://www.iwate.org.br - Kumamoto http://www.kumamoto.org.br - Mie http://www.miekendobrasil.com - Miyagi http://www.miyaguikenbrasil.com - Nara http://www.narakenjinkai.blogspot.com.br - Okinawa http://www.okinawa.com.br - Saitama http://www.saitamakenjinkai.com.br - Shimane http://www.shimane.org.br Selecionado Shizuoka http://www.nikkeyweb.com.br/sites/shizuoka/ - Tochigi http://www.tochigi.com.br - Toyama http://brasiltoyama.wordpress.com - Yamagata http://www.yamagata.org.br Selecionado
*Site disponível somente em japonês
Quadro 2.2 – Endereços de sites de kenjinkai
99
Os sites de províncias selecionados para este estudo são os das províncias de
Hokkaido, Yamagata e Shimane que estão distribuídas nas regiões de Hokkaido
(Norte), Tohoku (Central) e Chugoku (Sul) (Figura 2.4).
Figura 2.4 - Mapa com as províncias de Hokkaido, Yamagata e Shimane
Cada uma dessas províncias possui uma identidade própria, um modo de ser que a
distingue das outras, assim como os kenjinkai de cada província. O estabelecimento
do “ator da enunciação kenjinkai” levará em conta os valores identitários dos três
sites, cujas home pages são mostradas a seguir (Figura 2.5).
101
O “ator da enunciação” do kenjinkai é uma construção discursiva que será abstraída
dos três sites analisados. Consideram-se duas variáveis nessa construção
identitária: o da particularidade e o da homogeneidade. Cada kenjinkai representa
uma província de uma região diferente do Japão, portanto, esperam-se encontrar
particularidades distintivas dessa condição nos discursos de cada site de província.
Por outro lado, pressupõe-se, também, que os kenjinkai, por estarem alinhados na
categoria “província do Japão”, assumam alguns valores identitários comuns – da
cultura japonesa “em geral”. Portanto, há a expectativa de se identificar, de igual
modo, traços “homogeneizantes” no discurso de cada site.
102
CAPÍTULO III
ANÁLISE DOS DISCURSOS DOS SITES
Como já foi apontado, na perspectiva da Comunicação Institucional, o site de um
kenjinkai é um meio utilizado para se atingir determinados objetivos comunicacionais
da associação, frente a uma audiência específica. Dessa forma, o “conteúdo” do site
torna-se a “voz oficial” da organização, com fins de legitimá-la perante seu público,
com um discurso que pretende informar, prestar contas, esclarecer dúvidas, sempre
utilizando-se de estratégias para produzir efeitos de credibilidade nos enunciados e
desenvolver, assim, o processo de institucionalização da organização. Os sites da
Associação Hokkaido, do Yamagata Kenjinkai do Brasil e do Shimane Kenjin foram
selecionados para serem analisados a partir da semiótica narrativa e discursiva.
Nessa perspectiva teórica, o site institucional de uma associação de província é uma
expressão de diversas linguagens – verbal, visual e sonora – que produz um
discurso. De cada um desses sites de associações de província escolhidos, foram
selecionadas três partes para serem analisadas semioticamente. Dessa forma,
pode-se reconstruir, a partir do discurso examinado, o ator da enunciação de cada
kenjinkai. As marcas linguísticas e discursivas da enunciação estão presentes nos
textos desses sites e eles fornecem subsídios para a formulação identitária do ator
da enunciação do kenjinkai em questão. Ao final, uma análise em conjunto de cada
ator da enunciação de kenjinkai, foram levantados dados para que se procedesse à
formulação do “ator da enunciação kenjinkai do Brasil, figura-síntese que emerge da
interação dessas análises realizadas, podendo assim, finalmente, compreender qual
é a identidade cultural dos kenjinkai do Brasil.
103
Para cada um dos três sites selecionados – o da Associação Hokkaido, o do
Yamagata Kenjinkai e o do Shimane Kenjin, foi estabelecida a seguinte sequência
para a análise:
• descrição geral do site;
• análise do plano do conteúdo segundo o percurso gerativo da semiótica
narrativa e discursiva;
• análise no plano de expressão (verbal e visual);
• elaboração do ator da enunciação que emerge do discurso do site.
Na descrição geral do site, será feita uma apresentação detalhada dos elementos
que compõem a home page e a estrutura das seções distribuídas através dos links.
Serão descritos de forma sucinta os títulos e os conteúdos dessas páginas, a fim de
servir como um mapa de orientação para que se tenha uma visão geral da estrutura
e do conteúdo do site. Cada site selecionado apresenta vários links, ou seja, o texto
total que contém o discurso do narrador distribui-se por suas várias páginas
postadas na Internet. Como o discurso se espalha por todo o site, optou-se por
escolher três partes – links – para ser analisados, preferencialmente os que
apresentam textos mais extensos, partindo-se do pressuposto de que essa
amostragem é suficiente para obter subsídios para elaboração do “ator da
enunciação kenjinkai”. A análise do plano do conteúdo será feita nos três níveis: o
discursivo, o narrativo e o fundamental. Será feita, também, uma análise do plano
de expressão, sempre que ele contribuir para a significação do texto. A seguir, a
partir dos elementos analisados de cada parte do site, será elaborado, então, o ator
da enunciação da associação de província. Finalmente, uma análise geral desses
resultados identificará o “ator da enunciação kenjinkai do Brasil”.
104
3.1. ANÁLISE DO SITE DA ASSOCIAÇÃO HOKKAIDO
O endereço da URL do site da Associação Hokkaido é: http://www.hokkaido.org.br.
Ele foi desenvolvido por meio de um software gratuito para construção e
gerenciamento de sites com código-fonte aberto, o Joomla. Diversas organizações
utilizam esses tipos de softwares para desenvolver suas páginas de Internet, pois
demandam pouco conhecimento técnico por parte do desenvolvedor das páginas.
No header (cabeçalho) do site há uma imagem do fundo do salão social da
associação, onde se destacam, em segundo plano, uma bandeira japonesa e uma
brasileira dispostas simetricamente nas extremidades do palco, em cujo centro há
um homem e uma mulher com trajes típicos japoneses. À direita, existe uma terceira
pessoa. Em primeiro plano há uma série de estrelas penduradas, enfileiradas como
uma cortina. Uma frase sobreposta à imagem com os dizeres “Associação Hokkaido”
está localizada no alto, à direita, com fonte branca e corpo com serifa (figura 3.1).
Figura 3.1 – Cabeçalho da home page da Associação Hokkaido
No menu superior do site há os seguintes links: “Home”, “Imigração”, “Higuma”,
“Eventos”, “Ishin Yosakoi Soran” e “Administrador”, replicados num menu lateral
(figura 3.2).
105
Figura 3.2 – Visual parcial da home page do site da associação Hokkaido
Home: O frame principal da home page do site apresenta três notícias de destaque:
o “Ishin Matsuri”, um evento de dança, com uma imagem do cartaz, texto explicativo
e lista de apoiadores com links para seus respectivos sites; “Nota de falecimento”,
106
com informações sobre falecimento do sr. Kinoshita e “18º Festival Motitsuki
Hokkaido” – um evento gastronômico –, com cartaz e texto explicativo. O conteúdo
integral do frame (quadro formatado para receber textos e imagens – como se fosse
uma nova página) da home page do site não cabe numa tela padrão de computador,
gerando uma barra de rolagem vertical. Além disso, seu conteúdo está dividido em
páginas que podem ser acessadas por um menu de links presentes na parte inferior
da página que foi rolada até o final (figura 3.3).
Figura 3.3 – Links do menu inferior ao pé da home page
O link “Tohoku Hokkaido 2010” acessa notícias que aparecem, individualmente, no
frame principal”. A navegação por entre as notícias se dá através de links “anterior”,
“próximo” e “voltar”. Esses links acessam as seguintes notícias:
• “Tohoku Hokkaido 2010” – divulgação de festival cultural de províncias
japonesas do norte do Japão, com imagem de cartaz e texto.
• “Dançarino de Butô, Kazuo Ohno, morre aos 103 anos”, com texto sobre o
artista japonês, natural de Hokkaido,
• “Hokkaido Matsuri 2010” ” – divulgação do festival cultural da província de
Hokkaido, com imagem de banner e texto.
• “Nota de Falecimento: Sr. Kinoshita” ” – texto sobre o passamento do
presidente da Associação Hokkaido.
• “7º Shin Undokai” ” – divulgação de evento social com foco em atividades
físicas que une adultos, idosos e crianças – com imagem de cartaz e texto.
107
• “XI Jantar italiano - Grupo escoteiro” – divulgação de atividade de jantar do
Grupo Escoteiro Hokkaido, com imagem de cartaz e texto.
• “XVI Hokkaido Matsuri” – divulgação do festival cultural da província de
Hokkaido de 2011, com imagem de banner e texto (figura 3.4).
• Massaki Hajime Tour 2011 – divulgação de apresentação musical de cantor
japonês de Hokkaido, com imagem de cartaz e texto.
Figura 3.4 – Frame XVI Hokkaido Matsuri
Há mais dois links que acessam o conteúdo e o dispõem no frame principal, com
notícias de destaque acompanhadas de alguma imagem:
• O segundo link apresenta os seguintes textos: “Dançarino de Butô, Kazuo
Ohno, morre aos 103 anos”, com link “Leia mais...”; “Ishin no 7° Festival de
Yosakoi Soran”, texto e imagem sobre o grupo de dança moderna Ishin, e
108
“Lamen Matsuri & Busanten”, com texto e imagem sobre o festival de lamen
(macarrão japonês).
• O terceiro link abre uma página com os seguintes textos: “Moti Tsuki!”, com
cartaz e informações sobre o evento gastronômico de 2008, com link “Leia
mais...”; “Hokkaido no Globo Repórter”, que apresenta texto sobre reportagem
do programa com link “Leia mais...” e abre frame com textos, fotos e outros
links que acessam trechos em vídeo do programa, e “Hokkaido no Festival do
Japão 2008”, com texto e um link “Leia mais...” que acessa um frame com um
vídeo sobre a pesca de arenque de Hokkaido vendido no Festival do Japão.
Figura 3.5 – Frame com três temas
Imigração: Contém o texto: “Motivos da Imigração Japonesa, enfocando a
população de Hokkaido no Brasil”, com destaque à menção de imigrantes oriundos
de Hokkaido (de 5/09/2008).
109
Higuma: Segundo o site, é o nome de uma espécie de urso típico da região e é o
nome do Departamento de Jovens da Associação Hokkaido. Há links para uma
comunidade do Yahoo.groups e outro para uma comunidade do Orkut.
Eventos: Há um calendário de 2009 com atividades da associação.
Ishin Yosakoi Soran: Yosakoi Soran é o nome de uma dança contemporânea
japonesa, originária da fusão das danças típicas das províncias de Kochi e Hokkaido,
que contém elementos de tradição e modernidade. Ishin Yosakoi Soran é o nome do
grupo dessa modalidade de dança, conduzido por um grupo de jovens da associação
Hokkaido. Há fotos nesse link, com informações que explicam a origem dessa dança
e atividades desse grupo. Nessa página, há links que remetem a outros sites.
Administrator: link para a página de acesso do administrador do site.
No menu lateral esquerdo do site, são replicados os links do menu superior,
acrescentando-se a eles os seguintes: “Quem está on line” e “Contato”. “Quem está
on line” conecta-se a um aplicativo muito comum que indica quantas pessoas estão
acessando o site naquele instante. O link “Contato” apresenta o endereço e o
telefone, que fica em permanente exposição na página: “Rua Joaquim Távora, 605.
Vila Mariana. CEP 04015-001. São Paulo - SP Brasil. Tel.: 11 5084-6422”.
Partindo da perspectiva da Comunicação Institucional, todo site transmite uma
mensagem a um público com um objetivo definido, estabelecendo uma “voz oficial”
da instituição. O site é uma mensagem do kenjinkai para o internauta, e seu discurso
traz em si características identitárias do enunciador. Três partes do site foram
selecionadas para análise, as quais se apresentam sob os seguintes links:
110
• “Imigração”, que contém um texto intitulado: “Motivos da Imigração Japonesa,
enfocando a população de Hokkaido no Brasil”.
• “Ishin Yosakoi Soran”, que apresenta o texto: “O que é Yosakoi Soran?”.
• “Higuma”, que contém o texto: “O que é Higuma?”, o grupo de jovens da
associação.
3.1.1. TEXTO “MOTIVOS DA IMIGRAÇÃO JAPONESA...”
O link “Imigração” apresenta o título “Motivos da Imigração Japonesa, enfocando a
população de Hokkaido no Brasil”. O texto, por sua vez, pode ser dividido em duas
partes: “A imigração japonesa” e “Um breve histórico do Japão...”. A íntegra desses
textos segue abaixo:
Motivos da Imigração Japonesa, enfocando a população de Hokkaido no Brasil1
(§1) Do séc. XII (Kamakura Bakufu2) até a metade do séc. XIX (Tokugawa Bakufu), no Japão havia um controle rígido de natalidade, estabelecido pelos Shôguns. O limite máximo que poderia atingir a população do Japão girava em torno de 25 milhões de habitantes. A causa disso foi que o Japão, sendo um país basicamente agrário, não possuía, naquela época, recursos nem estrutura para comportar um aumento maior de população. O controle adotado variava de no máximo 1 filho em algumas províncias e de no máximo 3 em outras. O aborto foi o principal controle populacional, praticado naturalmente. Esse controle manteve uma estabilidade populacional por mais de 300 anos.
(§2) No início do século XIX o governo do Bakufu estava em crise, a insubordinação dos seguidores shogunais, levantes de camponeses, aumento da miséria, tanto no campo como nas cidades, enriquecimento excessivo dos comerciantes, depauperação da elite dirigente e crescimento da população urbana com o afluxo de lavradores que vêm multiplicar as fileiras dos trabalhadores citadinos e dos mendigos, e também com a fixação do crescente número de Ronin3 (Samurai sem chefe em virtude do arruinamento do daimyo4 ou porque preferiu solicitar dispensa de suas obrigações, diante da crise econômica e política do momento).
(§3) Além disso, vários países ocidentais pressionavam o Japão para que abrisse seus portos ao comércio internacional. Sucessivamente russos, ingleses, holandeses e norte-americanos se manifestaram. Em 1854, o Bakufu foi forçado a assinar um acordo, para a abertura de dois portos aos navios mercantes de bandeira norte-americana, com o Comodoro norte-americano
1 Os parágrafos não fazem parte do texto original e foram inseridos para facilitar a localização dos trechos analisados. 2 Bakufu (幕府), forma japonesa de se referir ao Shogun (将軍), chefe militar que – apesar da existência do imperador – exercia o poder político de fato. 3 O termo ronin (浪人) aparece no dicionário brasileiro Aulete Digital com a seguinte definição: “vagabundo, larápio, no Japão” 4 Daimyo (大名), senhor feudal proprietário de terras. Formas aportuguesadas: daimio, daimiô ou dáimio.
111
Mathew Calbraith Perry e, em seguida, fez acordos semelhantes com a Grã-Bretanha, Rússia e Holanda, que provocaram a revolta de grande parte da população japonesa.
(§4) De acordo com o Convênio Tokugawa, instituído pelos ocidentais e o governo japonês, o aborto tornou-se crime, marcando o fim da restrição aos nascimentos. A consequência dessa medida foi o crescimento da população, fator esse que gerou um superpovoamento, num país praticamente agrário como era o Japão do séc. XIX.
(§5) Uma das soluções para esta crise populacional foi a emigração, iniciada primeiramente no Havaí (1869, 153 operários japoneses). A partir de 1870, o governo japonês, em plena fase de abertura para o Ocidente, tomou iniciativa de demonstrar interesse pelo Brasil com fins imigratórios, processo iniciado em 1868, primeiro ano da revolucionária era Meiji (1868-1912). Nessa fase a maioria dos imigrantes japoneses se dirigia para regiões da Ásia e América do Norte.
(§6) No início do século XX os motivos principais que levaram o Brasil e o Japão a concretizar um acordo que propiciasse a introdução do japonês no Brasil, foram os seguintes: do lado do governo japonês, o alto crescimento demográfico da população do arquipélago, a estabilidade econômica momentânea que gozava o Brasil e a possibilidade, cada vez mais aparente, de que outros países fechariam seus portos ao imigrante japonês dentre dos quais os EUA e Canadá e por parte do governo paulista, os motivos foram: a dificuldade naquele momento (1907) em receber imigrantes europeus, a esperança da fácil adaptação e fixação do imigrante japonês nas fazendas, juntamente com o incremento das relações comerciais entre Brasil e Japão propiciando a abertura de um novo mercado consumidor de café brasileiro.
(§7) Finalmente, em 28 de abril de 1908 partia do porto da cidade de Kobe (Japão) rumo ao Brasil o vapor Kasato-Maru. Depois de viajar quase dois meses, aportou na cidade de Santos no dia 18 de junho de 1908, trazendo os primeiros 781 imigrantes japoneses destinados ao trabalho na lavoura cafeeira no interior do Estado de São Paulo.
(§8) Treze meses após a chegada do Kasato-Maru e da inserção dos imigrantes japoneses no interior de São Paulo, constatou-se que apenas um quarto dos japoneses permaneceram nas fazendas; sendo que outros três quartos desiludidos na sua maioria com as condições de trabalho aqui encontradas, que diferia muito da propaganda feita pelas companhias de imigração do Japão, abandonaram as fazendas. Alguns vieram para a cidade de São Paulo, e outros se transferiram para outras fazendas ou voltaram para o Japão.
(§9) Os motivos reais, identificados nas atitudes dos imigrantes japoneses no período que abrange 1908 a 1925, na realidade se baseava no fato de que quando aqui aportaram, os japoneses tinham como ideal, trabalhar (muito) e num curto período de tempo (cinco a dez anos) amealhar uma certa quantia de dinheiro para, em seguida retornar mais rápido ao Japão. A ideia de fixação não fazia parte do projeto de vida da maioria destes imigrantes.
(§10) Os imigrantes japoneses procedentes de Hokkaido não fogem a esse padrão de imigrante oriundo do Japão e que veio para o Brasil trabalhar. Os primeiros imigrantes oriundos de Hokkaido, oficialmente chegaram no ano de 1920, portanto doze anos após o início da imigração japonesa para o Brasil (1908).
(§11) Levas entre Número de imigrantes Navio 1920/1923 de Hokkaido
31° 8 Tosa-Maru 32° 19 Kawachi-Maru 33° 1 Tosa-Maru 34° 4 Panamá-Maru 35° 0 Kawachi-Maru 36° 14 Tacoma-Maru 37° 0 Seatle-Maru 38° 0 Chicago-Maru 39° 28 Kagawa-Maru 40° 0 Chicago-Maru 41° 0 Kagawa-Maru 42° 0 México-Maru TOTAL 74
112
(§12) A maioria foi para as fazendas no interior do Estado de São Paulo e para a Colônia de Iguape, fundada em 1913 pela Companhia de Colonização Brasil (Brasil Takushoku Kaisha). E que no momento da chegada dos primeiros imigrantes de Hokkaido estava sob a direção da Empresa Japonesa de Colonização, K.K.K.K. (Kaigai Kogyo Kabushiki Kaisha) sucessora da Companhia de Colonização Brasil.
Um breve histórico do Japão ...
(§13) Torna-se necessário ao falarmos sobre o início da História do Japão fazer um recuo de cerca de 2.600 anos, quando um povo chamado "aino" ocupava grande parte do arquipélago nipônico, sendo considerados seus primeiros habitantes. Nas crônicas históricas os ainos são chamados de Emishin ou Ezojin (Ezo é a outra denominação da ilha de Hokkaido), são indivíduos totalmente diferentes dos atuais japoneses, assemelhando-se mais aos ocidentais do que aos orientais. Atualmente uma minoria deles, cerca de 12.000 ainos e descendentes, se concentram ao norte do Japão, em Hokkaido, ilhas Kurilas e ilha Sakhalina.
(§14) Segundo a lenda sobre a origem do Japão e de seu povo, os antepassados dos atuais japoneses começaram uma invasão conquistadora nos tempos pré-históricos pela ilha de Kyushu, a mais meridional do arquipélago. De lá alcançaram as demais, uma a uma em combates sucessivos contra os ainos, a quem rechaçaram sempre para maios longe, até o norte. Chefiava-os Jimmu Tenno que, pela lenda, em 660 a. C. funda, no centro da ilha de Kyushu, o reino de Yamato. Este é considerado o ponto de partida da História do Japão.
(§15) Jimmu Tenno descendia diretamente da deusa sol, Amaterasu Omikami, com ele inciou-se uma linhagem que chega até os nossos dias totalizando 125 monarcas japoneses.
(§16) Para tornar mais fácil a compreensão, os historiadores costumam dividir a História do Japão em períodos:
(§17) Pré-História - Período Jomon (cerca de 7.500 a 300 a C.) e Yayoi (300 aC. a 300 d. C.) Período Kofun ou dos Túmulos (meados do séc. III a meados do séc. VI) Período Asuka (meados do séc. VI até o início do séc. VIII) Período Nara (710-784) Período Fujiwara / Heian(784-1192) Período Kamakura / Regência Hojo (1192-1338) Período Ashikaga (1338-1573) Período Oda-Toyotomi (1573-1603) Período Edo ou Tokugawa (1603-1867) Japão Contemporâneo: Era Meiji (1868-1912), Era Taishô (1912-1926), Era Shôwa (1926-1989) e Era Heisei (1989 - ...)
(§18) Grande parte da cultura japonesa teve como influência a cultura da China, que chegava ao Japão tornando-se parte do cotidiano. Exemplo disso foi que no séc. VI, por volta do ano de 538, marcou a data da introdução oficial do Budismo no reino de Yamato trazido do território chinês. Foram construídos templos como o Shiten-oji e Horuji.
(§19) Logo depois houve também a introdução de Kanjis5 (origem chinesa) e dos ensinamentos do filósofo chinês Confúcio (551-479 a.C.). Por volta do séc. VII estes Kanjis foram simplificados e adaptados à língua japonesa, dando origem aos silabários denominados Hiragana e Katakana. Essas modificações contribuíram para o surgimento dos primeiros escritos da literatura japonesa no séc. VIII. As crônicas pseudo-históricas do Japão: o Kojiki no ano de 712 (redigido em japonês), o Nihon-Shoki no ano de 720 (escrito em chinês) e uma antologia de toda a poesia japonesa escrita desde o séc. IV, o Man-yô-shu no ano de 780.
(§20) Esses marcos culturais deram início, a partir do séc. IX, ao que os historiadores chamam de "niponização" ou seja, o desenvolvimento de padrões próprios sócio-culturais japoneses.
(§21) No período Fujiwara / Heian (784-1192) caracteriza-se pela expansão territorial ao norte de Honshu e da consolidação do poder a partir do ano de 858 da família Fujiwara, conservado até meados do séc. XII. Esse período de paz e desenvolvimento cultural é considerado a era "clássica "do Japão, que estava fragmentado em vários partes ou territórios dirigidos por grandes proprietários (senhores).
5 Kanji são os ideogramas japoneses de origem chinesa. Hiragana e Katakana são os caracteres silábicos. A escrita japonesa utiliza-se desses três modos de escrita simultaneamente na produção de textos.
113
(§22) Essa paz foi quebrada com a disputa entre clãs (famílias) rivais, culminando com a vitória do chefe do clã Minamoto Yoritomo (1147-1199) que derrubou do poder o clã dos Fujiwara. Confiscando as terras dos senhores que lhe eram hostis, Yoritomo formou um governo paralelo ao do Imperador, instaurando uma sociedade quase feudal alicerçada sobre relações de assistência e de fidelidade estabelecidas sobre os vassalos. Distribuiu terras aos camponeses, ao mesmo tempo que lhes conferiu um status inferior ao dos guerreiros (Samurais).
(§23) No ano de 1192, Yoritomo se tornou Shôgun (Generalíssimo) e o Tennô (Imperador) perdeu sua autoridade. Estabeleceu se Bakufu (Governo Militar) em Kamakura, pondo fim ao "Regime dos "Imperadores Isolados". Após a morte de Yoritomo (1199), um senhor do clã Hojo assumiu a regência do Bakufu.
(§24) Foi neste período que aconteceu a tentativa de invasão do arquipélago japonês pelos mongóis (que já haviam invadido a China e a Coréia) sob a liderança de Kublai-Khan. A primeira tentativa ocorreu no ano de 1274, quando os mongóis chegam a desembarcar no norte da ilha de Kyushu, mas um violento tufão afunda a maioria das embarcações mongóis, fazendo com que seus guerreiros se dispersem. Em 1281, foi organizada uma segunda expedição contra o Japão, desta vez mais forte e bem equipada. Antes mesmo de chegar a desembarcar, novamente um grande tufão destroça toda a frota mongol as costas de Kyushu. Esse importante acontecimento histórico deu origem a famosa expressão expressão Kamikaze - Vento Divino.
(§25) No ano de 1333 o Imperador Daigo II (1288-1339) restaurou o poder com a ajuda de Ashikaga Takauji (1305 - 1358), tomando e incendiando a cidade de Kamakura. Esse período, séc. XIV e XV, foi marcado por várias guerras internas entre os daimyos (senhores feudais) aliados e inimigos do Shôgun . Nessa época, mais precisamente no ano de 1542, os navegadores portugueses chegam ao Japão trazendo além da religião católica, entre outras coisas, as armas de fogo (mosquetes), que impressionaram muito os japoneses. Esses acontecimentos marcam os primeiros contatos oficiais do Japão com o Ocidente.
(§26) A partir de meados do século XVI, três nomes foram muito importantes para a História do Japão: Oda Nobunaga (1534-1582), Toyotomi Hideyoshi (1537-1598) o "Napoleão Japonês" e Tokugawa Ieyasu (1543-1616).
(§27) Em 1568, um senhor feudal do norte, Oda Nobunaga, consegue vencer seus adversários, marchou sobre Quioto e fez-se nomear Shôgun. Mais tarde traído por um de seus generais, suicidou-se (1582). Toyotomi Hideyoshi assumiu a sucessão de seu senhor.
(§28) Hideyoshi fez com que o filho de Nobunaga Oda fosse eleito Shôgun, mas conservou o poder. Dentre as principais medidas adotadas no período por Hideyoshi destacam-se a transferência da sede do governo para Osaka, determinou o recenseamento geral das terras, interditou o porte de armas aos não-samurais, em 1586, reuniu um poderosos exército para submeter os grandes daimyos independentes e lançou-se à conquista da Coréia em 1592 e depois a China. A partir de 1595 após várias derrotas o Japão abandona a Coréia.
(§29) A vitória de Tokugawa Ieyasu sobre os outros daimyos na Batalha de Sekigahara (1600), e o estabelecimento do seu Bakufu no centro de seus domínios, em Edo (atual Tóquio) que se torna a nova capital, marcam a unificação política do Japão e o início de um período de estabilidade política para o Japão que durou quase 300 anos.
(§30) Considerando a influência nociva da cultura européia e temeroso que os europeus viessem a tomar conta do Japão em 1616, o novo Shôgun, Tokugawa Hidetaka, dá início a política de isolamento voluntário do Japão em relação aos países do Ocidente. Logo depois todos os portos japoneses foram fechados aos navios europeus, exceto Hirado e Nagasaki e os japoneses convertidos ao cristianismo foram perseguidos. Havendo uma grande rebelião cristã e camponesa em Shimabara, culminando com os martírios dos cristãos em 1637 e 1638.
(§31) O país foi fechado aos estrangeiros, exceto aos chineses e aos holandeses, que foram autorizados a frequentar Deshima, uma parte do porto de Nagasaki. Entre 1603-1853 o Japão praticamente fechou suas portas para o Ocidente.
Bibliografia: BATH, S. Japão: Ontem e Hoje. São Paulo, ed. Ática, 1993 KUNIYOSHI, C. Imagens do Japão: Uma utopia dos viajantes. São Paulo, Estação Liberdade / FAPESP , 1998
114
PANIKKAR, K.M. A Dominação Ocidental na Ásia: Do século XV até nossos dias. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977 YAMASHIRO, J. História da Cultura Japonesa. São Paulo, IBRASA, 1986 Japão: Passado e Presente. São Paulo, Aliança Cultural Brasil-Japão, 1997 Texto: Grupo Japoeste
Como já foi dito, esse texto do site divide-se claramente em duas partes distintas,
uma tendo como tema a imigração japonesa no Brasil e seus motivos e outra
apresentando um breve histórico do Japão. A segunda parte do texto “Um breve
histórico do Japão...” termina de forma abrupta, finalizando a narrativa no período de
isolamento do Japão, exatamente a situação histórica que antecede o início da
narrativa do texto principal. Portanto, é possível compreender “Um breve histórico do
Japão” como sendo o começo e a introdução do texto completo “Motivos da
Imigração Japonesa, enfocando a população de Hokkaido no Brasil”. Essa é uma
característica oriental de construção de narrativa na forma de uma “estrutura
circular” – em oposição à forma sequencial (com começo, meio e fim), mais comum
na construção de narrativas no ocidente. Um quadro contendo o resumo do texto na
sequência descrita é apresentado a seguir, com a indicação dos parágrafos no
original, com o intuito de facilitar a análise do plano de conteúdo do texto:
Motivos da Imigração Japonesa, enfocando a população de Hokkaido no Brasil
Um breve histórico do Japão ... A pré-história do Japão inicia-se há 600 anos quando seus primeiros habitantes, conhecidos como “aino” ocupavam grande parte do arquipélago japonês. Em crônicas históricas eles são chamados de Ezojin, em referência da ilha de Hokkaido. Esses indivíduos têm aparência mais ocidental do que oriental. A História do Japão começa com os antepassados dos atuais japoneses invadindo o Japão, expulsando os ainos e estabelecendo reino de Yamato em 600 a.C. O conquistador era Jimmu Tenno, filho da deusa sol Amaterasu que inaugurou uma linhagem ininterrupta de imperadores (cf. §13 a §15). A História do Japão é dividida em vários períodos como o Jomon (cerca de 7.500 a 300 a.C.), Yayoi (300 a.C. a 300 d.C.), Kofun (séc. III a séc. VI), Edo ou Tokugawa (1603-1867), Era Meiji (1868-1912), (1912-1926), Era Shôwa (1926-1989) entre outros. (cf. §16 e §17). A cultura japonesa foi muito influenciada pela cultura da China, através de elementos trazidos por eles, como o budismo, a escrita, a filosofia de Confúcio. Mas a partir do século IX, acentua-se um padrão sociocultural japonês. A partir desse período, a história do Japão caracteriza-se por sucessivos períodos de desenvolvimento cultural e paz alternados por disputas
115
e guerras internas, duas tentativas frustradas de invasão do arquipélago pelo império mongol e outras incursões para domínio da Coréia que também não lograram êxito. Esse período de conflitos militares concorreu para o surgimento de uma elite militar, que deu origem posteriormente a uma classe social – os samurais – e o estabelecimento de feudalismo (cf. §18 a §25). É no período feudal que surge a figura do Shogun chefe militar com poder de fato sobre o Japão. Um desses shoguns, Tokugawa Ieyasu, inicia uma dinastia que traz 300 anos de paz e estabilidade política ao país. E nessa época acontecem os primeiros contatos entre o Japão e o Ocidente, com uma entrada frustrada do cristianismo em território nipônico que propiciou, entre outras consequências, o fechamento dos portos japoneses ao comércio internacional, ficando o Japão praticamente isolado do Ocidente de 1603 a 1853, com exceção dos chineses e dos holandeses, que puderam manter contato através do porto de Deshima, na cidade de Nagasaki (cf. §26 a §31).
(A imigração japonesa no Brasil e seus motivos)
Do século XII ao século XIX houve uma estabilidade populacional no Japão proporcionada por uma rígida política governamental (do xogunato) de controle de natalidade através do aborto, o qual funcionou por séculos (cf. §1). No início do século XIX o xogunato entrou em crise, com insubordinação de camponeses; aumento da miséria no campo e nas cidades; enriquecimento de comerciantes; depauperação da elite; êxodo rural com o crescimento da população urbana e número de mendigos e aumento de ronin (cf. §2). Um sentimento de revolta de grande parte da população japonesa foi provocado pela pressão dos países ocidentais para a abertura dos portos japoneses ao comércio internacional (1854), que culminou com a assinatura forçada de acordos com os americanos, ingleses, russos e holandeses (cf. §3).
A crise causada pela superpopulação do Japão, um país de características agrárias, foi consequência da criminalização do aborto imposta pelo Convênio Tokugawa, instituído pelos ocidentais e pelo governo japonês e que marcou o fim da restrição de nascimentos e do sistema de controle de natalidade que vigorara por séculos no país (cf. §1) e (cf. §4).
Em 1868, primeiro ano da revolucionária era Meiji (1868-1912), inicia-se um período de emigração de japoneses, uma das soluções que o governo japonês, em sua nova fase de abertura para o Ocidente, encontrou para contornar a crise populacional. Havaí, América do Norte e regiões da Ásia foram os destinos principais da maioria dos emigrantes (cf. §5).
A imigração japonesa no Brasil no início do século XX teve como fatores a estabilidade econômica do Brasil naquela época, o grande crescimento demográfico do Japão, a possibilidade iminente dos Estados Unidos e do Canadá recusarem imigrantes japoneses, a dificuldade do governo paulista de receber imigrantes europeus, a esperança de adaptação dos imigrantes no trabalho das fazendas e sua fixação na terra e as expectativas de abertura de um novo mercado consumidor de café brasileiro (cf. §6).
Em 1908 chegam os primeiros 781 imigrantes japoneses no porto de Santos com objetivo de trabalhar na lavoura cafeeira no interior de São Paulo (§7). No entanto, um ano após a chegado do navio, apenas um quarto do japoneses permanecia trabalhando nas fazendas, pois as condições de trabalho encontradas eram muito diferentes do que fora divulgado pelas companhias de imigração do Japão. Alguns imigrantes se dirigiram para a capital, outros se transferiram para outras fazendas ou voltaram ao país de origem (cf. §8).
Os imigrantes japoneses desejavam trabalhar muito, obter um acerta quantia de dinheiro e retornar rapidamente ao Japão. A ideia de se fixar no Brasil não fazia parte do projeto da maioria dos imigrantes (cf. §9).
Os primeiros imigrantes japoneses vindos de Hokkaido chegaram em 1920 e até 1923, um total de 74 vieram ao Brasil com o objetivo de retornar ao Japão e a maioria foi trabalhar no interior do Estado de São Paulo (cf. §10).
Quadro 3.1 – Quadro com resumo esquemático do texto “Motivos da imigração japonesa no Brasil...”
116
Em busca do novo espaço para o japonês
Segundo a teoria semiótica, apresentada no capítulo anterior, todo texto possui uma
organização narrativa. Para Fiorin (2009, p. 27), a narratividade é uma transformação
situada entre dois estados sucessivos e diferentes. Uma narrativa mínima ocorre
quando se tem um estado inicial, uma transformação desse estado aplicada por um
sujeito e um estado final resultante dessa transformação. No texto em análise, no
estado inicial, o actante sujeito “japoneses” está em conjunção com o objeto de valor
“raízes” (tradição, cultura, história, terra), mas em disjunção do objeto de valor
“espaço” (para sobrevivência, para realização), em função de uma grande crise que
atinge o país nas áreas econômica, política e social. Ele parte, então, à procura do
objeto de valor “espaço” no Brasil, país “novo”, sem as mesmas raízes, entrando em
disjunção do objeto de valor “raízes”. O japonês tem como projeto obter “espaço” –
juntar recursos para sobrevivência – e retornar ao Japão para entrar novamente em
conjunção com o objeto de valor “raízes”. A disjunção seria, então, temporária. Em
síntese, o estado inicial é o de estar no Japão, com sua cultura e valores (“raízes”),
vivendo uma crise econômica e social que faz com que os japoneses estejam
privados de oportunidades e de terem um “espaço”, até mesmo físico, na sociedade
de seu próprio país. A transformação se dá quando os japoneses emigram para o
Brasil, deixando o objeto de valor “raízes” temporariamente, em busca do objeto de
valor “espaço”. No entanto, há uma mudança de projeto. O estado final da narrativa
é a conjunção do sujeito “japoneses” com o objeto de valor “espaço” no Brasil – pois
verifica-se que eles se estabeleceram aqui, não retornaram ao Japão. Há conjunção
também com o objeto de valor “raízes”, pois eles conseguiram manter muitos dos
valores japoneses no novo país, evidenciando, portanto, que houve uma mudança
de projeto nesse percurso. A partir dessa estrutura de narrativa mínima, o texto
também pode ser analisado por meio do modelo de narrativa complexa, seguindo a
117
sequência canônica compreendida por três fases: manipulação, ação e sanção. O
“percurso da manipulação” no texto “Motivos da imigração japonesa...” estabelece as
bases sobre as quais se desenvolve a narrativa: o povo japonês, que por séculos
viveu de modo estável em seu país, devido à decadência do governo do xogunato e
à interferência de nações ocidentais, enfrenta uma grave crise causada pelo
superpovoamento, que traz dificuldades para o povo ter um “espaço” de
sobrevivência em seu próprio país. Não é apenas o “espaço físico” que está em
questão, mas o “espaço” no sentido de se ter um “lugar” na sociedade japonesa,
com as condições de se viver num sistema que não comporta mais todos os
cidadãos. A maioria está excluída desse “lugar”. Não há trabalho, não há modo de
se ganhar recursos suficientes para manter uma vida estável tal como antes. Com
essa falta de “espaço”, os japoneses não conseguem viver plenamente as “raízes”,
pois a tradição e a cultura são valores que não podem ser desenvolvidos em sua
plenitude sem o “espaço”. Um novo governo japonês, num período crítico de
transformações políticas, econômicas e sociais, encontra na emigração de
japoneses uma solução para essa crise de “espaço”. As companhias japonesas de
imigração, utilizando-se de manipulação por meio da tentação – a possibilidade de
juntar dinheiro em pouco tempo –, estimula japoneses a deixar o Japão – rumo ao
Brasil, para a busca desse “espaço” de sobrevivência e de enriquecimento. Mas sair
do Japão é deixar para trás a terra, o modo de vida, a tradição japonesa, as “raízes”.
Os governos do Japão e do Brasil, e as companhias japonesas de imigração e
cafeicultores paulistas firmam um “contrato” que estabelece a condição dos
japoneses para seguirem o “percurso da ação”: deixar o Japão, que passa por
grande crise e transformações e não oferece mais “espaço” para os próprios
japoneses desenvolverem suas “raízes”, e partir para o exterior. O Brasil –
representado pelos cafeicultores paulistas –, por outro lado, precisava de mão de
118
obra para suas fazendas. Nesse contrato de imigração, segundo o texto, não está
explicitado um prazo para o cumprimento desse acordo, mas os japoneses
pretendem “amealhar uma certa quantia de dinheiro para, em seguida, retornar mais
rápido ao Japão” (§8). Eles têm a intenção de retornar e estabelecer as “raízes” no
Japão – num período de cinco a dez anos –, e não no Brasil. O novo país
representa, portanto, um “espaço” transitório. No entanto, em meio a esse percurso,
o projeto é alterado, pois os primeiros imigrantes buscam outras opções no país, na
busca de um “espaço” para realização:
Treze meses após a chegada do Kasato-Maru e da inserção dos imigrantes japoneses no interior de São Paulo, apenas um quarto dos japoneses permaneceram nas fazendas; sendo que outros três quartos desiludidos na sua maioria com as condições de trabalho aqui encontradas, que diferia muito da propaganda feita pelas companhias de imigração do Japão, abandonaram as fazendas. Alguns vieram para a cidade de São Paulo, e outros se transferiram para outras fazendas ou voltaram para o Japão. (§8)
Com essa mudança de projeto, esses primeiros imigrantes se estabelecem em
outras fazendas6 e alguns exercem outras atividades, mas a maioria permanece no
Brasil, com o objetivo de encontrar o seu “espaço”.
O resultado do percurso se manifesta de forma um pouco diferente do esperado: ao
final do texto, o sujeito actante “japonês”, o nikkei – imigrante e seus descendentes –
obtém “espaço” de sobrevivência e no Brasil, estabelece suas raízes nipônicas no
kenjinkai e acaba não retornando ao Japão. O contrato é cumprido de forma integral
com o governo japonês: os imigrantes vieram e se estabeleceram no país, obtiveram
espaço e criaram suas raízes aqui. Com relação ao governo brasileiro, os japoneses
também cumpriram sua parte, pois a grande maioria dos imigrantes que chegou ao
6 Embora os primeiros imigrantes tenham abandonado seus contratos iniciais, a maioria deles – e os que vieram durante todo o processo imigratório no Brasil – continuou exercendo a atividade agrícola, principalmente na cultura cafeeira, mas sob outros contratos e regimes. Tal situação não é explicitada no texto, mas é um fato histórico, fartamente documentado e descrito em obras de Ruth CARDOSO (1995) e Tomoe HANDA (1987).
119
Brasil desenvolveu a atividade agrícola e se estabeleceu no campo, cumprindo o
acordo inicial. Eles tinham a expectativa de acumular riquezas rapidamente, pois
foram manipulados (por tentação) pelas companhias japonesas de imigração e
acreditaram que isso seria possível. Mas a esperança de retorno não se cumpriu,
por isso, a conjunção com o objeto de valor “raízes” que seria obtida com a volta ao
Japão foi concretizada na Associação Hokkaido, onde as atividades culturais
japonesas são desenvolvidas, viabilizando a conjunção com o objeto de valor
“raízes” por meio de um caminho alternativo. A existência do kenjinkai representa,
portanto, a concretização de um novo projeto estabelecido e desenvolvido a partir de
uma mudança de perspectiva dos imigrantes: a conjunção com o objeto de valor
“raízes” japonesas, não mais vinculada à volta ao Japão: ela se desenvolve no
próprio kenjinkai, que se torna o elo entre a província e os nikkei e o espaço para
desenvolvimento das tradições e culturas japonesas, evidenciadas pelas diversas
atividades desenvolvidas no âmbito da associação. Para o sujeito actante
“japoneses”, o resultado desse percurso da ação culmina com a conjunção dos
objetos de valor “espaço” e “raízes” concretizadas, sim, no Brasil, de modo um
pouco diferente do que fora concebido.
Ao final da performance, tem-se o “percurso da sanção”, no qual o sujeito será
avaliado a partir de seu desempenho diante do contrato firmado no começo da
narrativa. A sanção é o reconhecimento por parte do governo da província japonesa
de que os imigrantes cumpriram o acordo saindo do Japão e por isso “têm direito” a
manter suas raízes, manifestas na criação e reconhecimento da Associação
Hokkaido por parte do Japão. E esse reconhecimento também é obtido diante da
sociedade brasileira, pois a Associação é uma associação civil devidamente
registrada. Finalmente, o kenjinkai também é reconhecido pela comunidade nikkei,
120
pois está presente no rol das associadas do Kenren, órgão nacional representativo
da comunidade no Brasil. A existência da Associação Hokkaido, portanto, é a
concretização de que a busca pelo “espaço” e pelas “raízes” do sujeito actante
“japoneses” convergem no kenjinkai. O reconhecimento da Associação é pleno por
parte de três públicos e a sanção também são manifestos nela.
Hokkaido e o Japão ancestral
É no nível das estruturas discursivas que se verifica como o texto se utiliza de
categorias como pessoa, tempo e espaço, como se dá a concretização dos
elementos narrativos com a disseminação e figurativização dos temas (BARROS,
2003, p. 193-194; 204-209). Essa construção pode ser analisada, primordialmente,
na localização das instâncias do enunciador e do enunciatário, lembrando que a
semiótica narrativa e discursiva desconsidera, em sua análise, qualquer
consideração sobre o autor “em carne e osso” do discurso, suas intenções, biografia
ou personalidade (FIORIN, 2007, p. 29-30). Ela se preocupa com o “narrador”, o
personagem construído para ser a “voz” da Associação Hokkaido no site. Este faz o
enunciado do texto “A imigração japonesa no Brasil e seus motivos” mediante
recurso de “desembreagem enunciva”, gerando sensação de distanciamento, de
imparcialidade, de racionalidade e de objetividade – efeitos obtidos quando se
omitem as marcas da enunciação. A desembreagem “actancial” é feita pela adoção
da narração na terceira pessoa, emprestando objetividade e credibilidade ao texto,
em que o narrador fala de outrem e não se mostra tão envolvido nos fatos narrados.
Há, no entanto, num único trecho, uma desembreagem actancial enunciativa,
manifestada na seguinte frase:
“Torna-se necessário ao falarmos sobre o início da História do Japão fazer um recuo de cerca de 2.600 anos” (§13).
121
Tal modalidade de desembreagem actancial é utilizada quando se deseja produzir
efeitos de proximidade entre enunciador e enunciatário, imprimindo ao discurso um
caráter mais passional e subjetivo. A narração em primeira pessoa estabelece um
narrador pessoal, com sentimentos e opiniões mais explícitas. Essa mudança
propõe, também, uma subjetividade quando se aborda a história do Japão – um
conceito distante do Brasil histórica, geográfica e culturalmente –, trazendo para
“perto” do enunciatário – o internauta – esse tema “distante”.
De igual modo, a desembreagem temporal faz referência ao tempo passado, que não
é concomitante com o presente da enunciação, propondo um afastamento que
também confere maior efeito de veracidade ao discurso. A desembreagem espacial
distancia o evento narrado da enunciação, estabelecendo um ponto de partida que
começa num cenário distante: o Japão. Tem-se, portanto, um enunciado enunciado
desenvolvido na terceira pessoa, posicionando a narrativa no passado e iniciando-a
no Japão. O tempo e o espaço são figurativizados no texto. Exemplos desses
recursos de desembreagem temporal enunciada:
• Do séc. XII (Kamakura Bakufu) até a metade do séc. XIX ... (§1) • No início do séc. XIX o governo do Bakufu estava em crise ... (§2) • Em 1854, o Bakufu foi forçado a assinar um acordo ... (§3) • ... em 1868, primeiro ano da revolucionária era Meiji (1868-1912) (§5) • ... em 28 de abril de 1908 partia do porto da cidade de Kobe (§7)
Exemplos de desembreagem espacial enunciada presentes no texto:
• ... no Japão havia um controle rígido de natalidade ...(§1) • ... iniciada primeiramente no Havaí (§5) • ... porto da cidade de Kobe (§7) • ... aportou na cidade de Santos (§7) • ... na lavoura cafeeira no interior do Estado de São Paulo (§7) • Os imigrantes japoneses procedentes de Hokkaido (§10)
122
Na construção das estruturas discursivas, o emprego constante de menções a
lugares, datas, nomes completos etc. são estratégias que pretendem dar ao texto
um efeito de sentido de realidade histórica, que, por sua vez, procura gerar efeito de
credibilidade. Considere-se o exemplo da parte do texto mostrada a seguir:
(§11) Levas entre Número de imigrantes Navio 1920/1923 de Hokkaido
31° 8 Tosa-Maru 32° 19 Kawachi-Maru 33° 1 Tosa-Maru 34° 4 Panamá-Maru 35° 0 Kawachi-Maru 36° 14 Tacoma-Maru 37° 0 Seatle-Maru 38° 0 Chicago-Maru 39° 28 Kagawa-Maru 40° 0 Chicago-Maru 41° 0 Kagawa-Maru 42° 0 México-Maru
TOTAL 74
O posicionamento espaço temporal da narrativa presente nessa parte do texto, a
indicação de fatos e os personagens historicamente situados produzem no discurso
um efeito de realidade. A descrição das levas de imigração, os nomes dos navios e o
registro da quantidade dos naturais da província de Hokkaido que chegaram ao
Brasil no período descrito concorrem, por meio do grau de detalhamento dos dados
apresentados, para uma aceitação desse discurso apresentado, além de reforçar a
importância do destaque dado aos conterrâneos de Hokkaido no texto.
Ao final dessa primeira parte do site selecionada para análise, uma bibliografia
consultada para a elaboração do artigo é apresentada, a fim de reforçar a precisão e
a veracidade das informações. A identificação da autoria do texto, apresentada
como “Grupo Japoeste”, corrobora para produzir o efeito de credibilidade:
123
Bibliografia: BATH, S. Japão: Ontem e Hoje. São Paulo, ed. Ática, 1993 KUNIYOSHI, C. Imagens do Japão: Uma utopia dos viajantes. São Paulo, Estação Liberdade / FAPESP, 1998 PANIKKAR, K.M. A Dominação Ocidental na Ásia: Do século XV até nossos dias. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1977 YAMASHIRO, J. História da Cultura Japonesa. São Paulo, IBRASA, 1986 Japão: Passado e Presente. São Paulo, Aliança Cultural Brasil-Japão, 1997 Texto: Grupo Japoeste
O texto analisado está situado na página sob a imagem do cabeçalho (figura 3.6),
que fica em exposição permanente, independentemente do link acessado.
Figura 3.6 – Imagem do cabeçalho da home page da Associação Hokkaido
As bandeiras do Japão e do Brasil estão postadas simetricamente ao fundo, em
equilíbrio, atribuindo a mesma importância aos dois países. O “espaço” buscado
pelos imigrantes japoneses no Brasil foi “ocupado”, e nesse “novo” espaço a
“tradição” japonesa é cultivada na Associação Hokkaido. Ela é a extensão da
tradição cultural do Japão implantada no novo espaço ocupado no Brasil. O kenjinkai
é o local de encontro da “tradição” com a “novidade”. Alguns elementos presentes na
imagem enfatizam um discurso identitário nipônico: 1) a presença de duas pessoas,
um homem e uma mulher (percebe-se pelas vestes), com trajes típicos japoneses,
postados no centro da imagem; 2) a presença de uma terceira pessoa no palco,
trajada também com vestes tradicionais; 3) o tipo da fonte empregada sobre a
124
imagem – serifada, com traços horizontais nas extremidades, que facilitam a leitura –
lembra a escrita com ideogramas japoneses e 4) as estrelas de papel penduradas
como uma cortina, no primeiro plano da imagem – dobraduras e móbiles típicos
japoneses. Essa imagem tem um discurso enfático: o kenjinkai apresenta-se com a
identidade nikkei (nipo-brasileira), mas com ênfase na identidade japonesa.
Trataremos, agora, da tematização e da figurativização do texto. A identificação do
emprego de temas e de figuras no discurso é uma etapa importante na análise no nível
das estruturas discursivas. No texto em análise, há pelo menos dois temas explorados
no discurso: o da “busca pelo espaço de sobrevivência” e o do “mito da origem
ancestral”. O primeiro é desenvolvido na primeira parte do discurso, que fundamenta o
motivo de saída do imigrante japonês de seu país: a crise que inviabilizava a
sobrevivência. Subtemas, como “insubordinação dos seguidores shogunais” e “levantes
de camponeses”, indicam, respectivamente, a instabilidade política e a crise social.
O “aumento da miséria, tanto no campo como nas cidades” materializa uma crise
econômica generalizada. O “enriquecimento excessivo dos comerciantes” e a
“depauperação da elite dirigente” expressam uma crise moral e a falta de justiça. O
“crescimento da população urbana”, o êxodo rural e a concentração de migrantes
nos centros, sobretudo de mendigos e samurais sem mestre – os ronin –, acentuam
a gravidade do quadro de crise na sociedade japonesa. O papel do shogunato
(denominado de Bakufu) na crise não é exposto claramente, mas o discurso que
justifica a emigração dos japoneses é construído a partir dessa grande crise social,
econômica e política gerada pela instituição do Convênio Tokugawa, que foi imposto
pelas nações ocidentais ao governo japonês (parágrafo 4). Esse acordo proibiu a
prática do aborto, método de controle de natalidade desenvolvido por séculos no
Japão que garantia a manutenção do nível populacional de uma sociedade de
125
economia agrária (conforme descrito no primeiro parágrafo). A imigração torna-se,
então, uma opção legítima, pois é resultado de uma configuração social, política e
histórica deflagrada pela pressão dos países ocidentais (parágrafo 3). O próprio
título do texto: “Motivos da Imigração japonesa enfocando a população de Hokkaido”
parece querer justificar a saída dos japoneses no Japão e atribuir alguma parcela de
responsabilidade dessa fase de declínio do Japão à intromissão ocidental no modo
de vida japonês, que provocou seu desequilíbrio social e econômico.
O segundo tema, o “mito da origem ancestral”, é desenvolvido na segunda parte do
texto, intitulada: “Um breve histórico do Japão...”. Dos parágrafos 13 a 18, há uma
exposição da origem milenar do povo japonês, que começa “há 2600 anos” atrás,
mencionando os “ainos”, que já habitavam o arquipélago antes da chegada da etnia
que formou a população que constitui o Japão de hoje. No entanto, menciona-se
também a existência de um período pré-histórico, o Jomon, iniciado há 7.500 anos.
Depois, o texto descreve várias etapas históricas e o desenvolvimento da cultura
japonesa, influenciada pela China, por meio da escrita – os caracteres kanjis –, da
filosofia – o confucionismo – e da religião – o budismo. A narrativa apresenta
xoguns, imperadores, bem como as tentativas de invasão mongol em 1274 e em
1281 ao Japão, frustradas pelo “vento divino” – Kamikaze –, lenda segundo a qual o
país seria protegido pelos deuses. Narra também a chegada dos portugueses ao
território japonês, a introdução e o declínio do cristianismo no arquipélago e o
fechamento do Japão ao mundo ocidental – que coincide com o período que marcou
“a unificação política e o início de um período de estabilidade que durou quase 300
anos”. Nesse trecho sobre a trajetória histórica do Japão, há um discurso de
exaltação do “mito da origem ancestral” e da legitimação da identidade japonesa. A
presença desse discurso no site da associação Hokkaido é um fator marcante que
126
delimita a identidade do kenjinkai: ele é fruto dessa trajetória épica do Japão, uma
ramificação, uma continuidade dessa epopeia. Outro importante tema discursivo que
aparece no título principal dessa parte do site é a expressão “enfocando a população
de Hokkaido”, que remete a outra perspectiva identitária: a de “originário da
província de Hokkaido”. Conforme já mencionado anteriormente, a província de
origem é um importante componente de formação da identidade do japonês. A
presença desses dois elementos – “originário do Japão” e “originário de Hokkaido” –,
identificados na análise temática do discurso presente nesta parte do texto do site,
fornece pistas para a compreensão da construção da identidade do kenjinkai. Ao
colocarmos a narrativa desse texto na sequência linear, alterando a ordem das suas
duas partes, verificamos que o narrador marca o começo da narrativa da história do
Japão mencionando o povo aino, que ainda hoje vive na província e, de certa
maneira, representa a ancestralidade da região na formação do povo japonês,
indicando também a centralidade de Hokkaido nesse discurso, que termina com a
chegada dos imigrantes japoneses de Hokkaido ao Brasil. Hokkaido, simbolizando o
Japão, começa e termina o discurso do texto “Motivos da imigração Japonesa no
Brasil enfocando a população de Hokkaido no Brasil.
Tradição e novidade vivenciadas num novo espaço
Para fazer uma análise semiótica por meio do percurso gerativo de sentido do texto
“Motivos da imigração japonesa no Brasil ...”, é preciso – no primeiro nível, o das
estruturas fundamentais – identificar que oposições semânticas primordiais se
encontram presentes na construção do sentido do texto. Para isso, é preciso lembrar
que o sujeito principal é o japonês, imigrante de Hokkaido que vem ao Brasil. Os
elementos que fornecem subsídios para essa análise são retirados da análise
narrativa e discursiva que acabaram de ser realizadas.
127
O Japão do início do século XX enfrentava uma realidade dicotômica: as tradições
nipônicas, representadas pelos valores ancestrais, pela cultura milenar, pela língua,
e pelo apego à província, estavam sendo ameaçadas pela sociedade em
transformação, que causando uma grave crise econômica e social que levava a
população à pobreza e inviabilizava a construção de uma vida digna. O espaço
social para viver a tradição japonesa e fincar raízes no Japão era quase inexistente
para uma boa parcela da população. O primeiro valor primordial nessa narrativa é a
tradição, que abarca conceitos como “raízes culturais”, “identidade japonesa”, “terra
dos ancestrais”, “estabilidade” e “permanência”. Essa tradição estava sendo
ameaçada pela transformação social, pela introdução da cultura ocidental e pelo fim
da ultrapassada, mas estável e previsível sociedade feudal, que tornava o “espaço”
para sobrevivência no Japão escasso ou inexistente. Nessa perspectiva, o modelo
social “antigo” significava falta de “espaço” Era preciso buscar um “novo espaço”
para poder sobreviver enquanto a sociedade se ajustava. A opção para obter esse
espaço era fugir dessa crise, deixando o Japão e suas tradições, em busca da
novidade: um “novo” espaço para ter oportunidade de enriquecimento. Nesse novo
lugar seria possível obter recursos financeiros que facilitariam a busca de espaço de
sobrevivência na sociedade japonesa, pensava o japonês candidato a emigrante. No
entanto, a novidade poderia significar a perda de certos valores, como a cultura
japonesa. Para o governo japonês, a emigração tutelada era uma forma de aliviar a
crise interna nesse período de transformações. No projeto inicial dos imigrantes
japoneses, a busca pela novidade – o novo espaço – seria provisória, assim como a
perda da “tradição”, que também seria transitória. A dualidade construída a partir da
oposição semântica fundamental “tradição” vs. “novidade” permite obter
possibilidades de relações semânticas binárias de contrariedade, contradição e
complementaridade, conforme o diagrama 3.1 mostrado a seguir:
128
Tradição x Novidade e Não-Novidade x Não-Tradição:
eixo de contrariedade e de subcontrariedade
Tradição x Não-Tradição e Novidade x Não-Novidade: eixo de contradição
Tradição x Não-Novidade e Novidade x Não-Tradição: eixo de complementaridade
Diagrama 3.1 – Quadrado semiótico com as relações “Tradição x Novidade”
Deixar a crise e a tradição do Japão e emigrar para o Brasil, em busca da “novidade”
e do “espaço” para sobrevivência são as ideias fundamentais do discurso. A vinda
dos japoneses ao Brasil é a “novidade” que se apresenta como oportunidade para
poder encontrar espaço para sobrevivência e fugir da crise de superpopulação do
Japão tradicional. Mas para buscar a novidade é preciso abrir mão da tradição. No
projeto do imigrante, a privação da tradição seria temporária, pois o objetivo do
japonês era “amealhar uma certa quantia de dinheiro para, em seguida, retornar
mais rápido ao Japão” (cf. §9). As categorias fundamentais são determinadas como
positivas ou eufóricas e negativas ou disfóricas (BARROS, p. 12). Nesse texto a
“Tradição” é encarada como um fator semântico eufórico, positivo, e se refere aos
Japão, a sua cultura, à terra ancestral. A “Novidade” é o elemento disfórico, de valor
negativo, pois o “novo” é desconhecido, incerto e oposto da tradição. A tensão
ocorre porque a tradição, que significa “raízes”, será deixada para trás na busca pela
“novidade”, pelo “espaço”.
129
3.1.2. TEXTO “O QUE É YOSAKOI SORAN”
O segunda parte do site analisada é o texto disponível no link “Ishin Yosakoi Soran”
(http://www.hokkaido.org.br/index.php/Ishin-Yosakoi-Soran.html), reproduzido abaixo:
O que é Yosakoi Soran? O Yosakoi Soran pode apresentar arranjos livres, mas precisa ser baseada em uma melodia específica. A música pode ser de qualquer tipo: pop, dance, rock, samba, etc. Yosakoi significa "Yoru ni koi" (venha de noite). É uma dança tradicional da província de Kochi, muito animada e empolgante. Em 1992, um grupo de universitários ficou tão impressionado com a dança que acabou levando essa tradição para Hokkaido. Ali, eles misturaram o Yosakoi com o Soran-bushi, uma dança que simboliza os costumes dos pescadores. Todo esse trabalho rendeu frutos: hoje, o Festival de Yosakoi Soran é o principal evento de verão de Hokkaido, reunindo 330 equipes com mais de 44 mil dançarinos na capital Sapporo! Em 2003, ocorreu o 1o. Festival de Yosakoi Soran no Brasil, contando com a participação de 12 grupos.
O Naruko
Uma das características mais comuns da dança é o uso de um “chocalho” de madeira chamado Naruko.
Coreografia e Vestimentas
Cada grupo elabora sua coreografia e vestimentas de forma criativa. Muitos utilizam-se dos famosos trajes japoneses, os “happis”.
Site da Associação Yosakoi Soran do Brasil: www.yosakoisoran.org.br
Sobre o grupo Ishin Ishin significa "um só coração". O grupo Ishin é composto, desde 2002, por jovens de diversas entidades de São Paulo, mas que incorporam este espírito tendo um objetivo comum: compartilhar a arte e a cultura japonesa por meio do Yosakoi Soran.
Para tanto o grupo preza por elementos tradicionais de Yosakoi Soran, sempre acompanhado de movimentos firmes e ritmos vibrantes. E com mais de cinquenta apresentações, vem conseguindo sempre com muita alegria, fortalecer os laços de amizade e aproximar os jovens à cultura japonesa.
==== Treinos 2009 ====
Detalhes: Horários: Sextas - 19h às 22h (no Hokkaido) Sábados - 14h às 18h (confirmar local por email)
Locais de ensaio: Centro de Intercâmbio Brasil - Hokkaido: R. Joaquim Távora, 605 -Vila Mariana São Paulo - prox Metro Ana Rosa
BUNKYO: Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social: Rua São Joaquim, 381 - Liberdade São Paulo - Prox Metro São Joaquim
Contato: [email protected]
130
ps: Antes de ir conhecer o grupo no treino, entre em contato por email. Às vezes o local e horário do treino são alterados devido a apresentações. Blog: http://grupoishin.wordpress.com/
Comunidade no Orkut
O texto “O que é Yosakoi Soran” é ilustrado com três imagens, uma delas com uma
frase sobre a foto “Ishin Yosakoi Soran 10 anos em 2013”. Parte da página é
reproduzida a seguir (figura 3.7).
Figura 3.7 – Imagens do link “Ishin Yosakoi Soran”
Yosakoi Soran, a nova dança dos jovens de Hokkaido
O texto com o título “O que é Yosakoi Soran?” apresenta uma narrativa mínima que
pode ser descrita da seguinte forma: O actante sujeito “jovens de Hokkaido” está em
conjunção com os objetos de valor “tradição” e “modernidade” (subentendidos, pois
131
os jovens se identificam com os ritmos globalizados) – que se expressam em
manifestações distintas – e em disjunção do objeto de valor “tradição-modernidade”,
manifesto num só elemento. Esse grupo de universitários encontrou, então, na
província de Kochi, localizada mais ao sul do arquipélago japonês, uma dança
tradicional, com ritmo e instrumentos antigos, e “ficou tão impressionado com a
dança”, descrita como sendo “muito animada e empolgante” que levou essa tradição
para Hokkaido, onde criaram um novo estilo de dança moderna, que funde
elementos da dança e música tradicionais (o yosakoi, da província de Kochi e o
soran bushi, dos pescadores de Hokkaido) com ritmos modernos globalizados, como
o rock, o “pop”, o “dance”, o jazz e o samba. Surge, então, o Yosakoi Soran, uma
manifestação cultural híbrida, que logo ganha a adesão dos jovens de Hokkaido.
Esse novo estilo de dança e de música, com raízes tradicionais misturada com
manifestações musicais modernas globalizadas, ganha adeptos no mundo todo por
meio da promoção de festivais no Japão, que contam com mais de 44 mil dançarinos
e 330 grupos se reunindo no verão na capital de Hokkaido. No Brasil, o 1º festival de
Yosakoi Soran aconteceu em 2003, com a participação de 12 grupos.
Os jovens japoneses de Hokkaido, em conjunção com o objeto de valor “tradição”,
incorporam o objeto de valor “moderno”, sem abrir mão do primeiro, criando o termo
complexo “tradicional-moderno”. Esse sincretismo de objetos de valor
aparentemente antagônico é paradoxal, mas tanto a dança tradicional – cujo
estereótipo pode ser imaginado como uma dança com ritmo lento e movimentos
precisos e delicados –, quanto a moderna, contêm elementos expressos pelas
palavras-chave presentes no texto: “animado”, “empolgante”, “movimentos firmes”,
“vibrante”, “alegria”, “laços de amizade”, “chocalho”, “coreografia”, “vestimentas”,
“forma criativa”. Tanto a “tradição” quanto a “modernidade” podem conter essas
132
características. O que os jovens de Hokkaido não tinham, então, era uma
manifestação única que envolvesse o “tradicional-moderno” simultaneamente. O
tradicional, em geral, é associado aos “velhos”, e o moderno, aos “jovens”. O
“tradicional-moderno”, incorporado pelos jovens de Hokkaido, determina um
elemento que unifica as gerações e é protagonizado pelos jovens. A relação
“tradição” e “novo” é repetida nesse texto. Fica expresso, então, o papel dos jovens
da associação Hokkaido de difusores da milenar cultura japonesa.
Nessa narrativa, os “jovens de Hokkaido” podem ser compreendidos também como os
jovens da Associação Hokkaido do Brasil que participaram da criação do grupo de
dança “Ishin Yosakoi Soran”. Dessa forma, a narrativa mais ampla compreende os
“jovens que têm interesse em divulgar a cultura japonesa”, ligando o festival que deu
origem a esse movimento na província de Hokkaido e o grupo Ishin – fruto brasileiro
desse movimento jovem de dança contemporânea de origem japonesa. Esse
movimento tem uma página no site da Associação Hokkaido do Brasil, evidenciando o
papel que os jovens de Hokkaido tiveram na criação e popularização dessa nova
manifestação artística, reconhecida tanto no Japão quanto no Brasil, e que serve
como instrumento para divulgação da arte e da cultura japonesas. O kenjikai de
Hokkaido, por meio do grupo Ishin Yosokoi Soran, novamente, é o elemento
aglutinador do “tradicional” e do “novo”, servindo, agora, ao novo projeto de vida dos
imigrantes como polo irradiador da cultura japonesa no Brasil.
De Hokkaido para o Japão inteiro e o mundo
O narrador do texto “O que é Yosakoi Soran?” faz um enunciado mediante recurso
de desembreagem enunciva na terceira pessoa, provocando a impressão de
objetividade e conferindo credibilidade ao texto. A narrativa começa no Japão e é
133
finalizada no Brasil, em São Paulo. A desembreagem espacial localiza a narrativa no
arquipélago japonês (nas províncias de Kochi e de Hokkaido, mencionando sua
capital, Sapporo) e no Brasil, citando a cidade de São Paulo e endereços
específicos: “R. Joaquim Távora, 605 – Vila Mariana ... e “Rua São Joaquim, 381-
Liberdade ...”. A desembreagem temporal situa o enunciatário em períodos como
1992 e 2003, caracterizando a desembreagem enunciva temporal, mas a citação de
dias e horários para os treinos, posiciona-o no tempo “agora” (a marcação de
“tempo” para quem está consultando o site, supostamente é o tempo presente):
• Em 1992, um grupo de universitários... • Em 2003, ocorreu o 1º Festival Yosakoi Soran ... • ... desde 2002 ...
Essa última parte do texto, descrita sob o título “Treinos 2009”, traz informações sobre
horários, dias e locais de ensaio, localizando o discurso no tempo e no espaço – aqui
e agora – e configurando a desembreagem enunciativa actancial, espacial e temporal.
• ... Treinos 2009... • Sextas – 19h às 22h • Sábados – 14h às 18h
Há menção para se entrar em contato com o grupo e um convite para interação,
utilizando-se a forma imperativa “entre em contato por e-mail”, personalizando o
discurso, caracterizando uma desembreagem enunciativa actancial.
Antes de ir conhecer o grupo no treino, entre em contato por email. Às vezes o local e horário do treino são alterados devido a apresentações.
Esse conteúdo revela a possibilidade de entrar em contato com o grupo, ação que é
estimulada pela ampliação da disponibilidade de canais de contato: através da
134
Internet, como o blog em http://grupoishin.wordpress.com/ e a Comunidade no Orkut.
A construção da estrutura discursiva do texto visa a produzir efeitos de credibilidade,
posicionando a narrativa espaço e temporalmente e adotando a terceira pessoa
como narrador, imprimindo objetividade e veracidade no discurso. A descrição de
formas para se entrar em contato é outra estratégia que visa, além de reforçar a
veracidade do discurso, a incentivar a interação do internauta com a instituição7.
Os temas presentes na estrutura discursiva nesse link do site são a relação
“tradicional x moderno” e o “conflito de gerações”. Ambos compõem um importante
aspecto da cultura japonesa contemporânea. O Japão é conhecido como um país
milenar, com tradições culturais ancestrais (como a arte do bonsai, do ikebana, do
origami), que preza sua história e os valores dos antepassados. Ao mesmo tempo,
há o fator de modernidade, de tecnologia de ponta e de vanguarda, também no
campo cultural (artes plásticas, cinema e música). O discurso presente no link “O que
é Yosakoi Soran” enfoca a dicotomia entre o “tradicional e o moderno”, ao apresentar,
como protagonistas, os jovens japoneses de Hokkaido (que, além de japoneses, são
dessa província localizada no extremo norte do Japão) – e da Associação Hokkaido,
por meio do grupo Ishin Yosakoi Soran – e sua iniciativa de buscar numa província
quase no extremo sul do Japão uma dança que os impressionou. Esse encontro
transformou a fria (no sentido literal) e longínqua província do norte no palco de uma
das manifestações modernas de maior sucesso no Japão. Há, embutido nesse
discurso, o sentido de emigração para busca de valores, com posterior retorno, com
sucesso, e com repercussões tais que transcendem os limites do arquipélago de
Hokkaido e se estendem “para fora”. Hokkaido foi uma das últimas regiões do Japão
7 Site http://www.yosakoisoran.org.br e página no Facebook intitulada “Associação Yosakoi Soran do Brasil”.
135
ocupadas pelos japoneses, pois o povo aino, cuja presença na ilha antecede à da
etnia amarela que povoou o arquipélago ao longo dos últimos três mil anos, havia
sido empurrado para essa região. O povo de Hokkaido, por esse motivo, é formado
por “migrantes recentes”, que chegaram à região há cerca de dois séculos. Esses
japoneses ocuparam uma região bastante inóspita no inverno, que obrigou os
trabalhadores, por muitos anos, a emigrar, no período de neve, para outras regiões
do Japão, em busca de trabalho temporário. Esses antigos trabalhadores braçais
japoneses, que saíam de Hokkaido no inverno para trabalhar em outras regiões do
país foram chamados originalmente de dekasegis (a forma japonesa romanizada
original do termo – já aportuguesado – decasségui). Talvez esse sentimento de
pertencimento ao Japão, mas, ao mesmo tempo a uma região de presença japonesa
recente, manifeste-se de forma marcante nesse discurso. Esse percurso parece se
repetir na questão da emigração japonesa para o Brasil.
Outras temáticas desenvolvidas no discurso são o “conflito de gerações” e o
“protagonismo dos jovens”, temas universais que permeiam todas as culturas. O
“tradicional” geralmente é visto como algo antigo, velho, conservador, imutável e
ultrapassado. As pessoas mais velhas, os “guardiões dos costumes”, muitas vezes
são interpretadas e apresentadas como pessoas inflexíveis, desatualizadas,
desinformadas, ignorantes, retrógradas. Na trajetória dos jovens de Hokkaido, o fator
“moderno”, aparentemente, se chocaria com esse fator “tradicional”. O “velho” versus
o “novo”. No entanto, esse potencial conflito de visões distintas do mundo – um
conflito de gerações – não se concretiza. Os jovens não negam suas origens e
tradições: eles ficam entusiasmados com a “dança animada e empolgante” que
encontram na província de Kochi e conseguem relacioná-la a outros valores
“modernos” que possuem, dando origem a uma nova manifestação cultural japonesa,
136
o Yosakoi Soran. O Japão antigo não é renegado, e estudantes universitários de
Hokkaido, a região mais ao norte do país, de ocupação recente – e talvez exatamente
por esse motivo –, tornam-se protagonistas culturais, dentro e fora do país. O conflito
geracional não ocorre. Uma manifestação artística comunitária, que mistura elementos
do passado e do presente é criada. Essa dança exige disciplina e união e se expressa
de forma vigorosa e atual, unindo os valores antigos com a emoção e vitalidade dos
jovens, impactando o Japão inteiro, e o Brasil também. Esse discurso é reforçado por
uma imagem do link onde jovens sorridentes, de ambos os sexos, com suas vestes
tradicionais-modernas vibrantes, se exibem, orgulhosamente ao internauta, em
posições de prontidão, expressando sua alegria em participar do grupo Ishin Yosakoi
Soran (figura 3.8).
Figura 3.8 – Foto do grupo Ishin Yosakoi Soran
137
O nome do grupo – Ishin: “Um só coração” – transmite a ideia de um compromisso
profundo, que é a base do trabalho em grupo, uma característica muito presente na
sociedade japonesa e um valor bastante apreciado na cultura nipônica. A ideia de
“um só coração” pode ser traduzida na imagem do labor comunitário realizado nos
campos de arroz ou pelo trabalho em equipe exercido pelos pescadores no mar.
O termo “Yosakoi Soran” faz referência às manifestações folclóricas de Kochi e de
Hokkaido (Yosakoi, a dança tradicional da província de Kochi e Soran, a dança
típica dos pescadores de Hokkaido) e denomina uma fusão de estilos que une o
folclórico tradicional com a modernidade globalizada. Tal temática evoca a “grande
jornada” desenvolvida na primeira parte do site: o percurso dos jovens de Hokkaido
– que partem em busca de um “espaço” e se encontram com a “tradição”.
Desenvolvem, então, com a “modernidade”, algo “novo”, que não suprime a
tradição, antes, incorpora-a, promovendo um novo “espaço” para o
desenvolvimento do “tradicional moderno”: a criação da dança Yosakoi Soran.
Essa jornada termina com os jovens vitoriosos, e beneficiando a muitos,
desenvolvendo um festival de dança de projeção nacional e internacional. No
contexto da Associação Hokkaido, há a compreensão de que a dança “vem
conseguindo, sempre com muita alegria, fortalecer os laços de amizade e
aproximar os jovens da cultura japonesa”.
Uma foto que aparece duas vezes na página do link “Ishin Yosakoi Soran” reforça
o discurso identitário. A imagem (figura 3.9) é um recorte de uma visão de uma
apresentação do grupo ao ar livre, na Liberdade, tradicional bairro oriental da
capital paulista, identificado pela presença das luminárias orientais características
do bairro no alto, à esquerda da foto. Os integrantes estão de costas, todos com
138
vestes típicas japonesas, com destaque para o desenho de um dragão oriental
sobre ondas em traço estilizado, estampado num happi de cor vermelha. Tanto o
dragão quanto as ondas são representados por traços brancos.
Figura 3.9 – Foto do grupo Ishin Yosakoi Soran: 10 anos em 2013
As cores vermelha e branca, no bairro da Liberdade, evocam o Japão, pois são as
cores da bandeira japonesa. A figura do dragão possui vários sentidos na cultura
oriental, mas de forma geral pode ser compreendida como um símbolo que
representa “força e prosperidade”. As ondas simbolizam um movimento contínuo, a
constância e a harmonia. A imagem representa o grupo, em flagrante momento de
performance da dança – os braços esquerdos levantados atestam movimentos
sincronizados –, composto por jovens que, com força e constância, buscam, em
harmonia de equipe, a prosperidade. Ou, a prosperidade é fruto desse esforço em
equipe, que pode ser compreendida também como a “conquista por um espaço”. E
esse espaço é a possibilidade de manifestar a cultura japonesa. A frase “Ishin
Yosakoi Soran: 10 anos em 2013” é uma chancela de que essa atividade de dança
é um “movimento” que está vingando, pois já completou 10 anos. A imagem,
aparecendo duas vezes, reforça duplamente o discurso sobre a jovialidade, o
protagonismo dos jovens e a conquista de relevância cultural reconhecida no
Japão e no mundo. É a japonesidade expressa pelo grupo de jovens do kenjinkai.
139
Tradicional x moderno? Não, é o Tradicional-moderno!
A oposição semântica fundamental do texto “O que é Yosakoi Soran?” pode ser
descrita na relação dicotômica “Tradicional” vs. “Moderno” (diagrama 3.2):
Tradicional x Moderno e Não-Tradicional x Não-Moderno:
eixo de contrariedade e subcontrariedade
Tradicional x não-tradicional e Moderno x Não-Moderno: eixo de contradição
Tradicional x Não-Moderno e Moderno x Não-tradicional: eixo de complementaridade
Diagrama 3.2 – Quadrado semiótico com as relações “Tradicional x Moderno”
O tradicional envolve a cultura japonesa ancestral, os costumes antigos,
identificados em termos da narrativa como “pescadores” (atividade laborial artesanal
ancestral no Japão), “happi” (veste tradicional) e naruko (chocalho de madeira). Esse
“tradicional”, ancestral e local do Japão é contraposto pela ideia do “moderno”,
caracterizado pelos ritmos jovens e globalizados (pop, dance, rock, samba). Mas a
adoção de aspectos “modernos” não aponta apenas a “não-tradicionalidade”, em
que poderia residir o início de um processo de negação da identidade japonesa, uma
vez que os valores antigos e ancestrais constituem um dos principais pilares da
construção identitária cultural nipônica. O estereótipo da dança japonesa tradicional,
como foi mencionado, pressupõe ritmos e movimentos suaves e harmônicos. Há, no
140
entanto, valores que podem ser identificados tanto pela “tradição” quanto pelos
valores da “modernidade”: “animado”, “empolgante”, “dança”, “movimentos firmes”,
“vibrante”, “alegria”, “laços de amizade”, “chocalho”, “coreografia”, “vestimentas” e
“forma criativa” podem pertencer aos dois campos semânticos: portanto, o Yosakoi
Soran de Hokkaido é uma manifestação que se estabelece como um termo
complexo, que expressa um “tradicional-moderno”, mesclando o antigo com o novo e
o local com o mundial. Ele não nega a identidade japonesa, mas a reformula e a
insere numa dimensão cultural global – “moderna”, incorporando novos elementos
na matriz identitária japonesa. No fundo, os jovens de Hokkaido já buscavam pela
manifestação do tradicional-moderno em alguma dança.
3.1.3. TEXTO “HIGUMA-KAI”
O link “Higuma” apresenta um texto com o título “O que é Higuma?”. No topo desse
frame, há o rótulo “Higuma-kai” (figura 3.10), cujo texto é reproduzido a seguir:
Figura 3.10 – Imagem da página do link “Higuma”
141
O que é Higuma? Higuma é uma espécie de urso que habita a ilha de Hokkaido, ao norte do arquipélago japonês. Ele pode ser visto no hall de entrada do Centro de Intercâmbio Brasil-Hokkaido. E assim, o Departamento de Jovens da Associação Hokkaido é chamado Higuma-kai. O que são SEINENS e SEINEN-BU? Seinen e Seinen-bu significam, respectivamente, jovem e departamento de jovens em japonês. No Higuma, os seinens de Hokkaido, realizam eventos como festas típicas da região de Hokkaido, bailes, palestras, cursos de karaokê, ikebana, dança, campeonatos (vôlei, etc.) e eventos ligados à cultura japonesa organizados por outras entidades, a fim de promover a união e a confraternização de ex-bolsistas, integrantes de grupos de intercâmbio e simpatizantes. Quem são os SIMPATIZANTES? São aquelas pessoas que não possuem ascendentes de Hokkaido, mas que participam ativamente dos eventos, seja prestigiando as festas, ou ajudando na organização das mesmas. Participe você também! O Higuma-kai é aberto à participação de todos, sem nenhuma restrição. Nossa lista de emails é acessível através do site http://br.groups.yahoo.com/group/higuma-list/ Nossa comunidade no Orkut
Os jovens e suas atividades sociais
“Higuma” é um tipo de urso característico da região norte do Japão. A partir de seu
nome, o departamento de jovens do kenjinkai é marcadamente associado à
província de origem. O Higuma-kai é o grupo de jovens da Associação Hokkaido
que desenvolve “eventos como festas típicas da região de Hokkaido, bailes,
palestras, cursos de karaokê, ikebana, dança, campeonatos (vôlei etc.) e eventos
ligados à cultura japonesa”. Pessoas que não possuam ascendência na província,
mas “que participam ativamente dos eventos, seja prestigiando as festas, ou
ajudando na organização das mesmas”, podem participar do grupo como
“simpatizantes”.
A narrativa extraída do texto “O que é Higuma” é esquematizada da seguinte forma:
no estado inicial, o actante sujeito “jovens”, está em disjunção do objeto de valor
“tradição”, que corresponde a eventos e atividades ligados à cultura japonesa e à
confraternização entre os jovens. O jovem é convidado a fazer parte do Higuma-kai,
o que possibilita participar dos eventos propostos pela associação Hokkaido, tendo
142
acesso à cultura japonesa e à confraternização com outros jovens. Mesmo os jovens
sem ligação com a província de Hokkaido podem participar das atividades do grupo
como “simpatizantes”. O estado final é ter acesso à cultura japonesa e a eventos de
confraternização da associação e da comunidade nikkei em geral.
Os jovens ursos da província do norte
O narrador deste texto, a Associação Hokkaido, mediante recurso de
“desembreagem enunciativa” realiza o discurso na primeira pessoa, evocando o
“eu”, o “aqui” e o “agora”. Isso provoca a impressão de subjetividade e proximidade
do interlocutor com o interlocutário. Como é comum nesses tipos de textos
institucionais, primeiro o interlocutor assume um discurso objetivo, distante
emocionalmente, a fim de conferir credibilidade à narrativa. Num segundo momento,
a abordagem passa a ser mais subjetiva, a fim de se construir efeito de aproximação
e obter adesão. A desembreagem enunciativa actancial é de primeira pessoa (na
forma de plural de autor), evidenciada ao final do texto: “Nossa lista de emails é
acessível através...” e “Nossa comunidade”. O imperativo “Participe você também”
explicita o “tu”, o internauta que acessa a página da associação. A desembreagem
enunciativa temporal e espacial é o tempo presente, e o local é “aqui”, uma vez que
o discurso está presente na Internet para que o internauta – o narratário –, a
qualquer momento que o acessar, “estabeleça um diálogo” com o narrador, a
Associação Hokkaido. Ao final do texto, o discurso torna-se mais persuasivo, com
um convite para o internauta participar do Higuma-kai, expresso pelas frases
“Participe você também” e “O Higuma-kai é aberto à participação de todos, sem
nenhuma restrição”. A apresentação da lista de discussão do yahoogroups
(http://br.groups.yahoo.com/group/higuma-list/) e da comunidade no Orkut (que está
desatualizada) causam a impressão de que está sendo feito um convite na
143
modalidade “Entre, a casa é sua”. A adoção da forma imperativa “participe” e do
vocativo “você também” conferem uma pessoalidade e proximidade ao discurso,
enquanto a colocação de que “O Higuma-kai é aberto à participação de todos ...”
possui um caráter de receptividade e abertura, ao expressar que “todos podem
participar, sem nenhuma restrição”, constituindo-se numa característica positiva do
grupo.
Um tema detectado nesse texto é “juventude de Hokkaido”. A Associação Hokkaido
é um kenjinkai que prioriza o “jovem”, pois há um link exclusivo para apresentar o
Higuma-kai. Em geral, o grupo de jovens de uma associação japonesa é
denominado apenas seinenkai. Mas o seinenkai da associação Hokkaido possui um
nome: “Higuma”, que remete a uma espécie de urso, característico da região. Há
uma menção no texto de que “ele pode ser visto no hall de entrada do Centro de
Intercâmbio Brasil-Hokkaido”. Há, portanto, um reforço da identidade provinciana do
grupo de jovens, aspecto discursivo presente também no link “Ishin Yosakoi Soran”,
que, como foi demonstrado, refere-se a uma atividade de dança desenvolvida por
jovens de Hokkaido. A imagem de uma pata de urso age como uma figura de
linguagem, uma sinédoque-metonímica que, ao mostrar uma pegada (impressão da
pata do urso) refere-se ao todo – o urso, que, ao final, simboliza Hokkaido. Traz
também a ideia de que o “o grupo de jovens deixa a sua marca na Associação”,
evidenciando tanto a presença como a importância do Higuma-kai.
O urso, tanto no Japão quanto no ocidente, simboliza, simultaneamente, força e
ternura, e gera empatia com os interlocutores quando sua imagem é usada. A
associação da imagem do urso típico da região de Hokkaido com o grupo de jovens
do kenjinkai evoca essas imagens oportunas de energia e docilidade.
144
Não deixe de participar!
A oposição semântica no texto “O que é Higuma” é expressa na relação
“Participação” vs. “Alienação”, da qual se obtém o quadrado semiótico com as
relações de contrariedade, contradição e complementaridade (diagrama 3.3):
Participação x Alienação e Não-Alienação x Não-Participação:
eixo de contrariedade e de subccontrariedade
Participação x Não-Participação e Alienação x Não-Alienação: eixo de contradição
Participação x Não-Alienação e Alienação x Não-Participação: eixo de complementaridade
Diagrama 3.3 – Quadrado semiótico com as relações “Participação x Alienação”
A “Alienação” é disfórica e a “Participação” é eufórica. O Higuma-kai é o grupo de
jovens da associação Hokkaido que desenvolve atividades ligadas à cultura
japonesa e eventos de confraternização entre os associados. São jovens que unem
o “tradicional” e o “novo”. Mas o foco do discurso não é essa relação, e sim a
questão de participar (“participação”) ou não do grupo e das suas atividades
(“alienação”). Estar alienado refere-se a estar alheio às atividades, por não se saber
da existência do grupo nem de suas atividades. “Não-participação” pode ser
entendido como saber da existência do grupo e não participar.
145
A questão da “participação” é um forte fator de constituição identitária do povo
japonês, pois se refere às responsabilidades assumidas quando se “faz parte de um
grupo”. O grupo de referência é uma marca cultural evidente nas comunidades
japonesas, que é expressa inclusive nos níveis de fala – com vocabulário e
construções gramáticas específicas que são empregadas ao se referir a pessoas de
“dentro” do grupo ou de “fora” do grupo.
3.1.4. O ATOR DA ENUNCIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO HOKKAIDO
Os três textos das páginas analisadas – “Motivos da Imigração Japonesa, enfocando
a população de Hokkaido no Brasil”, "O que é Yosakoi Soran?” e “O que é Higuma?”
– são partes de um texto maior que apresenta um único discurso que permite a
elaboração da figura do ator da enunciação Associação Hokkaido, que se dirige ao
enunciatário – o internauta. Um recurso recorrente nos três textos é a alternância da
pessoa narrativa que ora se dá na terceira pessoa, ora na primeira (emprego de
desembreagem actancial enunciativa e enunciva). Constrói-se o texto, assim,
procurando estabelecer efeito de objetividade e credibilidade, quando se apresenta a
narrativa na terceira pessoa e criar um efeito de subjetividade e adesão, quando se
desenvolve o discurso na primeira pessoa.
Como já descrito, a imagem do cabeçalho (ver figura 3.6), fica em exposição
permanente, independente do link acessado, demonstrando o reforço da identidade
nipo-brasileira, com ênfase na japonesidade, conforme análise realizada nesse
tópico. Como todo o discurso do site é impregnado por essa imagem, esse é um
traço característico da identidade do ator da enunciação: um descendente de
japonês que adotou a cultura e a língua do Brasil sem abandonar suas fortes raízes
nipônicas, que por sua vez, estão presentes em todo o lugar.
146
No primeiro texto, sobre os motivos da imigração japonesa, há uma preocupação em
explicar que a motivação para emigrar de Hokkaido foi fugir da crise e da pobreza,
provocados pela superpopulação do Japão, findo um período histórico de isolamento
cultural e político e falência de um sistema feudal que perdurou por séculos. Essa
emigração se deu em busca de um “espaço” para desenvolver as “raízes”, a vida do
japonês, que inclui os aspectos culturais e históricos e o atendimento das
necessidades básicas para sobrevivência. Desenvolver as “raízes” no Japão não era
possível na época, por não haver “espaço” para tal. O projeto de imigração japonesa
no Brasil era uma tentativa de se obter um “novo” espaço para levantar recursos e
voltar ao Japão e assim encontrar seu “espaço” de sobrevivência e desenvolvimento
das “raízes”. Apesar de o sonho desses imigrantes de voltar à terra natal não ter se
concretizado – pois o Japão como espaço físico-geográfico representa a tradição e a
cultura ancestrais –, a presença do kenjinkai no Brasil funcionou como um novo
espaço para o desenvolvimento de uma tradição e cultura nipônicas. Há uma parte
do texto dedicada a descrever os navios que trouxeram os primeiros imigrantes e o
número de naturais de Hokkaido, destacando-se que 74 pessoas da província
chegaram ao Brasil entre 1920 e 1923, em 12 navios. Essa menção dos
provincianos revela a preocupação da Associação Hokkaido em identificar os
conterrâneos nesse processo histórico, enfatizando a questão da importância da
província na formulação identitária do japonês. Outro fato relevante nesse texto é o
grande destaque dado à história do Japão, ligando a associação ao país asiático e
evidenciando a intenção de frisar a origem nipônica do kenjinkai em questão no
discurso. Os associados da província reforçam uma identidade de "natural de
Hokkaido" e "japonês", com grau de importância equivalentes. Uma marca identitária
do ator da enunciação percebida nesse discurso é a de que o kenjinkai é formado
por descendentes de japoneses que “trazem o Japão para o Brasil”, um Japão
147
imaterial, imaginário, mas que está presente na cultura e na tradição milenares.
Trata-se de uma construção mental com valores e características próprios, que pode
até não corresponder mais ao Japão atual, mas que contém elementos que
dialogam com as raízes culturais daquele país e ajudam a formar a identidade do
ator da enunciação: Se a emigração do Japão se deu pela necessidade de se
buscar o “novo” à procura de “espaço” para viabilizar a volta e o estabelecimento das
raízes culturais e assim possibilitar a vivência da “tradição”, pode-se dizer que esse
objetivo foi cumprido, mas com percurso diferente do que foi planejado: a
Associação Hokkaido é o local onde se materializa esse objetivo inicial de ter
“espaço” para viver a “tradição”. O kenjinkai então torna-se tanto o sujeito quanto o
“espaço”. É um filho do Japão que não mora mais na terra dos pais e vivencia sua
japonesidade em si mesmo, o novo espaço, o kenjinkai. A distância geográfica que
separa essa comunidade nikkei do Japão já não é um fator impeditivo para se
vivenciar essas raízes. Contudo, a demarcação identitária da Associação Hokkaido
no Japão antigo presente no discurso reivindica uma origem ancestral e uma ligação
inequívoca do kenjinkai com o Japão, ressaltando esse aspecto e tornando-o
relevante.
O segundo texto, sobre o Yosokoi Soran, revela a preocupação com o público
jovem, que abraça a cultura japonesa – a tradição – sem abrir mão da modernidade,
por meio da junção do “tradicional” e do “moderno”. Essa é uma característica
emblemática da cultura nipônica contemporânea: o Japão high-tech que convive
com o Japão de tradições milenares. Essa paradoxal característica identitária
japonesa – a conciliação entre o "tradicional" e o "moderno" – está presente no texto
analisado e foi resolvida com a criação do termo complexo “tradicional-moderno”, na
narrativa que aborda a criação do grupo jovem de dança contemporânea com
148
elementos tradicionais japoneses. Essa modalidade de manifestação cultural, que já
é um evento de grandes proporções e bastante aceito no Japão, foi iniciada por
jovens de Hokkaido, o que potencializa a dimensão da importância desse discurso:
foram jovens dessa província que estabeleceram uma dança que se tornou símbolo
da conciliação entre a tradição e a modernidade, um importante traço cultural
japonês. O discurso do ator da enunciação revela a preocupação de posicionar
Hokkaido como guardiã das tradições ancestrais, missão que é atribuída aos jovens
e é bem executada por eles. Esse discurso é absorvido, por extensão, pela
Associação Hokkaido, por meio do grupo de dança “Ishin”, ligado ao departamento
de jovens. Ele é apenas uma parte do kenjinkai, formado também pela “sociedade
de senhoras” e pela “sociedade dos homens”. No entanto, reconhece-se na nova
geração a importante missão de perpetuação da associação por meio da
apropriação desse “espaço” de conciliação entre o “tradicional” e a “modernidade”,
entre o “novo” e o “velho”, em que os imigrantes e seus descendentes dos
encontraram condições para criar e desenvolver as suas “raízes” nipônicas.
O terceiro texto, sobre o grupo de jovens do Higuma-kai, desenvolve um discurso de
incentivo para que mais pessoas – notadamente de perfil jovem e por meio do
envolvimento nas atividades dos jovens – venham fazer parte do grupo. Nesse texto,
enfatiza-se a importância da participação nos eventos, uma atitude muito valorizada
na cultura japonesa. As atividades descritas no texto são de caráter cultural e de
confraternização, e não são apenas os jovens – mas especialmente eles – que
gostam de confraternizações como as descritas (festas, bailes, campeonatos,
dança), organizadas internamente ou por outras entidades. O ator da enunciação
reconhece a importâncias dessas atividades para o público jovem. A japonesidade
do “ator da enunciação Associação Hokkaido” é expressa, portanto, pela valorização
149
do ser “natural de Hokkaido” e do ter origem a partir do Japão. A minimização de
conflitos geracionais e culturais e a exaltação de qualidades importantes para a
cultura japonesa, como o trabalho em equipe, a participação nas atividades, a
disciplina, a harmonia e o respeito à tradição, são discursos que também expressam
a japonesidade. A dimensão da brasilidade transparece na presença da imagem da
bandeira do Brasil no cabeçalho do site, ao lado do pavilhão japonês, no uso
corrente da língua portuguesa, na nacionalidade dos jovens do Higuma-kai e do
Ishin Yosakoi Soran.
A japonesidade da Associação Hokkaido se expressa também na home page (que
não foi analisada, apenas descrita), por meio do emprego de termos japoneses
como “motitsuki”, “Lamem & butsuri busanten” e “Ishin Matsuri”. O discurso verbal
total do site evoca uma identidade nipônica, reforçada marcadamente pela província
e pelo Japão antigo, sem que esse vínculo com a província, no entanto, seja
manifesto de forma efetiva, subsistindo apenas de maneira idealizada no discurso. A
identificação com a província de origem parece ser assumida principalmente no
discurso para posicionamento diante da sociedade brasileira e da comunidade
nikkei, comom por exemplo, quando se anuncia o festival de “motitsuki de Hokkaido”,
o “Bazar de produtos de Hokkaido”, o anúncio da morte do famoso dançarino
japonês Kazuo Ohno, natural de Hokkaido e a reportagem sobre a província no
Globo Repórter.
O “ator da enunciação Associação Hokkaido” expressa, portanto, uma japonesidade
e uma brasilidade que concorrem para construir uma identidade híbrida, “hifenizada”,
como descreve Lesser (2001): a nipo-brasileira.
150
3.2. ANÁLISE DO SITE DO YAMAGATA KENJINKAI DO BRASIL
O conteúdo do site foi obtido em 15 de novembro de 2013. O endereço da URL é:
http://www.yamagata.org.br. O projeto desse site é simples, apresentando um layout
básico com navegação por links disponíveis num menu lateral. As páginas
acionadas pelos links não são exibidas num frame; elas ocupam a tela inteira e não
apresentam outra opção de navegação sequencial, obrigando sempre o usuário a
retornar à página principal, onde está o menu inicial. O percurso da leitura pode
começar a partir de qualquer uma das opções do menu dessa página principal, mas
para continuar a navegação sempre será obrigatório o retorno ao menu inicial da
home para acessar outras opções, por meio de links localizados ao final dos textos
das páginas abertas pelo menu, indicado com a palavra “voltar” (pode-se utilizar
também o comando do navegador de “voltar à página anterior”).
A home page é formada por um header, por um menu localizado à esquerda e por
um frame principal. No header da página principal há o nome “Yamagata Kenjinkai
do Brasil”, escrito em caixa alta e baixa, no centro de uma moldura de texto
retangular limitada por dois fios finos de igual espessura. Ao lado esquerdo da frase,
há uma imagem enquadrada de cerejas vermelhas ainda fixas num galho. Do lado
direito, há o símbolo da província. O menu de navegação encontra-se à esquerda,
com dez opções de links. No frame que se encontra na parte principal há textos
distribuídos em cinco divisões com os seguintes títulos: “Bem-vindo ao site!”;
“Calendário de Atividades”; “Fatos e Eventos do YKB!”; “Links Relacionados” e
“Comunidades & grupos de discussão” (figura 3.11). Uma barra de rolagem vertical
na home do site evidencia que o conteúdo não cabe numa tela padrão de computador.
O menu à esquerda apresenta os links: “Mensagem do Presidente”, “Presidentes”,
151
“Histórico da Imigração”, “Histórico do YKB”, “Bolsas de Estudo”, “Contato”, “E-mail”,
“Hanagasa Ondo”, “Galeria de Fotos” e “Boletim nº 108”, descritos brevemente a
seguir:
Figura 3.11 – Visual da home page do site do Yamagata Kenjinkai do Brasil
152
Mensagem do Presidente – No alto do texto, há um cabeçalho com o nome
“Yamagata Kenjinkai do Brasil”, com a logomarca da província à direita. Apresenta um
texto com a “Mensagem do novo presidente Sr. Flavio Tsuyoshi Oshikiri”, publicado
num boletim da associação em abril de 2010.
Presidentes – Com o mesmo cabeçalho do link “Mensagem do Presidente”, a página
apresenta os 11 presidentes das 14 gestões da associação, do atual ao primeiro,
indicando o nome e o período da gestão. Apenas o atual presidente possui uma foto
na lista. Dos 11 presidentes listados, nove já faleceram.
Histórico da Imigração – A página apresenta o mesmo cabeçalho do link
“Mensagem do Presidente” e contém um texto intitulado “Histórico da Imigração
japonesa no Brasil”, narrado em 18 parágrafos e cerca de 1.860 palavras.
Histórico do YKB – Sob o mesmo cabeçalho do link “Histórico da Imigração”, o texto
tem como título “A Caminhada do Yamagata Kenjinkai no Brasil”, desenvolvido em 17
parágrafos contendo cerca de 1.320 palavras.
Bolsas de Estudo – O cabeçalho da página é o mesmo da home page: o nome
“Yamagata Kenjinkai do Brasil” entre uma imagem de cerejas no galho e da
logomarca da província, envolvidos num quadro de linha dupla. Sob o título “Bolsas de
estudo e estágios técnicos”, há um pequeno texto e mais duas opções de links:
“Kenshu” e “Rygaku” (na verdade, o termo seria “ryugaku”), que são duas
modalidades de bolsa de estudo para o Japão divulgadas pela Associação. O link
“Kenshu” remete a uma página com instruções para candidatar-se à modalidade
Kenpi Kenshu – bolsas de estudo e estágios técnicos em empresas privadas ou
153
instituições públicas. A página aberta pelo link “Rygaku” informa que essa modalidade
de bolsa está suspensa.
Contato – Sob o mesmo cabeçalho da home page, há indicação do endereço da
associação:
Yamagata Kenjinkai do Brasil Av. Liberdade 486, salas 24/25 - Liberdade CEP 01502-001 - São Paulo - SP Tel / Fax - (11) 3208 8781
E-mail – O link possui o ícone de uma carta, ao lado esquerdo da palavra “e-mail”.
Quando acionado, abre-se um programa de e-mails do computador, já com o
destinatário escrito: “[email protected]”. Pela extensão do endereço
do provedor de e-mails Yahoo (“jp”), é possível saber que ele está baseado no Japão,
e o nome “assosiason” lembra a forma japonesa de se pronunciar “associação”.
Hanagasa Ondo – Uma pequena foto sobre o texto “Hanagasa Ondo” abre uma
página com o mesmo cabeçalho da home page, a qual apresenta o título “GRUPO
DE DANÇAS FOLCLÓRICAS - HANAYAGI SUMITOMIHIRO MONTEI - GRUPO DE
TAIKÔ SHUDAN KIRAKU”, e o texto “Apresentação no II Festival Tohoku-Hokkaido
dos "SeinenBu" das províncias de Akita, Aomori, Fukushima, Iwate, Hokkaido,
Miyage e Yamagata realizado no dia 12 de setembro de 2010 na Associação
Hokkaido do Brasil”. Três fotos do evento compõem a página.
Galeria de Fotos – Uma miniatura de uma foto sobre a frase “Galeria de Fotos” abre
a galeria, que tem o mesmo cabeçalho da home page e contém fotos sobre a visita de
dois governadores da província de Yamagata à Associação (Hiroshi Saito, em 2008, e
154
Mieko Yoshimura em 2009) e uma foto da visita do presidente da Associação, sr.
Oshikiri, e o seu vice-presidente, sr. Saito, à regional de Londrina em 2010.
Boletim nº 108 – Uma miniatura de uma página do boletim da associação é o link que
vai abrir a boletim de março de 2011, que, sob o mesmo cabeçalho da home page,
apresenta os links das 12 páginas do boletim (que foi editado em japonês e
português) escaneadas e montadas como imagens nas páginas html.
Foram selecionadas aleatoriamente três partes do site para análise:
• Frame principal da home page que apresenta um texto formado por cinco
seções “Bem-vindo ao site!”; “Calendário de Atividades”; “Fatos e Eventos do
YKB!”; “Links Relacionados” e “Comunidades & grupos de discussão”.
• Link “Histórico da Imigração”, que contém o texto “Histórico da Imigração
japonesa no Brasil”.
• Link “Histórico do YKB”, que contém o texto “Caminhada do Yamagata
Kenjinkai do Brasil”.
3.2.1 TEXTOS DO FRAME PRINCIPAL DA HOME PAGE
Os textos do frame principal da home page seguem o padrão de elaboração
identitária estabelecido pelos tópicos: “quem somos, de onde viemos e o que
fazemos”. As cinco seções que compõem esse texto inicial (“Bem-vindo ao site!”;
“Calendário de Atividades”; “Fatos e Eventos do YKB!”; “Links Relacionados” e
“Comunidades & grupos de discussão”) constituem um pequeno resumo desse
esquema. Os textos sublinhados são links que remetem a outras páginas.
155
Bem-vindo ao site!
A associação Yamagata Kenjinkai do Brasil tem por objetivo estreitar o intercâmbio com a província-mãe, promover o convívio social entre os associados e contribuir para a comunidade nipo-brasileira e para o desenvolvimento cultural do Brasil, realizando as seguintes atividades:
• Atividades culturais e de convívio social entre os associados do Kenjinkai • Cooperação com as atividades de emigração planejadas pelas Província-mãe • Atividades beneficentes • Participação em atividades culturais da comunidade Nipo Brasileira e do Brasil • Atividades de intercâmbio cultural com o Japão e com a nossa província mãe.
Calendário de atividades
Fevereiro de 2011 - será realizada no dia 13, a partir das 12:30hs em 1a. chamada ou 13:00 hs em 2a. chamada, a 58ª assembleia geral ordinária da associação. Solicitamos a presença de todos os associados para discutirem assuntos relevantes da nossa associação.
Haverá festa de confraternização de Ano Novo após encerramento das atividades.
New > Seinenbu informa que este ano será realizado o já conhecido Undokai do Tohoku-Hokkaido Bloco, que era um evento muito esperado pelos jovens e crianças. A data e o local será divulgado brevemente. Aguardem!
New > Koshukai 2011 - Seminário de preparação de bolsistas e estagiários
Fatos e Eventos do YKB!
Concurso de Músicas Folclóricas (Minyo) de Yamagata - 15 de Novembro de 2010
II Festival Tohoku-Hokkaido Matsuri - 12 de Setembro de 2010
Setembro de 2010 - exposição das obras do conselheiro e artista plástico Yutaka Toyota em Tendoshi.
Festival do Japão - 16, 17, 18 - Julho de 2011
Eventos comemorativos dos 55 anos da fundação da Associação Yamagata Kenjinkai - 22 de Outubro de 2008
Links Relacionados
Sites relacionados a assuntos de interesse aos associados e candidatos a bolsistas.
Yamagata Prefecture Yamagata City Association for International Relations in Yamagata - Airy
Comunidades & Grupos de Discussão
Você jovem! junte-se a nós enviando o seu e-mail e participe do nosso grupo de discussão.
Entre no nosso grupo (Moderador) Envie e-mail para o grupo e tire suas dúvidas Assuntos Home Page
A tradição japonesa e a cultura do Brasil
A narrativa mínima pode ser esquematizada da seguinte forma: o actante sujeito
“Yamagata Kenjinkai do Brasil” (YKB), em seu estado inicial, está em conjunção com
156
o objeto de valor “tradição japonesa”, isto é, seus associados têm acesso e usufruem
do contato com a cultura japonesa, com a província de origem e com a comunidade
japonesa (nikkei) do Brasil. O uso de expressões japonesas, como seinenbu (grupo
de jovens), undokai (espécie de gincana), Tohoku-Hokkaido matsuri (festival de
Hokkaido), koshukai (reunião de bolsistas), minyo (tipo de música folclórica
japonesa) reforçam a origem japonesa do YKB e a identidade da associação ligada
à cultura japonesa. Mas, paralelamente, há o emprego recorrente de expressões
que denotam a noção “do Brasil”, funcionando também como elemento de
contraposição do ideal “tradição japonesa”. A denominação da associação
“Yamagata Kenjinkai do Brasil” evidencia uma identidade brasileira dessa
associação de província presente em seu próprio nome oficial. Um dos objetivos
expressos do YKB no site é o “desenvolvimento cultural do Brasil”, bem como a
participação em “atividades culturais do Brasil”. Essa oposição semântica ajuda, na
verdade, a construir um discurso que evidencia a identidade brasileira do YKB. Por
outro lado, o uso do termo “nipo-brasileira”, empregado duas vezes, sinaliza o
conceito “não do Japão”, propondo-se uma identidade híbrida, que se origina da
mescla das duas culturas. O Yamagata Kenjinkai do Brasil é apresentado como
uma associação que tem como objetivo “estreitar o intercâmbio com a província-
mãe”, promover o “convívio social” entre os associados e contribuir “para o
desenvolvimento cultural do Brasil”. Uma descrição mais adequada e reformulada
desses objetivos poderia ser expressa da seguinte forma:
“A associação Yamagata Kenjinkai do Brasil tem por objetivos:
• estreitar o intercâmbio com a província-mãe;
• promover o convívio social entre os associados;
• contribuir para a comunidade nipo-brasileira”.
157
E as formas de se atingir esses objetivos podem ser assim descritas:
• promover atividades culturais e de convívio social entre os associados;
• cooperar com as atividades de emigração planejadas pela província-mãe;
• participar em atividades culturais das comunidades nipo-brasileira e do Brasil;
• desenvolver atividades beneficentes (que podem envolver tanto a comunidade
interna quanto a comunidade externa);
• promover ou intermediar atividades de intercâmbio cultural com o Japão e com a
província de Yamagata.
Essas ideias podem ser reordenadas numa narrativa assim sintetizada: o YKB foi
estabelecido por seus fundadores com a finalidade de promover atividades de
convívio social entre seus associados e estabelecer contato com a província-mãe,
juntamente com o propósito de contribuir para o desenvolvimento cultural do Brasil.
Por meio de ações de promoção e cooperação com os associados, com a província
de origem e com outras instituições (nipo-brasileiras e brasileiras), esses objetivos
são atingidos, beneficiando a todos: os associados, através do convívio social, a
província-mãe, com a colaboração de atividades de emigração; e o Brasil,
contribuindo para o desenvolvimento cultural do país por meio da participação e
promoção de atividades culturais das comunidades nipo-brasileira e brasileira.
Brasil e Japão em equilíbrio a partir da província-mãe
No discurso do frame principal da home page do site, o narrador da parte “Bem-
vindo ao site!” é o Yamagata Kenjinkai do Brasil, que mediante discurso realizado na
terceira pessoa produz efeito de objetividade e credibilidade no texto, apresentando
uma desembreagem actancial enunciva. No entanto, nas seções “Calendário de
Atividades” e “Comunidades & grupos de discussão”, o enunciado é feito na primeira
158
pessoa do plural, recurso que procura estabelecer uma proximidade entre o
enunciador e o enunciatário. Esse recurso de alternância da pessoa do discurso, já
mencionado na análise do site da Associação Hokkaido, repete-se também nos
textos do site do Yamagata Kenjinkai:
Solicitamos a presença de todos os associados para discutirem assuntos relevantes da nossa associação.
Você jovem! junte-se a nós enviando o seu e-mail e participe do nosso grupo de discussão. • Entre no nosso grupo (Moderador)
O discurso da parte “Comunidades & grupos de discussão” é construído na forma de
proposição de início de um diálogo (estabelecendo-se explicitamente o enunciatário
como “você”), imprimindo a impressão de atualidade e pessoalidade:
Você jovem! junte-se a nós enviando o seu e-mail e participe do nosso grupo de discussão. • Entre no nosso grupo (Moderador) • Envie e-mail para o grupo e tire suas dúvidas
O emprego de um vocativo: “Você, jovem!”, o uso de pronome pessoal possessivo
de segunda pessoa (“seu e-mail” e “suas dúvidas”), seguida de uma série de
imperativos de segunda pessoa do singular – “junte-se a nós enviando seu e-mail”,
“participe de nosso grupo de discussão”; “entre no nosso grupo”; “envie e-mail para
o grupo” e “tire suas dúvidas” – estabelece um diálogo pessoal, entre o “tu” e o “eu”,
manifestado na primeira pessoa do plural (“solicitamos a presença de todos”,
“junte-se a nós”; entre no nosso grupo). Há, portanto, uma desembreagem
enunciativa actancial num discurso persuasivo, porque se faz uso de estratégias de
aliciamento e convencimento com o caráter de pessoalidade dada ao texto. Os
convites “junte-se a nós” e “participe de nosso grupo de discussão”, bem como o
imperativo “envie e-mail para o grupo”, denotam a apresentação de uma
159
oportunidade para se tornar parte de um grupo, do “nosso grupo”. Esse recurso se
repete em vários trechos do site.
• As seções “Bem-vindo ao site!”, “Fatos e Eventos do YKB!” e “Links Relacionados” têm narrativa na segunda pessoa, propondo objetividade e imparcialidade
• Embreagem de primeira pessoa nas seções “Calendário de Atividades” e “Comunidades & grupos de discussão”:
• Solicitamos, junte-se a nós; • nosso grupo de discussão; • entre no nosso grupo • Explicitação da segunda pessoa: imperativo: aguardem; junte-se a nós; participe, entre em
nosso grupo, envie e-mail”, tire suas dúvidas.
A desembreagem enunciva temporal é estabelecida com a citação de datas de
eventos, produzindo efeito de realidade.
• Fevereiro de 2011 • Koshukai 2011 • 15 de Novembro de 2010 • 12 de Setembro de 2010 • Setembro de 2010
A desembreagem enunciva espacial é estabelecida com os links que remetem ao
site de Yamagata Prefecture (governo da província no Japão), a Yamagata City (site
da capital) e ao site da Airy – Association for International Relations in Yamagata
(site da Associação de Relações Internacionais de Yamagata, disponível em várias
línguas, inclusive o português), produzindo efeito de realidade.
Com referência à tematização e figurativização do discurso na home page, um tema
muito presente é o da origem japonesa, expresso em quatro imagens, três das quais
também são links que levam a outras páginas: imagem de cerejas, no cabeçalho (a
cerejeira é a árvore símbolo do Japão – o YKB é fruto do Japão), foto de três
dançarinas típicas sobre a legenda “Hanagasa Ondo”, que remete a outras três fotos
que registram um evento; foto de uma mulher ajoelhada cumprimentando o leitor,
160
vestida em trajes típicos, sobre a legenda “Galeria de Fotos” (aliás, trata-se da
governadora da província de Yamagata, que visitou o Brasil em 2009) e uma imagem
da primeira página do boletim da associação (em japonês), sobre a legenda “boletim
nº 108”. Todos esses elementos ajudam a construir um discurso de “japonesidade”
numa página toda escrita em português, que explica os objetivos da Associação, os
quais envolvem os aspectos de difusão da cultura japonesa e do desenvolvimento
cultural do Brasil. Fica nítido, portanto, que essa mistura de elementos culturais
brasileiros e japoneses estabelece a identidade hifenizada “nipo-brasileira”.
Brasil e Japão: a nipo-brasilidade
O texto, apesar de dividido em cinco blocos com temáticas distintas, pode ser
considerado como um discurso único para a análise semiótica. Os títulos dos blocos
apresentam o kenjinkai por meio de ideias que expressam “quem são” e “o que
fazem”. A oposição semântica do texto é expressa no binômio “Japão vs. Brasil” e
é sintetizada no diagrama 3.4:
Japão x Brasil e Não-Brasil x Não-Japão: eixo de contrariedade e subcontrariedade
Japão x Não-Japão e Brasoç x Não-Brasil: eixo de contradição
Japão x Não-Brasil e Brasil x Não-Japão: eixo de complementaridade
Diagrama 3.4 – Quadrado semiótico com as relações “Japão x Brasil”
161
A manutenção da expressão japonesa “kenjinkai” do nome da associação, o uso
frequente da palavra “Japão”, a menção à “província-mãe” e a disponibilização dos
links para os sites da província e da capital refletem a ideia de “Japão”. Já a ideia
“Brasil” é notada ao expressar-se a contraposição da “cultura do Brasil”, em
contraste com a “cultura do Japão”.
O termo “Japão” envolve a cultura japonesa, ter acesso à província-mãe e ter
contato com a comunidade japonesa (ou nikkei), estando próximo, portanto, dos
valores culturais e ancestrais japoneses. O termo “Brasil” é ligado à cultura
brasileira, à localização do próprio Yamagata Kenjinkai no país, ao uso da língua
portuguesa. A fusão das identidades, manifestada no emprego do termo “nipo-
brasileiro”, funde os elementos culturais do “Japão” com elementos culturais do
“Brasil”. O discurso do YKB incorpora os três termos: “Japão”, “Brasil” e “nipo-
brasileiro”, com os seus respectivos significados culturais.
3.2.2 TEXTO “HISTÓRICO DA IMIGRAÇÃO JAPONESA NO BRASIL”
Acessado através do link “Histórico da Imigração”, localizado no menu vertical à
esquerda da home page (http://www.yamagata.org.br/hist.htm), o texto “História da
Imigração Japonesa no Brasil” é reproduzido a seguir:
História da Imigração Japonesa no Brasil
(§1) A imigração japonesa no Brasil teve início com a introdução de trabalhadores nas lavouras de café, que sofria então com a falta de mão-de-obra. Em 1897, o primeiro navio rumo ao Brasil esteve próximo de levantar suas âncoras; porém, a travessia foi cancelada devido à grande queda do preço do café no mercado internacional, ocorrida naquele mesmo ano. A cotação chegou a cair mais de 30% em comparação ao seu auge. Devido a isto, em 1902, a Itália, que era o país que mais enviava trabalhadores às lavouras de café, interrompeu a imigração administrada pela Agência Oficial do Governo Estadual de São Paulo.
(§2) Assim, com a crise do café, a emigração cafeeira ao Brasil, que era vista como algo promissor no Japão, foi interrompida e, em 1899 teve início a emigração ao Peru. Até 1923, cerca de 17 mil pessoas emigraram ao Peru; porém, devido aos inúmeros problemas na estrutura de recepção e nas condições sociais e econômicas, acredita-se que os primeiros imigrantes tenham até mesmo vindo parar no Brasil.
162
(§3) A partir de 1904, o preço do café começa a mostrar sinais de recuperação. E no Japão, com a chegada da recessão ao término da Guerra Russo-Japonesa, novamente, a emigração ao exterior começava a ser alvo das atenções. Ao mesmo tempo, na América do Norte, intensificava-se o movimento de boicote à imigração japonesa. Assim, com a recuperação do preço do café e tendo também como pano de fundo a época áurea da borracha na Região Amazônica, em 1906, houve a solicitação para introduzir imigrantes japoneses nos cafezais do Estado de São Paulo, nos arrozais do Estado do Rio de Janeiro e na extração de borracha da Amazônia.
(§4) No dia 18 de junho de 1908, ancorava no porto de Santos o navio Kasato-Maru, trazendo os 781 imigrantes sob contrato agrícola e outros que vinham por conta própria, todos eles recrutados pela Companhia Imperial de Emigração (Kôkoku Shokumin Gôshigaisha, Presidente Ryo Mizuno). Este foi o início da imigração japonesa no Brasil e esta data, 18 de junho, está estabelecida como o Dia da Imigração Japonesa no Brasil.
(§5) Atualmente, estima-se que o número de descendentes destes imigrantes ultrapasse 1,35 milhão de pessoas. De acordo com os registros, 190 mil imigrantes chegaram ao Brasil nos primeiros 33 anos (1908 a 1941) e a população nikkei em todo o Brasil no ano de 1958 era de cerca de 430 mil pessoas. Os imigrantes vindos antes da Segunda Guerra Mundial tinham a intenção de ficar temporariamente para juntar dinheiro; porém, a realidade é que a grande maioria teve que fixar residência em permanente. Como o princípio da imigração foi a introdução de mão-de-obra nas lavouras de café, por volta de 1910, teve início o movimento para a formação de Colônias. Quando um certo número de famílias japonesas se instalava em determinada localidade, nascia a Associação de Japoneses com o objetivo de comunicarem-se entre si e então dava-se um nome à Colônia. Dois ou três anos após se formar a Colônia, criava-se a escola de língua japonesa. Deve se ressaltar que a imigração anterior à Guerra era esmagadoramente familiar. Isto se deve às condições dos primeiros contratos de trabalho nas lavouras de café, que exigiam a presença de pelo menos três trabalhadores por família. Desta forma, principalmente nos casos em que o chefe da casa ainda era muito jovem, foram formadas famílias simuladas com a inclusão de pessoas estranhas. E a composição deste grupo de imigrantes era de 57,1% de homens e 42,9% de mulheres.
(§6) A partir de 1929 teve início a imigração na Amazônia. Entre estes, destaca-se a chegada de 2100 pessoas em Acará (atual Tomé-Açu), até 1937. Em Parintins, de 1931 a 1937, ingressaram 248 formandos do colégio técnico Nihon Takushoku Gakkô e outras 150 pessoas. Nesta região, pode se destacar como produtos aperfeiçoados e cultivados pelos japoneses, a juta no período anterior à Guerra e a pimenta do reino no pós-Guerra.
(§7) O último navio a aportar em Santos antes da Guerra chegou no dia 13 de agosto de 1941, trazendo 417 pessoas. Após 33 anos desde a chegada do Kasato-Maru e totalizando 190 mil imigrantes, encerrava-se a imigração ao Brasil no período anterior à Guerra.
(§8) No pós-Guerra, devido à confusão gerada pela falta de informações, com os japoneses dividindo-se em katigumi (grupo que pregava a vitória japonesa na guerra) e makegumi (grupo que aceitava a derrota), criou-se uma visível má influência junto aos brasileiros, que acabou resultando no movimento anti-japonês8. Por outro lado, o Japão, com o seu território reduzido devido à derrota na Guerra, recebia cerca de 6,3 milhões de pessoas de volta do exterior e enfrentava problemas de superpopulação e da falta de alimentos. Desta forma, o governo japonês não tinha outra solução senão reverter esta população excedente para a emigração ao exterior.
(§9) Para o reinício da imigração no pós-Guerra, o papel exercido por nikkeis residentes no Brasil foi de grande importância. Atendo ao movimento no Japão, que promovia a emigração ao Brasil, dois nikkeis se levantam pela causa: Kotaro Tsuji, de Santarém, no Estado do Pará, e
8 A Segunda Guerra Mundial terminou com a rendição do Japão em agosto de 1945. No entanto, devido às dificuldades de comunicação da época, veiculou-se na comunidade nikkei a notícia de que o Japão havia vencido a guerra. Muitos imigrantes acreditaram nessa história e viam nas notícias que afirmavam a vitória dos aliados uma contra-propaganda, com fins de enganar os japoneses. Essa condição de incerteza dividiu os imigrantes em dois grupos: o katigumi (勝ち組: “vencedores”) e o makegumi (負け組: “perdedores”). Os katigumi criaram um movimento denominado Shindo-Renmei e praticaram vários atos terroristas contra os próprios japoneses. Essa situação só terminou em 1947, após vários integrantes do grupo terem sido presos e julgados. Centenas de ataques com muitas vítimas foram registrados no período e 23 pessoas foram assassinadas durante a crise. Esse acontecimento foi um assunto proibido na comunidade nipo-brasileira durante anos.
163
Yasutaro Matsubara, de Marília, no Estado de São Paulo. Ambos haviam requerido ao então Presidente Getúlio Vargas, autorizações em seu próprio nome: Kotaro Tsuji para desenvolver atividades de colonização na Região Amazônica e Yasutaro Matsubara para gerar atividades de imigração e colonização nas Regiões Nordeste e Centro-Oeste. Matsubara já tinha relacionamento de longa data com Vargas, que por seu lado, interessava-se no cultivo de juta, desenvolvido por Tsuji, como uma nova atividade econômica na Amazônia. Após analisar cuidadosamente o requerimento de ambos, o Presidente autorizou Kotaro Tsuji a acolher 5 mil famílias de imigrantes japoneses e Yasutaro Matsubara, outras 4 mil famílias. Como condição para a imigração, tornou-se obrigatório o ingresso nas colônias controladas diretamente pelo Governo Federal ou pelos Estados, além de cooperar e comprometer-se no programa de desenvolvimento do interior promovido pelo governo na época.
(§10) Fora desta rota, a Associação Ultramarina de Emigração do Japão havia começado, em 1951, um trabalho extra-oficial junto ao governo brasileiro, conseguindo com que 51 pessoas desembarcassem em Santos, em janeiro de 1953, sob o pretexto de chamado de parentes. E na realidade, este se tornou o primeiro grupo de imigrantes japoneses no pós-Guerra. O primeiro grupo de imigrantes de Tsuji aportou em Santos em fevereiro de 1953, enquanto o de Matsubara desembarcou no mesmo local em julho deste ano. Depois disso, surgiram outros grupos, como o de imigrantes para a sericultura, os jovens imigrantes da Cotia – a partir de 1955 – e o grupo de jovens para o desenvolvimento industrial. Dentre estes, a imigração dos jovens da Cotia foi resultado do trabalho realizado pela Cooperativa Agrícola de Cotia, junto ao governo brasileiro, para a introdução de imigrantes através do “sistema de cooperativa agrícola”, com seu primeiro grupo, de 109 pessoas, chegando a Santos em setembro de 1955. Desde então, até 1958, considerada a primeira fase da imigração de jovens da Cotia, 1500 pessoas chegaram ao Brasil. A segunda fase foi requerida logo em seguida e, até janeiro de 1967, somando-se as duas etapas, totalizou-se 2508 imigrantes vindos através da imigração de jovens da Cotia.
(§11) Após a Segunda Guerra Mundial, a confusa comunidade nikkei só se uniu em 1952, às vésperas do IV Centenário da Cidade de São Paulo. O então diretor-geral da Tozan, Kiyoshi Yamamoto, visitou o cônsul-geral Shiro Ishiguro, do recém-estabelecido Consulado Geral, expondo a importância da comunidade nikkei participar das festividades do IV Centenário. Após passar por várias etapas, em 1953, foi estabelecida oficialmente a Comissão Colaboradora da Colônia Japonesa pró-IV Centenário da Cidade de São Paulo. No Japão, também foi criada em 1954, dentro do Ministério das Relações Exteriores, a Comissão Deliberativa para o IV Centenário de São Paulo.
(§12) Nesta festividade, foram promovidos a Feira Modelo Internacional, a Exposição de Selos Japoneses e o Festival Japonês, além da construção do Pavilhão Japonês nas dependências do Parque Ibirapuera. A participação nas comemorações do IV Centenário foi a maior atividade unificada que a comunidade nikkei pôde mostrar em todos os tempos, incluindo os períodos anterior e posterior à Guerra. Esta atividade unificada conseguiu controlar a comunidade nikkei, que havia causado grande confusão com o confronto entre os katigumi e o makegumi.
(§13) Em outubro de 1954, Comissão Colaboradora da Colônia Japonesa pró-IV Centenário da Cidade de São Paulo foi dissolvida. Havia opiniões de que era uma pena dissolver a primeira organização a nível nacional, constituída a tanto custo com a união de toda a comunidade nikkei. Além disso, havia ainda o problema concreto, que era o 50º Aniversário da Imigração Japonesa, a ser comemorado dentro de três anos. Em dezembro de 1955, transferindo a estrutura Comissão Colaboradora da Colônia Japonesa pró-IV Centenário da Cidade de São Paulo, foi estabelecida a Sociedade Paulista de Cultura Japonesa, sendo escolhidos Kiyoshi Yamamoto como presidente e Kumaki Nakao e Américo como vice-presidentes. A celebração comemorativa do 50º Aniversário da Imigração Japonesa foi realizada magnificamente no dia 19 de junho de 1958, no Ibirapuera, reunindo 50 mil pessoas.
(§14) A Sociedade Paulista de Cultura Japonesa, estabelecida por ocasião do 50º Aniversário da Imigração, ano a ano, veio exercendo o papel de órgão integrador da comunidade nikkei. E em setembro de 1968, o seu nome foi alterado, de Sociedade Paulista de Cultura Japonesa, para Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa.
(§15) Além desta organização, nasceram outras dentro da comunidade nikkei, como a Aliança Cultural Brasil-Japão (em 1956), a Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo (1959) e a Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil – Kenren (1966). Costumava-se dizer que quando três japoneses se reuniam, formava-se uma associação e, atualmente também, as organizações são muitas, como as associações japonesas das diversas regiões ou
164
os grupos de assistência social, de educação, de cultura, de artes, de lazer, de esportes e de negócios.
(§16) Existem diferenças de acordo com os dados; porém, o número de imigrantes no período anterior à Guerra foi de cerca de 196 mil pessoas e no pós-Guerra, de 54 mil. Atualmente, acredita-se que cerca de 200 mil nikkeis encontram-se no Japão trabalhando como dekasseguis.
(§17) Os dados estatísticos mais confiáveis existentes do pós-Guerra são os números da “Pesquisa da Situação Real dos Nikkeis do Brasil”, realizada como parte das atividades comemorativas do 50º Aniversário da Imigração. Começando em 1958, a pesquisa se estendeu por seis anos até ser concluída com a edição de um livro, mobilizando um total de mais de 6 mil pesquisadores. Observando dentro desta pesquisa a distribuição dos nikkeis por Estados, 75% residem no Estado de São Paulo, enquanto outros 18% no Estado do Paraná. Atualmente, é iminente a redução da população nas áreas rurais dos Estados de São Paulo e Paraná, a concentração populacional na Região da Grande São Paulo e o aumento de nikkeis nas Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste e no Estado de Minas Gerais, além de acreditar-se que o número de dekasseguis no Japão ultrapasse 200 mil pessoas.
(§18) Além do levantamento realizado nesta oportunidade, inúmeras outras Associações de Província têm feito o mesmo em comemoração ao 90º Aniversário da Imigração Japonesa; porém, pode se dizer que chegar aos números reais, num território 23 vezes maior que o do Japão, é praticamente impossível. Apesar disto, acreditamos que conhecer as condições reais daqueles que têm origem na mesma Província seja algo necessário para buscar as raízes da própria imigração japonesa.
O texto “A História da Imigração Japonesa no Brasil” pode ser divido em duas partes
que enfocam dois períodos distintos da imigração: o período anterior à Segunda
Guerra Mundial e o período posterior. No entanto, o personagem, o imigrante
japonês é o protagonista em toda a narrativa. Para facilitar a análise do texto, um
quadro com o resumo na sequência apresentada na narração, com a indicação dos
parágrafos no original, é demonstrado a seguir:
A História da Imigração Japonesa no Brasil A alta do preço do café no mercado internacional, a falta de mão-de-obra nas lavouras de café no estado de São Paulo, a escassez dos tradicionais imigrantes italianos para esse trabalho, a recessão no Japão intensificada pelo término de uma guerra regional, o boicote da América do Norte para imigrantes japoneses e a demanda por trabalhadores braçais na agricultura e no extrativismo de borracha, na Amazônia, concorreram para que, em 18 de junho de 1908, chegasse no porto de Santos o navio Kasato-Maru com 781 imigrantes, marcando o início da imigração japonesa no Brasil. Estima-se que o número de descendentes de imigrantes ultrapasse 1,35 milhão de pessoas. No período anterior à guerra os imigrantes vieram trabalhar no campo temporariamente, para ajuntar dinheiro, mas acabaram se fixando no país. Por volta de 1910 iniciou-se o movimento para a formação de colônias. Com um determinado número de famílias japonesas uma associação de japoneses era formada. Nessa fase o modelo de imigração baseada em famílias era predominante. Em 1929 teve início a imigração japonesa na Amazônia, na região de Tomé-Açu e Parintins. A cultura da juta era um dos destaques. O último navio de imigrantes do período anterior à guerra é de13 e agosto de1941 (§1 a §7).
165
Após a guerra, a colônia de imigrantes se dividiu pela falta de informações em katigumi (grupo que acreditava na vitória japonesa) e makegumi (grupo que aceitava a derrota), gerando indisposição de brasileiros contra os japoneses. Com a derrota do Japão cerca de 6 milhões de japoneses tiveram que voltar, e o país enfrentou novamente problemas de superpopulação, que levou a um novo movimento de emigração japonesa. Dois nikkeis residentes no Brasil ajudaram na imigração dessa segunda fase: Kotaro Tsuji, no Pará e Yasutaro Matsubara, em São Paulo. Ambos trouxeram cerca de 9 mil famílias para projetos de colônias controladas pelo Governo Federal ou Estadual. Outros movimentos de imigração no pós-guerra se deram com a chegada de imigrantes para exercer a sericultura e associados para implantarem sistemas de cooperativas agrícolas, como o desenvolvido pela Cooperativa Agrícola de Cotia, e também com foco no exercício de atividades industriais. Cerca de 2500 imigrantes chegaram nesse modelo imigratório, que começou em 1951 e terminou em 1967 (§8 a §10).
Após a Segunda Guerra Mundial a comunidade nikkei estava dividida e a retomada da unidade começou em 1952, com a recomendação do recém-estabelecido cônsul-geral Shiro Ishiguro – influenciado pelo diretor-geral da Tozan, Kiyoshi Yamamoto – para que a colônia japonesa participasse das festividades do IV Centenário do aniversário da cidade de São Paulo. Após várias etapas, foi criada uma comissão para participação oficial no evento, que promoveram a Feira Modelo Internacional, a Exposição de Selos Japoneses e o Festival Japonês, além da construção do Pavilhão Japonês no Parque Ibirapuera. O sucesso da participação da colônia no evento garantiu a continuidade da comissão, que se transformou na Sociedade Paulista de Cultura Japonesa, estabelecida para comemorar o 50º aniversário da Imigração Japonesa no Brasil, em 1958, no Ibirapuera, reunindo 50 mil pessoas no evento. Essa instituição deu origem à Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa, um dos principais órgãos integradores da comunidade nikkei (§11 a §14).
Outras organizações surgiram na comunidade nikkei, como a Aliança Cultural Brasil-Japão, a Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo e a Federação das Associações de Províncias do Japão no Brasil. Atualmente existem muitas associações japonesas das diversas regiões do país nas áreas de assistência social, de educação, de cultura, de artes, de lazer etc. O número de imigrantes que veio ao Brasil antes da guerra é de cerca de 196 mil pessoas e do pós-guerra, cerca de 54 mil. Acredita-se que 200 mil nikkeis estão no Japão trabalhando como dekasseguis. De acordo com a “Pesquisa da Situação Real dos Nikkeis do Brasil”, iniciada em 1958 e terminada em 1964, que contou com 6 mil pesquisadores, 75% dos nikkeis residem no estado de São Paulo e 18% no estado do Paraná. Há concentração dessa população na Grande São Paulo e aumento nas regiões Norte, Nordeste, Centro-oeste e no estado de Minas Gerais. Em virtude da comemoração do 90º Aniversário da Imigração Japonesa, outros levantamentos têm sido feitos por outras associações de província. Apesar de um levantamento de números exato ser praticamente impossível de ser realizado, acreditamos que conhecer as reais condições daqueles que têm origem na mesma província é necessário para buscar as raízes da imigração japonesa (§15 a §18).
Quadro 3.2 – Quadro com resumo esquemático do texto “A História da Imigração Japonesa no Brasil”
Enfrentando e vencendo crises com trabalho e união
O texto “História da Imigração Japonesa no Brasil” trata da crise e da superação que
o imigrante japonês enfrenta em seu percurso histórico-narrativo. Essa temática
pode ser analisada em dois esquemas narrativos – uma que ocorre antes da
Segunda Guerra Mundial e outra que se sucede no período posterior. O percurso
166
narrativo do período pré-guerra pode ser assim formulado: a crise econômica e
social pelo qual o Japão passava leva o governo japonês (que não é citado
claramente como manipulador, mas é subentendido no parágrafo 4, que cita a
“Companhia Imperial de Emigração” e fornece subsídios para compreender que a
emigração é um projeto governamental) a estimular a emigração de japoneses. O
actante sujeito “japoneses”, em conjunção indesejada com o objeto de valor “crise”,
precisa se tornar um sujeito virtual ao se transformar em “imigrante”, assumindo o
objeto de valor “emigração” para fugir da crise. Com essa ação, vem para o Brasil e,
por meio do trabalho, torna-se um sujeito realizado, estabelecendo-se no país e
deixando uma descendência que carrega seus traços identitários, sancionando sua
trajetória. Da mesma forma, a narrativa do texto no período posterior à Segunda
Guerra Mundial apresenta o actante sujeito “imigrante japonês” enfrentando uma
crise social e política no Brasil, com a divisão da comunidade em dois grupos
antagônicos – os “katigumi” e os “makegumi”, que surgem com visões opostas do
resultado final da guerra. Essa crise interna provoca – além do sentimento de
inferioridade provocado pela derrota do Japão na guerra – um crescente desconforto
entre a comunidade brasileira, que não vê com bons olhos a postura dos katigumi e
suas ações terroristas. Manipulados pelo diretor-geral da Tozan, Kiyoshi Yamamoto,
e respaldados pelo governo japonês por meio do cônsul-geral do Japão, Shiro
Ishiguro, para participar das comemorações do IV Centenário do aniversário da
cidade de São Paulo, em 1954, a comunidade japonesa une-se novamente e supera
a desunião anterior realizando um bom trabalho.
A comissão organizadora – e agregadora – recebe nova incumbência: fazer os
preparativos para o cinquentenário da imigração japonesa no Brasil, em 1958.
Novamente, essa missão é cumprida e, a partir daí, novas organizações
167
representativas da comunidade nikkei surgem, ampliando a atuação das
associações japonesas para áreas como cultura, artes, esportes, saúde e negócios.
Trabalhando em equipe, rumo à vitória!
O texto “História da Imigração Japonesa no Brasil” apresenta como protagonista o
imigrante japonês. Apesar da referência constante ao Japão, o lugar e o tempo
predominantes da narrativa apontam o Brasil e o período de imigração, e o texto
pode ser separado em dois momentos: o “pré-guerra” e o “pós-guerra”. De fato, a
Segunda Guerra Mundial é um divisor de águas para a compreensão da construção
identitária dos japoneses e seus descendentes. Ter perdido a guerra – o Japão
jamais havia capitulado diante de forças estrangeiras em toda sua história –, viver o
trauma do extermínio causado pelas duas bombas atômicas e ver sua sociedade,
economia, política e cultura transformadas pela intervenção de uma nação
estrangeira, produziram dois modelos de formulação identitária japonesa: a daqueles
que viveram no Japão no período da Segunda Guerra e a dos imigrantes que
viveram as adversidades da guerra e suas consequências longe da terra natal. Daí a
relevância da divisão do movimento imigratório a partir desse marco histórico.
O Yamagata Kenjinkai do Brasil narra com recurso de “desembreagem enunciva”
realizada na terceira pessoa, conferindo efeito de objetividade e credibilidade ao
texto, caracterizando uma desembreagem actancial enunciva. No último período do
parágrafo 18 o enunciado é feito na primeira pessoa do plural, estabelecendo uma
proximidade entre o enunciador e o enunciatário.
Apesar disto, acreditamos que conhecer as condições reais daqueles que têm origem na mesma Província seja algo necessário para buscar as raízes da própria imigração japonesa.
168
A desembreagem temporal faz referência ao tempo passado, ao narrar
cronologicamente a história da imigração, apresentando datas e locais e propondo
um afastamento que também confere mais veracidade. A desembreagem espacial
distancia o evento narrado da enunciação, apresentando o contexto no cenário
mundial, citando países como Itália, Estados Unidos e Peru. O texto possui um
discurso recheado de datas, citações e referências a nomes de personalidades e
eventos históricos, como “Getúlio Vargas”, “cônsul-geral Shiro Ishiguro”, “Guerra
Russo-Japonesa” e “IV Centenário da Cidade de São Paulo”, bem como de
instituições históricas e organizações conhecidas, como “Companhia Imperial de
Emigração”, “Associação Ultramarina de Emigração do Japão”, “Agência Oficial
do Governo Estadual de São Paulo”, “Cooperativa Agrícola de Cotia”, “Aliança
Cultural Brasil-Japão”, “Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo” e “Federação
das Associações de Províncias do Japão no Brasil” – todas essas citações e
referências concorrem para fortalecer o efeito de realidade e a credibilidade do
discurso. A apresentação de dados numéricos é uma estratégia que confere
credibilidade e importância ao discurso: 17 mil pessoas emigraram ao Peru (§2); 791
imigrantes chegaram a Santos (§4); presença de 1,35 milhão de nikkeis no Brasil
nos dias de hoje (§5); 190 mil imigrantes nos primeiros 33 anos (§5); população
nikkei em todo o Brasil em 1958 era de 430 mil pessoas (§5); a proporção de gênero
dos imigrantes era de 57,1% de homens e 42,9% de mulheres (§5); o registro de
chegada de 248 formandos do colégio técnico (§6); último navio antes da guerra
trouxe 417 pessoas (§7); 6,3 milhões de pessoas voltaram ao Japão após a guerra
(§8). Há muitos outros exemplos ao longo do texto, o que aponta a preocupação em
se fazer um registro preciso do número de pessoas e de datas. Além disso, alguns
nomes de benfeitores foram citados no texto, tais como: Kotaro Tsuji e Yasutaro
Matsubara, articuladores para a introdução de imigrantes no Brasil no período pós-
169
guerra; Kiyoshi Yamamoto, diretor-geral da Tozan; Shiro Ishiguro, cônsul-geral do
Japão. Tal inclusão, além de registar o reconhecimento da comunidade nikkei por
sua colaboração para com a colônia, expressa um traço cultural nipônico de
reverência aos antecessores e superiores.
O parágrafo final do texto conclui o discurso destacando o papel dos kenjinkai no
processo de levantamento de informações sobre a imigração japonesa e aponta a
importância dessas associações de província no levantamento das raízes da
imigração japonesa no Brasil, conforme é reproduzido no texto a seguir:
Além do levantamento realizado nesta oportunidade, inúmeras outras Associações de Província têm feito o mesmo em comemoração ao 90º Aniversário da Imigração Japonesa; porém, pode se dizer que chegar aos números reais, num território 23 vezes maior que o do Japão, é praticamente impossível. Apesar disto, acreditamos que conhecer as condições reais daqueles que têm origem na mesma Província seja algo necessário para buscar as raízes da própria imigração japonesa.
Essa conclusão do texto é extremamente relevante por reconhecer a importância do
papel das associações de província no processo imigratório japonês no Brasil e na
constituição da identidade da comunidade nikkei no país.
Um grande tema que está presente nas duas partes da narrativa dessa parte do
texto é a do “trabalho em equipe”, que conduziria sempre à vitória. O japonês é
apresentado como um povo que trabalha em grupo, que empreende e chega a um
resultado final. Esse trabalho do imigrante japonês é desenvolvido com associação
frequente a atividades econômicas: lavoura de café em São Paulo; arrozais no Rio
de Janeiro; extração de borracha na Amazônia; plantio de juta, no Pará;
desenvolvimento de cooperativismo e sericultura, em Cotia. Há uma perspectiva de
valorização do trabalho, do empreendimento econômico, que reforça a ideia de que
o “povo japonês é um povo que trabalha”. No entanto, esse trabalho em equipe não
170
produz apenas frutos na esfera econômica: ele atinge a dimensão da realização da
reorganização social, como a criação de instituições representativas e de
empreendimentos humanos, conforme explicitado no texto, com a menção de
diversas instituições criadas no pós-guerra pelos nikkei.
Há uma crise que se instala no Japão, manifestada na forma de problemas sociais,
econômicos e políticos enfrentados pelos emigrantes japoneses por meio da renúncia
(deixar o país), do trabalho árduo, perseverante e metódico. Há uma crise que foi
vencida – com trabalho em equipe, com a chegada e estabelecimento dos japoneses
como imigrantes no Brasil. Ocorre uma mudança de status nesse percurso: o japonês
se torna “imigrante japonês” e “colono”. Os números de imigrantes e de seus
descendentes mencionados no texto são um reforço para atestar uma faceta da
“realização”: a imigração “vingou”, produziu “frutos” no país. A descrição numérica
“chegada de 190 mil imigrantes até 1941”; “população nikkei de 430 mil pessoas em
1958” demonstra a preocupação em reforçar esse aspecto. O percurso do
“trabalhador” japonês repete-se, agora, na segunda parte da narrativa – no período
pós-guerra –, com o enfrentamento da crise causada pelo “racha” da comunidade em
duas facções: os “katigumi” e os “makegumi”. Tal divisão causava, além dos
problemas de violência dentro da própria comunidade, antipatia da sociedade
brasileira, algo que poderia prejudicar a aceitação dos nikkei no país. A desunião e
esse futuro incerto da comunidade são superados com a realização de dois grandes
projetos de visibilidade para a comunidade brasileira e que demandou grandes
esforços por parte dos líderes nikkei: a participação nas festividades do IV Centenário
do aniversário da cidade de São Paulo e a comemoração dos 50 anos de imigração
japonesa no Brasil. O imigrante japonês – o nikkei –, mais uma vez, por meio de seu
espírito “de trabalho em equipe” venceu a crise que dividia e enfraquecia a
171
comunidade, inserindo-a definitivamente, no contexto da sociedade brasileira. É
relevante ressaltar que o fruto do “trabalho em equipe” dos imigrantes é consolidado
não somente com a proliferação dos kenjinkai, mas com a criação de diversas outras
associações, das mais variadas finalidades. A narrativa termina apontando a
presença não apenas de indivíduos japoneses e seus descendentes no Brasil, mas
de associações de diversos tipos – os kenjinkai em destaque –, revelando, no
discurso, a importância dada à coletividade, materializada nas organizações que
foram geradas.
Em termos figurativos, os dois grandes desafios enfrentados apresentados e
superados pela comunidade nikkei no período pós-guerra são emblemáticos. A
participação nas festividades do IV Centenário do aniversário da cidade de São Paulo
e a comemoração dos 50 anos de imigração japonesa no Brasil. Elas simbolizam dois
aspectos marcadamente identitários: o IV Centenário do aniversário da cidade de São
Paulo é uma prova que atesta o envolvimento da comunidade nikkei na identificação
com o país, no assumir a sua brasilidade: por outro lado, a comemoração dos 50 anos
da Imigração Japonesa evoca a japonesidade dessa comunidade. Esses dois
elementos concorrem para a formulação da identidade hifenizada nipo-brasileira.
Crise, união, trabalho e superação
A oposição semântica do texto “História da Imigração Japonesa no Brasil” pode ser
descrita no binômio “Crise vs. Superação”. Apesar de o termo “superação” não ser
utilizado nenhuma vez no texto, seu conceito está presente por meio da referência a
diferentes termos que reforçam essa ideia e que são observáveis ao longo de toda a
narrativa: o trabalho e as realizações do imigrante japonês vencendo as
adversidades e a crise. O discurso do texto gira em torno das realizações, do
172
trabalho e da superação dos imigrantes frente às forças opositoras, materializadas
nos problemas sociais, econômicos e políticos que eles enfrentaram, desde a saída
do Japão – como emigrantes –, sua chegada e fixação no Brasil – como colonos –,
até o seu estabelecimento definitivo no país, como comunidade nikkei brasileira.
A partir dessa oposição semântica fundamental “Crise” x “Superação”, obtém-se o
quadrado semiótico com as seguintes possibilidades de relações semânticas de
contrariedade, contradição e complementaridade (diagrama 3.5):
Crise x Superação e Não-Crise x Não-Superação:
eixo de contrariedade e de subcontrariedade
Crise x Não-Crise e Superação x Não-Superação: eixo de contradição
Crise x Não-Superação e Superação x Não-Crise: eixo de complementaridade
Diagrama 3.5 – Quadrado semiótico com as relações “Crise” x “Superação”
Na primeira parte da narrativa, que trata do período pré-guerra, a “crise” se
manifesta na economia e na superpopulação do Japão, o que incentiva o governo a
desenvolver políticas de emigração de cidadãos japoneses. Cita-se a “crise do café”
no Brasil, que abortara a primeira tentativa de imigração japonesa (§1), a “recessão
pós-guerra russo-japonesa” (§3), o “Movimento de boicote à imigração japonesa nos
EUA” (§3). A busca pela “superação” se dá com a emigração – e chegada da
173
primeira leva de imigrantes japoneses ao Brasil (§4) –, na idealização e no
desenvolvimento de projetos agrícolas e de colonização agrária no interior de São
Paulo e em outras regiões do país, que, acompanhada pelo crescimento do número
de imigrantes, expande a colônia japonesa no Brasil e produz um grande número de
descendentes (§5 e §6). A segunda parte da narrativa, que se situa no período pós-
guerra, uma nova “crise” é estabelecida quando a comunidade nikkei no Brasil
enfrenta uma divisão interna devido ao posicionamento político quanto à aceitação
da derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, que cria os grupos katigumi e
makegumi (§8). Tal movimento acaba gerando um “movimento anti-japonês” na
sociedade brasileira, que já havia sido iniciado no período da guerra (§8). Além
disso, o Japão “enfrentava problemas de superpopulação e de falta de alimentos”
(§8), que impulsiona um novo movimento de emigração. A comunidade nikkei no
Brasil, devido à crise estabelecida pela divisão da colônia japonesa, é retratada
como sendo “confusa” e “dividida” em 1952 (§11). A “superação” dessa desunião e
desarmonia é efetivada com a busca de um objetivo comum: “a participação efetiva
da colônia japonesa nas comemorações do IV Centenário da cidade de São Paulo”
(§12) e a “criação da comissão para a celebração do 50º Aniversário da Imigração
Japonesa em 1958” (§13). Esses dois grandes desafios unem a comunidade, que
por meio de esforços conjuntos realizam todo o processo de planejamento,
preparação e execução das festividades, participando de eventos significativos na
cultura e história do Brasil, reestabelecendo sua posição social diante da sociedade
brasileira e devolvendo a união e a harmonia à colônia japonesa – dois valores
prezadíssimos na cultura nipônia. Todo esse esforço culmina com o
“estabelecimento de diversas entidades nipo-brasileiras representativas” (§14 e 15),
ou seja, o reconhecimento dos esforços da comunidade nipo-brasileira se dá com
sua institucionalização.
174
3.2.3. TEXTO “A CAMINHADA DO YAMAGATA KENJINKAI DO BRASIL”
Acessado através do link “Histórico do YKB”, localizado no menu vertical à esquerda
da home page (http://www.yamagata.org.br/histYKB.htm) o texto “A Caminhada do
Yamagata Kenjinkai do Brasil” é reproduzido a seguir:
A Caminhada do Yamagata Kenjinkai do Brasil
(§1) Para se falar da história dos provincianos de Yamagata, não podemos esquecer do Sr. Teijiro Suzuki, que chegou um ano e meio antes dos imigrantes do Kasato-Maru. Originário da Vila de Kameita, desembarcou no Rio de Janeiro em 27 de Março de 1907. No navio Kasato-Maru, considerado como o marco inicial da imigração japonesa no País, estava o Sr. Jihei Takakura. Portanto, a nossa história no País é antiga.
(§2) Os Kenjinkais (Associações de Províncias) são constituídos por pessoas oriundas de cada Província japonesa. Estas associações, não importa o nome que tenham, foram constituídas devido à necessidade de se manter contato com a Província natal e também de enviar estagiários e estudantes.
(§3) Bem, o início de nossa associação remonta 50 anos, em outubro de 1953, quando foi fundado o Yamagata Doukyokai, com sede à Rua São Joaquim, no bairro da Liberdade, em São Paulo, onde funcionava o Hotel Furuyama, gerenciado por um provinciano de Yamagata. Estiveram presentes na fundação, 43 pessoas, cujos nomes seguem abaixo:
(§4) Tsuneji Imano, Tokuzo Imano, Isuke Saito, Shoshiro Kikuchi, Reizo Katagiri, Seishiro Takahashi, Teijiro Suzuki, Fumio Takano, Ushitaro Yamada, Daishiro Inoue, Shigezo Kaneko, Kiichi Furuyama, Shunji Maruyama, Saburo Sagae, Shigeo Toda, Suekichi Takayama, Seiro Takayama, Noboru Kon, Tetsuya Kikuchi, Sadao Itoh, Hoen Ishikawa, Shigeo Hayashi, Yamon Abe, Hajime Yamada, Zenshichi Honma, Kinsaku Yoshizumi, Sadaji Ono, Sanpei Togashi, Eisuke Kunimatsu, Yoshizo Sato, Yushiro Sato, Kiyoyasu Kuroki, Mikio Yonezawa, Chojiro Funayama, Yasuo Sugawara, Unsaku Kodama, Goro Kunii, Jyujiro Kameyama, Kojiro Satake, Chuzo Ishikawa, Heiji Yamaguchi, Takeshi Kunii, Kinjiro Watanabe.
(§5) Todos concordaram que era necessário estabelecer meios de comunicação entre a nova terra e a terra natal. O nome ficou estabelecido como Yamagata Doukyokai (Associação dos Provincianos de Yamagata), pois era considerado membro quem tivesse nascido em Yamagata.
(§6) Como primeiro Presidente, foi escolhido o Sr. Shigueo Hayashi e como Vice, o Sr. Hoen Ishikawa. Na época, havia 91 associados. As atividades principais eram a publicação do boletim da Associação, a publicação da lista de endereços, atividades de confraternização amparo, auxílio empresarial, aconselhamentos matrimoniais, suporte e auxílio ao emprego, educação dos filhos, recepção dos conterrâneos de Yamagata, entre outras.
(§7) Inicialmente, as reuniões eram realizadas no Hotel Furuyama, cujo proprietário era o Sr. Kiichi Furuyama, mas, devido ao seu falecimento, as reuniões passaram a serem realizadas na residência do Sr. Yamon Abe.
(§8) No ano de 1954, pelo levantamento feito, o número de famílias oriundas da Província era de 364 e foi editado o primeiro Boletim da Associação. No ano de 1958, em virtude da comemoração dos 50 anos da imigração japonesa, foi pedido ao Sr. Noboru Kon, da cidade de Takahata, um levantamento dos provincianos, para que pudéssemos saber da situação após a grande imigração do pós-Guerra (2ª Guerra Mundial), que resultou em 800 famílias. Foi então publicada a revista "Zaihaku Yamagata Imin Shi" (Revista de imigração de Yamagata). Em 59, como atividade comemorativa dos 30 anos da Imigração na Amazônia, tivemos a vinda do Governador da Província, Sr. Tokichi Abiko, que aproveitou a vinda para passar em São Paulo e visitar a Colônia de Guatapara. Em 60, por desejo da própria Província, foi inaugurada a Associação Além-mar de Yamagata no Brasil. Em 62, nova visita do Governador ao País, celebrada com uma festa de recepção. Em 68, é estabelecido o projeto de compilação "Kenjin Hatten". Em 69, começou a se discutir o registro legal da instituição. Também nesse ano, inicia-
175
se a impressão do "Zaihaku Yamagata Kenjin Ijyuu Rokujyuuninen" (62 Anos de Migração de Yamagata), resultado de levantamento de dados históricos a partir do ano de 1966.
(§9) As pessoas de Yamagata se encontram em várias localidades. No Estado de São Paulo encontram-se: Colônia de Guatapara, periferia de Ribeirão Preto; nas redondezas de Campo Bonito; em Ourinhos, divisa com o Estado de Paraná; em Mogi das Cruzes, Grande São Paulo. Em Paraná: Londrina, Urai, Assaí. Em Pará, Tomé-Açu. Mas atualmente a grande maioria está concentrada na cidade de São Paulo. Nas outras localidades estabelece-se filiais.
(§10) Em maio de 1975, preparando-se para completar 25 anos de atividades, tivemos a aquisição da sede social localizada na Av. Liberdade, 486. O nome também foi alterado para Zaihaku Yamagata Kenjinkai. O 25º Aniversário da Associação foi realizado com esplendor no Rega Italica, com a presença do então Governador de Yamagata. Sr. Seiichiro Itagaki e esposa, mais a comitiva.
(§11) O Sr. Noboru Kon, que atuava no meio jornalístico, trabalhou devotadamente para realizar um levantamento de todos os provincianos espalhados pelo País inteiro, trabalho este que resultou justamente na publicação de "Zaihaku Yamagata Kenjin Ijyuu Rokujyuuninen" (62 Anos de Migração de Yamagata). Desta feita, este trabalho serviu como base para a compilação do "Zaihaku Yamagata Kenjin no Shiori" (tíltulo provisório). Este guia abrange evidentemente a 1ª geração, a 2ª, a 3ª e também a 4ª, chegando até mesmo à 5ª geração, com o objetivo de deixar registrado os passos dos provincianos para futuras gerações. Além disso, com a passagem de geração para geração, os levantamentos têm sido acompanhados por níveis crescentes de dificuldade, aproximando-se do limite da impossibilidade e acreditamos que, então, não será mais possível investigar os caminhos percorridos.
(§12) Do nosso meio saiu um grande contribuidor do desenvolvimento agrícola no Brasil. A agricultura no País começou a se modernizar a partir do 2° semestre de 1960 e dentre os imigrantes houve aqueles que se destacaram fazendo a descoberta de novas espécies ou aprimorando as já existentes como o Sr. Takashi Chonan, que trabalhou na aprimoração e na técnica de cultivo do "Alho Osanami" e o Sr. Kotaro Okuyama, natural de Yamagata, residente no norte de Paraná, que registrou uma nova espécie "Budou Rubi Okuyama" (Uva Rubi Okuyama). Ambos premiados com o famoso prêmio Kiyoshi Yamamoto de agricultura, cujos trabalhos são considerados de excelência.
(§13) Ainda, grande parte da tradição e cultura popular de nossa terra foi transmitida no Brasil, sendo o Hanagasa Ondo o mais famoso entre a comunidade nikkei. Em 18 de junho de 1978, durante as festividades de 70 anos de Imigração Japonesa, 1200 senhoras e moças, representando a comunidade nikkei, apresentaram a dança do Hanagasa, sendo aplaudidos pelo então Presidente Geisel, pelo Casal Imperial Japonês e por mais de 90 mil espectadores presentes no estádio do Pacaembu, florindo ainda mais esta grandiosa festa.
(§14) Dessa maneira, a Associação cresceu e recepcionou um grande número de pessoas da Província natal vindas ao Brasil. A Associação sempre recepcionou calorosamente, esforçando-se para cumprir esta missão. Desejamos que assim continue no futuro e também torne-se mais vigoroso o intercâmbio com Yamagata.
(§15) A partir de 1976, num ato cordial da Província, foi estabelecido um programa de estágio técnico para estudantes. No primeiro ano, foram enviados 3 estudantes e desde então mais de 80 pessoas já cumpriram seus estágios e regressaram ao País, atuando em suas áreas. E há também os programas de entrega de certificados de Honra ao Mérito e de Regresso ao Japão para os mais idosos. Para aqueles que ainda não haviam regressado ao país de origem nenhuma vez, foi motivo de grande emoção. Em 1992, uma caravana formada por 50 pessoas foi ao Japão, convidada pelo grupo de Yamagata, onde foi grandiosamente recepcionada e teve a oportunidade de assistir a um evento magnífico. Desviando um pouco do assunto, houve também um Programa Internacional de Estágio de Campo de Agricultura, num acordo firmado entre nossa Associação e a Yamagata Ken Nôgyo Kyôdo Chuo-Kai (Cooperativa Central Agrícola de Yamagata) entre o período de 1989 e 1994, durante o qual cerca de 26 estagiários japoneses vieram ao Brasil, com alguns até se enamorando e casando com as jovens nikkeis durante o estágio. Para fortalecer os laços com os estagiários, casais e famílias que participam deste programa, foi instituído em maio de 1996 a Associação Araucária; objetivo este alcançado.
(§16) Assim as relações entre nós e a Província têm gradualmente se fortalecido e acredito que o futuro da Associação é continuar e fortalecer mais ainda os vínculos entre os filhos, netos, bisnetos, tataranetos com Yamagata, a terra natal de seus pais, avós, bisavós e tataravós.
176
Para facilitar a análise do texto “A Caminhada do Yamagata Kenjinkai do Brasil”, um
quadro com o resumo na sequência apresentada na narração, com a indicação dos
parágrafos no original, é demonstrado a seguir:
A Caminhada do Yamagata Kenjinkai do Brasil A presença de provincianos de Yamagata na história da imigração é antiga: o sr. Teijiro Suzuki, chegou no Rio de Janeiro em março de 1907 e o sr. Jihei Takakura veio no Kasato-Maru e ambos eram oriundos de Yamagata. Os kenjinkai foram constituídos para manter contato com a província natal e para enviar estagiários e estudantes para lá (§1 e §2).
Em outubro de 1953 foi fundado o Yamagata Doukyokai (Associação dos Provincianos de Yamagata) no bairro da Liberdade, em São Paulo, no Hotel Furuyama, tendo como primeiro presidente o sr. Shigueo Hayashi e como vice, o sr. Hoen Ishikawa. Havia 91 associados. As atividades desenvolvidas eram a publicação do boletim da associação e da lista de endereços; auxílio empresarial; aconselhamento matrimonial; auxílio ao emprego; educação dos filhos e recepção dos conterrâneos, entre outras. As primeiras reuniões eram realizadas no hotel e, após o falecimento do dono, foram transferidas para uma residência (§3 a §7).
Em 1954 havia 364 famílias originárias de Yamagata. Em 1958 já havia 800 famílias. Uma revista da associação foi publicada nesse ano. A associação já recebeu a visita do governador da província diversas vezes. Os provincianos espalham-se pelo interior do Estado de São Paulo e pela Grande São Paulo. Há grupos no Paraná e no Pará. A maioria está concentrada na cidade de São Paulo e há filiais em outros estados (§8 e §9).
Em maio de 1975 foi adquirida a sede, na Av. Liberdade, 486 e o nome da associação foi mudado para “Zaihaku Yamagata Kenjinkai”. A comemoração dos 25 anos da associação contou com a presença do governador de Yamagata e comitiva. Foi compilado um livro sobre os “62 anos de Migração de Yamagata”, sempre com a preocupação de se registrar a presença dos provincianos de Yamagata no Brasil. Esse livro serviu como guia para levantamento de descendentes de japoneses até a 5ª geração. No entanto, prosseguir com esse tipo de registro tem se tornado uma atividade cada vez mais difícil (§10 e §11).
Dois agricultores, provincianos de Yamagata, o sr. Takashi Chonan e o sr. Kiyoshi Yamamoto, contribuíram para o desenvolvimento agrícola no Brasil, aprimorando técnicas de cultivo de alho e de uvas e receberam reconhecimento no Japão (§12).
Em 1978, na comemoração dos 70 anos da imigração japonesa no Brasil, a fim de representar a comunidade nikkei no Brasil, uma dança típica de Yamagata, o Hanagasa Ondo, foi executada por 1200 mulheres para uma plateia de mais de 90 mil pessoas, sendo aplaudida pelo então presidente da república, Geisel, e pelo casal Imperial Japonês, que visitava o Brasil (§13).
A Associação cresceu e recepcionou calorosamente um grande número de pessoas da Província que vieram ao Brasil e sempre tem se esforçando para continuar a cumprir essa missão. Em 1976, iniciou um programa de estágio técnico para estudantes irem para Yamagata e desde então mais de 80 pessoas já foram ao Japão e retornaram ao Brasil. Diversas outras atividades de intercâmbio têm sido realizadas. As relações entre a Associação e a Província têm se fortalecido gradualmente e o futuro é continuar e fortalecer mais ainda os vínculos entre os filhos, netos, bisnetos, tataranetos com Yamagata, a terra natal de seus pais, avós, bisavós e tataravós (§14 e §16).
Quadro 3.3 – Quadro com resumo esquemático do texto “A Caminhada do Yamagata Kenjinkai no Brasil”
177
Os provincianos de Yamagata, o YKB e a província-mãe
O texto “A Caminhada do Yamagata Kenjinkai no Brasil” apresenta a seguinte
estrutura narrativa: no estado inicial, o actante “provincianos de Yamagata”, está em
disjunção do objeto de valor “contato com a província”, pois, apesar de terem uma
presença antiga no Brasil, ainda não haviam constituído uma associação; em 1953,
quarenta e três provincianos se reúnem e fundam a associação, iniciando um ciclo de
realizações e sucesso; com o passar dos anos, cresce o número de provincianos e
seus descendentes no Brasil; as autoridades japonesas reconhecem a contribuição
de dois agricultores provincianos de Yamagata no aprimorando de técnicas de
cultivo de alho e no desenvolvimento de uma nova variedade de espécie de uva e a
cultura da província consagra-se diante da comunidade nikkei do Brasil e das
autoridades brasileiras e do Japão, nas comemorações dos 70 anos da imigração
japonesa no Brasil, quando a dança típica da província – o Hanagasu Ondo – é
executada por 1.200 mulheres.
O foco principal da narrativa é o processo de criação do Yamagata Kenjinkai do
Brasil, mas ela é precedida por duas colocações relevantes que reforçam alguns
aspectos relevantes. A primeira é a menção a duas pessoas que assinalam a
presença de provincianos na pré-história e na história da imigração japonesa no
Brasil. Registra-se que Teijiro Suzuki chegou um ano e meio antes dos imigrantes do
Kasato-Maru, em 27 de março de 1907, e que Jihei Takakura chegou ao Brasil na
primeira leva de imigrantes que desembarcou aqui do navio Kasato-Maru, em 1908.
A menção desses antecedentes ressalta a importância da presença dos
provincianos de Yamagata no processo de imigração japonesa no Brasil,
estabelecendo-a como precursora e agente ativa no processo de imigração, ainda
que o Yamagata Kenjinkai – a associação – tenha sido fundada apenas na segunda
178
fase de imigração japonesa no Brasil9. A segunda colocação explica a natureza dos
kenjinkai:
Os Kenjinkais (Associações de Províncias) são constituídos por pessoas oriundas de cada Província japonesa. Estas associações, não importa o nome que tenham, foram constituídas devido à necessidade de se manter contato com a Província natal e também de enviar estagiários e estudantes.
Segundo o texto, a constituição dos kenjinkai surgiu da “necessidade de se manter
contato com a Província natal”. Quando a associação foi constituída, esse discurso
sobre “necessidade de estabelecer comunicação” se repetiu:
Todos concordaram que era necessário estabelecer meios de comunicação entre a nova terra e a terra natal.
A criação de um órgão representativo dos associados para manter um contato
“oficial” junto ao governo da província permitiu, entre outras realizações, enviar
estagiários e estudantes para Yamagata, mapear as famílias oriundas da província,
organizar vários eventos sociais na associação e recepcionar provincianos e
autoridades da província que vieram visitar o Brasil. O reconhecimento das
autoridades japonesas pelas contribuições de seus provincianos na área da
agricultura e a escolha da dança típica de Yamagata – o Hanagasu Ondo – para
representar a comunidade nikkei do Brasil diante das autoridades japonesas e
brasileiras nas festividades dos 70 anos da imigração japonesa no Brasil, em 1978,
foram frutos de reconhecimento da atuação do YKB. O constante intercâmbio que se
estabeleceu com a província mãe também é mencionado como um fator de sucesso
do kenjinkai.
9 O YKB, fundado em 1953, como a maioria dos kenjinkai no Brasil, foi organizado após a 2ª Guerra Mundial.
179
Provincianos de Yamagata legitimando a comunidade nikkei
O Yamagata Kenjinkai do Brasil estabelece seu discurso a partir do Brasil, e não do
Japão. Mediante recurso de “desembreagem actancial enunciativa”, que procura
gerar o efeito de subjetividade e proximidade, a narrativa é feita pela adoção da
primeira pessoa do plural, flexionando pronomes pessoais e verbos logo no primeiro
período da narrativa, e se estende por todo o texto:
Para se falar da história dos provincianos de Yamagata, não podemos esquecer ... (§1)
Bem, o início de nossa associação remonta 50 anos (§3)
... tivemos a aquisição da sede social localizada na Av. Liberdade, 486 (§10)
Do nosso meio saiu um grande contribuidor do desenvolvimento agrícola no Brasil (§12)
... grande parte da tradição e cultura popular de nossa terra foi transmitida no Brasil (§14)
Desejamos que assim continue no futuro ... (§14)
Assim, as relações entre nós e a Província têm gradualmente se fortalecido e acredito que o futuro da Associação (§16)
A desembreagem espacial localiza a narrativa no Brasil, citando o estado do Rio de
Janeiro, a cidade de São Paulo, em endereços específicos (“Rua São Joaquim, no
bairro da Liberdade” e “Av. Liberdade, 486”), e diversas cidades brasileiras (Ribeirão
Preto, Ourinhos, Mogi das Cruzes, Londrina, Uraí, Assaí, Tomé-Açu). A menção
desses locais produz efeito de realidade no discurso. A desembreagem enunciva
temporal cita períodos como “27 de março de 1907”, “outubro de 53”, “ano de 1954”,
“10 de junho de 1978”, “em 1996” etc. Esse recurso também produz um
distanciamento do enunciador, gerando efeito de realidade. O emprego de nomes
(“presidente Geisel”) e de eventos e locais conhecidos (“Pacaembu”, “70 anos de
Imigração Japonesa”) também conferem o efeito de realidade ao texto.
Com relação à tematização e à figurativização do discurso, a “comunhão com a terra
natal” é um tema que se repete e tem um valor importante para a cultura dos
180
imigrantes japoneses: a ligação com a província natal é um referencial identitário.
Nesse discurso, não está registrada uma “volta à terra natal”, mas a necessidade de
se “manter comunicação” com ela. Essa comunicação se refere, no nível político-
organizacional, àquela que é estabelecida entre a associação de província e o
governo da província e se concretiza mediante envio de estagiários e estudantes e
recepção de conterrâneos. Mas significa, também, satisfazer a necessidade
psicológica de criar e manter uma ligação efetiva com o Japão e, assim, garantir
uma união espiritual com a terra dos ancestrais. É uma “volta à terra natal”, sem
precisar voltar fisicamente de fato, algo que só é possível com a manutenção de
“comunicação” com a província. Assim, a cultura – que representa a terra natal –
poderia ser desenvolvida aqui, por meio das atividades do kenjinkai. Na época da
criação da associação, vivia-se a “era da comunicação” – o rádio, a imprensa, a TV e
o cinema já estavam estabelecidos, telegramas e telefonemas poderiam unir dois
mundos distantes em segundos –, e essa “comunicação” estabelecida com a criação
do kenjinkai é influenciada por esse contexto. Talvez o trauma recente da divisão da
colônia em “katigumi” e “makegumi” – apresentado no texto “Histórico da Imigração
Japonesa no Brasil” – (que, embora tenha sido encerrada em 1947, assombrou e
ainda assombrava a comunidade nikkei por décadas) tenha sido um dos grandes
motivadores para a criação dessa instância de “comunicação oficial” entre a terra
natal e os provincianos. Essa ligação se concretiza no relacionamento político
associação-província, realizada no âmbito dos intercâmbios culturais e, na dimensão
cultural-espiritual, com a ligação afetiva que se estabelece com a província-mãe, que
é outra figura forte presente no texto: a da maternidade. Essa relação mãe-filho
explica muito a japonesidade e a brasilidade do YKB, e o cultivo de valores da terra
dos ancestrais aqui no Brasil. Por essa razão, atividades socioculturais de caráter
familiar são desenvolvidas no kenjinkai, conforme descritas no texto:
181
...atividades de confraternização, amparo, auxílio empresarial, aconselhamentos matrimoniais, suporte e auxílio ao emprego, educação dos filhos, recepção dos conterrâneos de Yamagata, entre outras.
A figura da província de Yamagata simboliza, então, a ligação política que serve
como canal oficial de comunicação entre os provincianos e a província natal (ligação
física) e o aspecto familiar do YKB que o faz funcionar como local para o exercício
de atividades de confraternização, aconselhamento e amparo. A criação do YKB
mostra-se um elemento de conexão e coesão imprescindível para os provincianos e
aponta um traço identitário “genético” a partir da província-mãe.
Outro tema, o da “descendência e ascendência”, é muito comum nas culturas tribais
e orientais. A figura do fundador ancestral e das linhagens que se seguem a partir do
iniciador do clã é um tema muito apropriado pelos mitos fundadores de uma nação.
Este guia abrange evidentemente a 1ª geração, a 2ª, a 3ª e também a 4ª, chegando até mesmo à 5ª geração, com o objetivo de deixar registrado os passos dos provincianos para futuras gerações. ...o futuro da Associação é continuar e fortalecer mais ainda os vínculos entre os filhos, netos, bisnetos, tataranetos com Yamagata, a terra natal de seus pais, avós, bisavós e tataravós.
Essa preocupação com a primeira, segunda, terceira, quarta e quinta gerações,
citando filhos, netos, bisnetos e tataranetos, além de pais, avós, bisavós e tataravós,
evoca valores caros à cultura oriental, que são o respeito aos antepassados e a
preocupação com as gerações seguintes, e manifestam-se até no nível religioso,
quando os antepassados tornam-se divindades que protegem e guiam – ou punem –
as gerações de acordo com as suas realizações – ou omissões. Alguns aspectos do
exercício da “paciência oriental”, como a repetição de gestos e procedimentos à
exaustão, estão relacionados a esse valor de se atender à risca a rituais familiares
religiosos com o intuito de ser bem-sucedido nesta vida.
182
Outro tema presente no discurso é o da “Grande Jornada”. Essa jornada começa
com a criação da associação, após os provincianos de Yamagata se reunirem no
Brasil, em 1953, e fundarem o “Yamagata Doukyokai”, embrião do YKB. Estabelece-
se, a partir daí, um percurso cheio de desafios e vitórias, reconhecimento e
consagração, que, no entanto, não termina na narrativa; pelo contrário, o narrador
estabelece que a caminhada deve continuar. A figura de uma jornada, de um
caminho a ser percorrido, de uma etapa alcançada, é explorada no título do texto: “A
Caminhada do Yamagata Kenjinkai do Brasil”. Há importantes características aqui: a
constância, a persistência e a paciência orientais. Uma caminhada de vários anos,
com grandes desafios, mas enfrentada com constância, serenidade e harmonia tais
que, em seu final, atinge seus objetivos. O papel dos antecessores – sua
importância e reconhecimento – nessa caminhada é registrado no texto, por meio da
citação nominal dos presidentes e dos fundadores. A ideia de caminhada do “clã” é
um importante fator para a formulação da identidade do ator da enunciação. O clã é
um grupo com características distintas, pois ele não se torna um grupamento apenas
pelos objetivos comuns de seus componentes nem somente pela conveniência das
circunstâncias. O clã é um grupo marcado pela origem de seus membros: mesmo
sangue ou mesma província, ou, ainda, mesma pátria (que também é uma
construção), que estabelece profundas ligações e compromissos igualmente
enraizados. Há um link no site do YKB denominado “Presidentes”, no qual se
mencionam todos os presidentes do kenjinkai e os períodos de suas respectivas
gestões. Ele representa muito mais que um registro da história da organização:
serve como um memorial, um “panteão” ou mesmo uma “galeria de ancestrais”,
estabelecendo um discurso de origem ancestral, de continuidade, de
reconhecimento de que se faz parte de um processo, de uma comunidade. Algumas
expressões utilizadas no texto revelam um estilo linguístico de exaltação (típico de
183
um registro de forma de tratamento cerimonial, muito utilizada em japonês), que
revela um envolvimento passional do narrador:
O 25º Aniversário da Associação foi realizado com esplendor ... (§10)
Do nosso meio saiu um grande contribuidor do desenvolvimento agrícola no Brasil ... (§12)
Ambos premiados com o famoso prêmio Kiyoshi Yamamoto de agricultura, cujos trabalhos são considerados de excelência. (§12)
... florindo ainda mais esta grandiosa festa. (§13)
... onde foi grandiosamente recepcionada e teve a oportunidade de assistir a um evento magnífico. (§15)
Japonesidade e brasilidade vinculadas à província de Yamagata
O texto “A Caminhada do Yamagata Kenjinkai no Brasil” pode ser descrita pelo
binômio “Vínculo vs. Separação” (diagrama 3.6):
Vínculo x Separação e Não-Vínculo x Não-Separação: eixo de contrariedade e subcontrariedade
Vínculo x Não-Vínculo e Separação x Não-Separação: eixo de contradição
Vínculo x Não-Separação e Separação x Não-Vínculo: eixo de complementaridade
Diagrama 3.6 – Quadrado semiótico com as relações “Vínculo” x “Separação”
A narrativa do texto tem como base o percurso que os provincianos desenvolvem na
busca de se estabelecer um “vínculo”, inicialmente com a província natal, ao fundar o
184
Yamagata Kenjinkai. A partir desse primeiro vínculo, um segundo é também buscado,
que é manter unidos os imigrantes e seus descendentes. Esse aspecto aparece no
discurso que trata do crescimento numérico de descendentes de imigrantes de
Yamagata; do aumento do número de gerações de nikkeis e da multiplicação de
cidades e estados do Brasil que receberam os provincianos. Transparece também no
discurso do crescimento da influência, relevância e importância de pessoas ligadas à
província no contexto social do Brasil e do Japão. Esse “vínculo”, é um movimento
contrário à “separação”, percurso natural que ocorreria sem que houvesse esforço do
kenjinkai em reunir, documentar e registrar as trajetórias dos provincianos e seus
descendentes. O próprio YKB funciona como um elemento aglutinador e disseminador
desse “vínculo”, primeiro com a província e, num segundo momento, com o próprio
kenjinkai. A criação da associação, portanto, permitiu que o “vínculo” da comunidade
de imigrantes da província de Yamagata entre os associados e a província mãe se
tornasse um elemento de constituição identitária fundamental. A situação de
“vínculo” é eufórica e a de “separação” é uma condição disfórica.
Embora haja registros da presença de provincianos de Yamagata na história da
imigração japonesa no Brasil, narrados no início do texto, o narrador reconhece que a
caminhada da associação tem início com a sua fundação, em 1953:
... o início de nossa associação remonta 50 anos, em outubro de 1953, quando foi fundado o Yamagata Doukyokai,
A vinculação das pessoas ao YKB não se dá apenas pela associação, mas pela
menção dos feitos e da expansão dos provincianos. Há uma preocupação constante
no texto em se fazer o censo dos associados e de famílias provenientes de
185
Yamagata, registrando os locais em que se fixaram e fornecendo informações de
que houve um crescimento numérico e uma expansão de ocupação territorial:
Na época, havia 91 associados (§7).
... o número de famílias oriundas da Província era de 364 ... um levantamento dos provincianos ... que resultou em 800 famílias. (§8)
As pessoas de Yamagata se encontram em várias localidades. No Estado de São Paulo encontram-se: Colônia de Guatapara, periferia de Ribeirão Preto; nas redondezas de Campo Bonito; em Ourinhos, divisa com o Estado de Paraná; em Mogi das Cruzes, Grande São Paulo. Em Paraná: Londrina, Urai, Assaí. Em Pará, Tomé-Açu (§9).
No final do parágrafo 11, há menção de que o esforço de se fazer o levantamento
numérico e de distribuição geográfica demonstra a preocupação do YKB em “deixar
registrados para futuras gerações” os “caminhos percorridos” pela comunidade:
... trabalhou devotadamente para realizar um levantamento de todos os provincianos espalhados pelo País inteiro ... com o objetivo de deixar registrado os passos dos provincianos para futuras gerações ... os levantamentos têm sido acompanhados por níveis crescentes de dificuldade ... acreditamos que, então, não será mais possível investigar os caminhos percorridos (§11).
Esse registro dos “caminhos percorridos” atesta tanto a criação e o estabelecimento
da comunidade de naturais de Yamagata e seus descendentes – com a fundação do
YKB – como as suas realizações, que se expandiu de um pequeno grupo para uma
população considerável, distribuída em várias regiões do país com atuação relevante
na sociedade que perpetuará a sua memória e sua existência através de gerações,
como é descrito ao final no texto:
Assim as relações entre nós e a Província têm gradualmente se fortalecido e acredito que o futuro da Associação é continuar e fortalecer mais ainda os vínculos entre os filhos, netos, bisnetos, tataranetos com Yamagata, a terra natal de seus pais, avós, bisavós e tataravós (§16).
Finalmente, as realizações do kenjinkai são reconhecidas pelas autoridades do
Japão, pela comunidade nikkei e pela sociedade brasileira. Com aprovação da
186
província e dos próprios associados, o kenjinkai busca, então, a perpetuação de
seus propósitos. Isso foi possível porque foi realizado um grande esforço na busca
da manutenção de um “vínculo” com a província de origem e com o círculo dos
provincianos. Um ciclo de criação e realizações foi cumprido, mas as próximas
gerações precisam realizar um ciclo semelhante de realizações. Ligar-se à província
foi o início da associação que nasceu e se desenvolveu no Brasil, e manter o
“vínculo” entre os associados também se torna um elemento primordial para a
continuação desse propósito. O vínculo com a província e com os provincianos
permite que a cultura japonesa, o lado da japonesidade, desenvolva-se no âmbito da
participação das atividades desenvolvidas pelo kenjinkai. Dessa forma, manter o
“vínculo” com o YKB e com a província é, também, manter o vínculo com a cultura
japonesa.
3.2.4. O ATOR DA ENUNCIAÇÃO DO YAMAGATA KENJINKAI
Os três textos das três partes analisadas (frame principal da home page, "História da
Imigração Japonesa no Brasil” e “A Caminhada do Yamagata Kenjinkai do Brasil”)
são integrantes de um “texto total”, que apresenta um discurso único que traz
subsídios para a construção do ator da enunciação Yamagata Kenjinkai do Brasil.
Na home page, a Associação Yamagata Kenjinkai do Brasil apresenta seus objetivos
institucionais, a partir dos quais é possível se estabelecer uma hierarquia de
prioridades nos relacionamentos do YKB:
• Estreitar o intercâmbio com a província-mãe.
• Atender interesses e necessidades de convívio dos seus associados.
• Contribuir com a comunidade nipo-brasileira e com Brasil.
187
Concretiza-se aqui a visão de valores quanto às prioridades relacionais da
associação, que desenvolve o seguinte percurso: kenjinkai, província de Yamagata,
comunidade nikkei, sociedade brasileira. As seções da home page “Calendário de
Atividades” e “Fatos e Eventos do YKB!” transmitem traços da japonesidade e da
brasilidade por meio do discurso. A japonesidade se evidencia através da menção a
termos e conceitos da cultura japonesa (Seinembu, Undokai, Koshukai, Minyo,
Matsuri, Tohoku, Tendoshi) e das fotos do fruto da cerejeira, e das pessoas vestidas
com trajes típicos japoneses. A brasilidade se manifesta por meio da referência ao
“Brasil” duas vezes e ao uso da língua portuguesa. O discurso utiliza três vezes o
termo “Brasil”, usa a expressão “nipo-brasileira” duas vezes, cita o Japão apenas
uma vez, mas faz menção à província nove vezes, referindo-se a ela como
“Yamagata” (seis vezes) ou “província-mãe” (três vezes). Há, também, no site, uma
imagem/link de um boletim informativo em japonês e três links para sites de
instituições de Yamagata: governo da província, a cidade de Yamagata e o Escritório
de Assuntos Internacionais do Governo da Província. A japonesidade do kenjinkai é
bastante calcada na relação com a província-mãe e manifesta-se também no uso de
termos da língua japonesa. A brasilidade é expressa na língua.
Na análise do texto “A história da imigração japonesa no Brasil”, a narrativa, o início
da história do Yamagata Kenjinkai do Brasil se dá a partir da descrição da situação
econômica do Brasil. Há um forte apelo de brasilidade na gênese do YKB: ele é filho
nascido no Brasil, de pais japoneses. O narrador trata do trabalho em equipe dos
imigrantes. O foco da narrativa nas atividades econômicas que eram realizadas na
época demonstra a visão pragmática do ator da enunciação. A imigração é um
empreendimento e o imigrante é um empreendedor com foco inicial num projeto
econômico e de subsistência. Na segunda fase da imigração (pós-guerra), o
188
discurso trata da perspectiva do espírito de trabalho em grupo dos imigrantes, ao se
unirem para – após uma grave crise na comunidade – “dar a volta por cima”. A
capacidade de articulação política e social também é uma habilidade dos imigrantes,
que se unem num propósito de deixar sua marca perante as autoridades japonesas,
a sociedade brasileira e a comunidade nikkei, por meio da participação efetiva em
dois grandes eventos comemorativos importantes: o IV centenário de fundação da
cidade de São Paulo – que evoca a identidade brasileira da comunidade, e os 50
anos da imigração japonesa, que ressalta a identidade japonesa. A participação
nesses novos desafios estimula a união e a harmonia na colônia japonesa e
estabelece condições para que diversas entidades nipo-brasileiras representativas
sejam fundadas, consolidando e institucionalizando a presença nikkei no Brasil.
Essa narrativa traz o discurso da capacidade de trabalho em equipe do nikkei e
ressalta a sua identidade nipo-brasileira. Desde o início, o discurso do YKB nessa
parte do site parte da perspectiva de uma nipo-brasilidade marcadamente ligada à
província de origem, mas que assume conscientemente a sua brasilidade, pois a sua
gênese está expressa no discurso como sendo genuinamente brasileira.
Finalmente, pela análise do texto “A Caminhada do Yamagata Kenjinkai do Brasil”,
confirma-se que o ator da enunciação se preocupa com a legitimação da instituição
por suas realizações. O YKB é uma associação que nasceu no Brasil. Sua história
começa aqui. Sua raiz é japonesa, mas a ligação com o Japão se dá quase que
totalmente através da província e isso reflete sua japonesidade “yamagataense”.
Essa importância atribuída à ligação com a província mãe é expressa no objetivo da
home page: “estreitar o intercâmbio com a província-mãe”; na declaração de que as
associações de província “foram constituídas devido à necessidade de se manter
contato com a Província natal” e na narrativa da constituição do YKB: “Todos
189
concordaram que era necessário estabelecer meios de comunicação entre a nova
terra e a terra natal”, presentes na página “A Caminhada do Yamagata Kenjinkai no
Brasil”. Como manter contato com a província-mãe era uma necessidade, os
kenjinkai foram criados. O reconhecimento da paternidade/maternidade japonesa é
que permite o surgimento da associação, com uma identidade já nipo-brasileira,
calcada na ideia do “vínculo”: a cultura – a japonesidade vinculada à província. Sem
essa ligação com a província, o kenjinkai não existiria.
Portanto, o “ator da enunciação Yamagata Kenjinkai” é brasileiro, mas sua mãe (ou
pai) é de Yamagata”. A província é a origem e o nó de conexão de suas múltiplas
identidades. Fica claro, portanto, o nível de dependência transcendental e ancestral,
o “vínculo” do kenjinkai com a província; é como se houvesse a afirmação: “estamos
aqui, mas viemos de Yamagata. Uma vez assumida a sua origem japonesa, sua
japonesidade é desenvolvida participando de atividades culturais, como o Minyo
(música folclórica), o Hanagasa ondo (dança tradicional) e o Tohoku-Hokkaido
Matsuri (festival típico), bem como mantendo intercâmbio com a província de origem,
usufruindo de bolsas de estudo em Yamagata e recebendo autoridades da província
no Brasil. Estar no Brasil o torna nikkei, mas sua diversidade identitária está ligada à
província, fato que está expresso explicitamente no discurso do site.
190
3.3. ANÁLISE DO SITE DO SHIMANE KENJINKAI
O conteúdo do site foi obtido em 6 de abril de 2014. O endereço da URL é:
http://www.shimane.org.br. O projeto desse site é baseado em tecnologia Google
Sites, uma ferramenta on line para construção e manutenção de sites pessoais. Ele
apresenta um layout básico com navegação por links disponíveis num menu lateral.
As páginas acionadas pelos links são exibidas no frame principal. O menu lateral e o
header ficam permanentemente visíveis ao internauta. Ao pé da página localizam-se
os links-padrão do programa: “Fazer login”, “Atividade recente no site”, “Denunciar
abuso” e “Imprimir página”. No header está escrito, à esquerda, sob um fundo azul
claro a palavra “Shimane”, numa fonte sem serifa na cor branca. À direita do
cabeçalho, há uma interface que acessa um motor de procura, onde se pode colocar
o termo a ser pesquisado no site (figura 3.12).
Figura 3.12 – Home page do site do Shimane Kenjinkai
191
O menu lateral é expansível e apresenta, quando está no modo retrátil, outros links,
conforme demonstrado na figura 3.13.
Figura 3.13 – Menu expansível do site do Shimane Kenjinkai
Em linhas gerais, o site não tem um projeto gráfico definido. Por exemplo, as cores
dos links, as fontes dos textos e as cores dos títulos não seguem um padrão – eles
variam de acordo com a página. Os links da home page são enumerados a seguir:
Shimane Kenjinkai: Esse é o link que conduz à home page. No frame, aparece um
título “Shimane Kenjinkai” e um subtítulo: “Bem-vindo ao site do Shimane Kenjinkai”,
com uma breve explicação da natureza e do objetivo da associação. Há um link
“Informação para Associados”, que remete à página do link “Associados”, logo abaixo
desse texto inicial. Mais abaixo, ainda, há três colunas de textos, com os títulos:
“Eventos”, “Cursos” e “Aluguel do Salão”, cada um sendo um link que direciona o
192
internauta aos temas das respectivas páginas. Ao final de cada uma delas há um texto
com o endereço: “Associação Beneficente Shimane Kenjin do Brasil. Rua das Rosas,
86 - Praça da Árvore - São Paulo - SP - CEP 04048-000. Tel.: (55-11) 5071-0082 -
Fax: (55-11) 2275-9773. e-mail: [email protected]”. O link “Fotos” é
replicado à esquerda do frame e remete à mesma página vazia.
Aluguel do Salão: O link abre no frame uma página com o título “Aluguel do Salão”,
com o endereço: “Shimane Kenjinkai - R. das Rosas, 86 - Praça da Árvore, São
Paulo, 04048-000”, que apresenta um aplicativo do Google Maps, que abre um
mapa dinâmico, no qual está assinalado o endereço da associação.
Associados: O link abre uma página com o título “Associados”, que lista 12 arquivos
em formato pdf para download. Eles correspondem a quatro números do boletim
informativo trimestral da associação, “Dan Dan News”, publicado em português: o de
número 134, de dezembro de 2009, com 4 páginas formato A4; o de número 135, de
março de 2010, com três páginas; o de número 136, de junho de 2010, com 2
páginas; e o de número 139, de março de 2011, com três páginas.
Cursos: O link abre uma relação dos cursos realizados no Shimane Kenjinkai, com
nome dos professores, dias em que são oferecidos, horário, contato e valor da
mensalidade. Os cursos são: Alongamento, Dança do ventre, Dança de salão,
Dança livre, Folk dance, Ginástica modeladora, Kenko taisso, Karaokê, Lian gong,
Taichi Chi Kung, Yoga, Língua japonesa, Pintura em tecido e Shinobue popular
(flauta tradicional japonesa). As aulas são geralmente semanais e os preços variam
de R$ 20,00 a R$ 60,00 por mês. Os cursos são ministrados em vários períodos do
dia. Dos 14 cursos, pelo menos quatro são de origem japonesa: Kenko taisso
193
(ginástica rítmica japonesa), Karaokê (canto com playback), Língua japonesa e
Shinobue. Três cursos têm origem no Oriente: Taichi Chi Kung e Lian gong10 vêm da
China, e Yoga tem origem indiana. É possível que Folk Dance se refira à dança
tradicional japonesa. Há pelo menos cinco professores cujos nomes têm origem
japonesa, mas com certeza há outros professores nikkei, pois há cursos em que é
apresentado somente o primeiro nome do professor. O link expansível traz as
seguintes opções: Alongamento, Dança de Salão, Dança do Ventre, Dança Livre,
Folk Dance, Ginástica Modeladora, Karaokê, Kenko Taisso, Lian Gong, Taichi Chi
Kung e Yoga, cada qual acessando uma página que traz o nome da atividade, o
nome do professor e os dias e horários em que é oferecida.
Eventos: O link remete à página “Bazar Beneficente”, que faz um convite: “Veja os
vídeos do bazar...”. Cinco vídeos estão disponibilizados e podem ser acessados
através de um aplicativo do YouTube. O link “Bazar Beneficente” remete a uma
página que anuncia o 9º Bazar Beneficente Shimane, de 2013, contendo
informações gerais sobre o evento. Um mapa do Google Maps indica o local do
bazar e mais abaixo há um outro convite: “Veja como foram as edições anteriores do
Bazar”. Há quatro apresentações de fotos geradas pelo aplicativo do site Picasa
(que armazena fotos na Internet e gera apresentações de slides), referentes às
edições do Bazar Beneficente de 2010, 2011, 2012 e 2013. Cinco vídeos das
edições de 2005 a 2009 acessíveis através do aplicativo do YouTube também estão
disponíveis na página.
10 Taichi ou Tai Chi Chuan (太極拳) é uma arte marcial e técnica corporal de meditação chinesa. Chi Kung ou Qi Qong (气功) também é um misto de arte marcial, ginástica e práticas terapêuticas chinesas. Lian Gong (练功) é uma prática chinesa moderna inspirada em várias técnicas corporais milenares, entre elas o Qi Qong.
194
Língua Japonesa: O link abre uma página que apresenta o seguinte texto: “Prof.
Satiko - horário a combinar”.
Sitemap: O link não está funcionando. Geralmente, um link com esse nome abre um
esquema da estrutura lógica de links do site.
Por apresentarem textos que possibilitam uma análise narrativa e discursiva mais
elaborada, foram selecionadas as seguintes partes do site do Shimane Kenjinkai:
• a home page;
• o boletim informativo “Dan Dan News” número 136, de junho de 2010, em
formato pdf, disponível para download no link “Associados”;
• o conteúdo do link “Bazar Beneficente”, que está dentro do link “Eventos”.
3.3.1 TEXTOS DO FRAME PRINCIPAL DA HOME PAGE
Os textos de apresentação contidos no frame principal da home page também
seguem o padrão de elaboração identitária estabelecido pelos tópicos: “quem
somos, onde estamos e o que fazemos”. O texto integral é apresentado a seguir:
Bem-vindo ao site do Shimane Kenjinkai!
A Associação Beneficente Shimane Kenjin do Brasil é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo manter o intercâmbio cultural com a província de Shimane no Japão e integrar as culturas do Brasil e Japão, além de auxiliar outras entidades beneficentes brasileiras. Informações para Associados Eventos Reserve na sua agenda: Em 10/11/2013 teremos o Bazar Beneficente Shimane, em que toda renda obtida pela associação será revertida em doação para Creche Girassol - Veja os vídeos dos bazares anteriores. Cursos Alongamento, Dança do ventre, Dança de salão, Dança livre, Folk dance, Ginástica modeladora, Kenko taisso, Karaokê, Lian gong, Taichi chi kung, Yoga, Língua japonesa entre outros cursos. Se pretende fazer alguns destes cursos, entre em contato conosco. Todos eles são ministrados em nossa sede. Ali pertinho, na Rua das Rosas, 86 do lado do metrô Praça da Árvore.
195
Aluguel do Salão Nós estamos muito perto do Metrô Praça da Árvore e temos um lindo salão para até 200 convidados com muito conforto.
Se você pretende fazer uma bela festa de casamento, aniversários ou uma grande recepção, consulte-nos (5071-0082 com Yoshiko das 9:00 às 13:00hs)
Fotos
Associação Beneficente Shimane Kenjin do Brasil. Rua das Rosas, 86 - Praça da Árvore - São Paulo - SP - Cep 04048-000 Tel: (55-11) 5071-0082 - Fax: (55-11) 2275-9773 e-mail: [email protected]
Shimane Kenjin: intercâmbio, integração e auxílio
O texto começa com a saudação “Bem-vindo, ao site do Shimane Kenjinkai!”,
recurso utilizado para se estabelecer um “diálogo” com o internauta, criando um
vínculo emocional entre o enunciador e o enunciatário. A apresentação do kenjinkai
é feita com o Shimane Kenjin apresentando o seu “nome completo”, sua natureza e
seus objetivos:
Associação Beneficente Shimane Kenjin do Brasil é uma entidade sem fins lucrativos que tem como objetivo manter o intercâmbio cultural com a província de Shimane no Japão e integrar as culturas do Brasil e Japão, além de auxiliar outras entidades beneficentes brasileiras.
A dimensão narrativa do texto do frame principal da home page do site do Shimane
Kenjinkai pode ser identificada nos três verbos que caracterizam os objetivos da
associação: a) manter o intercâmbio cultural com a província de Shimane no
Japão, b) integrar as culturas do Brasil e do Japão e c) auxiliar entidades
beneficentes brasileiras. Essas três vertentes de ações caracterizam e justificam as
ações desenvolvidas pelo kenjinkai. Do estado inicial pressuposto de inexistência de
intercâmbio cultural entre a associação e a província de Shimane, da ausência de
integração das culturas brasileiras e japonesas e da falta de ajuda a entidades
beneficentes do Brasil decorre uma série de ações e atividades propostas e
196
desenvolvidas pelo Shimane Kenjinkai que são descritas no objetivo da associação
e são temas tratados em muitas partes do site. No nível das estruturas narrativas,
pode-se encontrar, assim, no estado inicial, o actante “Shimane Kenjin” numa
situação pressuposta de “passividade”, rompida pelo desenvolvimento das
atividades do kenjinkai. O estado final é de um kenjinkai que desenvolve ações que
cumprem dois desses objetivos: na seção/link “Eventos”, a realização do Bazar
Shimane é a concretização da busca do objetivo de auxiliar entidades beneficentes
brasileiras (no caso, a Creche Girassol), e na seção/link “Cursos” apresenta-se
proposta para a integração das culturas do Brasil e do Japão.
O texto/link do título “Aluguel do Salão” remete o leitor a uma página que apresenta
o endereço do Shimane Kenjin junto com um mapa do aplicativo Google Maps de
como se pode chegar ao local. Esse texto, juntamente com o endereço ao final da
página, sugere que o internauta “entre em contato” para usufruir de um serviço de
aluguel do salão. No entanto, o link “Fotos” leva a uma página vazia, causando uma
pequena dissonância nesse estabelecimento de diálogo, o que, sem dúvida, não foi
intenção do narrador, sendo assim, uma falha técnica na construção do site. No
entanto, essa oferta de locação do salão corresponde a um quarto objetivo do
kenjinkai, não expresso nos propósitos da entidade declarados no site, mas
implícitos a todas as associações: o de viabilidade econômica para subsistência
como organização. O aluguel do salão é uma fonte de receita para a manutenção da
associação.
Portanto, na análise do nível narrativo, conclui-se que o texto da home page, ao
apresentar o kenjinkai, expõe os três objetivos da Associação Beneficente Shimane
Kenjinkai já descritos anteriormente. O objetivo de manter o intercâmbio cultural com
197
a província de Shimane não é exemplificado na home page, mas esse tema é
desenvolvido em outras áreas do site. Atividades com o objetivo de “Integrar as
culturas do Brasil e Japão” são concretizadas na oferta de diversos cursos e
atividades, de origem oriental ou ocidental, descritas em links acionados a partir
dessa página principal. A chamada para participar do Bazar Beneficente Shimane,
cuja renda, conforme o texto, será revertida para a Creche Girassol, atende ao
objetivo de “auxiliar outras entidades beneficentes brasileiras”. O Shimane Kenjin,
portanto, apresenta-se como uma entidade atuante que desenvolve atividades para
cumprir seus objetivos propostos.
Ponto de encontro de japonesidade e de brasilidade
O Shimane Kenjin estabelece seu discurso fazendo uma apresentação de si,
iniciando-a com saudação “Bem-vindo ao site do Shimane Kenjinkai!”, procurando
criar uma relação de proximidade entre o kenjinkai e o internauta. O discurso de
apresentação do kenjinkai emprega recursos de desembreagem – actancial,
temporal e espacial –, estabelecendo um relacionamento subjetivo com o internauta
e desenvolvendo um processo de convencimento através do discurso. O emprego
de recursos de desembreagem actancial enunciativa é observado na flexão dos
pronomes pessoais e verbos:
... teremos o Bazar Beneficente Shimane
... entre em contato conosco. Todos eles são ministrados em nossa sede. Nós estamos muito perto do Metrô Praça da Árvore e temos um lindo salão ... consulte-nos
Nessa estratégia de aproximação, o tratamento do narratário por “você” e o uso do
verbo na forma imperativa concorrem para o estabelecimento de um vínculo pessoal
entre o kenjikai e o internauta:
198
Se pretende fazer alguns destes cursos, entre em contato conosco. Se você pretende fazer uma bela festa de casamento ... consulte-nos. Reserve na sua agenda Veja os vídeos dos bazares anteriores.
O discurso é estabelecido no tempo “agora” para quem está consultando o site,
caracterizando a desembreagem enunciativa temporal (o site está desatualizado,
mas essa constatação continua válida). A referência sobre a localização do kenjinkai
reforça o efeito de sentido de subjetividade e de proximidade do enunciador,
estabelecendo uma desembreagem enunciativa espacial, posicionando o lugar no
“aqui”, quando se expressa “nossa sede é ali” (o kenjinkai dirige-se ao internauta
como se ambos estivessem conversando num mesmo espaço virtual – como ao
telefone, por exemplo):
Nós estamos muito perto do Metrô Praça da Árvore...
Além da desembreagem, a estratégia de aproximação se dá através do uso de
verbos na forma imperativa, convidando o internauta a participar de eventos e a
fazer cursos no kenjinkai. O emprego de expressões como “ali pertinho... do lado
do metrô Praça da Árvore” e “estamos muito perto do Metrô Praça da Árvore”
evidenciam: a) a tentativa de aproximação com o interlocutor de forma carinhosa e
informal e b) a estratégia de apresentar a praticidade da localização do Shimane
Kenjin (próximo a uma estação de Metrô), fatores que caracterizam um discurso
persuasivo para que internauta entre em contato com o kenjinkai.
No plano da expressão, destacam-se os termos “Bazar Beneficente Shimane” e
“Creche Girassol”, por meio do uso de fontes em negrito vermelhas, sugerindo a
relevância que esses dois temas têm para o kenjinkai, pois eles se referem ao
cumprimento de um dos objetivos do kenjinkai, que é o de “auxiliar entidades
199
beneficentes brasileiras”. A referência ao Bazar Beneficente sinaliza, também, o
valor que o trabalho realizado em conjunto tem para a instituição, um traço
constantemente associado à constituição identitária japonesa. Algumas falhas
técnicas que o site apresenta nessa parte concorrem para uma dissonância cognitiva
sobre a identidade do kenjinkai: o link “Fotos”, localizado abaixo do texto “Aluguel do
Salão”, leva a uma página vazia, sem fotos, como se elas tivessem sido retiradas ou
nunca tivessem sido postadas; o final de cada frame apresenta o item
“Comentários”, que é uma implementação do software de criação de páginas para
interação do internauta com o site, possibilitando que ele expresse alguma opinião
mas que, quando acionada, exibe a frase “Você não tem permissão para adicionar
comentários”. Essa oferta de possibilidade de interação que não se concretiza se
repete em todas as páginas do frame principal. Essas duas falhas técnicas não são
parte do discurso, mas concorrem para uma interpretação dissonante da imagem
que se tem de uma instituição de origem japonesa, que deveria ser organizada,
perfeita nos mínimos detalhes. Esses erros concorrem para a desconstrução da
imagem idealizada que em geral se tem sobre os japoneses, de que eles seriam
detalhistas e perfeccionistas, não sendo sujeito a falhas, portanto.
Duas tematizações estão presentes no discurso do frame principal: o tema da
“interculturalidade” e o da “beneficência”. A interculturalidade está expressa na
declaração do objetivo de manter “intercâmbio cultural com a província de Shimane
no Japão” e “integrar as culturas do Brasil e Japão”. Mas o termo “integrar” possui
duas acepções: a de “incorporar e formar um inteiro” e a de “receber num grupo”.
Portanto, essa integração se dá, idealmente, entre duas culturas distintas: a
japonesa e a brasileira, em que as duas poderiam “incorporar-se e formar um inteiro”
ou então uma delas “receberia outra em si”. De qualquer forma, nessa declaração de
200
objetivo, explicita-se a fusão de duas culturas, o que consequentemente gera uma
terceira cultura, híbrida. Essa integração cultural entre a cultura japonesa e a cultura
brasileira é explicitada na natureza e variedade dos cursos ofertados pelo Shimane
Kenjin, que variam de manifestações culturais tipicamente japonesas, como Kenko
Taisso, Karaokê, língua japonesa a cursos que poderiam ser considerados como
ocidentais/brasileiros, como dança de salão, dança livre e ginástica modeladora. A
interculturalidade nesse discurso refere-se, portanto, à fusão entre as culturas
japonesa e brasileira, trazendo à tona uma cultura híbrida, a nipo-brasileira. E note-
se que seria possível o kenjinkai vivenciar sua “cultura japonesa” e desenvolver sua
japonesidade de modo isolado, “fechada” e restrita ao público interno da associação.
No entanto, essa “integração” sugere relacionamento, interatividade e “abertura”
para a cultura brasileira. Esse rompimento de barreiras e movimento “para fora” está
presente no discurso de outras partes do site.
O tema da beneficência é explorado no anúncio do Bazar Beneficente Shimane, que
já se tornou um dos principais eventos organizados pelo kenjinkai. Nesse tema,
também fica evidente o processo de institucionalização do Shimane Kenjin, pois a
realização de um bazar beneficente denota a assunção de compromisso e de
objetivos relevantes para a sociedade (KUNSCH, 2002, p.39), concorrendo para a
elaboração de uma imagem positiva da instituição como ator social. O Bazar
Beneficente Shimane constitui-se, então, num elemento discursivo importante na
construção da identidade cultural do kenjinkai.
Movimentos de dentro para fora e de fora para dentro
O Intercâmbio cultural com a província de Shimane e a Integração cultural entre
o Brasil e o Japão são objetivos do kenjinkai, o que significa, necessariamente, que
201
a associação tem que estar aberta à “Interação” cultural e ao relacionamento com
outras pessoas e entidades. O texto da home page do site do Shimane Kenjin pode
ser descrito, então, no nível das estruturas fundamentais, pelo binômio “Isolamento
vs. Interação”, sendo que o “isolamento” é uma condição pressuposta, antagônica
às propostas de atividades desenvolvidas pelo kenjinkai (diagrama 3.7):
Isolamento x Interação e Não-Isolamento x Não-Interação:
eixo de contrariedade e de subcontrariedade
Isolamento x Não-Isolamento e Interação x Não-Interação: eixo de contradição
Isolamento x Não-Interação e Interação x Não-Isolamento: eixo de complementaridade
Diagrama 3.7 – Quadrado semiótico com as relações “Isolamento” x “Interação”
“Isolamento” significa não desenvolver relacionamentos, não ofertar atividades de
integração e de intercâmbio, constituindo-se, então, numa condição disfórica e
indesejável ao kenjinkai, pois fere os seus objetivos. Por outro lado, realizar eventos
para auxiliar entidades beneficentes, como a proposta do Bazar Beneficente
Shimane, e ofertar cursos que integram a culturas brasileira e a japonesa expressam
uma busca pela “Interação”, pelo relacionamento com “o outro”, e caracterizam uma
condição eufórica. A narrativa e o discurso dessa parte do site baseiam-se nessa
estrutura fundamental de “Interação” x “Isolamento”, em que a interação pressupõe
202
tanto a vivência da cultura japonesa como a da cultura brasileira, além de procurar
“integrar as (duas) culturas”.
3.3.2. TEXTO DO BOLETIM DAN DAN NEWS NÚMERO 136
O Dan Dan News (dan dan significa “progressivamente”) é o boletim trimestral do
Shimane Kenjinkai. Trata-se de um periódico originalmente concebido na forma
impressa, de duas a quatro páginas, conforme a edição. Algumas dessas edições
estão disponíveis em formato digital – arquivos pdf – e são acessíveis mediante
download na seção “Associados”. Foi selecionado aleatoriamente o número 136, de
junho de 2010, de duas páginas, para compor o corpus da análise. Essa edição tem
formato A4, é colorida e tem nove fotos. O projeto gráfico apresenta três divisões
verticais, com dois blocos de texto efetivos: uma coluna de texto ocupando a
primeira divisão à esquerda e outra coluna de texto ocupando o espaço de duas
divisões. Por se tratar de um periódico institucional, concebido segundo conceitos e
modelos mais utilizados pelo meio jornalístico, o Dan Dan News tem uma
“expressão” e um “estilo” jornalísticos, isto é, a divisão do conteúdo em “seções”, a
formatação do texto escrito em colunas e a forma de redação jornalística dada ao
conteúdo, que procura cumprir as principais “cláusulas do contrato jornal-público”,
como a proposição da verdade, objetividade e isenção, entre outras (HERNANDES,
2006, p. 18). A forma de se construir textos com essas características será discutida
ao longo desta seção, à medida que as análises forem apresentadas.
As duas páginas dessa edição do boletim Dan Dan News são reproduzidas a seguir
(figuras 3.14 e 3.15).
205
Na primeira página, o cabeçalho da publicação é dividido em três partes horizontais: a
primeira informa a edição (“Boletim Trimestral Nº 136”), enquanto a segunda e a
terceira divisões, apresentam, respectivamente, o nome e a data da publicação. Na
primeira página há três seções: “Editorial”, “Alex Calio é bolsista de estágio de
Shimane 2010” e “Undokai”. Na segunda página, há quatro seções: “Senador Jorge
Yanai, primeiro senador nikkei, é homenageado no Bunka”; “Festa do Japão”,
“Notícias de Shimane” e “Festa do Yakissoba”. Em ambas as páginas, no rodapé,
está escrito: “Associação Shimane Kenjin do Brasil – Rua das Rosas – Praça da
Árvore – Tel: 5071-0082 – [email protected]”. Os textos do boletim
são transcritos abaixo:
EDITORIAL
A dinâmica do cotidiano do Kenjinkai que por vezes parece pouco e simples, na verdade esconde um trabalho árduo e de muita dedicação que nunca aparece. Mas, é fruto do esforço incansável de alguns voluntários. Este esforço culminou neste último trimestre no grande sucesso que foi o “Undokai” do bloco Chugoku11 liderado pelo grupo jovem e a Festa do Yakissoba12 sob a batuta do departamento feminino do Shimane. E agora, no próximo trimestre, temos novos desafios: a realização da excursão para as thermas de Rio Preto e a participação no Festival do Japão. Certamente precisaremos da ajuda de mais colaboradores, mas contamos desde já com o empenho de todos. Vamos lá... Mãos à Obra!!! (Quadro de texto) Atenção!!!! Estão abertas as inscrições para bolsas de estudo kempiryugaku e kempikenshu13 2011 da província de Shimane. É uma grande oportunidade para adquirir experiência
Alex Calio é o bolsista de estágio de Shimane 2010
Alex Wadamori Calio, 23 anos, já está de malas prontas para Shimane. Concluiu o curso de publicidade e propaganda na Universidade Anhembi Morumbi e agora parte para novas experiências como bolsista de estágio na cidade de Matsue, Shimane. Ficará estagiando por seis meses, de julho a dezembro.
11 “Chugoku” é o nome de uma das nove regiões do Japão, da qual fazem parte as províncias de Hiroshima, Okayama, Shimane, Tottori e Yamaguchi. “Bloco e províncias” são equivalentes ao conceito de Região e Estados no Brasil. Vide mapa das províncias do Japão. 12 Yakissoba é um prato chinês, composto por macarrão frito com legumes e carnes. 13 Kempiryugaku e kempikenshu são modalidades de bolsa de estudo oferecidas pelos governos das províncias. A primeira possui caráter de pesquisa acadêmica e é desenvolvida na universidade. A segunda possui um caráter mais técnico, desenvolvido principalmente em empresas privadas ou instituições públicas.
206
Sua expectativa é muito grande, uma vez que tudo é tão diferente por lá, e tudo será uma surpresa. De qualquer forma, a ideia é assimilar como funciona a área de publicidade e propaganda no Japão para depois aplicar esses conceitos no Brasil. Alex diz ainda: ”Tenho expectativas, também, quanto a receptividade dos japoneses, espero fazer muitas amizades!” Alex, torcemos por você: GAMBARÊ14!!!
UNDOKAI
A equipe jovem do Bloco Chugoku sob o comando do Tottori realizou Undokai com muita diversão e brindes!! A Érica Hirakata que participa ativamente do seinembu do Bloco Chugoku e do Shimane Kenjinkai conta com outro olhar o bonito Undokai que aconteceu maio passado É sempre muito emocionante ver no dia do undokai o sorriso estampado no rosto de cada participante, organizador, colaborador, patrocinador e tudo isso nos dá uma satisfação de missão cumprida, de ter conseguido atingir os objetivos das pessoas se confraternizarem e se divertirem! O tempo estava agradável e começou as atividades com o tradicional radio taisso, uma atividade atrás da outra e tudo conforme a programação, depois um intervalo para o almoço, obentos15, churrascos, doces e bebidas para abastecer a galera para o período da tarde. Várias atividades à tarde e o suzuwari16 para encerrar com chave de ouro e em clima de festa. Saber que todo o esforço valeu à pena, e que a vontade de dar continuidade ao Undokai para as próximas gerações é maior que a defasagem de organizadores e colaboradores! Participei por algum tempo, ativamente, dos bastidores e sei como é árduo todo o processo para a realização deste evento! E de certa forma dá uma desanimada quando precisamos correr atrás do pessoal para pedir ajuda na organização e ouvir com mais frequência “Não posso ajudar”, do que “Sim vou ajudar”. Por outro lado os poucos que integram esse grupo do Seinen Chugoku, compreendem as dificuldades da realização deste tipo de evento (já que todos são voluntários e não podem exigir a participação de ninguém), existe muita colaboração entre eles e acabam se tornando uma pequena (de número), mas grande (de coração) família. E é esse tipo de sentimento que faz dar continuidade ao Undokai e aos outros eventos do Bloco Chugoku. E um agradecimento em especial a Sonia Yasuoka por estar sempre disposta e pronta para ajudar nesse evento. Ela tem participado de todo o processo do Undokai, e a parte final não é só guardar os materiais do Undokai, a Sonia organiza um bazar com as doações recebidas no Undokai numa comunidade carente com valores que variam de R$ 0,25 a R$ 1,00, e o que não é vendido é encaminhado para uma entidade carente. O dinheiro arrecadado no bazar é revertido para a própria comunidade comprando materiais odontológicos e outros que os postos de saúde necessitam. Bom, com toda essa explanação dos bastidores eu só quis mostrar um pouco do que se passa por trás das cortinas, para que o Undokai seja um espetáculo! Parabéns pelo sucesso de mais um Undokai! E desejo que esse espetáculo continue por muitas e muitas gerações!
Érika Hirakata
(página 2)
SENADOR JORGE YANAI, PRIMEIRO SENADOR NIKKEI, É HOMENAGEADO NO BUNKA
Em noite memorável, no dia 07 de maio passado, o agora senador, diga-se de passagem, o primeiro senador Nikkei e para nosso orgulho, originário da província de Shimane, Jorge Yanai, foi homenageado pela comunidade nipo-brasileira paulista com toda a pompa na sede da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa.
14 “Gambarê” é um aportuguesamento de gambatte, uma interjeição japonesa que tem o sentido de “faça o melhor!” 15 Obentô é uma tradicional marmita japonesa. 16 Suzuwari é uma brincadeira típica japonesa que consiste em estourar uma grande bola de papel contendo prêmios no alto de uma torre, utilizando-se de bolas feitas com saquinhos de arroz.
207
Compareceram a esta cerimônia personalidades expressivas de nossa comunidade e dentre eles o presidente do Shimane, Hideo Kodagawa e o presidente honorário Keinosuke Adachi. FESTIVAL DO JAPÃO
Shimane participará do Festival do Japão que acontecerá nos dias 16, 17 e 18 de julho O Shimane Kenjinkai participará do Festival do Japão, deste ano, servindo os já tradicionais Makizushis e Inarizushis17 que só o Fujimbu18 do Shimane sabe fazer tão gostoso. Como todos os anos, precisaremos da ajuda dos associados, principalmente os mais jovens para darmos conta deste evento. Aos voluntários, solicitamos entrar em contato com a Yoshiko, pelo telefone: 5071-0082. Yoroshiku Onegaishimasu!!!! NOTÍCIAS DE SHIMANE
Sr. Yurizawa que foi agricultor no Brasil, escreve para o DAN DAN News contando sobre sua nova atividade em Shimane. Caros associados da Associação Shimane Kenjin do Brasil. Meu nome é Yurizawa Tadashi e atualmente sou vice-presidente do Kazokukai19 da província de Shimane. Por 35 anos atuei no ramo agrícola, plantando pimenta do reino nas cercanias de Belém do Pará, mas em dezembro de 2002 encerrei as atividades e retornei para o Japão. Em todo o período que estive no Brasil tive grande apoio dos membros da Associação Shimane Kenjinkai e aproveito esta oportunidade para expressar toda a minha gratidão. Faz nove anos desde que retornei do Brasil e atualmente trabalho com atividades sociais aqui no Japão. Estas atividades sociais consistem em serviços de apoio aos idosos, tais como: Atividades em grupo, serviços de atendimento de um dia e serviços de apoio e gestão de asilos em instalações situadas em Shinjichô, Mitoyachô e Daitô, cercanias de Izumo. No momento estas instalações atendem 125 usuários e 84 internos. A administração não é nada fácil, é bastante penosa, mas a gratidão dos idosos torna esta atividade compensadora, transformando em grande satisfação o meu dia a dia no Japão.
Yurizawa Tadashi FESTA DO YAKISSOBA
Grande número de associados e visitantes deram um brilho especial à tradicional festa do “Yakissoba” No dia 30 de maio, mais uma vez o Departamento Feminino do Shimane Kenjinkai, “Fujimbu”, organizou a tradicional Festa do Yakissoba que contou com a presença de muitos associados e visitantes que compareceram em grande número para comprovar o sabor especial do yakissoba mais gostoso da região. Também foram destaque os makizushis, inaris e salgadinhos que se esgotaram rapidamente, para azar dos mais atrasados e deleite daqueles que puderam prová-los. No ano que vem teremos que rever as quantidades para que a satisfação seja geral. Não faltaram, como acontecem todos os anos, as rodadas de bingo que animaram o almoço injetando mais emoção e muitos brindes. O vereador Joji Hato prestigiou o nosso evento e congratulou-se com todos os presentes e incentivou-nos pelas iniciativas do Shimane Kenjinkai.
17 Tipos de sushis, pratos típicos japoneses. O makizushi é o tradicional bolinho de arroz enrolado em torno de vários ingredientes e envolto por uma capa de alga desidratada. O inarizushi é uma trouxinha de tofu frito (alimento japonês feito de soja, com consistência semelhante ao queijo frescal) com arroz e outros ingredientes. 18 Fujimbu é o grupo de mulheres, ou departamento feminino, do kenjinkai. 19 Kazokukai é uma associação de famílias.
208
Trabalhando duro para atingir os objetivos do kenjinkai
Para efeito de análise segundo o percurso gerativo de sentido, foi considerado que
todas as seções do boletim formam um “único texto”. É a narrativa que emerge
desse “único texto” que será estudada. Tem-se, dessa forma, a seguinte estrutura:
• EDITORIAL, enfocando as atividades do kenjinkai, com os temas “Undokai”,
“Festa do Yakissoba”, excursão às Thermas de Rio Preto e “Festival do Japão”;
• Quadro com aviso sobre inscrições para bolsas de estudos no Japão;
• “Alex Calio é bolsista de estágio...”, com nota sobre o bolsista de estágio
Shimane 2010;
• UNDOKAI, matéria com depoimento de Erika Hirakata e fotos do evento;
• “SENADOR JORGE YANAI, PRIMEIRO SENADOR NIKKEI...”, que trata da
homenagem prestada ao senador na Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa;
• FESTIVAL DO JAPÃO, anúncio e convocação de voluntários para o evento;
• NOTÍCIAS DE SHIMANE, que traz o depoimento do ex-associado Tadashi
Yurizawa, que retornou ao Japão e conta sobre sua nova atividade naquele
país;
• FESTA DO YAKISSOBA, que reporta o tradicional evento realizado pelo
Shimane Kenjinkai.
O Dan Dan News é voltado para os associados do Shimane Kenjinkai, pois ele é
acessível por meio do link “Associados”. O boletim número 136 segue o roteiro
previsto para um órgão de comunicação oficial da instituição elaborado para ser lido
por seus membros: informar, motivar e entreter os associados. Apesar disso, o
boletim está disponível numa área “pública” do site, tornando-o acessível a todas as
pessoas. A maior parte do conteúdo desse número de boletim é voltada para noticiar
a realização de eventos sociais promovidos pelo kenjinkai e de atividades das quais
209
ele participa. Mas há também informações sobre seus associados e sobre o
intercâmbio com a província mãe. A mudança de estado que caracteriza a narrativa
do texto do boletim é a transformação da situação pressuposta de “Passividade” –
caso o kenjinkai não desenvolvesse os seus projetos nem divulgasse as notícias – e,
portanto, sua irrelevância para os próprios associados, para a comunidade nikkei e
para a sociedade brasileira em geral, para o estado de “Atividade”, que é
concretizada através da informação de acontecimentos de assuntos e temas ligados
ao kenjinkai. As atividades desenvolvidas pelo Shimane Kenjin que procuram
integrar as culturas do Brasil e do Japão e auxiliar outras entidades beneficentes são
a promoção do undokai, gincana poliesportiva desenvolvida pelo Seinen Chugoku; a
participação no Festival do Japão, evento que envolve toda a comunidade nikkei da
cidade de São Paulo, e a realização do Festival do Yakissoba, tradicional evento
promovido pelo kenjinkai. A citação, no quadro, de texto das inscrições para bolsas
de estudo na província de Shimane, a nota “Alex Calio é o bolsista de estágio de
Shimane 2010” e o depoimento do sr. Yurizawa, na seção “Notícias de Shimane”,
são exemplos de textos que apresentam o cumprimento do objetivo de manter o
intercâmbio cultural com a província de Shimane no Japão. O texto “Senador Jorge
Yanai, primeiro senador nikkei, é homenageado no Bunka”20 é um exemplo de
exposição da projeção de um provinciano no cenário político brasileiro. Todas essas
matérias presentes nesse número do boletim formam um texto único, que analisado
em sua totalidade ajuda na construção da identidade do ator da enunciação. A
narrativa do texto parte do estado inicial pressuposto de um kenjinkai inativo e
isolado e, portanto, irrelevante, para atingir o estado final de uma associação de
província ativa e relevante na comunidade nikkei e na sociedade brasileira.
20 Bunka (ou Bunkyo) é o nome abreviado em japonês da Associação Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social (em japonês: ブラジル日本文化福祉協会 - Burajiru Nihon Bunka Fukushi Kyōkai).
210
O trabalho em equipe construindo a identidade cultural
O boletim Dan Dan News mostra aos seus públicos o cumprimento dos três objetivos
do kenjinkai declarados no frame principal da home page do seu site, legitimando a
associação e atestando sua relevância, fator primordial para a consecução do
processo de institucionalização da organização, o que consequentemente influencia
na construção de sua identidade cultural. A pressuposta inatividade da associação
seria um testemunho da não-realização de seu motivo de existência e concorreria
para atestar sua irrelevância. Dessa forma, essa proposição de legitimação do
kenjinkai encontra-se presente em todo o discurso do boletim. Na seção
EDITORIAL, o texto diz que o sucesso da empreitada em desenvolver os objetivos
do kenjinkai é obtido através de “trabalho árduo”, de “muita dedicação que nunca
aparece” e do “esforço incansável de alguns voluntários”. E enfatiza e valoriza a
participação e o empenho coletivo para os bons resultados obtidos. Há um “tom” de
proximidade com o leitor do boletim que procura construir uma “cumplicidade” entre
o Shimane Kenjin e o internauta/leitor – que possivelmente é um associado. O
emprego de dêiticos que expressam a primeira pessoa e determinam temporalidade
para o “agora” configuram a desembreagem enunciativa actancial e temporal,
exemplificados a seguir:
... temos novos desafios... Certamente precisaremos da ajuda de mais colaboradores ... ... mas contamos desde já com o empenho de todos.
... neste último trimestre ... E agora, no próximo trimestre ... ... mas contamos desde já com o empenho de todos ...
O uso de recursos para se construir uma cumplicidade com o internauta/leitor se
manifesta-se, ainda, no emprego de expressões como: “Vamos lá” e “Mãos à obra”.
211
O quadro de texto que divulga as inscrições para bolsas de estudo 2011 começa
com a palavra “Atenção”, seguida de quatro pontos de exclamação. Ele está escrito
em vermelho, centralizado, com um corpo maior que o de texto normal, atribuindo
grande destaque ao tópico na página, atraindo a atenção do leitor e cumprindo o
objetivo de divulgar o programa de intercâmbio do kenjinkai com a província-mãe por
meio das bolsas de estudo. A frase “É uma grande oportunidade para adquirir
experiência” denota um incentivo ao leitor para conhecer ou participar, delineando
um discurso persuasivo. Essa mensagem é dirigida tanto ao público jovem – perfil de
estagiário previsto pelos programas de bolsa – como para todos os participantes do
kenjinkai, pois seu anúncio cumpre a função de comunicar à comunidade a
concretização do propósito de realizar intercâmbio com a província de Shimane.
O texto “Alex Calio é bolsista de estágio Shimane 2010” é acompanhado por uma
foto da face do candidato ao estágio, atribuindo ao texto o efeito de sentido de
realidade, insinuando que “Alex Calio existe de fato. Nessa parte do boletim, o texto
procura criar a impressão de objetividade começando a narração em terceira
pessoa. Há uma breve apresentação do bolsista, com informações sobre sua idade,
curso que concluiu, Universidade onde estudou, cidade onde fará o estágio e o
período deste. O texto apresenta, também as expectativas do bolsistas, atribuindo-
lhe voz na enunciação, através de uma desembreagem interna: “Tenho expectativas,
também, quanto à receptividade dos japoneses, espero fazer muitas amizades!”. O
tom objetivo e de distanciamento estabelecido no início da “matéria” é desconstruído
com a mudança do actante de terceira pessoa para o de primeira pessoa, com a
inclusão da expressão: “Alex, torcemos por você: GAMBARÊ!!!!”, denotando
proximidade e subjetividade por parte de quem emite o discurso, fazendo
transparecer a dimensão informal e familiar do kenjinkai no texto.
212
A seção “UNDOKAI” é apresentada na forma de depoimento, por meio do título “A
equipe jovem do Bloco Chugoku sob o comando do Tottori21 realizou Undokai com
muita diversão e brindes!!” e “bigode” (em jornalismo, texto logo abaixo do título): “A
Érica Hirakata que participa ativamente do seinembu (grupo de jovens) do Bloco
Chugoku (nome da região administrativa da qual a província de Shimane faz parte) e
do Shimane Kenjin conta com outro olhar o bonito Undokai (gincana de
confraternização) que aconteceu maio passado”. Esse texto tem assinatura da
própria Érica Hirakata, que incorpora a “voz” da associação. Há uma descrição do
sucesso do evento e da emoção de poder participar de sua realização. Como o
discurso é construído na primeira pessoa, a desembreagem actancial enunciativa
manifesta-se por todo o texto, produzindo subjetividade e cumplicidade, no qual a
autora expõe suas opiniões, impressões e desejos, exemplificados nos seguintes
trechos:
Saber que todo o esforço valeu à pena, e que a vontade de dar continuidade ao Undokai para as próximas gerações é maior que a defasagem de organizadores e colaboradores! ... eu só quis mostrar um pouco do que se passa por trás das cortinas, para que o Undokai seja um espetáculo! Parabéns pelo sucesso de mais um Undokai! E desejo que esse espetáculo continue por muitas e muitas gerações!
A voz dada à autora do texto incorpora o discurso do kenjinkai (ou poderia se dizer
que o kenijinkai usa a sua “voz” para produzir seu discurso) de desejo de que as
“gerações” mantenham essas práticas e tradições, e para isso é necessário o
envolvimento e a participação de todos, ou, pelo menos, do esforço e da abnegação
de alguns. Essa rápida referência a “gerações” faz transparecer um caráter
identitário importante do kenjinkai: o de uma associação que pretende perpetuar as
tradições japonesas, que teve seu início em Shimane, no Japão, mas existe no
21 Tottori se refere ao kenjinkai dessa província, pertencente ao “bloco Shugoku”, que liderou o undokai.
213
Brasil e pretende-se que continue a existir por “gerações”, cumprindo seus objetivos.
Há três pequenas fotos no início do depoimento que ilustram essa parte do texto. A
primeira apresenta um momento de competição do undokai, com duplas conduzindo
pneus; a segunda foto mostra pessoas sentadas debaixo de uma cobertura,
assistindo ao evento, e a terceira retrata o desenvolvimento da atividade de radio
taisso, pois a formação e a postura das pessoas parecem indicar isso. As fotos de
pessoas são um recurso usado para atribuir impressão de realidade ao discurso.
O texto “Senador Jorge Yanai, primeiro senador nikkei, é homenageado no Bunka”
tem seu título escrito todo em caixa alta, conferindo um grande destaque à matéria.
O discurso dessa parte do boletim é construído com uma desembreagem actancial
enunciativa, o que, juntamente com o uso abundante de adjetivações, como “noite
memorável”, “com toda pompa” e “personalidades expressivas”, a torna bastante
subjetiva. Esse efeito de proximidade é produzido também com o emprego de
expressões informais, como “diga-se de passagem”, “para nosso orgulho, originário
da província de Shimane”. Uma foto ilustra o texto, apresentando com destaque o
senador, o presidente do Shimane Kenjinkai e o presidente honorário da associação,
conferindo efeito de realidade.
Em noite memorável, no dia 07 de maio passado, o agora senador, diga-se de passagem, o primeiro senador Nikkei e para nosso orgulho, originário da província de Shimane, Jorge Yanai, foi homenageado pela comunidade nipo-brasileira paulista com toda a pompa na sede da Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa.
Compareceram a esta cerimônia personalidades expressivas de nossa comunidade e dentre eles o presidente do Shimane, Hideo Kodagawa e o presidente honorário Keinosuke Adachi.
A seção “FESTIVAL DO JAPÃO” é um anúncio do importante evento da comunidade
nikkei de São Paulo e uma solicitação de ajuda – principalmente para os jovens – para
participar do Festival. Uma foto do estande montado em uma das edições do evento
214
ilustra a chamada, que elogia os dotes culinários do fujimbu (grupo de mulheres) e
constrói seu discurso na primeira pessoa, evidenciando intenção de subjetividade e
proximidade. A frase em japonês “Yoroshiku Onegaishimasu!!!!!”, que significa: “Por
favor, nos ajudem”, encerra a seção, fazendo transparecer um traço identitário
japonês expresso no uso de expressões japonesas para apelar ao espírito de
coletividade nipônica.
A seção “NOTÍCIAS DE SHIMANE” traz um depoimento, em primeira pessoa, do ex-
associado Tadashi Yurizawa, que deixou o país após um período de 35 anos no Pará,
quando atuou no norte do Brasil como agricultor. Estabelecido no Japão há nove
anos, o sr. Yurizawa relata o cotidiano de sua atual atividade profissional e manifesta
sua gratidão ao “grande apoio dos membros da Associação Shimane Kenjinkai”
recebido em todo o período em que esteve no Brasil. Ele deixa registradas as suas
dificuldades no trabalho, mas também, a satisfação que tem ao desenvolvê-lo:
A administração não é nada fácil, é bastante penosa, mas a gratidão dos idosos torna esta atividade compensadora, transformando em grande satisfação o meu dia a dia no Japão.
A natureza dos afazeres profissionais do sr. Yurizawa, ex-associado do kenjikai, é
muito similar àquelas desenvolvidas pelo Shimane Kenjin, pois envolve atividades de
assistência social e envolvimento com famílias. Portanto, a “voz” dada ao sr.
Yurizawa é compatível com o discurso do kenjinkai, de “auxiliar outras entidades
beneficentes brasileiras”, conforme está expresso no texto da home page da
associação. Seu depoimento, portanto, se encaixa perfeitamente no discurso de
beneficência apregoado pelo Shimane Kenjin e liga, ainda, o kenjinkai com a
província, estabelecendo não apenas o elo de identificação através da cultura, mas
também pelos valores de beneficência compartilhados por ambos.
215
O boletim Dan Dan News explora uma temática que está presente em muitas seções
e pode ser sintetizada nas ideias “Trabalho árduo coletivo e satisfação” e
“comunidade”. O trabalho duro, principalmente o realizado em equipe, resulta no
alcance dos objetivos propostos e na satisfação pessoal de quem participa dos
empreendimentos. Essa temática é explorada no “EDITORIAL”, que frisa que o
“trabalho árduo” com “muita dedicação” e “esforço incansável” deu “fruto” e “culminou”
em “grande sucesso”. Na seção “UNDOKAI” as colocações são semelhantes: o texto
afirma que “é árduo todo o processo” e que “dá uma desanimada quando precisamos
correr atrás do pessoal para pedir ajuda na organização”. Mas a recompensa pelo
esforço ocorre quando algumas pessoas “compreendem as dificuldades da realização
deste tipo de evento" e começa a haver “muita colaboração”, a ponto de a equipe
acabar “se tornando uma pequena (de número), mas grande (de coração) família”. E,
ao final de tudo isso, há “uma satisfação de missão cumprida, de ter conseguido
atingir os objetivos”. Na seção “NOTÍCIAS DE SHIMANE”, o depoimento do sr.
Yurizawa, que cuida de idosos, traz essa mesma temática, como já foi visto,
sintetizada na frase: “A administração não é nada fácil, é bastante penosa, mas a
gratidão dos idosos torna esta atividade compensadora, transformando em grande
satisfação o meu dia a dia no Japão”. A foto que ilustra o depoimento apresenta o sr.
Yurizawa sorrindo, na presença de uma anciã com cabelos brancos, que também
sorri, concretizando e validando seu depoimento, reforçando o discurso de que “o
esforço despendido vale a pena” e conferindo efeito de realidade ao discurso. A
matéria “FESTA DO YAKISSOBA” relata os resultados obtidos pelo esforço conjunto
dos associados, já no seu título: “Grande número de associados e visitantes deram
um brilho especial à tradicional festa do Yakissoba”. Duas fotos ilustram a matéria,
apresentando uma vista panorâmica do salão da associação com diversas mesas
ocupadas, confirmando a presença de muitas pessoas no evento. A seção “FESTIVAL
216
DO JAPÃO” anuncia a data da próxima edição do tradicional evento da comunidade
nikkei, estabelecendo um novo desafio a ser vencido pelo kenjinkai e convocando os
voluntários para participar de mais um trabalho árduo e conquistar mais uma vitória.
Todo o trabalho é desenvolvido num esforço coletivo, estimulando o espírito
comunitário, explorando o sentimento de amizade, de comprometimento e o
ambiente familiar observado no relacionamento entre a equipe, construindo, assim, o
discurso de que o kenjinkai é uma grande família.
Há três figuras utilizadas no boletim. No “EDITORIAL”, há duas: a primeira refere-se
aos resultados do trabalho árduo e dedicado de muitos associados, que “é fruto do
esforço incansável de alguns voluntários”, em que se explora a figura do agricultor
que, após um trabalho duro de aragem, semeadura e plantio, colhe jubilosamente os
frutos de seu trabalho. A segunda figura é explorada na frase “a Festa do Yakissoba
sob a batuta do departamento feminino do Shimane”, que compara o fujimbu do
kenjinkai a um regente de orquestra – ele é quem usa a “batuta” na condução dos
músicos –, que dirige os demais departamentos em harmonia, a fim de que possa
ser realizada uma bela apresentação musical. Uma terceira figura é utilizada na
seção “UNDOKAI”, quando a narradora “Érika Hirakata” compara a equipe que
trabalhou na organização do undokai a uma “pequena grande família”, pois
manifestou um grau de colaboração em meio a dificuldades que só se encontra no
âmbito familiar. Dessa forma, o kenjinkai, no desenvolvimento de suas atividades, é
comparado a um lavrador que, após muito trabalho, colhe seus frutos; a uma
orquestra que, com trabalho disciplinado, preciso e sincrônico, sob a batuta do
regente executa uma obra artística e a uma família que, com união e colaboração,
vence as dificuldades. O realizar e o ser são aspectos identitários explorados através
dessas figuras: trabalho árduo em conjunto, harmonia e disciplina, ambiente familiar.
217
Trabalhando-se arduamente em grupo, manifesta-se esse traço identitário de
comunidade trabalhadora; trabalhando-se coordenadamente “sob a batuta”, o
trabalho é realizado com harmonia e arte, características da identidade do kenjinkai
e, por fim, trabalhando-se comprometidamente, como numa família, expressa-se
nitidamente a dimensão comunitária familiar do Shimane Kenjin. Esse esforço árduo,
harmônico, em conjunto, é incorporado à identidade do sujeito, que se torna,
coletivamente, trabalhador, esforçado, incansável.
O texto do boletim usa diversas interjeições, em português ou japonês, como “Mãos
à obra!!!”, “Gambarê!!!” e “Yoroshiku Onegaishimasu!!!!”, grafadas em fontes de tipos
e cores diferentes das utilizadas no texto convencional, que expressam palavras de
estímulo aos associados na direção do trabalho árduo, em conjunto, num ambiente
comunitário. O uso de expressões em japonês (dan dan, yakissoba, undokai,
gambarê, makizushi, inarizushi, radio taisso, obentô, fujimbu, seinen, yoroshiku
onegaishimasu entre outros) remete à identidade japonesa do kenjinkai. Por outro
lado, o emprego de termos informais em português, como “para abastecer a galera”,
“dá uma desanimada”, “para darmos conta deste evento” evocam a sua identidade
brasileira, fornecendo pistas para sua formulação identitária nikkei, apontando uma
japonesidade e uma brasilidade simultâneas.
Shimane Kenjin: atividades e institucionalização
O texto do boletim Dan Dan News pode ser descrito, no nível das estruturas
fundamentais, pelo mesmo binômio “Passividade vs. Atividade”, fornecendo um
quadrado semiótico com as seguintes possibilidades de relações semânticas de
contrariedade, contradição e complementaridade (diagrama 3.8).
218
Passividade x Atividade e Não-Passividade x Não-Atividade:
eixo de contrariedade e de subcontrariedade
Passividade x Não-Passividade e Atividade x Não-Atividade: eixo de contradição
Passividade x Não-Atividade e Atividade x Não-Passividade: eixo de complementaridade
Diagrama 3.8 – Quadrado semiótico com as relações “Passividade” x “Atividade”
“Inatividade” é uma condição disfórica, pressuposta, pois essa condição não é
descrita na narrativa, ao passo que a “Atividade” – que caracteriza a associação – é
uma condição eufórica, pois legitima a sua existência e justifica as ações do
Shimane Kenjin. A “Passividade” é pressuposta como um estado possível, em
contraste com aquilo que é efetivamente mostrado no texto: o desenvolvimento de
atividades sociais, de intercâmbio e de levantamento de recursos para outras
entidades beneficentes: o Undokai, as bolsas de intercâmbio para estudar e estagiar
no Japão, o Festival do Japão e a Festa do Yakissoba. O texto com menção à
homenagem feita ao senador no Bunka e o depoimento do ex-associado sr. Yurizawa
complementam esse aspecto do discurso, de que o kenjinkai está “em atividade”, “em
movimento” e tem papel relevante tanto na sociedade brasileira (na homenagem feita
ao senador) quanto na sociedade japonesa (no depoimento dado pelo ex-associado
sr. Yurizawa). Todo esse ativismo é a manifestação da busca pelo reconhecimento no
processo de institucionalização do Shimane Kenjin.
219
3.3.3. TEXTO DO LINK “BAZAR BENEFICENTE”
O link “Bazar Beneficente” está dentro do link “Eventos”. O texto dessa página
também é sincrético, mas além das linguagens verbal e visual, há incorporação da
linguagem sonora. Essa página anuncia o 9º Bazar Beneficente Shimane, e fornece
informações de data, endereço, quem realiza o evento, qual entidade social será
beneficiada e objetivo do Bazar. Logo abaixo desse texto, há um convite para que o
enunciatário participe e veja álbuns de imagens das edições anteriores. A
diagramação é variada e apresenta fontes e cores aleatórias, não seguindo um
padrão determinado. Logo abaixo dessas informações, um mapa, gerado no
aplicativo Google Maps, indica a localização do evento. Ao final, há nove caixas de
conteúdo com aplicativos de álbum de imagens estáticas (Picasa) e dinâmicas
(YouTube), referentes às edições de 2013 a 2010 (Picasa) e de 2009 a 2006
(YouTube) (Figuras 3.16 e 3.17).
Figura 3.16 – Página do link “Bazar Beneficente” – parte inicial
220
Figura 3.17 – Página do link “Bazar Beneficente” – parte final
Texto da seção Eventos / Bazar Beneficente:
9º BAZAR BENEFICENTE SHIMANE
Venha antecipar suas compras de Natal e fazer parte do 9º ano de sucesso de uma boa ação!
10 de Novembro de 2013
10:00 às 17:00 horas
Rua das Rosas, 86 - Praça da Árvore
[ (Aplicativo Google Maps) ]
Capim dourado, Biscuit, Bonsai, Brinco de Origami, Cerâmica, Origami em Tecido, Bordados, Patchwork, Oshibana, Tapete de Barbante, Pão de mel, Salgados, Conservas, e muito mais!
Realização: Associação Beneficente Shimane Kenjin do Brasil
Rua das Rosas, 86 - Praça da Árvore - São Paulo - SP
Entidade Beneficiada: Creche Girassol, situada à Rua Pero Correa, 162 – Vila Mariana – São Paulo (SP). Tel.: 5549-6117
Bazar Beneficente Shimane - R. das Rosas, 86 - Praça da Árvore, São Paulo, 04048-000
O objetivo deste bazar é valorizar o trabalho manual de qualidade, para que os visitantes saiam satisfeitos com a compra e que mais renda seja revertida em produtos para a entidade beneficiada!
Queremos que todos que participem deste ciclo sejam beneficiados!
Contamos com a sua participação!
Veja como foram as edições anteriores do Bazar!
221
É possível fazer um resumo esquemático geral de todos os álbuns de imagens, por
meio da breve descrição do conteúdo apresentada a seguir:
Bazar Beneficente Shimane 2013 (Aplicativo Picasa). 62 imagens. Imagem 1: Faixa anunciando o Bazar no portão do kenjinkai. Imagem 2: texto: “comissão organizadora e voluntários”. Imagens 3 a 59: imagens das bancas com os responsáveis e detalhes dos produtos. Legendas em algumas delas como: “conservas”, “capim dourado” e “origami em tecido”, entre outras. Imagem 60: visão geral do bazar. Imagem 61: comissão organizadora e voluntários. Imagem 62: detalhe de produto.
Bazar Beneficente Shimane 2012 (Aplicativo Picasa). 84 imagens. As imagens têm a legenda: “Bazar Shimane 2012 * Bazar Shimane 2012 * Bazar Shimane 2012”. Imagem 1: fachada do kenjikai com faixa no portão anunciando o bazar. Imagem 2: faixa no portão anunciando o bazar. Imagem 3: quadro de avisos interno anunciando o bazar com imagens dos bazares anteriores. Imagens 4 a 6: pessoas falando ao microfone. Imagem 7: pessoa preparando banca no bazar. Imagens de 8 a 47: imagem da "banca" com responsável (eis) e detalhes dos produtos. Imagem 48: voluntários trabalhando nos bastidores. Imagens 49 e 50: imagem da "banca" com responsável (eis) e detalhes dos produtos. Imagem 51: visão geral do bazar. Imagem 52: urna para sorteio. Imagem 43: prêmios para sorteio. Imagens 54 a 83: premiação dos sorteados. Imagem 84: pessoas com produtos eletrônicos diante da faixa do bazar.
Bazar Beneficente Shimane 2011 (Aplicativo Picasa). 30 imagens. Imagens 1 e 2: Entrega das doações à entidade beneficiada. As imagens têm a legenda: “Entrega das doações ao Kibo no iê”. Imagens 3 a 30: imagem das banca com os responsáveis e detalhes dos produtos. As imagens têm legendas como “biscuit”, “brinco de origami”, “cerâmica” etc.
Bazar Beneficente Shimane 2010 (Aplicativo Picasa). 20 imagens. As imagens têm a legenda: “Bazar Shimane 2010 * Bazar Shimane 2010 * Bazar Shimane 2010”. Imagem 1: fachada do kenjikai com faixa no portão anunciando o bazar. Imagens 2 a 20 - imagens do bazar: bancas, pessoas, visão geral do bazar.
Bazar Beneficente Shimane 2009 (Aplicativo YouTube). 15 imagens. Tempo: 1:29 seg. Fundo musical instrumental: Garota de Ipanema, música de Tom Jobim e letra de Vinicius de Moraes. Transição entre as imagens com efeitos variados. As imagens não têm legenda. De 0s a 3s – tela com fundo azul com texto: 5º Bazar Beneficente Shimane 08/11/2009. De 4s a 48s – 9 imagens do bazar: bancas, pessoas, visão geral do bazar. De 49s a 1:15s – 6 imagens da equipe de trabalho diante da faixa do bazar. De 1:16s a 1:29s – tela com fundo azul com texto que rola de baixo para cima na tela: - Agradecimento: Visitantes, Expositores e Colaboradores. - Entidade Beneficiada: Asilo Lar Nossa Sra. da Conceição. - Coordenadoras: Alice e Júlia.
Bazar Beneficente Shimane 2008 (Aplicativo YouTube). 46 imagens. Tempo: 4:03 seg. Fundo musical instrumental: Wave, música e letra de Tom Jobim. De 0s a 2s – tela com fundo azul com texto: 4º Bazar Beneficente Shimane 09/Nov/2008. Textos em movimento sobre as imagens que correspondem a cada tipo de artesanato e as pessoas responsáveis, como: “Bijuteria fina: Patrícia”, “Pijamas: Ivete” e “Origami: Vivian”, entre outros.
222
De 3s a 3:48s – 44 imagens do bazar: bancas, pessoas, visão geral do bazar. De 3:49s a 3:53s – 2 imagens da equipe de trabalho diante da faixa do bazar. De 3:54s a 4:03s – tela com fundo azul com texto que rola de baixo para cima na tela: - 4º Bazar Beneficente Shimane. - Agradecimento: Visitantes, Expositores e Colaboradores. - Entidade Beneficiada: Asilo Lar Nossa Sra. da Conceição. - Coordenadoras: Júlia, Marina e Vilma.
Bazar Beneficente Shimane 2007 (Aplicativo YouTube). 35 imagens. Tempo: 3:45 seg. Fundo musical com parte cantada: Aquarela do Brasil, música e letra de Ary Barroso. De 0s a 2s – tela com fundo azul com texto: 3º Bazar Beneficente Shimane 16/Nov/2008. Transição entre as imagens com efeitos variados. As imagens não têm textos. De 3s a 3:14s – 44 imagens do bazar: coordenadoras do bazar, montagem das bancas, visão das bancas, das pessoas, visão geral do bazar. De 3:15s a 3:29s – 3 imagens da equipe entregando as doações. De 3:30s a 3:45s – tela com fundo azul com texto que rola de baixo para cima na tela: - 3º Bazar Beneficente Shimane. - Agradecimento: Visitantes, Expositores e Colaboradores. - Entidade Beneficiada: Creche Recanto do Pequenino. - Coordenadoras: Marina e Vilma
Bazar Beneficente Shimane 2006 (Aplicativo YouTube). 29 imagens. Tempo: 3:11 seg. Fundo musical instrumental: Chega de Saudade, música de Tom Jobim e letra de Vinicius de Moraes.
De 0s a 2s – tela com fundo azul com texto: 2º Bazar Beneficente Shimane 12/Nov/2008. De 3s a 2:48s – 28 imagens do bazar: bancas, pessoas, visão geral do bazar, imagem das coordenadoras do bazar. Textos em movimento sobre as imagens que correspondem a cada tipo de artesanato, como: “Bijuteria Fina”, “Arte em Jornal” e “Anime”, entre outros. De 2:49s a 2:58s – 1 imagem da equipe segurando a faixa do bazar na entrega das doações De 2:59s a 3:11s – tela com fundo azul com texto que rola de baixo para cima na tela: - 2º Bazar Beneficente Shimane. - Agradecimento: Visitantes, Expositores e Colaboradores. - Entidade Beneficiada: Lar de Idosos Vivência Feliz. - Coordenadoras: Kazuko e Sizue.
Bazar Beneficente Shimane 2005 (Aplicativo YouTube). 31 imagens. Tempo: 3:19 seg. Fundo musical instrumental: Carinhoso, música de Pixinguinha e letra de João de Barro. De 0s a 2s – tela com fundo azul com texto: 1º Bazar Beneficente Shimane 06/Nov/2008. De 3s a 7s – Rrédio do kenjinkai com a legenda: “Sede da Assoc. Shimane Kenjin do Brasil”. De 8s a 2:44s – 28 imagens do bazar: bancas, pessoas, visão geral do bazar, imagem das coordenadoras do bazar. Transição entre as imagens realizada com efeitos variados. Textos em movimento sobre as imagens que correspondem a cada tipo de artesanato, como: “Almofada Infantil”, “Arte em Jornal” e “Anime”, entre outros. Algumas imagens apresentam legendas estáticas, como “Sr. Arimitsu ensinando a fazer origami”, “Visitantes”, “Os jovens ajudando no caixa” etc. Outras imagens não têm legenda e mostram momentos do bazar. De 2:45s a 3:01 – 3 imagens apresentando a entrega das doações. De 3:02s a 3:07s – imagem dos voluntários segurando a faixa do bazar e legenda: “Almoço de confraternização”. De 3:08s a 3:19s – tela com fundo azul com texto que rola de baixo para cima na tela: - 1º Bazar Beneficente Shimane. - Agradecimento: Visitantes, Expositores e Colaboradores. - Entidade Beneficiada: Casa de Repouso Vovô Pedro e Vovó Joana. - Coordenadoras: Érica e Sônia.
Quadro 3.4 – Quadro com resumo esquemático dos álbuns de imagens do link “Bazar Beneficente”
223
Os aplicativos de álbum de imagens Picasa e YouTube são semelhantes: eles
ocupam um espaço de uma foto na página, mas quando acionados ambos exibem
automaticamente uma sequência de fotos nesse espaço, assumindo a função de
uma pequena tela de vídeo (o Picasa oferece a opção de visualização manual). A
diferença básica entre eles é que o Picasa, no modo automático, faz a apresentação
de imagens estáticas com opção de mostrar ou não as legendas, enquanto o
aplicativo do YouTube permite incluir sons – fundo musical – e ainda oferece opções
de efeitos visuais na transição entre as fotos. Além disso, os textos e legendas
aplicados no YouTube podem ser providos de efeitos de animação – apresentar
imagens em movimento e em transformação. As figuras 3.18 a 3.22 apresentam
alguns aspectos dos aplicativos Picasa e YouTube.
Figura 3.18 – Aspecto de exibição de imagem do aplicativo Picasa
224
Figura 3.19 – Exibição de legenda no aplicativo Picasa
Figura 3.20 – Início de exibição no aplicativo YouTube
225
Figura 3.21 – Exibição de textos sobre imagem no aplicativo YouTube
Figura 3.22 – Exemplo de transição de imagens no aplicativo YouTube
226
O texto total analisado nessa parte do site é constituído pelas linguagens verbal
escrita e multimidiática, essa última formada pelas imagens em movimento – que
inclui também textos escritos – e música. O texto total é um convite para a
participação da 9ª edição do “Bazar Beneficente” realizado nas dependências do
Shimane Kenjin. Informações básicas sobre o que é, quando vai ser, onde e por que
será feito o bazar são dadas nesse link. Os álbuns de imagens são um reforço para
que o narratário – o internauta – tenha noção de como foram as edições anteriores e
seja convencido a participar da edição anunciada. Os vários álbuns de imagens que
documentam cada um dos bazares que já aconteceram relatam, com imagens, os
momentos “antes”, “durante” e “depois” do bazar, dando destaque às pessoas, aos
produtos vendidos no evento e à equipe que organizou e participou daquela edição.
Todos trabalhando juntos para fazer o bem
Fazendo-se uma análise geral de modo conjunto de todos os álbuns de imagens,
encontraram-se uma “narrativa comum” e um “discurso comum”, que emergem das
sequências de imagens de cada edição do Bazar Beneficente Shimane, uma vez
que a “estrutura narrativa” de todos os nove álbuns de imagens é praticamente a
mesma. Elas podem ser assim resumidas: são mostradas dezenas de imagens do
evento (de 15 a 84 imagens), nas quais aparecem os expositores em suas bancas,
os detalhes dos produtos expostos e as pessoas que ajudaram no evento; o registro
de variadas imagens dos participantes do evento também pode ser visto; em alguns
álbuns há, ainda, imagens da montagem do lugar de exposição (salão do kenjinkai),
foto dos organizadores da edição do evento, da faixa promocional do evento
colocada à frente do kenjinkai com a equipe de trabalho e cenas da entrega das
doações às instituições beneficiadas, estas, diferentes a cada edição. Em todos os
álbuns de imagens montados para o YouTube, há um fundo músical instrumental
227
que acompanha toda a sequência da apresentação. Elementos textuais escritos
também estão presentes, como uma tela inicial identificando a edição do evento,
legendas curtas explicando as fotos e, ao final, telas explicativas com textos escritos
com informações sobre o destino das doações, agradecimentos e menção dos
nomes das pessoas responsáveis por aquela edição do bazar.
O foco desse texto é a mudança de estado inicial pressuposto de “Indiferença” para o
estado final de realização de “Beneficência”. Como já foi visto na análise da home
page do Shimane Kenjin, um dos objetivos do kenjinkai é “auxiliar outras entidades
beneficentes brasileiras”. O cumprimento desse objetivo é um fato que justifica a
existência da associação e ressalta sua relevância. Nesse texto, o Shimane Kenjin,
na situação inicial pressuposta de não cumprimento de seu objetivo de auxiliar
outras entidades beneficentes – de indiferença –, começa a desenvolver o Bazar
Beneficente Shimane a partir de 2005, envolvendo os associados e convidando a
comunidade a participar do evento. Uma narrativa comum sintetizada a partir dos
álbuns de imagens pode ser descrita assim: no prédio do Shimane Kenjin, é
realizado todos os anos, num sábado no mês de novembro, um Bazar Beneficente.
Uma faixa anunciando o evento, colocada no portão do kenjinkai, anuncia o evento e
a entidade que será beneficiada desta vez. Uma equipe trabalha antes do evento,
montando as bancas onde serão expostos os produtos. Há uma diversidade de
mercadorias que serão vendidas no bazar, como: capim dourado, biscuit, bonsai,
brinco de origami, cerâmica, origami em tecido, bordados, patchwork, oshibana,
tapete de barbante, pão de mel, salgados, conservas, sushi, entre outros produtos. A
presença de várias pessoas comprando e vendendo as mercadorias na sede do
kenjinkai concorre para que, ao final do evento, os recursos levantados no bazar
sejam, enfim, utilizados para aquisição de produtos que serão doados a entidades
228
beneficentes. Imagens dos produtos sendo entregues a essas entidades e a
expressão de alegria e satisfação, tanto dos organizadores e voluntários do bazar,
quanto das pessoas das instituições beneficiadas demonstram que o objetivo de
ajudar foi atingido a contento. Dessa forma, cumpre-se, então, um dos objetivos da
associação declarados em sua home page: auxiliar outras entidades beneficentes
brasileiras.
Beneficência expressando japonesidade e brasilidade
O Shimane Kenjin, nesse texto total – textual e dos slides –, apresenta um discurso
que reforça o cumprimento de um dos objetivos da associação. A parte textual
escrita da página é um convite para participar da 9ª edição do evento. O discurso
todo é construído na primeira pessoa, e o recurso de desembreagem actancial
enunciativa manifesta-se por todo o texto, produzindo efeitos de subjetividade e
cumplicidade, exemplificados nas seguintes frases:
Queremos que todos que participem deste ciclo sejam beneficiados! Contamos com a sua participação!
Apesar de o evento já ter sido realizado em novembro de 2013, os recursos de
desembreagens temporal e espacial enunciativas são usados projetando o discurso
para o “aqui” e “agora”, anunciando o evento para a data de “10 de Novembro de
2013”, das “10:00 às 17:00 horas”, na sede da associação, situado na “Rua das
Rosas, 86 - Praça da Árvore”. O emprego do verbo no modo imperativo na segunda
pessoa produz efeito de proximidade e simula um diálogo com o internauta:
Venha antecipar suas compras de Natal... Contamos com a sua participação! Veja como foram as edições anteriores do Bazar!
229
Há um convite para “fazer parte do 9º ano de sucesso de uma boa ação!”,
reforçando o caráter persuasivo do discurso que segue a linha “faça uma boa ação”
e “participe de uma proposta de sucesso”, mensagem emitida justamente no período
de final de ano (no tempo proposto pelo texto), quando o espírito natalino de
solidariedade e confraternização é constantemente evocado. A possibilidade de
acesso aos álbuns das edições anteriores do bazar concorre, também, para o
desenvolvimento do discurso imagético persuasivo que, além de produzir o efeito de
realidade (“sim, o evento acontece mesmo, veja as fotos!”), convida o enunciatário a
participar do evento, discurso que pode ser sintetizado em colocações como: “veja o
esforço e dedicação da equipe de trabalho”, “olhe quantas pessoas estão
participando!”, “eis os produtos interessantes que são vendidos!”, “estas são as
comidas gostosas que são vendidas no evento!”, “a alegria das pessoas assistidas
pelas instituições que receberam os produtos vale o esforço!”. Outro discurso
fortemente presente na análise geral das imagens dos álbuns é a presença de
pessoas orientais e ocidentais como expositores em todas as edições dos bazares e
a exposição de produtos orientais e brasileiros/ocidentais para a venda. Essa
mistura entre elementos que representam o Japão/Oriente e elementos que
representam o Brasil/Ocidente presentes na mesma feira ajudam a construir um
discurso de integração harmônica, uma vez que o mesmo espaço é ocupado pelas
diferentes manifestações culturais e etnias, buscando um objetivo comum. Os rostos
sorridentes transmitem satisfação, entusiasmo e harmonia.
Há três temas desenvolvidos nessa parte do site: “harmonia entre as culturas”, “valor
do trabalho coletivo” e “virtude de se fazer o bem”. O primeiro é abundantemente
explorado na relação que se encontra na mistura dos elementos culturais
ocidentais/brasileiros e orientais/japoneses. As imagens dos álbuns mostram
230
produtos de diversas origens – alguns acompanhados de legendas –, como origami,
bonsai, sushi e oshibana (japoneses); e biscuit, patchwork, pão de mel, capim
dourado (ocidentais/brasileiros). A presença de pessoas de origem nipônica e não-
nipônica nas imagens, trabalhando juntas para um objetivo comum, reforça a
temática de “harmonia entre as culturas”. O “valor do trabalho coletivo”, tema caro às
comunidades nikkeis – e desenvolvido frequentemente no discurso do kenjinkai –
transparece nas sequências de imagens que mostram pessoas trabalhando,
retratando o “antes”, o “durante” e o “depois” do evento. Há imagens que registram
as pessoas desenvolvendo atividades sozinhas, em duplas ou em grupos maiores e
cenas em que a equipe toda é fotografada diante da faixa, funcionando como um
“registro de presença no evento”. No pensamento japonês o trabalho é importante, e
o exercício dessa atividade em grupo para obter resultados é primordial. A “virtude
de se fazer o bem” é um valor universal, desenvolvido culturalmente principalmente
por meio da religião. As religiosidades budista e cristã desenvolvem o espírito
voluntário e assistencial, tema que é explorado no anúncio da 9ª edição do evento,
ao utilizar os termos “Natal” e “boa ação” na frase: “Venha antecipar suas compras
de Natal e fazer parte do 9º ano de sucesso de uma boa ação!”. Para o cristão, o
Natal é uma data importante que evoca, além da ideia de “troca de presentes” e
confraternização, o “espírito de beneficência”. A referência ao Natal, portanto, é um
apelo para participar do Bazar e “contribuir” com a entidade beneficente a ser
auxiliada. Na visão budista (assim como na cristã), fazer uma “boa ação” é também
uma forma de desenvolver a espiritualidade. Essa temática de “fazer o bem” está
fortemente presente em quase todos os álbuns de imagens, quando se faz menção
do nome da entidade que será alvo das doações a cada edição do bazar e através
do registro de imagens das cerimônias de entrega dos produtos doados às
231
instituições beneficiadas. Em ordem decrescente de data, essas entidades
auxiliadas foram:
• 2013 - Creche Girassol
• 2012 - Centro de Reabilitação Social Yassuragui Home
• 2011 - Kibo-no-iê
• 2008 a 2010 - Asilo Lar Nossa Senhora da Conceição
• 2007 - Creche Recanto do Pequenino
• 2006 - Lar de Idosos Vivência Feliz
• 2005 - Casa de Repouso Vovô Pedro e Vovó Joana
Essa descrição das entidades beneficiadas procura estabelecer efeito de realidade,
conferindo credibilidade ao evento do kenjinkai e, por extensão, ajudando na
construção de sua imagem positiva e no seu processo de institucionalização. Outro
fator importante na análise no nível discursivo é o fundo musical incorporado aos
álbuns do aplicativo YouTube. As músicas selecionadas – todas instrumentais –,
compostas por autores brasileiros, são reconhecidas nacional e internacionalmente
como representantes de primeira linha da expressão da cultura brasileira e dos
valores nacionais. A trilha sonora, portanto, qualifica o discurso, atribuindo
intencionalmente uma brasilidade aos eventos. Relembrando as edições dos
bazares e respectivas trilhas musicais, temos:
2009 - Garota de Ipanema, música de Tom Jobim e letra de Vinicius de Moraes.
2008 - Wave, música e letra de Tom Jobim.
2007 - Aquarela do Brasil, música e letra de Ary Barroso.
2006 - Chega de Saudade, música de Tom Jobim e letra de Vinicius de Moraes.
2005 - Carinhoso, música de Pixinguinha e letra de João de Barro.
232
Muitas dessas músicas expressam brasilidade tanto na letra quanto na melodia. A
trilha musical é instrumental (com exceção de Aquarela do Brasil, que tem alguns
trechos cantarolados), mas não descaracteriza a “brasilidade”. Se as músicas
escolhidas fossem típicamente japonesas, a leitura que se faria do discurso do texto
total dessas sequências de imagens seria bastante diferente.
Uma cultura ou duas culturas
O texto do “Bazar Beneficente”, apesar de apresentar cenas dos eventos realizados,
apresenta, no nível das estruturas fundamentais, o binômio “Monoculturalidade vs.
Biculturalidade”, dispondo um quadrado semiótico com as possibilidades de relações
semânticas de contrariedade, contradição e complementaridade (diagrama 3.9).
Monoculturalidade x Biculturalidade e Não-Monoculturalidade x Não-Biculturalidade:
eixo de contrariedade e subcontrariedade
Monoculturalidade x Não-Monoculturalidade e Biculturalidade x Não-Biculturalidade:
eixo de contradição
Monoculturalidade x Não-Biculturalidade e Biculturalidade x Não-Monoculturalidade:
eixo de complementaridade
Diagrama 3.9 – Quadrado semiótico com as relações “Monoculturalidade” x “Biculturalidade”
233
“Monoculturalidade”22 é uma condição disfórica e se refere à condição de
predominância quase que exclusiva de elementos culturais de uma só cultura, seja
ela a japonesa ou a brasileira. É uma condição pressuposta que faz contraponto à
condição eufórica de “Biculturalidade” – a convivência das culturas japonesa e
brasileira simultaneamente –, que é um dos objetivos perseguidos pelo kenjikai e
constitui-se no fundamento sobre o qual todo o discurso é desenvolvido. A condição
de “Monoculturalidade” é pressuposta em contraste com a condição “Biculturalidade”,
presente na sequência de imagens, textos e músicas. A narrativa do link “Bazar
Beneficente” explora o cumprimento do objetivo de levantar recursos para outras
entidades assistenciais. Nos álbuns de imagens, o fator “Biculturalidade” está muito
presente, ao se apresentar vários rostos nipônicos e ocidentais cuidando das
bancas, na exibição tanto de produtos japoneses quanto de produtos brasileiros. As
entidades beneficiadas eram, sem sua maioria, brasileiras, mas em duas edições
duas instituições assistenciais nipônicas foram ajudadas (Kibo-no-iê e Yassuragui
Home). O uso de músicas brasileiras ao fundo dos álbuns do YouTube reforça um
traço cultural identitário brasileiro. A exaltação ao trabalho e a realização deste em
grupo expressam traços culturais japoneses. Os produtos e as pessoas que
participam são orientais e brasileiros. As instituições beneficiadas – todas brasileiras
– atendem brasileiros e japoneses. A biculturalidade é um fator subjacente em toda
a narrativa e no discurso apresentados na sequência de imagens. A
monoculturalidade, a expressão de uma cultura apenas, em detrimento de outras, é
sempre contraposta com a exposição simultânea de duas culturas. Apesar de haver
o risco de se incorrer em estereótipos culturais, a questão da “monoculturalidade” –
para uma compreensão mais concreta – poderia se manifestar na realização de um
22 Entenda-se por “monoculturalidade” a manifestação do predomínio de uma cultura referencial associada a um povo – japonês ou a brasileiro, por exemplo.
234
bazar tipicamente “japonês”, talvez em um lugar onde os participantes só falassem a
língua japonesa, ou numa festa “típica” brasileira, mesmo que estereotipada, como
uma “festa junina”.
3.3.4. O ATOR DA ENUNCIAÇÃO DO SHIMANE KENJIN
As três partes do site do Shimane Kenjin analisadas foram a) textos da home page;
b) Boletim em formato pdf Dan Dan News nº 136, de junho de 2010, postado na
seção “Associados” e c) link “Bazar Beneficente”, submenu do item “Eventos”. As
análises forneceram os elementos para a formulação identitária do ator da
enunciação Shimane Kenjinkai.
Os textos da home page trazem os elementos mínimos para apresentar o kenjinkai
ao internauta. A “Associação Beneficente Shimane Kenjin do Brasil é uma entidade
sem fins lucrativos que tem como objetivo manter intercâmbio cultural com a
província de Shimane”. O Shimane Kenjin faz uma introdução econômica de si, mas
apesar de não “contar sua história” nos moldes tradicionais, seu discurso apresenta
inúmeras ligações identitárias e culturais com o Japão e com a província de
Shimane, a começar pelo nome da associação e pela descrição de seu objetivo
primeiro: “manter o intercâmbio cultural com a província de Shimane no Japão”. O
título/link “Eventos” dá destaque ao “Bazar Beneficente Shimane” e à “Creche
Girassol”, entidade que será beneficiada pelo evento, grafados em fonte bold
vermelha, conferindo grande importância ao evento, que já entrou na programação
oficial da entidade e reflete um valor caro da associação: o trabalho coletivo do
kenjinkai, que se mobiliza para realizar o Bazar. O evento cumpre um dos objetivos
do Shimane Kenjin (auxiliar outras entidades assistenciais) e contém outro elemento
de constituição identitária e que consta na declaração de objetivos da associação: a
235
integração das culturas do Brasil e do Japão. No tópico “Cursos”, a variedade de
cursos disponibilizados às pessoas, sejam elas associadas ou não, também evoca o
valor dado à ação e ao fazer e aborda tanto atividades de origem japonesa/oriental
quanto atividades ocidentais/brasileiras, demonstrando equilíbrio nessa oferta e
evidenciando aspectos identitários biculturais: japoneses e brasileiros. Tanto no
título/link “Eventos” quanto no “Cursos” ou no “Aluguel do Salão”, há um convite para
a interação entre o internauta e o kenjinkai, seja participando do bazar beneficente,
seja inscrevendo-se em algum curso ou entrando em contado para realizar alguma
festividade no salão do Shimane Kenjin. Através da análise do discurso do site,
aspectos identitários do ator da enunciação Shimane Kenjin são definidos
principalmente por aquilo que ele faz. As ações desenvolvidas – o fazer – do
kenjinkai revelam seu apreço pelo trabalho coletivo e pela manifestação de
biculturalidade, evidenciada na oferta de cursos e atividades tanto de origem
japonesa/oriental quanto brasileira/ocidental – que também são calcadas no fazer –
e em sua vocação para a beneficência, expressa por meio da realização dos
bazares.
Na análise do boletim Dan Dan News nº 136 disponibilizado em formato pdf no link
“Associados”, também pode ser constatado que a identidade do kenjinkai se baseia
em atividades e realizações e sua identidade cultural transita entre a japonesidade e
a brasilidade. Uma série de marcas presentes no discurso aponta para a formulação
de uma identidade japonesa – ou nikkei –, identificadas no emprego recorrente de
termos que remetem diretamente à cultura japonesa, tais como undokai, yakissoba,
gambarê, makizushi, inarizushi, fujimbu. A personalidade do Shimane Kenjin
transparece nos depoimentos do sr. Yurizawa e de Érika Hirakata publicados no
boletim, que enaltecem os valores do esforço individual, do trabalho conjunto, e o
236
sentimento de comprometimento familial. Narrativas na dimensão comunitária,
beneficente e assistencial também são temas presentes no boletim (undokai e
depoimento do sr. Yurizawa), juntamente com as atividades de cunho integrador e
social (Festival do Japão e Festa do yakissoba) e ajudam a compor a identidade do
ator da enunciação com esses elementos de beneficência realizada
comunitariamente. O depoimento do ex-associado, agora residente no Japão, faz
uma ponte entre o kenjinkai e o Japão moderno: a província de Shimane é o ponto
de referência para o Shimane Kenjin não apenas para compor o passado, mas para
manter e desenvolver relacionamentos na atualidade, tal como proposto em um dos
objetivos da associação. A menção da homenagem prestada pela Sociedade
Brasileira de Cultura Japonesa ao senador Jorge Yanai expressa uma identidade
ligada à província, mas a menção da realização do undokai em conjunto com o bloco
Chugoku demonstra o relacionamento do Shimane Kenjin com a comunidade nikkei
de associações de província da mesma região do Japão (que de certa forma, realça
outro traço de japonesidade: desenvolver relacionamentos a partir de parâmetros
referenciais geográfico-políticos estabelecidos pelo Japão). Quando se solicitam
voluntários para o Festival do Japão, fica patente novamente a ligação do kenjinkai
com a província, reforçando diante da comunidade nikkei do Brasil esse traço
identitário A edição do boletim Dan Dan News faz transparecer duas facetas
identitárias do Shimane kenjinkai: ele faz parte do bloco (região do Japão) Chugoku
diante da comunidade nikkei e é uma organização beneficente que se relaciona com
a sociedade brasileira. O Shimane Kenjinkai possui valores e traços culturais
japoneses, expressos no apreço que dá ao trabalho comunitário, na oferta de
atividades culturais e artísticas japonesas/orientais, no emprego de expressões
japonesas e no consumo de produtos nipônicos. Por outro lado, os traços culturais
brasileiros são identificados no uso da língua portuguesa, no emprego de
237
expressões coloquiais, nas atividades “ocidentais/brasileiros” oferecidas e na
motivação e no sentimento expressos nas atividades beneficentes desenvolvidas. As
músicas brasileiras ao fundo dos álbuns de imagens das edições dos bazares
realizados anteriormente expressam essa brasilidade num discurso que poderia ser
interpretado tanto como algo que está por trás, subjacente, ao “fundo” (fundo
musical) como “ritmo”, “condução”, “alma”. Independentemente da leitura, de
qualquer forma, a “base” ou a “alma” brasileira permeia as ações realizadoras do
kenjinkai.
Finalmente, o texto total do link “Bazar Beneficente”, composto pela parte escrita que
anuncia a 9ª edição do bazar beneficente e pelas imagens dos álbuns das edições
anteriores, faz referências a produtos japoneses e brasileiros, trazendo tanto faces
orientais que remetem à identidade japonesa do Shimane Kenjin quanto rostos
“ocidentais/brasileiros”, que evocam a brasilidade da instituição. Essa parte do site,
expondo tanto elementos identitários associados à cultura japonesa quanto
elementos ligados à brasilidade, também faz emergir de seu discurso total uma
identidade híbrida – a identidade nikkei – da associação. Os traços culturais
identitários do ator da enunciação Shimane Kenjinkai são identificados a partir do
discurso das partes analisadas do site e se manifestam assumindo uma identidade
cultural ora mais brasileira, ora mais japonesa, dependendo da parte do site
analisada. Essa identidade nikkei – a identidade cultural hifenizada nipo-brasileira –
é uma reinterpretação, à moda brasileira, de valores japoneses. E a raiz dos valores
japoneses é a província de Shimane, que tanto traz elementos culturais ancestrais (é
a terra dos imigrantes) quanto atuais (é o destino do intercâmbio cultural).
238
3.4 O ATOR DA ENUNCIAÇÃO DOS SITES DOS KENJIKAI
Ao se analisar o discurso de três sites de kenjinkai, partindo da análise de três partes
de cada um desses sites, chegou-se a um levantamento de características que
permitirá a reconstituição do ator da enunciação. Conforme afirmou Discini: “cumpre
ao analista de estilo (re) construir o ator da enunciação de uma totalidade de
discursos” e “esse ator não só se define, como se identifica pela totalidade de seus
discursos” (DISCINI, 2004 p. 27 e p. 41). Assim, a somatória e a totalidade dos
discursos dos sites dos três kenjinkai proporcionarão a identificação do “ator da
enunciação kenjinkai” que se busca nesta tese. Para a elaboração dessa figura,
levantaremos os traços observados em cada um dos sites e, após a análise desses
traços, poderemos sintetizar a identidade do ator. É importante lembrar que estamos
considerando o conceito de identidade cultural conforme a perspectiva dos Estudos
Culturais, mais especificamente, o conceito proposto por Stuart Hall: a identidade
cultural de um kenjinkai pressupõe, então, uma comunidade imaginada, sem fronteiras
geográficas, formada por indivíduos que comungam de uma “mesma história
fundadora”, de valores e traços culturais que são construídos simbolicamente através
de um discurso. (HALL, 2006). Consideramos, também, a questão da compreensão
do kenjinkai como uma organização que se institucionaliza, sobretudo por meio do
discurso, conforme propõe Kunsch (2002), e que se relaciona com outras instituições
e pessoas, procurando reconhecimento e legitimação, através da busca da
relevância no espaço social de atuação, sendo ela mesma, por sua vez, uma
construção simbólica de uma representação social.
O “ator da enunciação Associação Hokkaido” possui uma marca identitária que se
identifica como sendo natural de Hokkaido e do Japão, que teve que deixar sua terra
239
natal, mas conquistou seu espaço no Brasil, trazendo uma parte da representação
simbólica do Japão para cá, manifestando-se nas atividades que desenvolve. Ele
convive com esses paradoxos: Japão e Brasil; tradição e modernidade;
ancestralidade e juventude, e demonstra preocupação de que essa identidade
permaneça na nova geração, temas que são desenvolvidos nas partes "O que é
Yosakoi Soran?” e “O que é Higuma?”. Essa mistura identitária é sintetizada numa
japonesidade que zela pela convivência harmônica das diferentes gerações que
formam o kenjinkai e exalta qualidades caras à cultura japonesa, como o trabalho
em equipe, o envolvimento, a disciplina e o respeito à tradição – sem abrir mão da
novidade. O termo complexo “tradicional-moderno” é explorado no texto “O que é
Yosakoi Soran” e de certa forma incorpora no ator da enunciação esse valor.
A identidade cultural da Associação Hokkaido, apesar de híbrida, é, dentre os três
sites analisados, a que em seu discurso mais se liga ao Japão antigo. A narrativa
que apresenta sua origem remete às raízes históricas do Japão antigo e não apenas
à província de Hokkaido, numa retrospectiva que parece querer reforçar esse
aspecto histórico e estabelecer um traço identitário. Os objetivos da Associação
Hokkaido não estão apresentados formalmente no discurso de seu site, algo feito de
forma explícita nos outros sites analisados, o que nos permite duas suposições: a)
os objetivos do kenjinkai são tão evidentes que se torna dispensável apresentá-los e
b) não é tão importante apresentar os objetivos da associação. Em qualquer uma
das possibilidades, a ideia de que o kenjinkai tem como um dos principais objetivos
realizar o intercâmbio entre a província e os provincianos e seus descendentes não
é desenvolvida explicitamente em nenhuma parte do site da Associação Hokkaido (o
que não significa, necessariamente, que não haja vínculo efetivo), evidenciando, no
discurso, que esse vínculo – ao menos o efetivo – com a província não é tão
240
importante. Subsiste, no entanto, de forma idealizada, a importância da relação com
a província de origem e parece que essa identificação é assumida principalmente
através do discurso para posicionamento diante da sociedade brasileira e da
comunidade nikkei, como por exemplo, quando se anunciam o festival de “motitsuki
de Hokkaido”, o “Bazar de produtos de Hokkaido”, a morte do famoso dançarino
japonês Kazuo Ohno, natural de Hokkaido, e a reportagem sobre a província no
Globo Repórter.
O “ator da enunciação Associação Hokkaido” pode ser definido como um orgulhoso
“hokkaidense-japonês-brasileiro”, extremamente ligado às suas origens ancestrais.
O “ator da enunciação Yamagata Kenjinkai” assume ser brasileiro, mas sua mãe (ou
pai) é de Yamagata, tema que é recorrente no discurso do site do kenjinkai. Esse
vínculo se evidencia na afirmação do objetivo da associação: “estreitar o intercâmbio
com a província-mãe”; na declaração de que as associações de província “foram
constituídas devido à necessidade de se manter contato com a Província natal” e na
narrativa da constituição do YKB: “Todos concordaram que era necessário
estabelecer meios de comunicação entre a nova terra e a terra natal” (frases
retiradas do link “A Caminhada do Yamagata Kenjinkai no Brasil”). Se manter
contato com a província-mãe é uma necessidade, surge daí o imperativo para que
as associações de província, os kenjinkai nasçam. Essa condição de gênese é
descrita apenas no site do YKB e, assim, assume condição primordial em todo o
discurso do ator da enunciação. Portanto, é como se o YKB afirmasse: “estamos
aqui, mas viemos de Yamagata”. Uma vez assumida a sua origem japonesa, sua
japonesidade é desenvolvida pela participação em atividades culturais, como o
Minyo (música folclórica), o Hanagasa ondo (dança tradicional) e o Tohoku-Hokkaido
241
Matsuri (festival típico), mantendo intercâmbio com a província de origem, usufruindo
de bolsas de estudo em Yamagata e recebendo autoridades da província no Brasil.
Estar no Brasil o torna nikkei, mas sua diversidade identitária está ligada à província,
fato expresso explicitamente no discurso do site. E o “fazer em grupo”, para esse
ator da enunciação, também é um fator identitário que expressa uma faceta de sua
japonesidade: sua identidade é reforçada pela ação e em seu discurso; a
legitimação e realização do kenjinkai se dá pela superação de um obstáculo, através
do esforço conjunto. De forma figurada, o corpo do YKB é o Brasil, mas seu coração
é Yamagata, pois há uma ligação afetiva muito forte expressa em todo o texto. Sua
identidade é assumidamente nikkei, mas sua japonesidade maior está no vínculo
espiritual com a província. O ator da enunciação é um “nipo-brasileiro com coração
em Yamagata”.
O “ator da enunciação Shimane Kenjin” possui traços culturais japoneses, uma
japonesidade que é expressa na exaltação dada ao trabalho comunitário –
frequentemente explorado em várias partes do site, mas que pode ser resumido a
partir da análise do discurso do boletim Dan Dan News: o kenjinkai é um lavrador
que, após muito trabalho, colhe seus frutos; é uma orquestra que, com trabalho
disciplinado, preciso, e sincrônico, sob a batuta do regente, executa uma obra
artística; também se assemelha a uma família que, com união e colaboração, vence
as dificuldades. O Shimane Kenjin é uma família que, por meio do trabalho árduo em
conjunto, harmônico e disciplinado, atinge seus objetivos. Essa japonesidade
também é expressa na oferta e no consumo de produtos típicos japoneses (sushi,
sashimi, yakissoba) e no desenvolvimento de atividades culturais japonesas e
orientais, expressas no site da associação tanto no Título/link “Cursos” (Kenko
Taisso, Karaokê, Lian Gong, Taichi Chi Kung e Yoga), quanto nas imagens de
242
produtos expostos nos álbuns de fotos da seção “Eventos”. O uso de expressões
japonesas (Gambarê! Yoroshiku onegaishimasu!!) e a citação de manifestações
culturais nipônicas (undokai, seinen, fujimbu) evidenciam, através do discurso, a
expressão de japonesidade do ator da enunciação. Por outro lado, sua brasilidade
também é igualmente identificada no discurso pelo uso da língua portuguesa e
emprego de expressões coloquiais (“para abastecer a galera”, “dá uma
desanimada”, “para darmos conta deste evento”), nas atividades culturais “ocidentais
e brasileiras” oferecidas (Capim dourado, Biscuit, Bordados, Patchwork, Pão de mel,
Salgados) e na proposição do Bazar Beneficente. As músicas brasileiras também
são um elemento discursivo que conferem um toque de brasilidade à identidade
cultural do Shimane kenjinkai. A questão da biculturalidade – em constraste com a
monoculturalidade –, pressuposto para uma formulação identitária hifenizada, é
explicitamente apresentada nos álbuns de fotos do bazar, que mescla elementos
culturais japoneses com brasileiros, seja ao mostrar os produtos e os rostos, seja na
própria concepção do evento. A identidade nipo-brasileira do ator da enunciação
Shimane Kenjin, portanto, emerge do discurso total do site.
A ligação com a província de origem expressa no discurso é a primeira característica
do caráter identitário japonês dos kenjinkai. Essa ligação é expressa em graus
diferentes de intensidade, mas todas apresentam uma ligação genética (de gênese),
ou de origem: a relação da Associação Hokkaido para com a sua província de
origem é expressa no discurso como uma manifestação genética mais voltada para
o aspecto simbólico-referencial e distintivo, sobretudo para posicionamento diante da
comunidade nikkei e da sociedade brasileira. Ela não é concretizada em atividades,
como o envio de bolsistas para Hokkaido ou a recepção de comitivas vindas da
província, nem está presente numa declaração formal de objetivos da instituição. Por
243
outro lado, a ligação do YKB com a província de Yamagata, além de genética, é
extremamente afetiva. Ela é expressa como uma “necessidade” e é,
declaradamente, o fator primordial para o “nascimento” do Yamagata Kenjinkai. A
relação do YKB com a província é o principal fator de identificação com a cultura
japonesa explorada tanto nos textos do site, que narram a “História da Imigração
Japonesa no Brasil” e “A Caminhada do Yamagata Kenjinkai no Brasil”, como no link
“Bolsas de Estudo” ou na “Galeria de Fotos”. O YKB chama frequentemente a
província de Yamagata de “mãe”. De forma parecida, o Shimane Kenjin, apesar de
não estabelecer uma relação com o Japão por meio de uma narrativa histórica,
apresentando sua origem no Japão, nem pela narração do processo imigratório no
Brasil, desenvolve um discurso de relação primordial com a província na declaração
de seus objetivos (“manter o intercâmbio cultural com a província de Shimane, no
Japão”), seja na apresentação de autoridades que são recepcionadas pelo kenjinkai,
seja no anúncio de bolsas de estudo para Shimane, bem como no envio de bolsistas
para a província e no depoimento de um ex-associado que retornou à província no
Japão.
Através da análise do discurso desses três sites, pode-se levantar um discurso único
que permite construir o ator da enunciação dos discursos dos sites de kenjinkai.
Como apresentado anteriormente, a identidade comunitária do kenjinkai surge de
um amálgama formado a partir da interação de múltiplas individualidades. Com
relação à identidade cultural do kenjinkai, podemos aplicar raciocínio análogo. E
esse ator é estabelecido pelo discurso dos sites, que afirmam, simultaneamente,
traços culturais que indicam sua brasilidade e sua japonesidade e definem, por sua
vez, sua nipo-brasilidade. Estabelecendo os traços identitários comuns obtidos nas
análises dos três sites, alguns pontos comuns podem ser alinhados:
244
O caráter pedagógico do discurso: todos os textos apresentam histórias, eventos,
acontecimentos e informações direcionados também, indubitavelmente, aos seus
associados, com a função de apresentar valores ao público interno e instruí-lo
quanto ao modo de ser e de pensar da instituição. Essa é uma forma discursiva de
“doutrinação”, de identificação e de legitimação da instituição. Esse é um caráter
embutido no discurso e é comum aos três sites analisados; e, do ponto de vista da
Comunicação Institucional”, é um dos objetivos para a criação de um site
institucional.
A japonesidade do ator da enunciação é manifesta em primeiro lugar através da
ligação genética do kenjinkai com a província de origem. Outro fator é calcado
no valor dado ao trabalho em grupo, que apesar de ser um estereótipo comum
associado aos japoneses, constitui-se de fato, num traço identitário típico de
entidades japonesas e nipo-brasileiras, estando presente no discurso dos três sites,
assim como o uso de expressões linguísticas japonesas e a menção de
atividades culturais ou produtos típicos do Japão. Tanto a língua, quanto as
expressões culturais (que variaram em cada site), bem como alimentos e conceitos,
constituem traços culturais que moldam a identidade cultural do enunciador.
A brasilidade expressa no discurso dos três sites se faz presente no uso da língua
portuguesa, que é um fator identitário fundamental, sobretudo se for entendido que
esses sites foram concebidos em português, e não em japonês. O Brasil como
fundo narrativo – ambiente no tempo e no espaço onde ocorrem as narrativas
imigratórias (no caso dos sites da Associação Hokkaido e do YKB), as atividades
culturais e os bazares beneficentes promovidos pelo Shimane Kenjin – é outro fator
que contribui para a construção identitária do kenjinkai, pois a narrativa e o discurso
245
que caracterizam o narratário poderiam ser diferentes caso o cenário fosse outro.
Finalmente, o fato de os kenjinkai estarem sediados no Brasil influencia
definitivamente a construção do discurso. A Associação Hokkaido assume sua
brasilidade, mas sua origem primordial é o Japão ancestral. A vinda ao Brasil é uma
etapa do desenvolvimento de sua japonesidade. Nesse aspecto, o YKB assume a
identidade brasileira ao evidenciar seu “nascimento” no Brasil, narrando sua origem
a partir das necessidades “das lavouras de café” paulistas, e não nos problemas que
o Japão enfrentava. O Shimane Kenjin, por sua vez, não apresenta uma narrativa de
sua trajetória histórica, mas descreve todas as ações desenvolvidas pelo kenjinkai
no Brasil.
O kenjinkai do Brasil é uma instituição brasileira que possui uma voz na sociedade e
uma identidade cultural. Ele relaciona-se com o Japão, através de sua ligação
genética e afetiva com a província de origem, por meio de intercâmbios estudantis,
culturais e sociais; com a sociedade nikkei no Brasil, por meio da realização de
eventos na Festa do Japão e outras atividades típicas, e com a sociedade brasileira,
participando de eventos de caráter beneficente, por exemplo. A despeito de sua
origem japonesa, sua identidade nikkei é expressa pela manifestação tanto de sua
japonesidade quanto de sua brasilidade. Seu caráter identitário nipo-brasileiro
diferencia-o de outras identidades hifenizadas nikkei, como uma identidade nipo-
peruana ou nipo-norteamericana. Portanto, o “ator da enunciação kenjinkai do Brasil”
é um personagem genuinamente brasileiro.
246
CONCLUSÃO
KENJINKAI DO BRASIL, UM ATOR SOCIAL TIPICAMENTE NACIONAL
Esta tese foi desenvolvida com o escopo de se levantar a identidade cultural do ator
da enunciação dos kenjinkai do Brasil através da formulação construída pelos
discursos dos sites dessas associações de província. Três sites foram selecionados
para serem analisados adotando-se a perspectiva teórica e metodológica da
semiótica narrativa e discursiva. O conceito de identidade cultural foi aquele
proposto por Stuart Hall, que entende que esta é construída por meio do discurso,
está constante transformação e busca, nesse processo discursivo, institucionalizar-
se, conforme subsídios encontrados na teoria da Comunicação Institucional de
Margarida Kunsch. A seguir, faremos uma breve síntese do percurso desenvolvido
para chegar às considerações finais deste trabalho.
As associações de província do Japão no Brasil foram formadas no contexto de um
processo de imigração tutelada entre o Japão e o Brasil, cujos integrantes – os
nikkei – interagiram no novo espaço social e cultural no qual se inseriram,
desenvolvendo uma identidade hifenizada – a nipo-brasileira – que se manifesta
também nessas instituições fundadas e geridas por elas. A identidade cultural dos
kenjinkai do Brasil é compreendida como um processo elaborado histórica e
simbolicamente a partir do discurso e se encontra em permanente desenvolvimento.
Uma província japonesa é muito mais que uma unidade administrativa do Japão
moderno. Séculos atrás, o que se entende hoje por “província” era chamada de kuni,
ou seja, “país”, portanto, a província seria a “primeira pátria” do japonês. A ideia de
247
nação e da identidade cultural do kenjinkai são elaboraçóes simbólicas construídas
discursivamente. Por isso a importância primordial dada à província pelos japoneses
na sua constituição identitária transparece no discurso dos sites dos kenjinkai
analisados, aparentando ser, à primeira análise, uma expressão de um sentimento
“bairrista”. No entanto, ela denota justamente esse papel histórico que a província
desempenhou como primeira pátria, a primeira referência identitária comunitária
fundadora dos japoneses. Para o japonês, sua província é muito mais que sua terra
natal, é a sua primeira nação, a referência cultural fundadora que define sua
identidade. De igual modo, a identificação dos nikkeis a partir de sua relação
genealógica com o “primeiro japonês” da linhagem atribui uma perspectiva identitária
que se estabelece hierarquicamente através do nascimento – classificando os
japoneses e seus filhos como issei, nissei, sansei e yonsei –, fortalecendo a noção
de que um certo aspecto de japonesidade não é desenvolvida nem conquistada, ela
é “herdada”. O kenjinkai existe prioritariamente em função do imigrante – o japonês
“original” – e se estende a seus descendentes. O kenjinkai, de alguma forma,
também expressa esse modo de ver o mundo em suas ações e discursos.
Uma associação de província do Japão no Brasil, por se tratar de uma coletividade
formada de individualidades, também expressa uma dimensão de convívio e
interação de diversos públicos de origem japonesa, cada qual com perspectivas
diferentes sobre o Brasil, sobre o Japão e sobre si mesmos. Num kenjinkai convivem
crianças, jovens, adultos e anciãos, que se ligam culturalmente e espiritualmente à
província de origem dos imigrantes. Mesmo entre os jovens e adultos, a concepção
e a vivência das japonesidades são influenciadas pelo nível de domínio do idioma
japonês do indivíduo, pela proximidade que ele teve ou mantém com pessoas que
vivenciam os aspectos da cultura japonesa e pela própria experiência que ele teve
248
ou tem com o Japão moderno. Todas essas variáveis geram percepções diferentes
em cada um dos participantes de um kenjinkai com relação à cultura japonesa e
colaboram na construção da identidade coletiva do kenjinkai. Nessa perspectiva,
portanto, pode-se dizer que o ator da enunciação kenjinkai é um personagem nikkei
brasileiro que emerge da interação de diferentes experiências e percepções sobre a
japonesidade. O kenjikai é um local onde essa vivência é desenvolvida, alimentando
e retroalimentando essas interpretações simbólicas que subsidiam a construção
identitária. Tal identidade se manifesta no discurso dos sites dessas instituições.
Todo esse referencial cultural nipo-brasileiro já faz parte, segundo a perspectiva dos
Estudos Culturais, do universo cultural urbano e midiático do brasileiro em constante
reelaboração. O número de restaurantes que oferece churrasco na cidade de São
Paulo – uma típica expressão cultural culinária brasileira – é inferior ao número de
estabelecimentos que possuem sushis no cardápio1. Dessa forma, a identidade
cultural do kenjinkai, que é uma emanação das identidades individuais dos associados
que a compõem, contém, inevitavelmente, esses elementos nipônicos globalizados e
interpretados segundo a ótica da japonesidade nikkei brasileira. Concomitantemente a
esses aspectos culturais, a forma de se relacionar, o “modo de estar no mundo”,
encarando os “atrasos”, o “jeitinho”, a informalidade, o improviso e a interatividade dos
brasileiros também acrescentam um “tempero” diferente à japonesidade vivida pelo
kenjinkai no contexto brasileiro. Se, por um lado, a Associação Hokkaido, citada como
exemplo, conseguiu reproduzir as “raízes” culturais japonesas no novo “espaço”
brasileiro, essas raízes já não são mais autenticamente japonesas: elas são nipo-
brasileiras e, portanto, híbridas. Justamente por essa diversidade de japonesidades
1 De acordo com o site UOL, a cidade de São Paulo tem mais restaurantes japoneses do que churrascarias. São 600 estabelecimentos contra 500, respectivamente, segundo a Abrasel-SP. Fonte: http:noticias.bol.uol.com.br/ultimas -noticias/economia/2013/06/28/franquias-de-comida-oriental-faturam-r-400-milhoes-em-um-ano-veja-opcoes.htm.
249
potencialmente presentes num kenjinkai, seu discurso expressa uma identidade
elaborada a partir do amálgama dessas distintas perspectivas culturais relacionadas
ao Japão. Da mesma forma, a japonesidade vivenciada no Shimane Kenjin na
participação dos bazares beneficentes, que possuem uma brasilidade evidente, ou no
desenvolvimento das atividades culturais já está em constante diálogo com a
brasilidade proporcionada pelas atividades culturais “nacionais”, como a dança, a
ginástica modeladora e o alongamento. Essa heterogeneidade, no entanto, acaba por
constituir um fator homogeneizante, isto é, contribui para a expressão de uma
identidade calcada numa japonesidade tipicamente brasileira.
O kenjinkai é uma associação de pessoas que se institucionaliza “na medida em que
assume compromisso e objetivos relevantes para a sociedade e o mercado”,
conforme propõe Kunsch (2002, p.39), tornando-se um “organismo vivo”, que atua,
age, pensa, tem personalidade e identidade. O site de um kenjinkai é a manifestação
de sua estratégia de comunicação visando a sua institucionalização, isto é, a
ocupação de seu espaço social e sua legitimação como ator social. É por meio do
site que a associação de província projeta sua “voz” e se coloca como ator social no
palco da sociedade. Valores expressos no discurso, como o protagonismo juvenil, a
tradição e a modernidade (materializados nos casos apresentados do Higuma-kai e
do Yosakoi Soran) estão presentes no site da Associação Hokkaido. A superação
das adversidades que se dá através da união com a província-mãe e com a
mobilização de toda a comunidade nikkei no Brasil que permitiu que o grupo se
estabelecesse como uma instituição vencedora é o discurso do Yamagata Kenjinkai
expresso em sua narrativa. O trabalho em conjunto e a valorização da integração
entre as gerações, promovidos na realização do undokai e na união do kenjinkai
para ajudar “outras entidades beneficentes”, são explorados no discurso do Shimane
250
Kenjin. A realização de atividades assistenciais expressa uma forma de brasilidade
baseada na cultura tradicional religiosa cristã, lembrando as quermesses e os
bazares desenvolvidos por diversas comunidades católicas e espíritas brasileiras e
manifesta um exemplo de traço de nipo-brasilidade presente no discurso e no fazer.
Todas essas ações descritas – essas narrativas – são componentes de um discurso
que apresenta traços identitários do autor da enunciação.
E quem é, afinal, o “ator da enunciação kenjinkai do Brasil”? O kenjinkai do Brasil é
uma instituição genuinamente brasileira, que atua na sociedade e tem sua identidade
cultural hifenizada: a nipo-brasileira. Ela é produto de condições históricas e sociais
únicas – e brasileiras. Mas ela também é mestiça, pois manifesta simultaneamente a
japonesidade e a brasilidade. Sua japonesidade resgata aspectos da cultura japonesa
histórica e milenar e as reinterpreta a partir da perspectiva cultural e histórica do
Brasil, gerando o conceito brasileiro de identidade “japonesa” (cf. HATUGAI, 2011). A
identidade brasileira e a brasilidade, por sua vez, também misturam conceitos que
ultrapassam o campo da história e atingem o âmbito da cultura, trazendo, novamente,
a concepção de que a identidade cultural do kenjinkai é construída por meio de sua
trajetória histórica a partir do Japão, atravessando o processo de imigração tutelada
no Brasil e estabelecendo-se como um ator social que possui voz e participa da
construção de uma “identidade nacional brasileira urbana e contemporânea”. Essa
identidade absorve elementos culturais de diversas outras nações e as reinterpreta,
apresentando releituras e novidades (como a os neologismos “temakeria” e “sushi-
man”). Isso acontece na profusão da culinária, de vocabulário, de atividades
esportivas e culturais, na miscigenação do estereótipo do biótipo do brasileiro, como
por exemplo, o reconhecimento de que a atriz Sabrina Sato é “brasileira”, antes de ser
“japonesa” ou “nipo-brasileira”. Isso demonstra que uma brasilidade contemporânea,
251
mestiça e multicultural, continua a ser desenvolvida para além da tríade “branco-índio-
negro”, identificando-se e reconhecendo-se a participação histórica, cultural e social
de outras etnias na construção de uma identidade nacional segundo a concepção de
Hall. Finalmente, a identidade nikkei se estabelece como uma terceira dimensão
identitária, surgida a partir das construções simbólicas de japonesidade e de
brasilidade. É uma identidade hifenizada, vivenciada pelos descendentes de
japoneses que carregam sobrenome e fenótipo que demarcam a origem japonesa.
Mas ela também é construída discursivamente calcada em valores estereotipados que
nem sempre correspondem à realidade, como a “vida comunitária”, “esforço” e
“coletividade”. Essa concepção “homogeneizante” e de valorização exacerbada do
trabalho, pode abafar manifestações de individualidade e de outras formas de se
relacionar com o mundo. Essa condição contraditória coloca em evidência uma
japonesidade “estereotipada” em contraste com a japonesidade “vivenciada”,
demonstrando a complexidade dessas associações nipo-brasileiras.
Poucas nações ou povos mantêm uma forma de expressão comunitária tão
institucionalizada expressas simbolicamente em suas organizações como os nikkei ao
redor do mundo. Será que a identidade cultural nipo-brasileira, dentro de um certo
tempo, e a partir de reformulações e reinterpretações sobre o conceito de cultura, não
poderia ser vista como uma manifestação de triculturalidade, ao se levar em conta as
expressões culturais de “japonesidade (ou brasilidade) nikkei”, como sendo não mais
uma síntese, mas uma manifestação de uma “terceira” cultura? Com certeza, essa
identidade cultural estaria presente no discurso institucional desenvolvido por essas
organizações nipo-brasileiras. De qualquer forma, no entanto, o kenjinkai continuaria a
ser um espaço genuinamente brasileiro de desenvolvimento de multiculturalidades e
de reinterpretações culturais identitárias.
252
EPÍLOGO
BRASILEIRO, JAPA, NIKKEI E NIPO-BRASILEIRO!
Eu, Fred Utsunomiya, enunciador de carne, osso e alma, com RG e CPF, ao finalizar
esta tese, gostaria de compartilhar com o leitor mais uma breve reflexão.
Quando entrevistei o sr. Takehiro Igarashi, responsável pelo Escritório de Assuntos
Internacionais do Governo da Província de Yamagata, fiz a seguinte pergunta: “Por
que vocês, do governo da província, acompanham e mantêm estreita comunicação
com o Yamagata kenjinkai do Brasil, após tantos anos do término do processo
emigratório?”. Sua resposta foi clara e objetiva: “Ora, é porque fomos nós que
enviamos os provincianos para esses lugares. Temos que cuidar deles”. Confesso
que essa resposta me deixou emocionado. Entendi que o “espírito comunitário
japonês” não era apenas um discurso verbal. Emendei outro questionamento: “Mas e
quando esses imigrantes morrerem e ficarem apenas seus descendentes, que têm a
cidadania brasileira e não a japonesa? Qual será a relação do governo da província
com o Yamagata kenjinkai?”. Essa pergunta ele não soube responder. Mas me
devolveu: “E você já sabe o que os governos de outras províncias pretendem fazer?”.
Interpreto que essa resposta expressa a compreensão de que o governo da província
sabe até onde vai sua responsabilidade com os seus provincianos.
Há coisas na vida que, apesar de tudo o que nossos antecessores fizeram e nos
legaram, cabe a nós decidir – o que fazer, o que mudar ou o que terminar. Dentro de
nosso leque limitado de escolhas, há algumas que dependem unicamente de nós.
253
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BARROS, Diana Luz Pessoa de. Pragmática. In: FIORIN, José (org.). Introdução à
Linguística. Volume 2. Princípios de análise. p. 187-219. São Paulo: Contexto, 2011.
_______________. A comunicação humana. In: FIORIN, José Luiz. Introdução à
Linguística. Volume 1. Objetos teóricos. p. 25-53. São Paulo: Contexto, 2010.
_______________. Teoria semiótica do texto. 4ed. São Paulo: Ática, 2008.
_______________. Teoria do discurso. Fundamentos semióticos. São Paulo: Ática,
Humanitas, FFLECH/USP, 2002.
BAUMAN, Zygmunt. Identidade: entrevista a Benedetto Vecchio. Tradução de Carlos
Albert Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005.
BRANDÃO, Helena H. Nagamine. Analisando o discurso. São Paulo: Museu da
Língua Portuguesa, 2009. Disponível em www.museudalinguaportuguesa.org.br/files/
mlp/texto_1.pdf. Acesso em 15/03/2014.
CARDOSO, Ruth C. L. Estrutura familiar e mobilidade social: estudo dos japoneses
no Estado de São Paulo. São Paulo: Primus Comunicação, 1995.
DISCINI, Norma. A comunicação nos textos. São Paulo: Contexto, 2005.
ERNANDES, Nilton. A mídia e seus truques: o que jornal, revista, TV, rádio e internet
fazem para captar e manter a atenção do público. São Paulo: Contexto, 2006.
FIORIN, José Luiz. Da necessidade da distinção entre texto e discurso in: BRAIT,
Beth e Souza e Silva, M. C (orgs.). Texto ou discurso? São Paulo: Contexto, 2012.
254
_______________ Enunciação e Comunicação in: FÍGARO, Roseli (org.).
Comunicação e Análise do Discurso. São Paulo: Contexto, 2012 B.
_______________. Pragmática. In: ___________ (org.). Introdução à Linguística.
Volume 2. Princípios de análise. p. 161-185. São Paulo: Contexto, 2011
_______________. Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo: Ática, 2011.
_______________. Em busca do sentido. São Paulo: Contexto, 2008.
______________. Elementos da análise de discurso. 13a. ed. São Paulo: Contexto,
2005.
GAYDECZKA, Beatriz. A construção do enunciador e do enunciatário na voz
Institucional. Anais do 6º. Seminário de Pesquisas em Linguística Aplicada (SePLA),
Taubaté, 2010.
GUIMARÃES, Elisa. Texto, Discurso e Ensino. São Paulo: Contexto, 2009.
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: DP&A,
2006.
HANDA, Tomoo. O imigrante japonês. História de sua vida no Brasil. São Paulo: T.A.
Queiroz, Centro de Estudos Nipo-Brasileiros, 1987
HATUGAI, Érica Rosa. Alimentando japonesidades: “tradição” e substância em um
contexto associativo nipodescendente. In: MACHADO, Igor José Renó (org.).
Japonesidades multiplicadas. Novos estudos sobre a presença japonesa no Brasil.
São Paulo: EdUFSCar, 2011, p59-85.
255
HAYASHI, André Ryo. O papel desempenhado pelas associações de províncias
japonesas (p.357-358). In: HARADA, Kyoshi (coord). O Nikkei no Brasil. São Paulo:
Atlas, 2009.
JAPANESE GROUPS AND ASSOCIATIONS. Community Analysis Report no. 3.
March 1943. disponível em http://archives.auraria.edu/sites/default/files/ AmacheReports
/rpt10.pdf acessado em 08/03/2013.
KAWAMURA , Lili Katsuco. Para onde vão os brasileiros? Imigrantes brasileiros no
Japão. 2ª Edição. Campinas: Editora Unicamp/Fundação Japão, 2003.
KREUTZ, Lúcio. Escolas comunitárias de imigrantes no Brasil: instâncias de
coordenação e estruturas de apoio. Revista Brasileira de Educação. Rio de Janeiro:
ANPEd: Rio de Janeiro, n. 15, dez. 2000 . Disponível em <http://educa.fcc.org.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1413-24782000000300010&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em
17 abril 2014.
KUNSCH, Margarida M. Krohling. Planejamento de relações públicas na
Comunicação Integrada. São Paulo: Summus Editorial, 2002.
LESSER, Jeffrey. A negociação da identidade nacional: imigrantes, minorias e a luta
pela etnicidade no Brasil. São Paulo: Editora Unesp, 2001.
MURAOKA, Roni Everson. Nossos Japoneses são melhores do que os outros: o
cômico e o estereótipo na campanha publicitária da Semp Toshiba. Dissertação de
mestrado. São Paulo: Instituto de Ciências Humanas, UNIP, 2010.
NUCCI, Priscila. Os intelectuais diante do racismo antinipônico no Brasil: Textos e
silêncios. Dissertação de mestrado. Campinas-SP, Departamento de História -
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, UNICAMP, 2000.
256
QUINTANEIRO, Tania. Plantando nos campos do inimigo: japoneses no Brasil na
Segunda Guerra Mundial. Estudos Ibero-Americanos. PUCRS, v. XXXII, n. 2, p. 155-
169, dezembro 2006.
OLIC, Nelson Bacic. Fluxos migratórios contemporâneos. 2002. Disponível em:
http://www.clubemundo.com.br/pages/revistapangea/show_news.asp?n=132&ed=4.
Acesso em março de 2014.
OLIVEIRA, Adriana Capuano. Japoneses no Brasil ou brasileiros no Japão? A
trajetória de uma identidade em um contexto migratório. Dissertação de mestrado.
Campinas-SP, Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, UNICAMP, 1997.
OLIVEIRA E COSTA, João Paulo A. A descoberta da civilização japonesa pelos
portugueses. Macau: Instituto Cultural de Macau/Instituto de História de Além-mar,
1995.
OSHIMA, Hitoshi. O pensamento japonês. São Paulo: Editora Escuta, 1992.
RIBEIRA, Fábio Ricardo. O estranho enjaulado e o exótico domesticado: reflexões
sore exotismo e abjeção entre nipodescendentes. In: MACHADO, Igor José Renó
(org.). Japonesidades multiplicadas. Novos estudos sobre a presença japonesa no
Brasil. São Paulo: EdUFSCar, 2011, p. 87-111.
__________________. Sexy & cool: o exótico domesticado. Dissertação de
mestrado. São Carlos: Centro de Educação e Ciências Humanas, UFSCar, 2010.
SAITO, Hiroshi (org.). A presença japonesa no Brasil. São Paulo: EDUSP, 1980;
257
SAKURAI, Célia. Imigração Tutelada. Os japoneses no Brasil. Tese de doutorado.
Campinas-SP, Departamento de Antropologia - Instituto de Filosofia e Ciências
Humanas, UNICAMP, 2000.
SASAKI PINHEIRO, Elisa Massae. Ser ou não ser japonês? A construção da
identidade dos brasileiros descendentes de japoneses no contexto das migrações
internacionais do Japão contemporâneo. Tese de doutorado. Campinas-SP, Instituto
de Filosofia e Ciências Humanas. Campinas: UNICAMP, 2009.
SILVA, Victor Hugo Martins Kebbe da. Na vida, única vez. Fabricando famílias e
relacionalidades entre decasséguis no Japão. Tese de doutorado. Pós-Graduação
em Ciências Sociais, São Carlos: UFSCar, 2013
_______________________________ Um jornal entre Brasil e Japão: a construção
de uma identidade para japoneses no Brasil e brasileiros no Japão. Dissertação de
mestrado. Pós-Graduação em Ciências Sociais, São Carlos: UFSCar, 2008.
SILVEIRA, João Paulo de Paula. A Seicho-no-Ie do Brasil e o “Autêntico Paraíso
Terrestre”: o matiz religioso da nipo-brasilidade (1966-1970). Dissertação de
Mestrado. Goiânia, Faculdade de Ciências Humanas e Filosofia, Universidade
Federal de Goiás, 2008.
SOUZA, Yoko Nitahara. A comunidade Uchinanchu na era da globalização.
Contrastando “okinawanas” e “japoneses”. Dissertação de Mestrado. Brasília-DF:
Departamento de Atropologia, UNB, 2009.
SUGIYAMA Jr., Enio. Identidades construídas e comercializadas: um estudo das
declarações sobre a identidade do “japonês”. Dissertação de Mestrado. São Paulo:
FFLECH-USP, 2009.
258
SUZUKI Jr., Matinas. Rompendo silêncio. São Paulo: Revista Mais. 20 abr 2008.
Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/mais/fs2004200804.htm. Acesso em
30/01/2014.
SUZUKI, Teiiti. A Imigração Japonesa no Brasil. Revista do Instituto de Estudos
Brasileiros, Brasil, n. 39, p. 57-65, dez. 1995. ISSN 2316-901X. Disponível em:
<http://revistas.usp.br/rieb/article/view/72056>. Acesso em: 31 jan. 2014.
UTSUNOMIYA, Fred Izumi e ROSA, Edison. Cultura e mídia: incorporação de
vocábulos de origem japonesa no português brasileiro. Anais do III Silmelp -
Simpósio Mundial de Estudos de Língua Portuguesa. A formação de novas gerações
de falantes de português no mundo. Universidade de Macau, Departamento de
português. 30 de agosto a 2 de setembro de 2011, Macau.
WILLIAMS, Raymond. Palavras-chave: um vocabulário de cultura e sociedade. São
Paulo: Boitempo, 2007.
BIBLIOGRAFIA CONSULTADA
AKAMA, Regina Chiga. A formação da identidade feminina: reconstruindo a memória
e a história de vida de ex-alunas do internato são Paulo Saihou Jogkuin. Dissertação
de mestrado. Campinas –SP: UNICAMP, Departamento de Multimeios - Instituto de
Artes, 2008.
ALMEIDA, Gustavo Henrique Gomes de. Do Japão ao Brasil: trabalhadores japoneses
em São Paulo (1908-1922). Dissertação de mestrado. Campinas-SP: Departamento
de História - Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, UNICAMP, 2012.
259
AOYAMA, Shana; GUDMUNDSON, Lowell; MOGAN Lynn and ROTH, Joshua.
Nikkei-ness: A Cyber-Ethnographic Exploration of Identity Among the Japanese
Peruvians of Peru. Feb, 2011. Disponível em https://ida.mtholyoke.edu/jspui/handle
/10166/736
ARAÚJO, Gabriel Antunes de e AIRES, Pedro (orgs.). A língua portuguesa no
Japão. São Paulo: Paulistana, 2008.
DEBIAGGI, Sylvia Dantas. Nikkeis entre o Brasil e o Japão: desafios identitários,
conflitos e estratégias. Revista USP, São Paulo, no. 79, pp. 165-172, Set/Nov 2008.
DEZEM, Rogério. Matizes do "amarelo": a gênese dos discursos sobre orientais no
Brasil (1878-1908). São Paulo: Associação Editorial Humanitas, 2005.
DISCINI, Norma. O estilo nos textos. História em quadrinhos, mídia, literatura. 2. ed.
São Paulo: Contexto, 2004.
_____________ Jornal: um modo de presença. Galáxia. São Paulo: n. 6, p. 109-127,
abr. 2003.
____________ Intertextualidade e conto maravilhoso. São Paulo: EDUSP, 2002.
ENNES, Marcelo Alario. A construção de uma identidade inacabada: Nipo-brasileiros
no Estado de São Paulo. São Paulo: Editora UNESP, 2001.
FIORIN, José Luiz. As astúcias da enunciação. As categorias de pessoa, espaço e
tempo. 2ª ed. São Paulo: Ática, 1998.
GOODMAN, Roger. Brokered homeland: Japanese Brazilian migrants in Japan, and
strangers in the ethnic homeland: Japanese Brazilian return migration in transnational
perspective. The Journal of Japanese Studies, v. 30, n. 2, 2004, p. 465-471.
260
GREIMAS, Algirdas J. Semântica estrutural. São Paulo: Cultrix, 1973
_________________ e LANDOWSKI. Análise do discurso em ciências sociais. São
Paulo: Global, 1986.
_________________ e COURTÉS, Joseph. Dicionário de semiótica. São Paulo:
Contexto, 2008
GUMPERZ, John. J. Language and social identity. Cambridge: Cambridge University
Press, 1997.
HALL, Stuart. Da Diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte:
UFMG; Brasília: Representação da UNESCO no Brasil, 2003.
HARADA, Kyoshi (coord). O Nikkei no Brasil. São Paulo: Atlas, 2009.
HASHIGUTI, Simone. Corpo de Memória. Tese de Doutorado. Campinas-SP:
Instituto de Estudos da Linguagem, UNICAMP, 2008.
HIGUCHI, Naoto e TANNO, Kiyoto. What’s driving Brazil-Japan Migration? The
making and remaking of the Brazilian niche in Japan. International Journal of
Japanese Sociology, No. 12, 2003, pp. 33-47.
LISBOA, Luiz Carlos e ARAKAKI, Mara Rúbia. Namban: o dia em que o Ocidente
descobriu o Japão. São Paulo: Aliança Cultural Brasil-Japão / Estação Liberdade,
1993.
LOCKLIN, Blake Seana. ‘Mi experiencia en el Japón’: Peruvian Nikkei Creating
Meaning from Transnational Experiences. Delaware Review of Latin American
Studies, vol. 5, No. 2, December 15, 2004.
261
MACHADO, Igor José Renó (org.). Japonesidades multiplicadas. Novos estudos
sobre a presença japonesa no Brasil. São Paulo: EdUFSCar, 2011.
MAINGUENAU, Dominique. Termos-chave da análise do discurso. Belo Horizonte-
MG: Editora UFMG, 2006.
MARINO, Jr. Raul. O cérebro japonês. São Paulo: Palas Athenas, 1989.
MORAES, Wenceslau de. Obras completas de Wenceslau de Moraes, vol. VI;
Relance da História do Japão. Macau: COD, 2004.
_____________________. Obras completas de Wenceslau de Moraes, vol. IX; Os
serões no Japão. Macau: COD, 2007.
MORALES, Matsubara Leiko. Cem anos de imigração japonesa no Brasil: o japonês
como língua estrangeira. Tese de doutorado. São Paulo, FFLECH-USP, 2008.
MORENO, Juliana Kiyomura. Do navio Kasato Maru ao porto digital: as
identificações e a identidade comunicativa expressas em blogs de dekasseguis.
Dissertação de Mestrado. São Paulo, ECA-USP, 2009.
MOTOYAMA, Shozo. Sob o signo do sol levante: Uma história da imigração
japonesa no Brasil – volume I (1908-1941). São Paulo: Paulo's Comunicação e
Artes, 2011.
MUKAI, Yuki. A identidade de uma japonesa “recém-chegada” ao Brasil: um estudo
de caso. Uniletras, Ponta Grossa - PR, v. 30, no. 1, p. 53-73, jan/jun. 2008
NISHIDA, Mieko. Why does a nikkei want to talk to other nikkeis? Japanese
Brazilians and Their Identities in São Paulo. Critique of Anthropology December
2009, vol. 29, no. 4, p. 423-445.
262
RESISTÊNCIA & INTEGRAÇÃO: 100 ANOS DE IMIGRAÇÃO JAPONESA NO
BRASIL. Rio de Janeiro: IBGE, Centro de Documentação e Disseminação de
Informações, 2008
ROMERO, Fanny Longa. “Migração humana e a diversidade dos fenômenos
migratórios”. In: Cristian Jobi Salaini (Org.). Globalização, cultura e identidade.
Curitiba: InterSaberes, 2012.
ROSSINI, Rosa Ester. O Brasil no Japão: A conquista dos espaços nikkeis do Brasil
no Japão. XIV Encontro Nacional de Estudos Populacionais da ABEP, Caxambu –
MG, 2004.
ROSSINI, Rosa Ester. A Memória congelada do imigrante. A solidariedade
intergeracional dos japoneses e dos nikkeis no Brasil e no Japão atual. São Paulo
em Perspectiva, v. 19, no. 3, p.34-43, jul/set. 2005
SAKIMA, Tatsuo (org.). Imigração Okinawana no Brasil. 90 anos desde Kasato Maru.
São Paulo: Associação Okinawa Kenjin do Brasil, 1998.
SAKURAI, Célia. Os japoneses. São Paulo: Contexto, 2007.
SASAKI, Elisa. A imigração para o Japão. São Paulo. Estudos Avançados, v. 57, p.
99-117, 2006.
SAUSSURE, F. Curso de Linguística Geral. São Paulo: Cultrix, 1972.
SERPA, Angelo. Lugar e Mídia. São Paulo: Contexto, 2011.
SIGNORINI, Inês (org.). Lingua(gem) e identidade: elementos para uma discussão
no campo aplicado. Campinas, SP: Mercado de Letras, 1998.
263
TATIT, Luiz. A abordagem do texto. In: FIORIN, José Luiz. Introdução à Linguística.
Volume 1. Objetos teóricos. p.187-209. São Paulo: Contexto, 2010.
UTSUNOMIYA, Fred Izumi. Brasileiros de olhos puxados em terras japonesas: a
língua portuguesa como fator constitutivo de uma brasilidade nikkei. Cadernos de
Pós-Graduação em Letras (São Paulo. Impresso) (Cessou em 2002. Cont. 1809-
4163 Cadernos de Pós Graduação em Letras (São Paulo. Online)), 2012.
_______________________ A língua portuguesa como fator de manutenção da
identidade cultural num mundo em movimento: o caso dos brasileiros no Japão. In: XX
Encontro da Associação das Universidades de Língua Portuguesa, 2010, Macau. A
China, Macau e os países de Língua Portuguesa. Macau: AULP, 2010. v. II. p. 89-97.
SITES CONSULTADOS
www.asebex.org.br (site da Associação Brasileira de Ex-bolsistas do Japão)
www.asiacomentada.com.br/
www.centenario2008.org.br (site oficial da comissão organizadora do centenário)
www.culturajaponesa.com.br/
www.discovernikkei.org
www.imigracaojaponesa.com.br
www.imigrantesjaponeses.com.br
www.jadesas.or.jp (site da Associação Kaigai Nikkeijin Kyokai)
www.janm.org (site do Japanese American National Museum)
www.japao100.com.br (site incorporado à comissão organizadora do centenário)
264
www.kenren.org.br
madeinjapan.uol.com.br
www.memai.com.br (site de Letras e Artes Japonesas)
www.museubunkyo.org.br (site do Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil)
http://www.ndl.go.jp/brasil/pt/ (site da biblioteca do Parlamento Nacional Japonês)
nikkeybrasil.com.br
www.nikkeypedia.org.br
nikkeiyouth.com/
www.nikkeyweb.com.br
nippo.com.br
www.nippon-foundation.or.jp/en/
www.portalnikkei.com.br
www.portalnippon.com
www.radioetvnikkey.com.br
www.saopaulo.sp.gov.br/imigracaojaponesa/historia.php
266
LISTA DOS KENJINKAI DO BRASIL1
Província Símbolo Nome Fundação Nº Membros Endereço
Hokkaido
Associação Hokkaido de Cultura e Assistência
08/1930 800 R. Joaquim Távora, 605 Vila Mariana, São Paulo – SP www.hokkaido.org.br
Aomori
Associação Aomori Kenjin do Brasil 10/1954 180
Rua Dr. Siqueira Campos, nº 62 Liberdade – São Paulo – SP
Iwate
Associação Cultural e Assistencial Iwate Kenjinkai do Brasil
10/1959 280 Rua Tomás Gonzaga, nº 95 Liberdade – São Paulo – SP www.iwate.org.br
Miyagi
Associação Miyagi Kenjinkai do Brasi 08/1953 760
Rua Fagundes, nº 152 Liberdade – São Paulo – SP www.miyaguikenbrasil.com
Akita
Associação Cultural e Recreativa Akita Kenjin do Brasil
05/1960 300 Av. Lins de Vasconcelos, 3390 Vila Mariana - São Paulo – SP
Yamagata
Yamagata Kenjinkai do Brasil 10/1953 658
Av. Liberdade, nº 486 – Sala 24 Liberdade – São Paulo – SP www.yamagata.org.br
Fukushima
Associação Fukushima Kenjin do Brasil 05/1917 450
Rua da Gloria, nº 721 Liberdade São Paulo – SP
Ibaraki
Associação Centro Social Ibaraki do Brasil 05/1961 534
Rua Bueno de Andrade, nº 756 Aclimação – São Paulo – SP
Tochigi
Associação Centro Social Tochigi do Brasil 09/1958 260
Rua Capitão Cavalcante, nº 56 Vila Mariana – São Paulo
Gunma
Associação Cultural Gunma Kenjin do Brasil 11/1945 290
Rua São Joaquim, nº 526 Liberdade – São Paulo – SP
Saitama
Associação Cultural e Assistencial dos Provincianos de Saitama no Brasil
06/1958 130 Av. Brig. Luiz Antônio, 2367 cj. 508 Bela Vista – São Paulo – SP www.saitamakenjikai.com.br
Chiba
Associação Chiba Kenjin do Brasil 1957 150
Rua Nelson Fernandes, nº 247, Cidade Vargas - São Paulo – SP
Tokyo
Sociedade Amigos de Tokyo 11/1965 120
Av. Paulista, nº 807 Cj. 1.922 19º andar, Cerqueira César São Paulo – SP
Kanagawa
Associação Cultural e Assistencial Kanagawa 04/1965 200
R. Major Newton Feliciano, nº 75 Vila Mariana – São Paulo – SP
Niigata
Associação Cultural Niigata do Brasil 02/1956 350
Rua Pandiá Calógeras, nº 153 Aclimação – São Paulo – SP
Toyama
Associação Toyama Kenjin do Brasil 1960 300
Rua Pandiá Calógeras, nº 87 Aclimação – São Paulo – SP http://brasiltoyama.wordpress.com
Ishikawa
Associação Ishikawa Ken do Brasil 04/1937 410
Rua Tomas Carvalhal, nº 184 Paraíso – São Paulo – SP
1 Obtida no site kenren.org.br em 3/05/2014
267
Província Símbolo Nome Fundação Nº Membros Endereço
Fukui
Associação Fukui Kenjinkai 07/1954 300
R. dos Estudantes, nº 15 – sala 81 Liberdade – São Paulo – SP www.nikkeibrasil.com.br/fukuikenjinkai
Yamanashi
Associação Cultural e Recreativa Yamanashi Kenjin do Brasil
1953 400 Rua Ituxi, nº 40 Saúde – São Paulo – SP
Nagano
Associação Cultural e Recreativa Nagano Kenjin do Brasil
11/1959 750 Praça da Liberdade, nº 130 – s 910 Liberdade – São Paulo – SP
Guifu
Guifu Kenjinkai do Brasil 1938 400
Rua da Gloria, 279, 2º andar, S. 21 Liberdade – São Paulo – SP www.gifukenkinkai.com.br
Shizuoka
Associação dos Shizuoka Kenjin do Brasil
12/1957 200 Rua Vergueiro, nº 193 Liberdade – São Paulo – SP www.shizuoka.nw.org.br
Aichi
Associação Aichi do Brasil 10/1958 340
Rua Santa Luzia, nº 74 Liberdade - São Paulo – SP www.etiquetajaponesa.com.br
Mie
Associação Cultural e Assistencial Mie Kenjin do Brasil
1943 242 Av. Lins de Vasconcelos, nº 3352, Vila Mariana – São Paulo www.miekendobrasil.com
Shiga
Associação Cultural e Assistencial Shiga Kenjin do Brasil
1958 183 Rua Brás Cubas, nº 415, Aclimação – São Paulo – SP
Kyoto
Associação Kyoto do Brasil 1952 160
Rua Primeiro de Janeiro, 53 Vila Clementino – São Paulo – SP
Osaka
Associação Beneficente dos Provincianos de Osaka Naniwa-Kai
08/1965 300 Rua Domingos de Morais, nº 1581 Vila Mariana – São Paulo – SP
Hyogo
Brasil Hyogo Kenjinkai 04/1960 250
Rua da Gloria, nº 332 – Sala 64 Liberdade – São Paulo – SP
Nara
Associação Cultural e Recreativa Nara Kenjinkai do Brasil
01/1960 280 Rua Machado de Assis, nº 101, Vila Mariana – São Paulo – SP www.narakenjinkai.blogspot.com.br
Wakayama
Wakayama Kenjinkai do Brasil 04/1954 250
Rua Tenente Otavio Gomes, nº 88, Aclimação – São Paulo – SP
Tottori
Associação Cultural Tottori Kenjin do Brasil 1952 300
R. Dna Cesaria Fagundes, nº 323 Mirandópolis – São Paulo – SP
Shimane
Associação Shimane Kenjin do Brasil 09/1956 320
Rua das Rosas, nº 86 Praça da Árvore – São Paulo – SP www.shimane.org.br
Okayama
Associação Cultural e Recreativa Okayama Kenjin do Brasil
03/1953 300 Rua da Gloria, nº 734 Liberdade – São Paulo – SP
Hiroshima
Sociedade Civil Hiroshima Kenjinkai do Brasil
07/1955 320 Rua Tamandaré, nº 800 Liberdade – São Paulo – SP
Yamaguchi
Associação Assistencial e Cultural Yamaguchi Ken do Brasil
1927 560 Rua Pirapitingui, nº 72 Liberdade – São Paulo – SP
Tokushima
Associação Cultural Tokushima Kenjin do Brasil
06/1956 200 Av. Drº Antonio Maria de Laet, nº 275 Vila Mazzei São Paulo – SP
268
Província Símbolo Nome Fundação Nº Membros Endereço
Kagawa
Associação da Provincia de Kagawa no Brasil 10/1955 250
Rua Itaipu, nº 422 Mirandópolis – São Paulo – SP
Ehime
Associação Cultural Ehime Kenjin do Brasil 05/1953 420
Rua da Gloria, nº 470 Liberdade – São Paulo – SP
Kochi
Associação Cultural dos Provincianos de Kochi no Brasil
02/1953 350 Rua dos Miranhas, nº 196 Pinheiros – São Paulo – SP
Fukuoka
Associação Fukuoka do Brasil 06/1930 600
Rua Saturno, nº 238, Aclimação – São Paulo – SP www.fukuoka.org.br
Saga
Sociedade Cultural Saga Ken do Brasil 05/1955 300
Rua Pandiá Calógeras, nº 108 Aclimação – São Paulo – SP
Nagasaki
Nagasaki Kenjinkai do Brasil 04/1962 300
Rua da Glória, 332, 6 andar, sala 62 Liberdade – São Paulo – SP
Kumamoto
Associação Kumamoto Kenjin do Brasil 05/1958 400
Rua Guimarães Passos, nº 142 Vila Mariana – São Paulo – SP www.kumamoto.org.br
Oita
Associação Cultural e Recreativa Oita Kenjin do Brasil
10/1952 400 Av. Liberdade, nº 486 – Sala 205 Liberdade – São Paulo – SP
Miyazaki
Associação de Beneficente e Cultural Miyazaki
09/1949 530 Av. Liberdade, nº 486 – sala 21/22 Liberdade – São Paulo – SP
Kagoshima
Associação Cultural Kagoshima do Brasil 08/1913 1700
Rua Itajobi, nº 54 Pacaembu – São Paulo – SP
Okinawa
Associação Okinawa Kenjin do Brasil 1926 2800
Rua Tomas de Lima, nº 72 Liberdade – São Paulo – SP
269
LISTA DE ASSOCIAÇÕES NIPO-BRASILEIRAS2
A.D.R. Itaim Keiko A.E.C.N.B - Associação Esportiva e Cultural Nipo-Brasileira de Campo Grande ABC - Associação Brasileira dos Comerciantes e Empreendedores no Japão ABEUNI - Aliança Beneficente Universitária ABRAC - Associação Brasileira de Canção Japonesa ABVM - Associação Brasileira de Voluntários em Musicoterapia ACAL - Associação Cultural Assistencial da Liberdade ACDNSMP - Associação Cultural e Desportiva Nikkei de São Miguel Paulista ACE São Judas Tadeu ACEAS NIKKEY - Associação Cultural Esportiva Agrícola de Suzano ACEI - Associação Cultural e Esportiva de Itapevi ACENB CATANDUVA ACENB-NF - Associação Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Nova Friburgo ACENBI - Associação Cultural e Esportiva Nipo Brasileira do Imirim ACENBO - Associação Cultural e Esportiva Nipo Brasileira de Osasco ACENVI - Associação Cultural e Esportiva Nikkey de Vinhedo ACERB - Associação Cultural Esportiva e Recreativa de Barueri ACESA – Associação Cultural e Esportiva de Santana ACET - Associação Cultural e Esportiva Tucuruvi ACEVGP - Associação Cultural e Esportiva de Vargem Grande Paulista ACNBR - Associação Cultural Nipo-Brasileira de Registro ACREC - Associação Cultural Recreativa e Esportiva do Carrão ACTA -Associação Cultural de Tomé-Açu ADESC - Associação Cultural dos Departamentos das Senhoras Cooperativistas AFLORD - Associação dos Floricultores da Região da Via Dutra AJAB - Associação Cultural e Assistencial Nipo-Brasileira do Jabaquara ANIBRAS - Associação Nipobrasileira de Salto ANIR - Associação Nipo-Brasileira de Roraima ANISA - Associação Nipo-Brasileira de Salvador ANMA - Associação Nikkei Mirim de Atletismo ANV - Associação Nikkei de Vitória APEB - Associação de Pousadas da Enseada do Bananal Abjica - SP - Associação dos Bolsistas Jica - São Paulo Acel - Associação Cultural e Esportiva de Londrina Aliança Cultural Brasil - Japão Aliança Cultural Brasil Japão de Joinville Aliança Cultural Brasil-Japão do Paraná Anhanguera Nikkei Clube Aosp-Associação Orquidófila de São Paulo Aruja Golf Club Aruja Golfe Club APAGAR Asebex - Associação Brasileira de Ex-Bolsistas no Japão Associação Brasileira de Imigrantes Japoneses Assistência Social Dom José Gaspar - Ikoi-no-sono Associação Agro-Cultural Esportiva de Guatapará Associação Agrícola Cultural e Esportiva Sogo
2 A lista com 380 associações nipo-brasileiras anexada é apenas um exemplo do grande número de entidades representativas de origem nikkei no Brasil e não pretende ser completa nem definitiva. É possível que algumas entidades não existam mais ou não estejam em funcionamento e que outras em funcionamento não estejam arroladas. Esta lista foi obtida no site: www.nikkeypedia.org.br, acessado em 3/05/2014.
270
Associação Alegre Nipon Din Kai Associação Assistencial Cultural e Esportiva de Andradina Associação Atlética Atlanta Associação Atlética Barretense Associação Atlética Desportiva de Mandaguari Associação Beneficente Cultural e Esportiva de São Gotardo Associação Beneficente Feminina Esperança Associação Beneficente e Cultural Rikko do Brasil Associação Beneficente, Cultural e Esportiva de Lins - ABCEL Associação Botucatuense de Cultura Japonesa Associação Brasil-Japão de Pesquisadores Associação Brasileira de Dekasseguis Associação Brasileira de Imigrantes Japoneses Associação Brasileira de Shogui Associação Brasileira de Taiko Associação Brasileira dos Ex-Bolsistas Gaimusho Kenshusei Associação Bunkyo de São José dos Campos Associação Central Nipo-Brasileira da Região de Bragantina Associação Centro Cultural de Mogi das Cruzes Associação Colônia Japonesa de Santana do Itararé Associação Comunitaria Nipo-Brasileira Efigênio Sales Associação Cultural Agrícola Desportiva Pirapozinho - ACAD Associação Cultural Agrícola Esportiva de Kiyowa Associação Cultural Agrícola de Biritiba-Ussu - ACABU Associação Cultural Agrícola de Itapeti Associação Cultural Agrícola de Vila Moraes Associação Cultural Agrícola e Esportiva Alvor Associação Cultural Agrícola e Esportiva Bairro Tangará 2 Associação Cultural Agrícola e Esportiva Hirano-Brasileira Três Barras Associação Cultural Agrícola e Esportiva do Bairro Tangará 7 Associação Cultural Atlética de Mirandópolis Associação Cultural Beneficente Nipo-Brasileira Colônia Associação Cultural Beneficente Nipo-Brasileira de Jacupiranga Associação Cultural Brasil-Japão da Paraíba Associação Cultural Brasil-Japão de Núcleo Celso Ramos Associação Cultural Brasileira Central Rubiácea de Londrina Associação Cultural Desportiva Biritiba-Mirim Associação Cultural Desportiva Nipo-Brasileira de Jacareí Associação Cultural Desportiva de Astorga Associação Cultural Desportiva de Itaquera Associação Cultural Esportiva Agrícola de Suzano - ACEAS Nikkey Associação Cultural Esportiva Agrícola Cachoeira Associação Cultural Esportiva Arapongas-ACEAR Associação Cultural Esportiva Atlântico-São Sebastião Associação Cultural Esportiva Bonfiglioli Associação Cultural Esportiva Campo Limpo Associação Cultural Esportiva Centenário do Sul Associação Cultural Esportiva Cidade Vargas Associação Cultural Esportiva Edu Chaves Associação Cultural Esportiva Jaguaré Associação Cultural Esportiva João Branco Associação Cultural Esportiva Marialvense Associação Cultural Esportiva Nikkey Jandira
271
Associação Cultural Esportiva Nikkey de Itu Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira da Mooca Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Santo Amaro Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira Assis Chateaubriand Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Alvares Machado Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Foz do Iguaçu Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Guaratinguetá Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Ilha Solteira Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Irapuru Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Mauá Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Peruíbe Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Pindamonhangaba Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de Promissão Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira de São José do Rio Preto Associação Cultural Esportiva Nipo-Brasileira do Jardim Nossa Senhora do Carmo Associação Cultural Esportiva Nipo-Jalense Associação Cultural Esportiva Paraguaçu Paulista Associação Cultural Esportiva Três Coroas da Ponte Rasa Associação Cultural Esportiva de Bandeirantes Associação Cultural Esportiva de Cambé Associação Cultural Esportiva de Carlópolis Associação Cultural Esportiva de Cascavel - ACEC Associação Cultural Esportiva de Castro Associação Cultural Esportiva de Funchal Associação Cultural Esportiva de Garça Associação Cultural Esportiva de Goioerê Associação Cultural Esportiva de Ibaiti Associação Cultural Esportiva de Itaporanga Associação Cultural Esportiva de Ivaiporã Associação Cultural Esportiva de Maringá - ACEMA Associação Cultural Esportiva de Nova Esperança Associação Cultural Esportiva de Pereira Barreto Associação Cultural Esportiva de Tatuí Associação Cultural Esportiva do Brooklin Associação Cultural Esportiva e Agrícola Sul da Bahia Associação Cultural Esportiva e Recreativa de Tupã Associação Cultural Hinode (Quatinga) Associação Cultural Japonesa de Porto Alegre Associação Cultural Japonesa de Recife Associação Cultural Japonesa de Ribeirão Preto Associação Cultural Nipo-Brasileira Vila Nova Cachoeirinha Associação Cultural Nipo-Brasileira de Araçatuba Associação Cultural Nipo-Brasileira de Indaiatuba - ACENBI Associação Cultural Nipo-Brasileira de Pariquera Açu Associação Cultural Nipo-Brasileira de Ribeirão Pires Associação Cultural Nipo-Brasileiro de São Caetano do Sul Associação Cultural Nipo-Brasileira de Penápolis Associação Cultural Nipo-Brasileira Bairro Ouro Fino Associação Cultural Nipo-Brasileira Mirante do Paranapanema Associação Cultural Nipo-Brasileira Santo Anastácio Associação Cultural Nipo-Brasileira Sul-Matogrossense Associação Cultural Nipo-Brasileira da Alta Sorocabana Associação Cultural Nipo-Brasileira da Baixada Mogiana
272
Associação Cultural Nipo-Brasileira de Anápolis Associação Cultural Nipo-Brasileira de Araraquara Associação Cultural Nipo-Brasileira de Assis Associação Cultural Nipo-Brasileira de Cambará Associação Cultural Nipo-Brasileira de Castanhal Associação Cultural Nipo-Brasileira de Clementina Associação Cultural Nipo-Brasileira de Cuiabá e Várzea Grande Associação Cultural Nipo-Brasileira de Gama Associação Cultural Nipo-Brasileira de Guaraçaí Associação Cultural Nipo-Brasileira de Lages Associação Cultural Nipo-Brasileira de Laranja Lima Associação Cultural Nipo-Brasileira de Martinópolis Associação Cultural Nipo-Brasileira de Osvaldo Cruz Associação Cultural Nipo-Brasileira de Parapuã Associação Cultural Nipo-Brasileira de Pedreira Associação Cultural Nipo-Brasileira de Pelotas Associação Cultural Nipo-Brasileira de Presidente Bernardes Associação Cultural Nipo-Brasileira de Promissão Associação Cultural Nipo-Brasileira de Rinópolis Associação Cultural Nipo-Brasileira de Rio Grande da Serra Associação Cultural Nipo-Brasileira de Taubaté Associação Cultural Nipo-Brasileira de Vargem Bonita Associação Cultural Recreativa Esportiva Nipo-Brasileira de Pacaembu Associação Cultural Recreativa Esportiva de Presidente Epitácio Associação Cultural Recreativa de Santa Mariana Associação Cultural Showa Associação Cultural Suzanense Associação Okinawa de Vila Alpina Associação Okinawa do Carandiru Associação Pan-Amazônia Nipo-Brasileira - Apanb Associação Panamericana Nikkei do Brasil Associação Pró Excepcionais Kodomo No Sono Associação Pró-Colaboração Internacional de Agricultores do Brasil - Brasil Kokusai Noyukai Associação Recreativa Esportiva e Agrícola Presidente Venceslau Associação Recreativa e Esportiva de Cruzeiro do Sul Associação Recreativo Caraguatatuba Associação Religiosa Nambei Honganji Brasil Betsuin Associação Rural Cultural e Esportiva de Brasília Associação Rural de Casa Grande Associação Rural de Pindorama Associação Rural de Porteira Preta Associação Rural e Cultural de Alexandre Gusmão Associação Yuukio Gumi de Presidente Prudente Associação da Cultura Japonesa de Porto Alegre Associação das Vítimas da Bomba Atômica no Brasil Associação de Assistência Nipo-Brasileira do Sul Associação de Estudos da Língua Japonesa de Brasília Associação de Ikebana do Brasil - A.I.B. Associação de Intercâmbio Brasil-Japão Associação de Karatê-dô Wadô-Kai do Brasil Associação de Mallet Golf Kokushikan Associação de intercambio Brasil-Japão Associação dos Agricultores da Colônia Cerejeira
273
Associação dos Agricultores de Cocuera Associação dos Clubes de Anciões do Brasil Associação dos Imigrantes Tecno-Industriais no Brasil Associação para Comemoração do Centenário da Imigração Japonesa do Brasil Associação Cultural e Esportiva Nossa Sra. de Fatima Beneficência Nipo-Brasileira da Amazônia Beneficência Nipo-Brasileira de São Paulo Bilac Lengo Nipon Jinkai Bunkyo - Associação Cultural de Mogi das Cruzes CANC - Cidade Ademar Nikkey Clube CASM - Cooperativa Agrícola Sul de Minas CECT - Centro Esportivo e Cultural do Taboão da Serra CENIBRAS - Centro Educacional Nipo-Brasileiro CIATE - Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador no Exterior COAG - Cooperativa Agrícola de Guatapará Casa de Reabilitação Social em Santos Casa de Repouso Akebono Casa de Repouso Suzano Centro Brasileiro de Língua Japonesa Centro Cultural Hiroshima do Brasil Centro Cultural Tomodachi Centro Cultural de Ibiúna Centro Esportivo Cultural Itapecerica Centro Internacional de Intercambio Cultural - Intercultural Centro de Ação Social Enkyo Centro de Chado Urasenke do Brasil Centro de Chado Urassenke do Brasil APAGAR Centro de Estudos Nipo-Brasileiros (Jinmonken) Centro de Reabilitação Psicossocial em Guarulhos Cidade Vargas Shinwa Kyokai Clube Agrícola Cooperativista de Guapiara Clube Agrícola de Cultura Nipo-Brasileira de Gália Clube Agrícola dos Cooperados de Guapiara Clube Atlético Catugiense Clube Cultural Nipo-Brasileiro de Bauru Clube Cultural e Recreativo Nipo-Brasileiro de Piracicaba Clube Japonês de Pindamonhangaba Clube Nipo-Brasileiro Caçapava - CNBC Clube Recreativo Cereja Clube Recreativo Orion Clube Taruma - Associação Nipo-Brasileira São Mateus do Sul Clube da Comunidade do Parque Continental Colônia Palmital Comunidades Confederação Brasileira de Beisebol e Softbol Confederação Brasileira de Kendô Confederação Brasileira de Sumo Confederação Sul Americana de Sumô Coopercotia Atlético Clube Cotia Seinem Renraku Kyoguikai Câmara Junior Brasil - Japão Câmara de Comercio e Indústria Japonesa do Brasil Diadema Bunka Kyokai
274
Escola de Educação Infantil Hei Sei Escola de Língua Japonesa de Palmas Estrela de Ouro F. C. FANSC - Federação das Associações Nikkeys de Santa Catarina FENIVAR - Federação das Entidades Nikkeys do Vale do Ribeira Federação Cearense de Judô Federação Cultural Nipo-Brasileira da Bahia Federação Paulista de Beisebol e Softbol Federação Paulista de Karate Kyokushin Federação Paulista de Mallet Golf Federação Paulista de Taiko Federação Radio Taissô do Brasil Federação das Associações Culturais Nipo Brasileiras da Noroeste Federação das Associações Nipo-Brasileiras do Centro Oeste - FEANBRA Federação das Associações das Províncias do Japão no Brasil - Kenren Federação de Sakura e Ipê do Brasil Federação do "Rádio Taissô" do Brasil Federação dos Clubes Nipo-Brasileiros de Anciões Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia Grêmio Cultural Recreativo Rio Branco Vila Buenos Aires Grêmio Recreativo Nipo-Brasileiro de Utinga Grêmio Recreativo Rudge Ramos Grupo Escoteiro Caramuru 26/SP Grupo Harmonia Solidária Grupo Hikari Grupo NK Contabilidade Grupo Nikkey - Instituto de Promoção Humana Grupo Okinalar Han Brasília Nikkei Dantai Renraku Kyoguikai Hospital Nipo Brasileiro INTEGRADA Cooperativa Agroindustrial IPTDA-JATAK - Instituto de Pesquisas Técnicas e Difusões Agropecuárias da Jatak Instituto Cultural Brasil Japão Instituto Cultural Nipo-Brasileiro de Campinas Instituto ìcaro Instituto Kasato Maru de Assistência e Cultura Instituto Mais Atitude Instituto Tomie Ohtake Intercolonial Brasileiro de Tênis de Mesa Itaquera Nikkei Clube JAPANCHAM - Câmara do Comércio e Indústria Brasil Japão do Paraná JATAK do Brasil JCI - Junior Chamber International - Brasil-Japão JET AA - Associação dos Ex-Participantes do Jet Programme Jetaa Brasil - Associação Brasileira Ex-Participantes do Jet Programme Junqueirópolis Esporte Clube - JEC Kosmos Clube de Mogi das Cruzes Liga Cultural Brasil-Japão de Curitibanos Liga Nipo Brasileira de Futsal Liga das Associações Culturais de Assai - LACA Liga das Associações Nikkeys do Vale do Paraíba, Litoral Norte e S.MA NIBRAIT - União Cultural Nipo-Brasileira de Itatiba NOTAKYO-Cooperativa Central Agrícola e de Colonização do Brasil
275
Nagasaki Kenjinkai do Brasil Nikkeypedia: Portal comunitário Nippon Country Club Núcleo Educacional Uehara Gakuen Piabeta Nikkei Clube Pinheiros Bunka Shimboku-kai Portal: Associações Porto Velho Nikkey Club Presidente Venceslau-Liga Sorocabana de Gueitebol Recanto de Repouso Sakura Home Registro Base Ball Club Rotary Club de São Paulo Liberdade SP Flores Cooperativa Agrícola Flores de São Paulo Santo Amaro Nikkey Esporte Clube Seitoo Renmei - União Cultural Esportiva SP - Leste Sindicato Rural Mogi das Cruzes Sindicato Rural de Ibiúna Sindicato Rural de São Paulo Sociedade Agro Cultural Japonesa de Regente Feijó Sociedade Amigos de Tokyo Sociedade Atlética Cultural Itaporanguense Sociedade Atlética Showa Sociedade Beneficente Casa da Esperança - Kibô-No-Iê Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social - Bunkyo Sociedade Brasileira de Música Folclórica Japonesa Sociedade Brasileira e Japonesa de Beneficência Santa Cruz Sociedade Bunkyo de São José dos Campos Sociedade Cultural ABC Sociedade Cultural Assistencial Nihonjinkai de São Caetano do Sul Sociedade Cultural Esportiva Guaimbé Sociedade Cultural Esportiva Loandense Sociedade Cultural Japonesa de Ribeirão Preto Sociedade Cultural Nipo-Brasileira de Brasília Sociedade Cultural Nipo-Brasileira de Rancharia Sociedade Cultural de Jabaquara Sociedade Cultural e Beneficente Nipo-Brasileira de Rio Claro Sociedade Cultural e Esportiva Nipo-Brasileira de Rondonópolis Sociedade Desportiva de Cruzeiro do Oeste Sociedade Esportiva e Cultural Santo Amaro Sociedade Japonesa Cultural e Desportiva Ana Dias Sociedade Japonesa de Educação e Cultura Sociedade Kyodo Minyo do Brasil Sociedade Municipal Nipônica de Getulina Sociedade Nipo-Brasileira de Guarujá Sociedade Nipo-Brasileira de Campo Mourão - SONIBRAN Sociedade Nipo-Brasileira de Floresta Sociedade Nipo-Brasileira de Itariri Sociedade Nipo-Brasileira de Santa Maria Sociedade Paranavaiense de Desporte e Cultura Sociedade Santa Isabel de Cultura Japonesa Sociedade Shimane Kenjin do Brasil Sociedade Sul de Mogi das Cruzes - Capela Km. 11 Taquaritinga Nipo Clube
276
Templo Hompa Honganji do Brasil (Nishi - Honganji) Teresópolis Nikkei Clube UCEG - União Cultural e Esportiva Guarulhense UCES - União Cultural e Esportiva Sudoeste UPK União Paulista de Karaokê União Asahi Baseball Clube União Cultural Esportiva Jandaiense União Cultural e Esportiva Miracatuense União Cultural e Esportiva Nipobrasileiro de Sorocaba - UCENS União Cultural e Esportiva São Paulo Norte União Paulista de Karaoke - UPK União das Associações Culturais de Santo Amaro União das Associações Nipo-Brasileira de São Bernardo do Campo União das Entidades Nipo-Brasileiras de Santo André União dos Clubes de Gateball do Brasil