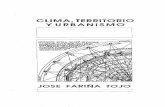FACULDADES BARDDAL – UNIESP ARQUITETURA E URBANISMO
Transcript of FACULDADES BARDDAL – UNIESP ARQUITETURA E URBANISMO
FACULDADES BARDDAL – UNIESP
ARQUITETURA E URBANISMO
DANIELLA ZATARIAN
PARQUE ZÉ PERRI:
CULTURA, LAZER E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NO CAMPECHE
Florianópolis
2014
DANIELLA ZATARIAN
PARQUE ZÉ PERRI:
CULTURA, LAZER E PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS NO CAMPECHE
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso
de Graduação de Arquitetura e Urbanismo, das
Faculdades Barddal – UNIESP, como requisito parcial
para obtenção do título de Bacharel em Arquitetura e
Urbanismo.
Orientadora: Profa. Jaqueline Andrade, Me.
Florianópolis
2014
Ficha de identificação da obra, elaborada pelo autor.
Zatarian, Daniella
Parque Zé Perri : Cultura, lazer e práticas sustentáveis no Campeche
/ Daniella Zatarian ; orientador, Jaqueline Andrade – Florianópolis,
SC, 2014.
189 p.: il.
Trabalho de Conclusão de Curso (graduação) – UNIESP/Faculdades
de Artes Aplicadas Barddal. Graduação em Arquitetura e
Urbanismo.
Inclui referências
1. Arquitetura e Urbanismo. 2. Parque urbano. 3. Gestão sustentável.
4. Campeche. 5. Antoine de Saint-Exupéry. I. Andrade, Jaqueline. II.
UNIESP. Graduação em Arquitetura e Urbanismo. III. Título.
DANIELLA ZATARIAN
PARQUE DE CULTURA E LAZER DO CAMPECHE
Este Trabalho de Conclusão de Curso foi julgado
adequado à obtenção do título de Bacharel em
Arquitetura e Urbanismo e aprovado em sua forma final
pelo Curso de Arquitetura e Urbanismo, das Faculdades
Barddal – UNIESP.
Florianópolis, 9 de junho de 2014.
______________________________________
Dulce América de Souza, Arq. Me.
Coordenadora do Curso de Arquitetura e Urbanismo
______________________________________
Tatiani Pires Passos, Arq. Esp.
Coordenadora de TCC – Presidente de Banca Examinadora
________________________________________
Jaqueline Andrade, Arq. Me.
Orientadora
_________________________________________
Maria Amália Buchele, Me.
Examinador Interno
_________________________________________
Anna Freitas Pimenta, Arq.
Examinador Interno
AGRADECIMENTOS
À Faculdade Barddal, por possibilitar a realização de um sonho.
À Diretora Dulce América de Souza, por seu entusiasmo e por ter me transmitido
o amor pela arquitetura.
À todos os professores da faculdade, pela contribuição de seus conhecimentos, em
especial, à professora Melissa Laus Mattos.
Ao Escritório de Arquitetura Anna Maya e Anderson Schussler e a equipe da
MOS Arquitetos Associados, onde adquiri experiência profissional e amizades.
Ao escritório Ruy Rezende Arquitetura, em especial a Vania Milhão, pela
gentileza em fornecer o material para análise de modelo.
À Mônica Cristina Corrêa, pesquisadora da Fundação Latécoère, pela luta e
dedicação à história e memória do lugar.
À minha orientadora Jaqueline Andrade, por seus conselhos, apoio e dedicação.
Aos amigos, Carina Provinelli, Carolina Lima, Deivson Silvano, Gabriel Rau,
Gisele Isaias, Gisele Valério, Janine Pitz, Mayra Ender, Milena Dallposso e Talita Balestra,
pelas cervejas, risadas e companheirismo.
À minha mãe, por sempre se preocupar e por ensinar que o mundo é lindo.
Aos meus irmãos, sobrinhos, cunhados e sogros, pelo carinho e compreensão de
minhas ausências.
E, principalmente, agradeço ao meu marido Alexandre Felix, co-orientador
excepcional, amigo e parceiro para todos os momentos, pois, sem seu amor, dedicação,
compreensão e incentivo, nada disso seria possível.
RESUMO
Como parte da história da sociedade, os espaços públicos, quando associados ao lazer, têm
como principal objetivo melhorar a qualidade de vida dos que o frequentam. Como propósito
deste trabalho, pretende-se desenvolver um parque urbano que visa a diminuição de custos
aos cofres públicos relacionados a conservação do parque e possibilitando a vivência
agradável pelos usuários. A escolha do sítio para a implantação do parque, o Campo de
Aviação, situado no bairro Campeche, em Florianópolis, foi determinada por adventos
ocorridos ao longo da história, que induziram à população a apropriação do lugar, tornando-o
parte da vida social de seus moradores. Essa história está associada ao escritor e Aviador
Antoine de Saint-Exupéry, piloto da companhia aérea Latècoére, que utilizava o pasto do
Campeche como parada estratégica para descanso e reabastecimento dos aviões. Para tanto,
buscou-se uma fundamentação teórica que abordasse questões relacionadas a paisagem e
equipamentos urbanos, a evolução histórica desses lugares, fez-se um levantamento dos
parques urbanos brasileiros, foram pontuadas as características dos parques urbanos
contemporâneos e as complexidades inerentes a eles. Além disso, estudaram-se conceitos de
mobiliário urbano, desenho universal, formas de planejamento, implantação e gestão
sustentável de parques. Como finalização da fundamentação teórica, fez-se uma análise
conceitual de dois modelos referenciais: a Praça Victor Civita, em São Paulo, projetada pelo
escritório Levisky Arquitetos Associados, com participação da arquiteta convidada Anna
Dietzsch e do paisagista Benedito Abbud, e o Parque Madureira, no Rio de Janeiro, idealizado
pelo engenheiro Mauro Bonelli e projetado pelo escritório Ruy Rezende Arquitetura. Como
parte primordial para a concepção de qualquer projeto, foi feito um levantamento histórico e
estudadas as condicionantes naturais, socioeconômicas e legais do terreno e de seu entorno
imediato. Por fim, como resultado final, foi elaborada uma proposta conceitual do partido
geral, com diretrizes que devem ser abordadas e desenvolvidas na etapa posterior, a qual dará
continuidade a este estudo.
Palavras-chave: Parque urbano. Gestão sustentável. Campeche. Antoine de Saint-Exupéry.
ABSTRACT
Public spaces associated with leisure, member part of the history of cities, aims to improve
the quality of life of goers. The Campo de Aviação (Airfield), the site chosen for the
implementation of this park, is located in the district of Campeche in Florianópolis. His
choice was determined by historical facts associated with the writer and aviator Antoine de
Saint-Exupéry, pilot of the Latecoère airline that used grazing field of Campeche as a strategic
stop for rest and refueling of airplanes. These facts induced the population to take ownership
of the place and make it part of the social life of its inhabitants. As theoretical framework,
matters relating to landscape and urban equipments, historical evolution of these places,
survey of Brazilian city parks, characteristics of contemporary city parks and complexities
inherent in them have been addressed. Moreover, have been studied concepts of urban
furniture, universal design and forms of planning, implementation and sustainable
management of parks. Was also making a conceptual analysis of two reference models: the
Victor Civita Square in São Paulo, designed by Associated Architects office Levinsky, with
participation of invited architect Anna Dietzsch and landscape designer Benedito Abbud; and
Madureira Park in Rio de Janeiro, idealized by engineer Mauro Bonelli and designed by Ruy
Rezende office architecture. Beyond of the historical survey, like as central part of the design
of any Project, natural, socioeconomic and legal constraints of the land and its immediate
surroundings were studied. As the final result, it was developed a conceptual proposal of the
general party, with guidelines that should be addressed and developed in a later stage.
Keywords: City park. Sustainable management. Campeche. Antoine de Saint-Exupéry.
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Foto antiga (sem data) do Campo de Aviação, Campeche ..................................... 26
Figura 2 – Mapa da rota da Compagnie Générale Aéropostale ................................................ 27
Figura 3 – Antoine de Saint-Exupéry ....................................................................................... 27
Figura 4 – Deca recebendo a homenagem da Base Aérea de Florianópolis............................. 28
Figura 5 – Marco do Campeche ............................................................................................... 28
Figura 6 – Casarão Popote, onde funcionava a administração da Aéropostale e lugar de
descanso dos pilotos ................................................................................................................. 28
Figura 7 – O Boulevar Oroño, em Rosário, se configura como uma Via ................................ 32
Figura 8 – Rio da Prata, em Rosário, elemento linear e Limite da cidade ............................... 32
Figura 9 – O Monumento à Bandeira, em Rosário, se configura como Ponto Nodal e seu
entorno é conformado como Bairro .......................................................................................... 33
Figura 10 – Torre em homenagem à idenpendência da Pátria, em Rosário, se configura
como Marco .............................................................................................................................. 33
Figura 11 – Aldeia neolítica de Aichbuhlim Federseemor, na Alemanha (2000 a.C.), a
praça aparece como espaço central da aldeia ........................................................................... 39
Figura 12 – Reconstituição em maquete do Santuário de Olímpia envolvido pelo ágora ........ 40
Figura 13 – Reconstituição do Fórum Trajano ......................................................................... 41
Figura 14 – Imagem em azulejos so séc. XVIII, retratando o Mercado na Lisboa medieval. . 41
Figura 15 – Place des Vosges, inicialmente era chamada Place Royale, foi construída no
início do séc. XVII ................................................................................................................... 43
Figura 16 – Projeto do Central Park, proposto por Olmsted e Vaux em 1872 ......................... 45
Figura 17 – Planta da reforma do Passeio público, c. 1870, projetado por Auguste François
Marie Glaziou ........................................................................................................................... 46
Figura 18 – Jardim Botânico, litografia, c. 1840-1860, O Jardim Botânico e ao fundo vê-se
o Corcovado. A Aléia das Mangueiras e ao fundo Aléia das Palmeiras e cidadãos
passeando, Coleção Geyer, Centro Cultural Banco do Brasil .................................................. 47
Figura 19 – Jardim Botânico, fotografia, c. 1880, portão principal do Jardim Botanico com
guarda postado na frente. Aléia das palmeiras, Coleção Gilberto Ferrez ................................. 47
Figura 20 – Planta do Campo de Santana, c. 1870-1880, projetado por Auguste François
Marie Glaziou ........................................................................................................................... 48
Figura 21 – Jardim Botânico de São Paulo, registro do período de 1844-1847. Mapa
levantado pelo engenheiro C. A. Bresser. ................................................................................ 49
Figura 22 – Ante projeto feito por Alfred Agache, em 1928, do Parque Farroupilha de
Porto Alegre .............................................................................................................................. 49
Figura 23 – Projeto de Burle Marx para o Parque Rogério Pithon Farias .............................. 50
Figura 24 – Parque da Juventude, em São Paulo ...................................................................... 51
Figura 25 – Com grandes massas aborizadas, o Parque Ecológico do Tietê, em São Paulo
estende-se por 103 km e surgiu com a pretensão de preservar a várzea ainda intacta do rio
Tietê .......................................................................................................................................... 54
Figura 26 – O paisagismo e a arquitetura da Praça Victor Civita, em São Paulo, foi
projetado dar vida e beleza a uma área degradada ................................................................... 54
Figura 27 – O Parque Dona Lindu, no Recife, conta com um teatro e uma galeria para
exposição desenhados por Oscar Niemeyer ............................................................................. 54
Figura 28 – Os sete princípios do desenho universal ............................................................... 61
Figura 29 – Espaço impeditivo para livre mobilidade .......................................................... 63
Figura 30 – Terminal de auto-atendimento com letras reduzidas ............................................ 63
Figura 31 – Um interfone pode dificultar o acesso a serviços públicos para quem não
escuta bem ................................................................................................................................ 63
Figura 32 – Dificuldades encontradas no tratamento das informações existentes no meio
ambiente ................................................................................................................................... 63
Figura 33 – Fluxograma para o desenvolvimento de projetos de espaços públicos ................. 68
Figura 34 – Sede do Laboratório de Remediação de Águas Subterrâneas da UFSC ............. 75
Figura 35 – Richmond Olympic Oval, Vancouver, Canadá, projetado pelo escritório
Cannon Design ......................................................................................................................... 75
Figura 36 – Pavilhão de exposições de Avignon, França ......................................................... 75
Figura 37 – Centro Comunitário em Sichuan, na China, do escritório Oval Partnership ........ 76
Figura 38 – A plasticidade do concreto nas obras de Oscar Niemeyer .................................... 76
Figura 39 – Piso grama (esq.) e pavimento intertravado (dir.) ................................................. 79
Figura 40 – Ecopavimento ........................................................................................................ 79
Figura 41 – Asfalto-borracha aplicado pela EcoVias em 30 km da serra da via Anchieta,
São Paulo .................................................................................................................................. 79
Figura 42 – Concreto permeável .............................................................................................. 79
Figura 43 – Vista aérea da marquise do Parque Ibirapuera ...................................................... 80
Figura 44 – Marquise (esq.) e Lago Ibirapuera (dir.) ............................................................... 81
Figura 45 – Mapa do Parque Ibirapuera ................................................................................... 81
Figura 46 – Vista aérea do Parque da Juventude ...................................................................... 82
Figura 47 – Parque da Juventude: quadras esportivas (esq.) e passarelas contemplativas
(dir.) .......................................................................................................................................... 83
Figura 48 – Mapa do Parque da Juventude............................................................................... 83
Figura 49 – Vista aérea Jardim Botânico de Curitiba ............................................................... 84
Figura 50 – Jardim Botânico, estufa metálica (esq.), Jardim das Sensações (dir.)................... 84
Figura 51 – Mapa do Jardim Botânico ..................................................................................... 85
Figura 52 – Vista aérea do Parque Tom Jobim, Rio de Janeiro ............................................... 86
Figura 53 – Parque Tom Jobim ................................................................................................ 86
Figura 54 – Mapa do Parque Tom Jobim ................................................................................. 87
Figura 55 – Vista aérea do Parque Micaela Bastidas ............................................................... 88
Figura 56 – Espaços de lazer .................................................................................................... 88
Figura 57 – Planta do Parque Micaela Bastidas ....................................................................... 89
Figura 58 – Vista geral do Parque Urbano de São Romão ....................................................... 90
Figura 59 – Pista de skate (esq.) e paredão de escalada (dir.) .................................................. 90
Figura 60 – Centro de visitantes do Jardim Botânico do Brooklyn, New York, EUA,
projeto de Weiss/Mandredi ....................................................................................................... 91
Figura 61 – Pavilhão fotovoltaico da Universidade de Potsdam, Alemanha, utilizado como
espaço para eventos sociais, debate de ideias e apresentações, projeto de O&O Baukunst ..... 92
Figura 62 – Centro cível criado para o município de Modica, Itália, projeto de Emanuele
Fidone ....................................................................................................................................... 93
Figura 63 – Centro Poliesportivo de Eichi Niederglatt, Suíça, projeto por L3P Architekten .. 94
Figura 64 – Centro Comunitário Oostcampus, Bélgica, projetado por Carlos Arroyo e
Vanessa Cerezo ........................................................................................................................ 95
Figura 65 – Centro de Visita do Viveiro Nacional de Canberra, Austrália, projetado por
Tonkin Zulaikha Greer Arquitetos ........................................................................................... 96
Figura 66 – Proteção solar no Jardim Australiano, projetado por Taylor Cullity Lethlean +
Paul Thompson ......................................................................................................................... 97
Figura 67 – Red Ribbon Parque de Qinhuangda, Hebei, China, projeto de Turenscape ......... 97
Figura 68 – Mobiliário urbano utilizando material reciclável, centro urbano de Bologna,
projeto de Gravalos & Dimonte ............................................................................................... 98
Figura 69 – Playground escultural, Wiesbaden, Alemanha ...................................................... 99
Figura 70 – Equipamentos esportivos, Hafenpark, Frankfurt, Alemanha, projeto de Sinai
Arquitetos e Paisagistas Ltda. ................................................................................................. 100
Figura 71 – Cerca escultural móvel, giram e servem de bancos e painéis para exposições.
Lentspace, Brooklyn, New York, EUA, projetado por Interboro........................................... 101
Figura 72 – Nessie, mobiliário urbano modular, Bologna, Itália, desenhado por BScape
Arquitetura e Paisagismo ........................................................................................................ 102
Figura 73 – Urban Nature Skatepark, Alingsås, Suécia, projeto de Traverso-Vighy
Architetti ................................................................................................................................. 103
Figura 74 – Banheiro público, Lady Bird Lake Trail, Austin, Texas, EUA, projeto de Miro
Rivera Architects .................................................................................................................... 104
Figura 75 – Summer Cinema, Moscou, Rússia, projetado por Wowhaus Architecture
Bureau ..................................................................................................................................... 105
Figura 76 – Localização da Praça Victor Civita na cidade de São Paulo ............................... 107
Figura 77 – À esquerda, imagem de satélite de 2003 do local onde, atualmente, encontra-se
a Praça Victor Civita; à direita, imagem de satélite de 2008 já com a praça implantada ....... 108
Figura 78 – Foto aérea da Praça Victor Civita ....................................................................... 108
Figura 79 – O deck se desdobra em planos verticais e horizontais ........................................ 109
Figura 80 – Planta baixa e programa da Praça Victor Civita ................................................. 110
Figura 81 – À esquerda Museu da Reabilitação Ambiental (Edifício Incinerador), ao
centro, a Arena com arquibancada para 240 pessoas ............................................................. 111
Figura 82 – À direita espaço com equipamentos de ginástica ................................................ 111
Figura 83 – Localização do Parque Madureira na cidade do Rio de Janeiro ......................... 112
Figura 84 – Imagem de satélite do ano de 2003, apresentando a área onde atualmente
encontra-se o Parque Madureira e, abaixo, a imagem de satélite atual, da mesma área, já
com a implantação do referido parque ................................................................................... 113
Figura 85 – Foto aérea atual do Parque Madureira ................................................................ 113
Figura 86 – Foto aérea do terreno antes da implantação do Parque Madureira. Nessa faixa
constavam as redes de transmissão e de distribuição de energia elétrica e da empresa Light,
além de uma linha férrea ........................................................................................................ 114
Figura 87 – Parque iluminado com lâmpadas de baixo custo (LED) ..................................... 115
Figura 88 – Planta baixa com a setorização espacial do Parque Madureira ........................... 116
Figura 89 – Praça do Samba, no Parque Madureira ............................................................... 117
Figura 90 – Circuito de Lagos, no Parque Madureira ............................................................ 117
Figura 91 – Nave do Conhecimento, no Parque Madureira ................................................... 117
Figura 92 – Skate park, no Parque Madureira ........................................................................ 118
Figura 93 – Arena Carioca Fernando Torres, no Parque Madureira ...................................... 118
Figura 94 – Visão serial da Praça Victor Civita ..................................................................... 120
Figura 95 – Visão serial do Parque Madureira ....................................................................... 121
Figura 96 – Território ocupado da Praça Victor Civita .......................................................... 122
Figura 97 – Parque Madureira e seus espaços de permanência .............................................. 122
Figura 98 – O deck de madeira da Praça Victor Civita, que leva o usuário à apropriação
pelo movimento, assim como os passeios nos limites da praça ............................................. 123
Figura 99 – Os passeios por toda a extensão do Parque Madureira levam o usuário à
apropriação pelo movimento .................................................................................................. 123
Figura 100 – Na esquerda, a foto mostra os usuários da Praça Victor Civita em atividades
diversas, no ócio ou em movimento, assim como no Parque Madureira (à direita) ............... 124
Figura 101 – Na esquerda, a delimitação do espaço é feita pela elevação do deck da Praça
Victor Civita que se transforma em guarda-corpo. Na direita, o pequeno jardim do Parque
Madureira é delimitado por floreiras ...................................................................................... 124
Figura 102 – Na Praça Victor Civita, as possibilidades de desvios levam o usuário a
diversos objetivos e boas sensações ....................................................................................... 125
Figura 103 – No Parque Madureira, o desvio obrigatório do Circuito dos Lagos
proporciona o prazer de uma temperatura mais branda .......................................................... 125
Figura 104 – O deck de madeira centralizado conecta-se a todos os ambientes e passeios
perimetrais da Praça Victor Civita ......................................................................................... 126
Figura 105 – O Parque Madureira possui pavimentação diferenciada para os diversos tipos
de atividades, conectando seus diversos ambientes................................................................ 127
Figura 106 – A vegetação exuberante da Praça Victor Civita transmite uma atmosfera de
interioridade ............................................................................................................................ 128
Figura 107 – Os ambientes do Parque Madureira possuem vitalidade e calor humano ......... 128
Figura 108 – O contraste da Praça Victor Civita se dá através do verde do bosque com a
construção bruta da antiga incineradora de lixo, mas que transmite um aspecto modesto .... 129
Figura 109 – O contraste do verde do Parque Madureira com o cinza de seu entorno
imediato .................................................................................................................................. 129
Figura 110 – Vias do entorno da Praça Victor Civita ............................................................ 131
Figura 111 – Marginal Pinheiros, Ferrovia e Ciclovia ........................................................... 132
Figura 112 – Av. das Nações Unidas ..................................................................................... 132
Figura 113 – Av. Professor Frederico Hermann Júnior.......................................................... 132
Figura 114 – Rua Costa Carvalho .......................................................................................... 132
Figura 115 – Rua Sumidouro, entrada da Praça Victor Civita ............................................... 132
Figura 116 – Vias da Praça Victor Civita ............................................................................... 133
Figura 117 – Vias do entorno do Parque Madureira .............................................................. 134
Figura 118 – Estação Ferroviária Mercadão Madureira ......................................................... 135
Figura 119 – Av. dos Italianos ............................................................................................... 135
Figura 120 – Estrada do Portela ............................................................................................. 135
Figura 121 – Rua Conselheiro Galvão ................................................................................... 135
Figura 122 – Rua Soares Caldeira .......................................................................................... 135
Figura 123 – Rua Pirapora ...................................................................................................... 135
Figura 124 – Vias do Parque Madureira ................................................................................. 136
Figura 125 – Ciclovias e vias pedonais do Parque Madureira ............................................... 136
Figura 126 – Limite do entorno da Praça Victor Civita ......................................................... 137
Figura 127 – Rio Pinheiros e Linha de Transporte Ferroviário .............................................. 137
Figura 128 – Limite da Praça Victor Civita ........................................................................... 137
Figura 129 – Limite do entorno do Parque Madureira ........................................................... 138
Figura 130 – Parque Madureira com seu limite intransponível à direita ................................ 138
Figura 131 – Limite do Parque Madureira ............................................................................. 139
Figura 132 – Zonas homogêneas do entorno da Praça Victor Civita, nota-se uma diferença
no padrão arquitetônico dentro da ZM-2 (delimitado em amarelo) ....................................... 140
Figura 133 – Zonas homogêneas do entorno do Parque Madureira ....................................... 140
Figura 134 – Pontos nodais relevantes do entorno da Praça Victor Civita ............................ 142
Figura 135 – Pontos nodais relevantes do entorno do Parque Madureira .............................. 143
Figura 136 – Marcos do entrono da Praça Victor Civita, nota-se o prédio da Editora Abril, vista
de diversos pontos .................................................................................................................... 144
Figura 137 – Marcos do entrono do Parque Madureura, nota-se que as torres da linha de
transmissão de energia pode ser visualisada de diversos pontos do parque ........................... 145
Figura 138 – Localização do Distrito do Campeche, o polígono vermelho se refere a área
que será estudada .................................................................................................................... 147
Figura 139 – Ilha do Campeche ao fundo............................................................................... 147
Figura 140 – Campo de Aviação ............................................................................................ 148
Figura 141 – Principal acesso à praia do Campeche, final da Av. Pequeno Príncipe ............ 148
Figura 142 – Campo de Aviação ............................................................................................ 149
Figura 143 – Vista geral do Campo de Aviação, nota-se o relevo totalmente plano ............. 149
Figura 144 – Vista geral da vegetação existente no Campo de Aviação, onde se nota a
vegetação herbácea em primeiro plano e a vegetação arbórea exótica ao fundo ................... 150
Figura 145 – Detalhe da vegetação arbórea nativa existente no Campo de Aviação ............. 150
Figura 146 – Detalhe da vegetação arbórea exótica, predominante no Campo de Aviação .. 150
Figura 147 – Vista geral do canal de drenagem artificial existente no Campo de Aviação ... 151
Figura 148 – No terreno, deve-se tomar decisões projetuais para diminuir a insolação do
verão e barrar o vento sul no inverno ..................................................................................... 151
Figura 149 – Evolução socioespacial da área analisada, o polígono vermelho indica o
Campo de Aviação ................................................................................................................. 153
Figura 150 – Residências uni e multifamiliares na região de entorno do Campo de Aviação154
Figura 151 – Mapa de ocupação e uso do solo na região de entorno do Campo de Aviação 155
Figura 152 – Vazios urbanos na região de entorno do Campo de Aviação............................ 155
Figura 153 – Zoneamento de acordo com o Plano Diretor Vigente do município de
Florianópolis ........................................................................................................................... 158
Figura 154 – Identificação dos pontos de análise da visão serial ........................................... 159
Figura 155 – Vista do Ponto 1 ................................................................................................ 160
Figura 156 – Vista do Ponto 2 ................................................................................................ 160
Figura 157 – Vista do Ponto 3 ................................................................................................ 160
Figura 158 – Vista do Ponto 4, ao fundo observa-se as torres de celular e o morro do
Lampião .................................................................................................................................. 161
Figura 159 – Vista do Ponto 5 ................................................................................................ 161
Figura 160 – Vista do Ponto 6 ................................................................................................ 161
Figura 161 – Vista do Ponto 7 ................................................................................................ 162
Figura 162 – Vista do Ponto 8 ................................................................................................ 162
Figura 163 – Trilhas do Campo de Aviação, notaram-se em alguns locais onde moradores
jogam entulhos ........................................................................................................................ 162
Figura 164 – Vias e limites ..................................................................................................... 163
Figura 165 – Av. Pequeno Príncipe ........................................................................................ 164
Figura 166 – Av. Campeche ................................................................................................... 165
Figura 167 – À esquerda Rua da Capela, à direita Serv. Catavento ....................................... 165
Figura 168 – Zonas homogêneas ............................................................................................ 166
Figura 169 – Pontos nodais e marcos ..................................................................................... 167
Figura 170 – Supermercado, posto de saúde, entrada e saída da Rua do Gramal, torre de
celular ..................................................................................................................................... 167
Figura 171 – Entrada e saída da Rua da Capela, torre de celular e playground ..................... 168
Figura 172 – Entrada e saída da Av. Campeche, Escola Municipal Brigadeiro Eduardo
Gomes e feira de rua ............................................................................................................... 168
Figura 173 – Entrada e saída da Rua das Corticeiras para a Av. Pequeno Príncipe ............... 169
Figura 174 – Final da Av. Pequeno Príncipe, rótula de retorno e acesso à praia ................... 169
Figura 175 – Foto à esquerda, Point do Riozinho, acesso à praia, à direita, cruzamento da
Rua da Capela com a Av. Campeche ..................................................................................... 170
Figura 176 – Foto à esquerda, cruzamento em a Rua da Capela e a Av. Campeche, à direita
Igreja ....................................................................................................................................... 170
Figura 177 – Morro do Lampião, à esquerda vista do Campo de Aviação, à direita vista da
praia (próximo à Capela) .......................................................................................................... 170
LISTA DE QUADROS
Quadro 1 – Tipologias dos equipamentos de lazer ................................................................... 35
Quadro 2 – Equipamentos e instalações de lazer ..................................................................... 35
Quadro 3 – Classificação de acordo com a função conforme alguns pesquisadores ............... 58
Quadro 4 – Principais desafios para atingir a sustentabilidade ................................................ 66
Quadro 5 – Certificação AQUA do Parque Madureira .......................................................... 114
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 19
1.1 PROBLEMÁTICA .......................................................................................................... 20
1.2 OBJETIVOS .................................................................................................................... 20
1.2.1 Objetivo geral .............................................................................................................. 20
1.2.2 Objetivos específicos ................................................................................................... 20
1.3 JUSTIFICATIVA ............................................................................................................ 21
1.4 METODOLOGIA DE PESQUISA ................................................................................. 22
1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO .................................................................................... 23
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ................................................................................... 24
2.1 ESPAÇO E MEMÓRIA .................................................................................................. 24
2.2 PAISAGEM URBANA ................................................................................................... 29
2.3 EQUIPAMENTOS URBANOS ...................................................................................... 33
2.4 PARQUES URBANOS ................................................................................................... 35
2.4.1 Evolução histórica dos espaços públicos ................................................................... 38
2.4.2 Parques urbanos no Brasil ......................................................................................... 46
2.4.3 Características dos parques urbanos contemporâneos ........................................... 50
2.4.3.1 O parque urbano e suas complexidades ..................................................................... 51
2.4.3.2 Funções dos parques urbanos .................................................................................... 53
2.4.3.3 Paisagismo ................................................................................................................. 55
2.4.3.4 Mobiliário urbano ...................................................................................................... 57
2.4.3.4.1 Desenho Universal .................................................................................................. 58
2.5 PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS
PARQUES URBANOS ............................................................................................................ 64
2.5.1 Planejando um parque urbano sustentável .............................................................. 64
2.5.2 Implantação e gestão eficientes .................................................................................. 69
2.6 MATERIAIS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS ............................................................ 72
2.6.1 Madeira ........................................................................................................................ 73
2.6.1.1 Madeira Laminada Colada (MLC) ............................................................................. 74
2.6.1.2 Bambu Laminado Colado (BLC) ............................................................................... 75
2.6.2 Concreto armado ........................................................................................................ 76
2.6.3 Pavimentação .............................................................................................................. 77
2.7 CADERNO DE REFERENCIAIS ................................................................................... 80
2.7.1 Referenciais urbanísticos ........................................................................................... 80
2.7.2 Referenciais arquitetônicos contemporâneos ........................................................... 91
2.7.3 Mobiliário .................................................................................................................... 97
3 ANÁLISES DE MODELOS ARQUITETÔNICOS .................................................... 106
3.1 PRAÇA VICTOR CIVITA, SÃO PAULO ................................................................... 106
3.2 PARQUE MADUREIRA, RIO DE JANEIRO ............................................................. 112
3.3 ANÁLISE DAS OBRAS ............................................................................................... 118
3.3.1 Análise da paisagem de acordo com Gordon Cullen (2008) ................................. 119
3.3.2 Análise da paisagem de acordo com Kevin Lynch (1997) ..................................... 130
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA ÁREA DE ESTUDO ........................................ 146
4.1 O CAMPECHE .............................................................................................................. 146
4.2 ÁREA DE INTERVENÇÃO: O CAMPO DE AVIAÇÃO ........................................... 148
4.2.1 Condicionantes naturais ........................................................................................... 149
4.2.2 Condicionantes socioespaciais ................................................................................. 152
4.2.2.1 Infraestrutura pública ............................................................................................... 156
4.2.3 Condicionantes legais ............................................................................................... 157
4.2.4 Análise da paisagem .................................................................................................. 159
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................................... 171
5.1 REVISÃO DA PROBLEMÁTICA E PROPOSIÇÃO .................................................. 171
5.2 PARTIDO CONCEITUAL A SER ADOTADO ........................................................... 171
6 CONCLUSÃO ................................................................................................................. 175
REFERÊNCIAS ................................................................................................................... 177
APÊNDICE A – Partido conceitual .................................................................................... 189
19
1 INTRODUÇÃO
Os espaços públicos fazem parte da história da sociedade e, quando associados ao
lazer, tornam-se fenômenos urbanos que têm como principal objetivo melhorar a qualidade de
vida dos que o frequentam. Para que essa qualidade de vida seja real, é necessário que o
espaço público atenda a principal premissa, estabelecida por Jane Jacobs (2001), de que
quanto maior a diversidade de usos e usuários no cotidiano, mais esses espaços terão sucesso
e naturalidade.
Aliado aos desafios encontrados na projetação dos espaços públicos, aqui
entendido como parque urbano, está a sustentabilidade econômica-ecológica, inerente ao
pensamento dos arquitetos urbanistas da atualidade. Essa integração entre as questões urbana
e ambiental induz ao pesquisador a necessidade de encontrar meios e estratégias que
satisfaçam essa nova premissa e, com base nessas questões, o presente estudo pretende
analisar e sugerir algumas possibilidades estratégicas de implantação de um parque urbano,
associado a importância que uma tipologia como essa representa para a população.
Outro objetivo desta pesquisa consiste em encontrar uma solução plausível de
gestão economicamente sustentável, visando a diminuição de custos aos cofres públicos
relacionados a conservação do parque e possibilitando a vivência agradável pelos usuários.
Foi com esse olhar e com a experiência nos parques urbanos da cidade que se deu
a escolha do sítio: o Campo de Aviação, situado no bairro Campeche, em Florianópolis. Esta
escolha não foi meramente ocasional, mas determinada por adventos ocorridos ao longo da
história, que induziram à população a apropriação do lugar, tornando-o parte da vida social de
seus moradores.
Em uma associação à sua antiga função de campo de pouso, o Campo de Aviação
está localizado na Av. Pequeno Príncipe, principal avenida do Campeche, ao lado da Escola
Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes e próximo da principal entrada para a praia do
Campeche, configurando-se como uma área de grande centralidade. Além disso, a
comunidade já se apropriou historicamente do lugar, utilizando-o para jogos de futebol, de
rugby, passeio com animais de estimação, ócio, pick-nick, aeromodelismo, além de eventos
promovidos pela associação do bairro.
Porém, mesmo com essa gama multivariada de usos e elevado número de
frequentadores, o terreno, transformado pelo plano diretor em Área Comunitária Institucional,
possui cerca de 290.000 m2 sem nenhum tipo de infraestrutura, o que torna a área
subutilizada.
20
Agregado a tudo isso, tem-se associado à história do lugar, o escritor e aviador
Antoine de Saint-Exupéry (autor de “O Pequeno Príncipe”, dentre outras obras literárias),
apelidado de Zé Perri pelos pescadores da época. Como piloto da companhia aérea Latècoére,
Saint-Exupéry utilizava o pasto do Campeche como parada estratégica para descanso e
reabastecimento do avião.
Assim, somando todo o envolvimento histórico e o uso atual do local com a
possibilidade de criação de um parque, espera-se como resultado para o presente estudo o
desenvolvimento de um embasamento teórico capaz de auxiliar, em um segundo momento, a
projetação de um parque multifuncional com premissas baseadas em baixo custo de
implantação e gestão e nas necessidades da comunidade do Campeche.
1.1 PROBLEMÁTICA
As atividades de cunho cultural e de lazer em parques urbanos são práticas que
desenvolvem a socialização e melhoram a qualidade de vida da população. Considerando a
falta de infraestrutura urbana para tais práticas e o descaso do município com os espaços
públicos existentes, quais conjecturas seriam relevantes para se desenvolver um projeto
arquitetônico e urbanístico contemporâneo, com baixo custo de implantação e gestão e que
atenda as necessidades e demandas por espaços públicos de cultura e lazer na comunidade do
Campeche?
1.2 OBJETIVOS
1.2.1 Objetivo geral
Elaborar uma fundamentação teórica para dar embasamento para proposta de um
projeto arquitetônico e urbanístico com baixo custo de implantação e gestão, que contemple
as necessidades da comunidade do Campeche, carente de espaços públicos de cultura e lazer.
1.2.2 Objetivos específicos
Compreender a história e a evolução dos espaços públicos de cultura e lazer.
Analisar materiais e métodos construtivos de baixo custo para implantação do
parque.
Indicar possíveis maneiras de sustentar o custo de operação do parque.
21
Analisar referenciais arquitetônicos e urbanísticos.
Avaliar a importância da implantação do parque no local escolhido e pesquisar
quais as reais necessidades da comunidade em relação à cultura e lazer da área
escolhida através de dados secundários.
Desenvolver uma proposta de um espaço de apropriação por todas as classes e
faixas etárias.
1.3 JUSTIFICATIVA
O planejamento urbano municipal não acompanhou o crescimento acelerado,
resultando na escassez de áreas verdes de lazer em Florianópolis. Incorporado a essa
problemática, tem-se a constante busca pela qualidade de vida e por alternativas de lazer além
do turismo de sol e mar, ocasionado pela condição litorânea da cidade. Neste sentido, as
poucas opções culturais fazem de Florianópolis uma cidade pouco atrativa em períodos fora
da temporada de verão.
A partir dessa explanação, optou-se pela alternativa de se trabalhar com o
desenvolvimento de um grande espaço público destinado a atividades de cultura e lazer, tendo
em vista a disponibilidade de áreas representada pela existência de inúmeros vazios urbanos
na ilha de Santa Catarina.
O sítio escolhido para o desenvolvimento deste projeto é o lugar conhecido como
Campo de Aviação, localizado no bairro Campeche. Devido a sua grande importância
histórico-cultural para a comunidade, discussões acirradas1 foram travadas no decorrer da
elaboração do atual plano diretor municipal (Lei Municipal Complementar nº 482, de 17 de
janeiro de 2014), resultando na classificação da área como Área Comunitária Institucional
(ACI), fator que se converteu em melhoria geral por possibilitar a adequação dos usos à
vocação atual da área.
O sítio foi utilizado como o primeiro campo de pouso de aeronaves de Florianópolis.
Após a desativação, consolidou-se como espaço público, configurando-se em uma centralidade
para o bairro, sendo utilizado como espaço de lazer pela comunidade. No entanto, não possui
infraestrutura adequada, tampouco, acesso para pessoas com deficiências, tornando-se
subutilizado e propenso a poucas práticas esportivas, resumidas ao futebol e ao rugby.
1 A comunidade do Campeche é representada pela Associação de Moradores do Campeche (AMOCAM),
fundada em 1987, atuando no processo do plano diretor participativo desde a sua criação, em 2006.
22
O potencial ecológico, histórico e social do lugar aponta para alternativas projetuais
baseadas em medidas de sustentabilidade. Estas medidas proporcionam, além da prática ecológica
(indispensável em qualquer projeto), a diminuição do custo de implantação e operação de
empreendimentos, propiciando estratégias de maiores possibilidades de implantação, haja vista
que, para o erário municipal, um custo de operação elevado impede a manutenção adequada de
áreas públicas, a exemplo do que ocorre na maior parte das áreas de lazer da cidade.
Por isso, pensa-se em um projeto cuja implantação seja de baixo custo e que
possua gestão sustentável, onde a comunidade possa se apropriar do local e tornar-se a
principal cuidadora do parque. Esta nova vivência proporcionará uma melhor manutenção do
espaço, ocasionará um fluxo constante de usuários e, consequentemente, trará mais vitalidade
e segurança ao lugar.
1.4 METODOLOGIA DE PESQUISA
O material apresentado no decorrer deste trabalho pretende fornecer resultados
que ajudem a solucionar a problemática central da monografia, possuindo dessa forma um
caráter de pesquisa metodológica. Para Kauark (2010), as diversas tipologias de pesquisas que
existe devem contribuir para se encontrar um método eficaz que ajude a categorizar e criar
estratégias para se atingir os resultados esperados (KAUARK, 2010).
Conceituado por Lakatos e Marconi (2003, p. 155), a pesquisa é um “procedimento
formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento científico e se constitui
no caminho para conhecer a realidade ou para descobrir verdades parciais”.
Para contribuir com a resolução da problemática central, foram feitos estudos
sobre a história e pesquisados conceitos do tema proposto a partir de pesquisas bibliográficas,
levantamento de dados sobre a área de estudo e visitas ao local com levantamento fotográfico.
Essa pesquisa metodológica é classificada por Kauark (2010, p. 26) como
pesquisa aplicada, que tem como objetivo “gerar conhecimentos para aplicação prática,
dirigida à solução de problemas específicos” e que envolve verdades e interesses locais.
Quanto ao caráter qualitativo abordado nesse trabalho, Kauark conceitua da
seguinte maneira:
A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no
processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas
estatísticas. O ambiente natural é a fonte direta para coleta de dados e o pesquisador
é o instrumento-chave. É descritiva. Os pesquisadores tendem a analisar seus dados
indutivamente. O processo e seu significado são os focos principais de abordagem.
(KAUARK, 2010, p. 26).
23
Os objetivos desta pesquisa estão enquadrados, na conceituação de Gil (2002), como
sendo de pesquisa exploratória, pois possui maior familiaridade com o problema proposto,
tornando-o explícito. Esse tipo de pesquisa envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com
pessoas envolvidas com o problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a
compreensão. A pesquisa bibliográfica, como procedimento técnico, será elaborada a partir de
material já publicado, constituído principalmente de livros, monografias e artigos de periódicos.
1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO
Este trabalho está organizado em cinco seções que abordam assuntos que irão
auxiliar no desenvolvimento do tema proposto.
A primeira seção, destinada a Introdução, é composta por um resumo da
pesquisa, a problemática, os objetivos, justificativa e a metodologia de pesquisa.
Na segunda seção, a Fundamentação teórica tratará do desenvolvimento da
pesquisa, com embasamento histórico e conceitual acerca do parque urbano e sua utilização
para o lazer, os centros culturais que juntamente com o parque pretende-se mostrar sua
importância para o lazer urbano e a vida social do ser humano. Após isso, a pesquisa se
voltará para uma discussão técnica, buscando entender os sistemas estruturais e tecnologias
construtivas voltadas para o baixo custo de implantação e a busca por uma melhor
funcionalidade na gestão do parque. Também será apresentado um levantamento geral dos
diversos modelos de parques implantados pelo Brasil.
Na terceira seção será feita a Análise de modelos, na qual serão estudados
modelos que irão servir de referência para a elaboração do partido arquitetônico. Buscar-se-á
projetos de relevância na arquitetura contemporânea e que auxiliem através de seus conceitos
para o projeto do parque, foco desta pesquisa.
A quarta seção será feita a Apresentação e análise da área de estudo,
apresentando as condicionantes naturais e legais referentes ao local de intervenção e buscando
conhecer suas características socioeconômicas para posterior elaboração do projeto
arquitetônico e urbanístico proposto para o tema.
E, diante dos dados teóricos apresentados, a quinta e última seção será destinada
às Considerações finais pertinentes à pesquisa, concluindo o trabalho com a proposta de um
programa de necessidades e diretrizes para o desenvolvimento do parque. Além disso, será
lançada uma ideia para o partido arquitetônico e urbanístico, que será usado como premissa
principal para a elaboração da proposta de anteprojeto no Trabalho de Conclusão de Curso II.
24
2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A fundamentação teórica deste trabalho será embasada na pesquisa de assuntos
relevantes para a compreensão do tema proposto, dando alicerce para um posterior
desenvolvimento de um projeto arquitetônico urbanístico que atenda os objetivos
apresentados.
Para tanto, julga-se necessário uma reflexão sobre a relação entre espaço e
memória do lugar, considerando o histórico do sítio escolhido, justificando a escolha do local.
Posteriormente, serão pesquisados assuntos sobre a paisagem urbana e os parques urbanos
como parte do processo pela busca da qualidade de vida do ser humano, abordando a
evolução histórica dos parques e centros culturais e sua importância para o convívio social.
Serão pesquisados, também, sistemas estruturais e tecnologias construtivas,
buscando dar prioridade para implantação de baixo custo e propostas de gestão sustentável.
Por fim, será efetuada uma complementação com referenciais arquitetônicos e
urbanos relacionados com o tema proposto, buscando, principalmente, propostas sustentáveis
ecológica e economicamente.
2.1 ESPAÇO E MEMÓRIA
Configurado como um local reconhecido pela comunidade como importante
espaço de lazer, o Campo de Aviação no Campeche, sítio proposto para a implantação do
parque e objeto de estudo deste trabalho, está intimamente ligado com a história do lugar.
Foi na década de 1920 que aconteceram as primeiras transformações significativas
nesse espaço, que iniciaram a construção de práticas e representações culturais de sua
identificação, culminando na posterior utilização como área de convívio social. A comunidade
local desenvolveu relações como atração e afeto pelo lugar, sentimento esse denominado por
Yi-Fu Tuan de topofilia, conforme expresso abaixo:
A palavra “topofilia” é um neologismo, útil quando pode ser definida em sentido
amplo, incluindo todos os laços afetivos dos seres humanos com o meio ambiente
material. Estes diferem profundamente em intensidade, sutileza e modo de
expressão. A resposta ao meio ambiente pode ser basicamente estética: em seguida,
pode variar do efêmero prazer que se tem de uma vista, até a sensação de beleza,
igualmente fugaz, mas muito intensa, que é subitamente revelada. A resposta pode
ser tátil: o deleite ao sentir o ar, água, terra. Mais permanentes e mais difíceis de
expressar, são os sentimentos que temos para com um lugar, por ser o lar, o locus de
reminiscências e o meio de se ganhar a vida. (TUAN, 1974, p. 107).
25
A topofilia não surge espontaneamente, cresce dia a dia na comunidade e
estabelece o espaço como ponto de referência e de lazer. Reforçando essa ideia, Ortegosa
(2009, p. 1) considera que para a vida de uma cidade, um dos aspectos fundamentais são as
várias recordações que surgem do espaço, “a memória urbana é a realidade que marca nossa
própria fugacidade na história, ao mesmo tempo em que anuncia a possibilidade de
transcendermos nossa temporalidade individual”.
Essa segunda interpretação do espaço urbano apresenta uma força de aspectos
simbólicos capaz de despertar emoções e de anunciar uma relação com o todo. Ortegosa diz
que proteger a memória significa proteger o passado, o presente e o futuro e acrescenta:
A arquitetura e os lugares da cidade constituem o cenário onde nossas lembranças se
situam e, na medida em que as paisagens construídas fazem alusão a significados
simbólicos, elas estão evocando narrativas relacionadas às nossas vidas. Assim, a
maneira como interpretamos nossas experiências no espaço converte-se em nossa
realidade e possibilita-nos dar significado ao nosso mundo físico. Com o passar do
tempo, uma constelação de signos se estratificam na memória coletiva constituindo
uma cidade análoga. (ORTEGOSA, 2009, p. 1).
A memória coletiva passa a ser vista como construção histórico-cultural e
patrimônio daqueles que a tem, constituindo no patrimônio cultural não edificado. Carvalho
(2010, p. 17) diz que é uma “dimensão simbólica das diversas formas de agir, sentir e viver
dos grupos sociais enquanto membros partícipes de uma comunidade”, conceituação ampla de
patrimônio cultural que é vinculado à memória e à identidade dos grupos sociais e que
transportam essa memória ao longo de várias gerações.
Essa apropriação e coletivização do patrimônio cultural produzem lugares
significantes nos espaços urbanos, e que a coletividade presente naquele espaço se afeiçoa e se
identifica, e Carvalho (2010) complementa que os fatos ou acontecimentos pessoais são
cristalizados, podendo ser vinculado à infância, às atividades corriqueiras, aos encontros sociais
e familiares e fazendo-se presentes na memória de indivíduos e grupos sociais específicos.
Gastal (2002 apud CARVALHO, 2010) garante que a memória está presente em
todo o tecido urbano, transformando os lugares em espaços únicos, com intenso afeto para
aqueles que vivem e visitam o espaço. São espaços que não têm apenas memória e que, para
grupos da sociedade, transformam-se em verdadeiros lugares de memória.
Dessa forma, a partir das especulações efetuadas, pode-se compreender a
necessidade de se estudar e pesquisar a relação espaço-memória e entender a importância da
história do lugar refletida na comunidade local. É o caso da memória e identidade do Campo
de Aviação, localizado no bairro Campeche, em Florianópolis (Figura 1).
26
Figura 1 – Foto antiga (sem data) do Campo de Aviação, Campeche
Fonte: CAMPECHE, 2010.
A história do Campo de Aviação está intimamente ligada com a história da
comunicação aérea do Sul do Brasil. Em meados da década de 1920, para facilitar o correio
aéreo entre os Hemisférios Norte e Sul, a companhia aérea Air France adquiriu a área, onde
hoje é o Campo de Aviação, para utilizar como ponto de apoio para a atividade de correio
que, na época, era desenvolvida pela Compagnie Générale Aéropostale (Figura 2). O lugar se
tornou, então, o primeiro aeroporto do Estado de Santa Catarina (AMORA, 1996).
Entre os aviadores franceses que pousavam neste campo, estava o piloto e escritor
Antoine de Saint-Exupéry (Figura 3), na época com 26 anos, retratado por Inácio conforme
descrito abaixo:
Imaginem o que era naquela época abrir rotas aéreas quando a aviação estava nos
seus primórdios. Justamente eram estes os desafios constantes: sol, chuvas,
tempestades de areia, vôos noturnos, acidentes, enfim, todos os tipos de
adversidades que o piloto em questão buscava superar nas suas missões.
Assim começava a se traçar a carreira de Antoine de Saint-Exupéry que, anos mais
tarde, veio a ser diretor da companhia em Buenos Aires, de 1929 a 1931.
Por ser uma pessoa de extrema sensibilidade, tudo o que observava e vivia, nos lugares
por onde passava, servia de alimento às suas obras e, certamente, o Campeche lhe deu,
e muito, desse material que tanto buscava. (INÁCIO, 2001, p. 28).
A área foi utilizada como campo de aviação até o início da Segunda Guerra
Mundial, sendo que o contato com uma cultura diferente e tendo a presença dos franceses na
região, transformou a vida da pequena comunidade de pescadores do Campeche.
27
Figura 2 – Mapa da rota da Compagnie Générale
Aéropostale
Fonte: POSTALE, 2014.
Figura 3 – Antoine de Saint-Exupéry
Fonte: SAINT-EXUPÉRY, 2014.
Mesmo que o diálogo tenha sido dificultado de início pelas diferentes línguas, das
idas e vindas dos pilotos que ali pousavam, nasceu a improvável amizade entre o piloto
Antoine de Saint-Exupéry e um jovem pescador da comunidade, Manoel Rafael Inácio, o
Deca Pescador. Por sua difícil pronúncia, o nome do piloto fora abreviado para Zé Perri e
várias foram as histórias que Deca contava a seus filhos e jornalistas que frequentemente o
entrevistavam (INÁCIO, 2001).
O pescador, na época com 20 anos, levava Zé Perri para pescar, caçar e passear
pelas lagoas do Peri e da Chica e o convívio com a família de Deca era comum, pois, em seus
relatos, o piloto era apaixonado pelos bijus que a mãe de Deca fazia. No período que o campo
de pouso fora utilizado pela empresa aérea francesa, a integração entre os pilotos e a
comunidade era recíproca, e os pilotos, por diversas vezes, abriam o hangar para realização de
festas. E assim, entre os anos de 1926 e 1931, Deca esperava ansioso pelo amigo que, guiado
pelos lampiões no morro do Caboclo (hoje morro do Lampião), trilhou na história da
comunidade (INÁCIO, 2001).
Essa história reflete a importância desse período para a construção da memória do
lugar que, de geração em geração, transmitiu o afeto e as boas lembranças ali vividas. Mesmo
após a desativação do campo de pouso, em 1944 (requisitada pelo Ministério da Aeronáutica
28
por considerarem indispensável à segurança nacional), a população conseguiu garantir o
caráter público do Campo de Aviação, utilizando o local para a prática de esportes, como o
futebol e o aeromodelismo (AMORA, 1996).
Manoel Rafael Inácio, falecido em 1993 aos 84 anos, foi homenageado em 1991
pela Base Aérea de Florianópolis, recebendo um troféu por serviços prestados no Campo de
Aviação, como mostra a Figura 4. Na mesma ocasião, foi inaugurado o Marco do Campeche,
em homenagem aos pioneiros da aviação (Figura 5). A administração da empresa francesa
funcionava no casarão chamado Popote, que servia também de dormitório para o descanso
dos pilotos (CORRÊA, 2011). No local ainda existe o casarão, como mostra a Figura 6, e a
Prefeitura Municipal de Florianópolis já entrou com processo para transformá-lo em
patrimônio histórico-cultural.
Figura 4 – Deca recebendo a homenagem da Base Aérea de
Florianópolis
Fonte: INÁCIO, 2001, p. 51.
Figura 5 – Marco do Campeche
Fonte: Acervo próprio (2013).
Figura 6 – Casarão Popote, onde funcionava a administração da Aéropostale e lugar de descanso dos pilotos
Fonte: Acervo próprio (2013).
29
Diante do exposto, compreende-se a importância de incorporar esses espaços de
memória ao processo de desenvolvimento de parques urbanos, com o objetivo de promover
maior integração social, realçar o sentimento dos moradores locais em relação ao patrimônio
cultural e repassar esse afeto às gerações seguintes e aos visitantes que por ali irão passar.
2.2 PAISAGEM URBANA
Os inúmeros conceitos acerca de paisagem advertem sobre seu complexo
paradigma na morfologia do espaço. Iniciando pelo seu aspecto mais primordial, surgem
considerações relativas à paisagem geográfica. Para Carl Sauer, o termo paisagem é associado
ao conceito de unidade da geografia e pode ser definida “como uma área composta por uma
associação distinta de formas, ao mesmo tempo físicas e culturais” (SAUER, 1998, p. 23).
Composta por seu individualismo, porém, relacionada com paisagens adjacentes, Sauer
(1998) afirma que nenhuma paisagem é uma réplica exata de outra e que pode ser subdividida em
paisagens naturais e culturais, onde, com o passar do tempo, a paisagem natural é substituída pela
paisagem cultural. Para o mesmo autor, a paisagem natural tem seu conteúdo embasado na
designação do sítio estabelecido na ecologia vegetal e o somatório de todos os recursos naturais que
o homem tem a sua disposição na área. “Está além da sua capacidade acrescentar qualquer coisa a
esses recursos; ele pode ‘desenvolvê-los’, ignorá-los em parte ou explorá-los.” Já a paisagem
cultural é a marca da ação do homem sobre o sítio (SAUER, 1998, p. 29).
Milton Santos (1997) aborda a paisagem como sendo tudo aquilo que a visão
alcança, não sendo formada apenas por volumes, mas também por cores, movimentos, odores,
sons, etc. O espaço físico natural e construído, os movimentos e relações humanas e
fenômenos naturais, componentes da percepção da paisagem, está sujeito a individualidade de
cada pessoa, da sua história pessoal, onde “a percepção é sempre um processo seletivo de
informações” (SANTOS, 1997, p. 62).
Partindo do campo estruturador da geografia e adentrando nas propostas
difundidas de análise do espaço urbano de Gordon Cullen, o conceito de paisagem urbana
adquire simplicidade e objetividade. O autor relata:
Se me fosse pedido para definir o conceito de paisagem urbana, diria que um
edifício é arquitectura, mas dois seriam já paisagem urbana, porque a relação entre
dois edifícios, e o espaço entre eles, são questões que imediatamente se afiguram
importantes. Multiplique-se isto à escala de uma cidade e obtém-se a arte do
ambiente urbano; as possibilidades de relacionação aumentam, juntamente com as
hipóteses a explorar, e os partidos a tomar. Até um pequeno grupo de edifícios pode
assumir uma expressão própria, e ser espacialmente estimulante. (CULLEN, 2008,
p. 135).
30
Os elementos da paisagem urbana abordados por Cullen são considerados
resultantes de um processo social de ocupação e gestão de um território que, associada à
passagem do tempo, conduz “a múltiplos processamentos de informações percebidas no meio,
onde o arranjo espacial das formas que configura uma paisagem é tão importante quanto o
processo cultural que lhe é apropriado” (OLIVEIRA; ANJOS; LEITE, 2003, p. 160).
Na mesma linha de pensamento, Kevin Lynch afirma que
As imagens do meio ambiente são o resultado de um processo bilateral entre o
observador e o meio. O meio ambiente sugere distinções e relações, e o observador –
com grande adaptação e à luz dos seus objetivos próprios – seleciona, organiza e
dota de sentido aquilo que vê. A imagem, agora assim desenvolvida, limita e dá
ênfase ao que é visto, enquanto a própria imagem é posta à prova contra a
capacidade de registro perceptual, num processo de constante interação. Assim, a
imagem de uma dada realidade pode variar significativamente entre diferentes
observadores. (LYNCH, 1997, p. 16).
Por essa razão, Lynch (1997) reconhece que as análises limitam-se aos aspectos
físicos perceptíveis da paisagem urbana, cuidando sempre das influências que a percepção da
imagem sofre, como a constituição social, função e história de uma área, considerando que a
forma deve ser analisada para reforçar o significado e não para negá-lo.
Em contrapartida a essa análise, Moreira (1988, apud ALMEIDA, 2007) define a
paisagem urbana como uma união de formas com diferentes funções que permite um diagnóstico
em diferentes escalas, fruto de obra coletiva produzida pela sociedade, contemplando todas as
dimensões humanas. Almeida (2007) salienta que da análise da paisagem urbana surgem dois
elementos: o espaço construído, decorrente dos contrastes de utilização da cidade e do uso do solo
urbano, e o movimento da vida, das pessoas, dos meios de circulação.
Faz-se necessário, então, destacar a importância de se estudar e analisar a paisagem
urbana de uma cidade. Segundo Landim (2004, p. 24) “a cidade pode ser reconhecida somente
por intermédio de sua paisagem urbana e essa paisagem é resultante dos elementos econômicos,
sociais e culturais que a produziram num determinado período e contexto”.
Para tanto, pode-se utilizar de elementos formais caracterizadores da paisagem
urbana que servirão de subsídios para trabalhar a paisagem, utilizando-os como sistema de
referências ou um organizador de atividades. Macedo elenca três tipos de qualidades
observadas na paisagem:
Ambiental: que mede as possibilidades de vida e sobrevida de todos os seres vivos e
das comunidades nele existentes;
Funcional: que avalia o grau de eficiência do lugar no tocante ao funcionamento da
sociedade humana;
Estética: valores com características puramente sociais, que cada comunidade em
um momento do tempo atribui a algum lugar. (MACEDO, 1999, p. 13).
31
Segundo Macedo (1999, p. 13), “este tipo de classificação fornece subsídios para
trabalhar a paisagem, transformando a mesma conforme as características e necessidades de
cada lugar. A desqualificação de uma paisagem se dá quando estes valores não são levados
em consideração.”
Landim complementa afirmando que a paisagem urbana pode ser configurada e
qualificada por meio de três elementos:
O suporte físico, ou seja, o relevo, o solo, o subsolo e as águas, a cobertura vegetal
original ou não, as estruturas urbanas ou massas de edificações e sua relação
dialética com os espaços livres, o uso do solo, os loteamentos e o clima com suas
alterações de ciclo diurno/noturno e as estações do ano. Contudo, a paisagem
urbana não é delimitada apenas por esses elementos. [...] a paisagem não é formada
apenas de volumes, mas também de cores, movimentos, odores e sons. [...] cada
espaço é entendido a partir das informações que se têm sobre ele, surgindo uma
relação de interdependência entre o espaço e a informação. (LANDIM, 2004, p. 29).
Yi-Fu Tuan alega que “o espaço construído pelo homem pode aperfeiçoar a
sensação e a percepção humana” e mesmo sem um forma arquitetônica, os indivíduos “são
capazes de sentir a diferença entre interior e exterior, fechado e aberto, escuridão e luz, privada
e pública”. Para o autor, este tipo de conhecimento é rudimentar e o espaço arquitetônico “pode
definir estas sensações e transformá-las em algo concreto” (TUAN, 1983, p. 114).
De modo geral, o mesclar de todos os tipos de elementos nas paisagens urbanas
deve imprimir na percepção do indivíduo uma qualidade nas relações sociais e espaciais,
como afirma Leenhardt: “para o passeante, os elementos compositivos da paisagem tornam-se
traços significativos e pertinentes, que marcam sua consciência. Podem provir do trabalho da
memória bem como dos movimentos de seu corpo.” (LEENHARDT, 1996, p. 36).
Cullen (1971) distingue três categorias capazes de entender e descrever a paisagem:
Ótico: é a visão serial, são as sucessivas paisagens que o transeunte observa ao
passar pela cidade.
Local: é a reação do indivíduo em relação à sua posição no espaço, a apropriação
do espaço, o sentido de localização e as sensações que o espaço provoca.
Conteúdo: é a relação com a construção da cidade, cores, texturas, escalas,
estilos e tudo que caracterizam edifícios e a malha urbana, é a individualização
da paisagem.
Cullen trás, com esses conceitos, uma ferramenta de análise bastante útil para a
coleta de informações e referenciais de sítio, principalmente por existir uma interação entre
ser humano e ambiente urbano, possibilitando uma percepção e atenção aguçada do espaço
através das próprias emoções individuais.
32
Outra ferramenta para análise da paisagem é a percepção ambiental de Lynch
(1997), na qual a estruturação da imagem da paisagem no indivíduo está atrelada com os seus
símbolos e significados. O indivíduo vê a forma exterior, interpreta e reorganiza essa imagem
e isso revela uma identidade. Lynch, analisando essas imagens mentais, criou um método
leitura urbana estruturado em cinco elementos indicadores da qualidade visual do espaço:
Via: é por onde o observador se locomove, podem ser ruas, passeios, canais.
Na maioria das vezes é apresentado como elemento predominante na paisagem,
pois é por elas que o observador se desloca para então organizar e relacionar os
elementos da cidade (Figura 7).
Limite: elementos lineares da paisagem são as fronteiras entre duas partes,
interrupções da continuidade, entre eles estão as orlas marítimas ou fluviais,
paredes, barreiras que separam regiões (Figura 8).
Bairro ou zona homogênea: são as regiões urbanas onde possuem
características identificáveis e em comum (Figura 9).
Ponto nodal: são cruzamentos, locais estratégicos de uma cidade nos quais o
observador pode entrar e para/dos quais ele se desloca, é onde o observador deve
tomar decisões. Geralmente, são pontos que se tornam símbolo de um bairro pois
se tornam foco e criam nós de concentração no seu entorno (Figura 9).
Marco: são pontos de referência, representados por um objeto físico, um
edifício, um sinal, uma cúpula, torres isoladas ou montanha. Normalmente,
distinguem-se e são evidentes na paisagem, adquirindo crescente significado à
medida que os deslocamentos se tornam mais frequentes (Figura 10).
Figura 7 – O Boulevar Oroño, em Rosário, se configura
como uma Via
Figura 8 – Rio da Prata, em Rosário, elemento linear e
Limite da cidade
Fonte: Acervo próprio, dez. 2012. Fonte: Acervo próprio, dez. 2012.
33
Figura 9 – O Monumento à Bandeira, em Rosário, se
configura como Ponto Nodal e seu entorno é conformado
como Bairro
Figura 10 – Torre em homenagem à
idenpendência da Pátria, em Rosário, se
configura como Marco
Fonte: Acervo próprio, dez. 2012. Fonte: Acervo próprio, dez. 2012.
Com essas abordagens metodológicas para a análise da paisagem é possível
compreender e entender as diversas influências que o ambiente urbano sofre e, esses
instrumentos irão auxiliar na composição da paisagem urbana com o objetivo de melhorar a
qualidade visual do espaço que se vive.
2.3 EQUIPAMENTOS URBANOS
Inseridos no dia a dia das pessoas, os equipamentos urbanos passam
despercebidos pelos olhares cotidianos, sendo que sua importância não está limitada a meros
objetos inseridos na paisagem urbana. Portanto, torna-se necessária a compreensão de um
conceito mais intelectual dos equipamentos urbanos, justificando o valor atribuído a esse
tema.
Em busca da realização de suas necessidades físicas, psicológicas e sociais, os usuários
dos espaços públicos são motivados interna e externamente pela satisfação intrínseca a algum objeto
do meio ambiente, auxiliando no desenvolvimento dos moldes de comportamento e auxiliando na
sua interação com o mundo físico. “Então, o homem não ocupa simplesmente o espaço – no sentido
de dimensão e uso –, mas se sente parte integrante do ambiente onde vive, nele sabendo se orientar e
atribuindo-lhe os mais profundos significados” (SANTINI, 1993, p. 45).
Ao se falar sobre equipamentos urbanos, notam-se duas formas de abordagem: na
primeira, equipamentos e espaços se confundem, por vezes até sendo utilizado como
sinônimo; outrora são distintos, na qual o espaço é utilizado como suporte para equipamentos
e mobiliários. Santini (1993, p. 47) complementa que “os equipamentos são considerados
34
como sendo os objetos que organizam o espaço em função de determinada atividade”. Nesse
raciocínio, a autora extrai dois conceitos, o primeiro trata-se do equipamento como conjunto
de instalações que servem de apoio e o segundo o equipamento como instalações específicas,
prevalecendo o uso dado a elas.
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) em sua normativa NBR
9284/1986 (ABNT, 1986b), classifica equipamentos urbanos da seguinte maneira:
Circulação: vias, estacionamentos, estações do sistema de transporte;
Cultura e Religião: biblioteca, centro cultural, centro de convenção, cinema,
concha acústica, jardim botânico, jardim zoológico, horto florestal, museu,
teatro, templo;
Esporte e Lazer: campo e pista de esportes, ginásio de esportes, quadras
esportivas, hipódromo, marina, piscina pública, parque, praça;
Infraestrutura: sistema de comunicação, sistema de energia, sistema de
iluminação pública, sistema de saneamento, segurança pública e proteção,
abastecimento, administração pública, assistência social, educação, saúde.
A Lei Federal nº 6.766/79 classifica os equipamentos urbanos em duas
modalidades: equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares e
equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de esgoto, energia elétrica, coletas
de águas pluviais, rede telefônica e gás canalizado.
Desta forma, compreendem-se as diversas variantes de classificações e
fundamentações elaboradas para essa categoria e que, para o presente trabalho, o interesse
está na abordagem que inclui a cultura, o esporte e o lazer, além dos equipamentos
necessários para o funcionamento do espaço.
Nesse contexto, Santini (1993) divide os equipamentos de lazer em dois grupos:
os “equipamentos específicos”, espaços construídos especificamente para as atividades de
lazer, e os “não específicos”, espaços que não foram construídos para o lazer, mas que se
configuram como tal. Os Quadros 1 e 2 relacionam e classificam as tipologias dos
equipamentos específicos, objeto deste estudo.
35
Quadro 1 – Tipologias dos equipamentos de lazer
Tipo/Função Tempo Tamanho Local Uso
Equipamentos
específicos
Diário
Micro
Centros infantis, cine-clube, clube de
fotografia, ateliêr de artesanato,
instituições de treinamento Atividades de lazer
de caráter físico,
manual, artístico,
intelectual e social Médio
Cinema, teatro, piscina, quadras de
esporte, salas para cursos, áreas de
criatividade
Fim de
semana
Macrourbano Clubes, parques, jardins, zoos Atividades de lazer
ao ar livre Macroperiférico Praias, campos, clubes de campo
Férias Macro Colônia de férias, camping, hotéis Atividades de lazer
de caráter múltiplo
Fonte: Adaptado de Santini (1993, p. 53).
Quadro 2 – Equipamentos e instalações de lazer
Classificação Tipologia Instalações
Função
Culturais Cinemas, teatros, centros culturais
Sociais e associativas Clubes, bares
Esportivas Clubes, quadras esportivas
De expressão física e atlética Academias
Recreativa Jardins, praças, centros infantis
De turismo Colônia de férias, hotéis
Por critério de composição
e uso
Microcentros específicos Praças, academias
Centros médios polivalentes Parques
Macrocentros polivalentes Centros campestres, clubes de campo
Centros de turismo Colônia de férias, hotéis
Fonte: Adaptado de Santini (1993, p. 51).
Esses equipamentos urbanos, juntamente com a infraestrutura e as moradias, são
elementos físicos básicos para a composição da cidade e se constituem nos principais
protagonistas da humanização do ambiente urbano. Nesse contexto, vale ressaltar que os
equipamentos de cultura e lazer são especialmente relevantes por influenciarem diretamente
na qualidade de vida urbana, trazendo para os usuários possibilidades de diversão, práticas
esportivas e conhecimento cultural.
2.4 PARQUES URBANOS
O ambiente urbano, paisagem artificial produzida pelo homem, é resultante da
evolução histórica mundial, carregando e acrescendo ao ser humano um redimensionamento
36
do tempo. Para Le Corbusier, uma cidade deve oferecer as condições básicas necessárias ao
cumprimento das quatro principais funções sociais: habitar, trabalhar, recrear e circular; sendo
que hoje a maioria das pessoas já não consegue cumprir todas essas funções, danificando a
vivência social.
As massas de assentamentos humanos passam a sufocar as práticas sociais e cada
vez mais o homem sente a necessidade dos espaços livres, de uma maior qualidade de vida
nos núcleos urbanos. Loboda e De Angelis complementam:
A qualidade de vida urbana está diretamente atrelada a vários fatores que estão
reunidos na infraestrutura, no desenvolvimento econômico-social e àqueles ligados à
questão ambiental. No caso do ambiente, as áreas verdes públicas constituem-se
elementos imprescindíveis para o bem estar da população, pois influencia
diretamente a saúde física e mental da população. (LOBODA; DE ANGELIS, 2005,
p. 130-131).
Na busca por essa qualidade de vida e juntamente com o apelo ambiental, os
parques urbanos surgem como “novas perspectivas culturais e estéticas. [...] são pensados
conforme seus diferentes tempos, funções e usos” (SCOCUGLIA, 2009, p. 1). Em face do
exposto, é importante considerar que, a partir de um planejamento urbano eficiente, de
estudos da evolução do espaço e do comportamento e hábitos dos usuários, é possível
implantar parques urbanos que proporcionem maiores condições de relações sociais, práticas
esportivas e de lazer, potencializando a qualidade de vida urbana.
Atribuindo o lazer como principal componente para a qualidade de vida do ser
humano, os autores Araújo, Cândido e Leite (2009, p. 3) consideram três grupos de atividades
inter-relacionadas:
a) O lazer baseado na mídia e naquele praticado dentro de casa (rádio, TV,
leitura de livros, internet, computador, videogame, dentre outros);
b) O lazer baseado nas relações sociais e com o ambiente da própria cidade
(frequentar parques, academias de ginástica, teatros, cinemas, bares,
restaurantes e outros);
c) O lazer baseado em turismo fora da cidade.
Reforçando essa ideia, Versiani (2011) considera que o lazer possui uma relação
direta com a qualidade de vida, associada à busca pelo desenvolvimento do homem e vinculada
à promoção da saúde e do bem estar. Em relação ao âmbito urbano, Versiani explica:
[...] assim como existem diferentes abordagens para o delineamento do estudo
das cidades, também o campo de estudos do lazer pode ter influência de diversas
áreas do conhecimento, dialogando com a História, a Antropologia, a
Sociologia, a Educação Física, entre outras, e, inclusive, pode se desenvolver
37
sob influência de um referencial marxista, aqui destacado, o que aproxima a
compreensão do lazer a ser desenvolvida, em interface com a qualidade de vida
e o espaço urbano. (VERSIANI, 2011, p. 62).
A partir dessas perspectivas observa-se que o século XXI está repleto de ideias e
ideais, direcionando o planejamento urbano para um caminho evolutivo do viver nas
ambiências urbanas. Esta busca pode ser considerada, talvez, um tanto delongada, mas conduz
o ser humano a repensar no que é realmente importante para uma vida saudável. E este
repensar, aos poucos, está trazendo para as cidades as requalificações urbanas, com
melhoramentos paisagísticos e nos espaços, que ampliam a vivência social e suprem a
necessidade da busca contínua ao bem estar pelo ser humano.
Loboda e De Angelis (2005, p. 130-131) complementam:
A qualidade de vida urbana está diretamente atrelada a vários fatores que estão
reunidos na infra-estrutura, no desenvolvimento econômico-social e àqueles ligados
à questão ambiental.
No caso do ambiente, as áreas verdes públicas constituem-se elementos
imprescindíveis para o bem estar da população, pois influencia diretamente a saúde
física e mental da população.
Além daqueles espaços criados à luz da arquitetura, recentemente a percepção
ambiental ganha status e passa a ser materializada na produção de praças e
parques públicos nos centros urbanos. Com a finalidade de melhorar a qualidade
de vida, pela recreação, preservação ambiental, áreas de preservação dos
recursos hídricos, e à própria sociabilidade, essas áreas tornam-se atenuantes da
paisagem urbana.
Essas elucidações levam a análise de definição e de como se configura o espaço
público de lazer. Sobre este aspecto, Sun Alex esclarece:
[o espaço público] abrange lugares designados ou projetados para o uso cotidiano,
cujas formas mais conhecidas são as ruas, as praças e os parques. A palavra
“público” indica que os locais que concretizam esse espaço são abertos e acessíveis,
sem exceção, a todas as pessoas. Mas essa determinação geral, embora diminuída ou
prejudicada em muitos casos, é insuficiente: atualmente, o espaço público
plurifuncional – praças, cafés, pontos de encontro – constitui uma opção em uma
vasta rede de possibilidades de lugares, tornando-se difícil prever com exatidão seu
uso urbano. Espaços adaptáveis redesenham-se dentro da própria transformação da
cidade. (ALEX, 2008, p. 19).
O parque urbano, como tipologia de espaço público de lazer, possui diversas
possibilidades de configuração, tanto por seu desenho projetual como na composição de suas
funções. Para o Ministério do Meio Ambiente, o parque urbano se constitui como área verde,
de função ecológica, estética e de lazer, possuindo extensão maior que as praças e jardins
públicos (MMA, 2014). De acordo com a Resolução CONAMA Nº 369/2006, Art. 8º, § 1º:
38
Considera-se área verde de domínio público o espaço de domínio público que
desempenhe função ecológica, paisagística e recreativa, propiciando a melhoria da
qualidade estética, funcional e ambiental da cidade, sendo dotado de vegetação e
espaços livres de impermeabilização.
Entretanto, Olmstead (apud SCALISE, 2002, p. 18) associa parques urbanos a
cenários quando afirma:
Reservo a palavra parque para lugares com amplitude e espaço suficientes e com
todas as qualidades necessárias que justifiquem a aplicação a eles daquilo que pode
ser encontrado na palavra cenário ou na palavra paisagem, no seu sentido mais
antigo e radical, naquilo que os aproxima muito de cenário.
São diversas as possibilidades e definições a cerca do tema e, para melhor
compreender esses significados, é interessante que se faça uma breve explanação e
análise da evolução histórica do espaço público e sua importância para as transformações
sociais.
2.4.1 Evolução histórica dos espaços públicos
Inúmeras foram as transformações ocorridas a partir do momento em que o
homem deixa de ser nômade e se fixa na terra. Os núcleos de ocupação humana alteram os
hábitos e as relações do homem com o meio, proporcionando o surgimento de novas
vivências associadas, principalmente, às características dos habitantes frente ao uso e
potencial da terra que ocupam.
A sobrevivência destes núcleos deixa de ser garantida, apenas, pela caça,
pesca e coleta de víveres, passando a ser substituída pelas atividades de plantio e de
criação de animais. Esta mudança altera de maneira profunda os modos de vida dos
agrupamentos humanos, que passam de sociedades de caçadores/coletores para sociedades
agrícolas.
Com a evolução destes grupos, a produção de excedentes começa a ser utilizada
como moeda de troca em negociações, ocasionando o surgimento de atividades comerciais
que dinamizam sobremaneira as relações sociais dos lugares. Esta dinamização origina a
necessidade de áreas comuns destinadas aos relacionamentos sociais: surgem os espaços
públicos (Figura 11).
39
Figura 11 – Aldeia neolítica de Aichbuhlim Federseemor, na Alemanha (2000 a.C.), a praça aparece como
espaço central da aldeia
Fonte: BENEVOLO, 2001, p. 17.
Portanto, considera-se que os espaços públicos surgem assim que o homem passa
a conviver em sociedades fixas à terra, sendo destinados a servirem como palco de
desenvolvimento das funções sociais. Variadas são as funções sociais nas urbes atuais:
deslocamento, moradia, emprego, lazer, cultura, diversão, ócio, etc. Para cada uma delas,
espaços públicos específicos foram desenvolvidos de forma original em cada cultura. Sendo
assim, passa-se a abordar a evolução histórica dos espaços destinados à cultura e lazer, que se
constitui como objeto desta pesquisa.
Nas cidades livres da Grécia Antiga, após toda uma evolução na organização social,
política e econômica e com um modelo de urbanização avançado, existia uma subdivisão de
cidade bem característica: áreas privadas, com casas para moradias; áreas sagradas, onde
estavam os templos dos deuses; e as áreas públicas, que serviam para as reuniões políticas,
comércio, teatro e jogos desportivos. (BENEVOLO, 2001). Mumford complementa,
informando que “o ágora é ali um ‘local de assembléia’, onde ‘a gente da cidade ia se reunir’, e
a finalidade da reunião, nesse contexto, era decidir se um assassino pagará uma adequada multa
de sangue aos parentes do homem assassinado” (MUMFORD, 1998, p. 178).
40
Lamas (2004) acrescenta que na Grécia antiga não existia um tratamento especial
para famílias de poder ou reis, as áreas residenciais eram modestas e eram menos significantes
que os espaços públicos: estes eram bem cuidados e organizados para acolher as funções
públicas. O centro era formado a partir do santuário que, por sua vez, era envolvido pelo
ágora, como mostra a Figura 12.
Figura 12 – Reconstituição em maquete do Santuário de Olímpia envolvido pelo ágora
Fonte: PHOTINOS, 1982, p. 64.
No desenho urbano da Roma antiga, que marcou a Europa e influenciou toda a
região mediterrânea, observam-se espaços e elementos morfológicos como ruas, lugares de
comércio, circulações, espaços para monumentos, obras de engenharia e infraestrutura bem
avançadas, além do Fórum que, conforme demonstrado na Figura 13, servia de lugar para
assembleias e para o mercado, semelhante à ágora grega (LAMAS, 2004).
Seguindo no tempo com as cidades europeias, o mesmo autor relata que a queda
do Império Romano fez com que diminuísse o ritmo de crescimento demográfico e,
consequentemente, da vida urbana. Com a estabilidade política e o ressurgimento do comércio
nos séculos X e XI, as estruturas urbanas na era medieval voltaram a ser mais ativas.
Os edifícios, normalmente de vários andares, formavam com suas fachadas as
ruas e praças, sendo que os espaços públicos não eram construídos em áreas separadas:
“existe um espaço público comum, complexo e unitário, que se espalha por toda a cidade e no
qual se apresentam todos os edifícios públicos e privados, com seus eventuais espaços
internos, pátios ou jardins” (BENEVOLO, 2001, p. 269).
41
Figura 13 – Reconstituição do Fórum Trajano
1. Fórum de Trajano; 2. Basílica Ulpia; 3. Bibliotecas; 4. Coluna de Trajano; 5. Templo de Trajano Divino; 6
Mercado de Trajano.
Fonte: PONCE, 2011.
Lamas (2004) descreve que o mercado é o principal lugar da cidade, onde se
efetuam as trocas e são ofertados os serviços, é um espaço aberto e público por excelência e
sua função prolonga-se pelas ruas. A Figura 14 mostra o mercado medieval de Lisboa,
retratando bem como funcionava o espaço nesse período.
Figura 14 – Imagem em azulejos so séc. XVIII, retratando o Mercado na Lisboa medieval.
Fonte: LAMAS, 2004, p. 153.
42
Com relação às praças, Lamas expõe:
É na Idade Média que se começa a esboçar o conceito de praça européia, que
atingirá o apogeu a partir do Renascimento. A praça medieval é um largo de
geometria irregular, mas com funções importantes de comércio e reunião social.
Assim, as praças medievais dividem-se geralmente na praça do mercado e na praça
de igreja (adro), ou o parvis medieval. As suas funções são diferentes e a sua
localização na estrutura urbana também. (LAMAS, 2004, p. 154).
O desenho urbano no renascimento e no barroco entre os séculos XV e XVIII
tomou forma com novos traços culturais. O capitalismo mercantilista, a nova economia e a
nova estrutura política trouxe para esse período uma nova forma ideológica de urbanismo,
com liberdade para desenhar uma cidade inteira (MUMFORD, 1998).
Na composição urbana clássica, é apresentada uma perfeita complementaridade
entre os três elementos principais: o traçado retilíneo, a quadrícula e a praça. Nesse contexto,
a praça adquire caráter de recinto, e é distinguida em três categorias: espaços destinados ao
tráfego (usados por peões ou veículos); espaços residenciais, pensado apenas para o acesso
aos edifícios e com propósitos recreativos; e espaços pedonais. Essa classificação mais tarde
resultará nas diferenças de estrutura urbana entre “largo” e “praça” (LAMAS, 2004).
No planejamento barroco, a praça residencial se configurou como um “espaço
aberto rodeado exclusivamente por moradias, sem lojas ou edifícios públicos” (MUMFORD,
1998, p. 471). A mais antiga das praças francesas em Paris, chamada na época de Place
Royale, hoje denominada Place des Vosges, como se vê na Figura 15, foi concebida
inicialmente como sítio para uma fábrica de tapetes, mas a ideia foi logo abandonada e a praça
foi dedicada exclusivamente para residências.
As novas praças, na verdade, atendiam a uma nova necessidade da classe superior,
ou melhor, a toda uma série de necessidades. Eram originalmente construídas para
famílias de aristocratas ou de mercadores, com o mesmo padrão de vida, os mesmos
hábitos. (MUMFORD, 1998, p. 471).
Com o vigor urbano estabelecido na cidade clássica (Renascentismo), a praça
adquire um valor funcional, simbólico e artístico, se torna o elemento básico da energia e
criatividade do desenho urbano e da arquitetura. Surge como espaço embelezado, um cenário
urbano com enquadramento de monumentos e também como lugar para a vida social e de
manifestações de poder (LAMAS, 2004).
43
Figura 15 – Place des Vosges, inicialmente era chamada Place Royale, foi construída no início do séc. XVII
Fonte: MELLO, 2012
Ainda de acordo com Lamas (2004, p. 203), o desenho e formas urbanas no
século XIX se tornaram complexos, sendo “caracterizado pela continuidade da cidade
clássica e barroca e pelo aparecimento de novas tipologias urbanas que vão preparando a
cidade moderna”. A transformação provocada pelas modificações sociais, como o
crescimento urbano e a industrialização, carrega em conjunto as necessidades de
infraestrutura, equipamentos, habitação e novas exigências espaciais: rua, praça,
avenida, relações entre edifício-fachada-espaço urbano promovem uma ruptura na
morfologia tradicional, e que será produzida mais tarde pela cidade moderna (LAMAS,
2004).
Quem passa a gerar as novas cidades são as minas, as fábricas e as ferrovias,
tornando-se insolúvel para o urbanista construir cidades adequadas. A conurbação propagava-
se infindavelmente no entorno das indústrias em condições insalubres de saneamento e até
mesmo sonoramente (MUMFORD, 1998). Essa falta de urbanística na cidade industrial
direcionou estudiosos a criarem o urbanismo formal, constituindo essa área como disciplina
autônoma e, de início, independente da arquitetura. Essa preocupação impulsionou a criação
44
de um novo modelo de cidade e para os urbanistas era nítida essa nova consciência do
Movimento Moderno (LAMAS, 2004).
Os Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM) irão promover
uma nova configuração da cidade moderna. Fortemente influenciados por Le Corbusier,
forma-se o conceito de cidade-jardim, com baixa densidade residencial e com predominâncias
dos espaços verdes (LAMAS, 2004).
Benevolo (2001, p. 631) ratifica:
As atividades recreativas são reavaliadas, e requerem espaços livres
apropriados, esparsos por toda a parte da cidade (as zonas verdes para o jogo e
para o esporte perto das casas, os parques dos bairros, os parques da cidade,
as grandes zonas verdes protegidas no território, isto é, parques regionais
e nacionais); estes espaços verdes – que na cidade burguesa são ilhas
separadas num tecido construído compacto – devem formar um espaço único,
onde todos os outros elementos resultem livremente distribuídos: a cidade se
torna um parque aparelhado para várias funções da vida urbana. (BENEVOLO,
2001, p. 631).
Complementando as teorias acima, Oliveira (2008, p. 70) diz que “é nesse
período que emerge nos Estados Unidos a reflexão sobre o crescimento das cidades e
as manifestações de retorno à natureza”. Esse momento, em que o parque urbano
fica estabelecido nos debates das intervenções urbanas, é marcado pelo projeto do
Central Park, em Nova York, de Frederic Law Olmsted e Clavert Vaux, como mostra a
Figura 16.
Nesse momento da história as atividades recreativas possuirão novas avaliações,
exigindo espaços livres apropriados, separados por toda a cidade, porém formando uma só
unidade, na qual a cidade se torna um grande parque para as diversas funções da vida urbana
(BENEVOLO, 2001).
46
2.4.2 Parques urbanos no Brasil
No Brasil do século XIX, retratado como um período de modernização e
transformação da cidade, segundo Macedo e Sakata (2010), não existia uma rede urbana
significativa, como também não ocorria a urgência social em atender às indigências das
massas metropolitanas, como aconteciam em outros países. Os parques eram criados, apenas,
como complementação das paisagens elitizadas emergentes, repetindo os modelos
internacionais (ingleses e franceses), relevantes apenas como embelezadores de cenários.
Nesse período, o Rio de Janeiro, como Capital Federal, foi a cidade que passou
pelas mais rápidas transformações urbanas e, nesse contexto de modernização, foram criados
os três primeiros parques públicos do Brasil: o Passeio Público, criado em 1783 (Figura 17), o
Jardim Botânico, criado em 1808 (Figuras 18 e 19), e o Campo de Santana, criado em 1874
(Figura 20). Ainda, de acordo com Macedo e Sakata, o parque, no final do século XIX e início
do século XX, torna-se um elemento urbano comum, ricamente elaborado e decorado, além
disso, uma grande parte das comunidades urbanas, até mesmo as de pequeno porte, constroem
admiráveis alamedas.
Figura 17 – Planta da reforma do Passeio público, c. 1870, projetado por Auguste François Marie
Glaziou
Fonte: RIO DE JANEIRO, 2007.
47
Figura 18 – Jardim Botânico, litografia, c. 1840-1860, O Jardim Botânico e ao fundo
vê-se o Corcovado. A Aléia das Mangueiras e ao fundo Aléia das Palmeiras e
cidadãos passeando, Coleção Geyer, Centro Cultural Banco do Brasil
Fonte: RIO DE JANEIRO, 2007.
Figura 19 – Jardim Botânico, fotografia, c. 1880, portão principal do Jardim
Botanico com guarda postado na frente. Aléia das palmeiras, Coleção Gilberto
Ferrez
Fonte:RIO DE JANEIRO, 2007.
48
Figura 20 – Planta do Campo de Santana, c. 1870-1880, projetado por Auguste François Marie Glaziou
Fonte:CASA RUI BARBOSA, 2009.
O parque urbano brasileiro, como lugar de lazer, surge a partir do século XX,
quando passa a ser uma demonstração de cidadania e de conquistas democráticas. É nesse
momento que as orlas marítimas ganham um novo formato e transformam-se em lugares
elegantes, proporcionando bem estar e convívio social para a população. Macedo e Sakata
consideram as praias urbanas modelo para os parques brasileiros, não só pelo seu uso, mas
também por sua morfologia e equipamentos urbanos (MACEDO; SAKATA, 2010).
A tendência do modernismo no Brasil na década de 1930 e 1940, que já
influenciava o jovem Roberto Burle Marx, um dos mais renomados arquiteto paisagista do
Brasil, não se refletiu nos parques brasileiros, como se pode observar nos traços do Jardim
Botânico de São Paulo (Figura 21), criado em 1825 e oficializado em 1938, e no Parque
Farroupilha de Porto Alegre (Figura 22), criado em 1935. Esses parques apresentam
grandes eixos, traços geométricos, lagos sinuosos e todos os elementos da Belle Époque,
como estátuas, coretos e fontes (MACEDO; SAKATA, 2010).
Macedo e Sakata (2010) relatam que, já na década de 1950, com um crescente
processo de desenvolvimento urbano, era evidente a carência de espaços urbanos nas
cidades para o lazer da população, sendo que os poucos parques existentes eram muito
utilizados e disputados. Os autores acrescentam que a partir desta década que os parques
irão ressurgir com a inserção de equipamentos esportivos, estádios, passeios e espelhos
d’água, privilegiando a existência de espaços verdes.
49
Figura 21 – Jardim Botânico de São Paulo, registro do período de 1844-1847. Mapa
levantado pelo engenheiro C. A. Bresser.
Fonte: ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL, 2006.
Figura 22 – Ante projeto feito por Alfred Agache, em 1928, do Parque Farroupilha
de Porto Alegre
Fonte: MACEDO, 1973 apud GERMANI, 2002.
50
Tem-se como exemplo dessas mudanças, o Parque Rogério Pithon Farias (Figura
23), em Brasília, projetado por Roberto Burle Marx e que contempla todas as funções básicas do
parque moderno, dando ênfase no lazer ativo e nas extensas áreas de vegetação nativa. A exemplo
de muitos outros parques de Brasília, esse parque possui como equipamento de lazer a piscina,
elemento raro nos parques brasileiros (MACEDO; SAKATA, 2010).
Figura 23 – Projeto de Burle Marx para o Parque Rogério Pithon Farias
Fonte: TANURE, 2007.
Nas décadas seguintes, a consolidação do parque moderno se mantém com um
programa misto, contemplativo e recreativo, firmando os atuais procedimentos ecológicos e
priorizando a qualidade de vida. Esse conceito de parque ecológico entra no país como uma
proposta de revitalização e conservação de áreas degradadas e de várzeas que restavam
intactas, como por exemplo, a do Rio Tietê (MACEDO; SAKATA, 2010).
2.4.3 Características dos parques urbanos contemporâneos
Acompanhando as mudanças urbanísticas das cidades, os parques urbanos
contemporâneos possuem uma ampla variedade de tipologias (diferentes tamanhos, formatos,
equipamentos, temas), porém, sempre mantendo sua principal característica de trazer um
espaço livre público, rodeado de vegetação e dedicado ao lazer da população urbana.
“A liberdade de concepção e programação do parque contemporâneo brasileiro é uma
51
realidade no final do século XX. Novos programas e formas de projeto são rapidamente
ultrapassados e novas ideias são sempre bem-vindas.” (MACEDO; SAKATA, 2010, p. 47).
Usando como exemplo de parque contemporâneo, apresenta-se o Parque da
Juventude (Figura 24), em São Paulo, fruto da transformação do Complexo Penitenciário
Carandiru feito por Rosa Kliass, requalificando e implantando no local funções de
contemplação, eventos culturais, recreação infantil e prática de esportes.
Figura 24 – Parque da Juventude, em São Paulo
Fonte: GOOGLE, 2013.
As inovações nos parques urbanos ficam por conta dos programas, diversificando
seus equipamentos e comportando desde museus e marinas até praias artificiais. Essa
multifuncionalidade agrega ao parque seu uso em período integral e atrai as diversas classes e
faixas etárias da população.
Nesta etapa da pesquisa, serão apresentados conceitos e elementos de composição
estruturadora do parque urbano que serão posteriormente aplicados na elaboração do projeto
arquitetônico de um parque de cultura e lazer.
2.4.3.1 O parque urbano e suas complexidades
Como elemento morfológico das cidades, os parques contemporâneos possuem
uma relevância intrínseca para o ser humano: nas ambiências urbanas, a falta de parques gera
ruído e incomoda seus habitantes, porém, se projetado de maneira inadequada o espaço se
torna um vazio urbano, insalubre e perigoso.
52
O novo espaço urbano da cidade, usado para o lazer social, provém de uma
sociedade que sente a necessidade de contato social. Não podemos predizer os rumos que as
tecnologias eletrônicas e as redes sociais virtuais imputarão nos modos de vida das gerações
atuais e futuras, mas pode-se prever que as cidades dos congestionamentos, dos arranha-céus,
da vida corrida e estressante tende a diminuir, pelos novos modos de se relacionar entre
pessoas e pela busca contínua pela melhoria da qualidade de vida.
Nesse sentido, Gehl e Gemzoe (2002, p. 10) classificaram quatro tipos de cidades:
A cidade tradicional, onde o lugar de reunião, o mercado e o trânsito continuam
coexistindo em maior ou menor equilíbrio.
A cidade invadida, em que o único uso, geralmente as estradas, usurpa o
território à custa de outras funções do espaço urbano.
A cidade abandonada, na qual o espaço público e a vida nas ruas desaparecem.
A cidade reconquistada, em que se realizam esforços para encontrar um novo
equilíbrio entre os usos da cidade como lugar de encontro, de comércio e de
trânsito. (GEHL; GEMZOE, 2002, p. 10, tradução nossa).
Quando se planeja a requalificação de um espaço público, a tendência seria projetar
para fins específicos. Porém, interessante seria abordar uma combinação de vários aspectos
sociais, funcionais e ecológicos, além da preocupação com as vias (GEHL; GEMZOE, 2002).
Jane Jacobs diz que alguns traços no projeto de parques podem fazer a diferença e descreve:
Se o objetivo de um parque urbano de uso genérico e comum é atrair o maior
número de tipos de pessoas, com os mais variados horários, interesses e
propósitos, é claro que o projeto do parque deve promover essa generalização de
freqüência, em vez de atuar em sentido contrário. Parques muito usados como
áreas públicas genéricas costumam incluir quatro elementos em seu projeto, que
eu identificaria como complexidade, centralidade, insolação e delimitação espacial
(JACOBS, 2001, p. 112).
A complexidade que Jacobs menciona, refere-se aos diversos motivos que pessoas
teriam para frequentar o parque: descansar, brincar, praticar esporte, ou, apenas, o ócio,
assistir um jogo, ler, trabalhar, ter contato com a natureza, entre outros.
A centralidade é um espaço reconhecido como referencial ou central: um
cruzamento, um ponto de parada, um local com referência visual. A monotonia do lugar não
atrai a inventividade das pessoas, uma centralidade bem definida e agradável no parque
servirá de palco a reuniões e deixará o local imerso de pessoas.
O terceiro elemento primordial para um bom projeto de parque é essencial à vida
do ser humano: o sol. Mesmo sob uma sombra no verão, ou sobre a grama no inverno, o sol
trás energia e vitalidade para o frequentador do parque.
53
Como último elemento definido por Jacobs (2001, p. 112-115), está a delimitação
espacial: “a existência de construções à volta deles é importante nos projetos. Elas os
envolvem. Criam uma forma definida de espaço, de modo que ele se destaca como um
elemento importante no cenário urbano, um aspecto positivo, e não um excedente supérfluo”.
Jacobs conclui que, quanto mais existir diversidade de usos e usuários no
cotidiano do espaço público, mais os parques terão sucesso e naturalidade, proporcionando “à
vizinhança prazer e alegria, em vez de sensação de vazio” (JACOBS, 2001, p. 121).
2.4.3.2 Funções dos parques urbanos
O indivíduo contemporâneo, com a premissa da busca por uma melhor qualidade
de vida, tem se manifestado adepto das áreas verdes urbanas. Buscando os mais diversos tipos
de atividades para complementar e desafogar sua vida urbana, os parques urbanos surgem
para suprir essas necessidades, englobando diversas funções e usos com a preservação do
meio ambiente.
Essa multifuncionalidade dos parques contemporâneos não possui um padrão
único, devendo ser analisados de acordo com a finalidade e utilidade que foram construídos.
“Essa diversidade é reflexo das necessidades, do pensamento e do gosto de um grupo, de uma
época e de uma situação geográfica.” (SCALISE, 2002, p. 17).
Em sua maioria, os parques são considerados como elementos funcionais dos
centros urbanos que, de acordo com Corona (2002), podem ter três enfoques:
Ecológico: possuem grandes massas arborizadas com a função de recarregar
aquíferos, controle da emissão de gás carbônico, hábitat de flora e fauna,
preservação da biodiversidade, geração de microclimas, absorção de ruídos, entre
outros. A exemplo dessa tipologia tem-se o Parque Ecológico Tietê (Figura 25).
Paisagem arquitetônica: contempla a estética e sua função em melhorar a
aparência da urbe, ajudando a controlar a ruptura visual, redução do brilho e do
reflexo do sol, composto por elementos que harmonizam e melhoram a
fisionomia do lugar. Toma-se como exemplo a Praça Victor Civita (Figura 26),
projetada para reabilitação de uma área degradada.
Sociocultural: atividades recreativas, realização de atividades esportivas e
culturais, programas de educação ambiental, agradáveis lugares para o ócio,
fomento a convivência social, etc. O Parque Dona Lindu (Figura 27), no
Recife, é exemplo dessa tipologia.
54
Figura 25 – Com grandes massas aborizadas, o Parque Ecológico do Tietê, em São
Paulo estende-se por 103 km e surgiu com a pretensão de preservar a várzea ainda
intacta do rio Tietê
Fonte: Adaptado de Google Inc. (2013).
Figura 26 – O paisagismo e a arquitetura da Praça Victor Civita, em São Paulo, foi
projetado dar vida e beleza a uma área degradada
Fonte: KON, 2013.
Figura 27 – O Parque Dona Lindu, no Recife, conta com um teatro e uma galeria
para exposição desenhados por Oscar Niemeyer
Fonte: PARQUE DONA LINDU, 2014.
55
Não existe um limite, tampouco, definições rigorosas das funções de um parque
urbano, porém todos tem o objetivo de beneficiar a comunidade urbana, sendo de extrema
importância para a qualidade da vida do homem, proporcionando lazer, contato com a
natureza, saúde e convívio social.
2.4.3.3 Paisagismo
A pouca integração do ser humano com espaços verdes nas cidades urbanas é um
tanto peculiar e necessita de atenção especial no trato desse elemento nos parques. Le
Corbusier (1977, apud MASCARÓ; MASCARÓ, 2002, p. 11) perguntava-se “como fazer
compatível a cidade moderna tecnificada com a conservação (criação) de um habitat natural
para o homem”. Na projetação de parques urbanos, cria-se uma atmosfera que contribui para
o acesso ao verde, para o prazer de estar sob as sombras das árvores e o frescor que ela
proporciona. Os autores Lucia e Juan Mascaró complementam:
As formas que compões a paisagem, a natureza, deveriam ser aproveitadas para criar
uma continuidade entre o espaço natural e o construído, permitindo que a cidade se
inscreva com a facilidade no meio natural, produzindo, assim, uma transição gradual
do puramente construído, do artificial para o natural através de matizes da paisagem,
com a sua carga de transformações, confirmações ou contraposições. (MASCARÓ,
L.; MASCARÓ, J., 2002, p. 11).
O ócio e a contemplação à natureza são prazeres que se misturam às diversas
sensações que uma paisagem pode proporcionar a seus frequentadores. Para Benedito Abbud
(2006) paisagismo é a arte na qual é possível ter uma rica vivência sensorial, onde os cinco
sentidos do homem estão presentes e, quanto mais se consegue acentuar esses sentidos, mais
perto o paisagismo está de cumprir o seu dever.
O espaço paisagístico que Abbud retrata é resultante da obtenção de elementos e
condicionantes da natureza, onde o ar, a água, o fogo, a terra, a flora, a fauna e o tempo são
elementos dinâmicos, sendo que “não é possível e nem desejável planejar ambientes
geometricamente precisos e permanentes”. Além disso, para pensar o espaço paisagístico é
necessário definir, não somente os espaços cheios, mas também os vazios e o que resulta
dessa combinação, “os vazios transformados em espaços, a partir dos elementos naturais, sem
esquecer que eles são dinâmicos e mudam ao longo das estações” (ABBUD, 2006, p. 18-19).
Abordando o paisagismo como disciplina técnica, Macedo (1999, p. 24) diz que o
termo “costuma ser utilizado para designar as diversas escalas e formas de ação e estudo sobre
a paisagem, que podem variar do simples procedimento de plantio de um jardim até o
56
processo de concepção de projetos completos de arquitetura paisagística como parques ou
praças”.
São diversas as possibilidades e vantagens de se trabalhar com a vegetação: além
de contribuir para melhorar as ambiências urbanas, atua diretamente nos microclimas. Lúcia e
Juan Mascaró descrevem alguns aspectos:
modifica a temperatura e a umidade relativa do ar do recinto através do
sombreamento;
modifica a velocidade e direção dos ventos;
atua como barreira acústica;
quando em grandes quantidades, interfere na frequência das chuvas;
através da fotossíntese e da respiração, reduz a poluição do ar.
Em qualquer projeto paisagístico é importante que a vegetação seja tratada em
todos os seus aspectos, analisando e abordando critérios primordiais para a harmonia e
sucesso do projeto. Para Lúcia e Juan Mascaró (2002) é necessário abordar os seguintes
critérios:
escolha da vegetação de acordo com o clima, necessidade de rega, solo,
consumo e poupança energética, aspectos econômicos, periculosidade e
toxicidade, taxa de crescimento e biodiversidade;
localização da vegetação de acordo com recintos urbanos, espécies entre si,
espécies e edificação, espécies e infraestrutura, trânsito, indicações e
iluminação pública;
escolha de acordo com as características morfológicas da vegetação, como por
exemplo, árvores, palmeiras, arbustos e trepadeiras.
Abbud (2006) complementa que o paisagismo é uma forma de expressão
artística que, além de se pensar em um projeto que ofereça um mundo de sentidos ao ser
humano, é importante que se atente a alguns aspectos primordiais para o desenho da
paisagem, dentre eles:
espaço psicológico: são as diferenças de percepção dos espaços paisagísticos,
projetados através de materiais inertes e plantas;
lugar e não-lugar: pensar no lugar é pensar em espaços agradáveis,
convidativos que estimulam a permanência; o não-lugar são espaços que unem
dois lugares, servem de passagem, para não permanecer;
57
proporção e escala: proporção como relação de harmonia entre elementos que
compõem o jardim, escala como a relação que se estabelece entre o tamanho
dos espaços.
Ressalta-se então que o paisagismo não se restringe apenas ao plantio de árvores e
arbustos de forma desordenada. O paisagismo é uma técnica artesanal onde se aliam às
percepções e sensibilidades, conhecimentos de botânica, ecologia e clima, além de abranger
técnicas e estilos arquitetônicos. Todo esse conhecimento deve atuar em favorecimento ao
equilíbrio entre o homem e o ambiente e, quando se atribui esses elementos em um parque
urbano, busca-se, então, não um projeto de um simples jardim, mas uma valorização do lugar,
um embelezamento, espaços para o lazer, relaxamento e que proporcione ao usuário todos os
bons sentimentos.
2.4.3.4 Mobiliário urbano
Entre os elementos estruturadores dos equipamentos urbanos está o mobiliário
urbano, primordial para a composição, utilização, conforto e funcionalidade dos parques
urbanos. Em primeiro plano, pensa-se o mobiliário urbano em menor escala, como bancos,
bebedouros e lixeiras, mas o conceito é amplo e possui diversas definições.
Para a ABNT, em sua normativa NBR 9283/86 (ABNT, 1996a) trata-se de “todos
os objetos, elementos e pequenas construções integrantes da paisagem urbana, de natureza
utilitária ou não, implantados mediante autorização do poder público, em espaços públicos ou
privados”. Celson Ferrari conceitua da seguinte maneira:
Mobiliário urbano (urban furniture, mobilier urbain, mobilaje urbana). Conjunto de
elemento materiais localizados em logradouros públicos ou em locais visíveis desses
logradouros e que complementam as funções urbanas de habitar, trabalhar, recrear e
circular: cabinas telefônicas, anúncios, idealizações horizontal, vertical e aérea; postes,
torres, hidrantes, abrigos e pontos de parada de ônibus, bebedouros, sanitários públicos,
monumentos, chafarizes, fontes luminosas, etc. (FERRARI, 2004, p. 240).
Lamas aborda o mobiliário urbano de uma forma mais específica, sendo
[...] constituído por elementos móveis que “mobíliam” e equipam a cidade: o banco, o
chafariz, o cesto de papéis, o candeeiro, o marco do correio, a sinalização, etc., ou já
com dimensão de construção, como o quiosque, o abrigo de transportes, e outros. O
mobiliário urbano situa-se na dimensão setorial, na escala da rua, não podendo ser
considerado ordem secundária, dadas as suas implicações na forma e equipamento da
cidade. É também de grande importância para o desenho da cidade e a sua
organização, para a qualidade do espaço e comodidade. [...] Também se poderia referir
esse conjunto de elementos “parasitários” que nas sociedades de consumo invadem e
se colam às estruturas edificadas, como elementos postiços e móveis: anúncios,
montras, sinais, reclames, luzes, iluminações, etc. (LAMAS, 2004, p. 108).
58
Para possibilitar uma melhor análise, John e Reis (2010) elaboraram um quadro
com classificações de alguns autores (Quadro 3):
Quadro 3 – Classificação de acordo com a função conforme alguns pesquisadores
Autores Critério Classificação do mobiliário urbano
ABNT (1986a) Função
Circulação e transporte, cultura e religião, esporte e lazer,
infraestrutura, segurança pública e proteção, abrigo, comércio,
informação e comunicação visual, ornamentação da paisagem e
ambientação urbana.
Mourthé (1998 apud JOHN;
REIS, 2010, p. 183) Função
Elementos decorativos, mobiliário de serviço, mobiliário de lazer,
mobiliário de comercialização, mobiliário de sinalização, mobiliário
de publicidade.
Freitas (2008 apud JOHN;
REIS, 2010, p. 183) Função
Descanso e lazer, jogos, barreiras, abrigos, comunicação, limpeza,
infraestrutura e paisagismo.
Kohlsdorf (1996 apud
JOHN; REIS, 2010, p. 183)
Função e
escala
Elementos de informação apostos, pequenas construções, mobiliário
urbano.
Guedes (2005 apud JOHN;
REIS, 2010, p. 183)
Forma e
escala
Elementos de pequeno porte, elementos de médio porte, elementos
de grande porte.
Fonte: Adaptado de John e Reis (2010, p. 183).
De qualquer modo, a definição e classificação do mobiliário urbano conduzem a
uma forma de projetação mais específica, com mais detalhes e de importância estética
fundamental. A forma e a função estão intimamente ligadas e, juntamente com a ergonomia,
transformam o mobiliário urbano em um contexto desafiador, na qual a forma possui diversas
possibilidades de criação de modelos inovadores e a função insere com harmonia o mobiliário
na paisagem urbana, interferindo no comportamento dos usuários.
O espaço, na percepção ambiental, não é mais visto apenas como aspecto formal,
mas analisado pelos indivíduos através de suas características físico-espaciais. É através do
entendimento dessas percepções, que afetam as atitudes e os comportamentos dos usuários do
espaço urbano, que se qualifica o projeto e, consequentemente, se avalia a qualidade dos
mesmos e o desempenho do ambiente construído (REIS; LAY, 2006).
2.4.3.4.1 Desenho Universal
O uso do mobiliário em parques urbanos possui um relacionamento direto com os
aspectos ergonômicos e com a utilização por diversas tipologias de usuários. Como direito
universal, a promoção da acessibilidade já não faz mais parte da lista de opções irrelevantes.
Hoje as condições de mobilidade, autonomia, segurança e dignidade para qualquer cidadão é
resultante de uma conquista adquirida e essencial em qualquer projeto de parque urbano.
59
As discussões que envolvem o tema começaram a fazer parte das políticas
públicas mundiais somente na década de 1940, desenvolvendo-se, a partir disso, diversas
literaturas e estudos para diminuição das dificuldades de deslocamento das pessoas com
deficiência.2 No Brasil, este tema começou a fazer parte do quadro legislativo, apenas, com a
normativa da NBR 9050, de 1985, intitulada Adequação das edificações e do mobiliário
urbano à pessoa deficiente. Porém, foi só em 1988, com a promulgação da Constituição
Cidadã, que se definiu a política a ser adotada pelo país para lidar com a questão da inclusão
social em diversos segmentos da vida em coletividade.
Com as Leis Federais n. 10.048 e 10.098, de 2000, é que finalmente foram
tratadas as questões de acessibilidades espacial, estabelecendo prioridade ao atendimento de
pessoas com deficiência e instituindo normas gerais e critérios básicos para a promoção da
acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. E é só através do
Decreto Federal n. 5.296, de 2004 (das Leis Federais n. 10.048/2000 e n. 10.098/2000), que
irá condicionar a liberação e licenciamento de projetos com a condição de se seguir os
princípios do Desenho Universal, regulamentada pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), por meio da NBR 9050 (BRASIL, 2006a).
O termo Desenho Universal, apontado pela ABNT, surgiu na década de 1970, após a
criação do conceito de “Social Design” nos países nórdicos, na qual verificaram a necessidade de
deixar mais abrangente as questões de acessibilidade, levando em consideração as diversas
características da população e criando projetos que buscassem atender a maior contingência de
usuários possíveis (DORNELES, 2006). Porém, foi em 1985 que o arquiteto norte-americano Ron
Mace denominou de Desenho Universal o conceito de que um projeto deve ser feito para a
diversidade das necessidades humanas, declinando da ideia de se fazer projetos especiais ou
adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.
Pesquisadores do The Center for Universal Design criaram, em 1997, sete
princípios do Desenho Universal. São eles:
2 De acordo com Sassaki (2014), a partir da década de 1990, o termo “pessoas com deficiência” passa a ser o
“preferido por um número cada vez maior de adeptos, boa parte dos quais é constituída por pessoas com
deficiência que, no maior evento (‘Encontrão’) das organizações de pessoas com deficiência, realizado no Recife
em 2000, conclamaram o público a adotar este termo. Elas esclareceram que não são ‘portadoras de deficiência’
e que não querem ser chamadas com tal nome. Os movimentos mundiais de pessoas com deficiência, incluindo
os do Brasil, estão debatendo o nome pelo qual elas desejam ser chamadas. Mundialmente, já fecharam a
questão: querem ser chamadas de “pessoas com deficiência” em todos os idiomas. E esse termo faz parte do
texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotado pela ONU em 13/12/06, ratificado,
com equivalência de emenda constitucional, através do Decreto Legislativo n. 186, de 9/7/08, do Congresso
Nacional; e foi promulgado através do Decreto n. 6.949, de 25/8/09”.
60
1º princípio – uso equitativo: espaços e equipamentos devem ser projetados
para a utilização de qualquer pessoa, fornecendo os mesmos meios, evitando a
segregação ou estigmatização de qualquer usuário, igualdade na privacidade e
na segurança e projetos esteticamente agradáveis a todos.
2º princípio – flexibilidade no uso: o projeto deve considerar a ampla
variedade de preferências e habilidades individuais, fornecendo escolhas de
usos e acesso tanto com a mão direita quanto com e esquerda, adaptabilidade
dos diversos ritmos dos usuários e facilitar a precisão de uso.
3º princípio – uso simples e intuitivo: uso de fácil compreensão, independente
da experiência, conhecimento, habilidades de linguagem ou nível de
concentração dos usuários, eliminando complexidade desnecessária e
organizando informações por hierarquia de importância.
4º princípio – informação de fácil visualização: comunicação visual eficaz
com informações necessárias para o usuário, independente das condições
ambientais ou habilidades sensoriais, fornecendo os diferentes modos de leitura
(pictórico, verbal e tátil) e utilização de contrastes adequados e legibilidade
máxima de informações essenciais.
5º princípio – tolerância ao erro: minimização dos perigos e consequências
adversas de ações acidentais ou não intencionais, dispondo de elementos para
minimizar riscos e erros, fornecendo avisos de perigos ou falhas nos recursos
seguros, desencorajando ações inconscientes nas tarefas que exigirem
vigilância.
6º princípio – minimização do esforço físico: o projeto deve ser utilizado de
forma eficiente e confortável, com o mínimo de fadiga, permitindo ao usuário
manter uma posição corporal neutra, utilizando forças operacionais razoáveis e
minimizando ações repetitivas e de esforço prolongado.
7º princípio – tamanho e espaço adequados para aproximação e uso:
projetar espaço suficiente para aproximação, alcance, manipulação e uso,
independentemente do tamanho corporal do usuário, postura ou mobilidade,
fornecendo uma linha clara de visão para elementos importantes, com alcance a
todos os componentes estando o usuário sentado ou em pé (MACE et al., 1997,
tradução nossa) (Figura 28).
61
Figura 28 – Os sete princípios do desenho universal
1. Portas com sensores que se
abrem sem exigir força física ou
alcance as mãos de usuários de
alturas variadas
2. Computador com teclado e
mouse ou com programa do tipo
“Dosvox”
3. Sinalização de sanitário
feminino e para pessoa com
deficiência
4. Utilizar diferentes maneiras de
comunicação, tais como símbolos
e letras em relevo, Braille e
sinalização auditiva
5. Elevadores com sensores em
diversas alturas que permitam às
pessoas entrarem sem riscos
6. Torneira de sensor e maçaneta
alavanca que minimiza esforço e
torção das mãos para acioná-las
7. Poltrona para obesos em cinemas e teatros
Fonte: GABRILLI, 2012.
62
O desafio então é criar espaços, equipamentos e objetos que permitam a inclusão
de todas as adversidades. Portanto, é de fundamental importância entender e conhecer as
diferentes deficiências e restrições para posterior identificação de problemas que poderão
ocorrer ao se utilizar os parques urbanos. Para tanto, é preciso compreender as definições e
classificação de deficiência e restrição.
Para as autoras Dischinger, Bins Ely e Piardi (2012, p. 16-17), o termo deficiência
designa um “problema específico de uma disfunção no nível fisiológico do indivíduo (por
exemplo, cegueira, surdez, paralisia)” e o termo restrição designa “as dificuldades resultantes
da relação entre as condições dos indivíduos e as características do meio ambiente na
realização de atividades”. Dito isto, as autoras idealizaram uma classificação baseada em
conceitos desenvolvidos pela Organização Mundial de Saúde (OMS), organizada de acordo
com critérios médicos e possibilitando melhor compreensão e aplicação nos projetos do
conceito de Desenho Universal.
Classificação das deficiências
Deficiências Físico-Motoras: relacionadas com a capacidade motriz, podendo
causar limitações ou impossibilidade de realizar qualquer movimento;
Deficiências Sensoriais: relacionadas ao indivíduo com perda significativa na
capacidade do sistema de percepção, ocasionando dificuldade na percepção de
diferentes tipos de informações ambientais, podendo ser classificadas em sistemas
perceptivos em orientação/equilíbrio, tátil, visual, auditivo e paladar-olfato;
Deficiências Cognitivas: relacionadas às dificuldades de compreensão e
tratamento das informações (atividades mentais), podendo afetar processos de
aprendizagem, comunicação, habilidades de concentração, memória e raciocínio;
Deficiências Múltiplas: quando apresentam mais de um tipo das deficiências
acima relacionadas.
Classificação das restrições
Restrições espaciais para atividades físico-motoras: relacionadas aos espaços que
possuem impedimento e dificuldades para a realização das atividades que dependam
de força física, coordenação motora, precisão ou mobilidade (Figura 29);
Restrições espaciais para percepção sensorial: são espaços que geram
dificuldades de percepção das informações ambientais devido à presença de
barreiras ou ausência de informações adequadas, impedindo ou dificultando a
utilização dos estímulos por meio dos sistemas sensoriais (Figura 30);
63
Restrições espaciais para atividades de comunicação: relacionadas aos espaços
que afetam a comunicação social por meio da fala ou da utilização de códigos
(excesso de ruídos, dispositivos de controle, etc.) ou ausência de sistemas de
tecnologia de apoio (Figura 31);
Restrições espaciais para atividades cognitivas: são espaços falhos no
tratamento das informações ambientais ou do desenvolvimento das relações
interpessoais em atividades que necessitam de compreensão, aprendizado e
tomada de decisão (Figura 32).
Figura 29 – Espaço impeditivo para livre
mobilidade
Figura 30 – Terminal de auto-atendimento com letras
reduzidas
Fonte: KARPAT, 2013. Fonte: DISCHINGER; BINS ELY; PIARDI, 2012.
Figura 31 – Um interfone pode dificultar o acesso a
serviços públicos para quem não escuta bem
Figura 32 – Dificuldades encontradas no tratamento
das informações existentes no meio ambiente
Fonte: DISCHINGER; BINS ELY; PIARDI, 2012. Fonte: GOVERNO DE SÃO PAULO, 2014.
Observa-se, portanto, que para o projeto de um parque urbano com um conceito de
inclusão social, torna-se necessário utilizar elementos que ofereçam estímulos sensoriais/perceptivos
e que não se constituam em restrições para a condição de usabilidade dos mesmos, proporcionando
ambientes e ambiências com o maior índice possível de apropriação de usuários.
64
2.5 PLANEJAMENTO, IMPLANTAÇÃO E GESTÃO SUSTENTÁVEL DOS PARQUES
URBANOS
A necessidade de gestão de espaços públicos fez com que, no final do século XX,
algumas cidades brasileiras, como Curitiba e Rio de Janeiro, instituíssem órgãos direcionados
para a implementação e gestão de espaços livres públicos urbanos, desarticulando as
responsabilidades das secretarias de infraestrutura. Porém, na maioria das cidades o quadro que se
observa é bem diferente:
Projetos inconsistentes, incompetência profissional, programas falhos, execução
precária e materiais de segunda, todos esses fatores, além de uma crônica falta de
proposições reais de implantação de sistemas de espaços livres públicos, deixam
clara uma situação ainda grave quanto à concepção e gestão dos parques urbanos.
(MACEDO; SAKATA, 2010, p. 55).
Em decorrência disso, tem-se buscado desenvolver projetos de baixo custo de
implantação, gestão e, como consequência direta, a inclusão da sustentabilidade.
Partindo desse pressuposto, pretende-se aqui apresentar diretrizes que auxiliem o
desenvolvimento de um parque urbano, abordando conceitos e fundamentos relacionados à
implantação e gestão sustentável desses espaços. O objetivo é direcionar o estudo para o baixo
custo de implantação e gestão, favorecendo estratégias que ampliem as possibilidades de
implantação de parques urbanos, pois, para o erário municipal, um custo de operação elevado
impede a manutenção adequada de áreas públicas.
2.5.1 Planejando um parque urbano sustentável
Durante séculos as sociedades humanas mantiveram uma tênue linha de equilíbrio
com seu hábitat, tendo conhecimento, tanto de suas limitações, quanto do enorme poder existente
na natureza, no momento em que estes se manifestavam. Com o surgimento da sociedade dita
moderna, principalmente pós-revolução industrial e, consequente desenvolvimento do modo
capitalista de produção, novas relações surgiram e implantou-se um modelo de exploração com
crescente degeneração da estrutura biológica. Com essa premissa desenvolvimentista, o homem
começa a por em risco sua própria existência no planeta e é a partir dessa constatação que surge a
“conscientização ecológica” na sociedade, culminando com a instituição do ideário do
desenvolvimento sustentável.
Portanto, a compreensão do conceito de desenvolvimento sustentável está
embasada nesse princípio ecológico, na qual é preciso que o ecossistema tenha capacidade de
65
se manter ao longo do tempo. Neste sentido, no ano de 1987, no relatório Our Common
Future, da World Comission on Environment and Development, comissão das Nações Unidas
chefiada na época pela primeira-ministra da Noruega Gro Harlem Brundtland, o conceito de
“desenvolvimento sustentável” foi definido:
Por desenvolvimento sustentável entende-se o desenvolvimento que satisfaz as
necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras para
satisfazerem as suas próprias necessidades. O desenvolvimento sustentável não é um
estado fixo de harmonia, mas antes um processo de mudança no qual a exploração
de recursos, a direção dos investimentos, a orientação do desenvolvimento
tecnológico e as mudanças institucionais são compatibilizadas com as necessidades
futuras, assim como com as presentes. (PAIVA, 2013, p. 19).
O relatório representou um alerta dos riscos de se usar exaustivamente os recursos
naturais, apontando a necessidade de uma nova relação entre ser humano e meio ambiente. Hoje,
a urbe de uma cidade faz parte desse contexto e, apesar de uma área edificada não voltar mais ao
seu estado original, existem diversas possibilidades de se atenuar o impacto infringido. “A cidade
é considerada um ecossistema incompleto e caracterizada por elementos que se relacionam e
evoluem conjuntamente ao longo do tempo, consumindo enormes quantidades de matérias primas
e energia dos demais ecossistemas naturais” (MUNHOZ; COELHO, 2009, p. 6).
Munhoz e Coelho complementam:
Toda edificação de uma cidade faz parte de uma teia, de um contexto, de uma
história. Todo produto usado na sua construção tem um ciclo de vida específico,
relacionado a outros. Uma edificação nunca está só. Ela está impactando e sendo
impactada pelo ambiente social, cultural, econômico e interagindo com as forças da
natureza. Sendo assim, não é possível que uma construção, sozinha, seja sustentável.
(MUNHOZ; COELHO, 2009, p. 6).
De acordo com Serageldin (1994 apud PAIVA, 2013), as estratégias a serem
aplicadas para um desenvolvimento sustentável devem atender a três objetivos:
Econômico: controlando o crescimento com equidade e eficiência.
Social: envolvimento da população em iniciativas ambientais, mobilidade e
coesão social.
Ambiental: ser capaz em suas provisões, biodiversidade, entender problemas
globais e promover a integridade do ecossistema.
A relação entre esses objetivos fundamenta a procura por resoluções dos
problemas ambientais e que, aplicado nos parques urbanos, pode contribuir significativamente
para a qualidade de vida da população. De acordo com Andrade e Esteves (2012), quando os
espaços verdes urbanos são corretamente planejados, desenhados, implementados e geridos
adquire de forma global importante papel no desenvolvimento sustentável. Esse equilíbrio
66
permite uma gama de benefícios que atendem os objetivos ambientais (melhorias na
qualidade do ar, conforto climático, redução de resíduos, conservação da biodiversidade),
objetivos sociais (melhoria da qualidade visual da paisagem urbana, melhoria da qualidade de
vida através de ambientes urbanos saudáveis e equilibrados) e objetivos econômicos (redução
de custos através da gestão eficiente, redução de consumos energéticos).
Através do Quadro 4, Andrade e Esteves (2012) indicam os principais desafios
para atingir a sustentabilidade nos espaços.
Quadro 4 – Principais desafios para atingir a sustentabilidade
Desafios Benefícios
Ambientais Sociais Econômicos
Apostar no planejamento integrado x x x
Aplicar modelos de participação pública nos processos de tomada de
decisão, planejamento e desenho dos espaços verdes x
Desenvolver processos de regeneração urbana x x x
Recuperar ecossistemas e áreas degradadas x x x
Promover a criação de corredores ecológicos x
Atingir um índice de espaços verdes per capita (m2/hab) médio a alto –
indicador de qualidade de vida x x
Criação de espaços multifuncionais, aliando o recreio, produção e
conservação x x x
Adaptar o desenho às necessidades específicas locais, a fim de evitar
conflitos entre número de utilizadores locais e capacidade de carga do
espaço
x x x
Promover a regeneração natural dos substratos vegetais x x
Usar preferencialmente vegetação autóctone (nativa) x x x
Reduzir e evitar plantas que necessitem de grande acompanhamento e
manutenção e/ou de ciclo de vida curto x x
Reutilizar/reciclar materiais no desenho, implementação ou gestão dos
espaços x x
Utilizar materiais que reduzam a insolação x x x
Planejar e implementar sistemas de captação de águas pluviais, para
promover a lenta percolação da água e a sua filtragem e depuração x x
Promover uso racional da água, através da reutilização das águas
pluviais, escolha apropriada de espécies e sistemas de rega x x
Incentivar o envolvimento da população na manutenção e construção
dos espaços x
Apostar na formação dos trabalhadores x x x
Implementar uma política de resíduos zero x
Reduzir o consumo de combustíveis fósseis nas operações de manutenção x x
Implementar um sistema de monitorização aplicado aos espaços verdes x x
Fonte: ANDRADE; ESTEVES, 2012, p. i6-i7.
A partir disso, compreende-se que, para o planejamento de parques urbanos, a
implantação bem estruturada e a gestão organizada são imprescindíveis para se obter um
espaço com desenvolvimento sustentável e de alto índice de aplicabilidade nas cidades,
67
promovendo à população ambientes ecologicamente funcionais estimulando o convívio e a
preservação ambiental.
Além disso, o planejamento cuidadoso das ambiências de um parque urbano
influencia na manutenção do espaço: quando a comunidade se apropria e se identifica com o
parque ela mesma cuida e o mantém para usufruto pleno das instalações. E para que a
comunidade se identifique com o lugar é necessário planejar um espaço público de qualidade.
Para Jan Gehl (2013), são 12 os critérios determinantes para se projetar um bom espaço público:
Proteção contra o tráfego e acidentes: proteção aos pedestres, eliminar o medo
do tráfego.
Proteção contra o crime e a violência: ambiente público cheio de vida, “olhos
da rua”, sobreposição de funções de dia e à noite, boa iluminação.
Proteção sensoriais desconfortáveis: vento, chuva, frio/calor, poeira, barulho,
ofuscamento.
Oportunidades para caminhar: espaço para caminhadas, ausência de obstáculos,
boas superfícies, acessibilidade para todos, fachadas interessantes.
Oportunidade para permanecer em pé: efeito de transição/zonas atraentes para
permanência, apoios para pessoas em pé.
Oportunidade para sentar-se: tirar proveito das vantagens visuais, bons lugares
para sentar-se, bancos para descanso.
Oportunidades para ver: distâncias razoáveis para observação, linhas de visão
desobstruída, vistas interessantes, iluminação.
Oportunidades para ouvir e conversar: baixos níveis de ruído, mobiliário
urbano com disposição para paisagens e para conversas.
Oportunidades para brincar e praticar atividade física: convites para criatividade,
atividade física, ginástica e jogos durante o dia inteiro e em todas as estações do ano.
Escala: edifícios e espaços projetados de acordo com a escala humana.
Oportunidade de aproveitar aspectos positivos do clima: sol/sombra,
calor/frescos, brisa.
Experiências sensoriais positivas.
Abordando mais tecnicamente o planejamento do parque urbano, Gatti (2013)
elaborou um fluxograma (Figura 33) na qual apresenta o passo a passo para a elaboração
de projetos de espaços públicos, podendo ser adaptado de acordo com a particularidade de
cada projeto.
68
Fig
ura
33
– F
luxogra
ma
par
a o
des
envolv
imen
to d
e p
roje
tos
de
esp
aço
s pú
bli
cos
Fo
nte
: G
AT
TI,
2013,
p. 28
-29
69
Assim, tomando-se por base esses conceitos, torna-se imprescindível para a
concepção de um projeto de parque urbano a análise dos fatores biofísicos e socioculturais do
sítio e entorno, bem como, das necessidades da comunidade envolvida. Além disso, a escolha
dos materiais a serem utilizados na implantação, com a maximização do aproveitamento dos
recursos disponíveis, será primordial para um parque urbano projetado sobre a égide
conceitual do desenvolvimento sustentável e que, juntamente com uma gestão eficaz, poderá
transformar esse espaço em um exemplo de cidadania e inclusão social.
2.5.2 Implantação e gestão eficientes
A aplicação do desenvolvimento sustentável em um parque urbano deve estar
calcada na elaboração de uma estratégia de implantação ecoeficiente, na qual são
estabelecidas diretrizes que norteiem a busca por construções sustentáveis e de baixo custo,
além de soluções projetuais que permitam uma gestão autossuficiente. Como descrito no item
anterior, são três as instâncias necessárias para a promoção da sustentabilidade e que devem
ser aplicadas na implantação e gestão do parque urbano: ambiental, social e econômica.
Nas diretrizes econômicas, todas as formas de angariar recursos para a
implantação e gestão do parque, com o mínimo de oneração ao erário público, são
necessárias. Uma das possibilidades é a Parceria Público-Privada, prevista na Lei Federal n.
11.079/2004, na qual como patrocinadora do espaço, o setor privado poderá ter um período
fixo de concessão para uso de restaurantes, quiosques, aluguel de bicicletas e benfeitorias
feitas na área de manutenção e segurança do parque.
Outra possibilidade consiste no instrumento denominado de Pagamento por
Serviços Ambientais (PSA), previsto na Lei Federal n. 12.651/2012, sendo definido em seu
art. 41 como:
Art. 41. É o Poder Executivo Federal autorizado a instituir, sem prejuízo do
cumprimento da legislação ambiental, programa de apoio e incentivo à conservação
do meio ambiente, bem como para adoção de tecnologias e boas práticas que
conciliem a produtividade agropecuária e florestal, com redução dos impactos
ambientais, como forma de promoção do desenvolvimento ecologicamente
sustentável, observados sempre os critérios de progressividade, abrangendo as
seguintes categorias e linhas de ação:
I - pagamento ou incentivo a serviços ambientais como retribuição, monetária ou
não, às atividades de conservação e melhoria dos ecossistemas e que gerem serviços
ambientais, tais como, isolada ou cumulativamente: [...]
b) a conservação da beleza cênica natural;
c) a conservação da biodiversidade; [...]
f) a valorização cultural e do conhecimento tradicional ecossistêmico; [...]
h) a manutenção de Áreas de Preservação Permanente, de Reserva Legal e de uso
restrito. (BRASIL, 2012).
70
As soluções arquitetônicas e urbanísticas, juntamente com a escolha correta de
materiais com melhor custo/benefício e dotados de tecnologias ambientalmente amigáveis ou
sustentáveis, são medidas eficientes que deixam o projeto mais barato. Para o arquiteto
espanhol Luis de Garrido (PELAIO, 2011) existem diversos indicadores que direcionam o
projeto para uma construção de baixo custo, entre eles: otimização de recursos e matérias (por
ex. fazer uso da topografia natural do terreno, reduzir ao máximo a pavimentação),
diminuição do consumo energético no transporte de materiais e da mão de obra, diminuição
de resíduos e emissões, projetar de forma integrada o entorno econômico e projetar com
soluções simples.
As soluções no âmbito ecológico irão atuar diretamente na economia de custos de
operação do parque. Entre as soluções estão:
promover o uso de energias naturais renováveis: autossuficiência energética
solar e eólica (postes de iluminação com painéis fotovoltaicos, aerogeradores);
reduzir o consumo de energia: tipologias bioclimáticas (conforto térmico e
visual ecoeficiente);
utilização de materiais ambientalmente amigáveis;3
promover a escolha adequada de mobiliário urbano em quantidade e qualidade
(necessidades, tipologia, intensidade de uso, relação preço/durabilidade/
qualidade);
reutilização de águas pluviais: implantação de estação de tratamento de água
compacta;
tratamento de efluentes: implantação de estação de tratamento de esgoto
compacta;
implantar um Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (Lei n.
12.305/2010);
implantar um Projeto de Recuperação Ambiental (Decreto n. 97.632/1989, da
Lei n. 6.938/1981).
3 Materiais ambientalmente amigáveis possuem: desempenho técnico; adequação ao local de instalação; vida útil
nas condições de uso e manutenção esperadas; previsão de detalhes de projeto que possam prolongar a vida útil
do edifício e suas partes; redução da geração de resíduos utilizando, por exemplo, elementos modulares e pré-
fabricados; utilização de recursos naturais renováveis; minimização de emissões de gases de efeito estufa;
consumo de água e energia no processo de produção industrial (energia embutida) e no próprio canteiro de obras;
baixa agressividade à saúde e minimização da emissão de compostos orgânicos voláteis (COV) e outros
componentes tóxicos; uso de recursos locais; facilidade de reuso ou reciclagem após sua vida útil) (ASBEA,
2012).
71
Quanto às diretrizes sociais, pode ser aplicada a educação ambiental associado à
gestão, por meio de eventos comunitários de preservação e manutenção do parque e, em
contrapartida, oferecer possibilidades como recargas de eletrônicos (energia solar) e
bebedouros públicos com água tratada. No município de Florianópolis, a Lei Ordinária n.
2.668/87, alterada pela Lei Ordinária n. 9.663/13 e regulamentada pelo Decreto Municipal n.
106/88, instituiu a adoção, a título não oneroso e por convênio, de áreas públicas por
empresas privadas, de economia mista, empresas governamentais ou entidades associativas,
sediadas em Florianópolis, com objetivos de manutenção, conservação e melhoria, conforme
expresso no art. 1°, transcrito abaixo:
Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado, para fins de manutenção, conservação e
melhoria de equipamentos de lazer, esporte, educação e cultura de praças, parques,
jardins, passarelas, quadras de esportes, decks e trapiches, trilhas e caminhos
catalogados pelo município, pistas de skate-skateparks, estrutura física de
bibliotecas e escolas públicas municipais, a conveniar com empresas privadas, de
economia mista, empresas governamentais ou entidades associativas, todas
estabelecidas em Florianópolis, pelo instrumento de adoção, a título não oneroso,
respeitados os limites e imposições do Código de Posturas, Lei nº 1.224, de 1974 do
Município e da Lei nº 8.666, de 1993.
Todas as melhorias a serem propostas paras as áreas adotadas devem ser avaliadas
e chanceladas pela Fundação Municipal do Meio Ambiente, sendo as modalidades de adoção
definidas pelo art. 3° do Decreto Municipal n. 106/88 como:
I - a adoção com responsabilidade total: responsabilizando-se o adotante pela
integral manutenção da área e seus equipamentos, inclusive com fornecimento de
mão-de-obra;
II - a adoção com responsabilidade parcial: a Prefeitura Municipal efetuara a
aquisição do material e a prestação de serviços de mão-de-obra, ficando o adotante
com o ônus de reembolsar o total das despesas;
III - a adoção através do patrocínio de melhorias: o adotante assume ônus com os
custos de introdução de melhorias, como equipamentos, iluminação, piso, etc.
Os parques urbanos são vistos como organizações. Como tal, necessitam de
recursos para atingir o conjunto de objetivos previamente traçados, sendo a adoção efetuada
por empresas locais, um bom exemplo de ações sociais relacionadas à gestão sustentável, que
resultará no desenvolvimento de trabalhos e disponibilização de bens e serviços à
comunidade.
O Institulo Públix para o Desenvolvimento da Gestão Pública (2006 apud
BALOTTA; BITAR, 2009), ao abordar este tema em uma pesquisa em diversos países,
constatou que não existe um único modelo, tampouco, uma política de gestão definida;
existe, no entanto, uma dificuldade na realização da manutenção destas áreas. De acordo
72
com os autores, para realizar uma gestão adequada é necessário monitorar o parque e
realizar estudos e acompanhamento comportamentais de fenômenos, eventos e situações
particulares, possibilitando a realização de avaliação e comparação. “O monitoramento
subsidia medidas de planejamento, controle, recuperação, preservação e conservação do
ambiente em estudo, auxiliando na definição das melhores políticas a serem adotadas”
(BALOTTA; BITAR, 2009, p. 7).
Para que todas essas diretrizes corroborem ao ciclo de vida sustentável do parque,
o projeto como um todo deve ser bem planejado, com uma administração eficaz da
implantação e ter uma gestão competente. A maioria das cidades no Brasil não possuem
sistemas de gerenciamento de parques urbanos e, consequentemente, deixam a desejar na
manutenção destes espaços.
2.6 MATERIAIS E SISTEMAS CONSTRUTIVOS
Esse item irá abordar materiais e tecnologias construtivas que irão auxiliar na
elaboração do projeto do parque, satisfazendo as necessidades decorrentes de uma
implantação com responsabilidade ambiental. A conduta ao se escolher esses materiais
construtivos é determinante para a contribuição do desenvolvimento sustentável, sendo
necessário analisar seu impacto sobre o meio ambiente e sua consequência socioeconômica.
A extração, o beneficiamento e o transporte dos materiais para a construção civil é
um dos maiores causadores de impacto ambiental do mundo, consumindo enormes
quantidades de energia e recursos naturais, além de ser um grande emissor de poluentes
atmosféricos. Por isso, a produção responsável desses materiais deve ser sempre verificada e,
para tal, o Conselho Brasileiro de Construção Sustentável (CBCS) criou seis passos iniciais
para a seleção de insumos e fornecedores com critérios de sustentabilidade:
1) Verificação da formalidade da empresa fabricante e fornecedora: se o CNPJ de
uma empresa não é válido significa que o imposto não está sendo recolhido ou
que a empresa não tem existência legal.
2) Verificação da licença ambiental: nenhuma atividade industrial pode operar
legalmente sem licença ambiental, concedida pelo órgão ambiental estadual. A
existência da licença não é garantia contra impactos ao meio ambiente, mas a sua
ausência praticamente elimina qualquer possibilidade de respeito à lei.
3) Verificação das questões sociais: trabalho infantil, trabalho escravo, trabalho em
condições precárias de higiene, com jornadas excessivas e sem alimentação
adequada devem ser combatidos.
4) Qualidade e normas técnicas do produto: a baixa qualidade dos produtos é uma
fonte importante de desperdício, produtos que não apresentam desempenho
adequado acabam sendo substituídos, gerando custos e resíduos. As normas
técnicas são o critério mínimo de qualidade vigente e seu respeito é obrigatório
no Brasil.
73
5) Consultar o perfil de responsabilidade socioambiental da empresa: a
responsabilidade social é a tradução e incorporação dos valores e compromissos
das empresas em todas suas formas de relações em seus negócios. É assumir uma
co-responsabilidade dos insumos e serviços adquiridos, assim como tornar sua
própria prática transparente para a sociedade.
6) Identificar a existência de propaganda enganosa: é necessário que o cliente
confirme a consistência e relevância das afirmações de eco-eficiência dos
produtos e processos declarados pelos fornecedores. Mesmo produtos
certificados podem levar a equívocos: qual o critério da certificação? Estes
critérios são públicos? Qual a seriedade do processo? (CBCS, 2014, p. 1-6)
A partir dessa pré-seleção, escolhe-se então dentro de uma ampla gama de
materiais, os que irão se encaixar com a tipologia pretendida no projeto. Nesse estudo, serão
analisadas a sustentabilidade e a aplicação dos materiais de construção básicos (madeira e
concreto armado), além dos sistemas de pavimentação usualmente implantados em áreas
abertas. A partir desse embasamento, serão definidos os tipos ideais para futura aplicação no
parque.
2.6.1 Madeira
Pioneira nos processos construtivos da humanidade, a madeira foi muito utilizada
pelos egípcios e gregos, pois se adequava às exigências estéticas desses povos, que tinham
preferência pelas linhas retas. Poucos são os registros de estruturas antigas que sobreviveram
as intempéries, prejudicando a historicidade do uso da madeira na antiguidade. Porém, as
características da madeira são únicas e indiscutíveis, pois agregam à beleza e ao aconchego as
vantagens do conforto térmico, leveza, facilidade de manuseio, fonte renovável (com
responsabilidade ambiental), resistência mecânica e durabilidade, fazendo desse material uma
opção de fácil aceitação e aplicabilidade nos projetos (REBELLO, 2007).
Apesar de o Brasil possuir uma das maiores reservas florestais do mundo, de
acordo com Oliveira (2009), o uso da madeira ocorre em apenas 14% das edificações,
enquanto que, para Rebello (2007), nos países escandinavos essa estatística sobe para 80% do
total. Rebello relata ainda que uma exploração adequada e consciente permite o uso
indefinido da madeira, possuindo a característica de ser permanentemente renovável.
“Resultados de um estudo feito na Suíça, no qual uma mesma tipologia de edifício foi
executada com diversos materiais de construção, mostram que a madeira é o material de
construção que menos energia consome para produzir o edifício.” (REBELLO, 2007, p. 232).
Porém, como aspecto negativo, a madeira está sujeita à degradação biológica,
tanto por parte das intempéries quando utilizada no exterior, como aos ataques de fungos,
74
brocas e cupins. Além disso, a madeira está sujeita a ação do fogo, principal fator negativo
para o uso desse material.
Como material de sistemas construtivos, as madeiras estão classificadas em dois
tipos: madeiras maciças (bruta, falquejada ou serrada) e madeiras industrializadas
(compensada, laminada e recomposta) (PFEIL, W.; PFEIL, M., 2003). Para o propósito deste
trabalho, será abordada a madeira laminada colada, a mais indicada para estrutura que
requeiram grandes vãos.
2.6.1.1 Madeira Laminada Colada (MLC)
A MLC é um produto considerado estrutural formado a partir de pequenas
lâminas de madeira com suas fibras paralelas entre si e unidas por colagem sob pressão.
Idealizadas em 1905, na Alemanha, com grande aceitação na Europa, foi popularizada nos
Estados Unidos e, em 1940, com a industrialização das madeiras e colas, o sistema laminado-
colado progrediu (REMADE, 2003).
Com um grande leque de possibilidades de aplicações, a MLC pode ser usada
desde escadas e passarelas até estruturas que necessitem de grandes vãos, como ginásios e
pavilhões (Figuras 34 a 36). De acordo com a Revista REMADE (2003), entre as vantagens
do uso da MLC estão:
grandes vãos: alta capacidade de carga e um baixo peso próprio;
formas livres: plasticidade e flexibilidade com curvaturas;
alta resistência ao fogo: é mais segura que um aço desprotegido em caso de
incêndio, pois uma camada carbonizada se formada ao redor do núcleo
reduzindo a entrada de oxigênio e calor diminuindo o tempo de queima total;
estabilidade dimensional: possui baixa umidade, o que reduz o comportamento
de dilatação e retração;
resistente: resistente a substâncias químicas e agressivas;
material natural e processado: as técnicas de secagem e homogeneização da
madeira permite uma estabilidade maior do que a madeira comum;
contribuição para a proteção do meio ambiente: o CO2 armazenado durante o
crescimento de uma árvore é retirado da atmosfera e é absorvido por um longo
período de tempo;
matéria prima renovável: a madeira utilizada para fabricar a MLC vem das
florestas plantadas ou manejadas.
75
Figura 34 – Sede do Laboratório de Remediação de
Águas Subterrâneas da UFSC
Figura 35 – Richmond Olympic Oval, Vancouver,
Canadá, projetado pelo escritório Cannon Design
Fonte: Acervo próprio, 2011. Fonte: CANNON DESIGN, 2010.
Figura 36 – Pavilhão de exposições de Avignon, França
Fonte: AVIGNON PARC EXPO, 2014.
2.6.1.2 Bambu Laminado Colado (BLC)
Como nova tendência de uso, além das madeiras de florestas plantadas, está o
bambu, nesse caso, chamado Bambu Laminado Colado (BLC) (Figura 37). O potencial
construtivo do bambu já é de amplo conhecimento nos países asiáticos e, no Brasil, a
fabricação de mobiliários e pisos de BLC é bastante difundida. Entre as vantagens de seu uso
estão o baixo custo da matéria-prima, alta produtividade, fácil cultivo e o baixo impacto ao
meio ambiente (PEIXOTO, 2008).
76
Figura 37 – Centro Comunitário em Sichuan, na China, do escritório Oval Partnership
Fonte: THE OVAL PARTNERSHIP, 2009.
No Brasil, a Lei Federal n. 12.484, de 8 de setembro de 2011, institui a Política
Nacional de Incentivo ao Manejo Sustentado e ao Cultivo do Bambu (PNMCB), com o objetivo
de valorizar o bambu como agro-silvo-cultural capaz de suprir necessidades ecológicas,
econômicas, sociais e culturais; incentivar o desenvolvimento tecnológico e de polos de manejo
sustentado, cultivo e de beneficiamento de bambu (BRASIL, 2011). Apesar do incentivo, a
produção de BLC ainda é pequena, deixando o produto com alto custo de investimento.
2.6.2 Concreto armado
O concreto armado, resultante da mistura controlada de agregados (areia, pedra),
aço, cimento e água, tornou-se o material de construção mais popular do mundo,
consequência de sua farta matéria-prima e, principalmente, por sua plasticidade (Figura 38).
No entanto, o fator poluidor associado à extração e beneficiamento dos agregados e do aço,
somado ao impacto ambiental relacionado à fabricação do cimento, transformou a produção
do concreto em uma das atividades humanas com maior potencial poluidor do meio ambiente.
Figura 38 – A plasticidade do concreto nas obras de Oscar Niemeyer
Fonte: Foto de Leonardo Finotti (ALMEIDA, 2014).
77
O material mais consumido no mundo depois da água é o cimento, composição
essencial do concreto e, também, um dos maiores responsáveis pela poluição do meio
ambiente (ABPC, 2009). Um composto semelhante ao cimento teve origem há mais de 4.500
anos, utilizado pelos egípcios. O cimento Portland, o mais utilizado na atualidade, foi
descoberto no início do século XIX e é obtido através da pulverização do clínquer,
composição granulosa resultante da calcinação do silicato hidráulico de cálcio, sulfato de
cálcio natural (BAUER, 2000).
No Brasil, o uso de cimento só começa a ter valor a partir de 1924, com a
instalação de uma fábrica de cimento Portland na cidade de Perus, no Estado de São Paulo
(ABPC, 2009).
Em seu processo de fabricação, há emissão de gases poluentes, principalmente o
CO2, resultante da queima do clínquer, o alto consumo de recursos naturais não renováveis e o
consumo energético nos processos de extração, fabricação, transporte e construção
(RIBEIRO, 2010). Algumas soluções têm sido consideradas satisfatórias para a diminuição do
impacto ambiental e, consequentemente, diminuição do custo do produto final, entre as quais:
redução do cimento no concreto (50% a 70% da massa de clínquer pode ser
substituída por diversos materiais complementares);
reaproveitamento de resíduos industriais no lugar da matéria-prima (cinzas
volantes de usinas termoelétricas, pozolanas naturais, escória de alto forno da
indústria do aço, cinzas de casca de arroz);
reaproveitamento de resíduos de construção na substituição de agregado
(MEHTA, 2008).
O cimento tipo CPIII, normatizado pela NBR 5735/91, é exemplo de iniciativa de
sustentabilidade, composto de 70% de escória de alto forno (material altamente contaminável)
e possuindo características de alta durabilidade e resistência (GRANDES CONSTRUÇÕES,
2012). Apesar de existirem diversas soluções para a diminuição do impacto ambiental das
indústrias da construção civil, os avanços tecnológicos ainda são pequenos, sendo necessário
ampliar os esforços para a disseminação e conscientização da redução da produção de
cimento.
2.6.3 Pavimentação
A urbanização traz consigo diversos fatores que interferem nos ciclos do meio
ambiente. Dentre estas interferências, a impermeabilização do solo (através da pavimentação
78
em vias e terrenos) provoca consequências, por vezes, desastrosas, ao passo que apresenta
caráter determinante no aumento do fluxo pluvial (tendo em vista a diminuição de áreas para
infiltração de águas das chuvas), propiciando o surgimento de enchentes e deslizamentos,
além de interferir no regime de retroalimentação dos lençóis freáticos.
Deste modo, várias pesquisas tem se realizado para diminuir a impermeabilização
do solo, principalmente, em áreas onde o tráfego é leve. Os diversos tipos de pavimentação
sustentável prometem uma permeabilidade em torno de 90%, bastante superior, por exemplo,
às taxas de 10 a 15% de permeabilidade nos asfaltos tradicionais para o escoamento das águas
pluviais (UNB, 2011).
Nos parques urbanos, a pavimentação adequada facilita a acessibilidade e previne
alagamentos e empoçamentos. Dentre os locais que necessitam de pavimentação, destacam-se
os estacionamentos, passeios, pistas de caminhada, ciclovias, pistas de skate, quadras
esportivas e anfiteatros. A seguir, estão relacionados alguns dos tipos de pavimentação
passíveis de utilização nos parques urbanos:
Piso-grama, pavimento intertravado: podem ter em sua composição solo
cimento, casca de ostra e marisco. Ideais para estacionamentos, passeios e
anfiteatros (Figura 39).
Ecopavimento: grelha plástica com uma camada superficial de granito, areia,
grama ou agregado de borracha de pneu picado, aglutinado com resina. Ideais
para estacionamentos e passeios (ECOTELHADO, 2014) (Figura 40).
Asfalto-borracha: agrega pneu moído, deixando o asfalto mais resistente e com
porosidade suficiente para permeabilidade da água. Ideais para
estacionamentos e ciclovias (Figura 41).
Concreto permeável: preparado com agregado graúdo de granulometria
homogênea, com pouca ou nenhuma areia, para maior resistência podem ser
adicionadas substâncias como cinza de carvão mineral, pozolana, microssílica
e escória de altos fornos. Ideais para estacionamento, passeios, ciclovia, pista
de skate, pista de caminhada, quadra esportiva e anfiteatro (MAZZONETTO,
2011a) (Figura 42).
79
Figura 39 – Piso grama (esq.) e pavimento intertravado (dir.)
Fonte: RHINO PISOS, 2014.
Figura 40 – Ecopavimento
Fonte: ECOTELHADO, 2014.
Figura 41 – Asfalto-borracha aplicado pela EcoVias
em 30 km da serra da via Anchieta, São Paulo
Figura 42 – Concreto permeável
Fonte: MAZZONETTO, 2011b. Fonte: MAZZONETTO, 2011a.
80
2.7 CADERNO DE REFERENCIAIS
O intuito de reunir referenciais arquitetônicos é o de formar um embasamento
visual e conceitual para posterior contribuição ao desenvolvimento projetual do parque
urbano. Serão apresentados referenciais pertinentes ao provável programa do parque,
considerando soluções arquitetônicas e ideias que contribuam para uma melhor
funcionalidade das ambiências e utilização dos materiais.
2.7.1 Referenciais urbanísticos
Parque Ibirapuera, São Paulo/SP
Como principal elemento referencial deste projeto, a grande marquise desenhada
por Oscar Niemeyer traz conectividade entre os equipamentos e se configura como uma
centralidade no parque.
Ficha técnica
Local: Bairro Ibirapuera, São Paulo/SP
Data: 1954
Área: 1.585.000 m2
Autores: Uchoa Cavalcanti e Ícaro de Castro Melo
Arquitetura: Oscar Niemeyer
Paisagismo: Eng. Agr. Otávio Augusto Teixeira Mendes
Praça do Viveiro Manequinho Lopes: Burle Marx & Cia.
Atividades: contemplação, recreação infantil, esporte, eventos culturais, feiras.
Figuras complementares (ver Figura 45): Museus (MAM, Museu do Folclore, Pavilhão da Bienal e Museu da
Aeronáutica), Planetário, Escola de Astrofísica, Casa da Cultura Japonesa, viveiro de mudas, ciclovia,
espelho d’água, playground, quiosque, lanchonetes, restaurantes, quadras esportivas, esculturas, ponte,
pérgula, estufa, estacionamento, pista de cooper, galpão de exposições, equipamentos de ginástica, sanitários,
bebedouros, mesa para jogos, mesa para piquenique, bancos, lixeiras, cercamento (MACEDO; SAKATA,
2010).
Figura 43 – Vista aérea da marquise do Parque Ibirapuera
Fonte: PMSP, 2014.
81
Figura 44 – Marquise
Fonte: PARQUE IBIRAPUERA, 2014.
Figura 45 – Mapa do Parque Ibirapuera
Fonte: PARQUE IBIRAPUERA, 2014.
82
Parque da Juventude, São Paulo
A requalificação da antiga penitenciária do Carandiru feita por Rosa Kliass
proporcionou um destino digno para o espaço. Os diversos equipamentos esportivos garante a
recreação da juventude e suas passarelas levam o usuário a uma atmosfera de contemplação
íntima e cordial.
Ficha técnica
Local: Bairro Santana, São Paulo/SP
Data: 2003-2005
Área: 240.000 m2
Autores: Rosa Kliass Arquitetura
Arquitetura: Aflalo & Gasperini Arquitetos
Paisagismo: Planejamento e Projeto – Rosa Kliass, José Luiz Brenna
Praça do Viveiro Manequinho Lopes: Burle Marx & Cia.
Atividades: contemplação, recreação infantil, esporte, eventos culturais.
Figuras complementares (ver Figura 48): estacionamento (1), quadras (2), pista de skate (3), lanchonete (4),
vestiário (5), pavilhão (6), estação Carandiru (7), anfiteatro (8), playground, passarelas, muralha, ruínas,
ponte (MACEDO; SAKATA, 2010).
Figura 46 – Vista aérea do Parque da Juventude
Fonte: MACEDO; SAKATA, 2010, p. 210.
83
Figura 47 – Parque da Juventude: quadras esportivas (esq.) e passarelas contemplativas (dir.)
Fonte: GUERRA, 2012.
Figura 48 – Mapa do Parque da Juventude
Fonte: MACEDO; SAKATA, 2010, p. 210.
84
Jardim Botânico, Curitiba
O contato com a natureza no Jardim Botânico leva o usuário a um escape da vida
urbana e conscientiza-o da importância da conservação dos recursos naturais.
Ficha técnica
Local: Bairro Jardim Botânico (antigo Capanema), Curitiba/PR
Data: 1991
Área: 278.000 m2
Autores: Arqs. Domingo Bongestabs, Jair Couston, Mário Küster, Regina Tsuneta Nagashima, Maria Lúcia
Rodrigues, Elias Abrão e Célia Bim
Atividades: conservação de recursos naturais, contemplação, eventos culturais, esportes.
Figuras complementares (ver Figura 51): pórtico (1), estacionamento (2), estacionamento de motos (3),
velódromo (4), quadras esportivas (5), totem (6), chafariz (7), cascata (8), estufa (9), área para exposições
(10), sanitários (11), museu botânico (12), ponte (13), campo de futebol (14), espelho d’água (15), pista de
cooper, loja, equipamento de ginástica, mirante, escadarias, trilhas, bebedouro, bancos, lixeiras, cercamento
(MACEDO; SAKATA, 2010).
Figura 49 – Vista aérea Jardim Botânico de Curitiba
Fonte: ESPAÇO THÁ, 2011.
Figura 50 – Jardim Botânico, estufa metálica (esq.), Jardim das Sensações (dir.)
Fonte: CURITIBA, 2014.
86
Parque Tom Jobim, Rio de Janeiro
Desenhado por Burle Marx, o parque possui um contato direto com a Lagoa
Rodrigo de Freitas, proporcionando aos usuários, além das diversas práticas esportivas, um
forte convício social e a contemplação da beleza exuberante do Rio de Janeiro.
Ficha técnica
Local: Bairro Lagoa, Rio de Janeiro/RJ
Data: 1995
Área: 210.000 m2
Autores: Arqs. Haruyoshi Ono, Burle Marx & Cia.
Atividades: contemplação, recreação, comércio, esportes.
Figuras complementares (ver Figura 54): pista de skate, quadra de vôlei, quadra esportiva, quadra de tênis,
pérgula, quiosque, deck de madeira, playground, lanchonete, heliporto, anfiteatro, sanitários, guarita,
estacionamento, bancos, mesas para jogos, lixeiras, cercamento (MACEDO; SAKATA, 2010).
Figura 52 – Vista aérea do Parque Tom Jobim, Rio de Janeiro
Fonte: MACEDO; SAKATA, 2010, p. 157.
Figura 53 – Parque Tom Jobim
Fonte: VIEIRA, 2008.
88
Parque Micaela Bastidas, Buenos Aires, Argentina
Em cidades mais frias, os espaços abertos proporcionam o convívio social e o
aconchego do aquecimento solar. O parque em Buenos Aires possui, além dessa proposta, a
recreação e os espaços livres para a prática esportiva.
Ficha técnica
Local: Bairro Puerto Madero, Buenos Aires/Argentina
Data: 2002
Área: 50.000 m2
Autores: Alfredo Garay, Irene Joselevich, Nestor Magariños, Graciela Novoa, Adrián Sebastián y Marcelo Vila
Paisagismo: Eng. Fernando González.
Atividades: contemplação, recreação, esportes.
Figuras complementares (ver Figura 57): plaza del sol (1), plaza del huerto (2), plaza de los niños (3)
(ARCHIVO CLARIN, 2002).
Figura 55 – Vista aérea do Parque Micaela Bastidas
Fonte: GOOGLE INC., 2013.
Figura 56 – Espaços de lazer
Fonte: DEDE, 2013.
90
Parque Urbano de São Romão, Leiria, Portugal
A centralidade desse parque se dá através do espaço para a prática dos esportes
radicais, como o skate e a escalada. Além disso, espaços livres e pistas para caminhadas
proporcionam ao usuário convívio social e sua iluminação permite as práticas em qualquer
horário do dia.
Ficha técnica
Local: Leiria, Portugal
Data: 2006
Área: 48.000 m2
Autores: João Nunes, Carlos Ribas (PROAP Arquitetura)
Arquitetura: António Garcia
Atividades: contemplação, recreação, esporte (PROAP, 2006).
Figura 58 – Vista geral do Parque Urbano de São Romão
Fonte: PROAP, 2006.
Figura 59 – Pista de skate (esq.) e paredão de escalada (dir.)
Fonte: PROAP, 2006.
91
2.7.2 Referenciais arquitetônicos contemporâneos
Figura 60 – Centro de visitantes do Jardim Botânico do Brooklyn, New York, EUA, projeto de Weiss/Mandredi.
A cobertura verde do edifício garante a proposta do convívio e preservação da natureza
Fonte: WEISS/MANFREDI, 2012.
92
Figura 61 – Pavilhão fotovoltaico da Universidade de Potsdam, Alemanha, utilizado como espaço para eventos
sociais, debate de ideias e apresentações, projeto de O&O Baukunst
Fonte: O&O BAUKUNST, 2012.
93
Figura 62 – Centro cível criado para o município de Modica, Itália, projeto de Emanuele Fidone
Fonte: FIDONE, 2012.
94
Figura 63 – Centro Poliesportivo de Eichi Niederglatt, Suíça, projeto por L3P Architekten
Fonte: L3P ARCHITEKTEN, 2008.
95
Figura 64 – Centro Comunitário Oostcampus, Bélgica, projetado por Carlos Arroyo e Vanessa Cerezo
Fonte: ARROYO; CEREZO, 2012.
96
Figura 65 – Centro de Visita do Viveiro Nacional de Canberra, Austrália, projetado por Tonkin Zulaikha Greer
Arquitetos
Fonte: TZG ARQUITETOS, 2012.
97
2.7.3 Mobiliário
Figura 66 – Proteção solar no Jardim Australiano, projetado por Taylor Cullity Lethlean + Paul Thompson
Fonte: LETHLEAN; THOMPSON, 2012.
Figura 67 – Red Ribbon Parque de Qinhuangda, Hebei, China, projeto de Turenscape
Fonte: TURENSCAPE, 2007.
98
Figura 68 – Mobiliário urbano utilizando material reciclável, centro urbano de Bologna, projeto de Gravalos &
Dimonte
Fonte: DI MONTE; GRAVALOS, 2014.
99
Figura 69 – Playground escultural, Wiesbaden, Alemanha
Fonte: ANNABAU ARCHITEKTUR UND LANDSCHAFT, 2011.
100
Figura 70 – Equipamentos esportivos, Hafenpark, Frankfurt, Alemanha, projeto de Sinai Arquitetos e Paisagistas
Ltda.
Fonte: SINAI, 2014.
101
Figura 71 – Cerca escultural móvel, giram e servem de bancos e painéis para exposições. Lentspace, Brooklyn,
New York, EUA, projetado por Interboro
Fonte: INTERBORO PARTNERS, 2009.
102
Figura 72 – Nessie, mobiliário urbano modular, Bologna, Itália, desenhado por BScape Arquitetura e Paisagismo
Fonte: BSCAPE ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO, 2012.
103
Figura 73 – Urban Nature Skatepark, Alingsås, Suécia, projeto de Traverso-Vighy Architetti
Fonte: TRAVERSO-VIGHY ARCHITETTI, 2009.
104
Figura 74 – Banheiro público, Lady Bird Lake Trail, Austin, Texas, EUA, projeto de Miro Rivera Architects
Fonte: MIRO RIVERA ARCHITECTS, 2011.
105
Figura 75 – Summer Cinema, Moscou, Rússia, projetado por Wowhaus Architecture Bureau
Fonte: WOWHAUS ARCHITECTURE BUREAU, 2011.
106
3 ANÁLISES DE MODELOS ARQUITETÔNICOS
Como complemento teórico deste trabalho, serão feitas duas análises de modelos,
exemplos construídos e fidedignos que irão contribuir especialmente no desenvolvimento do
projeto do tema proposto. A escolha dos modelos foi definida a partir do reconhecimento de
características similares espaciais as do tema estudado, na qual se pretende compreender a
relação do entorno com a sua organização espacial, ambiências e seus aspectos qualitativos
referentes aos materiais e volumetria.
A primeira obra a ser analisada será a Praça Victor Civita. Inaugurada em 2008, e
situada no município de São Paulo, foi projetada pelo escritório Levisky Arquitetos
Associados, com participação da arquiteta convidada Anna Dietzsch e do paisagista Benedito
Abbud. A escolha do projeto se deu, principalmente, por ser um espaço incentivador do
desenvolvimento comunitário, cultural e educacional e por ter sido elaborada a partir de
premissas sustentáveis.
A segunda obra analisada será o Parque Madureira, localizada no Rio de Janeiro e
inaugurado em 2012, sendo que o estudo preliminar foi idealizado pelo engenheiro Mauro
Bonelli e projetado posteriormente pelo escritório Ruy Rezende Arquitetura. O parque é o
primeiro espaço público no Brasil a conquistar o selo AQUA (Alta Qualidade Ambiental) e
possui amplo reconhecimento do público.
Para melhor compreensão das obras, serão utilizados os aspectos de análise da
paisagem abordados por Gordon Cullen (1971), que faz uso de três categorias para perceber e
descrever a paisagem (ótico, local e conteúdo) e Kevin Lynch (1997), que faz uma leitura
urbana através de indicadores da qualidade visual do espaço (vias, limites, zonas homogêneas
ou bairros, pontos nodais e marcos).
3.1 PRAÇA VICTOR CIVITA, SÃO PAULO
Nas duas últimas décadas, a revitalização espaços públicos em São Paulo
vivenciou uma profunda alteração proporcionada pela consolidação da parceria público-
privada (PPP) para a viabilização e implementação de projetos de reabilitação urbana. Com
esse intuito é que surgiu, em 2001, a parceria entre a Prefeitura de São Paulo juntamente com
o Grupo Abril, na qual assinaram o Protocolo de Intenções, que viabilizava a transformação
de um espaço em praça pública (PRAÇA VICTOR CIVITA, 2012).
107
No terreno em questão, localizado no bairro Pinheiros, município de São Paulo
(Figuras 76 a 77), funcionava uma incineradora de lixo (de 1949 a 1989) e, após sua
desativação, passou a abrigar cooperativas de triagem de material reciclável. A Praça Victor
Civita (Figura 78), projetada pelas arquitetas Adriana Blay Levisky (do escritório Levisky
Arquitetos Associados) e Anna Julia Dietzsch, surgiu então com o principal objetivo de
ocupar essa área, degradada pelas atividades anteriores relacionadas ao tratamento de resíduos
sólidos.
Figura 76 – Localização da Praça Victor Civita na cidade de São Paulo
Fonte: GOOGLE INC., 2013.
108
Figura 77 – À esquerda, imagem de satélite de 2003 do local onde, atualmente, encontra-se a Praça Victor
Civita; à direita, imagem de satélite de 2008 já com a praça implantada
Fonte: GOOGLE INC., 2013.
Figura 78 – Foto aérea da Praça Victor Civita
Fonte: HELM, 2011.
A partir da assinatura do Protocolo de Intenções, iniciaram-se então os estudos
através de laudos técnicos. Porém os resultados não eram favoráveis: o contato humano com o
terreno só seria saudável se houvesse um recobrimento total da área com terra sadia. Para o
lote de 13.500 m2, essa intervenção seria desconfortável e, assim, surgiu a ideia de se criar
109
uma praça elevada, partido do projeto proposto pelas arquitetas. Essa ideia direcionou o
programa da praça focado, principalmente, na educação ambiental, na qual a população pode
aprender sobre os processos de construção sustentável, economia energética e
responsabilidade socioambiental (GRUNOW, 2009).
Representando um exemplo de grande desafio urbanístico, social, político e
cultural das urbes brasileiras, o projeto, que teve início em 2006, foi elaborado a partir de
premissas sustentáveis como o baixo consumo de energia, utilização de materiais reciclados,
legalizados e certificados, reuso de água, aquecimento solar e manutenção da permeabilidade
do solo (HELM, 2011). Um grande deck de madeira certificada (Figura 79), que se estende na
diagonal do terreno e propõe um percurso, é sustentado por uma estrutura metálica para
impedir o contato com o solo contaminado.
Utilizando do partido de praça elevada, o deck surge como o casco de um barco,
flutuando e se desdobrando no plano vertical e horizontal (Figura 79), com formas curvilíneas e
criando ambiências que diversificam e incentivam o uso de seus frequentadores. O deck conduz o
usuário por um percurso (Figura 80) que o leva ao Laboratório de Plantas (sistema de reuso de
águas e biocombustíveis), Museu da Reabilitação Ambiental (Edifício Incinerador) (Figura 81),
Praça de paralelepípedos, Centro da Terceira Idade, Ginástica, Arena (arquibancada para 240
pessoas) (Figuras 81 e 82), Sanitários, depósitos, cabine de som, Camarins, Oficina de Educação
Ambiental, Bosque, Jardins verticais, Alagados construídos (reuso de águas) (HELM, 2011).
Figura 79 – O deck se desdobra em planos verticais e horizontais
Fonte: HELM, 2011.
110
Figura 80 – Planta baixa e programa da Praça Victor Civita
1. Exposição arte temporária: curadoria MASP; 2 Oficina das crianças: atividades e workshops educativos (ONG
Verdescola); 3. Arena coberta para shows e apresentações culturais; 4. Playground; 5. Jardim vertical: proposta
de tratamento para muros urbanos; 6. Camarins; 7. Arquibancada para 240 pessoas e banheiros; 8.Antigo
incinerador: centro de exposições e cursos (Museu da Reabilitação); 9. Jardineiras: Laboratório de plantas; 10.
Sistema de filtragem e reciclagem águas servidas; 11. Deck suspenso de madeira certificada; 12. Ginástica; 13.
Centro da terceira idade; 14. Praça dos paralelepípedos: xadrez, blocos interativos, etc.; 15. Irrigação por
gravidade: uso de água reciclada in loco; 16. Alargamentos do deck de madeira: “salas urbanas”; 17. Deck
permeável de concreto leve; 18. Jardins existentes; 19. Núcleo de investigação do solo e águas subterrâneas
(CETESB); 20. Entrada principal.
Fonte: HELM, 2011.
111
Figura 81 – À esquerda Museu da Reabilitação Ambiental (Edifício Incinerador), ao
centro, a Arena com arquibancada para 240 pessoas
Fonte: HELM, 2011.
Figura 82 – À direita espaço com equipamentos de ginástica
Fonte: HELM, 2011.
A parceria público-privada viabiliza a gestão sustentável da praça e a gratuidade
nas atividades, que realiza locações de seus espaços, a fim de captar recursos para sua
manutenção, recebendo também doações em bens, serviços e/ou benfeitorias. Além disso, a
sustentabilidade da gestão e manutenção a longo prazo, conta com a participação de parceiros,
denominados “Amigos da Praça” que, em uma ação conjunta, formam a Associação Amigos
da Praça Victor Civita (PRAÇA VICTOR CIVITA, 2012).
112
Desde a sua inauguração, em 2008, a população se apropriou da praça que se
configurou como um espaço diferenciado de convívio, lazer e cultura, na qual a deterioração
ambiental causada pelo antigo incinerador de lixo é utilizada como matéria de conscientização
ambiental e ensina às novas gerações uma perspectiva mais saudável para um futuro com
maior equilíbrio entre as atividades humanas e a manutenção da qualidade ambiental.
3.2 PARQUE MADUREIRA, RIO DE JANEIRO
Inaugurado em 2012, o Parque Madureira está localizado no bairro de mesmo
nome, situado na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro (Figura 83). O parque, que possui
93.553,79 m2 de área construída (Figuras 84 e 85), foi idealizado pelo engenheiro Mauro
Bonelli, projetado pelo escritório Ruy Rezende Arquitetura e concebido para se tornar um
modelo de gestão pública. Para tanto, foi promulgado o Decreto Municipal n. 35.959/2012,
que regulamenta o uso e a gestão do Parque Madureira (BONELLI, 2013).
Figura 83 – Localização do Parque Madureira na cidade do Rio de Janeiro
Fonte: GOOGLE INC., 2013.
113
Figura 84 – Imagem de satélite do ano de 2003, apresentando a área onde atualmente encontra-se o Parque
Madureira e, abaixo, a imagem de satélite atual, da mesma área, já com a implantação do referido parque
Fonte: GOOGLE INC., 2013.
Figura 85 – Foto aérea atual do Parque Madureira
Fonte: PMRJ, 2014.
De acordo com Bonelli (2013), a ideia do parque surgiu a partir do convênio entre
a Prefeitura Municipal e a empresa de distribuição de energia elétrica Light, que deveria
compactar as redes de transmissão e de distribuição de energia elétrica, que ocupavam um
total de 120 m de largura (Figura 86). Essa compactação disponibilizou para a implantação do
parque uma faixa de 70 m de largura e 1.350 m de extensão. Além disso, a necessidade de um
espaço verde de convivência, lazer e cultura era algo que a população clamava, já que o bairro
possuía 99,93% de solo totalmente ocupado (CASTILHO, 2012).
114
Utilizando-se do apelo ambiental, que seria debatido na Conferência das Nações
Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável Rio+20, em 2012, Bonelli idealizou um parque
com diversas diretrizes sustentáveis, desde a iluminação até a gestão de energia e resíduos.
Como consequência do projeto sustentável, o Parque Madureira foi o primeiro parque público
brasileiro a receber a certificação Alta Qualidade Ambiental (AQUA) de Construção
Sustentável, concedido pela Fundação Vanzolini em maio de 2012 (ver Quadro 5).
Quadro 5 – Certificação AQUA do Parque Madureira
Parque Madureira Nível – fase
programa
Nível – fase
concepção
1. Relação do edifício com o seu entorno Excelente Excelente
2. Escolha integrada de produtos, sistemas e processos construtivos Superior Bom
3. Canteiro de obras com baixo impacto ambiental Excelente Excelente
4. Gestão de energia Excelente Excelente
5. Gestão da água Excelente Excelente
6. Gestão dos resíduos de uso e operação do edifício Excelente Excelente
7. Manutenção – permanência do desempenho ambiental Excelente Excelente
8. Conforto higrotérmico Bom Bom
9. Conforto acústico Bom Bom
10. Conforto visual Excelente Excelente
11. Conforto olfativo Bom Bom
12. Qualidade sanitária dos ambientes Bom Bom
13. Qualidade sanitária do ar Bom Bom
14. Qualidade sanitária da água Superior Superior
Fonte: RRA, 2012.
Figura 86 – Foto aérea do terreno antes da implantação do Parque Madureira. Nessa faixa constavam as redes de
transmissão e de distribuição de energia elétrica e da empresa Light, além de uma linha férrea
Fonte: PMRJ, 2014.
115
O Parque Madureira possui 1.450m de pista contínua de ciclovia, equipamentos
com teto e parede verde, controle térmico e de resíduos sólidos, reuso de água e iluminação de
baixo consumo em LED (Figura 87) e um centro de educação ambiental, que abriga uma
estação meteorológica. Além disso, o parque está dividido em quatro setores (Figura 88):
O setor 1, denominado Praça do Samba (Figura 89), possui posto médico de
apoio, quiosque comercial, sanitários, praça do samba e ponto de atendimento
ao usuário.
O setor 2, denominado Parque Contemplativo (Figura 90), possui quiosque
comercial, sanitários, quiosque de bicicleta, jardim sensorial, academia da
terceira idade, playground, tênis de mesa, lagos com fontes, mesa de jogos,
jogo de bocha, espaço da terceira idade, jardim das esculturas, centro de
educação ambiental, mirante, escada hidráulica, Nave do Conhecimento
(Figura 91), ponto de atendimento ao usuário e um pequeno jardim botânico.
O setor 3, denominado Parque Esportivo (Figura 92), possui quiosque
comercial, sanitário, lago com fonte, skate park, quiosque dos esportes, futebol
society, ginástica, vôlei de areia, quadra poliesportiva, alameda Rio +20 e
ponto de atendimento ao usuário.
No setor 4, denominado Arena Carioca (Figura 93), estão concentrados a arena
com capacidade para 400 pessoas sentadas e 800 em pé, inspetoria da guarda
municipal e estação de tratamento de esgoto (BONELLI, 2013).
Figura 87 – Parque iluminado com lâmpadas de baixo custo (LED)
Fonte: PMRJ, 2014.
117
Figura 89 – Praça do Samba, no Parque Madureira
Fonte: RRA, 2012.
Figura 90 – Circuito de Lagos, no Parque Madureira
Fonte: RRA, 2012.
Figura 91 – Nave do Conhecimento, no Parque Madureira
Fonte: PMRJ, 2014.
118
Figura 92 – Skate park, no Parque Madureira
Fonte: RRA, 2012.
Figura 93 – Arena Carioca Fernando Torres, no Parque Madureira
Fonte: KORYTOWSKI, 2013.
3.3 ANÁLISE DAS OBRAS
A análise de um parque urbano traz, em sua estrutura, uma complexidade
intrínseca na qual um conjunto de elementos formais, caracterizadores da paisagem
urbana, deve servir de embasamento para trabalhar a paisagem. A leitura urbana dessas
obras se dará através das metodologias desenvolvidas pelos autores Gordon Cullen (2008)
e Kevin Lynch (1997).
Por se tratar de uma análise na qual não se fará o estudo in loco, alguns conceitos
importantes abordados por Cullen e Lynch não serão possíveis de se estudar. Outra colocação
necessária a se fazer é que, para melhor visualizar os conceitos e até mesmo para fins
comparativos, ambas as obras (Praça Victor Civita e Parque Madureira) serão analisadas
concomitantemente, tendo em vista que as metodologias propostas por ambos os autores são
complementares, sendo indispensável a análise em conjunto.
119
3.3.1 Análise da paisagem de acordo com Gordon Cullen (2008)
O usuário, ao transpor um espaço observando suas diversas paisagens,
invariavelmente relaciona a visão a seu emocional que, consequentemente, se transforma em
uma imagem que possui diversas sensações e revelações súbitas. A partir dessa premissa,
Cullen (2008) considera diversos aspectos a serem analisados e, dentre esses conceitos, serão
aqui abordados:
Ótica: visão serial.
Local: território ocupado, apropriação pelo movimento, viscosidade,
delimitação do espaço, ondulação, ligação e conexão através do pavimento,
caminhos para pedestres e continuidade.
Conteúdo: intimidades e contrastes.
Visão serial
Essa premissa diz respeito ao surgimento de uma sucessão de pontos de vista
quando se faz um percurso. Quando o transeunte faz uma progressão uniforme em um trajeto,
este observa “uma série de contrastes súbitos que têm grande impacto visual e dão vida ao
percurso” (CULLEN, 2008, p. 19). A visão serial na Praça Victor Civita revela uma riqueza
em detalhes e sentimentos que surgem a cada passo: os rasgos feitos no deck para as
luminárias, a elevação do deck para a formação do guarda corpo, dos bancos e dos abrigos
criam recintos geométricos com um forte apelo intimista (Figura 94).
No Parque Madureira a visão serial revela diversos ambientes e equipamentos. O
mobiliário aparece em toda a extensão do parque e o verde da vegetação está presente em
cada ponto (Figura 95).
120
Figura 94 – Visão serial da Praça Victor Civita
Fonte: Planta baixa adaptada de Helm (2011) e imagens de Google Inc. (2013).
121
Figura 95 – Visão serial do Parque Madureira
Fonte: Planta baixa adaptada de RRA, 2012. Fonte das fotos indicada individualmente.
122
Território ocupado
Esse conceito é definido como um local de abrigo, sombra, um espaço aprazível,
que contenha elementos de caráter permanente, pois contribui para momentos de convivência.
Mobiliários, desenhos no pavimento, postes de iluminação e abrigos conferem ao espaço um
caráter mais humano e diverso. Nesse quesito, tanto a Praça Victor Civita quanto o Parque
Madureira possuem abrigos, sombras, bancos e iluminação, transformando seus espaços em
locais de permanência.
Na Praça Victor Civita, o deck de madeira, ao se elevar do chão, transforma-se em
bancos, abrigos e guarda-corpos, sugerindo ambientes que fornecem ao usuário espaços de
convivência e de permanência (Figura 96). No Parque Madureira, o piso do espaço do skate
eleva-se e se transforma em jardineiras e bancos para a permanência e descanso dos
esportistas. A prainha com cachoeira, também contribui para os momentos de vivência para
quem quer se refrescar (Figura 97).
Figura 96 – Território ocupado da Praça Victor Civita
Fonte: SEO, 2011/KON, 2014.
Figura 97 – Parque Madureira e seus espaços de permanência
Fonte: RRA, 2012/MACIEIRA, 2012.
123
Apropriação pelo movimento
Esse aspecto diz respeito à ocupação do espaço pelas pessoas que estão em
movimento, isto é, são os espaços de passagem e circulação. A Praça Victor Civita possui
esse elemento bem definido pelo deck de madeira, que conduz o transeunte para todos os
espaços da praça (Figura 98). O Parque Madureira, por sua linearidade, possui caminhos de
uma ponta a outra, levando o usuário a diversos ambientes (Figura 99).
Figura 98 – O deck de madeira da Praça Victor Civita, que leva o usuário à apropriação pelo movimento, assim
como os passeios nos limites da praça
Fonte: HELM, 2011/SEO, 2011.
Figura 99 – Os passeios por toda a extensão do Parque Madureira levam o usuário à apropriação pelo movimento
Fonte: RRA, 2012/MACIEIRA, 2012.
Viscosidade
Essa definição é relativa, simultaneamente, a uma ocupação estática pelo
equipamento e através do movimento. Isto é, ao mesmo tempo em que algumas pessoas estão
passando, outras estão paradas, sejam porque estão conversando, namorando, lendo um livro,
brincando ou, simplesmente, em ócio. Em ambas as obras a viscosidade acontece, porém, com
um pouco mais de intensidade no Parque Madureira, talvez, por ser um espaço bem mais
amplo e com maior variedade de equipamentos e opções de lazer (Figura 100).
124
Figura 100 – Na esquerda, a foto mostra os usuários da Praça Victor Civita em atividades diversas, no ócio ou
em movimento, assim como no Parque Madureira (à direita)
Fonte: RRA, 2012/MACIEIRA, 2012.
Delimitação do espaço
Com um significado mais intimista, a delimitação do espaço pode ser feita através
de um grupo de árvores, ou, até mesmo, através da diferenciação do pavimento. Esse artifício
faz com que o espaço adquira certo encanto por estar encerrado em um determinado ambiente,
mas deixando a vista o que está além. A Praça Victor Civita conduziu esse aspecto muito
fortemente quando utilizou a elevação do deck formando o guarda-corpo (Figura 101). Alguns
ambientes do Parque Madureira possuem esse aspecto, como é o caso do jardim botânico
(Figura 101).
Figura 101 – Na esquerda, a delimitação do espaço é feita pela elevação do deck da Praça Victor Civita que se
transforma em guarda-corpo. Na direita, o pequeno jardim do Parque Madureira é delimitado por floreiras
Fonte: Acervo da orientadora Jaqueline Andrade/RRA, 2012.
Ondulação
Cullen aborda esse conceito não como sendo apenas composto por linhas sinuosas
e sem objetivos, “mas sim o desvio obrigatório a um eixo ou norma invisíveis, com vista a
proporcionar o prazer de coisas tão elementares e vitais como luz e sombra (o contrário da
monocromia), ou proximidade e distância (o oposto do paralelismo)” (CULLEN, 2008, p. 48).
125
Além disso, a ondulação traz uma expectativa do desconhecido, daquilo que vem após a
curva. Nesse sentido, a Praça Victor Civita, apesar de não possuir um desvio obrigatório, as
diversas possibilidades de acessos resultam em uma caminhada sinuosa, levando o usuário a
diversos objetivos, boas sensações e às expectativas dos recintos que surgem durante o
percurso (Figura 102).
No entanto, pode-se observar melhor a ondulação no Parque Madureira,
pincipalmente, no Circuito dos Lagos (Figura 103), no qual o desvio obrigatório leva o
transeunte à contemplação e, ao mesmo tempo, proporciona o prazer de uma temperatura mais
amena, necessidade irrefutável no Rio de Janeiro.
Figura 102 – Na Praça Victor Civita, as possibilidades de desvios levam o usuário a diversos objetivos e boas
sensações
Fonte: PRAÇA VICTOR CIVITA, 2012.
Figura 103 – No Parque Madureira, o desvio obrigatório do Circuito dos Lagos
proporciona o prazer de uma temperatura mais branda
Fonte: RRA, 2012.
126
Ligação e conexão através do pavimento, caminho para pedestres e continuidade
Esse aspecto está relacionado com o entrelaçamento do ambiente construído,
transitável e com a ligação de diversos locais. Mesmo que as zonas construídas estejam
fragmentadas, estas não devem estar desconexas e é através das cores e texturas da
pavimentação que se faz a conexão entre os ambientes. Esse aspecto está muito bem
embasado na Praça Victor Civita, na qual o deck conecta perfeitamente todos os ambientes,
proporcionando um caminho contínuo para os pedestres (Figura 104). No Parque Madureira, a
pavimentação é diferenciada para os diversos tipos de atividades e, ao mesmo tempo, conecta
a partir de uma linha contínua seus diversos equipamentos de lazer (Figura 105).
Figura 104 – O deck de madeira centralizado conecta-se a todos os ambientes e
passeios perimetrais da Praça Victor Civita
Fonte: Planta baixa adaptada de Helm (2011).
127
Figura 105 – O Parque Madureira possui pavimentação diferenciada para os diversos tipos de atividades,
conectando seus diversos ambientes
Fonte: Adaptado de RRA (2012).
Intimidade
Essa categoria diz respeito aos lugares que induzem uma atmosfera de
interioridade, íntima e cordial. Uma vegetação exuberante, um recinto, ou, a visão de um
pequeno retângulo no céu são fatores contribuintes para a sensação de vitalidade e calor
humano. A Praça Victor Civita é um exemplo fidedigno de intimidade, sendo que suas
pequenas ambiências com vegetação exuberante transmitem uma atmosfera íntima e de
profunda interioridade (Figura 106). Já o Parque Madureira, mesmo possuindo uma escala
bem maior que a Praça Victor Civita, também consegue imprimir uma sensação de
vitalidade e calor humano, ao passo que conduz os usuários a ambientes cordiais e
entusiásticos (Figura 107).
128
Figura 106 – A vegetação exuberante da Praça Victor Civita transmite uma
atmosfera de interioridade
Fonte: HELM, 2011.
Figura 107 – Os ambientes do Parque Madureira possuem vitalidade e calor humano
Fonte: RRA, 2012.
129
Contrastes
Para esse aspecto, Cullen define como uma situação inesperada entre duas
partes, podendo se dar através da escala urbana, implantação de árvores, ou, a partir da
segregação total dos elementos que rodeiam o espaço. Também se define como uma forma
de tensão emocional que se manifesta em sua estrutura espacial, seja através de
construções modestas, ou, da ilusão de uma situação inesperada na mesma paisagem.
O contraste da Praça Victor Civita se dá através do bosque e da construção
rústica da antiga incineradora de lixo, mas que transmite um aspecto modesto e de tensão
emocional e expressiva. Também se observa o contraste do verde da vegetação com a
madeira do deck, imprimindo um aspecto mais aconchegante na praça (Figura 108). Esse
aspecto é mais identificável no Parque Madureira, no qual o verde contrasta bruscamente
com o cinza de seu entorno imediato, duplicado também em seu interior, onde o cinza do
cimento contrasta com a vegetação do parque (Figura 109).
Figura 108 – O contraste da Praça Victor Civita se dá através do verde do bosque com a construção bruta da
antiga incineradora de lixo, mas que transmite um aspecto modesto
Fonte: HELM, 2011.
Figura 109 – O contraste do verde do Parque Madureira com o cinza de seu entorno imediato
Fonte: RRA, 2012.
130
3.3.2 Análise da paisagem de acordo com Kevin Lynch (1997)
Do ponto de vista de Lynch (1997), através da interpretação da imagem da
paisagem, atrelada aos símbolos e significados, existem cinco elementos que auxiliam a
análise e que são indicadores da qualidade visual do espaço: vias, limites, zonas homogêneas
ou bairros, pontos nodais e marcos. Esse conteúdo, pertinente às cidades, remete às formas
físicas perceptíveis e sem a influência social ou histórica do local.
Vias
Definidas como canais de circulação por onde o observador transita
habitualmente, servem para observar o local, organizar seus elementos ambientais e suas
relações. As vias podem adquirir características importantes e, quando possuem
obstáculos, podem deixa-la mais clara e perceptível, pois leva o observador a descobrir
elementos que passam despercebidos. Atividades especiais que chamam a atenção
do observador deixarão a via mais importante aos seus olhos e o fará retornar àquele
ponto. Além disso, detalhes de arborização e iluminação reforçam a eficiência da imagem
da rua.
Observando as vias do entorno imediato da Praça Victor Civita (Figura 110),
distingue-se a Marginal Pinheiros, uma via de fluxo rápido, sem obstáculos, apenas
com alguns marcos que podem desviar a atenção do transeunte. Paralela a marginal
estão a ciclovia e a linha ferroviária, ambas delineando a marginal do Rio Pinheiros
(Figura 111).
As Av. das Nações Unidas (Figura 112) e Av. Prof. Federico Hermann Júnior
(Figura 113), são do tipo coletoras, com pontos nodais e marcos que desviam a atenção de
quem passa. As Rua Costa Carvalho (Figura 114) e Rua Sumidouro (Figura 115) são vias
locais e por elas se faz o acesso a Praça Victor Civita. Exceto a Marginal Pinheiros, todas das
vias do entorno possuem calçamento para o pedestre e arborização abundante, deixando o
passeio até a praça mais agradável.
131
Fig
ura
110 –
Via
s do e
nto
rno
da
Pra
ça V
icto
r C
ivit
a
Fonte
: A
dap
tado d
e G
oo
gle
In
c. (
20
13
).
132
Figura 111 – Marginal Pinheiros, Ferrovia e Ciclovia Figura 112 – Av. das Nações Unidas
Fonte: SILVA, 2012. Fonte: GOOGLE INC., 2013.
Figura 113 – Av. Professor Frederico Hermann Júnior Figura 114 – Rua Costa Carvalho
Fonte: GOOGLE INC., 2013. Fonte: GOOGLE INC., 2013.
Figura 115 – Rua Sumidouro, entrada da Praça Victor Civita
Fonte: GOOGLE INC., 2013.
Observando o seu espaço interno, a Praça Victor Civita possui uma via principal (o
deck) que se comporta como um eixo central e vias perimetrais que levam o usuário aos
diversos equipamentos da praça. Todos esses caminhos são amplamente agradáveis de se fazer
e suas reentrâncias levam o usuário a descobrir elementos de beleza relevante (Figura 116).
Quanto à malha viária do Parque Madureira, não existem vias de trânsito rápido
(Figura 117).
133
Figura 116 – Vias da Praça Victor Civita
Fonte: Planta baixa adaptada de Helm (2011) e imagens de Google Inc. (2013).
134
Fig
ura
11
7 –
Via
s do e
nto
rno d
o P
arque
Mad
ure
ira
Fo
nte
: A
dap
tado d
e G
oogle
Inc.
(2013).
135
A linha ferroviária possui parada próximo ao parque (Figura 118) e para o acesso
de carro utilizam-se as principais vias: a Av. dos Italianos (Figura 119) ou a Estrada do Portela
(Figura 120). A comunidade que mora no lado norte pode fazer uso da passarela da Rua
Conselheiro Galvão (Figura 121) para acesso ao parque. Os acessos do parque se dão pela Rua
Soares Caldeira (Figura 122), Rua Pirapora (Figura 123) ou pela Rua Bernardino de Andrade.
Diferente da Praça Victor Civita, o entorno do Parque Madureira é cinzento, desprovido de
vegetação que deixa o caminho até o parque mais agradável.
Figura 118 – Estação Ferroviária Mercadão Madureira Figura 119 – Av. dos Italianos
Fonte: SILVA, 2012. Fonte: GOOGLE INC., 2013.
Figura 120 – Estrada do Portela Figura 121 – Rua Conselheiro Galvão
Fonte: GOOGLE INC., 2013. Fonte: GOOGLE INC., 2013.
Figura 122 – Rua Soares Caldeira Figura 123 – Rua Pirapora
Fonte: GOOGLE INC., 2013. Fonte: GOOGLE INC., 2013.
136
O interior do Parque Madureira possui diversas vias pedonais e ciclovia que
atravessam o parque inteiro levando a diversos equipamentos de lazer (Figuras 124 e 125).
Apesar de o parque possuir dois anos de existência, sua vegetação já atua como grande
modificador de clima, deixando o passeio por suas vias bastante agradável.
Figura 124 – Vias do Parque Madureira
Fonte: Adaptado de RRA, 2012.
Figura 125 – Ciclovias e vias pedonais do Parque Madureira
Fonte: MACIEIRA, 2012.
Limites
São elementos lineares que atuam como fronteiras entre duas áreas, referências
laterais e não devem ser confundidos com as vias, apesar de que em algumas situações as vias se
configuram como limites. Os limites possuem uma força contínua e, além de poderem ou não ser
intransponíveis, podem ter qualidades direcionais, distinguindo claramente os lados separados.
O limite do entorno imediato da Praça Victor Civita está bem definido pelo Rio
Pinheiros que possui em sua extensão a linha ferroviária, a ciclovia e a Marginal Pinheiros.
137
Esse limite é intransponível e sua força contínua atua como separador dos bairros Pinheiros e
Butantã (Figuras 126 e 127). O mesmo acontece com o limite da própria praça, bem definida,
segue todo o perímetro dela, deixando-a intransponível (Figura 128).
Figura 126 – Limite do entorno da Praça Victor Civita
Fonte: Adaptado de GOOGLE INC., 2013.
Figura 127 – Rio Pinheiros e Linha de Transporte Ferroviário
Fonte: PATRIQUE, 2009.
Figura 128 – Limite da Praça Victor Civita
Fonte: PATRIQUE, 2009.
138
Para o Parque Madureira, o limite do entorno se dá pela linha ferroviária e pela
linha de transmissão de energia (Figuras 129 e 130). A linha de transmissão de energia
permitiu, por toda a extensão do parque, a preservação da vegetação, transformando esse
espaço em uma barreira visual bem definida. O parque possui cercamento por todo o seu
perímetro (Figura 131), reforçando e distinguindo visivelmente seu limite.
Figura 129 – Limite do entorno do Parque Madureira
Fonte: Adaptado de GOOGLE INC., 2013
Figura 130 – Parque Madureira com seu limite intransponível à direita
Fonte: MACIEIRA, 2012.
139
Figura 131 – Limite do Parque Madureira
Fonte: PMRJ, 2014.
Zonas homogêneas ou bairros
Essas zonas são áreas grandes da cidade nas quais o observador pode penetrar
mentalmente e possuem características físicas em comum como textura, espaço, forma, tipo
de construção, usos, atividades, habitantes, estados de conservação e topografia. Essa
propriedade facilita sua identificação e, como referencial externo, facilita na orientação do
observador. Além disso, possuem vários tipos de fronteiras e o contraste com áreas limítrofes
intensificam a força temática de cada um.
O zoneamento definido no entorno da Praça Victor Civita pela Prefeitura
Municipal de São Paulo, distingue claramente as diferentes características urbanas. Na Figura
132, pode-se verificar essa homogeneidade de baixo gabarito, diferindo apenas na área da
praça, onde os edifícios são mais amplos.
Da mesma maneira, o Parque Madureira possui um zoneamento bem homogêneo,
de baixo gabarito. A linha ferroviária divide a área e, ela própria, configura-se como uma
zona homogênea, servindo de referencial externo, facilitando na orientação do observador
(Figura 133).
140
Figura 132 – Zonas homogêneas do entorno da Praça Victor Civita, nota-se uma diferença no padrão
arquitetônico dentro da ZM-2 (delimitado em amarelo)
Fonte: Adaptado de GOOGLE INC., 2013, dados de PMSP, 2013.
Figura 133 – Zonas homogêneas do entorno do Parque Madureira
Fonte: Adaptado de GOOGLE INC., 2013, dados de PMRJ, 2009.
141
Pontos nodais
Os pontos nodais, também chamados de núcleos, são definidos como focos
estratégicos nos quais o observador pode entrar, podendo se configurar como conexões
de vias, um cruzamento, momentos de passagem de uma estrutura a outra ou grandes
praças.
Nesses locais, o fluxo lento do trânsito é importante para o observador, pois
são neles que serão tomadas decisões de direção, sendo necessária uma maior atenção e,
com isso, terá melhor percepção e mais clareza na observação dos elementos
circundantes. Com isso, o observador atribui especial importância nos elementos
situados ali, contribuindo expressivamente em um melhoramento de sua condição de
localização no espaço.
Dito isto, a Praça Victor Civita, inserida em uma malha viária densa, possui
diversos pontos nodais, transformando o espaço em um polo de tomadas de decisões e,
consequentemente, melhor percepção dos elementos do seu entorno (Figura 134). O
principal deles é a nova Estação de Metrô Pinheiros, que possui uma passarela que passa
por cima da Marginal Pinheiros, ligando-a com a estação ferroviária, na orla do Rio
Pinheiros. Outro ponto nodal interessante é a esquina onde se situa o prédio do
estacionamento da Editora Abril, um polo gerador de tráfego que exige do observador uma
maior atenção.
No entorno do Parque Madureira, os pontos nodais se definem, em sua maioria,
por cruzamentos de vias. Destaca-se apenas a Estação de Trem Mercadão Madureira, onde
está o mercado de mesmo nome que se configura como polo gerador de tráfego de veículos e
pedestres (Figura 135).
142
Figura 134 – Pontos nodais relevantes do entorno da Praça Victor Civita
Fonte: Adaptado de GOOGLE INC., 2013.
143
Figura 135 – Pontos nodais relevantes do entorno do Parque Madureira
Fonte: Adaptado de GOOGLE INC., 2013.
Marcos
Identificados como referenciais externos ao observador, ao marcos são elementos
físicos, com escala variável, utilizados como guias e possuem características singulares no
contexto na qual estão inseridos. Um dos principais fatores de importância para a escolha de
um marco está em seu contraste entre figura e pano de fundo. Podem se configurar como uma
montanha, loja, edifício ou sinal, podendo ser visualizado de diversos ângulos e locais.
Como principal referencial ao se chegar as proximidades da Praça Victor Civita
tem-se o prédio da Editora Abril. O mais alto da região pode ser observado de diversos pontos
144
do entorno, sendo um bom exemplo de contraste de figura e pano de fundo (Figura 136).
Outro ponto de referência que se distingue bem na paisagem é o prédio da CETESB,
localizado na parte posterior da praça.
Figura 136 – Marcos do entrono da Praça Victor Civita, nota-se o prédio da Editora Abril, vista de diversos pontos
Fonte: Adaptado de GOOGLE INC., 2013.
145
No entorno do Parque Madureira, mesmo com um gabarito baixo, os marcos de
identificação de longa distância são poucos. O único marco é a linha de transmissão de
energia, com torres altas por toda a extensão do parque e que se configura como um forte
referencial (Figura 137).
Figura 137 – Marcos do entrono do Parque Madureura, nota-se que as torres da linha de transmissão de energia
pode ser visualisada de diversos pontos do parque
Fonte: Adaptado de GOOGLE INC., 2013.
146
4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DA ÁREA DE ESTUDO
O Campo de Aviação, localizado no bairro Campeche, em Florianópolis/SC,
espaço escolhido para a implantação de um parque urbano, possui características históricas e
culturais relevantes, como exposto na seção 2.1 Espaço e Memória. Nesse capítulo, pretende-
se organizar evidências significativas para uma melhor elucidação dessa escolha, conferindo
uma maior relevância a esse vazio urbano.
Como desfecho proeminente deste trabalho, será necessário estudar os principais
condicionantes naturais, legais e socioespaciais que, juntamente com a fundamentação teórica,
irão proporcionar um alicerce, auxiliando no desenvolvimento do partido geral para a
projetação do parque. Para tanto, de acordo com Simone Gatti (2013, p. 30), para uma
adequada análise do terreno e de seu entorno, deve-se considerar e identificar
“todas as interferências que podem impactar o novo espaço, positiva ou negativamente. Este
levantamento será definitivo na implantação adequada do projeto e na sua integração com a
cidade como um todo, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da região.”.
A leitura final desse recorte urbano se dará através da metodologia abordada na
seção 2.2 Paisagem Urbana, na qual os autores Kevin Lynch e Gordon Cullen utilizam da
coleta de informações e referenciais para uma melhor percepção ambiental.
4.1 O CAMPECHE
A colonização provinda da Ilha Terceira dos Açores (no século XVIII) e o rico
universo das histórias do escritor Antoine de Saint-Exupéry (na década de 1920) são alguns
dos elementos que compõem a história do Campeche. Deste variado e multifacetado “mundo
de contrastes”, que vai do modo de vida tranquilo e frugal do povo de descendência açoriana
até a agitada, imprevisível e destemida realidade dos pioneiros da aviação civil, subsistiram
atividades como a pesca, a confecção de rendas e redes (BARBOSA; BURGOS; SOUZA,
2003, p. 155) e o Campo de Aviação, porção central da área de estudo deste trabalho e que
será abordado na seção 4.2.
Localizado no setor Leste da Ilha de Santa Catarina (Figura 138), o Distrito do
Campeche (desmembrado do Distrito do Ribeirão da Ilha e criado, pela Lei Municipal n.
4.805/95 (PMF, 1995)), possui área total de 34.863 km2
(IPUF, 2014) e uma população
total de 30.028 hab. (IBGE, 2010). Dotado de belezas naturais, a praia do Campeche
recebe anualmente centenas de turistas, sendo um dos principais destinos de esportistas
náuticos. Entre suas belezas, está a Ilha do Campeche (Figura 139), tombada como
147
Patrimônio Arqueológico e Paisagístico Nacional. Por essas qualidades, juntamente com o
aumento do turismo de balneário em Florianópolis na década de 1980, o Campeche se
transformou em uma potencialidade turística, contribuindo para o desenvolvimento e
aumento da especulação imobiliária local.
Figura 138 – Localização do Distrito do Campeche, o polígono vermelho se refere a área que será estudada
Fonte: Adaptado de Google Inc. (2013) e IPUF (2014).
Figura 139 – Ilha do Campeche ao fundo
Fonte: Acervo próprio, 2014.
148
4.2 ÁREA DE INTERVENÇÃO: O CAMPO DE AVIAÇÃO
O Campo de Aviação está localizado na planície do Campeche (Figura 140), na
Av. Pequeno Príncipe, principal avenida do bairro, entre a Escola Municipal Brigadeiro
Eduardo Gomes e Rua da Capela (Figura 141), configurando-se como uma área de grande
centralidade. Além disso, a comunidade já se apropriou historicamente do lugar, utilizando-o
para jogos de futebol, de rugby, passeio com animais de estimação, ócio, pick-nick,
aeromodelismo, além de eventos promovidos pela associação do bairro.
Figura 140 – Campo de Aviação
Fonte: GOOGLE INC., 2013.
Figura 141 – Principal acesso à praia do Campeche, final da Av. Pequeno Príncipe
Fonte: Acervo próprio, 2014.
149
Porém, mesmo com um elevado número de frequentadores e usos, o terreno com
cerca de 290.000 m2, não possui infraestrutura (Figura 142). Mesmo que a orla marítima se
configure como uma área de lazer, durante o inverno a comunidade fica a mercê de um campo
sem instalações adequadas, sem garantias de lazer e práticas esportivas. Portanto, é com esse
intuito que se pretende desenvolver um projeto de parque, visando transformar essa área em
um novo espaço de impacto positivo para a comunidade local e que contribua para a melhoria
da qualidade de vida da região.
Figura 142 – Campo de Aviação
Fonte: Acervo próprio, 2014.
4.2.1 Condicionantes naturais
O Campo de Aviação está disposto sobre terrenos denominados Planícies
Costeiras, que são formados por solos predominantemente arenosos e possuem formas de
relevo que variam de planas até rampas levemente inclinadas (Figura 143). Nestes locais, o
lençol freático é bastante superficial, podendo até mesmo aflorar em alguns pontos, formando
áreas alagadas.
Figura 143 – Vista geral do Campo de Aviação, nota-se o relevo totalmente plano
Fonte: Acervo próprio, 2014.
150
A vegetação nativa que se instala sobre estes solos arenosos é denominada
Restinga. Porém, no caso específico do Campo de Aviação, a vegetação encontra-se bastante
alterada devido ao processo histórico de ocupação, tendo em vista que grande parte da gleba
era utilizada como pista de pouso de aeronaves e não podia apresentar vegetação de grande
porte. Atualmente, predomina na área o tipo de vegetação herbácea, formada por gramíneas
diversas, sendo os capões de vegetação arbórea, predominantemente formados por pinheiros
exóticos, restando pouquíssimas áreas de florestas nativas no terreno (Figuras 144 a 146).
Figura 144 – Vista geral da vegetação existente no Campo de Aviação, onde se nota
a vegetação herbácea em primeiro plano e a vegetação arbórea exótica ao fundo
Fonte: Acervo próprio, 2014.
Figura 145 – Detalhe da vegetação arbórea nativa
existente no Campo de Aviação
Figura 146 – Detalhe da vegetação arbórea exótica,
predominante no Campo de Aviação
Fonte: Acervo próprio, 2014 Fonte: Acervo próprio, 2014
Com relação aos elementos de hidrografia, não se verifica a existências de rios no
Campo de Aviação. Observa-se, apenas, um canal de drenagem artificial que escoa de forma
paralela e próximo à Av. Pequeno Príncipe (Figura 147), drenando as águas do terreno e
desembocando junto ao Riozinho do Campeche.
151
Figura 147 – Vista geral do canal de drenagem artificial existente no Campo de Aviação
Fonte: Acervo próprio, 2014
No que se refere às questões meteorológicas, o Campo de Aviação, a exemplo do
que acontece em toda a Ilha de Santa Catarina, não possui períodos de seca, sendo que as
chuvas são bem distribuídas durante todo o ano. A área possui boa taxa de insolação, tendo
em vista a não ocorrência de barreiras solares no entorno, e se apresenta exposta aos ventos
predominantes, que são de quadrante Nordeste e Sul, sendo os ventos de quadrante Sul os de
maiores intensidades (Figura 148).
Figura 148 – No terreno, deve-se tomar decisões projetuais para diminuir a insolação do verão e barrar o vento
sul no inverno
Fonte: Adaptado de Google Inc. (2013).
152
4.2.2 Condicionantes socioespaciais
A situação atual de ocupação e uso do solo no Campo de Aviação provém de uma
série de fatores relacionados ao histórico de utilização do lugar. Portanto, a evolução desta
ocupação e uso necessita ser contemplada com base em avaliações relacionadas à
caracterização espaço temporal da ocupação sobre a área em estudo, desenvolvida a partir da
interpretação sobre as séries de fotografias aéreas (Figura 149) obtidas no site de
geoprocessamento do Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis (IPUF). Com isso,
foi feita a interpretação sobre essas imagens com objetivos de proporcionar uma descrição da
evolução socioespacial na área do empreendimento.
No registro fotográfico do ano de 1957, o uso que predominava na região de
entrono da área de estudo era o rural, com exceção do Morro do Lampião e das dunas
adjacentes ao mar, na qual em alguns lugares recebia o aporte de água formando áreas
alagadas. Mesmo a região sendo predominantemente alterada por ocupações humanas, não se
observa muitas edificações, o que remete a uma baixa densidade demográfica.
Os caminhos que existiam, eram traçados rudimentares das vias hoje existentes,
como a Av. Pequeno Príncipe, Av. Campeche e Rua da Capela. Observa-se, também,
inúmeros caminhos em meio as propriedades, que eram usados para a locomoção, como os
ocorrentes no interior do Campo de Aviação, que se apresenta completamente recoberto por
pastagens, além de pequenos talhões destinados a pequenas culturas locais.
No registro fotográfico do ano de 1977, o panorama rural da região não foi
alterado. É possível notar o uso da terra predominantemente voltado para agricultura, porém
seguindo uma tendência de declínio, assim como em toda Ilha de Santa Catarina. As áreas
alagadas se encontravam nas mesmas situações, assim como o Morro do Lampião e as dunas.
As ruas citadas anteriormente, nessa época, aparecem mais bem delineadas, sendo que
algumas outras foram abertas, como a Rua Auroreal. As edificações continuam rarefeitas e,
além disso, não se notam grandes diferenças em relação ao registro anterior, principalmente,
no interior do terreno em estudo, que passa a ser recoberto exclusivamente por pastagens.
No registro fotográfico do ano de 1994, percebe-se uma completa alteração do
panorama de ocupação na região. Caracterizada como predominantemente rural, converte-se
em predominantemente urbana, seguindo a tendência de expansão urbana dos balneários de
Florianópolis, sendo a agricultura extinta. Inúmeras edificações foram construídas, assim
como novas ruas abertas. Dunas, áreas alagadas e o Morro do Lampião continuam sem
grandes alterações.
Figura 149 – Evolução socioespacial da área analisada, o polígono vermelho indica o Campo de Aviação
Fonte: Adaptado de IPUF (2014).
154
No interior do Campo de Aviação, observa-se que as pastagens começaram a
ceder espaço para as primeiras estruturas destinadas à prática de esportes, como quadras de
vôlei e campos de futebol de areia. Outra alteração importante refere-se ao canal de drenagem
que, neste registro, já aparece construído.
A partir do registro fotográfico do ano de 2002, a região de entorno do Campo de
Aviação apresenta situação urbana plenamente consolidada e bastante semelhante com a
ocupação atual. Os usos observados remetem ao caráter exclusivamente urbano, sendo que se
passa a observar a ocorrência de diversas glebas que adquirem caráter de vazios urbanos.
Estas características se acentuam nos registros fotográficos dos anos de 2009 e 2012.
As principais alterações observadas no interior do Campo de Aviação nestes
últimos três registros fotográficos (2002, 2009 e 2012) referem-se, justamente, à
intensificação do caráter de área sem ocupação consolidada e de uso comum, com o
surgimento de alguns espaços destinados à prática de esportes e ao lazer, entremeados pelos
caminhos que se mantiveram no interior da área ao longo dos anos. As alterações mais
marcantes se referem ao surgimento de áreas com vegetação arbórea nativa em regeneração
natural, bem como, de áreas com reflorestamento composto por espécies exóticas
(predominantemente pinheiros).
Atualmente, a ocupação do solo na região de entorno do Campo de Aviação é
representado por usos urbanos, prevalecendo os usos mistos comerciais (de pequeno e médio
porte) e residenciais uni e multifamiliares (Figura 150), conforme apresentado no mapa de uso
do solo (Figura 151). Restaram poucas glebas desocupadas, que se caracterizam como vazios
urbanos (Figura 152) e que, em conjunto com a tipologia dos loteamentos simples
implantados na região, onde prevalece a dinâmica de ruas sem ligação com as adjacentes,
prejudica a mobilidade local, principalmente, para os deslocamentos não motorizados.
Figura 150 – Residências uni e multifamiliares na região de entorno do Campo de Aviação
Fonte: Acervo próprio, 2014.
155
Figura 151 – Mapa de ocupação e uso do solo na região de entorno do Campo de Aviação
Fonte: IPUF, 2014.
Figura 152 – Vazios urbanos na região de entorno do Campo de Aviação
Fonte: Acervo próprio, 2014.
156
4.2.2.1 Infraestrutura pública
O bairro como um todo possui razoável abastecimento de equipamentos urbanos.
Em todas as vias são encontrados sistemas de comunicação, sistemas de energia e sistema de
iluminação pública. A rede de água é completa e a drenagem pluvial supre as necessidades
locais. A rede de esgoto foi quase que totalmente implantada, porém ainda aguarda a
finalização da Estação de Tratamento de Esgoto no Rio Tavares. A coleta de resíduos sólidos
convencionais é efetuada três vezes por semana e a coleta seletiva uma vez por semana, sendo
que as principais vias possuem lixeiras para resíduos de varrição.
O esporte e o lazer ficam por conta da praia e do Campo da Aviação, apesar de
não possuir nenhum tipo de infraestrutura. A pista de caminhada e a ciclovia também possui
alto aproveitamento pelos locais e, no final do trecho da via que possui o canteiro central de
passeio, existe um bicicletário e bancos para repouso.
Além dos esportes praticados durante o verão, observa-se que a praia do
Campeche se configura como uma grande área de lazer, tendo em vista que a comunidade a
frequenta mesmo durante o inverno. A proximidade da praia com os núcleos de ocupação
configura o espaço como área de lazer e converte as trilhas em verdadeiros convites para a
vivência com a natureza. O “Point do Riozinho” é um local de encontro de banhistas e
praticantes de esportes náuticos.
Em relação à segurança pública e proteção, o único posto da polícia militar atende
todo o bairro e viaturas fazem a ronda local em diversos horários. A Av. Pequeno Príncipe
possui câmeras públicas de vigilância.
Como equipamento de educação, o entorno possui duas escolas básicas (apenas
ensino básico e fundamental). Uma delas é a Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes,
que está localizada no final da Av. Pequeno Príncipe, onde funciona também o Núcleo de
Educação Infantil do Campeche; a outra instituição de ensino é a Escola de Educação Básica
Januária Teixeira da Rocha, que se localiza na Rua da Capela. A escola de ensino médio mais
próxima foi inaugurada em abril de 2014 e fica ao lado do Terminal de Integração do Rio
Tavares (TIRIO).
O posto de saúde atende com baixa eficiência a comunidade, sendo que a
prefeitura pretende construir brevemente outra unidade de atendimento. A maioria das vias
são pavimentadas: a Av. Pequeno Príncipe, Av. Campeche e a Rua da Capela possuem
cobertura asfáltica, as demais são pavimentadas com lajotas, com exceção da Serv. Catavento,
que só possui essa pavimentação nos primeiros 250 m.
157
4.2.3 Condicionantes legais
Dentre os debates do Plano Diretor (instituído em 2014, pela Lei Municipal
Complementar n. 482, de 17 de janeiro de 2014) (PMF, 2014), a AMOCAM discutiu e
defendeu com veemência o destino do Campo de Aviação como área pública destinada à
cultura e ao lazer. A área com cerca de 290 mil m2, que hoje é propriedade da União, de
acordo com o novo Plano Diretor (Figura 153), possui dois tipos de zoneamentos: Área
Comunitária Institucional (ACI) e Área Verde de Lazer (AVL).
De acordo com o Plano Diretor:
Art. 52. As Áreas Comunitárias Institucionais são aquelas destinadas a todos os
equipamentos comunitários ou aos usos institucionais, necessários à garantia do
funcionamento dos demais serviços urbanos.
Art. 53. As Áreas Comunitárias Institucionais serão classificadas e localizadas em
planos setoriais elaborados pelo órgão municipal de planejamento urbano e setores
afins, aprovados por Lei Complementar.
Art. 54. Os limites de ocupações das Áreas Comunitárias Institucionais são os
definidos pelo zoneamento adjacentes, ou por estudo específico realizado pelo IPUF.
Art. 55. Desaparecendo o motivo que determinou o estabelecimento da Área
Comunitária Institucional, pelo menos um terço de sua área será doada ao município
para uso público, destinada como Área Comunitária Institucional, definida pelo órgão
municipal de planejamento urbano conforme a demanda urbana de maior carência.
Art. 56. As torres e equipamentos complementares de comunicação e segurança
serão regidos por Lei própria que atente para possíveis efeitos dessas instalações
sobre a saúde humana. Até a edição de lei própria poderão ser licenciados nos
pontos recomendados pelas normas técnicas específicas, respeitados os limites das
residências e locais de trabalho, e atendidos os índices de ruídos na vizinhança, e
desde que haja anuência do IPUF, sem prejuízo das demais aprovações
eventualmente necessárias.
Art. 57. Áreas Verdes de Lazer (AVL) são os espaços urbanos ao ar livre de uso e
domínio público que se destinam à prática de atividades de lazer e recreação,
privilegiando quando seja possível a criação ou a preservação da cobertura vegetal.
Parágrafo único. O órgão municipal de planejamento urbano em parceria com a
Procuradoria Geral do Município deverá desenvolver o mapa das Áreas Verdes de
Lazer existentes no prazo de um ano a partir da publicação desta Lei Complementar,
atualizado a cada ano ou conforme novas áreas sejam incorporadas na forma da
legislação específica.
Art. 58. Em Áreas Verdes de Lazer (AVL) será permitida apenas a construção de
equipamentos de apoio ao lazer ao ar livre, como playgrounds, sanitários, vestiários,
quiosques e dependências necessárias aos serviços de segurança e conservação da área.
(PMF, 2014, p. 26-27).
Analisando a Figura 153 percebe-se que o entorno do sítio possui maior influência de
Áreas Residenciais Predominantes (ARP), com algumas Áreas Mistas Comerciais (AMC), Áreas
Residenciais Mistas (ARM) e Áreas Turísticas Residenciais (ATR) ao longo da Av. Pequeno
Príncipe e da Av. Campeche. Uma grande gleba que se estende pela orla possui proteção nas
Áreas de Preservação Permanente (APP) e Áreas de Preservação com Uso Limitado (APL).
Observa-se que algumas poucas áreas do entorno foram destinadas às áreas verdes de lazer.
158
Figura 153 – Zoneamento de acordo com o Plano Diretor Vigente do município de Florianópolis
Fonte: PMF, 2014.
No tocante às áreas de preservação permanente, assim classificadas pela Lei Federal
n. 12.651/2012 (BRASIL, 2012), não se observa a ocorrência no interior do Campo de Aviação.
Ademais, salienta-se que os remanescentes de vegetação nativa no interior do Campo
de Aviação são regidos pela Lei Federal n. 11.428/2006 (BRASIL, 2006b), que dispõe sobre a
utilização e proteção da vegetação nativa do Bioma Mata Atlântica e impõe limites e sanções ao
corte de vegetação nativa. Ressalta-se que a Lei Municipal n. 9.097/2012 (PMF, 2012) permite a
remoção e substituição de pinus, eucalyptus e casuarina spp. por espécies nativas no município de
Florianópolis. A Lei Municipal n. 9.097/2012 (PMF, 2012), permite a remoção e substituição de
pinus, eucalyptus e casuarina spp. por espécies nativas no município de Florianópolis.
Campo de
Aviação
159
4.2.4 Análise da paisagem
Concluindo o processo de análise da área da intervenção, faz-se necessário um
estudo de paisagem, com base no conceito de visão serial de Gordon Cullen (2008), abordado
nas seções 2.2 e 3.3.1 e nos conceitos de vias, limites, zonas homogêneas ou bairros, pontos
nodais e marcos, proposto por Kevin Lynch (1997) e abordado nas seções 2.2 e 3.3.2. A
identificação desses conceitos e elementos de relevância paisagística do terreno e de seu
entorno foi feito a partir de registro fotográfico in loco, e serão de suma importância para a
compreensão da relação do terreno com o entorno para desenvolvimento do projeto
arquitetônico e urbanístico. Os pontos relevantes para a visão serial estão indicados na Figura
154, na qual os pontos de 1 a 3, sentido SC-405 para a praia do Campeche, são os mais
importantes por estarem inseridos na principal avenida do bairro.
Figura 154 – Identificação dos pontos de análise da visão serial
Fonte: Adaptado de Google Inc. (2013).
O ponto 1 é o primeiro contato com o Campo de Aviação para os usuários que
procederem pela Av. Pequeno Príncipe. Do lado direito da via, construções de baixo gabarito
se contrapõem com a vegetação abundante do campo, gerando uma barreira visual para o
transeunte (Figura 155). Logo em frente, no ponto 2, o campo visual se abre para o Campo de
Aviação, permitindo uma abrangente percepção do espaço (Figura 156).
160
Figura 155 – Vista do Ponto 1
Fonte: Acervo prórpio, 2014.
Figura 156 – Vista do Ponto 2
Fonte: Acervo prórpio, 2014.
Dando continuidade, no ponto 3, como acontece no ponto 1, a vegetação bloqueia
a visão de quem passa, não permitindo a visualização do campo (Figura 157). Seguindo para o
ponto 4, que pode ser acessado através de trilhas do Campo de Aviação ou pela Serv. São
Francisco de Assis, tem-se uma visão bastante ampla do campo, com o morro do Lampião ao
fundo (Figura 158).
Figura 157 – Vista do Ponto 3
Fonte: Acervo prórpio, 2014.
161
Figura 158 – Vista do Ponto 4, ao fundo observa-se as torres de celular e o morro do Lampião
Fonte: Acervo prórpio, 2014.
Os pontos 5 e 6, acessíveis por trilha ou através da Serv. Catavento possuem parte
da visão do campo bloqueada pela vegetação (Figuras 159-160). Os pontos 7 e 8, acessíveis
pela Rua da Capela, possuem a visada do campo totalmente bloqueada pela vegetação, e ao
fundo, a torre de celular se configura como um referencial (Figuras 161-162).
Figura 159 – Vista do Ponto 5
Fonte: Acervo prórpio, 2014.
Figura 160 – Vista do Ponto 6
Fonte: Acervo prórpio, 2014.
162
Figura 161 – Vista do Ponto 7
Fonte: Acervo prórpio, 2014.
Figura 162 – Vista do Ponto 8
Fonte: Acervo prórpio, 2014.
Quando se refere à malha viária do entorno do Campo de Aviação, pode-se
observar uma irregularidade definida por antigas picadas. O campo faz limite direto com 3
vias: ao sul com a Av. Pequeno Príncipe, ao oeste com a Rua da Capela, ao norte com a Serv.
Catavento e, de acordo com o Plano Diretor Vigente (PMF, 2014), existe a pretensão de se
criar uma via subcoletora no lado leste do campo. No campo existem diversos caminhos e
trilhas, traçados pelos usuários (Figura 163).
Figura 163 – Trilhas do Campo de Aviação, notaram-se em alguns locais onde moradores jogam entulhos
Fonte: Acervo próprio, 2014.
163
Essa configuração favorece o acesso ao campo por todo o seu perímetro. Com
relação aos limites (linha contínua verde e azul na Figura 164), estes são decorrentes da
topografia da planície do Campeche: o morro do Lampião faz limite à oeste e o mar se
configura como uma barreira intransponível à oeste (Figura 164).
Figura 164 – Vias e limites
Fonte: Adaptado de Google Inc. (2013).
164
Com uma extensão total de 3,16 km, a Avenida Pequeno Príncipe (Figura 165)
se configura como eixo principal de articulação do Campeche, ligando a Rodovia SC-405
com a praia. Com duas pistas de rolamento, ciclovia e pista de caminhada, a avenida, de
fluxo intenso, tem caráter de referência local e infraestrutura predominante de comércios e
serviços. Residenciais multifamiliares e unifamiliares, de baixo e alto padrão, constituem
também a área, porém ainda existem vazios urbanos.
É perceptível a vivência da avenida à medida que as pessoas se deslocam em
direção à praia. A avenida tem como limite final a praia, no Centrinho do Campeche, onde o
comércio de roupas e a gastronomia são os serviços mais procurados por turistas. O canteiro
central para passeio e lazer inicia a 300 m da praia, terminando em uma rótula, que possui
bancos e bicicletário (Figura 165). No final da via, é possível avistar a Ilha do Campeche,
Patrimônio Arqueológico e Paisagístico Nacional.
Figura 165 – Av. Pequeno Príncipe
Fonte: Acervo próprio, 2014.
Paralela à orla marítima, a Av. Campeche (Figura 166) possui 4,12 km de
extensão e faz a ligação da Avenida Pequeno Príncipe com a Rodovia Dr. Antônio Luiz
Moura Gonzaga, no Rio Tavares. Por ser muito utilizada como rota alternativa para a Lagoa
da Conceição, a via possui um fluxo intenso. No verão, essa condição se agrava,
principalmente, próximo ao “Point do Riozinho”, onde frequentadores da praia estacionam ao
longo da via. De acordo com relatos locais, os carros estacionados por vezes bloqueiam a via
para o transporte coletivo municipal.
Apesar da existência de grandes glebas que figuram como vazios urbanos, o campo
possui ocupação bastante instituída e formada por residências uni e multifamiliares, comércio e
uma considerável quantidade de pousadas e residências para aluguéis de temporada.
165
Figura 166 – Av. Campeche
Fonte: Acervo próprio, 2014.
A Rua da Capela (Figura 167) possui uma característica de via calma, com pouco
trânsito de veículos, resultado da sua ocupação, predominantemente constituída por
residências, condomínios e vazios urbanos. Parte de seu trajeto acompanha o Campo da
Aviação, e seu logradouro se originou a partir da Capela de São Sebastião.
A Serv. Catavento (Figura 167) possui calçamento apenas nos primeiros 250 m
iniciais (entrando pela Av. Campeche). Após isso, o trecho sem pavimentação continua até a
Rua da Capela, sendo que, em uma tentativa de alargamento fez com que os postes de energia
ficassem no meio da rua. Energia, telefonia, TV e água são os únicos sistemas que abastecem
esta rua, que também é dotada de serviços de coletas de resíduos sólidos.
Figura 167 – À esquerda Rua da Capela, à direita Serv. Catavento
Fonte: Acervo próprio, 2014.
166
Quanto às zonas homogêneas, o entorno do sítio ainda possui diversos vazios
urbanos, com grandes glebas cobertas por vegetação, principalmente em sua orla marítima.
Toda a área ainda possui uma ocupação pouco adensada, que se repete em boa parte do bairro
(Figura 168).
Figura 168 – Zonas homogêneas
Fonte: Adaptado de Google Inc. (2013).
Entrando nas análises dos pontos nodais e marcos, observa-se uma gama desses
elementos no entorno do terreno em estudo, indicados na Figura 169. O ponto nodal 1 se
refere à entrada e saída da Rua do Gramal através da Av. Pequeno Príncipe, rua esta utilizada
para acesso ao bairro Morro das Pedras. Nesse ponto se configura uma pequena centralidade,
pois ali estão localizados, além de pequenos comércios, um supermercado e um posto de
saúde, marcos referenciais e polos geradores de tráfego. No mesmo local conta-se ainda com
uma torre de celular, referencial muito utilizado pelos moradores (Figura 170).
167
Figura 169 – Pontos nodais e marcos
Fonte: Adaptado de Google Inc. (2013).
Figura 170 – Supermercado, posto de saúde, entrada e saída da Rua do Gramal, torre de celular
Fonte: Acervo prórpio, 2014.
Assim como o ponto nodal 1, o ponto nodal 2 se refere à entrada e saída da Rua
da Capela, muito utilizada por reduzir o trajeto para quem se dirige ao Rio Tavares. Também
se configura como uma pequena centralidade, pois ali estão localizadas uma padaria bem
frequentada, farmácia, academia e playground, onde foi instalado um marco em homenagem
aos pioneiros da aviação. Além disso, uma torre de celular é utilizada como referencial de
paisagem (Figura 171).
168
Figura 171 – Entrada e saída da Rua da Capela, torre de celular e playground
Fonte: Acervo prórpio, 2014.
O terceiro ponto nodal da Av. Pequeno Príncipe, se refere à entrada e saída da Av.
Campeche, que contorna a orla onde possui diversos acessos à praia. Ali se encontra também
o Clube Catalina (pertencente à Aeronáutica), o Casarão Popote (local onde funcionava a
administração da Aéropostale), a Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes (referencial
bastante utilizado) e uma feira de frutas e verduras (que funciona alguns dias na semana).
Observa-se que ao fundo, no lado direito da via, construções de gabarito mais alto barram a
visão do transeunte (Figura 172).
Figura 172 – Entrada e saída da Av. Campeche, Escola Municipal Brigadeiro Eduardo Gomes e feira de rua
Fonte: Acervo prórpio, 2014.
No ponto nodal 4 fica localizado a entrada e saída da Rua das Corticeiras, rua que
contorna a orla e que possui vários acessos para a praia. Esse ponto possui um calçadão
peatonal com estacionamento que vai até o final da avenida (Figura 173).
O final da Av. Pequeno Príncipe se caracteriza como o ponto nodal 5, possui uma
rótula de retorno, estacionamentos e um pequeno comércio com restaurantes e lojas de artigos
de praia. O acesso à praia é o mais utilizado e permite uma visualização frontal da Ilha do
Campeche (Figura 174).
169
Figura 173 – Entrada e saída da Rua das Corticeiras para a Av. Pequeno Príncipe
Fonte: Acervo prórpio, 2014.
Figura 174 – Final da Av. Pequeno Príncipe, rótula de retorno e acesso à praia
Fonte: Acervo prórpio, 2014.
O sexto ponto nodal se refere ao “Point do Riozinho”, com acesso pela Av.
Campeche. Famoso nacionalmente, o local é um polo gerador de tráfego que, por todo o
verão, atrapalha o fluxo de carros e transporte coletivo (Figura 175).
O ponto nodal 7 (Figura 176) é o cruzamento da Rua da Capela com a Av.
Campeche. Ali se formou uma das primeiras centralidades do bairro, porém não sofreu
desenvolvimento. A Capela de São Sebastião e Império do Divino (Figura 176), no final da
Rua da Capela, foi construída em 1826 e se constitui em Patrimônio Histórico, Artístico e
Arquitetônico do Município de Florianópolis (IPUF, 2012, p. 9).
O morro do Lampião, indicado como ponto 8 na Figura 169 é um marco
visualizado por diversos pontos do Campeche. De acordo com Inácio (2001), seu nome
original era morro do Caboclo, mas mudou para seu atual nome, por ser o local onde se
acendiam lampiões para sinalizar a posição das pistas aos aviões em seus voos noturnos
(Figura 177).
170
Figura 175 – Foto à esquerda, Point do Riozinho, acesso à praia, à direita, cruzamento da Rua da Capela com a
Av. Campeche
Fonte: Acervo prórpio, 2014.
Figura 176 – Foto à esquerda, cruzamento em a Rua da Capela e a Av. Campeche, à direita Igreja
Fonte: Acervo prórpio, 2014.
Figura 177 – Morro do Lampião, à esquerda vista do Campo de Aviação, à direita vista da praia (próximo à Capela)
Fonte: Acervo prórpio, 2014.
171
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como finalização teórica deste trabalho, neste capítulo serão apresentados as
principais diretrizes que deverão ser levadas em consideração no desenvolvimento do projeto
de parque urbano, etapa subsequente e requisito basilar para a conclusão do curso. Com esse
embasamento, será desenvolvido um programa prévio do parque e uma proposta de partido
conceitual, apresentado no Apêndice A.
A linearidade estrutural do trabalho permitiu a compreensão e a importância dos
espaços urbanos para a sociedade e o quanto esses espaços influenciam na qualidade de vida
da população. Agregado a esse valor está a história da área estudada, importante variável
geradora do espaço e da memória local. Além disso, o planejamento urbano de Florianópolis
não acompanhou o crescimento acelerado, resultando na escassez de áreas de lazer, estando
limitado ao turismo de sol e mar nos balneários, deixando a cidade pouco atrativa em períodos
fora da temporada de verão.
5.1 REVISÃO DA PROBLEMÁTICA E PROPOSIÇÃO
O princípio norteador desta pesquisa foi o de demonstrar que atividades de cunho
cultural e de lazer desenvolvem a socialização e melhoram a qualidade de vida da população.
O que atualmente se observa é o descaso e a falta de manutenção com as poucas áreas de lazer
existentes no município. Neste sentido, buscou-se um embasamento teórico para dar suporte a
essa questão, pesquisando conceitos e referenciais projetuais que possuíssem essas atribuições
e pudessem contribuir na problemática desta pesquisa.
Como escopo de pesquisa propôs-se a criação de um parque de cultura e lazer,
contemporâneo, inserido na paisagem e com soluções que propiciem o desenvolvimento
sustentável e econômico do parque, diminuindo ao máximo a utilização do erário público e
constituindo-se, também, em um espaço de variados equipamentos de lazer, contemplando a
diversidade populacional e promovendo a convivência.
5.2 PARTIDO CONCEITUAL A SER ADOTADO
Para o início do desenvolvimento de qualquer projeto arquitetônico e urbanístico
são necessárias diretrizes, de modo a estabelecer uma definição do programa a ser
desenvolvido, ambos baseados na fundamentação teórica, análise de modelos e na avaliação
172
do sítio. Ao longo desse trabalho gerou-se uma gama de diretrizes que irão auxiliar na
composição do parque, exposto de forma esquemática no Apêndice A e listada a seguir.
Garantir a história, memória e identidade do espaço: incorporar a história no
desenvolvimento do parque é primordial para promover maior integração social, realçando os
sentimentos dos moradores locais em relação ao patrimônio cultural, repassando esse afeto às
gerações seguintes e aos visitantes que por ali irão passar. O traçado das antigas pistas de
pouso pode ser bem utilizado como um norteador de caminhos, pois coincide com as trilhas
utilizadas atualmente.
O parque urbano e suas complexidades: Jane Jacobs (2001) diz que o ideal é
atrair o maior número de tipos de pessoas, com os mais variados horários, interesses e
propósitos e, para tanto, são necessários quatro elementos primordiais para se garantir o uso:
Complexidade: inserir no parque diversas atividades para contemplar o
descanso, a recreação, a prática de esporte, o ócio, assistir a um jogo, ler,
trabalhar e ter contato com a natureza;
Centralidade: os traçados das antigas pistas de pouso se cruzam formando-se
uma centralidade no Campo de Aviação, podendo-se utilizar para constituir ali
um monumento aos aviadores configurando-se como um ponto de parada, um
local com referência visual;
Insolação: mesmo sob uma sombra no verão, ou sobre a grama no inverno, o
sol trás energia e vitalidade para o frequentador, demonstrando a importância
de espaços descampados ao parque;
Delimitação espacial: pode-se definir o espaço através de glebas vegetativas e
de construções à volta, criando uma forma definida de espaço, se destacando
como um elemento importante no cenário urbano.
Paisagismo: para Benedito Abbud (2006) paisagismo é a arte na qual é possível
ter uma rica vivência sensorial, onde os cinco sentidos do homem estão presentes e, quanto
mais se consegue acentuar esses sentidos, mais perto o paisagismo está de cumprir o seu
dever. Então, para o parque deve-se criar uma atmosfera que contribua para o acesso ao verde,
para o prazer de estar sob as sombras das árvores, sentir o frescor, seus cheiros e utilizar as
diversas tonalidades e cores existentes na natureza.
Mobiliário urbano: entre os elementos estruturadores dos equipamentos urbanos
está o mobiliário urbano, primordial para a composição, utilização, conforto e funcionalidade
dos parques urbanos. A forma e a função estão intimamente ligadas e, juntamente com a
173
ergonomia, transformam o mobiliário urbano em um contexto desafiador, na qual a forma
possui diversas possibilidades de criação de modelos inovadores e a função insere com
harmonia o mobiliário na paisagem urbana, interferindo no comportamento dos usuários.
Desenho Universal: para o projeto de um parque urbano com um conceito de
inclusão social, torna-se necessário utilizar elementos que ofereçam estímulos
sensoriais/perceptivos e que não se constituam em restrições para a condição de usabilidade
dos mesmos, proporcionando ambientes e ambiências com o maior índice possível de
apropriação de usuários.
Planejamento, implantação e gestão eficientes: a aplicação do desenvolvimento
sustentável em um parque urbano deve estar calcada na elaboração de uma estratégia de
implantação ecoeficiente, na qual são estabelecidas diretrizes que norteiem a busca por
construções sustentáveis e de baixo custo, além de soluções projetuais que permitam uma
gestão autossuficiente.
Materiais e Sistemas construtivos:
Madeira laminada colada: possibilitam grandes vãos, plasticidade e
flexibilidade com curvaturas, e estabilidade dimensional, possuindo baixa
umidade, o que reduz o comportamento de dilatação e retração, sendo
resistente a substâncias químicas e agressivas. Representam, ainda, uma
contribuição para a proteção do meio ambiente, pois pode ser utilizada a
matéria prima renovável de florestas plantadas ou manejadas, sobras de
madeireiras ou o bambu laminado colado.
Concreto armado: podem ser agregadas soluções para a diminuição do impacto
ambiental e diminuição do custo do produto final, entre as quais estão a
redução do cimento no concreto, reaproveitamento de resíduos industriais no
lugar da matéria-prima e reaproveitamento de resíduos de construção na
substituição de agregado.
Pavimentação: a impermeabilização do solo é um dos fatores agravantes em
enchentes e deslizamentos, interferindo no regime de retroalimentação dos
lençóis freáticos. No parque serão utilizados pavimentos que permitam a
infiltração da água como o piso-grama, intertravado, ecopavimento, asfalto-
borracha e concreto permeável.
Condicionantes naturais: por estar situado em uma planície costeira, o sítio
possui um relevo plano e com um lençol freático bastante superficial. Por isso, uma boa
drenagem do terreno direcionando as águas para um canal de drenagem, evitará a formação de
174
áreas alagadiças. Os capões de vegetação formados por pinheiros exóticos serão eliminados
(Lei Municipal n. 9.097/2012), mantendo apenas as glebas de florestas nativas, sendo que
serão criados bosques com vegetação nativa, frutíferas e floríferas, incluídos em um
macroprojeto de recuperação ambiental. Por não possuir barreiras físicas no entorno, o sítio
apresenta-se exposto aos ventos predominantes, que são de quadrante Nordeste (predominante
e intenso em todas as estações do ano) e Sul (intenso no inverno). Logo, a criação de barreiras
com vegetação amenizará esse aspecto climático.
Condicionantes socioespaciais: a condição de limite direto com três vias (ao sul,
ao oeste e ao norte), existindo ainda a pretensão de se criar uma via subcoletora no lado leste
do campo, contribui para a criação de acessos em todos os lados do parque, fazendo com que
todas as áreas do parque tenham maior movimentação.
Programa de necessidades do parque: de acordo com Gatti (2013, p. 42),
“definir o programa significa pensar sobre o que este espaço público precisa ter para atender
às demandas existentes”. Para auxiliar na organização do programa, foi utilizada a seguinte
subdivisão, definida por Gatti (2013):
Atividades a serem desenvolvidas: culturais, recreativas, esportivas, educação
ambiental.
Equipamentos necessários: quadras poliesportivas, campo de futebol, campo de
rugby, espaço skate, passeio, academia, pista de cooper, ciclovia, espaço de
contemplação/ócio, playground, espaço pipa e piquenique, espaço da feira,
mirante, anfiteatro com concha acústica, bocha, jogos de mesa, espaço do
aeromodelismo, pomar e viveiro, compostagem, quadra coberta, espaço
animal.
Edificações de apoio: espaço para exposição fixa e itinerante, pavilhão de
eventos, centro comunitário, sede administrativa, posto policial, banheiros
públicos, espaço multimídia, biblioteca, salas para oficinas, engenho de farinha
tradicional, quiosques e estacionamento.
175
6 CONCLUSÃO
Ao se considerar o homem como o agente determinante da produção
socioespacial, pode-se afirmar que o processo de urbanização constitui-se no principal fator
de modificação das paisagens nas cidades. Quando a expansão proporcionada por este
processo de urbanização ocorre de forma desordenada, a qualidade de vida da sociedade
como um todo diminui de forma considerável, refletindo-se na deterioração dos espaços
públicos e degradação dos ecossistemas naturais. Porém, quando este processo de urbanização
ocorre de forma planejada, levando em consideração a capacidade de suporte de ecossistemas
e o equilíbrio nas proposições dos usos sugeridos, observa-se que a relação homem/meio pode
se dar de forma sustentável.
Neste sentido, a criação de parques urbanos nas cidades contribui com a melhoria
da qualidade de vida dos ambientes urbanos, garantindo a aproximação do homem com a
natureza. Os parques podem atender as diversas finalidades sociais, culturais, de práticas
recreativas e contemplativas dentro das próprias cidades e proporciona a vivência em
ambientes saudáveis e sustentáveis, tanto ecológica, quanto social e economicamente.
O desafio de se projetar um parque urbano, não está só na escolha do programa,
mas em uma gama de diretrizes e decisões que, juntas, irão transformar o espaço em um lugar
com grande vitalidade e desejado por todos. Dentre essas premissas, o presente trabalho
analisou a composição da história que envolve o universo da comunidade, a paisagem urbana,
os equipamentos e mobiliários urbanos, a projetação para a diversidade de deficiências
humanas, o entendimento de suas complexidades e funções, o paisagismo que desperta
sensações e a sustentabilidade, intrínseca no pensamento da arquitetura contemporânea.
O estudo da história do Campo de Aviação levou-se à compreensão da
importância de se incorporar aos espaços públicos a memória do lugar e a promoção dos
sentimentos dos moradores locais em relação ao patrimônio cultural, repassando a história às
gerações seguintes e aos visitantes que por ali irão passar.
Atrelado ao espaço e memória está a paisagem urbana que, mesmo sob seu
complexo paradigma na morfologia do espaço, é gerada por uma profusão de vivências e
influências geográficas ou arquitetônicas e o resultado dessa análise irá auxiliar na construção
de um espaço com qualidade visual e ambiental.
Por conseguinte, através do estudo dos espaços urbanos, observou-se que a
evolução dos equipamentos urbanos na história da sociedade e, especificamente, no Brasil,
consolidou-se através de programas mistos, por meio de espaços contemplativos, recreativos,
176
esportivos e ecológicos, firmando a busca pela qualidade de vida e maior contato com a
natureza. Dentro desses espaços, encontra-se a necessidade da inserção de mobiliário urbano
e, consequentemente, a inclusão social. A pesquisa conceitual levou a conclusão de que é de
primordial importância a utilização de elementos que ofereçam estímulos sensoriais/perceptivos
e que não se constituam em restrições para a condição de usabilidade dos mesmos, proporcionando
ambientes e ambiências com o maior índice possível de apropriação de usuários.
Porém, mesmo que tudo isso seja implantado de forma adequada, se não houver
uma gestão para a manutenção do parque, o espaço sofrerá depreciação, deterioração e
abandono. Portanto, recursos orçamentários devem ser disponibilizados, decorridos de
associações de amigos do parque ou parcerias público privadas, de modo a diminuir os
encargos públicos.
A proposta para a implantação de um parque no Campo de Aviação não é recente
e a comunidade luta por esse espaço com veemência, buscando concretizar a destinação
pública que, historicamente, se observa na área de uma maneira irrevogável e eficiente. Esse
trabalho não tem a pretensão de ser concretizado, mas sim, se alicerça no desejo irrefutável de
auxílio a esta luta.
177
REFERÊNCIAS
ABBUD, B. Criando paisagens: guia de trabalho em arquitetura paisagística. São Paulo:
Editora Senac São Paulo, 2006.
ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 9283, Rio de Janeiro, 1986a.
ABNT. Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 9284, Rio de Janeiro, 1986b.
ABPC. Associação Brasileira de Cimento Portland. Básico sobre cimento, 2009. Disponível
em: <http://www.abcp.org.br/conteudo/basico-sobre-cimento/basico/basico-sobre-
cimento#.U1A6UPldUmM>. Acesso em: 17 abr. 2014.
ALEX, S. Projeto de praça: convívio e exclusão no espaço público. São Paulo: Editora
Senac São Paulo, 2008.
ALMEIDA, A. P. A percepção da paisagem urbana de Santa Maria/RS e os sentimentos
de topofilia e topofobia de seus moradores, 118 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) –
Universidade Federal de Santa Maria. Santa Maria, 2007. Disponível em:
<http://w3.ufsm.br/ppggeo/files/dissertacoes_06-11/Alcionir%20Pazatto%20Almeida.pdf>.
Acesso em: 24 mar. 2014.
ALMEIDA, G. E. Um pavilhão, um monumento: Palácio da Alvorada. SUMMA+, Buenos
Aires, n. 133, p. 40-45, jan. 2014.
AMORA, A. M. G. A. O lugar do público no Campeche. 197 f. Dissertação (Mestrado em
Geografia) – Universidade Federal do Estado de Santa Catarina. Florianópolis. 1996.
ANDRADE, G.; ESTEVES, V. Planejamento, projeto e gestão/manutenção de espaços
verdes (Manual)., Porto: Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Ave, SA
(ADRAVE), 2012. Disponível em:
<http://www.parkatlantic.eu/media/documentos/MANUAL_vf.pdf>. Acesso em: 24 mar.
2014. (Projeto ParkAtlantic – Parques Urbanos Atlânticos).
ANNABAU ARCHITEKTUR UND LANDSCHAFT. Sculptural Playground, 2011.
Disponível em: <http://www.annabau.com/index.php?site=projects&subsite=project&id=6>.
Acesso em: 23 abr. 2014.
ARAÚJO, C. D. D.; CÂNDIDO, D. R. C.; LEITE, M. F. Espaços públicos de lazer: um olhar
sobre a acessibilidade para portadores de necessidades especiais. Licere, Belo Horizonte, v.
12, n. 4, p. 1-43, dez. 2009.
ARCHIVO CLARIN. Parque Micaela Bastidas. Arquitectura Siglo XXI, 2002. Disponível
em: <http://archivoarq.clarin.com/obras/36-parque-micaela-bastidas>. Acesso em: 22 abr.
2014.
178
ARQUIVO HISTÓRICO MUNICIPAL. A criação do Parque da Luz. Informativo, 2006.
Disponível em: <http://www.arquiamigos.org.br/info/info04/>. Acesso em: 20 mar. 2014.
ARROYO, C.; CEREZO, V. Oostcampus, 2012. Disponível em:
<http://www.carlosarroyo.net/eng/proyectos/Oostkamp/00.htm>. Acesso em: 23 abr. 2014.
ASBEA. Guia sustentabilidade na arquitetura: diretrizes de escopo para projetistas e
contratantes. São Paulo: Prata Design, 2012.
ASLA. Professional Awards. Americam Society of landscape architects, 2009. Disponível
em: <http://www.asla.org/2009awards/images/largescale/115_06.jpg>. Acesso em: 14 mar.
2014.
AVIGNON PARC EXPO. Espace Salon Hall A. Avignon Parc Expo, 2014. Disponível em:
<http://www.avignon-expo.com/espace-congres/le-parc-des-expositions/espace-salon/hall-a-
40-1.html>. Acesso em: 16 abr. 2014.
BALOTTA, P. T. S.; BITAR, O. Y. Indicadores ambientais para o monitoramento de parques
urbanos. InterfacEHS, Revista de Gestão Integrada em Saúde do Trabalho e Meio Ambiente,
v. 4, n. 2, maio/ago. 2009. Disponível em:
<http://www.revistas.sp.senac.br/index.php/ITF/article/viewFile/37/68>. Acesso em: 11 abr.
2014.
BARBOSA, T. C. P.; BURGOS, R.; SOUZA, J. T. P. Uma experiência de planejamento
urbano comunitário: o caso da planície do Campeche, Florianópolis/SC. Revista Katálysis,
Florianópolis, p. 153-162, v. 6, n. 2, jul./dez. 2003. Disponível em: <https://periodicos.
ufsc.br/index.php/katalysis/article/view/6489/6303>. Acesso em: 21 maio 2014.
BAUER, L. A. F. Materiais de Construção. v. 1, 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000.
BENEVOLO, L. História da Cidade. 3. ed. São Paulo: Perspectiva, 2001.
BONELLI, M. C. Sustentabilidade em Obras Públicas: o caso do Parque Madureira.
124f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Urbana e Ambiental) – Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. 2013.
BRASIL. Ministério das Cidades. Secretaria Nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana.
Brasil acessível: programa brasileiro de acessibilidade urbana. Caderno 3 – Implementação
do Decreto n. 5.296/04, Brasília, 2006a. Disponível em:
<http://www.cidades.gov.br/index.php/publicacoes.html>. Acesso em: 1 abr. 2014.
BRASIL. Governo Federal. Lei Federal n. 11.428, 22 dezembro 2006b. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11428.htm>. Acesso em: 28
maio 2014.
179
BRASIL. Governo Federal. Lei Federal n. 12.484, 8 set. 2011. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12484.htm>. Acesso em: 16
abr. 2014.
BRASIL. Governo Federal. Lei Federal n. 12.651, 25 maio 2012. Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12651.htm>. Acesso em: 10
abr. 2014.
BSCAPE ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO. Nessie, 2012. Disponível em:
<http://europaconcorsi.com/projects/211053-B-SCAPE-architettura-del-paesaggio-NESSIE>.
Acesso em: 23 abr. 2014.
CAMPECHE. Movimento Campeche Qualidade de Vida. Praia do Campeche – Conheça a
mobilização da comunidade, contra a venda do antigo "Campo de Aviação". Informe Sul da
Ilha, 2010. Disponível em: <http://www.informesuldailha.com/2010/03/praia-do-campeche-
conheca-mobilizacao.html>. Acesso em: 14 mar. 2014.
CANNON DESIGN. Richmond Olympic Oval, 2010. Disponível em:
<http://www.cannondesign.com/projects/project-catalog/richmond-olympic-oval/>. Acesso
em: 16 abr. 2014.
CARLOS, A. F. A. O Espaço Urbano: novos escritos sobre a cidade. São Paulo: FFLCH,
2007.
CARVALHO, K. D. Lugar de memória e turismo cultural: apontamentos teóricos para o
planejamento urbanos sustentável. Cultur, Ilhéus, v. 7, n. 1, p. 15-31, jan. 2010.
CASA RUI BARBOSA. Glaziou: o paisagista do império. Casa Rui Barbosa, 2009.
Disponível em: <http://www.casaruibarbosa.gov.br/glaziou/projetos3.htm>. Acesso em: 20
mar. 2014.
CASTILHO, R. Oásis verde. Revista GreenBuilding, nov./dez. 2012. Disponível em:
<http://www.revistagreenbuilding.com.br/projeto.php?id=1>. Acesso em: 3 maio 2014.
CBCS. Conselho Brasileiro de Construção Sustentável. 6 passos para seleção de insumos e
fornecedores com critérios de sustentabilidade, 2014. Disponível em:
<http://www.cbcs.org.br/selecaoem6passos/fichatecnica_v2.php?NO_LAYOUT=true>.
Acesso em: 14 abr. 2014.
CORONA, M. A. Los parques urbanos y su panorama en la Zona Metropolitana de
Guadalajara. Vinculación y Ciencia, Guadalajara, p. 4-16, ano 4, n. 9, abr. 2002. Disponível
em: <http://www.acude.udg.mx/divulga/vinci/vinci9/Interiores9-2.pdf>. Acesso em: 28 mar.
2014.
CORRÊA, M. C. A conexão brasileira de Saint-Exupéry. ABUL - Associação Brasileira de
Pilotos de Aeronaves Leves, 7 abr. 2011. Disponível em: <http://www.abul.com.br/abul/
getntc2.asp?id=321>. Acesso em: 14 mar. 2014.
180
CULLEN, G. Paisagem urbana. Lisboa: Edições 70, 2008.
CURITIBA. Jardim Botânico. Parques e Praças de Curitiba, 2014. Disponível em:
<http://www.parquesepracasdecuritiba.com.br/parques/jardim-botanico.html>. Acesso em: 22
abr. 2014.
DEDE, A. F. Parque Micaela Bastidas. Habitar, 2013. Disponível em: <http://habitar-
arq.blogspot.com.br/2013/07/parque-micaela-bastidas.html>. Acesso em: 22 abr. 2014.
DI MONTE, P.; GRAVALOS, I. Urban recycle, 2014. Disponível em:
<http://europaconcorsi.com/projects/250887-Patrizia-Di-Monte-gravalosdimonte-arquitectos-
Ignacio-Gravalos-Lacambra-Urban-recycle>. Acesso em: 23 abr. 2014.
DISCHINGER, M.; BINS ELY, V. H. M.; PIARDI, S. M. D. G. Promovendo acessibilidade
espacial nos edifícios públicos: Programa de Acessibilidade às Pessoas com Deficiência ou
Mobilidade Reduzida nas Edificações de Uso Público. Florianópolis: MPSC, 2012.
DORNELES, V. G. Acessibilidade para idosos em áreas livres públicas de lazer. 195 f.
Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal de Santa
Catarina. Florianópolis. 2006.
ECOTELHADO. Ecopavimento, 2014. Disponível em: <http://www.ecotelhado.com.br/Por/
ecopavimento/default.aspx#ecopavimento+caminhao.jpg>. Acesso em: 22 abr. 2014.
ESPAÇO THÁ. O Jardim Botânico de Curitiba, 2011. Disponível em:
<http://www.tha.com.br/espacotha/o-jardim-botanico-de-curitiba/>. Acesso em: 22 abr. 2014.
FERRARI, C. Dicionário de Urbanismo. São Paulo: Disal, 2004.
FIDONE, E. Centro Cívico Polivalente. Europaconcorsi, 2010. Disponível em:
<http://europaconcorsi.com/projects/87411-Emanuele-Fidone-Centro-Civico-Polivalente>.
Acesso em: 22 abr. 2014.
GABRILLI, M. Desenho Universal, 2012. Disponível em:
<http://acessibilidadeearquitetura.blogspot.com.br/2012/06/7-principios-do-desenho-
universal.html>. Acesso em: 20 abr. 2014.
GATTI, S. Espaços Públicos: diagnóstico e metodologia de projeto. São Paulo: ABPC, 2013.
GEHL, J. Cidades para pessoas. Tradução de Anita Di Marco. São Paulo: Perspectiva, 2013.
GEHL, J.; GEMZOE, L. Nuevos espacios urbanos. Barcelona: Gustavo Gili, 2002.
GERMANI, A. M. O parque farroupilha: ensaio sobre a evolução do projeto paisagístico.
Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto
Alegre. 2002.
181
GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2002.
GOOGLE INC. Google Earth Pro 7.0. Software. 2013.
GOVERNO DE SÃO PAULO. Desenho Universal: habitação de interesse social. São Paulo:
CDHU, 2014.
GRANDES CONSTRUÇÕES. Concreto Sustentável. Grandes Construções, 5 jan. 2012.
Disponível em:
<http://www.grandesconstrucoes.com.br/br/index.php?option=com_conteudo&task=viewMat
eria&id=706>. Acesso em: 18 abr. 2014.
GRUNOW, E. Adriana Levisky e Anna Julia Dietzsch: Praça Victor Civita. Arcoweb, 12
maio 2009. Disponível em: <http://arcoweb.com.br/projetodesign/arquitetura/adriana-levisky-
e-anna-julia-dietzsch-praca-victor-12-05-2009#>. Acesso em: 30 abr. 2014.
GUERRA, A. Rosa Kliass, a criadora de paisagens. Vitruvius, 2012. Disponível em:
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquiteturismo/06.069/4588>. Acesso em: 22 abr.
2014.
HELM, J. Praça Victor Civita / Levisky Arquitetos e Anna Julia Dietzsch. Archdaily, dez.
2011. Disponível em: <http://www.archdaily.com.br/br/01-10294/praca-victor-civita-levisky-
arquitetos-e-anna-julia-dietzsch>. Acesso em: 29 abr. 2014.
IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo 2010, 2010. Disponível em:
<http://censo2010.ibge.gov.br/resultados>. Acesso em: 22 maio 2014.
INÁCIO, G. M. Deca e Zé Perri. Florianópolis: Ministério da Cultura, 2001.
INTERBORO PARTNERS. Lentspace, 2009. Disponível em:
<http://www.interboropartners.net/2012/lent-space/>. Acesso em: 23 abr. 2014.
IPUF. Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis. Serviço do Patrimônio Histórico,
Artístico e Natural do Município (SEPHAN). Política de Preservação do Patrimônio
Cultural, ago. 2012. Disponível em: <http://www.pmf.sc.gov.br/arquivos/arquivos/pdf/
12_09_2012_17.59.17.228578edd7e825f7ffe8b469a50be259.pdf>. Acesso em: 25 maio 2014.
IPUF. Instituto de Planejamento Urbano de Florianópolis. Geoprocessamento, 2014.
Disponível em: <http://geo.pmf.sc.gov.br/geo_fpolis/index3.php>. Acesso em: 21 maio 2014.
JACOBS, J. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
JOHN, N.; REIS, A. T. Percepção, estética e uso do mobiliário urbano. Gestão & Tecnologia
de Projetos, São Paulo, v. 5, n. 2, p. 180-206, nov. 2010. ISSN 19811543.
182
KARPAT, B. Acessibilidade nos condomínios. Condomínio do futuro, 2013. Disponível
em: <http://condominiodofuturo.com/2013/03/05/acessibilidade-nos-condominios/>. Acesso
em: 20 abr. 2014.
KAUARK, F. Metodologia de pesquisa: guia prático. Itabura: Via Litterarum, 2010.
KON, N. Praça Victor Civita. ArchTendências, 25 jun. 2013. Disponível em:
<http://archtendencias.com.br/arquitetura/praca-victor-civita-museu-aberto-da-
sustentabilidade-levisky-arquitetos-estrategia-urbana>. Acesso em: 6 abr. 2014.
KON, N. Praça Victor Civita. Lemca Iluminação, 2014. Disponível em:
<http://www.lemca.com.br/projetos/lemca/6>. Acesso em: 13 maio 2014.
KORYTOWSKI, I. Arena Carioca Fernando Torres. Panoramio, 2013. Disponível em:
<http://www.panoramio.com/photo/88002731?source=wapi&referrer=kh.google.com>.
Acesso em: 10 maio 2014.
L3P ARCHITEKTEN. Sporthalle Eichi Niederglatt, 2008. Disponível em:
<http://www.l3p.ch/2_bauten/detail.php?ID=&bauID=376>. Acesso em: 23 abr. 2014.
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. D. A. Fundamentos de metodologia científica. 5. ed.
São PAulo: Atlas, 2003.
LAMAS, J. M. R. G. Morfologia Urbana e Desenho da Cidade. Porto: Fundação Calouste
Gulbenkian/Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2004.
LANDIM, P. D. C. Desenho de paisagem urbana: as cidades do interior paulista. São Paulo:
UNESP, 2004.
LEENHARDT, J. Nos Jardins de Burle Marx. São Paulo: Perspectiva, 1996.
LETHLEAN, T. C.; THOMPSON, P. Australian Garden, 2012. Disponível em:
<http://www.tcl.net.au/projects/cultural-interpretative/australian-garden>. Acesso em: 23 abr.
2014.
LOBODA, C. R.; DE ANGELIS, B. L. D. Áreas verdes públicas urbanas: conceitos, usos e
funções. Ambiência, Guarapuava, v. 1, n. 1, p. 125-139, jan./jun. 2005.
LYNCH, K. A Imagem da Cidade. São Paulo: Martins Fontes, 1997.
MACE, R. et al. Universal Design Principles. The Center For Universal Design, 1997.
Disponível em: <http://www.ncsu.edu/ncsu/design/cud/about_ud/udprinciplestext.htm>.
Acesso em: 2 abr. 2014.
MACEDO, S. S. Quadro do Paisagismo no Brasil. São Paulo: FAUUSP, 1999. (Coleção
Quapá VI).
183
MACEDO, S. S.; SAKATA, F. G. Parques urbanos no Brasil. Edição bilíngue. 3. ed. São
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2010.
MACHADO, E. Universidade pesquisa o uso do bambu nas construções. Blog, 2011.
Disponível em: <http://edsonmachado.net/tag/blc/>. Acesso em: 16 abr. 2014.
MACIEIRA, A. Site de compartilhamento de foto. Flickr, 2012. Disponível em:
<https://www.flickr.com/photos/riotur/sets/72157631337138090/with/7852714490/>. Acesso
em: 13 maio 2014.
MASCARÓ, L.; MASCARÓ, J. Vegetação Urbana. Porto Alegre: UFRGS, 2002.
MATTOS, M. Site de compartilhamento de foto. Panoramio, 2012. Disponível em:
<http://www.panoramio.com/user/370068?with_photo_id=82291942>. Acesso em: 19 maio
2014.
MAZZONETTO, C. Concreto permeável. Revista Infraestrutura Urbana, abr. 2011a.
Disponível em: <http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/13/artigo254488-
1.aspx>. Acesso em: 19 abr. 2014.
MAZZONETTO, C. Asfalto-borracha. Revista Infraestrutura urbana, dez. 2011b.
Disponível em: <http://infraestruturaurbana.pini.com.br/solucoes-tecnicas/11/asfalto-
borracha-a-adicao-de-po-de-borracha-extraido-de-245173-1.aspx>. Acesso em: 22 abr. 2014.
MEHTA, P. K. Concreto sustentável. Entrevita (por Rafael Frank, tradução de Cristina
Borba). Revista Téchne, out. 2008. Disponível em: <http://techne.pini.com.br/engenharia-
civil/139/concreto-sustentavel-287584-1.aspx>. Acesso em: 17 abr. 2014.
MELLO, C. Place des Voges. Cristina Homem de Mello, 2012. Disponível em:
<http://www.cristinamello.com.br/?p=8700>. Acesso em: 14 mar. 2014.
MIRO RIVERA ARCHITECTS. Trail restroom, 2011. Disponível em:
<http://www.mirorivera.com/trail-restroom.html>. Acesso em: 23 abr. 2014.
MMA. Ministério do Meio Ambiente. Cidades Sustentáveis, Brasília, 2014. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis>. Acesso em: 27 fev. 2014.
MUMFORD, L. A cidade na história: suas origens, transformações e perspectivas. 5. ed.
São Paulo: Martins Fontes, 1998.
MUNHOZ, D.; COELHO, F. Construções sustentáveis. Belo Horizonte: Ed. das autoras,
2009.
O&O BAUKUNST. Photovoltaic Pavilion FH Potsdam, 2012. Disponível em:
<http://www.ortner.at/index.php?load=projekte&sub=projekte_200&rub=kultur&lang=de&sit
e=ortner>. Acesso em: 22 abr. 2014.
184
OLIVEIRA, C. N. O paradigma da sustentabilidade na seleção de materiais e
componentes para edificações. 198f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) –
Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 2009.
OLIVEIRA, F. L. Modelos Urbanísticos Modernos e Parques Urbanos: as relações entre
urbanismo e paisagismo em São Paulo na primeira metade do século XX. 488 f. Tese
(Doutorado em Teoria e História da Arquitetura) – Universitat Politecnica de Catalunya
(UPC). Barcelona. 2008.
OLIVEIRA, J. P.; ANJOS, F. A.; LEITE, F. C. L. O potencial da paisagem urbana como
atratividade turística: um estudo sobre a paisagem de Brasília-DF. Interações, Campo
Grande, v. 9, n. 2, p. 159-169, jul./dez. 2003.
ORTEGOSA, S. M. Cidade e memória: do urbanismo "arrasa-quarteirão" à questão do lugar.
Arquitextos, São Paulo, ano 10, n. 112.07, Vitruvius, set. 2009. Disponível em:
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.112/30>. Acesso em: 11 mar.
2014.
PAIVA, F. M. L. Modelo de avaliação da sustentabilidade de equipamentos públicos. 111
f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil) – Faculdade de Engenharia, Universidade do
Porto. Portugal. 2013.
PARQUE DONA LINDU. Site oficial do parque. Parque Dona Lindu, 2014. Disponível em:
<http://www.parquedonalindu.com/>. Acesso em: 6 abr. 2014.
PARQUE IBIRAPUERA. Mapas do Parque Ibirapuera, 2014. Disponível em:
<http://www.parqueibirapuera.org/parque-ibirapuera/mapas-do-parque-ibirapuera/>. Acesso
em: 20 abr. 2014.
PATRIQUE. Panoramio. Google Mapas, 2009. Disponível em:
<http://www.panoramio.com/photo/21561432?source=wapi&referrer=kh.google.com>.
Acesso em: 15 maio 2014.
PEIXOTO, L. K. Sistema construtivo em bambu laminado colado: proposição e ensaio do
desempenho estrutural de uma treliça plana do tipo Warren. 205f. Dissertação (Mestrado
em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade de Brasília. Brasília. 2008.
PELAIO, G. A. As naturezas artificiais de Garrido. Drops, abr. 2011. Disponível em:
<http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/drops/11.043/3827>. Acesso em: 11 abr. 2014.
PFEIL, W.; PFEIL, M. Estruturas de madeira. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2003.
PHOTINOS, S. Olympia: Complete guide. Atenas: Olympic puclications, 1982.
PIPPI, L. G. A. Considerações Ambientais e Paisagísticas para o Planejamento Urbano
do Campeche – Florianópolis/SC. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) –
Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis. 2004.
185
PMF. Prefeitura Municipal de Florianópolis. Lei Ordinária n. 4.805/95, 1995. Disponível
em: <https://www.leismunicipais.com.br/prefeitura/sc/florianopolis>. Acesso em: 21 maio
2014.
PMF. Prefeitura Municipal de Florianópolis. Lei Municipal n. 9.097/2012, 2012. Disponível
em: <http://leismunicipa.is/iabqc>. Acesso em: 28 maio 2014.
PMF. Prefeitura Municipal de Florianópolis. Plano Diretor de Florianópolis, 2014.
Disponível em: <http://www.pmf.sc.gov.br/sites/planodiretor/?cms=a+importancia+
do+novo+plano+diretor>. Acesso em: 23 maio 2014.
PMRJ. Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Mapas. Georreferenciamento. Legislação
Bairro a Bairro, 2009. Disponível em: <http://mapas.rio.rj.gov.br/#>. Acesso em: 19 maio
2014.
PMRJ. Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro. Cidade Olímpica. Parque Madureira: entre e
divirta-se, 2014. Disponível em: <http://www.cidadeolimpica.com.br/galeria/parque-
madureira-e-espaco-de-lazer-e-cultura-na-zona-norte/>. Acesso em: 8 maio 2014.
PMSP. Prefeitura Municipal de São Paulo. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano.
Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, 2013. Disponível em:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento_urbano/legislacao/plano
_diretor/index.php?p=1386>. Acesso em: 19 maio 2014.
PMSP. Prefeitura Municipal de São Paulo. Ibirapuera, 2014. Disponível em:
<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/regiao_sul/index.
php?p=14062>. Acesso em: 20 abr. 2014.
PONCE, M. C. El foro de Trajano. Clássicas 2.0, 28 fev. 2011. Disponível em:
<http://clasicasxxi.blogspot.com.br/2011/02/el-foro-de-trajano.html>. Acesso em: 14 mar.
2014.
POSTALE. Chaque compagnie aérienne à sa place. Postale Free, 2014. Disponível em:
<http://postale.free.fr/temp/publicite-trompeuse-1926-lignes-latecoere.html>. Acesso em: 12
mar. 2014.
PRAÇA VICTOR CIVITA. Relatório Anual 2012. Prefeitura de São Paulo/Editora Abril.
São Paulo. 2012.
PROAP. Parque Urbano de São Romão. PROAP, 2006. Disponível em:
<http://www.proap.pt/pt-pt/projecto/sao-romao-urban-park-2/>. Acesso em: 22 abr. 2014.
REBELLO, Y. C. P. Bases para projeto estrutural na arquitetura. São Paulo: Zigurate
Editora, 2007.
REIS, A. F. Ilha de Santa Catarina: permanências e transformações. Florianópolis: Ed. da
UFSC, 2012.
186
REIS, A. T.; LAY, M. C. D. Avaliação da qualidade de projetos: uma abordagem perceptiva e
cognitiva. Ambiente Construído, Porto Alegre, v. 6, n. 3, p. 21-34, jul./set. 2006. ISSN
1415-8876.
REMADE. Aplicação da Madeira Laminada Colada - MLC em elementos construtivos.
Revista da Madeira, n. 71, maio 2003. Disponível em: <http://www.remade.com.br/br/
revistadamadeira_materia.php?num=332&subject=Mercado&title=Aplica%E7%E3o%20da%
20madeira%20Laminada%20Colada%20-MLC%20em%20Elementos%20Construtivos>.
Acesso em: 16 abr. 2014.
RHINO PISOS. Piso Intertravado, 2014. Disponível em: <http://www.rhinopisos.com.br/
site/produtos/16/piso_intertravado_pavimento_concreto>. Acesso em: 22 abr. 2014.
RIBEIRO, R. D. M. Concreto aparente: uma contribuição para a construção sustentável.
112f. Monografia (Especialização em Tecnologia das Construções) – Universidade Federal de
Minas Gerais. Belo Horizonte. 2010.
RIO DE JANEIRO. Subsídios à história do JBRJ. Jardim Botânico do Rio de Janeiro,
2007. Disponível em: <http://historia.jbrj.gov.br/fotos/imagens.htm>. Acesso em: 20 mar.
2014.
RRA. Ruy Rezende Arquitetura. Parque Madureira Rio+20, 2012. Disponível em:
<http://rra-website-assets.s3.amazonaws.com/uploads/production/library_item/pdf/10/MKT-
WB-CON-PR-239-LI-R00.pdf>. Acesso em: 8 maio 2014.
SAINT-EXUPÉRY, A. D. Antoine de Saint-Exupéry, 2014. Disponível em:
<http://www.antoinedesaintexupery.com/aeroposta-argentina-1929-%E2%80%93-1931>.
Acesso em: 12 mar. 2014.
SANTINI, R. D. C. G. Dimensões do lazer e da recreação: questões espaciais, sociais e
psicológicas. São Paulo: Angelotti Ltda., 1993.
SANTOS, M. Metamoforses do espaço habitado. São Paulo: Hucitec, 1997.
SASSAKI, R. K. Como chamar as pessoas que têm deficiência? Diversa: educação inclusiva
na prática, 12 mar. 2014. Disponível em:
<http://www.diversa.org.br/artigos/artigos.php?id=3432>. Acesso em: 8 abr. 2014.
SAUER, C. Morfologia da paisagem. In: CORRÊA, R. L.; ROSENDAHL, Z. Paisagem,
tempo e cultura. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998. p. 12-73.
SCALISE, W. Parques Urbanos: Evolução, projeto, funções e usos. Assentamentos
Humanos, Marília, v. 4, n. 1, p. 17-24, 2002.
187
SCOCUGLIA, J. B. C. O Parc de la Tête d Or: patrimônio, referência espacial e lugar de
sociabilidade. Arquitextos, São Paulo, p. 113.03, São Paulo, ano 10, n. 113.03, Vitruvius,
out. 2009. Disponível em: <http://www.vitruvius.com.br/revistas/
read/arquitextos/10.113/20>. Acesso em: 27 fev. 2014.
SEGAWA, H. Ao amor do público: jardins do Brasil. São Paulo: Studio Nobel/FAPESP,
1996.
SEO, L. Site de compartilhamento de fotos. Flickr, 2011. Disponível em:
<https://www.flickr.com/photos/lf_seo/sets/72157627214916050/>. Acesso em: 13 maio
2014.
SILVA, L. Panoramio. Google Mapas, 2012. Disponível em:
<http://www.panoramio.com/photo/66882038?source=wapi&referrer=kh.google.com>.
Acesso em: 15 maio 2014.
SINAI, G. V. L. M. Hafenpark, Frankfurt am Main, 2014. Disponível em:
<http://sinai.de/projekt/hafenpark-frankfurt.html>. Acesso em: 23 abr. 2014.
TANURE, J. D. O projeto de paisagismo de Burle Marx e equipe para o "Parque da
Cidade" em Brasília/DF. 209 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) –
Universidade de Brasília. Brasília. 2007.
THE OVAL PARTNERSHIP. China Children & Teenagers Fund KPMG, 2009.
Disponível em: <http://www.ovalpartnership.com/#/project/25>. Acesso em: 22 abr. 2014.
TRAVERSO-VIGHY ARCHITETTI. Urban Nature Skatepark, 2009. Disponível em:
<http://www.traverso-vighy.com/urban-nature-skatepark/>. Acesso em: 23 abr. 2014.
TUAN, Y.-F. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. São
Paulo: Difel, 1974.
TUAN, Y.-F. Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. São Paulo: DIFEL, 1983.
TURENSCAPE. Parque Red Ribbon, 2007. Disponível em:
<http://www.turenscape.com/english/projects/project.php?id=336>. Acesso em: 23 abr. 2014.
TZG ARQUITETOS. National Arboretum Canberra: The Village Centre, 2012. Disponível
em: <http://www.tzg.com.au/projects/arboretum-village-centre>. Acesso em: 23 abr. 2014.
UNB. Universidade de Brasília. Quatro alternativas sustentáveis para o asfalto nas cidades.
UnB Clipping, 2011. Disponível em: <http://unb.br/noticias/unbagencia/cpmod.php?id=
89325#>. Acesso em: 19 abr. 2014.
188
VERSIANI, I. V. L. Lazer e qualidade de vida urbana: análise a partir da distribuição de
equipamentos públicos para vivência físico-esportiva. 187 f. Dissertação (Mestrado) –
Universidade Federal de Montes Claros, Montes Claros. 2011.
VIEIRA, C. Lagoa Rodrigo de Freitas. Guia do Litoral, 2008. Disponível em:
<http://guiadolitoral.uol.com.br/lagoa_rodrigo_de_freitas-2559_2008.html>. Acesso em: 22
abr. 2014.
WEISS/MANFREDI. Brooklyn Botanic Garden Visitor Center, 2012. Disponível em:
<http://www.weissmanfredi.com/project/brooklyn-botanic-garden-visitor-center>. Acesso
em: 22 abr. 2014.
WOWHAUS ARCHITECTURE BUREAU. Summer Cinema, 2011. Disponível em:
<http://en.wowhaus.ru/#summer-cinema>. Acesso em: 23 abr. 2014.
YÁZIGI, E. Turismo e paisagem. São Paulo: Contexto, 2002.











































































































































































































![[arquitetura] projetos de casas - suomi](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/63320c31f0080405510447ff/arquitetura-projetos-de-casas-suomi.jpg)