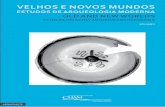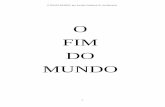Evidências Zooarqueológicas do mundo rural islâmico – O caso de Portela 3 (S. B. de Messines)
Transcript of Evidências Zooarqueológicas do mundo rural islâmico – O caso de Portela 3 (S. B. de Messines)
Evidências Zooarqueológicas do mundo rural islâmico – O caso de Portela 3 (S. B. de Messines)Vera PereiraUniversidade de Coimbra, CEAACP
56.
ResumoO presente artigo refere-se ao estudo dos restos faunísticos recuperados no sítio arqueo-lógico Portela 3, sito em São Bartolomeu de Messines-Algarve, Portugal, reconhecido como povoado rural de grandes dimensões, de cronologia islâmica, com uma diacronia de ocupação desde o século X até ao século XIII.Objectiva-se aqui apresentar os estudos faunísticos como detentores de novas aborda-gens às existências e preferências das populações humanas em contexto rural, na sua interacção com os animais, através das análises taxonómica e tafonómica dos restos os-teológicos de Portela 3.A colecção mostra uma esmagadora preferência pelo uso e consumo de animais domésti-cos, nomeadamente bovídeos, ovicaprinos e galiformes, mas com o recurso à caça, pesca e recolecção de marisco como outras fontes de alimento indispensáveis na dieta desta população. Palavras -chave: Zooarqueologia; Islâmico; Rural; Algarve.
AbstractThis report portrays the faunal assemblage collected during the archaeological excava-tions in Portela 3, São Bartolomeu de Messines–Algarve, Portugal, identified as a signifi-cant rural settlement, occupied in the Islamic period, between 10th - 13th centuries.It aims to show a zooarchaeological approach to this rural community as an essential in-put on its interactions with animals, through a comparative taxonomic and taphonomic analysis of the faunal remains.The assemblage exhibits a massive predilection for domestic animals, such as cattle, capri-nes and fowl, in addition to hunting, fishing and collecting mollusks as a significant part of their diet. Key words: Zooarchaeology: Islamic; Algarve.
VII ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE PENINSULAR - CONFIGURAÇÕES SINGULARES DO URBANISMO DA CASA XVI DO BAI-RRO ISLÂMICO DA ALCÁÇOVA DO CASTELO DE MÉRTOLA - MARIA DE FÁTIMA PALMA
1098
1. ENQUADRAMENTO
O núcleo populacional de Portela 3 estabeleceu-se no distrito de Faro, concelho de Silves, freguesia de São Bartolomeu de Messines (Fig. 1), nas coordenadas rec-tangulares M – 189170 e P – 30780, segundo a Carta Militar de Portugal nº 587, de S. Bartolomeu de Messines (Silves), escala 1:25 000, do Instituto Geográfico do Exército, edição de 1979.Embora já conhecido e perpetuado através da tradição oral das povoações ac-tuais vizinhas, devido à grande quantidade de telhas à superfície, e referenciado em 1909 por Francisco Oliveira como povoação antiga, foi apenas em 1993 que Rosa Varela Gomes realizou trabalhos de prospecção arqueológica na zona e assi-nalou o sítio como arqueológico, com a designação de Cerro da Portela/Cômoros da Portela. Aí foram identificados restos habitacionais e recolhidos fragmentos cerâmicos que apontavam para uma cronologia islâmica, nomeadamente telhas digitadas, bem como espólio e estruturas dos séculos XIV e XV (Pires 2003: 281).Foi com a realização do Estudo de Impacte Ambiental por parte da Brisa, para construção da A2 (Sublanço S. Bartolomeu de Messines/VLA) em 1999, que se identificou como povoado medieval/islâmico de grandes dimensões, com de-signação toponímica de Portela 3 e, uma vez que parte do sítio arqueológico se encontrava no traçado de implantação da auto-estrada, se determinou a necessi-dade de escavação parcial dos vestígios (Pires 2003: 281). As escavações arqueológicas permitiram a periodização do povoado, sendo-lhe atribuída uma diacronia de ocupação desde o século X até ao século XIII, por uma população rural islamizada.
2. CONTEXTUALIZAÇÃO ARQUEOLÓGICA
Os trabalhos arqueológicos iniciaram-se em Agosto de 2000, pela empresa Era Arqueologia S.A., sob coordenação de Alexandra Pires e Mulize Ferreira, em duas fases distintas. A primeira iniciou-se em Agosto de 2000 com a escavação de son-dagens de diagnóstico numa área total de 50m², de modo a delinear a estratégia de escavação. Em 2001 procedeu-se à escavação integral de todos os contextos arqueológicos que iriam ser afectados, tendo sido intervencionada o que se con-
Figura 1 – Localização do sítio arqueológico.
VII ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE PENINSULAR - CONFIGURAÇÕES SINGULARES DO URBANISMO DA CASA XVI DO BAI-RRO ISLÂMICO DA ALCÁÇOVA DO CASTELO DE MÉRTOLA - MARIA DE FÁTIMA PALMA
1099
cluiu ser uma área periférica do povoado e parte de uma necrópole, num total de 769m² (Pires & Ferreira 2003: 281).A escavação, realizada segundo os princípios de Barker e Harris, em open area, per-mitiu a identificação de várias fases de povoamento, sendo que a primeira – fase 1a – corresponderia a uma ocupação pré-islâmica, caracterizada por inumação de fossa simples, orientada Este-Oeste, em decúbito dorsal, concordante com ente-rramento cristão (Pires 2003: 283-285).Os restantes vestígios integram-se perfeitamente na realidade conhecida do Garb al-Andalus, quer pela homogeneidade construtiva, quer pelo espólio exumado, que permitiu um afinamento na periodização das várias fases identificas. Assim, foi possível estabelecer que as primeiras ocupações, assinaladas em área periférica do núcleo principal de povoamento, se tenham iniciado no período Emiral – século IX-X, através da análise de espólio exumado de uma lixeira da fase 1b (Pires 2003: 305). Com a continuidade de ocupação, já na fase 3, é notório o crescimento da malha e consequente transformação deste espaço anteriormente periférico em área urbana, temporalmente localizado no século XII (Pires 2003: 305). Por fim, as fases 5 e 6 caracterizam a última ocupação do espaço e consequente abandono ou redução de área de ocupação, situadas entre os séculos XII e XIII (Pires 2003: 306).
3. PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS
O registo de dados foi realizado em Excel, em campos pré-definidos, onde se re-gistam a proveniência da amostra (sítio, Unidade Estratigráfica – UE e nº de saco), a identificação óssea (espécie, elemento, porção, lado, estado de fusão epifisária/idade), marcadores tafonómicos (devido à acção animal, antrópica e/ou físico-química) e outras observações relevantes. Foi igualmente seguida uma aborda-gem osteométrica, quando o fragmento osteológico assim o permitia, na qual se tiraram medidas com paquímetro digital, segundo os parâmetros de A. Von den Driesch (1976) e de S. Davis (1996). A análise faunística teve como base a metodologia PoSAC de Simon Davis, na qual todos os elementos ósseos são observados, mas apenas se registam os fragmen-tos distais apendiculares (com mais de 50% da superfície óssea presente), mandí-
bulas e dentes mandibulares, e ainda, elementos ósseos únicos, que se distingam dos restantes da amostra, quer na espécie quer na morfologia (Davis 1992). As identificações taxonómica e osteológica tiveram como apoio a colecção osteo-lógica de referência do Laboratório de Arqueociências da DGPC e a consulta de manuais base e artigos da especialidade.
4. CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
O conjunto faunístico em estudo apresenta-se taxonomicamente diverso, com um número total de restos (NTR) de 11611, dos quais 923 fragmentos são enqua-dráveis no PoSAC e, como tal, identificados quer ao nível da espécie quer do ele-mento osteológico a que pertencem.A colecção compõe-se por quatro grupos de vertebrados: mamíferos, aves, peixes e anfíbios, com representações conciliáveis com outros sítios arqueológicos da mesma cronologia (Fig. 2).
4.1. MAMÍFEROS
É evidente o predomínio dos mamíferos – 85,2% da amostra total, com 786 ele-mentos identificados, sendo que destes 410 são elementos apendiculares e os restantes 376 referem-se a mandíbulas e dentes mandibulares (Quadro 1).
Rato-preto (Rattus rattus) C. Linnaeus, 1758 Animal de presença frugal em coleções provenientes de sítios rurais, apresenta-se representado na colecção com um úmero e um fémur, perfazendo um Número Mínimo de Indivíduos (NMI) de um.
Lebre (Lepus sp.) C. Linnaeus 1758 Na amostra em estudo identificaram-se nove fragmentos ósseos e um NMI de dois, calculado através de duas pélvis direitas, atestando a sua presença no sítio, embora em inferioridade numérica muito acentuada relativamente ao coelho.
VII ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE PENINSULAR - CONFIGURAÇÕES SINGULARES DO URBANISMO DA CASA XVI DO BAI-RRO ISLÂMICO DA ALCÁÇOVA DO CASTELO DE MÉRTOLA - MARIA DE FÁTIMA PALMA
1100
Figura 2 – Número Total de Restos (#) e percentagem, por grupos de animais.
Coelho (Oryctolagus cuniculus) C. Linnaeus, 1758 Dos lagomorfos, o coelho sobressai claramente nas colecções faunísticas de época islâmica, com frequências consideráveis no cômputo geral. No núcleo ocupacional em estudo exumaram-se 93 restos desta espécie, correspondentes a um mínimo de 15 indivíduos. Embora se consti-
VII ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE PENINSULAR - CONFIGURAÇÕES SINGULARES DO URBANISMO DA CASA XVI DO BAI-RRO ISLÂMICO DA ALCÁÇOVA DO CASTELO DE MÉRTOLA - MARIA DE FÁTIMA PALMA
1101
Quadro 1 – Número de restos determinados por espécie mamalógi-ca. As contagens dentro de parênteses já estão incluídas no total dos ovicaprinos.
tua como um animal de aporte cárnico pequeno, apresenta o maior número de indivíduos identificados neste sítio e, apesar de não se conseguir fazer a distinção entre uma proveniência doméstica ou selvagem, são claramente um recurso de relevo na alimentação destas populações.
Gato doméstico (Felis catus) C. Linnaeus, 1758 Espécie representada por 39 restos, com um NMI de cinco, qualificando 4,23% da amostra total. De identificação difícil relativamente ao seu primo selvagem (Felis silvestris), a presença deste felino mostrou maior dificuldade de atestar, pelo que se mostrou crucial a utilização da coleção de referência do Laboratório de Arqueociências da DGPC, aliada a uma componente osteométrica de comparação das subespécies de outros sítios de cronologia análoga. Utilizaram-se como base de comparação os dados osteométricos do dente carniceiro (M1) de gatos identificados como domésticos, provenientes da lixeira do arrabalde oriental de Silves (Davis 2008: 204-205, fig. 12; 250) e do Castelo de Paderne (Pereira 2013: 70), em contraposição com os M1 da nossa amostra, através das medições de comprimento e espes-sura. Se atentarmos para a Figura 3, não parecem existir alterações significativas de tamanho, até porque a maioria dos espécimes identificados se apresentam de menor dimensão do que os felinos domésticos silvenses. Também a análise dos elementos apendiculares se coaduna com a subespécie doméstica, pelo que pen-samos estar perante Felis catus.
Cão doméstico (Canis familiaris) C. Linnaeus, 1758 Animal de presença polémica em sítios de domínio muçulmano, já que é consi-derado impuro pelo Alcorão, afigura-se como animal comensal do homem que poderia encontra-se nas imediações e que acabou por fazer parte do registo ar-queológico. Aqui a sua presença atesta-se através de 21 fragmentos e frequência de 2,3% na amostra, com um NMI de dois, cuja comparência também se encontra corroborada pelas marcas de roído deixadas em alguns fragmentos ósseos da co-lecção.
VII ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE PENINSULAR - CONFIGURAÇÕES SINGULARES DO URBANISMO DA CASA XVI DO BAI-RRO ISLÂMICO DA ALCÁÇOVA DO CASTELO DE MÉRTOLA - MARIA DE FÁTIMA PALMA
1102
Figura 3 – Comparação osteométrica entre gatos domésticos de Silves, Paderne e Portela 3. Legenda: L – comprimento; B – largu-ra (medida correspondente a W – width, de Silves) – Medidas em décimos de mm.
Urso pardo (Ursus arctos) C. Linnaeus, 1758 Espécime de grande porte identificado através de uma terceira falange – Figura 4, em representação de um único indivíduo. Para o período islâmico, a recuperação de metacarpos de urso pardo no Castelo de Paderne (Pereira 2013: 70) e em Tavira (Covaneiro e Cavaco 2012: 272) adensa a particularização destes elementos nas amostras estudadas, já que também na Portela 3, a representação deste animal se atesta apenas com elemento prove-niente de um dos membros, sem marcadores tafonómicos antrópicos associados, tornando problemático o reconhecimento da utilização do animal, se para consu-mo alimentar como iguaria – como descrito acerca da colecção de período cristão de Palmela (Cardoso e Fernandes 2012: 230) – ou se para outros fins. Texugo (Meles meles) C. Linnaeus, 1758 Mustelídeo identificado através de dois fragmentos ósseos provenientes de man-díbula. Sem qualquer marca antrópica associada, dificulta a extrapolação acerca do uso do mesmo, embora este animal não seja estranho em outros conjuntos faunísticos islâmicos, como é o caso do Castelo de Salir (Martins 2013: 97).
Cavalo (Equus caballus) C. Linnaeus, 1758 De fraca assiduidade na amostra, apenas se identificaram 3 restos, com um NMI de um. Morfologicamente, o astrágalo e a 1ª falange afiguram-se compatíveis com cavalo, mas o fragmento de metacarpo não permitiu uma identificação mais pre-cisa. Assim, e visto que nenhum dos elementos permitiu medidas suficientes para comparação com outros materiais, a identificação destes restos como Equus caba-llus é aqui apresentada com algumas reservas.
Suíno (Sus sp.) Com uma representação numérica diminuta e um NMI de um, apenas foram iden-tificados dois restos compatíveis com suíno – fragmento de um terceiro molar de animal jovem e um terceiro metacarpo esquerdo incompleto. A distinção entre
VII ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE PENINSULAR - CONFIGURAÇÕES SINGULARES DO URBANISMO DA CASA XVI DO BAI-RRO ISLÂMICO DA ALCÁÇOVA DO CASTELO DE MÉRTOLA - MARIA DE FÁTIMA PALMA
1103
Figura 4 – Terceira falange de urso, UE 372.
javali e porco doméstico provou-se impossível, já que ambos os elementos iden-tificados são morfologicamente idênticos em ambas as subespécies e, como se encontravam fragmentados, não permitiram qualquer tipo de medição. Embora registada a presença de suíno, fica em aberto o consumo de porco ou javali por esta população muçulmana devido a tão parcas evidências. Apesar do cariz controverso associado à proibição do seu consumo nas normas de alimen-tação descritas no Alcorão – “Declaram-se-vos ilícitos: a carne de animal que ten-ha morrido, a carne putrefacta, o sangue, a carne de porco e o que se imolou em nome de outro que não seja Deus (…)” (Carvalho 2009: 98; Sura V - A mesa, Al-Baqara 3), não é invulgar a identificação de elementos ósseos deste animal, quer doméstico quer selvagem.
Veado (Cervus elaphus) C. Linnaeus, 1758 Espécie selvagem de grande porte, com 17 restos faunísticos exumados e um NMI de dois, representa 1,8% da colecção total. O seu consumo está claramente ates-tado pelas constantes marcas de corte fino e de cutelo, para processamento das carcaças e esquartejamento para alimentação, com especial preferência de ani-mais adultos. Com um aporte cárnico considerável e de frequência assídua nas imediações devido à diversidade do habitat em que vive, é comum a sua constân-cia em coleções deste período.
Corço (Capreolus capreolus) C. Linnaeus, 1758 Pequeno cervídeo identificado na amostra com um fragmento distal de úmero, uma mandíbula completa (Fig. 5) e um fragmento de outra – identificação de 7 dentes no total, com uma representação percentual de 0,9 da amostra integral e um NMI de 1.Espécie pouco representada em contextos islâmicos, apenas se conhece a recu-peração de um úmero da Alcáçova de Santarém (Davis 2006: 99) e de um dente incisivo no Castelo de Salir (Martins 2013: 78).
VII ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE PENINSULAR - CONFIGURAÇÕES SINGULARES DO URBANISMO DA CASA XVI DO BAI-RRO ISLÂMICO DA ALCÁÇOVA DO CASTELO DE MÉRTOLA - MARIA DE FÁTIMA PALMA
1104
Figura 5 – Mandíbula de corço (Capreoulus capreolus).
Vaca (Bos taurus) C. Linnaeus, 1758 Espécie animal de grande porte, valor cárnico avultado e de utilização para apro-veitamento de produtos secundários (leite, estrume e força de trabalho), com ele-vada representação numérica e percentual nos contextos desta cronologia.Em Portela 3, o gado bovino aparece como a terceira espécie mamalógica melhor representada, com a recuperação de 175 restos faunísticos, caracterizando-se por 18,9% da amostra total e um mínimo de quatro indivíduos presentes na amostra. A identificação destes restos foi bastante dificultada pela dimensão reduzida dos elementos ósseos, muitas das vezes com características e tamanhos similares a elementos esqueléticos de veado, recorrendo-se à colecção de referência e biblio-grafia especializada, como é exemplo o trabalho de E. Heintz (1970), de modo a dissipar algumas dúvidas. Assinalou-se frequentemente um comprimento total dos ossos longos menor que os de veado, mas de carácter mais robusto e compac-to, sendo a identificação dentária bastante mais clara – Fig. 6.Optou-se ainda por uma análise osteométrica comparativa com base nos astrága-los de vaca e de veado recuperados na lixeira do arrabalde oriental de Silves (Davis et al. 2008: 245) e os mesmos tarsos de bovinos da Portela, sendo possível distan-ciar os elementos bovinos dos pertencentes a veado, apesar de se encontrarem metricamente muito próximos. Constatou-se ainda que os bovídeos da lixeira de Silves apresentam dimensões muito similares aos da Portela, onde se recuperaram 515 fragmentos – 16% do conjunto ósseo total (Davis et al. 2008), facto também constatado nas colecções provenientes da Alcáçova de Santarém, de porte menor relativamente a espécimes identificados em cronologias anteriores, do mesolítico e neolítico, com a recuperação de 808 restos – 24% da amostra mamalógica (Davis 2006: 23-24). Ovicaprinos (Capra hircus; Ovis aries) – C. Linnaeus, 1758Foram recuperados 297 elementos ósseos de ovicaprinos, aos quais não se conse-guiu atribuir a subespécie (ovelha ou cabra), com uma percentagem de 31,9% da amostra total estudada. Se a estes adicionarmos os 77 restos de cabra e os 23 de ovelha totaliza 394 restos de ovicaprinos na amostra, com uns indiscutíveis 42,8%
VII ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE PENINSULAR - CONFIGURAÇÕES SINGULARES DO URBANISMO DA CASA XVI DO BAI-RRO ISLÂMICO DA ALCÁÇOVA DO CASTELO DE MÉRTOLA - MARIA DE FÁTIMA PALMA
1105
Figura 6 – Mandíbula completa de bovino adulto, UE 291.
da colecção recuperada e um papel indiscutível na subsistência alimentar desta população árabe, sendo possível atribuir um mínimo de 13 espécimes presentes no conjunto estudado. Apesar de muitos elementos apendiculares se terem considerado ovino-caprino, por não se conseguirem distinguir através das zonas de diagnóstico, foi possível evidenciar uma certa hegemonia das cabras. Recorreu-se ainda à medição osteométrica dos elementos apendiculares de modo coadjuvar a distinção entre ovelha e cabra e, quando comparadas com medidas do arrabalde oriental de Silves (Davis et al. 2008: 238-239), podemos constatar uma clara diferenciação, como é o caso da epífise distal do úmero – Fig. 7.Assim, o diâmetro vertical da tróclea na sua constrição central (HTC) parece ser mais espesso em dois elementos (entre os 130 a 140 décimos de mm), que po-derão corresponder a ovelhas, apesar de apresentar alguma sobreposição com cabras. Por sua vez, os três úmeros representados na área inferior esquerda do gráfico de dispersão, parecem agrupar-se perfeitamente com as cabras identifi-cadas em Silves.
Baleia-verdadeira (Família Balaenidae) Gray, 1821 Família representada com apenas um fragmento de vértebra, de apenas um único indivíduo. Apresenta inúmeras marcas de corte fino e de cutelo, aparentando um uso similar às tábuas de cozinha actuais – Fig. 8.A origem deste elemento é de difícil interpretação uma vez que é único. Pensa-mos que provém de um animal que deu à costa e que foi transportado para o povoado, mas que também poderá provir de caça à baleia. Foram identificados paralelos de cronologia almóada numa lixeira em Silves (Davis et al. 2008: 206).
4.2. AVES
A avifauna apresenta-se genericamente de identificação muito difícil devido às grandes semelhanças entre espécies e famílias, sendo na maioria dos sítios estu-dados agrupada em aves ou avifauna. No conjunto estudado conseguiu fazer-se a
VII ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE PENINSULAR - CONFIGURAÇÕES SINGULARES DO URBANISMO DA CASA XVI DO BAI-RRO ISLÂMICO DA ALCÁÇOVA DO CASTELO DE MÉRTOLA - MARIA DE FÁTIMA PALMA
1106
Figura 7 – Comparação osteométrica entre fragmentos distais de úmeros de cabra e ovelha, provenientes de Silves e de Portela 3. Legenda: BT – largura da tróclea; HTC – diâmetro vertical da tróclea na sua constrição central.
distinção de algumas famílias e /ou espécies, com base na osteoteca de referência da DGPC, e sua representação numérica e percentual, já que constituem 10,9% da fauna recuperada (Quadro 2).
VII ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE PENINSULAR - CONFIGURAÇÕES SINGULARES DO URBANISMO DA CASA XVI DO BAI-RRO ISLÂMICO DA ALCÁÇOVA DO CASTELO DE MÉRTOLA - MARIA DE FÁTIMA PALMA
1107
Figura 8 – Fragmento de vértebra de baleia, UE 269.
Quadro 2 – Número de restos determinados por espécie – avifauna. As contagens dentro de parên-teses já se encontram incluídas no total dos Galiformes.
Milhafre-real (Milvus milvus) C. Linnaeus, 1758 Ave de rapina diurna representada por 6 elementos ósseos, com um NMI de 1 e 0,7% da colecção estudada.
Galiformes (Galinha, perdiz e faisão)Devido à extrema semelhança esquelética acima referida, optou-se por agrupar os galiformes, embora se tenham consigo distinguir alguns elementos atribuíveis até à espécie. Assim, analisaram-se 93 restos de galináceos (Quadro 2) – 10,1% do conjunto total – dos quais 29 correspondem a galinha doméstica (Gallus gallus domesticus – C. Linnaeus, 1758), com um NMI de 4, calculado através de quatro fé-mures esquerdos; três são de faisão (Phasianus colchicus – C. Linnaeus, 1758), com
um NMI de um; 15 elementos ósseos de perdiz (Alectoris sp. – Kaup, 1829), com um NMI de um; e dois elementos de perdiz cinzenta (Perdix perdix – C. Linnaeus, 1758), atribuíveis também a um único indivíduo.
Tordo-ruivo-comum (Turdus iliacus) C. Linnaeus, 1758 Passeriforme identificado através de um coracoide esquerdo e de um tarso-meta-tarso do mesmo antímero, correspondente a um mínimo de um indivíduo.
4.3. PEIXES
No sítio arqueológico recuperaram-se trinta elementos de perciformes, dos quais 4 constituem dentários, 5 são pré-maxilas e os restantes correspondem a vérte-bras. A fauna ictiológica constitui 3,3% do conjunto total estudado. Embora a identificação até à espécie não tenha sido feita e mais estudo seja ne-cessário, parece fundamental mencionar estes dados, uma vez que a fauna ictio-lógica está presente na amostra e, deste modo, atesta-se a sua inclusão na subsis-tência destas populações.
4.4. ANFÍBIOS
Sapo (Bufo sp.) Garsault, 1764 Espécie identificada através de 6 elementos ósseos, correspondentes a 0,7% da amostra estudada. Sem marcas de manipulação antrópica, pensa-se correspon-der a intrusão no contexto arqueológico, sem qualquer contribuição na subsis-tência alimentar da população.
5. IDADE DO ABATE
O conjunto que aqui se apresenta permitiu inferir algumas notas de interesse rela-tivamente às idades aquando do abate do animal, para algumas espécies domés-ticas, mais especificamente os bovídeos, os ovicaprinos e os galináceos. O gado bovino apresenta na sua maioria as epífises e respectivas diáfises/metá-
VII ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE PENINSULAR - CONFIGURAÇÕES SINGULARES DO URBANISMO DA CASA XVI DO BAI-RRO ISLÂMICO DA ALCÁÇOVA DO CASTELO DE MÉRTOLA - MARIA DE FÁTIMA PALMA
1108
fises fundidas, já que dos 100 elementos identificados, 72 correspondem a ossos completamente fusionados, de animais adultos, sendo os restantes dois elemen-tos parcialmente fundidos, oito epífises e doze diáfises não fundidas. Também na análise dos dentes se verifica o predomínio de dentes definitivos, quer nos dentes soltos quer nas mandíbulas identificadas. Das sete mandíbulas exuma-das, seis já compreendem a dentição definitiva com sinais de desgaste em todos os dentes, correspondentes a animais adultos, e apenas numa mandíbula se veri-ficou o pré-molar 4 (P4) a nascer, com os primeiro e segundo molares (M1 e M2) a uso e o terceiro molar (M3) com ligeiro desgaste no esmalte (estágio b – Grant 1982: 92), compatível com jovem adulto. Assim, parece possível discernir um padrão na idade de abate para uma fase já adulta dos animais e o uso desta espécie, para além do elevado valor cárnico que representaria na subsistência, mais vocacionado para o aproveitamento dos cha-mados produtos secundários – força de tracção, leite e estrume – que propiciam um uso contínuo e de idade mais prolongada do animal. Relativamente ao uso e consumo dos ovicaprinos foi apurada uma realidade dis-tinta dos bovídeos, onde se verificou o predomínio de restos ósseos resultantes de animais juvenis e jovens adultos, aquando do abate.Devido ao elevado número de dentes e mandíbulas de ovelhas e cabras presentes na amostra, foi possível determinar os estágios de desgaste dentário de mandí-bulas e de dentes individuais, de modo a determinar a idade aproximada dos ani-mais. Assim, através das mandíbulas analisadas (Quadro 3 – segundo Payne 1973 e Deniz & Payne 1982), verificamos que há um pico nos estágios C e D, com dez e doze mandíbulas respectivamente, o que nos leva a crer que a maioria dos ovica-prinos era abatida entre os 6/12 meses e entre os 1 a 2 anos de idade, para consu-mo primário de carne. Verificamos ainda que alguns dos animais eram mantidos até mais tarde, entre 3 a 6 anos (estágios F e G), de modo a aproveitar os restantes recursos dos mesmos, como são exemplo a lã e o leite.Estes padrões foram ainda identificados e corroborados no Quadro 4, segundo metodologia de Payne (1987), onde é evidente a elevada frequência do dente de leite dp4 e o predomínio dos estágios 6 a 9 para os dentes definitivos, concordan-
VII ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE PENINSULAR - CONFIGURAÇÕES SINGULARES DO URBANISMO DA CASA XVI DO BAI-RRO ISLÂMICO DA ALCÁÇOVA DO CASTELO DE MÉRTOLA - MARIA DE FÁTIMA PALMA
1109
Quadro 3 – Estágios de Idade do abate.
tes com o desgaste médio do esmalte e exposição progressiva da dentina.Também na análise dos elementos ósseos do esqueleto apendicular foi possível constar o elevado abate em idade jovem, já que dos 161 elementos identificados, 92 correspondem a epífises e diáfises não fundidas (9 epífises e 83 diáfises) e 4 a elementos parcialmente fusionados. Por fim, também na análise das aves se conseguiu inferir conjunturas interessan-tes. Constatou-se através da análise do estado de epifisação dos elementos ós-seos de galiformes domésticos presentes na amostra, que a esmagadora maioria pertence a animais adultos, cujas epífises e diáfises se apresentam completamen-te fundidas. Também aqui parece existir uma preferência pelo consumo de ani-mais adultos, muito provavelmente de modo a também usufruir dos ovos como complemento alimentar.
6. PROCESSOS TAFONÓMICOS
A colecção apresenta-se genericamente em bom estado de conservação, sem marcas atribuíveis aos elementos atmosféricos, como a chuva e o vento, e com sinais distintos do desgaste corrosivo provocado por raízes, o que denota uma eli-minação rápida destes restos alimentares para lixeiras ou locais de despejo bem delimitados. Por outro lado, embora se identifiquem pontualmente, são acanhadas as marcas de roído e de punção características dos animais comensais, o que nos leva a crer que estes desperdícios estariam em lixeiras pouco acessíveis a estes, muito prova-velmente por se encontrarem tapadas ou enterradas (também devido a questões de salubridade). As marcas deixadas na fauna por carnívoros são maioritariamen-te punções, normalmente associadas a felinos, em detrimento do roído caracterís-tico dos canídeos, o que vem corroborar a ideia de que o gato era visto por estas populações como um animal preferencial e o cão tido como impuro.As marcas antrópicas mais comumente identificadas parecem derivar do proces-samento das carcaças, com marcas de corte fino resultantes da manipulação ao esfolar e desmembrar as mesmas. A fragmentação óssea apresenta-se maiorita-riamente como consequência do esquartejamento dos animais em peças e nacos
VII ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE PENINSULAR - CONFIGURAÇÕES SINGULARES DO URBANISMO DA CASA XVI DO BAI-RRO ISLÂMICO DA ALCÁÇOVA DO CASTELO DE MÉRTOLA - MARIA DE FÁTIMA PALMA
1110
Quadro 4 – Estágios de uso e desgaste de dentes, segundo Payne 1987.
mais pequenos, com o osso ainda fresco, demostrando fracturas em espiral e fre-quentes cortes transversais de cutelo.São raros os fragmentos ósseos com sinais de fogo, o que nos leva a crer que não era o meio de saneamento básico preferencial, em concordância com as evidên-cias mencionadas acima e, por outro lado, o churrasco não parece ser o método mais utilizado para a confecção da carne. A fragmentação óssea em pequenas porções, escassas evidências da acção do fogo nos restos ósseos e o elevado número de potes e panelas recuperados aquando das escavações arqueológicas, permite-nos deduzir que o método de confecção preferencial seriam os guisados e estufados de cozedura lenta, descendentes dos tajines.
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Verifica-se que a maioria da fauna provém de lixeiras, derivada essencialmente de desperdícios alimentares cujo descarte se deu de forma rápida e bem delimitada, de acesso difícil aos animais comensais.O conjunto apresenta predomínio percentual esmagador de fauna doméstica, sendo que os bovídeos, os ovicaprinos e as aves de capoeira se destacam da res-tante fauna. Também de frequência acentuada e com o maior número de indiví-duos identificados na amostra, os coelhos demarcam-se como uma fonte de pro-teína assídua e muito utilizada, deixando em aberto se a sua proveniência seria doméstica ou selvagem. Por outro lado, a caça, a pesca e também a recolecção de moluscos (material recolhido nos trabalhos de escavações arqueológicas mas cedido a outro investigador para estudo) apontam para a exploração de outras fontes de alimento, disponíveis, acessíveis e de utilização complementar na dieta.A constância e superioridade de elementos ósseos de gato parece sugerir a pre-ferência destes, em detrimento dos cães domésticos considerados animais impu-ros pelo Islão, apesar dos mesmos se encontrarem presentes no registo arqueoló-gico.Tal como o cão, também o porco é visto como impuro e proibido pelo Alcorão e, embora presente na amostra com dois fragmentos identificados, não parece que
VII ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE PENINSULAR - CONFIGURAÇÕES SINGULARES DO URBANISMO DA CASA XVI DO BAI-RRO ISLÂMICO DA ALCÁÇOVA DO CASTELO DE MÉRTOLA - MARIA DE FÁTIMA PALMA
1111
esta comunidade recorresse a estes numa primeira instância, ou pelo menos, não seria consumido com frequência. O consumo tanto de porco como de javali está vedado aos muçulmanos, mas parece existir alguma tolerância relativamente ao animal selvagem. Contudo, com apenas dois restos e sem certeza da sua prove-niência doméstica ou selvagem, a extrapolação exacta a este respeito é quase impraticável. Por fim, podemos estar perante algum tipo de processamento ou descarte es-pecializado de carcaças realizado nesta área do povoado rural, em especial de bovídeos e ovicaprinos, já que se identificou um elevado número de mandíbulas e dentes mandibulares, em detrimento dos provenientes de maxilas, mas mais estudo será necessário para atestar ou descartar esta hipótese.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Carvalho, A. – tradução (2009): Alcorão, Parte I, Introdução e notas de Suleiman Valy Mamede, Publicações Europa-América. Mem-Martins.Cardoso, J.; Fernandes, I. (2012): “A economia alimentar dos muçulmanos e dos cristãos do Castelo de Palmela: um contributo”. Arqueologia medieval 12: 211-233.Covaneiro, J.; Cavaco, S. (2012): “Comer em Tavira. Análise dos restos faunísticos do sítio do Parque de Festas (Tavira)”. JIA 2011, Actas das IV Jornadas de Jovens em Investigação Arqueológica. Promontória Monográfica 16: 269-276.Davis, S. (1992): “A rapid method for recording information about mammal bones from archaeological sites”. Ancient Monuments Laboratory. London.Davis, S. (1996) “Measurements of a Group of Adult Female Shetland Sheep Skele-tons from a Single Flock: a baseline for zooarchaeologists”. Journal of Archaeologi-cal Science 23: 593-612.Davis, S. (2006) “Faunal remains from Alcáçova de Santarém, Portugal”. Trabalhos de Arqueologia 43. Lisboa. Davis, S.; Gonçalves, M. ; Gabriel, S. (2008): “Animal remains from a Moslem period (12th/13th century AD) lixeira (garbage dump) in Silves, Algarve, Portugal”. Revista Portuguesa de Arqueologia, 11, 1: 183-258.
VII ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE PENINSULAR - CONFIGURAÇÕES SINGULARES DO URBANISMO DA CASA XVI DO BAI-RRO ISLÂMICO DA ALCÁÇOVA DO CASTELO DE MÉRTOLA - MARIA DE FÁTIMA PALMA
1112
Denis, E.; Payne, S. (1982): “Eruption and wear in the mandibular dentition as a gui-de to ageing Turkish angora goats”. In Wilson, B.; Grigson, C.; Payne, S. (ed.) Ageing and sexing animal bones from archaeological sites. BAR British Series 109: 155-205. Driesch, A. von den (1976): A guide to the measurement of animal bones from ar-chaeological sites, Bulletin 1. Cambridge. Grant, A. (1982): “The use of tooth wear as a guide to the age of domestic ungula-tes”. In Wilson, B.; Grigson, C.; Payne, S. (ed.): Ageing and sexing animal bones from archaeological sites. BAR British Series 109: 91-108. Heintz, E. (1970) Les Cervidés villafranchiens de France et d’Espagne 2: 31-40.Martins, S. (2013): Estudo Arqueofaunístico do Castelo de Salir - Contribuição para o conhecimento da dieta alimentar islâmica. Faro. Policopiado.Payne, S. (1973) “Kill-off patterns in sheep and goats: the mandibles from As van Kale”. Anatolian Studies 23: 281-303.Payne, S. (1987): “Reference Codes for Wear States in the Mandibular Cheek Teeth of Sheep and Goats”. Journal of Archaeological Science 14: 609-614.Pereira, V. (2013) “Das faunas às populações – Reflexos islâmicos do Castelo de Pa-derne”. Texne 1: 67-73.Pires, A.; Ferreira, M. (2001): Povoado da Portela 3 (Silves) – Relatório dos Trabalhos Arqueológicos. ERA – Arqueologia , S.A.Pires, A.; Ferreira, M. (2003): “Povoado islâmico da Portela 3: Resultados prelimina-res”. Xelb 4 – Actas do 1º Encontro de Arqueologia do Algarve: 279-306.
VII ENCUENTRO DE ARQUEOLOGÍA DEL SUROESTE PENINSULAR - CONFIGURAÇÕES SINGULARES DO URBANISMO DA CASA XVI DO BAI-RRO ISLÂMICO DA ALCÁÇOVA DO CASTELO DE MÉRTOLA - MARIA DE FÁTIMA PALMA
1113