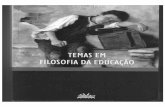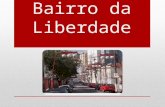Estrela d'África, um bairro sensível - ulusiada.pt
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Estrela d'África, um bairro sensível - ulusiada.pt
http://repositorio.ulusiada.pt
Universidades Lusíada
Antunes, Marina Manuela Santos, 1951-
Estrela d'África, um bairro sensível : umestudo antropológico sobre jovens na cidade daAmadorahttp://hdl.handle.net/11067/241
Metadata
Issue Date 2013-01-25
Abstract Sob o tema Etnicidade e mudança em contexto urbano: Estrela d’África,um bairro de fronteiras, a pesquisa tinha como objectivos iniciaisidentificar e analisar, através de uma abordagem etnográfica, osprocessos de criação de fronteiras culturais, sociais e económicas, degénero e geracionais, religiosas e ocupacionais, num bairro: o Estrelad’África, localizado na Venda Nova, no concelho-cidade da Amadora.O conhecimento destas dinâmicas, tanto no interior do bairro como narelação deste com a ...
Keywords Pluralismo cultural - Portugal - Amadora, Jovens - Condições sociais -Portugal - Amadora, Amadora (Portugal) - Condições sociais, Amadora(Portugal) - História
Type doctoralThesis
Peer Reviewed No
Collections [ULL-ISSSL] Teses
This page was automatically generated in 2022-01-12T09:34:35Z withinformation provided by the Repository
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa
VOLUME I
Estrela d`África, um bairro sensível Um estudo antropológico sobre jovens na cidade
da Amadora
Marina Manuela Antunes
Dissertação de Doutoramento em Antropologia Social sob orientação da Professora Doutora Graça Índias Cordeiro
Lisboa, 2002
3
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa
VOLUME I
Estrela d`África, um bairro sensível Estudo antropológico sobre jovens na cidade da
Amadora
Marina Manuela Antunes
Dissertação de Doutoramento em Antropologia Social sob orientação da Professora Doutora Graça Índias Cordeiro
Pesquisa e dissertação apoiada pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia-FCT, através do Programa PRAXIS XXI (Bolsa de Doutoramento PRAXIS/CSH/P/PSI/83/96)
4
Aos meus filhos Fernando e Pedro. Aos jovens da Associação «Nós» que sonham com uma cidade
onde um dia o sol nasça finalmente para todos.
5
Agradecimentos
Esta dissertação é o resultado de um longo processo de elaboração, no qual colaboraram muitas
pessoas e algumas instituições, a quem agradeço todo o apoio prestado. Porém, há pessoas e instituições
sem as quais este trabalho não teria concretização. A essas, um agradecimento especial.
No quadro das instituições, quero agradecer à Fundação para a Ciência e Tecnologia do
Ministério da Ciência e do Ensino Superior, pela bolsa de doutoramento, no âmbito do Programa
PRAXIS XXI, a qual foi essencial para permitir uma dedicação exclusiva à pesquisa e preparação da
respectiva dissertação. À Câmara Municipal da Amadora, por me conceder um regime de equiparação a
bolseira, demonstrando uma sensibilidade para compreender a importância da formação avançada dos
quadros técnicos e o impacto dessa formação na prestação de um melhor serviço à população. Dentro
desta Instituição, quero agradecer a colaboração de várias/os colegas que me forneceram informação de
diversa natureza sobre a Amadora, mas quero destacar o apoio sistemático e fundamental do técnico
informático José Luís Oliveira e do arquitecto João Viana do Gabinete PER.
Agradeço a todos os professores do Programa de Doutoramento em Antropologia Social
(PDAS) do ISCTE e às funcionárias do Departamento de Antropologia e do Centro de Estudos de
Antropologia Social (CEAS) que me apoiaram nos meandros da burocracia.
Agradeço aos doutores Maria Olímpia Lameiras e Henri Campagnolo, investigadores do CNRS /
Paris e acima de tudo, amigos, a quem devo a minha iniciação na Antropologia; à professora Maria
Benedicta Monteiro, coordenadora científica do projecto de investigação ‘Relações interculturais,
mudança de atitudes e condições de generalização da mudança: a perspectiva do desenvolvimento
infantil’, no qual participei, na qualidade de investigadora bolseira de doutoramento da FCT, no âmbito
do Programa PRAXIS/CSH/P/PSI/83/96; à professora Maria Cátedra, da Universidade Complutense de
Madrid e em particular, ao professor Carlos Feixa, cujas obras sobre culturas juvenis tanto influenciaram
o presente trabalho. Aos professores Joan Pujadas e Gilberto Velho, pela oportunidade de partilhar, no
fatídico dia 11 de Setembro de 2001, tão valiosas reflexões sobre Cidade e a Diversidade e os terrenos da
Antropologia Urbana.
À professora Rosa Maria Perez, pelo apoio inicial a esta pesquisa e pelas manifestações de
amizade e de estímulo que me transmitiu ao longo deste trajecto. À professora Clara Carvalho, pela
compreensão e amizade. À professora Fabianne Wateau, agradeço todo o apoio aquando das minhas
estadias em Paris, em particular, a disponibilidade para viajar pelos banlieues de Paris, nomeadamente,
pelo Hexagone e os Quatre-Mille e pelos ícones do cemitério Père Lachaise, alvo de um dos mais
fascinantes trabalhos de antropologia urbana, orientado por Colette Pétonnet. À amiga professora Celeste
6
Quintino, pelas sugestões e companhia nas minhas incursões ao bairro, sobretudo nos momentos de
aproximação aos guineenses.
Ao professor Luís Baptista e em particular, ao professor António Firmino da Costa pelas
manifestações de apoio e pelo estímulo intelectual conferido através das suas exposições e obra. Ao
arquitecto João Cabral, agradeço as suas sugestões, apoio documental e revisão do texto sobre a Venda
Nova.
Ao Rui Fernandes, pela amizade e pelo tempo roubado ao descanso e dedicado ao trabalho de
configurar o programa Odisseia 2001 que tanto facilitou o meu registo bibliográfico. Ao fotógrafo e
amigo José Pessoa, pelas sugestões no campo da imagem, nomeadamente, na defesa da utilização da
fotografia. Aos designers Ana Filipa Antunes e Alexandre Santos, agradeço a concepção e elaboração de
elementos gráficos incluídos na presente dissertação.
Às amigas do coração Inácia Moisés, Belita, Vitória Mesquita e Elsa Conceição Silva pelos
momentos de solidariedade e de companhia. À Maria Amália, pelas férias em Barbudo para retemperar
forças. À Maria Emília Amaral, ao Paulo Martins e à Paula Neto, pelo carinho e estímulo. À Adelina,
pelo apoio na lides da casa e à Olímpia, pelas sopas à lavrador que vieram alegrar os longos e solitários
dias de escrita em terras de Vale do Gueiro.
Aos meus irmãos Zé Pedro e Fernando e cunhadas Mina e Eduarda, um obrigado pela confiança
no meu esforço, em idade tardia, para realizar este grande objectivo da minha vida, pelos diversos apoios
e afectos. Ao Correia e Estudila, agradeço a sua profunda amizade e disponibilidade para me apoiarem na
resolução de tantos problemas durante a elaboração do presente trabalho.
Ao Zé Elísio, que me acompanhou nos piores e melhores momentos e me deu força com a sua
presença e incentivo, um obrigado por tudo isso e pelas horas a reler manuscritos e a dar sugestões, pelo
apoio para aguentar inúmeras dificuldades que se viram compensadas pela realização de alguns sonhos.
Um obrigado cheio de ternura para os meus filhos Pedro e Nando, pela paciência e compreensão
pela minha ‘ausência’ e pelo entusiasmo que depositaram neste projecto; ao Pedro, pelo grande esforço
em obter resultados positivos no curso de GEI, no ISCTE, sabendo que isso era tão importante para o
equilíbrio emocional da mãe; ao Nando, pelas horas sem fim no bairro, por vezes em situações difíceis, a
captar imagens belíssimas sobre aquelas gentes e o seu quotidiano, pela amizade que construiu com os
jovens Estrelas Cabo-verdianas o que lhe permitiu fazer registos únicos das sociabilidades dos jovens no
bairro, produzindo o vídeo documental que faz parte desta dissertação.
Agradeço profundamente à população do bairro Estrela d’África, com quem convivi ao longo de
dois anos e que me apoiou na realização deste trabalho a partir do grau zero da escrita sobre o bairro. Um
obrigado especial à família Pina e à família Lameiras, ao Sr. Benjamim Moreno, presidente da primeira
Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África, a quem devo a maior parte da informação sobre o
processo de formação deste bairro e que, lamentavelmente, já não vai poder conhecer a versão escrita que
tanto apoiou. Às Senhoras Maria, Francisca e Gualdina, a companhia nas infindáveis horas de
observação do bairro e a narrativa das inimagináveis histórias das suas vidas.
Aos adolescentes Elsa, Nuno, Vitalina e Moisés que me desvendaram os sonhos das crianças e
adolescentes do bairro. Aos jovens, em especial a todos os membros do grupo de dança Estrelas Cabo-
7
verdianas, a quem devo um acolhimento, carinho e amizade ímpares, que me fizeram sentir uma entre
pares de amigos de longa data. Um agradecimento cheio de amizade e muito especial às jovens Sónia,
Bucha, Nhunha, Tita, Solange e Mana e aos jovens Nuno, Rui 1, Ilídio, Rui 2, Rui 3, Zé Gato e Luís e
um carinho especial ao Mário Pereira, pela generosidade de expor a sua autobiografia tão verdadeira.
Gostaria, contudo, de manifestar um agradecimento muito especial ao Victor Moreira e à
Alcinda Pina, dois dos principais informantes sobre a vida dos jovens, rapazes e raparigas
afroportugueses com quem cimentei uma grande amizade ao longo deste percurso. Ao Victor, líder do
grupo Estrelas Cabo-verdianas, devo toda a aceitação e colaboração dos jovens do grupo, o acesso à sua
intimidade e vidas, a partilha de afectos ao longo da minha caminhada como membro do grupo de dança,
as divertidas e pedagógicas estadias nas estalagens da juventude, a ida aos espectáculos, as longas
conversas e entrevistas informais no bairro, no Dafundo e em Vale do Gueiro. À Alcinda, devo uma casa
no coração do bairro onde descansar, entrevistar os jovens, ouvir histórias sobre a família Pina, uns
lanches tão saborosos para quebrar o cansaço do trabalho de terreno, a reconstrução da história e
genealogia da sua família.
Por fim, um agradecimento profundo à professora Graça Índias Cordeiro, orientadora desta
investigação, a quem devo todas as condições de realização desta pesquisa. A confiança depositada em
mim e o apostar nas minhas capacidades, a compreensão para aceitar os meus altos e baixos, a
disponibilidade para me passar conhecimentos no âmbito da antropologia urbana, do afinar das
metodologias, do trabalho informático; a paciência para ler, vezes sem conta, os meus inforescritos; os
momentos de debate de ideias e os saborosos momentos de convívio. Agradeço a amizade que se forjou
ao longo de uma década, desde a produção de uma monografia sobre a Cova da Moura, nos anos 91-92,
até à conclusão da presente dissertação. Agradeço a oportunidade que criou para a minha estreia na
produção e publicação de artigos de carácter científico sobre o bairro e os jovens do Estrela d’África. Na
minha memória ficarão também os momentos em Paris, na École de Hautes Études, nas livrarias de Saint
Germain, Gilbert, l’Harmattan e os tão saborosos croques-monsieur e du pain poulâne, talvez produto da
imaginação dos portugueses. Por fim, agradeço, com profunda amizade o papel insubstituível que a
professora Graça Cordeiro teve no meu percurso académico e consequentemente, na minha vida como
antropóloga e como pessoa.
8
Índice do texto
Agradecimentos 5 Índice Geral 8 Índice das Figuras 11 Abreviaturas 13 Introdução 14 Capítulo 1 – Fragmentos de um discurso urbano 22 1.1 Apresentação do problema 22 1.1.1. Quando o excesso de visibilidade é um estigma social 29 1.1.2. Identificando um discurso hegemónico: o perpetuar do cru e do
cozido da história da experiência humana 34 1.1.3. Um contexto interétnico com diferentes estratégias identitárias 42 1.1.4. O viver urbano no seu melhor 47
1.2. Metodologia 53 1.2.1. O processo de pesquisa em contexto urbano: os limites da
aproximação ao real e a unidade e fragmentação de um terreno 54 1.2.2. A escolha do bairro Estrela d’África 58 1.2.3. Em busca de uma unidade de análise 61 1.2.4. No terreno da cidade 64 1.2.5.A iniciação no grupo Estrelas Cabo Verdianas ou uma forma de going native 71
I Parte – A cidade, um campo de possibilidades 75 Capítulo 2 – Breve história de um espaço-terrritório: a herança e a formação do tecido urbano da Amadora 76 2.1. Fragmentos da história da Amadora do século XI X 76 2.1.1. Os lugarejos da Porcalhota, da Amadora e da Venda Nova 77 2.1.2. Modos de vida e estilos de sociabilidade das populações dos
lugarejos 79 2.2. A Amadora do século XX: notas sobre o processo de industrialização e de urbanização 84 2.2.1. As quatro primeiras décadas 84 2.2.2. De cidade – jardim a dormitório de Lisboa 89 Capítulo 3 – População e território: o lugar da Amadora na A.M.L. 98 3.1. Dos dias vergados sobre a enxada à miragem urbana 98
3.1.1. Migrações internas 100 3.1.2. A metrópole de todas as cores 105 3.1.3. Amadora, um município multicultural 114
3.2. A estrutura demográfica municipal 119 3.2.1. A outra face da romã: a malha urbana labiríntica 122 Capítulo 4 – Venda Nova/Damaia de Baixo: a escala interlocal 132 4.1. População 133 4.2. Ambiente urbano 139 4.3. Ocupação urbana 142
9
4.3.1. Áreas urbanizadas e degradadas 142 4.3.2. Área industrial 146 4.4. Os Programas de Iniciativa Comunitária Urban e de Reabilitação Urbana 151 4.4.1. O Subprograma Urban da Venda Nova/Damaia de Baixo: algumas utopias tornadas realidade 155 II Parte – Estrela d’África, um bairro sensível 160 Capítulo 5 – A génese do Bairro 164 5.1. Apresentação do bairro: território e população 164 5.1.1. O território 164 5.1.2. População 166 5.2. História do bairro 172
5.2.1. Da origem… 172 5.2.1.1. No início, era a Cova das Ratas 172 5.2.1.2. De terra de ninguém a Estrela de África: os pioneiros 175 5.2.1.3. A família Pina 189 5.2.2. …À consolidação 199 5.2.2.1. A emergência da Comissão de Moradores do Bairro
Estrela d’África 199 5.2.2.2. Quando os arquitectos e os urbanistas são os próprios moradores 202 5.2.2.3. De pequenino se torce o pepino: as crianças do Estrela d’África e o Projecto Amadora 218
Capítulo 6 – Nos seus próprios termos 225 6.1. Vida de criança/adolescente no bairro Estrela d’África 225 6.2. Um olhar jovem sobre o bairro Estrela d’África 232 Capítulo 7 – Imagens, coexistência e comunicação intercultural 265 7.1. Estrela d’África, um bairro de fronteiras? 265 7.1.1. Os migrantes, a diversidade e as sociabilidades de bairro 269 7.1.2. A presença cigana 274
7.1.3. Os cabo-verdianos: duas gerações entre a continuidade e a mudança 276 7.1.34 A força de ser sampadjudo ou badio 286 III Parte - Sociabilidades juvenis em espaço urbano 290 Capítulo 8 – A emergência do Grupo Estrelas Cabo-verdianas: razões para o surgimento e itinerâncias 294 8.1. Caracterização do grupo Estrelas Cabo-verdianas 295 8.2. De grupo informal de jovens a associação local 302
8.2.1. A relação do grupo de jovens Estrelas Cabo-verdianas com as associações locais: uma simbiose estratégica 302 8.2.2. O nascimento da Nós – Associação de jovens para o
desenvolvimento 314 Capítulo 9 – Nha grupu ê nha alma: Amizade e pertença entre jovens 320 9.1. Organização interna e factores estruturantes do grupo Estrela Cabo-verdianas 320
9.1.1. Contexto sócio-cultural: o bairro Estrela d’África como quadro local de interacção 325 9.1.2. O líder do grupo: o elo que faltava 337 9.1.3. As actividades do grupo 345 9.1.3.1 A dança e a música 346 9.1.3.2 Os ensaios no coração do bairro Estrela d’África 351 9.1.3.3 Os espectáculos: o Dia Mundial da Sida evocado no D. João V 356 9.1.3.4 As actividades fora da rotina: fragmentos de percurso do grupo 358
9.1.4. Da amizade e do sentimento de pertença 379 9.2. Baza até lá! Quando a casa passa a ser a cidade, a casa é a rua 383
11
Índice das figuras
• Figura 1 - Saloia junto à Gargantada, séc. XIX 77 • Figura 2 - Saloias vendendo na Praça da Figueira, em 1860 80 • Figura 3 - A Estação da Amadora e vista para os terrenos do actual Bairro da Mina; 1908 –
1913 85 • Figura 4 - Festa da Árvore – Azulejo de Roque Gameiro 86 • Figura 5 - O primeiro projecto de urbanização dos terrenos de Mina, mandado elaborado
pelo proprietário António Cardoso Lopes, no início do século XX 87 • Figura 6 - Panorâmica da Amadora em 1943 (Vista do Alto dos Moínhos) 89 • Figura 7 - O Bairro da Reboleira – A Cidade Jardim. Como foi concebida a Urbanização
Inicial 90 • Figura 8 - Evolução demográfica do (futuro) concelho da Amadora 94 • Figura 9 - População residente na AML, em 16 de Março de 1981, por distritos de
naturalidade 102 • Figura 10 - População residente na Amadora, por naturalidade 104 • Figura 11 - População residente na Amadora, por naturalidade segundo as áreas definidas
pelo MAI 104 • Figura 12 - Não nacionais por grupo de nacionalidade em Portugal 111 • Figura 13 - População residente em bairros críticos da AML, por concelho, 1998 126 • Figura 14 - Total de bairros críticos da AML por concelho, 1998 127 • Figura 15 - Comunidades africanas residentes em bairros desqualificados da AML, por
Concelhos – 1995 129 • Figura 16 - Naturalidade e Concelho de residência anterior dos habitantes das Freguesias da
Damaia e Falagueira/Venda Nova 134 • Figura 17 - Indicadores resumo – estrutura etária do Concelho da Amadora e Freguesias da
área Plano, 1991 135 • Figura 18 - Profissão exercida, em %, dos residentes nas freguesias da Damaia e
Falagueira/Venda Nova 136 • Figura 19 - Local de trabalho em % dos residentes nas freguesias da Damaia e • Falagueira/Venda Nova 137 • Figura 20 – Habilitações, em %, dos residentes nas freguesias da Damaia e • Falagueira/Venda Nova 138 • Figura 21 - Nível de instrução dos residentes adultos, nos bairros Estrela d’África e 6 de
Maio 139 • Figura 22 - Número de alojamentos, residentes e estimativa de fogos a construír nos bairros
de habitat degradado da Área do P.U. 143 • Figura 23 - Origem das famílias dos bairros Estrela d’África, Fontaínhas e 6 de Maio 144 • Figura 24 - Dimensão das famílias dos bairros Estrela d’África, Fontaínhas e 6 de Maio 144 • Figura 25 - Dimensão média das famílias dos bairros Estrela d’África, Fontaínhas e 6 de
Maio 145 • Figura 26 - População por grupos etários dos bairros Estrela d’África, Fontaínhas e 6 de
Maio 145 • Figura 27 - Índices de dependência e envelhecimento, 1994 dos bairros Estrela d’África,
Fontaínhas e 6 de Maio 146 • Figura 28 - Pontos de referência do bairro Estrela d’África 165 • Figura 29 - Pirâmide etária da população residente no bairro Estrela d’África 169
12
• Figura 30 - População activa (homens Mulheres por Nacionalidade) do bairro Estrela
d’África 170 • Figura 31 - População não activa (homens/mulheres por nacionalidade) do bairro Estrela • d’África 171 • Figura 32 - As primeiras casas em madeira 173 • Figura 33 - Evolução das casas para alvenaria 173 • Figura 34 - Ano de instalação no bairro Estrela d’África por nacionalidades / homens 180 • Figura 35 - Ano de instalação no bairro Estrela d’África por nacionalidades / mulheres 180 • Figura 36 - João Pina e Maria de Pina 183 • Figura 37 - Bilhete de embarque de um membro da família Pina 184 • Figura 38 - A Família Pina no futuro bairro Estrela d’África 190 • Figura 39 - Localização da família Pina no bairro Estrela d’África 191 • Figura 40 - Fachada da casa - mãe da família Pina 192 • Figura 41 - Alcinda Pina no páteo da sua casa 193 • Figura 42 - Diagrama genealógico dos membros da família Pina residentes, em 1999, no
bairro Estrela d’África 196 • Figura 43 - Bilhete de Identidade da mãe de Alcinda Pina 197 • Figura 44 - Autorização de saída de Cabo Verde de Júlia de Barros Pina, Alcinda Pina e
Irmãos 197 • Figura 45 - Ruas do bairro Estrela d’ África 206 • Figura 46 - Regresso ao bairro depois de um dia de trabalho 223 • Figura 47 - Crianças a brincar no Largo Ilha Brava 226 • Figura 48 - Placa toponímica 267 • Figura 49 - Distribuição da população residente no bairro Estrela d’África segundo a sua
origem étnico-cultural e regional 268 • Figura 50 - O grupo de jovens em Mira, 2001 314 • Figura 51 - Assembleia de jovens para a constituição da Associação Nós 316 • Figura 52 - Os fundadores da Associação Nós no local de realização da escritura 318 • Figura 53 - Ensaio do grupo Estrelas Cabo-Verdianas, no bairro 352 • Figura 54 - Esposende, 2000 – Jovens do grupo jogando à bola 372 • Figura 55 - Esposende, 2000 – Turno das raparigas a preparar o almoço 372 • Figura 56 - Esposende, 2000 – Turno dos rapazes a preparar o almoço 374 • Figura 57 - Mira 2001, o baptismo dos membros recém-chegados ao grupo 377
13
Abreviaturas
• AML – Área Metropolitana de Lisboa • AML-N – Área Metropolitana de Lisboa Norte • AML-S – Área Metropolitana de Lisboa Sul • RLVT – Região de Lisboa e Vale do Tejo • PROT-AML – Plano regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de
Lisboa • CCRLVT – Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo • RCTI – Relatório da Comissão Técnica Intermunicipal • FFH – Fundo de Fomento da Habitação • INE – Instituto Nacional de Estatística • PER – Programa Especial de Realojamento • CMA – Câmara Municipal da Amadora • ESP – Estudos Sumários de Planeamento • PDM – Plano Director Municipal • DAU – Departamento de Administração Urbanística • SIG – Sistema de Informação Geográfica • PU – Plano de Urbanização • GPI – Gabinete de Planeamento Integrado • GPER – Gabinete do Programa Especial de Realojamento • BD – Base de Dados • PA – Projecto Amadora • CM – Comissão de Moradores • ATL – Actividade de Tempo Livre • EB – Escola Básica • JPSS – Justificação Privada de Solidariedade Social • CEPAC – Centro Padre Alves Correia • DEDIAP/CEPAC – Departamento de Estudos e Documentação sobre a Imigração Africana em Portugal/CEPAC • PALOP – Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa • PDM - Plano Director Municipal • PER - Programa Especial de Realojamento • PROT-AML - Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de
Lisboa • PU - Plano de Urbanização • RCTI - Relatório da Comissão Técnico Intermunicipal • RLVT - Região de Lisboa e Vale do Tejo • SIG - Sistema de Informação Geográfica
14
Introdução
Sob o tema Etnicidade e mudança em contexto urbano: Estrela d’África, um
bairro de fronteiras, a pesquisa tinha como objectivos iniciais identificar e analisar,
através de uma abordagem etnográfica, os processos de criação de fronteiras culturais,
sociais e económicas, de género e geracionais, religiosas e ocupacionais, num bairro: o
Estrela d’África, localizado na Venda Nova, no concelho-cidade da Amadora. O
conhecimento destas dinâmicas, tanto no interior do bairro como na relação deste com a
envolvente, permitir-nos-ia identificar e analisar os dispositivos que estão na base da
emergência de culturas mistas ou culturas de contacto (Tabouret-Keller, 1994) em meio
urbano e, desde logo, na sociedade portuguesa contemporânea.
A cidade da Amadora parecia constituir um espaço urbano privilegiado para o
estudo destes fenómenos pela forte concentração de populações (i)migrantes e pela
expressividade da vivência quotidiana destas populações e o seu reflexo na vida da
cidade no seu todo. O bairro Estrela d’África, fazendo parte de um continuum de bairros
de habitat informal que constituem territórios de forte segregação socio-espacial,
parecia reflectir a imagem e as características de profunda heterogeneidade sócio-
cultural de contextos similares. A complexidade dos processos de interacção social e
cultural que pareciam coexistir no seu interior (nas relações de vizinhança, de género e
geracionais, nas sociabilidades de lazer, nas actividades associativas, na entreajuda
familiar, nos ritos de passagem e expressões simbólicas), assim como na relação que os
habitantes pareciam estabelecer com o exterior, permitia questionar como os diferentes
grupos e pessoas de origem (i)migrante concebiam e actualizavam a sua identidade e até
15
que ponto esta se revelava estruturante do seu quotidiano, no interior e exterior do
bairro. Porém, as dificuldades na identificação dos actuais limites étnicos (Barth, 1976)
destas populações e as dúvidas sobre a pertinência desta delimitação enquanto factor
causador de uma não integração urbana destes grupos, social, económica e
espacialmente marginalizados, era apenas um exemplo do desconhecimento sobre os
principais processos socio-culturais que intervêm na estruturação colectiva das
chamadas minorias (Ross, 1982). Assim, revelava-se indispensável observar, com um
olhar atento, o papel que desempenhavam os jovens residentes no bairro, pois pareciam
constituir uma camada da população que se situava no ponto de charneira, de interface
entre diferentes culturas, tornando as fronteiras menos rígidas, próprias de um estádio
liminar, isto é, de margem e de transição. A partir deste conhecimento, poderíamos
questionar até que ponto as fronteiras étnicas, pela sua plasticidade e porosidade,
poderiam servir tanto de refúgio, por oposição à sociedade mais lata, produzindo, neste
caso, um grau de etnicidade relevante, como poderiam servir de suporte a uma
interpenetração mais íntima com esta última, pelo facto de estarem impregnadas de
elementos da sociedade envolvente.
Neste quadro, a proposta de investigação desenhava-se em torno de dois
grandes objectivos:
1. Identificar as culturas em jogo, de acordo com o seu modo de existência e de
expressão.
O pressuposto era que não existem culturas puras e por conseguinte,
todas são projectos em permanente construção e que uma cultura viva é sempre
uma policultura (Tabouret-Keller, 1994:37). Neste sentido, a afirmação de uma
determinada identidade étnica implica um sentimento de pertença colectiva a um
nós e um certo nível de organização colectiva e de mobilização étnica
possibilitadores de uma afirmação cultural positiva, não obstante o grau de
marginalização laboral, residencial, económica, educacional, de segmentos
destes grupos. Por isso, era importante conhecer a forma como os grupos
reproduzem uma dupla identidade que os leva a conjugar o seu sentimento de
pertença a um nós com a percepção de uma identidade estigmatizada (Eidheim,
1976), categorizada pejorativamente pela sociedade envolvente. Tornava-se,
16
pois, fundamental investigar quais as condições de reprodução de valores,
normas, rituais, formas de sociabilidade destes grupos de migrantes, as suas
estratégias adaptativas; entender o processo contínuo de criação cultural que os
levava a esquecer, reactivar ou inventar, num novo contexto socio-cultural e de
acordo com as suas matrizes culturais de origem, as actividades,
comportamentos, crenças, regras, o que nos obrigava a perspectivar este processo
de construção cultural das identidades de uma forma processual e não apenas
situacional (Pujadas, 1993). Nesta perspectiva, partimos da definição de
etnicidade sugerida por Cohen, enquanto relações entre entidades socio-culturais
marcadas por algum grau de comunhão cultural e social – o grupo étnico – em
contextos interactivos, multiculturais e multiétnicos nas sociedades modernas
(Cohen, 1978:386).
2. Estudar os processos de interacção social e cultural, a nível do bairro e sua
envolvente
As populações (i)migrantes vivem em núcleos que pareciam segregados
do ponto de vista social e espacial, de que poderia resultar uma insularização que
reforçava a complexidade dos processos de interacção com a sociedade
abrangente. Estes fenómenos podiam ser observados e analisados através das
práticas quotidianas, dos valores e das representações, bem como das redes
sociais que alimentam a comunicação no interior dos grupos.
Propusemo-nos operacionalizar estes objectivos, através de três níveis de
aproximação à realidade que, embora conceptualmente distintos, são
efectivamente interdependentes:
- Nível da interacção social e cultural quotidiana, interior ao bairro
Tendo como ponto de partida o processo de fixação das diferentes
populações migrantes, procuramos identificar os processos de interacção no
quotidiano e de construção de fronteiras intra bairro, por parte da população
residente.
- Nível da construção de fronteiras socio-espaciais com a sociedade
envolvente
17
Neste quadro, tentamos conhecer a relação dos moradores do bairro com
a cidade no seu conjunto, através dos percursos quotidianos, da mobilidade
geográfica e social, apropriação de espaços públicos, dos recursos exógenos e
das relações com o poder local e supralocal (Leeds, 1978: 26-53).
- Nível das representações sociais
Este nível, transversal aos anteriores, visava analisar, em particular, as
representações das crianças e dos jovens sobre o seu bairro, nomeadamente,
sobre as diferenças culturais e regionais que pareciam existir no seu interior e o
impacto destas no quotidiano das crianças e jovens. Tentamos apreender de que
forma estas representações condicionavam a comunicação intercultural, as redes
familiares e de amigos, as práticas e os estilos de sociabilidade entre os jovens.
Pensamos que a aproximação à realidade destas populações, a partir
destes aspectos da realidade social e cultural, poder-nos-ia conduzir à
identificação de fenómenos urbanos cuja opacidade dificulta a compreensão dos
conflitos intergeracionais e interculturais de que a cidade da Amadora é um
exemplo relevante. Por conseguinte, centramo-nos na construção de fronteiras
sociais e culturais e assim, no equacionar o quanto a etnicidade poderia
desempenhar um papel de idioma, isto é, de forma básica de ancorar relações em
termos de modelos e de categorias sociais para os membros e não membros dos
grupos. Deste modo, poderíamos avaliar o quanto a etnicidade reflecte um
sistema partilhado dentro de um grupo, de forma intersubjectiva e se é,
justamente a partir desse sentido de comunidade, que nascem as fronteiras
étnicas e o processo subjectivo de identificação do grupo, no qual as pessoas
usam as marcas étnicas para se definirem a si próprias e à interrelação com os
outros.
Como veremos, o complexo quadro sociocultural do contexto da
pesquisa, isto é, um bairro com as características do Estrela d’África, conduziu à
reformulação dos objectivos iniciais que, à medida que a pesquisa ia avançando,
se revelaram demasiado ambiciosos.
Assim, fazendo do Estrela d’África o locus da observação empírica e do
grupo de jovens Estrelas Cabo-verdianas um dos referentes empíricos e janela
de observação, definimos como objecto de estudo: as redes familiares e de
18
vizinhança que configuraram aquele território de identidades, a partir das origens
étnico-culturais e regionais; as relações de amizade, as práticas e estilos de
sociabilidade de um grupo informal de jovens que constroem as suas identidades
individuais e colectivas neste espaço, recorrendo a marcadores simbólicos que
ora reforçam a continuidade, ora a ruptura com as origens socioculturais dos
progenitores. Nesta perspectiva, procurámos identificar e analisar as orientações
interculturais dos jovens do referido grupo e no carácter poroso das fronteiras
que pareciam estabelecer no interior e exterior do bairro. Optámos por nos
centrarmos nas dinâmicas culturais e relacionais, no papel do grupo de pares no
reforço da auto-estima dos jovens e na reinterpretação das identidades locais, o
que parecia constituir um importante factor de mudança.
Esta microperspectiva pareceu-nos absolutamente indispensável para uma
adequada compreensão da humanidade das cidades. Por outras palavras, ao
adoptarmos uma pequena escala e um trabalho de pesquisa intensiva sobre uma
textura microssocial, procurámos não isolar estes elementos, mas sim, criar, de
múltiplas formas, pontes com a cidade no todo e por esta via, com a sociedade.
Deste modo, procurou-se fazer luz sobre a condição humana dos que vivem
naquela realidade sem cair na armadilha de os isolar a tal ponto que pudesse
atribuir-lhes as causas dos seus problemas, culpando, deste modo, a vítima, sem
atender ao profundo e determinante controlo externo sobre as suas vidas. Como
advertira Gulick, alguns antropólogos urbanos poderão utilizar as percepções de
pequena escala para ocultar grandes fontes de injustiça, mas os perigos de
perda de percepção de certos aspectos da realidade devem ser tomados a sério.
Daí a insistência na simultaneidade das dimensões de pequena e grande escala
da vida urbana, a partir do ponto de vista dos actores e dos observadores (1989:
22)1.
Esta perspectiva permitiu-nos, igualmente, dar conta da persistência de costumes
tradicionais entre os (i) migrantes que vivem na cidade, sobretudo, neste tipo de
bairros, sem mascarar a flexibilidade e capacidade de mudança que ali se vive e
que, como veremos, é bem visível nas formas de vida dos jovens. Não se trata de
1 Este aviso de John Gulick (1989) enquadra-se na abordagem das quatro fontes de preconceito de grande escala, que são especialmente pertinentes na antropologia das cidades; sobre a importância das escalas ver capítulo Scales pp.22-42.
19
considerar a existência de aldeias urbanas2 na cidade, porque estes bairros só
aparentemente estão fechados sobre si próprios e estão enquistados nas tradições
rurais dos seus habitantes, nem de defender para estes contextos uma cultura da
pobreza3 endógena que os impede de reagir a uma profunda estratificação
social.
A opção que adoptámos foi uma aproximação ao terreno, enquadrada
pelas diferentes escalas, tentando integrá-las umas nas outras e deste modo,
conhecer o impacto que têm entre si.
Apresentação dos capítulos No primeiro capítulo, fazemos uma aproximação à problemática que está na base
dos processos de produção do viver urbano, considerando o contexto particular onde
nos situamos e damos conta da metodologia adoptada para os observar e analisar.
Agrupamos os capítulos seguintes em três partes, em cada uma das quais se faz
a aproximação à cidade a partir de vários ângulos. Embora analiticamente separadas, a
cidade, o bairro e o grupo informal, que constituem o nosso objecto de estudo, estão
intrinsecamente ligados, sendo que a leitura desta realidade só fica clara se, a partir de
tais recortes, se adoptar uma perspectiva holística e globalizadora, como um sistema de
vasos comunicantes em que cada parte interfere com o todo que é a sociedade.
Cidade, bairro, jovens são, assim, peças de uma mesma realidade que se
desenvolve de acordo com políticas, poderes, hegemonias. Cada uma destas dimensões
é alvo de um enquadramento teórico referencial articulado, sempre que possível, com a
empiria, isto é, com a realidade que serve de contexto para a pesquisa.
Num primeiro momento, traçamos um quadro da cidade da Amadora, a partir de
alguns fragmentos da sua história, dos processos de industrialização e de urbanização e
o impacto destes no sistema relacional dos habitantes da cidade. Neste contexto, os
fluxos migratórios para o território que iria configurar a cidade-concelho da Amadora,
2 Herbert Gans (1962) estabelece o conceito de urban village assumindo a realidade do sistema de malha fechada, de pequena escala e localizado, que se encontra um pouco por todas as cidades . 3 Oscar Lewis (1966) introduziu o conceito de cultura da pobreza que mais tarde foi criticado por diversos autores, pelo facto de induzir uma ideia de que em bairros deste tipo a população não consegue sair do ciclo reprodutor da pobreza, criando uma cultura própria que se transmite de geração em geração, pp.19-25
20
merece-nos um destaque particular. Por conseguinte, procuramos viajar no tempo e no
espaço de um concelho que nasceu no pós 25 de Abril, inserindo-o na Área
Metropolitana de Lisboa, da qual faz parte integrante. Tentamos perceber como surgiu
uma malha urbana desprovida de enquadramento legal, que ao longo dos anos, se
transformou numa importante cintura de habitat precário, espontâneo e informal com
mais de seis mil habitações e milhares de habitantes. O objectivo foi, como referimos
atrás, integrar as perspectivas de pequena e de grande escala, acentuando a ideia de que
as populações não estão fechadas no seu ecossistema social e cultural e que a sua
condição é determinada por factores exógenos que condicionam os processos e
dinâmicas locais.
Num segundo momento, debruçamo-nos sobre um bairro de habitat informal,
um lugar fractal do tecido social metropolitano (Costa e Cordeiro, 2001)4 que, como
veremos, demonstra ser um espaço estruturador de processos identitários e
interaccionais, um lugar sensível, onde se tecem, quotidianamente, enredos e vidas,
redes de sociabilidade, sejam elas de conterraneidade, de geração, de vizinhança ou
amizade, que formam um denso quadro de interacção local (Costa, 1999). Recorremos,
para contextualizar esta abordagem, ao bairro Estrela d’África, exemplo paradigmático
desta perspectiva. Para tal, procurámos reconstruir a sua história, a partir dos
documentos existentes e do testemunho de moradores. O facto de a bibliografia sobre o
bairro ser inexistente constituiu um desafio permanente para encontrar fontes de
informação junto da população e das organizações locais.
Num terceiro momento, centramo-nos num grupo informal de jovens - Estrelas
Cabo-verdianas - que fazem do bairro o palco do seu teatro de vida, onde criam e
recriam formas de vida que oscilam entre os valores que herdaram dos progenitores e os
comportamentos que a condição juvenil urbana lhes exige. São dos actores sociais
urbanos que protagonizam, com mais clareza, os processos de continuidade e mudança,
de ruptura e margem, daí o interesse em servirem de barómetro para medirmos o grau
de oportunidades que o cidade lhes oferece.
4 Esta expressão metafórica ajuda-nos a entender o fosso que existe no tecido social e urbanístico, grande marcador de desigualdades no processo de desenvolvimento das cidades, que se opera a várias velocidades, de acordo com as oportunidades a que os cidadãos vão tendo acesso, através das políticas da cidade ou através de golpes de sorte.
22
Capítulo 1
FRAGMENTOS DE UM DISCURSO URBANO
1.1. Apresentação do problema
A cidade é o lugar onde as ligações entre os macroprocessos - sociais, culturais,
económicos, políticos - são mais intensas e estão mais próximos da textura e construção
da experiência humana (Low, 1996:384). Através do significado cultural do espaço
urbano podemos desvendar os enigmas das múltiplas identidades que aqui se cruzam, os
mapas simbólicos das populações para, num trabalho de permanente bricolage (Lévi-
Strauss, 1989:45), criarem condições que lhes permitam coexistirem na cidade através
de um complexo sistema de interacção cultural e social.
É neste quadro que, hoje em dia, os antropólogos urbanos tentam relacionar o
urbanismo e a tradição, partindo, não da dicotomia rural / urbano, mas lançando um
olhar sobre o rural e o exótico cá dentro, isto é, sobre a presença de povos e culturas
que se cruzam no espaço urbano. Deste modo, indagam a produção de diferentes
gramáticas culturais a partir da própria patina da cultura local ou textura cumulativa da
cultura local (Suttles, 1984:284) que é visível por efeito das trocas culturais produzidas
na cidade. Este processo, porém, já não se limita às cidades pois a urbanização de
espaços rurais também é, hoje em dia, um campo de referência teórico-empírica. Por
conseguinte, esta complexa realidade confere às cidades uma humanidade que só pode
ser adequadamente compreendida a partir de diferentes portas de reflexão que se
enquadram nas perspectivas de pequena escala (os microcosmos), de escalas
intermédias e de grande escala (macrocosmos) articuladas entre si. É na intersecção de
diferentes elementos e componentes destas escalas que podemos tentar desenhar uma
singularidade para cada cidade, embora conscientes de que não existe uma definição
aceitável de cidade: as cidades têm de ser pensadas no plural (Gulick, 1989:2).
Partindo deste pressuposto, optamos por analisar algumas dimensões que
dialogam entre si, relativamente à natureza e complexidade das intersecções e
23
influências recíprocas entre o grupo de jovens Estrelas Cabo-verdianas, o bairro Estrela
d’África, a zona da Venda Nova e a cidade da Amadora inserida, por sua vez, na Área
Metropolitana de Lisboa.
Na Área Metropolitana de Lisboa existem cidades que nasceram e cresceram de
forma vigorosa, na segunda metade do século XX, fruto de acelerados processos de
urbanização e de migrações contínuas que conferiram a este espaço metropolitano uma
composição e configuração espacial e socio-cultural caleidoscópica.
Desde os anos 50 que, no interface entre Lisboa e os concelhos limítrofes, se
fixaram, através de um fluxo contínuo, muitos milhares de migrantes internos e
imigrantes de diferentes origens, conferindo uma profunda heterogeneidade social e
cultural ao espaço urbano.
A constelação de microcosmos criados por estas populações e a relação destes
com a sociedade mais abrangente colocam questões relevantes na comunicação
intergrupos. Nesta conformidade, o problema da gestão da contradição entre
particularizações de experiências restritas a certos segmentos, categorias, grupos e
indivíduos e a universalização de outras experiências, cristalizadas através de símbolos,
normas e valores culturais, coloca, por vezes de forma dramática, a questão da unidade
e da fragmentação das sociedades urbanas. A coexistência de diferentes e
eventualmente, contrastantes visões do mundo - eidos - e de estilos de vida - ethos -
obriga estas populações à negociação de fronteiras cuja plasticidade depende de
múltiplos factores, que configuram espaços físicos e sobretudo, relacionais, vagamente
fechados5 e de redes de relações vagamente restritas, que constituem mundos de
pequena escala encravados na cidade.
Com efeito, dentro destas cidades, as diferentes populações, de forma vagamente
legal, foram criando condições de vida para (sobre)viverem e esta acção colectiva dos
(i)migrantes deu origem ao surgimento de bairros, praças, ruas, mercados, organizações
formais e informais, que desenharam os contornos da vida urbana. Ao fim de várias
décadas de permanência na cidade, embora, muitas vezes, com uma relação estável com
as zonas de origem, os (i)migrantes foram inculcando nas suas práticas quotidianas
hábitos e comportamentos que pouco têm a ver com a bagagem socio-cultural de 5 Como veremos ao longo da investigação, a presente pesquisa tenta contrariar a ideia de um fechamento total destas populações, isto é, de que estes bairros constituem ilhas ou aldeias na cidade; os estilos de vida (formas de vestir, alimentar, adornar as habitações) dos mais velhos e as formas de viver a cidade dos mais novos, contrariam esta ideia de gueto.
24
origem, não obstante elegerem momentos em que os rituais e celebrações se inspirem
nessa bagagem primordial. Por isso, não é de estranhar que as últimas gerações
conheçam, apenas, pelos relatos e pelas autobiografias, as trajectórias de vida dos
progenitores que viveram épocas de fome e de medo, de trabalho muito árduo com
poucas compensações, vivendo em quartos ou partes de casa sem privacidade, longe
dos afectos e das tradições da terra natal. Muitos foram bem sucedidos, outros mal
arrecadaram dinheiro para fazer a casa na terra e poderem regressar (o retorno – o
grande sonho eternamente adiado!) com um estatuto diferente e outros, ainda,
entregaram-se ao trabalho desqualificado e mal remunerado e ao álcool (e sob o efeito
deste, à violência) para esquecerem, em parte, o insucesso e fracasso das suas vidas.
Apesar das dificuldades de adaptação e da falta de estruturas de acolhimento que
contribuissem para atenuar o impacto dos processos de urbanização na vida de cada
indivíduo, a opção pela cidade ou pela metrópole para se fixarem, traduz uma ideia ou
convicção de que estes territórios constituem, de facto, um campo de possibilidades
(Velho, 1994:40)6. Desde logo, porque favoreceram a consolidação de bairros ou
localidades com uma característica fundamental que são os pontos nodais de interacção
(Leeds, 1973), isto é, onde há uma rede altamente complexa de diversos tipos de
relações7 baseadas nos laços de parentesco e de vizinhança, nas amizades mais
significativas, na parentela ritual, protagonizados por pessoas com diferentes origens
étnico-culturais. Do ponto de vista antropológico, são lugares carregados de sentido
em oposição aos não-lugares (Augé, 1994:99)8, porque são contextos densos, do ponto
de vista relacional e simbólico, profundamente heterogéneos, do ponto de vista da
composição social, cultural e económica mas, simultaneamente, lugares sensíveis,
porque estigmatizados por fenómenos de etiquetagem social, instáveis porque
extremamente dependentes de toda uma conjuntura institucional, política e económica. 6 O conceito de campo de possibilidades é definido por Gilberto Velho como dimensão sóciocultural, espaço para formulação de projectos; o mesmo autor baseia-se em Alfred Schutz para definir Projecto como conduta organizada para atingir finalidades específicas (1994:40). 7 Esta expressão foi utilizada por Anthony Leeds que definiu localidade como os loci de organização visivelmente distintos, caracterizados por coisas tais como um agregado de pessoas mais ou menos permanente ou um agregado de casa, geralmente cercadas por espaços relativamente vazios, embora não necessariamente sem utilização; localidades são segmentos altamente organizados da população total. Desenvolver-se-á este conceito, confrontando-o com o de comunidade, quando se abordar a questão do bairro (1973: 15-41). 8 Para Augé, pelo termo de «não-lugar» entendemos designar duas realidades complementares mas distintas: espaços constituídos em relação a certos fins (transportes, trânsito, comércio, lazer) , e a relação que os indivíduos estabelecem com esses espaços...mediatizam todo um conjunto de relações consigo próprio ...criam uma contratualidade solitária (1994:99).
25
São, sobretudo, constrangimentos externos desta natureza que os tornam lugares
fractais (Costa e Cordeiro, 2001:216) não devido aos próprios mas à ordem urbanística
exclusiva relativamente a uma ordem urbanística dominante que, ao não dialogar com
interesses do mercado do trabalho, exclui contingentes de trabalhadores e famílias do
mercado habitacional.
A metrópole, a cidade, o bairro, as populações imigrantes, as crianças e os
jovens fazem todos parte do mesmo universo, condicionando-se mutuamente, pelo que
o conhecimento de uma das partes implica, também, o conhecimento do todo, ainda que
as dificuldades obriguem a escalonar a aproximação à realidade. Assim, não podemos
compreender a cidade da Amadora, se não a enquadrarmos no espaço físico, económico,
social e cultural da Área Metropolitana de Lisboa pois, como veremos na primeira parte
do trabalho, a história deste território e todo o processo de industrialização e de
urbanização foram traçados e influenciados, não só por forças endógenas mas,
sobretudo, por dinâmicas e processos à escala metropolitana, nacional e até,
internacional9.
A cidade da Amadora revela, sobretudo nas últimas décadas do século XX, um
inchamento (Velho, 1989:21) rápido, que nem sempre foi acompanhado por um
processo de planeamento urbano, neutralizador de desequilíbrios e de assimetrias, o que
teve como resultado, entre outros fenómenos, a proliferação de núcleos de habitat
espontâneo ou informal. Foi um processo de urbanização sociopática porque foi um
resultado da inadequação dos meios fornecidos pelo estado do sistema de produção de
bens e serviços à afirmação pelos agentes de trabalho de um maior valor de sua força
de trabalho (Pereira, 1969 in Velho, 1989:20)10. Consequentemente, a aspiração por
padrões de vida materiais e imateriais, como constituintes de um estilo de vida urbano
de milhares de pessoas, migrantes ou urbanitas autóctones, viu-se gorada pela
desigualdade no acesso aos bens e serviços, de acordo com os rendimentos. No centro
deste problema, está a dificuldade do acesso à habitação por parte destas populações, a
qual veio a provocar o surgimento de um tipo de territórios metropolitanos designados
por degradados e clandestinos que têm estado na origem de processos de fragmentação
socio-urbanística das cidades. 9 Como veremos na primeira parte do trabalho há várias empresas multinacionais no concelho da Amadora que, directamente integram esta cidade no processo de globalização. 10 Sobre o conceito de urbanização sociopática, ver definição de Luís Pereira in Gilberto Velho, (1989:20).
26
De forma paradoxal, os processos de industrialização, ao mesmo tempo que
trouxeram prosperidade para a cidade, também foram (e são, ainda hoje) responsáveis
pela coexistência de processos de segregação socio-espacial que têm uma particular
incidência no território da Amadora. Veja-se o exemplo da Venda Nova11, na cidade da
Amadora, que se tornou uma zona de forte presença de empresas de ramos
diferenciados, muitas vezes com sede fora das fronteiras nacionais, que coexistem com
bairros de habitat bastante precário, onde residem muitos dos trabalhadores dessas
mesmas empresas.
Por sua vez, não é possível conhecer os bairros de génese ilegal sem procurar a
sua origem nos fluxos de populações migrantes que, de forma ininterrupta, vieram fixar-
se na cidade da Amadora, oriundos de várias regiões do País, da cidade de Lisboa ou
dos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa, com especial relevância para Cabo
Verde. Destas diferentes origens daremos conta, na primeira parte deste trabalho.
Com efeito, ontem como hoje, a cidade é vista como a terra prometida da
mobilidade social. O fenómeno da migração em cadeia para a cidade da Amadora, que
tem a expressão máxima nas populações cabo-verdianas, teve por origem o empurrar
rural (rural push), suscitado pela necessidade de fugir à pobreza rural e de garantia da
subsistência das famílias e a atracção urbana (urban pull), motivada pela esperança de
uma vida melhor na cidade 12.
Embora conferindo à cidade-concelho da Amadora um perfil multicultural, a
presença destas populações, sobretudo, a partir da segunda metade da década de 70,
resultou numa permanente competitividade ao nível da apropriação do território e de
certos sectores do trabalho e, por conseguinte, em conflitos sociais. Na ausência de
intervenção do Estado, seja através das instituições sociais e de saúde, seja das
autarquias locais a braços com a criação das infra-estruturas da cidade, rapidamente, os
(i)migrantes tornaram-se um bode expiatório fácil, assumindo responsabilidades não
partilhadas pelas fracturas sociais decorrentes das assimetrias económico-sociais e
habitacionais.
Como se não bastasse tudo isto, emergiram, a partir do interior das próprias
populações (i)migrantes, conflitos regionais com reflexo na repartição do território, nas 11 A zona da Venda Nova terá um tratamento especial neste trabalho porque equivale à escala interlocal no contexto desta pesquisa, uma vez que é neste território que se situa o bairro Estrela d’África. 12 Este processo é referido numa vasta literatura antropológica. Contudo, é interessante ver a perspectiva histórica traçada por Peter Burke (1992).
27
sociabilidades, nas redes pessoais. Como veremos na segunda parte deste trabalho, com
a permanência na cidade, os (i)migrantes viram-se, por vezes, internamente, mais
marcados pelo selo das diferentes identidades culturais. Apesar dessa opção, as
populações foram sofrendo mutações, através do ajustamento permanente às condições
proporcionadas pela sociedade de acolhimento, de estratégias adaptativas que visavam o
acesso aos recursos disponíveis mas que, ao mesmo tempo, salvaguardavam as opções
culturais que se pretendiam fazer. Os residentes de bairro como os do Estrela d’África,
circulam, diariamente, pelo espaço urbano, sofrendo, deste modo, todo o tipo de
influências que este pode exercer sobre os cidadãos, mas também contribuindo para que
a paisagem humana e cultural seja diferente.
Neste contexto, os filhos dos indivíduos que optaram por ficar na cidade
nasceram num mundo povoado de ambiguidades e de incertezas que contrastam com a
estabilidade das instituições dos lugares de origem. Em consequência, as crianças e os
jovens tendem a fugir desta confusão identitária, procurando, na cidade onde nasceram
ou para onde vieram com meses, as instâncias de socialização que passam pelo
complexo mundo das instituições formais e sobretudo, informais. Grande parte dos
descendentes destes (i)migrantes já não se integram neste contingente de populações em
trânsito por regiões ou países com configurações socio-económicas e culturais distintas.
Por conseguinte, a compreensão do modus vivendi dos jovens urbanos, como é o caso
do grupo de jovens Estrelas Cabo-verdianas, carece de um enquadramento que, não só
está para além da dicotomia rural/urbano e respectivos paradigmas simbólicos e
materiais que definem este campo bipolar moralista (Gulik, 1989), como está para além
da questão da imigração.
De facto, a influência que a cidade exerce sobre a vida social destes jovens e a
capacidade que estes têm para negociarem a realidade (Velho, 1994), reinventando
tradições e sobretudo, construindo novos modelos identitários, a partir de um conjunto
de referências e de fragmentos de componentes culturais diversas, explicam as
metamorfoses e trajectórias de vida, individuais e colectivas, que protagonizam.
Não há dúvida de que as várias dimensões da cidade podem ser analisadas
através de diferentes gramáticas teóricas e contextos empíricos. A opção aqui tomada
prende-se com uma clara vontade de aprofundar o conhecimento de contextos socio-
espaciais que suscitam imagens e representações estigmatizantes ou do exótico cá
28
dentro e que, pela sua vulnerabilidade, são alvo fácil de mitificações e de processos de
marginalização social que reforçam o mito da cidade-ghetto (Wacquant in Bourdieu,
1993) chamada Amadora.
Não obstante termos a percepção de que bairros como o Estrela d’África e
grupos informais de jovens como os Estrelas Cabo-verdianas são a face sensível da
cidade, quisemos conhecer de perto os moradores e os jovens, ouvi-los falar sobre si e
sobre a forma como vêem as suas culturas e como constroem as suas identidades e as
tentam compatibilizar com a sociedade urbana mais abrangente.
Centremo-nos, pois, nestas dimensões da cidade e no marco teórico que nos
pode conduzir a uma maior compreensão destes fenómenos, indagando causalidades e
prefigurando consequências que o ciclo da vida se encarregará de confirmar.
Como veremos na primeira parte deste trabalho, o território delimitado pela
jovem cidade-concelho da Amadora tem, por detrás desta marca de projecção
institucional utilizada na sua promoção, uma longa história que está povoada de
paisagens e de habitantes com raízes profundamente rurais e que se mantém até às
primeiras décadas do século XX. A partir dos anos 40, este território começa a sofrer
um processo de urbanização tão rápido, que poucas foram as instituições que
conseguiram acompanhá-lo. O impacto deste processo, que tem origem na forte
industrialização da zona metropolitana de Lisboa, no qual se inclui a Amadora, teve
consequências irreversíveis no modus vivendi das populações locais que passaram a ter
de partilhar o abundante território coberto de trigais, com milhares e milhares de
migrantes vindos um pouco de todo o lado.
Isto significa que a Amadora percorreu um longo caminho, no que diz respeito à
presença e coexistência de populações com origens culturais diversas, o que lhe
conferiu um perfil de espaço intercultural por excelência. Assim, com um espaço
urbano profundamente heterogéneo, do ponto de vista social e cultural, marcado pela
profusão de idiomas não só linguísticos como de parentesco, de companheirismo e
entreajuda e com um tecido social jovem, esta cidade revelou-se um território de
identidades e um terreno de pesquisa a reclamar uma atenção urgente.
29
1.1.1. Quando o excesso de visibilidade é um estigma social
Uma primeira questão que queremos colocar, tem a ver com a construção de
imagens e de representações que envolvem a cidade da Amadora e os seus bairros,
nomeadamente, os que têm mais visibilidade, não tanto pelo aspecto arquitectónico do
edificado, mas pela configuração social e cultural do território. Referimo-nos aos
bairros de habitação social, como o do Zambujal, na Buraca, de génese ilegal, ou
clandestinos, como o da Brandoa e os degradados como os da Cova da Moura,
Fontaínhas, 6 de Maio, Estrela d’África, entre dezenas de outros.
Com efeito, quando se evocam os bairros da Amadora, a imagem que surge não
é a de bairros populares, típicos como são designados os bairros lisboetas, também eles
uma malha labiríntica, degradada do ponto de vista do edificado e habitados por
camadas populares com tradições específicas. O que surge no imaginário do urbanita
da outra cidade é uma paisagem apocalítica constituída por uma amálgama de bairros
de barracas, onde vivem milhares de pessoas com costumes bizarros, mergulhadas numa
pobreza que passa de geração em geração, que gostam pouco de trabalhar, com famílias
desestruturadas, com muitos filhos, analfabetas, onde proliferam doenças e
marginalidade. Em todo o caso, estamos perante uma classificação exterior hegemónica
que associa estas populações a uma identidade étnico-cultural determinada, que
funciona como estigma social (Eidheim,1976:50) e lhes atribui uma subcultura
monolítica impregnada de atributos sociais negativos, que se desvia dos padrões
culturais dominantes.
Por conseguinte, o excesso de visibilidade destes territórios não lhes confere um
estatuto de bairro-que-faz-parte-integrante-da-cidade mas sim de um abcesso que deve
ser retirado ao corpo da cidade. Não fazem parte dos roteiros turísticos da cidade da
Amadora, bem pelo contrário, é aconselhado o evitamento, porque, além de tudo o que
foi dito, ali residem jovens com um elevado grau de perigosidade, que desafiam
constantemente a ordem pública e o sistema dominante. São, desde logo, locais que
suscitam um excesso de visibilidade estigmatizante, reprodutora de imagens e
representações assustadoras e repugnantes que estão na origem de um discurso político
sobre a insegurança urbana de que os media se encarregam de fazer eco (Cunha, 1996).
30
Mas estas representações não são apenas do senso comum. A própria
comunidade científica também não tem elegido estes bairros como locus de observação
e os seus habitantes como objecto de estudo, devolvendo esse conhecimento aos actores
sociais estudados e à população que os desconhece, mas com quem interage
quotidianamente. Aliás, é precisamente esse desconhecimento que tem gerado uma
reificação destes lugares, assente em especulações, estereótipos e preconceitos que estão
na base de imagens e sentimentos que sustentam um discurso hegemónico sobre a
insegurança urbana.
O notável engenho e arte destas populações (i)migrantes para construírem,
diariamente, pontes com a envolvente e vencerem as descontinuidades espaciais e
sociais, só tem paralelo na notável capacidade e imaginação dos poderes e agentes
instituídos para tecer obstáculos a essa continuidade. Este complexo jogo de interacção
social e cultural põe a nu uma correlação de forças profundamente desigual que, se do
nosso (Nós) lado bem conhecemos, porque fazemos parte desse sistema, do lado do
Outro precisamos de dar voz aos próprios para apreendermos o seu ponto de vista e
então, entendermos o que falha no processo de diálogo intercultural (Wallet in Ragi,
1999: 95-113). São lugares remotos, na perspectiva da relação com os poderes
instituídos, porque esquecidos de todo o poder cujo desejo se obceca, como dissemos,
pela erradicação apressada. Contudo, uma aproximação a esta realidade diz-nos que são
lugares próximos, quanto mais não seja, porque espelham a aculturação a que estiveram
sujeitos os seus habitantes, durante o período colonial13. Como veremos na segunda e
terceira parte deste trabalho, são espaços profundamente humanizados, onde se gravam
trajectórias de vidas através de múltiplos fragmentos de projectos individuais e
colectivos, que marcam centenas de indivíduos, onde se fazem cruzamentos
intergeracionais que assentam numa pródiga capacidade destas populações para
reinventarem a tradição e para aceitarem a mudança. Pelo exposto, podemos desde já
reter a ideia de que a configuração destes territórios é de natureza multidimensional,
com uma forte densidade de nós de interacção (Leeds, 1973) e de processos
identitários, impossíveis de reduzir a uma atmosfera do exótico cá dentro.
Para fundamentarmos estas afirmações sem cair em rotulagens fáceis e
apressadas, ou na armadilha etnocêntrica que reforça a diferença através do excesso de 13 Referimo-nos, claro, aos imigrantes com origem nos PALOP, marcados pela nossa língua, religião e hábitos.
31
ênfase da própria diferença, recorremos a alguns contributos teóricos para melhor
entender os conceitos de estigma, marginalização social, roubo da pessoa e etiquetagem
social que estão no centro da nossa abordagem.
Como sabemos, o conceito original de estigma remonta aos gregos, que
utilizavam este termo para se referirem a sinais corporais, feitos com fogo ou cortes,
que evidenciavam algo de negativo no estatuto moral do seu portador. Este, ou era
escravo, ou criminoso, traidor, enfim, uma pessoa marcada, ritualmente poluída, que
devia ser evitada em lugares públicos (Goffman, 1982). O termo estigma chega aos
nossos dias com contornos diferentes, mas usado sempre como um atributo
profundamente depreciativo, num contexto de linguagem das relações sociais. Segundo
Goffman, um atributo que estigmatiza alguém, que o torna diferente de outros e o torna
uma espécie menos desejável (efeito de descrédito), pode confirmar a normalidade de
outrem. O estigma “é um tipo especial de relação entre atributo e estereótipo...
acreditamos que alguém com estigma não é completamente humano e, na base disso,
fazemos vários tipos de discriminações, reduzindo, deste modo, as suas chances de vida.
Construímos uma ideologia para explicar a sua inferioridade e dar conta do perigo que
ela representa, forjando, algumas vezes, uma racionalidade baseada noutras diferenças,
tais como as de classe social” (Goffman, 1982:12-13), ou de identidade étnica,
conduzindo a uma marginalização social (San Roman, 1986:142). Assim, o indivíduo
estigmatizado pode, ao aproximar-se dos outros, vacilar entre o retraimento e a
agressividade, tornando-se a interacção, face a face, potencialmente violenta. A resposta
do outro, para evitar essa conduta, pode traduzir-se num agir como se ele fosse uma
não-pessoa (Goffman,ob.cit.:27). Este processo de ordenação de elementos
estereotipados, cognitivos, que vão negando progressivamente os atributos de
personalidade social, de pessoa, é responsável pela criação de situações de
marginalização social. Esta perspectiva parece extensível a um conjunto de indivíduos
que têm em comum partilhar um espaço, o bairro Estrela d’África, e possuírem histórias
de vida similares, marcadas pelo processo migratório. Com efeito, são atribuídas aos
moradores características que funcionam como um estigma que recai sobre a sua
identidade social e cultural, desfigurando-a. A cor da pele é um estigma imediatamente
perceptível, a que acresce o estigma de viver num bairro definido a partir de suposições
virtuais, isto é, a priori desorganizado, perigoso, ninho de marginais. Esta identificação
32
não obriga a um conhecimento pessoal, pelo que se pode considerar que há, neste caso,
manipulação do estigma (Goffman,ob.cit.:61), isto é, a estereotipia ou o “perfil” das
nossas expectativas normativas em relação à conduta e ao carácter dos moradores do
bairro, especialmente dos jovens, é criada fora do conhecimento face a face. Esta
manipulação do estigma pertence à esfera pública, ao contacto entre estranhos
(Grafmayer, 1998:61-77) e tem como outro extremo a intimidade. Assim, a
familiaridade pode reduzir o menosprezo mas não anula o preconceito.
Como referimos inicialmente, quando alguém se aproxima de um bairro como o
Estrela d’África, tem uma visão apocalíptica do espaço físico e social que se traduz na
ideia de que se trata de um bairro completamente desorganizado, densamente povoado
por pessoas de origem africana, pobres que coabitam de forma mais ou menos
promíscua, como se de um gueto se tratasse, onde se refugiam marginais e onde o
perigo espreita a toda a hora. Esta visão sustenta o imaginário daqueles que nunca
contactaram de perto com esta realidade e está na origem de imagens e estereótipos que
povoam o seu pensamento e que originam, frequentemente, atitudes de medo e de
marginalização (Romani,1996:305)14, de xenofobia e racismo, criando tensões que
levantam barreiras à comunicação entre populações.
São infindáveis as histórias que se contam, quer por parte dos residentes, quer
por parte daqueles que, directa ou indirectamente, têm de lidar com o bairro. Um dia,
uma moradora do bairro, com um filho doente ao colo, que apanhou um táxi no Hospital
Fernando da Fonseca, pediu ao motorista que a levasse ao bairro Estrela d’África, local
onde residia; este recusou aproximar-se do bairro, dizendo que receava parar perto
daquela zona porque só se ouvia falar de marginais a viverem por ali; pediu desculpa
por deixá-la um pouco longe, afirmando que ela até parecia boa pessoa. O exemplo que
utilizamos dos taxistas15 é elucidativo deste jogo do encobrimento e do estigma que
acaba por ter uma aderência por parte dos moradores, que criam do seu habitat e de si
próprios uma identidade negativa. Esta é revelada, por exemplo, pelo morador/a do
bairro que apanha um táxi e pede para o motorista parar perto da estação da Damaia e
não para este parar no bairro Estrela d’África; pensa que, se revela o local onde reside,
de imediato o taxista fica desconfiado do seu cliente, devido ao meio onde vive e acaba
14 Oriol Romani (1996), desenvolve o tema da Antropologia da Marginalização referindo as dificuldades de encontrar definições minimamente sistemáticas, realmente, teóricas deste conceito, p. 305. 15 Veremos, na parte III deste trabalho, que nem todos os taxistas se posicionam desta maneira.
33
por caracterizá-lo, consciente ou inconscientemente, com atributos sociais
estigmatizantes.
Com efeito, os mecanismos de etiquetagem social, sistema de ideias e de
representações, sobre as populações residentes neste tipo de habitat actuam sobre o
comportamento dos indivíduos concretos que, pela natureza, naturalidade, língua,
tradições, se vêem imersos numa trama social que afecta directamente as pessoas e a
própria identidade individual. Neste sentido, a etiquetagem social restringe a liberdade
de opção dos indivíduos, encapsula-os e precondiciona a sua própria interacção
(Pujadas, 1993:54). Ser jovem, negro, mal vestido resulta numa categoria que faz parte
da galeria dos marginais, porque corresponde a um modelo negativo de cidadão. A
agravar este aspecto, o sistema judicial, baseado num edifício legislativo que tipifica os
desvios à norma e legitima as penalizações, aplica um poder hegemónico que não se
compraz com regras e valores de grupos com especificidades socio-culturais. Como
refere este autor, existe um conjunto de categorias subjacentes que se projectam nas
nossas interacções quotidianas, que configuram o sistema de atitudes e de
comportamento que são relativamente independentes do nível ideológico explícito que
constitui o sistema de ideias e de representações16 (Pujadas, 1993).
Tendo como pano de fundo este ambiente urbano, a abordagem em torno da
construção das identidades e dos processos de socialização tem um interesse particular,
sobretudo, para melhor compreendermos o sistema de comportamentos das crianças e
dos jovens do bairro Estrela d’África.
Para Pujadas (1993:58), pode-se entender por socialização o processo de
introdução de um indivíduo na realidade objectiva de um grupo social. Na socialização
primária, o indivíduo familiariza-se com a realidade objectiva do seu meio social,
captando tanto os valores morais, como as definições consensuais, assim como os
padrões de comportamento próprios do seu estatuto e idade. Mais tarde, o adulto
empreende a sua socialização secundária, relacionada com as suas opções individuais
que o vinculam a grupos ou esferas particulares de interacção, grupos de interesse que
têm os seus próprios códigos e valores particulares, em confrontação com outros grupos
sociais. O indivíduo está perante definições da situação que uma multiplicidade de
pessoas e instâncias do seu meio fazem da realidade objectiva. Essas definições ou
16 Segundo Pujadas, este sistema tem autor: Althusser.
34
etiquetas que ele aceita ou interioriza, identificam-no, subjectivamente, com a realidade
objectiva de um grupo particular, incluindo-se aqui a estratificação que o dito grupo
impõe como marco de papéis e normas específicas que faz prevalecer (Pujadas,
1993:59).
Nesta perspectiva, vejamos quais os atributos que, em nosso entender, estão na
base da espiral da estigmatização (Haumont, 1996: 85-92)17 e por conseguinte, dos
processos de segmentação das populações residentes em bairros como o Estrela
d’África, na Amadora.
1.1.2. Identificando um discurso hegemónico: o perpetuar do cru e do
cozido da história da experiência humana
Como vimos, é através de um processo de etiquetagem social que se alimenta a
imagem distorcida e estigmatizante sobre o habitat e os moradores de bairros como o
Estrela d’África, que resulta na homogeneização da diferença económica, social e
cultural, que poderíamos sintetizar na ideia redutora de que se trata de um gueto onde
reside uma população africana com elevado grau de pobreza, que funciona como uma
comunidade.
- O gueto
Hoje em dia as palavras gueto, periferia, marginais, insegurança são utilizadas,
quase diariamente, pelos meios de comunicação social, pelos políticos, técnicos e
população em geral. Poucos destes conhecem de perto a realidade de que tanto se fala,
mas o facto é que estas ideias estão cada vez mais presentes na mente do urbanita.
Contudo, este tipo de imaginário interfere com as emoções, medos, fantasmas que
dificultam, cada vez mais, a interacção entre diferentes tipos de espaços e pessoas que
integram a cidade. Como refere Pierre Bourdieu, as grandes oposições sociais
objectivadas no espaço físico tendem a reproduzir-se no espírito e na linguagem sobre
17 Segundo Carmel Camilleri (1996), a estimatização pode ser definida com uma forma de exclusão realizada a partir da atribuição de um carácter considerado negativo pelo menos pelo estigmatizador... envolve habitualmente uma conotação de desvalorização, p. 85.
35
a forma de oposições constitutivas de um princípio de visão e de divisão, quer dizer,
enquanto categorias de percepção e de apreciação ou de estruturas mentais
(1993:254). Deste modo, as distâncias espaciais e as distâncias sociais vão-se
incorporando nas estruturas da ordem social e, desde logo, vão hierarquizando espaços e
pessoas. Deste modo, o bairro estigmatizado degrada simbolicamente aqueles que o
habitam e que, por sua vez, o degradam simbolicamente, já que, estando privados de
todos os trunfos necessários para participar nos diferentes jogos sociais, não partilham
senão a sua excomunhão comum (Bourdieu, 1993:261). O bairro é o espelho da
distância ou, mesmo, a ausência do Estado18, isto é, da escola, das instituições sociais e
de saúde, das autarquias e até, das associações locais e da omissão destes contextos, ao
longo de décadas, de políticas e programas. As desigualdades urbanas criadas por esta
ausência e o discurso em torno do tema da guetização têm um ponto em comum: a
culpabilização das populações residentes da degradação do ambiente urbano, da
insegurança, da marginalidade, sendo que os jovens residentes nestes bairros e
respectivos gangs são os grandes protagonistas deste quadro urbano.
No caso da cidade-concelho da Amadora, o uso do termo degradado aplicado
aos bairros de habitat espontâneo, inclui, mesmo que de forma subconsciente, os
indivíduos aí residentes, forçosamente feios, porcos e maus e contém uma série de
conotações semânticas que reforçam os juízos de valor sobre o síndroma da guetização,
que é responsável pelos males da cidade; através de uma amálgama de referências
espaciais e sociais, a marginalidade do espaço transfere-se para as pessoas, que acabam
por ser marginais tal qual o território que habitam, transformando-o num lugar de
gerações perdidas.
É corrente falar-se numa cultura de gueto, que se traduz em maneiras de pensar
e de agir específicas que são transmitidas entre os moradores, de forma mais ou menos
fechada, formando um nicho ecológico com fracos contactos com o exterior. Porém,
por detrás dos sinais de homogeneidade de negritude e de pobreza, existe uma profunda
heterogeneidade. Se existe um ghetto way of life, ele consiste numa teia tecida
18 Claro que a intervenção do Estado não pode significar apenas a construção de grandes complexos habitacionais onde são engavetadas as pessoas, como é o caso dos conjuntos de habitação social do tipo Plano Integrado do Zambujal da Buraca/Amadora.
36
interpares de diferentes estilos de vida19 individuais e de grupo (Hannerz, 1969:11-12)
20.
Ora bem, talvez seja o momento para reflectirmos um pouco sobre este tipo de
associações e convergências que têm muitas vezes como pano de fundo as imagens do
ghetto e dos gangs marginais nos EUA, que entram em nossas casas, sem pedirem
licença, por via dos media e que fazem crer que o problema é a tendência destas
populações para desafiarem a ordem pública e o civismo urbano. Deste modo, ao
culparem a vítima, as causas reais ficam por decifrar como, por exemplo, o profundo
desenraizamento das populações, especialmente dos mais novos, ‘cujos instrumentos
tradicionais de reprodução e de representação colectivas se tornaram obsoletas pelas
transformações recentes do mercado de trabalho e do campo político (Wacquant,
1993:263). Segundo este autor, bairros da periferia como os banlieue21 franceses e o
ghetto americano são duas constelações socio-espaciais profundamente diferentes na
sua estrutura, trajectória e dinâmica (Wacquant, ob.cit.:264), não se aplicando o mito
das cidades-ghetto ao caso francês. Apesar de terem em comum o facto de serem zonas
que se situam na mais baixa hierarquia urbana, estes dois tipos de espaço são muito
diferentes do ponto de vista da composição social, da textura institucional, da função
no sistema metropolitano e, sobretudo, nos mecanismos e princípios de segregação e de
agregação de que eles são o produto (Wacquant, ob.cit.:265). A exclusão opera-se, no
caso americano, numa base racial tolerada ou reforçado pelo Estado e pela ideologia
nacional e no caso francês, a partir de critérios de classe, em parte atenuados pelas
políticas públicas. Estes, ao contrário dos ghettos americanos, não são conjuntos sociais
homogéneos, dotados de uma autonomia institucional e de uma divisão do trabalho que
sustentam uma identidade cultural unitária (Wacquant, ob.cit.:265). Penso que esta
ideia é bem aplicável ao caso português e particularmente, aos bairros de habitat 19 A expressão life style (felizmente vago) neste contexto significa um envolvimento individual com um jogo de modos de acção, relações sociais e contextos...que não são independentes dos papeis básicos da idade e sexo, Hannerz, ob. Cit. p. 34. 20 A obra Soulside: Inquiries into Guetto Culture and Community, Ulf Hannerz (1969) explica, no seu estudo antropológico sobre a Winston Street, em Washington, D.C., o significado de ghetto e das suas conotações pejorativas, referindo que este termo, ao contrário de inner city ou slum, refere-se mais à natureza da comunidade que ali vive e sua relação com o mundo exterior; uma definição sociológica de ghetto pode significar que este é habitado por pessoas que partilham uma característica social de grande visibilidade, que resulta na sua forma de viver; hoje em dia, é um termo de retórica social que pode estar ligado à cor dos moradores, associado ao preconceito étnico. 21 Sobre os banlieues franceses, existe uma série de publicações baseadas no síndroma da guetização; Contudo, há obras que se demarcam desta perspectiva, como sejam Hervé Vieillard-Baron (1996); Lepoutre (1997); Begag (1995); Rinaudo (1999).
37
informal da cidade da Amadora, entendida como periferia de Lisboa onde proliferam
bairros sociais, clandestinos e degradados22.
No entanto, o contributo de Wacquant vai mais longe e, tal como na realidade
parisiense, o contexto da Amadora pode caminhar para uma situação análoga. Assim,
paradoxalmente, parece útil pensar na organização e processos de construção de
identidades nos black ghettos da realidade americana para percebermos o que poderá ser
o reflexo de uma “radicalização de certos processus de dualização a germinar, hoje em
dia, nos bairros deserdados do hexágono”... Como um espelho deformado o “ghetto
americano oferece-nos o espectáculo do tipo de relações sociais susceptíveis de se
desenvolverem quando o Estado se demite da sua missão primeira, que consiste em
garantir a infraestrutura organizacional indispensável ao funcionamento de toda a
complexa sociedade urbana” (Wacquant, 1993:265). Ao levar a cabo uma ‘política de
erosão sistemática das instituições públicas, o Estado deixa entregue às forças do
mercado e à lógica do “salve-se quem puder, segmentos da sociedade, sobretudo
aqueles que, desprovidos de todos os recursos económicos, culturais e políticos,
dependem grandemente dele para aceder ao exercício efectivo da cidadania”
(Wacquant, ob.cit.:266). Segundo este autor, o debate científico e político em torno da
questão dos ‘enclaves segregados da inner city privilegia como causas maiores da
deterioração contínua destes espaços, o racismo, a cultura da pobreza, ou seja, a
depravação moral do proletariado negro, os efeitos perversos dos programas de luta
contra a pobreza e de ajuda social. Contudo, as políticas de desinvestimento urbano e
social do governo provocaram a desestruturação sistemática do ghetto, que se tornou um
verdadeiro purgatório urbano. Por sua vez, os media dão cobertura a alguns dos
excessos provocados pela luta quotidiana pela sobrevivência23. O sentimento de
insegurança que tem origem na pequena delinquência juvenil, o clima de tensão, a
violência endémica, o desemprego e sub-emprego, rejeição da escola e da economia
legal fazem com que não reste outra alternativa que a economia informal da rua e, por
22 Na obra Quartiers de Vie, Approche ethnologique des populations défavorisées de l’Île de la Réunion, publicada em 1991, Éliane Wolff, contrapõe à visão anárquica dos bairros de lata da referida Ilha, uma visão estrutural da organização social, no seio da qual as mulheres ocupam uma posição preponderante. 23 Éliane de Latour, num artigo sobre os Ghettomen, explica o que está na base de uma economia de predação, própria de jovens excluídos, que afirmam procurar as coisas normais que qualquer homem normal deve ter, encontrar um lugar, uma identidade na sociedade, onde não têm qualquer escolha, nenhuma presença, nenhum reconhecimento; eles forçam a passagem de uma economia a outra, de uma idade a outra, através do recurso a um sistema que eles inventaram. Eles não são dessocializados como muitas vezes nos parece mas, ao contrário, sobressocializados (1999:82-83)
38
consequência, o tráfico de droga. “O crescimento vigoroso deste capitalismo de
pilhagem (Weber in Waquant, ob.cit.:273) de que o tráfico de droga representa a ponta
da lança, é uma das principais causas da violência que atravessa o ghetto. A expansão
do comércio da droga é o sintoma mais visível de uma espécie de terceira-
mundialização da economia do ghetto” (Wacquant, ob.cit.:273).
Em todo o caso, e apesar de algumas semelhanças, os bairros de génese ilegal ou
os bairros sociais da Amadora, tal com os banlieue franceses, não são os ghettos
americanos, porque a história destes territórios dão-lhe uma configuração própria. Como
alerta Wacquant, a discriminação, a violência, a pobreza, o isolamento social estão
muito longe do caso americano, embora a evolução e o acentuar das desigualdades,
fruto de uma política neo-liberal que defende uma redução dos apoios, possam
aproximar-nos daquele tipo de sociedade, tornando realidade o mito da cidade-ghetto.
- Africano
A categoria de africano serve para definir toda um diversidade de populações
originárias do continente africano. No entanto, um caboverdiano é, como sabemos,
diferente de um guineense e dentro destes povos há também diferenças regionais,
etnico-linguísticas e simbolico-religiosas, com forte impacto na comunicação e nas
práticas culturais; do mesmo modo, um beirão é, de facto, um europeu mas, acima de
tudo, é um português de uma região com determinadas características. O que está
aqui em causa são as características fenotípicas que produzem um distância social
baseada na cor da pele, nos traços fisionómicos e não nas diferenças culturais.
É certo que a categoria de africano pode traduzir-se numa identidade pan-étnica
(Espiritu,1994) quando as populações de imigrantes, de origem africana, se unem para
reivindicar direitos de cidadania, exigindo a regularização da sua situação em Portugal,
ou a manifestação para contestar a violência racista contra os jovens, que leva, muita
vezes, ao assassinato. Neste caso, podemos considerar que a etnicidade é politicamente
construída (Nagel, 1994:157).
No caso dos jovens, os atributos sociais informais que advêm da cor da pele, as
humilhações, a suspeição e a hostilidade na interacção pública e privada demonstram o
poder dos estereótipos informais no moldar das relações interétnicas.
39
Vários trabalhos “destacam a importância da consciência étnica e/ou racial que
tende a cobrir o espaço de uma potencial consciência de classe” (Pujadas, 1993:43).
Citando Sutton (1975:176), Pujadas afirma que alguns grupos de migrantes entendem a
estratificação laboral em termos de divisão étnica e racial, mais do que em termos de
classe e isto deve-se a que “a experiência mais directa quanto a expressões de
hostilidade recebem os imigrantes da classe trabalhadora da sociedade receptora; a
rejeição pode ser em relação a certas formas de bagagem cultural dos imigrantes, o que
reforça a diferenciação étnico-cultural, ou a rejeição é baseada nas características
fenotípicas, o que reforça a sua identidade racial. Neste caso, os marcadores primários
dos grupos raciais são os traços fenotípicos e não culturais que acentuam o contraste
entre os grupo migrantes e os dominantes. A identidade étnica fundamenta-se na
existência (real ou fictícia) de um passado ancestral que pré-existe à existência social do
grupo, no momento do contacto inter-étnico e baseia-se na acumulação de uma série de
elementos seleccionados dentro de uma herança cultural, que serve para simbolizar a
distintividade do grupo. Estes elementos definidores da diferença não são percebidos,
nem pelo grupo, nem pelos grupos circundantes, como traços de oposição das
características definidoras do grupo dominante. A taxiconomização racial resulta mais
de uma imposição unilateral da elite dominante, a identidade étnica constitui mais uma
realidade auto-definida, que reflecte em si mesma a própria posição do grupo ou
minoria, em relação ao marco socio-político global em que ele se insere” (Pujadas,
ob.cit.:44).
Como fenómeno moderno que emerge das sociedades tecnologicamente
desenvolvidas, a identidade étnica é uma opção do grupo, através da qual os recursos
são mobilizados com o objectivo de assegurar o controlo do sistema político e dos bens
públicos, em benefício da colectividade. Por conseguinte, consiste num processo em que
os indivíduos são reconhecidos por um ou outro grupo. Segundo o paradigma de Cohen
(1978:392), é importante distinguir a identidade étnica, que é definida pelo próprio
grupo, da identidade minoritária que é definida do exterior para o grupo; neste caso, é a
existência de uma maioria dominante que impõe as normas e formas desiguais de troca
sobre o grupo minoritário. A estratificação social é a figura dominante na relação
minoria/maioria e, nesta perspectiva, uma minoria não é necessariamente um grupo de
reduzidas dimensões; como vimos atrás, o que acontece é que os seus membros estão
40
sujeitos a formas de discriminação e de segregação pela denominada maioria que detém
o poder sobre os sectores económico, político e social da sociedade. Neste contexto, a
etnicidade pode ser o idioma de certos grupos etnico-culturais, que expressam, deste
modo, um conjunto de traços distintivos socio-culturais, que definem uma partilha de
identidade pelos membros e não membros de uma comunidade; é uma sucessão
dicotómica de inclusividade e de exclusividade (Cohen, 1978). Deste modo, a
etnicidade é um processo subjectivo de identificação do grupo, no qual as pessoas usam
as marcas étnicas para se definirem a si próprias e à interrelação com os outros.
- A Pobreza
Há, igualmente, uma tendência para considerar que o que é africano é pobre,
esquecendo que o que está em causa nestes contextos é o limitado acesso aos recursos
por parte da população (i)migrante, que alimenta a desigualdade de oportunidades.
Por conseguinte, a pobreza serve também para classificar socialmente a
população residente no bairro, como se esta formasse um grupo deprimido, condenado
ao fracasso, constituído por famílias multiproblemáticas, isto é, desestruturadas,
instáveis, desorganizadas socialmente, que reproduzem o ciclo dessa pobreza,
transmitindo-a às gerações seguintes, criando uma cultura própria. Assim, é suposto
desenvolverem aquilo a que Oscar Lewis (1966) chamou cultura da pobreza24 (Lewis
in Gmelch e Zenner, 1996:393-404) e formarem um nicho ecológico com fracos
contactos com o exterior, a que vulgarmente se chama gueto.
No entanto, sabemos que, como refere Hannerz (1969:13), no seu estudo
antropológico sobre a Winston Street, em Washington, D.C., ao aproximarmo-nos de
escalas mais pequenas das estruturas sociais, não as podemos analisar isoladamente, 24 Oscar Lewis utilizou a expressão cultura da pobreza para designar um modelo conceptual específico que descreve, em termos positivos uma subcultura da sociedade ocidental, com a sua própria estrutura e racionalidade, um modo de vida transmitido de geração em geração ao longo da linha familiar. Uma cultura da pobreza não é, pois, uma questão de privação e de desorganização, um termo que significa a ausência de qualquer coisa. É uma cultura no sentido antropológico tradicional que proporciona aos seres humanos um modelo de vida, com um conjunto de soluções para os problemas humanos, e portanto, tem uma função adaptativa relevante. Este estilo de vida transcende as fronteiras nacionais e as diferenças regionais e rural-urbano, dentro das nações. Onde quer que ocorra, os seus praticantes exibem uma notável semelhança na estrutura das suas famílias, nas relações interpessoais, nos hábitos de consumo, nos seus sistemas de valores e na orientação temporal” in Friedl, John and Chrisman, Noel J. (1975:392). Este conceito, pelas suas consequências na categorização das populações, sofreu severas críticas de autores como Anthony Leeds, (1971), Edwin Eames and Judith Goode, in Gmelch, G. e Zenner, W., (1996).
41
mas como um todo, isto é, a pobreza e a discriminação são causados por determinantes
macroestruturais cujos constrangimentos, impostos pela sociedade mais vasta, têm um
impacto contínuo nos moradores do chamado gueto; por isso, é necessário ter em conta
a natureza das influências do exterior e as dificuldades de acesso aos recursos e estatuto
dentro do sistema socio-económico dominante, que se traduz, na maior parte das vezes,
numa insatisfatória mobilidade social.
Como veremos mais à frente, a nível das condições socio-económicas entre os
moradores do Estrela d’África, as diferenças são substanciais, porque existem pessoas
que podemos incluir no grupo dos pobres, com um rendimento mínimo, aquelas que têm
uma condição menos precária e aquelas que têm uma situação de desafogo, devido às
poupanças realizadas, ou porque são proprietários de pequenas empresas de construção
civil, ou de espaços de restauração, de cabeleireiros, de pequenas mercearias, de uma
banca no mercado para venda de peixe, ou simplesmente, fazem venda na rua, de
vestuário, comida, produtos tradicionais.
- Comunidade
Atribui-se, vulgarmente, a designação de comunidade25 às populações residentes
nos bairros com o perfil do Estrela d’África e mais uma vez se homogeneíza a
diferença. Aqui, comunidade é sinónimo de tribo e mais do que realçar os aspectos que
marcam a diferença pela positiva, como sinónimo, por exemplo, de fortes laços de
solidariedade intergeracionais, de redes de parentesco, vizinhança, relativamente a uma
sociedade envolvente que enaltece o individualismo como condição de sobrevivência e
consequentes patologias individuais e colectivas, à noção de comunidade está
subjacente a reificação destes lugares e o perpetuar do cru e do cozido da história da
experiência humana.
Contudo, como sugere Suttles, ao referir-se ao bairro Addams, o mais antigo
bairro de lata de Chicago, um olhar atento e mais profundo sobre esta realidade
consegue verificar que “as práticas sociais dos residentes não são uma inversão da
sociedade mais lata; nem a periferia é uma ilha cultural com as suas tradições próprias e
importadas; na sua estrutura interna, delineam-se distinções comuns como idade, sexo,
25 Sobre a construção simbólica da comunidade ver Anthony Cohen (1985).
42
territorialidade, etnicidade e identidade pessoal; alguns costumes étnicos foram
preservados e numerosos localismos foram desenvolvidos” (1968:3). As diferenças
culturais e as relações de desigualdade existentes no seio destas populações
transformam estes microcosmos em espaços segmentados. Por isso, não podemos cair
na armadilha do comunitarismo, porque o apelo à comunidade é uma estratégia de
refúgio que garante a segurança colectiva quando esta se vê ameaçada.
Como veremos na segunda parte deste trabalho, a população cabo-verdiana na
Amadora, é classificada de diferentes modos, quer internamente (veja-se a distinção
feita pelos próprios, entre badios, mais escuros, violentos, atrasados, com mais
influência africana e sampadjudos, mais claros, letrados, matreiros, vaidosos, com
mais influência europeia), quer externamente, como uma comunidade homogénea, com
uma cultura forte e expressiva, o que acaba por se reflectir na forma como os indivíduos
e grupos se manifestam. Contudo, esta visão folclorista da comunidade pode ser
rejeitada, se as audiências forem, por exemplo, técnicos da autarquia local, porque se
pretende, por exemplo, negociar o acesso a uma habitação social e não se quer destacar
as diferenças culturais, pelas dificuldades que podem suscitar. Porém, nas Festas do
Município, podem aparecer grupos de cabo-verdianos que desfilam ou actuam
inventando tradições (Hobsbwam,1983), criando uma imagem de forte identidade
etnico-cultural.
1.1.3. Um contexto interétnico com diferentes estratégias identitárias
As sociedade modernas caracterizam-se pela presença de povos com maiores ou
menores diferenças culturais, linguísticas e religiosas. Este mosaico de culturas, em
países como os EEUU, criou uma imagem de melting pot isto é, de cadinho, de mistura
de raças, que tendencialmente eliminaria as distinções étnicas, através de uma
inevitável assimilação. Esta ideia evolucionista tem sido, ao longo dos anos, posta em
questão pela actual emergência de novos grupos étnicos, o que deu origem ao
desenvolvimento de um modelo de etnicidade26. Este ‘vinca o carácter fluido,
situacional, volátil e dinâmico da identificação, organização e acção étnica e enfatiza os 26 Sobre este debate, ver a obra de Marcus Banks, 1997 [1996], sobretudo capítulo 3, pp.69-87, no qual é explanado o ponto de vista de Glazer e Moynihan, através da obra Beyond the melting pot (1970 [1963]).
43
aspectos construídos da etnicidade, isto é, das formas como as fronteiras, as identidades
e culturas étnicas são negociadas, definidas e produzidas, através da interacção social
dentro e fora das comunidades étnicas’ (Nagel, 1994:152). Este ponto de vista
construtivista tem, como argumento base, que a origem, o conteúdo e a forma da
etnicidade reflectem as escolhas criativas dos indivíduos e grupos e a forma como se
definem a si próprios e aos outros, em termos étnicos. Deste modo, erguem-se fronteiras
étnicas, dividindo umas populações ou juntando outras (Barth, 1976). A etnicidade é,
pois, construída fora do contexto da língua, religião, aparência, ascendência ou
regionalismo. A localização e o significado particular das fronteiras étnicas são
constantemente negociados, revistos e revitalizados, tanto pelos próprios membros do
grupo étnico como também pelos observadores do exterior (Nagel, 1994:153). Contudo,
numa perspectiva primordialista, uma etnicidade socialmente construída não nega as
bases históricas do conflito ou mobilização étnica.
As migrações de milhares de pessoas, de áreas rurais para zonas urbanas e do
Sul para o Norte, vão reconfigurando as fronteiras étnicas, geralmente, acentuando
conflitos devido aos processos de segregação espacial, laboral e cultural. Como
veremos, na primeira parte deste trabalho, tal processo tem muita visibilidade em
Portugal, nomeadamente, na Área Metropolitana de Lisboa, com particular relevo na
Amadora, onde as populações imigrantes encontraram condições muito precárias de
vida. Apesar da ausência de políticas de acolhimento das populações (i)migrantes, estas
sobreviveram, como dissemos atrás, graças à genial capacidade de criar e recriar, desde
o início dos anos 70, os modos de vida, reconfigurando as histórias de vida, as fronteiras
intra e inter grupos e o conteúdo e significado da sua etnicidade.
Ao contrário do que se passa na Inglaterra ou nos EEUU, esta etnicidade tem
uma expressão muito silenciosa, isto é, é forjada e alimentada fora dos holofotes dos
media ou das grandes manifestações. É vivida atrás dos bastidores, no interior dos
bairros e na relação destes com a envolvente. Manifesta-se nos ritos de passagem,
também eles uma simbiose de componentes culturais trazidos de regiões diferentes, na
forma de confeccionar os alimentos, na forma de envolver o corpo com os panos ou a
cabeça com o lenço, na língua crioula e nos ditos populares e de chiste e em muitos
outros elementos que dão conteúdo e significado à sua identidade e cultura, em contexto
urbano.
44
O que importa aqui realçar é que a etnicidade não é um legado histórico das
migrações ou colonialismo, mas uma redefinição e reconstrução constante, que tem
como pilares a identidade e a cultura, os quais são fundamentais para o projectos
centrais da etnicidade: a construção de fronteiras e a produção de significado (Nagel,
1994). A autora interroga-se sobre questões como, por exemplo, os processos pelos
quais a identidade étnica é criada ou destruída, reforçada ou enfraquecida, em que
medida ela é o resultado de processos internos, ou definida e motivada por pressões
externas, quais os processos que motivam a construção de fronteiras étnicas, a relação
entre cultura e identidade étnica, como é que a cultura é produzida e transformada e que
processos sociais servem para a construção da cultura. Estes são analisados como
aspectos emergentes e problemáticos da etnicidade, especificando os mecanismos,
através dos quais os grupos se reinventam, destacando a natureza situacional e
interaccional da etnicidade (Cohen, 1978).
A identidade é uma dimensão essencial para a compreensão dos indivíduos e dos
grupos sociais. Um dos mais importantes contributos para a teoria da identidade social
reside no enfoque situacionista de Barth (1976)27 e Epstein (1978).
O enfoque essencialista ou primordial identificava o comportamento dos grupos
étnicos na base de um repertório cultural que determinava as condutas, ao mesmo tempo
que definia os limites do próprio grupo. Barth vem contrapor uma teoria que insiste no
carácter generativo, processual e adaptativo, por meio do qual os grupos étnicos
regulam o seu comportamento, sob a forma de uma dialética entre as características
socio-culturais e as circunstâncias específicas (ecológicas e políticas) da sua interacção
inter-grupo. Assim, os grupos deixam de ser analisados como instâncias naturais, mas
como categorias de identificação, reconhecidas explicitamente pelos indivíduos como
instâncias reguladoras da interacção entre as pessoas’ (Pujadas, 1993:49). Segundo este
autor, a reflexão mais fértil de Barth foi o assinalar da natureza cultural dos fenómenos
de identidade étnica (Barth, 1976 in Pujadas, 1993).
Outra contribuição fundamental foi a de Epstein, na obra Ethos and Identity
(1978), na qual este destaca o carácter instrumental e adaptativo dos comportamentos
étnicos em situações de inserção urbana. Destaca a existência de um componente
subjectivo e irredutível a qualquer análise instrumentalista, que define como
27 Sobre Frederik Barth, ver Marcus Banks, obra cit. cap. 2, pp. 11-17.
45
componente afectivo (Pujadas, ob.cit.:50). Este factor afectivo explica como a carga
afectiva, implícita ao sentimento de pertença e na lealdade para com o grupo étnico,
explica a grande capacidade de mobilização e a resposta à chamada dos líderes étnicos
fundamentadas nos apelos primordialistas; este conceito de Epstein centra-se no
conceito de Mayer do processo de encapsulação (Epstein, 1978, Pujadas, 1993),28 no
sentido em que essa carga afectiva do sentimento de pertença gera uma leitura entre os
membros do grupo étnico que partilham interesses e significados (shared
understandings) comuns e que os têm de defender activamente. Deste modo, a
identidade étnica está estreitamente associada à questão das fronteiras. As fronteiras
étnicas determinam quem é membro e quem não é e designam quais as categorias
étnicas que são válidas para a identificação individual, num espaço e tempo particulares
(Nagel, 1994:154).
Na sociedade portuguesa, há momentos em que as fronteiras étnicas parecem
enfraquecer-se devido aos casamentos mistos, à utilização comum da língua portuguesa,
ao facto de a religião católica ser tão abrangente. Porém, há momentos em que parece
reforçar-se, sobretudo, quando há conflitos laborais, ou no acesso à habitação, podendo
ter pontos altos quando a violência racista e xenófoba toma conta dos acontecimentos.
Nestas situações, os jovens parecem desenvolver mecanismos de afirmação de uma
identidade e cultura, que resulta da utilização de componentes de várias matrizes
culturais e sociais, com múltiplas influências. Estes casos servem para reforçar o
carácter mutável e situacional da identidade étnica, que está para lá da ideia de que a
etnicidade tem base na cor das pessoas, é um produto das prescrições sociais, uma
forma das pessoas se rotularem mutuamente (Barth, 1976) e pode mudar no dia a dia, de
acordo com a variação das situações e das audiências.
Por conseguinte, a “etnicidade é o resultado de um processo dinâmico que
envolve opiniões e processos internos e externos, bem como a auto-identificação
individual e as designações étnicas exteriores...uma vez que a etnicidade muda
situacionalmente, o indivíduo é detentor de um portfólio de identidades étnicas, que são
mais ou menos visíveis nas diversas situações e perante diferentes audiências” (Nagel,
ob.cit.:154). Neste sentido, ‘não é nenhuma diferença cultural a priori que faz a
28 O conceito de encapsulação vai ser utilizado, igualmente, por Hannerz, na obra de referência.
46
etnicidade’ (Sollors, 1989:xvi)29. Este autor refere que ‘os grupos étnicos são
tipicamente imaginados como se fossem unidades naturais, reais, eternas, estáveis e
estáticas...enfatiza-se a autenticidade e a herança cultural num qualquer grupo
idealizado (Sollors, 1989, xiv). Assim, ‘etnicidade não é uma estrutura, uma entidade, é
um processo’ (Chapman, et alli, 1989:9). Neste quadro, a etnicidade tem muito a ver
com as oportunidades e com o acesso, ou não, aos recursos disponíveis na sociedade de
acolhimento. O sistema de oportunidades e de desigualdades é particularmente visível
em meio urbano (Cohen, 1974:37-76).
Penso que este é um cenário corrente entre as populações imigrantes que vivem
na Amadora, em bairros como o Estrela d’África, mas são sobretudo os jovens que
traduzem para o exterior uma imagem de marca mais expressiva, através, sobretudo, de
diferentes idiomas e códigos, seja a forma de comunicar em crioulo, do vestir com
grifes30 dos dreadlocks, cortes de cabelo, brincos e tatuagens, da forma de vestir, da
música e da dança, até às dinâmicas de grupo e processos de construção da amizade.
O grupo informal analisado, os Estrelas Cabo-verdianas, não foge à regra,
apesar de, como veremos na terceira parte, traduzir um ethos que não é o mais corrente
entre os jovens. Os contornos de uma etnicidade latente são definidos em relação à
cultura de origem dos progenitores, maioritariamente, de origem cabo-verdiana, e não
importados dos EEUU, ou outros, resultantes do processo de globalização. Contudo,
não têm uma mobilização étnica de carácter político ou reivindicativo de acesso aos
recursos da sociedade, mas sim de carácter pedagógico e afectivo, sendo, muitas vezes,
o grupo o substituto da família.
Numa sociedade de tecnologia pouco desenvolvida, as condições de socialização
podem criar identidades socialmente definidas de antemão, porque existe um programa
institucional básico para a vida na sociedade. A situação é bem diferente nas sociedades
contemporâneas, dada a complexidade das opções, de alternativas, de diferenças
objectivas no processo de socialização primária e secundária, que convertem num
verdadeiro labirinto as trajectórias individuais, por vezes traumáticas, dos jovens
apreenderem a realidade social. (Pujadas, 1993:48).
29 Segundo este autor, a palavra etnicidade surgiu, pela primeira vez, em 1941, num livro de W. Lloyd Warner e tinha o adjectivo moderno no título. 30 Com roupa de marca, na linguagem dos jovens.
47
O caminho trilhado na presente pesquisa pretende contribuir, de forma
absolutamente modesta, para o conhecimento das microculturas juvenis, isto é, da
capacidade criativa dos jovens para construirem a sua cultura, participando activamente
na produção e circulação de bens culturais. Nesta perspectiva, pretende-se ilustrar, em
termos etnográficos, a relação entre as culturas juvenis e o espaço urbano, utilizando
como cenários, para esse efeito, um bairro particular, o Estrela d’África e uma cidade, a
Amadora. O objectivo é entender como vivem os jovens neste contexto, como são
experimentadas as etapas do ciclo vital entre a adolescência e a fase considerada adulta,
relevando a importância dos espaços de ócio na estruturação das identidades. Inseridos
numa sociedade complexa, cujo modelo dominante obriga a um período de moratória
social (Galland, 1999 e 2001), que constitui uma folga intergeracional (Pais, 1996:323),
durante o qual são sujeitos a um processo de aprendizagem escolar que retarda a
entrada no mundo laboral, os jovens a que nos reportamos são protagonistas de estilos
de sociabilidade, que preenchem o vazio criado, tanto pela fuga da escola, como pelas
dificuldades de inserção laboral. No entanto, pareceu-nos importante não partir, a
priori, da ideia que só lhes resta dois caminhos: o conformismo ou a delinquência. De
facto, os canais de integração destes jovens na sociedade não estão desobstruídos, pelo
contrário, estão dificultados pelo facto de viverem num contexto com um background
imigrante, cujas referências parentais dominantes reportam-se a uma matriz híbrida,
construída a partir de uma cultura de origem alheia aos jovens.
1.1.4. O viver urbano no seu melhor
Como veremos na terceira parte deste trabalho, a importância das instituições
família e escola parece transferir-se para uma outra instituição que é criada e dominada
pelo jovens: o grupo informal ou a associação juvenil. Com efeito, os jovens, ao
identificarem-se mais com os seus pares que com os membros da sua classe ou etnia
(Feixa, 1999:43), criam um espaço considerado a sua família, onde há lugar para a
lealdade, a cumplicidade e a ajuda mútua, condutas cimentadas por vínculos afectivos e
por um conjunto de actividades, que funcionam como forças centríptas, que garantem a
coesão do grupo. De facto, os laços informais e as relações de amizade (Cucó i Giner
1995 e Bidart, 1997), forjadas a partir de sentimentos de afecto e de lealdade, são um
48
pilar fundamental na vida do grupo de jovens. Como refere Cucó i Giner (1995:22), as
pessoas, neste caso, os jovens, utilizam tais vínculos para ultrapassarem os diversos
problemas que têm de enfrentar na vida quotidiana. Este é o primeiro passo para criarem
microculturas que combinam personalidades particulares, localidades ou lugares de
encontro determinados e sociabilidades ou eventos que são experienciados em comum
(Amit-Talai e Wulff, 1995).
A observação empírica do grupo Estrelas Cabo-verdianas, contextualizada no
bairro Estrela d’África, que integra uma área intersticial com um habitat espontâneo,
conduziu-nos, como veremos, à trama cultural gerada por redes de sociabilidade e por
universos simbólicos que fazem parte das culturas juvenis presentes no tecido urbano. O
caso escolhido permitiu-nos, simultaneamente, superar as conotações desviacionistas e
patológicas31 e a perspectiva criminológica dominantes na abordagem dos grupos
juvenis, relevando-se os aspectos marcados por uma forte solidariedade interna, pela
amizade, afecto e sentimento de pertença. Pretendeu-se, assim, transferir o olhar de
ênfase da marginalidade para a da identidade, da delinquência para o ócio, do mediático
e espectacular para a vida quotidiana, as rotinas e as sociabilidades do grupo, que fazem
parte da vida dos jovens como actores sociais, afinal, o viver urbano no seu melhor.
Cartografar o território das relações sociais à luz de um contexto de mudança
protagonizado pelos jovens, pareceu-nos, pois, o caminho certo para entender o âmbito
e profundidade do impacto da mudança social nas práticas e comportamentos dos
indivíduos.
As fronteiras étnicas e as identidades são construídas tanto pelo indivíduo como
pelo grupo, bem como por agentes e organizações externas, de modo que a plasticidade
daquelas depende da interacção social entre pessoas e grupos distintos, do onde e com
quem se interage e do espaço e do tempo.
Com efeito, as políticas de imigração têm também um papel importante na
definição dos mapas étnicos. Quanto mais restrições, mais segregação, quanto menos
oportunidades forem criadas aos imigrantes, mais depressa estes passam da condição de
minoria para a de grupo étnico. Neste caso, é provável que as populações imigrantes
31 Esta perspectiva também predomina nos estudos sobre os jovens em Portugal, sobretudo, das grandes áreas urbanas, relacionando as culturas juvenis com comportamentos e práticas delinquentes. Sobre esta questão ver Gilberto Velho, (1985).
49
acabem por constituir nichos ou enclaves, habituando-se a conviver com a diversidade
étnica que influencia, por sua vez, a composição do tecido social e cultural das cidades.
As designações utilizadas pelos censos ou pelas entidades oficiais para
nomearem as populações de imigrantes contribuem, muitas vezes, para reforçar a ideia
de grupo étnico, mas pode também contribuir para diluir o grupo nos grupos de origem.
Por exemplo, a rotulagem das crianças e jovens como sendo africanos de segunda ou
terceira geração, quando eles pensam e agem como portugueses, urbanos, que têm mais
ou menos curiosidade em relação às tradições dos pais e, salvo poucas excepções, nunca
conheceram a terra natal dos pais e pouco ou nada sabem sobre ela e claro que, se se
continuar a reforçar a ideia de que são africanos e como não se identificam totalmente
com esta condição, poderemos ter, a breve trecho, uma geração de afro-portugueses
com um grau de etnicidade que varia com as oportunidades que a sociedade portuguesa
garantia a estes jovens.
Com efeito, a disponibilidade e o grau de acesso aos recursos, sejam eles a
habitação, o mercado de trabalho ou a terra, podem contribuir para enfraquecer ou
reforçar as fronteiras étnicas entre grupos, traduzindo-se numa maior ou menor
competição e conflito. As desvantagens das minorias, os processos de discriminação
podem também resultar numa ‘mudança étnica’ (Barth, 1976) para ganhar vantagens, de
forma consciente, quando os recursos são limitados” e quando há prerrogativas
exclusivas das minorias, isto é, quando se verifica uma discriminação positiva. Esta
estratégia pode resultar numa falta de autenticidade do indivíduo ou grupo face à sua
identidade e cultura de origem.
Podemos, então, concluir que ‘a construção de fronteiras étnicas através da
identificação individual, da formação do grupo étnico, dos atributos informais e das
políticas étnicas ilustram as formas como, nas sociedades, as identidades étnicas
particulares são criadas, enfatizadas, escolhidas ou descartadas. A identificação étnica
do indivíduo está fortemente limitada e influenciada por forças externas que moldam as
opiniões, a factibilidade e a atracção de variadas etnicidades’ (Nagel, 1994:161). Estas
forças são importantes na criação das fronteiras étnicas, mas o conteúdo e o significado
da etnicidade dos indivíduos e dos grupos tem a ver com a sua cultura e história. Estes
constituem uma caixa de ferramentas (Swidler,1986)32 cultural usada para criar
32 A metáfora de Kit cultural é definida por Swidler, Ann, 1986.
50
sistemas de significado e interpretação que parecem ser únicos face a grupos étnicos
particulares. Nesta perspectiva, a cultura determina o conteúdo de determinada
etnicidade e designa a língua, a religião, o sistema de crenças, arte, música, vestuário,
tradições e modos de vida que constituem uma etnicidade autêntica (Nagel, 1994:161).
Não é o recheio cultural que envolve o grupo, mas sim as fronteiras étnicas que definem
o grupo étnico (Barth, 1976:14-15). A cultura não é aqui entendida como algo acabado,
composto por bens herdados da cultura original, algo estático no tempo; pelo contrário,
construímos a cultura seleccionando e elegendo elementos, tanto da passado como do
presente. É muito revelador desta perspectiva a forma como são criados e recriados os
ritos de passagem no Estrela d’África. Por exemplo, a organização dos ritos de
passagem associados à morte. Durante o trabalho de campo, participei em alguns
funerais, durante os quais são servidas refeições aos parentes, vizinhos e amigos da
família enlutada; estas refeições são confeccionadas por uma organização de mulheres
e são servidas nos passeios das ruas envolventes ao bairro. Outro exemplo é a autêntica
prática de potlach (Mauss,1974:96) que acontece entre as famílias ciganas, por ocasião
de um casamento: aluga-se um campo de futebol ou um pavilhão polidesportivo e
desenvolve-se uma reabilitação de rituais tradicionais, sincreticamente mergulhados nas
novas opções religiosas. A tradição define o conteúdo central deste ritual, mas a forma
assume contornos diferentes da cultura de origem, não só porque as pessoas vivem num
espaço com constrangimentos, como também porque já estão habituadas a viver na
cidade e têm alguns hábitos adquiridos de que não prescindem. Por conseguinte, a
cultura é arquitectada, da mesma forma que as fronteiras étnicas são construídas, pela
acção dos indivíduos e grupos e pelas suas interacções com a sociedade mais
abrangente.
Com efeito, as fronteiras étnicas servem para determinar quem são, de que
tamanho são, quais as opções identitárias e como é a organização de determinada
minoria ou grupo étnico. Como refere Nagel (1994:162) ‘a cultura determina o
conteúdo e o significado da etnicidade, anima e autentica as fronteiras étnicas,
providenciando uma história, ideologia, universo simbólico e sistema de significado. A
cultura responde à questão: o que somos? É através da construção da cultura que os
grupos étnicos enchem o recipiente que Barth (1976) refere, reinventando o passado e
inventando o futuro.
51
Aos jovens, como os que integram o grupo Estrelas Cabo-verdianas, cabe,
muitas vezes, o papel de reconstrução da cultura histórica, através da reabilitação de
práticas culturais e de instituições e a construção de uma nova cultura que inclui a
modificação da cultura do quotidiano, mas também a inovação, através da criação de
novas formas culturais. Estas manifestam-se, como veremos, através de actividades,
símbolos e materiais renovados, isto é, adicionando ou removendo elementos dos
repertórios culturais, que fazem parte de um kit cultural, que se utiliza, como vimos
atrás, de acordo com as diferentes situações, ou seja, espaços e audiências. Estes
componentes ou formas culturais são reabilitadas ou relembradas e assumidas em novos
contextos, reintegrando-se nas práticas e na cultura contemporânea. Por exemplo, a
utilização de um crioulo misturado com calão e português por parte dos jovens do bairro
Estrela d’África, não obstante muitos pais proibirem a utilização do crioulo em casa,
para que os filhos não sejam segregados ou estigmatizados na escola ou no futuro
emprego.
Contudo, esta tentativa de interpretar as opções e formas de vida dos jovens não
pode ser desligada de todo um complexo fenómeno de construção social da
criminalização (Palidda, 1999:46) dos jovens, com a consequente responsabilização
pela insegurança urbana, sobretudo, daqueles que têm um background imigrante. Este
processo de criminalização insere-se numa questão mais vasta, que associa a imigração
a um problema e à insegurança, que condena os imigrantes a uma atitude delinquente
abrindo, deste modo, caminho para que estes se tornem um bode expiatório ou o
inimigo público número um das sociedades dominantes (ob.cit., Palidda). Esta questão
não é nova e tem acompanhado os estudos urbanos, desde os anos 20 do século passado,
quando se começaram a fazer os estudos sistemáticos sobre territórios dominados por
jovens de origens culturais diferentes. Tendo como pano de fundo a cidade de Chicago,
a atenção dos cientistas sociais virou-se para a ‘associação entre desorganização social e
violência, zona de transição e criminalidade, violência urbana e juventude’ (Zaluar,
1997:17). Para muitos autores, os processos (i)migratórios abriam brechas nos padrões
da sociedade tradicional, de que resultaram crises geracionais e dos idiomas de
parentesco, conterraneidade, vizinhança, que deixavam de guiar o comportamento dos
indivíduos, resultando, deste facto, a desorganização social (Thrasher, 1927; Wirth,
1928 in Zaluar, 1997). Outros autores defendiam a ideia de que a desigualdade de
52
acesso aos recursos e oportunidades de ascenção social é que estava na base da
frustração (Merton, 1965 in Zaluar, 1997). Outros, ainda, centraram-se nos jovens que
viviam nos guetos ou bairros pobres, ‘focalizando principalmente as práticas
governamentais, policiais e judiciais que classificavam os jovens de etnias
inferiorizadas ou camadas pobres como delinquentes, embora fossem apenas
adolescentes ou jovens vivendo em conflitos próprios da sua idade, naquilo a que
Mazda (1969 in Zaluar, 1997) chamou drift (estar à deriva) e que são alvo de processos
de banimento, baseados na rotulagem dos jovens e das organizações juvenis como
gangues de delinquentes ou tribos urbanas (Magnani, 2000), com carácter primitivo,
selvagem, responsáveis pelo vandalismo e violência.
Apesar do número baixo de jovens que enveredam por carreiras criminosas, paira
no ar toda uma atitude de desconfiança sobre as práticas e culturas juvenis, que gera
uma concepção panóptica33, isto é, uma vigilância permanente sobre estes contextos,
como se de submundos se tratasse. Há uma grande propensão para sobrevalorizar os
contextos desviantes e as sociabilidades que lhes estão associadas, em detrimento da
diversidade de estilos e formas culturais, de sentimentos de pertença e de amizade, que
predominam entre os jovens. Por isso, pensamos ser urgente conhecer e interpretar a
sociabilidade dos grupos de pares, as formas de interacção e as práticas que os
caracterizam, mesmo quando nos referimos a crianças e adolescentes de rua. Como
veremos, através da autobiografia de um jovem que viveu na rua durante vários anos, o
desejo de integração no grupo de amigos e de concretização de alguns sonhos tem uma
força integradora que precisa de ser complementada com novas oportunidades
garantidas pela sociedade envolvente. Pelo exposto, parece óbvio o interesse em
analisar o impacto que a mudança, operada pelos jovens, no modo de vida urbana, tem
na estruturação dos sistemas de relações sociais, nas redes de significados (Geertz,
1978) e idiomas, isto é, códigos, ritos e linguagens que marcam, indelevelmente, a
paisagem urbana.
33 Sobre o conceito de panopticon, ver a obra de Michel Foucault (1996 [1975]), na qual oautor explica o ‘olhar panóptico’ nas sociedades modernas que tem como função controlar uma multiplidcidade de indivíduos, mas com uma particularidade: as pessoas sabem que estão a ser permanentemente observadas e vigiadas, mas não sabem quando, porque não vêem quem as controla; é um poder visual que está ligado à classificação dos indivíduos.
53
1.2. Metodologia
O centro temático da pesquisa desenvolvida, isto é, o objecto de estudo foi a
cidade, olhada através de duas janelas de observação - um bairro e um grupo de jovens -
que constituem, respectivamente microcosmos e microculturas convocados para dar
visibilidade a um lado sensível dessa cidade.
O ponto de partida do presente trabalho surgiu da vontade de avaliar o impacto
da presença de bairros de habitat informal, como o Estrela d’África, e de grupos
informais de jovens, como os Estrelas Cabo-verdianas, no concelho-cidade da
Amadora, conferindo-lhe uma identidade, ora multicultural ora estigmatizada, que a
aproxima ou desvia do padrão das sociedades contemporâneas.
A construção de imagens da cidade, a partir destes microcosmos, tem conduzido,
como temos vindo a problematizar, à segmentação das populações ali residentes e desde
logo, ao acantonamento da variedade cultural, o que se tem revelado um marcador
simbólico no quadro da interacção social e cultural dos citadinos. Contudo, verificamos
que há movimentos de anti-estigmatização, muitos deles protagonizados por jovens,
através de estratégias de mediação com a sociedade envolvente. Exemplo desse recurso
à mediação são as associações, as redes familiares e de amigos, os grupos informais, a
que nos reportaremos na segunda e terceira partes deste trabalho.
Por conseguinte, tentamos uma aproximação à cidade, através de um grupo
informal de jovens, com base territorial num bairro de habitat informal que, por sua
vez, está inserido numa zona peculiar da cidade e, neste jogo de escalas, conhecer,
ainda, algumas facetas da cidade como um todo.
Várias questões se levantam, desde logo, com este estudo, que fazem parte da
galeria de teorias que foram e são hoje produzidas no campo da antropologia urbana.
Algumas dessas questões passam por identificarmos se estamos a fazer antropologia na
ou da cidade ( Gulick, 1989), isto é, se é contexto ou objecto de estudo, se estudamos
tribos urbanas (Maffesoli, 1990), aldeias urbanas (Gans, 1962), se nos debruçamos
sobre a casa pele, isto é, o urbanismo informal que se estrutura em função das lógicas
das populações, ou a casa noz, própria do urbanismo formal (Bosquet), se fazemos
estudos de comunidade a que se associa a cultura da pobreza (Lewis,1966) ou nos
centramos na acção colectiva (Costa, 1999), na produção de estilos culturais que
aspiram à mudança. Poderíamos desfiar um novelo de interrogações a que juntaríamos
54
um conjunto de paradigmas que corporizam a explicação e interpretação dos fenómenos
urbanos34. Porém, o objectivo deste trabalho é bem mais modesto, até pelo grau de
dificuldade na recolha e na tradução dos significados que os nativos fazem das suas
acções, comportamentos, formas de vida, rituais, que constituem o universo estudado.
1.2.1. O processo de pesquisa em contexto urbano: os limites da
aproximação ao real e a unidade e fragmentação de um terreno
Os princípios que nortearam a presente pesquisa etnográfica e as via pelas quais
a teoria encontra a sua aplicação foram identificados ao longo do processo de
investigação. Como sabemos, é um empreendimento que depende muito das
circunstâncias da sua produção. Por este motivo, faz sentido uma reflexão sobre esta
experiência única que é o trabalho no terreno, em que o instrumento principal do
trabalho é um conjunto de relações pessoais, por meio das quais o etnógrafo se liga a
uma rede cultural particular (Sperber,1992:55), a interacção e empatia estabelecidas
entre o antropólogo e o objecto de estudo, uma relação perpassada por ‘uma
objectividade flutuante, originada numa experiência repleta de tensões’ (Casal,
1996:111). Por isso mesmo, ousei romper o silêncio e falar dos labirintos que
atravessei, dos círculos que procurei ultrapassar, das incertezas e solidões, observando-
me como observadora, de molde a garantir um espírito crítico que está na base de toda
a produção deste trabalho.
O projecto de estudar a face sensível da cidade a partir, de dois pontos de
reflexão(Agier, 1996)35 - um bairro de habitat informal e um grupo informal de jovens -
obrigou-me à definição de uma estratégia de investigação que garantisse, logo à partida,
uma unidade de observação coerente que, de algum modo, permitisse questionar a
realidade, utilizando os contributos teóricos da antropologia urbana. Esta estratégia de
34 Vários autores serviram de base para o enquadramento teórico da antropologia urbana (cf. Apêndice, em anexo). 35 Sobre as diferentes janelas de reflexão sobre a cidade, este autor considera três possibilidades: a região, situações e redes como formas de aproximação à cidade, destacando a característica iminentemente interaccional da cidade, isto é, a urbanização dos modos de vida, através das mobilidades profissionais e residenciais, é muito mais rápida que a urbanização espacial; há que redefinir a cidade como mundo de relações.
55
investigação intensiva-qualitativa36 possibilitou a delimitação de uma unidade social
singular e pertinente, o bairro Estrela d’África e, dentro deste contexto, o grupo de
jovens Estrelas Cabo-verdianas, revestindo a forma de estudo de caso e de análise
situacional (Mitchell, 1987). Assim, o método da pesquisa de terreno assumiu um papel
determinante, recorrendo-se à participação observante (Spradley, 1980:29), com um
carácter intensivo e multifacetado, numa interrelação informal e sistemática com os
habitantes do bairro e em particular, com os jovens do grupo. Segundo o autor, este
método requer interacção entre pesquisador e sujeitos e uma certa participação nas suas
vidas, ‘partilha conscienciosa e sistemática, tão longe quanto as circunstâncias o
permitem, nas actividades da vida e nos interesses e afectos do grupo de pessoas’
(Spradley, ob.cit.:22) a estudar. É, pois, um procedimento de pesquisa, no qual o
investigador não participa na vida dos sujeitos para os observar, mas observa
efectivamente, enquanto participa nas suas vidas, conferindo-lhe um papel de
participante observador que vive e apreende o significado das acções individuais e
colectivas dos sujeitos. Neste sentido, a pesquisa significa socialização do investigador
na cultura estudada, cultura no sentido dado por Goodenough (in Spradley, ob.cit.:30),
isto é, ‘o que quer que seja que tenhamos de conhecer ou de acreditar, com o objectivo
de agir de maneira aceitável para os seus membros e fazê-lo no papel que eles aceitem
para todos eles’. Este processo de pesquisa, através de uma participação quase plena na
vida do grupo de jovens e através dela uma observação vivida da trama das relações dos
seus jovens membros e entre estes e o bairro, contribuiu para eliminar, em parte, a
distinção entre observador e fenómeno observado, discussão que faz parte da atitude
científica do paradigma positivista. Quero dizer que a observação não foi o principal
método de recolha de dados, a partir do trabalho de campo; a participação teve um lugar
de destaque, neutralizando situações e atitudes forçadas que não fazem parte da praxis
(Bourdieu, 1989) dos sujeitos.
A presença prolongada no terreno, ao longo de cinco anos, com contactos
regulares e dois anos de inserção permanente e sistemática, o contacto directo com
todos os intervenientes no processo de pesquisa, o carácter determinante da observação
directa e de participação activa no grupo de jovens contribuiram de forma decisiva, para
36 As obras de Graça Índias Cordeiro, (1997) e de António Firmino da Costa, (1999) foram fontes inspiradoras e deram contributos decisivos à compreensão do bairro e das dinâmicas socio-culturais locais.
56
a profundidade do trabalho e para a reformulação constante das interpretações e
questionamento da realidade. Também Michel Agier chama a atenção da importância do
trabalho de campo prolongado, referindo que “a profissão de etnólogo tem algo de
particular que se funda numa experiência de terreno que é, também, de forma
indispensável, uma implicação pessoal do investigador em relação aos seus
interlocutores e nos lugares, geralmente estranhos. É a propósito desta presença
participativa (e relativamente longa: vários meses ou anos) ...que se encetam permutas
entre diversos investigadores em ciências sociais” (1997:3)37.
Como refere Pina Cabral, “a observação participante prolongada encoraja o
etnógrafo a interessar-se mais pelo presente etnográfico e a ser mais céptico em relação
ao fascínio natural pela exótica e mítica sociedade tradicional (1991:61). Deste modo,
o autor chama a atenção das vantagens da investigação perto de casa uma vez que,
através desta, podemos evitar aquilo a que chamou efeito prospectivo da verdade
(1991:62); no caso da pesquisa at home, podemos contornar as grandes
descontinuidades na recolha de informação e assumir uma consciência crítica face à
comparação entre factos e experiências vividas em momentos distintos do trabalho de
campo.
Este método levanta, é claro, alguns problemas epistemológicos, nem sempre
fáceis de explicitar. Em todo o caso, ousarei colocar algumas interrogações.
Ao utilizar a participação activa como principal método de recolha de dados, tive
a vantagem de tornar possível a apreensão do significado das acções dos sujeitos,
porque comunicava com as pessoas, partilhando problemas, sentimentos, coisas triviais,
dialogando ou ouvindo comentários, desabafos feitos de forma natural, como se eu não
estivesse ali. Esta minha quase invisibilidade ter-me-á aproximado de uma posição de
elemento com tratamento quase igual aos outros? O meu papel estaria a ser aceite, ou eu
teria dominado o significado cultural dos actores, as suas regras emic e a sua lógica?!
Procurei validar o meu conhecimento, através da experiência quotidiana das pessoas,
interpretando os comportamentos e valores à luz da verdade, mesmo que esta posição
me desse a sensação de que estava a afastar-me do conhecimento científico e a deixar-
me dominar pelo senso comum. Muitas vezes, dei comigo a desconstruir a interpretação 37 Penso que este enfatizar da importância do trabalho de terreno prolongado é fundamental para marcar a diferença dos métodos da antropologia em relação a outras ciências sociais; um compromisso sério com os interlocutores e com os lugares estudados fazem parte de uma ética e de uma honestidade científica que não devem ser, a meu ver, negligenciados.
57
de um qualquer facto ou acontecimento com as próprias pessoas, procurando não
interpretar segundo os meus modelos de percepção da realidade, mas sim, a partir da
lógica dos próprios. Mas será que este modelo conferiu mais credibilidade ao meu
método de recolha de dados e à tradução da cultura das pessoas e, em particular, dos
jovens? Uma das armadilhas do trabalho de campo é, justamente, dar-nos a sensação
que tudo está no seu lugar, mas a desigualdade de poder e de recursos, entre o
observador e os observados, pode enviezar um esforço de genuinidade e honestidade
científica. Outra questão decorre da sensação de que, colocando-nos no lugar do outro
(Velho, 1987:127), resolvemos o problema da distância social e cultural. Então, como
resolvi esta questão? O acesso aos dados recolhidos, já transformados através da minha
interpretação, eram, muitas vezes, discutidos com alguns jovens, em particular, com o
líder do grupo, de forma a condicionar a minha forma de ler a realidade e a evitar
fantasias que não estavam lá, onde tudo acontece. Neste contexto, a forma como o meu
texto estava escrito e traduzia a realidade era uma das questões que mais importava
acautelar (Havelock, 1996). Não se tratava de um texto para validação científica (essa
viria mais tarde), mas da validade conferida por parte das pessoas, cujos modos e
histórias de vida eu ousava descrever, interpretar e transcrever para o papel,
transformando-as em discurso. Dialogando com as próprias pessoas, escutando-as com
uma sensibilidade de quem está do seu lado, parecia uma estratégia acertada para evitar
pseudo abstracções ou o afastamento da vida, reintegrando, desde logo, o sujeito na vida
quotidiana e na sociedade. A questão que se coloca, quando se acciona este dispositivo,
é avaliar a autoridade do texto etnográfico, produzido a partir de uma quase ausência de
figurino, ou, para ser mais precisa, a partir das dificuldades de conjugação de uma
mescla de teorias e métodos, para garantir a sua validade científica. Sendo a ‘aventura
etnográfica a ampliação do universo do discurso humano’ (Casal, 1996:80) 38,
acrescentar--lhe-ia a própria experiência metodológica do antropólogo, ao assumir o
trabalho de campo e a observação participante, ou melhor, a participação observante,
como actividade emblemática que está na base da textualização antropológica (Casal,
ob.cit.:88). Neste contexto, ousei experimentar um arranjo de métodos e técnicas a
partir da bateria de paradigmas disponíveis, preocupando-me, sobretudo, com a
adequação dos diferentes contributos relativamente ao objecto de estudo. 38 Nesta obra, o autor percorre os principais problemas teóricos e metodológicos que se colocam à Antropologia como disciplina e como ciência.
58
1.2.2. A escolha do bairro Estrela d’África
Vários factores contribuíram para a escolha do bairro Estrela d’ África como
lugar privilegiado desta pesquisa. Um conjunto de razões prende-se com o exercício da
minha actividade profissional, a qual determinou um contacto longo e intenso com
contextos habitacionais semelhantes ao deste bairro; um outro conjunto de razões tem a
ver com a escassez de estudos antropológicos e urbanos centrados em bairros de habitat
espontâneo e sobre cujas populações recai uma intensa construção de imagens que, na
maior parte dos casos, estão afastadas da realidade local. Este bairro, em particular,
apresentava-se com características que poderiam ser paradigmáticas de outros contextos
similares, nomeadamente, no que diz respeito ao perfil heterogéneo que apresentava, do
ponto de vista económico, social e cultural e às dinâmicas informais muito interessantes,
protagonizadas pelos residentes e em particular, pelos jovens. Apesar de tudo, a
tentativa de generalização teria de ser feita de forma muito cuidadosa, já que as
diferenças inter e intra-bairros se apresentavam com grande prevalência.
Com efeito, no desempenho da minha actividade como assistente social, na
Câmara Municipal da Amadora, responsável entre 1986 e 1993 pelos chamados núcleos
de habitat degradado do concelho, conheci bem as dificuldades destas populações em
se fazerem ouvir pelas autoridades locais e supralocais (Leeds, 1973)39 e em serem
aceites pela sociedade envolvente. A suspeição, o medo e a marginalização sempre
ditaram as regras de convivência com esta realidade, ali tão perto e tão longínqua. Mas
havia também aqueles que a olhavam com curiosidade, com paternalismo, sentindo uma
atracção pela atmosfera exótica que, em alguns aspectos, se poderia partilhar, sobretudo
nas datas da independência dos respectivos países de origem. Contudo, no desempenho
da intervenção social40, sentia uma profunda ignorância sobre as dinâmicas sociais e
culturais das populações residentes nestes contextos, apesar da sensibilidade, do respeito
e solidariedade que me inspiravam e que me afastava, não sem problemas, das políticas
institucionais que não regateavam os apoios pontuais, sobretudo à componente
39 Instituições supralocais são, para Leeds (1973), agências governamentais, igreja, media, polícia. 40 Comecei a actividade em Agosto de 1986 fazendo o registo manual de todos os moradores dos bairros e respectivas plantas, com indicação dos agregados familiares por barraca; promovi realojamentos de famílias ciganas e cabo-verdianas e de migrantes internos residentes em zonas de reconversão urbanística ou em leitos de cheia, por exemplo a Ribeira da Falagueira.
59
folclórica41 destes nativos em terras estranhas (Burgess, 1997:203-228). Por um
conjunto de razões, decidi pedir apoio a antropólogos e à literatura antropológica para
interpretar esta complexa realidade, sem cair nas armadilhas de um olhar etnocêntrico,
no caso do bairro ou adultocêntrico, no caso dos jovens. Deste modo, entre 1987 e 1988,
integrei o grupo de investigação designado Antropologia das Minorias,42 no seio do
qual se desenvolveu uma discussão séria sobre estes contextos. Entre 1990-1991,
desenvolvi um trabalho de pesquisa no bairro da Cova da Moura, de que resultou uma
monografia sobre aquele bairro e a comunidade cabo-verdiana na Amadora43. A partir
de 1992 e já na qualidade de antropóloga, procurei criar condições para que
funcionasse, na Câmara Municipal da Amadora, uma plataforma de mediação entre esta
instituição e as populações destes bairros44. Entre 1997 e meados de 1999, passei a
integrar a equipa do Gabinete Local do Urban da Amadora, sediado nas instalações da
empresa metalomecânica Sorefame, na Venda Nova. O Sub-Programa Urban da Venda
Nova/Damaia de Baixo fazia parte do Programa de Iniciativa Comunitária Urban45, que
visava a requalificação urbana de áreas urbanas em crise. Esta deslocação para a Venda
Nova permitiu-me uma maior aproximação às populações e perceber a diferença das
dinâmicas sociais e culturais dentro dos bairros sediados na então freguesia da
Falagueira –Venda Nova.
Entre os bairros de construção espontânea, abrangidos pelo Programa Urban,46
o Estrela d’África parecia reunir as condições indispensáveis para evitar misturar os
papéis de funcionária da autarquia local e o de investigadora, uma vez que a ausência de
41 Não raras vezes, o trabalho técnico com as populações migrantes limita-se apenas à atribuição de subsídios para actividades pontuais e à utilização dos aspectos folclóricos das suas culturas. 42 A funcionar na FCSH da Universidade Nova de Lisboa, este grupo de investigação foi coordenado por Henri Campagnolo e Maria Olímpia Lameiras, do CNRS - Paris, e foi neste âmbito que produzi um pequeno trabalho de pesquisa sobre «Os quintais das minorias deslocadas – minorias em contacto no bairro da Ribeira da Falagueira – Amadora». 43 A dissertação final, produzida no âmbito do Seminário de Investigação da Licenciatura em Antropologia da FCSH/UNL, com a designação «Etnicidade Urbana e Marginalização: um olhar sobre a comunidade cabo-verdiana na Amadora», ficou concluída em 1991. 44 No âmbito do Departamento de Educação e Cultura, criei um programa dirigido às populações (i)migrantes e étnicas, cujas acções eram planificadas com a participação dos dirigentes e líderes locais, o que está na base da criação do denominado ‘Secretariado Coordenador para as Minorias Étnicas da Amadora’, que viria a dar origem ao Conselho Municipal das Comunidades Étnicas e de Imigrantes do Município da Amadora, com representantes de todas as organizações locais e cujo regulamento previa a participação cívica e política destes na definição das políticas locais dirigidas a estes contextos. 45 O Programa Urban da Amadora decorreu entre 1996 e 1999, prolongando-se até 2001; o Gabinete do Urban funcionou nas instalações da Sorefame, na Venda Nova, cobrindo a Venda Nova e a Damaia de Baixo. 46 Bairros das Fontaínhas, 6 de Maio, Estrela d’África e Travessa da Reboleira
60
uma associação com trabalho regular junto das populações deste bairro47 tinha limitado
o meu contacto regular com a população residente. Por outro lado, a génese e a
configuração socio-espacial do bairro também contribuíram para que fosse eleito entre
os trinta e dois núcleos de habitat espontâneo existentes na Amadora. O bairro parecia
apresentar uma forte heterogeneidade social e cultural que poderia garantir, à partida,
uma análise mais abrangente das dinâmicas dos jovens e dos processos de inovação que
estão na base do quadro de mudança destes contextos, não se confinando a uma origem
específica, mas a um espectro alargado de origens e opções de vida. Nesta altura, ainda
desconhecia o funcionamento no bairro de algo muito sedutor para o desenvolvimento
dos objectivos da pesquisa: a existência de um grupo informal de jovens, com
actividade regular e lideranças fortes, o que garantia a existência de um filão de
situações sociais a indagar e analisar. O facto de ser um lugar com uma constelação de
idiomas, de ritos, de práticas quotidianas peculiares, com uma memória não partilhada
pela cidade, pareceu definir o contexto pretendido para a observação etnográfica.
Nesta sequência, começava a fazer sentido conhecer a cidade, de forma mais
aprofundada, a partir de uma realidade urbana complexa constituída por bairros do tipo
do Estrela d’África, cuja visibilidade em quase nada correspondia ao conhecimento das
dinâmicas socio-económicas e culturais por parte da grande maioria dos habitantes da
cidade da Amadora. Por essa razão, configuraram-se no imaginário da cidade, como
espaços marginais e liminares, uma periferia no centro da cidade povoada por seres
estranhos e por jovens potencialmente delinquentes. Estas eram razões de sobra para a
escolha daquele bairro, que parecia um espaço paradigmático deste fenómeno de
segregação socio-espacial que está na origem de um desenvolvimento fragmentado da
cidade-concelho da Amadora. Assente na precaridade estrutural do tecido urbano, a
ausência de planeamento e de medidas coerentes de política socio-urbanística têm vindo
a aprofundar a dicotomia da cidade legal e da cidade ilegal e a reforçar todo um
conjunto de quadros representacionais da cidade que mapeiam a interacção social e
cultural dos seus habitantes. Conhecida também por ser uma cidade-concelho cercada
por bairros degradados, a Amadora, como veremos na primeira parte deste trabalho,
herdou e sofreu fortes pressões com o processo de industrialização e de urbanização dos
concelhos limítrofes, dos quais resultaram vastas áreas de habitat espontâneo. Integram- 47 Apesar da Associação Unidos de Cabo Verde abranger este bairro, a sua intervenção limita-se à gestão do jardim de infância A Escolinha, sediada no Largo Ilha Brava.
61
se, neste caso, núcleos como o bairro Estrela d’África, 6 de Maio, das Fontaínhas,
Azinhaga dos Besouros, Estrada Militar da Damaia, Mina e Santa Filomena, Cova da
Moura entre muitos outros, que configuram áreas e processos de forte segregação socio-
espacial.
A dificuldade de comunicação dos diferentes sectores sociais, económicos e
culturais, considerados a centralidade urbana e estes contextos informais considerados a
marginalidade urbana, conduziu-me ao enfoque nos processos de comunicação
intercultural protagonizados pelos jovens, através das suas culturas, redes, grupos
informais que tecem, quotidianamente, pontes com a sociedade mais abrangente. Sendo
assim, estes pareceram motivos suficientemente fortes para a escolha recair sobre o
grupo de jovens Estrelas Cabo-verdianas, o bairro Estrela d’África como partes
integrantes da história e da identidade da cidade da Amadora, tentando com este
modesto contributo ‘pensar as cidades no plural’, como propõe Gulick (1989:2)48,
integrando-as no sistema das sociedades contemporâneas.
1.2.3. Em busca de uma unidade de análise
A delimitação do objecto de estudo e a identificação de uma unidade de análise
pertinente não foi fácil. Antes de avançar para a pesquisa de terreno, o bairro parecia ser
a unidade de análise de eleição. Limitado por fronteiras físicas e socio-culturais, o
bairro continha todos os ingredientes sociais e culturais para um estudo etnográfico
representativo dos contextos periféricos que, de um ponto de vista ego-centrado49,
correspondem a zonas de incerteza, de margem, de risco, insegurança (Pina Cabral,
2000).
De facto, o bairro tem sido considerado a unidade social, a partir da qual
podemos estudar problemas urbanos e a diversidade que nos oferece a cidade. Estes
microcosmos têm sido estudados em si mesmos, através de estudos de caso, a partir dos
quais se criam tipologias de bairros comparáveis. Neste caso, os estudos de bairro são 48 Parece-me de grande importância referir o pressuposto básico de Gulick, que está bem traduzido na expressão “all generalizations about the city in the singular are inevitaly flawed and therefore confusing and unclear. To start off on the right track, we must learn to think of cities in the plural” (1989:2) 49 William Michelson, citado por Gulick (1989:23), fala em pontos de vista ego-centrados de muitos residentes na cidade: captamos o aspecto que nos é mais familiar e excluímos imagens de outras zonas da cidade, como se não existissem. Eu acrescento que um conhecimento e uma interacção superficial pode contribuir, decisivamente, para alimentar um olhar recheado de preconceito face a estas populações.
62
semelhantes aos estudos de comunidade ou de pequenas sociedades, de que há diversos
exemplos na antropologia urbana vinculada aos estudos tradicionais. Porém, como
refere Maria Cátedra (Tomás, 1994:87), o bairro não contém todos os papeis,
actividades e instituições da sociedade e, por isso, é difícil poder considerá-lo a unidade
natural de análise.
A aproximação ao terreno veio revelar a profunda complexidade do quadro
social e cultural do bairro, colocando, desde logo, um problema: como investigar os
processos de permanência e de mudança num contexto tão heterogéneo, sem perder de
vista o horizonte dos jovens que revelam um protagonismo tão importante no jogo do
interface entre a continuidade e a mudança social e cultural?!
Ora, para se atingir tais objectivos, foi indispensável adoptar uma estratégia
metodológica assente na presença prolongada no bairro, no contacto directo com
pessoas de diferentes origens, migrantes internos, imigrantes e lisboetas , na frequência
regular de sítios, tascas, cafés, becos, largos e na participação nas actividades
quotidianas de personagens, sobretudo mulheres, que povoam as ruas e janelas de
lugares estratégicos para a observação do bairro.
O grupo informal de jovens tornou-se, um pouco mais tarde, a unidade de
análise pertinente e o lugar de toda a trama de cumplicidades que me viria a permitir
entender, um pouco melhor, estes espaços relacionais estruturadores de vidas
individuais e colectivas, sem querer absolutizar a sua importância na construção das
identidades dos jovens.
Procurei não ter certezas nesta fase. Não concebia exotizar ou tribalizar50 as
pessoas e, antes do mais, não esquecia a máxima de Gluckman (1958), “ um mineiro
africano é um mineiro”(Hannerz, 1986)51, isto é, um jovem africano é um jovem,
fugindo ao reducionismo étnico dominante e a uma classificação fácil, que nos impede
de os inserir num sistema mais vasto, que é a cidade onde a maioria cresceu: a
Amadora.
50 Sobre esta tendência para a utilização de categorias e de conceitos (metáforas?) utilizados em contextos tradicionais e trazidos de empréstimo , sem crítica, para caracterizar fenómenos urbanos modernos, ver Casal, 1996:120. 51 Max Gluckman (1958), antropólogo da Escola de Manchester, era estrutural-funcionalista e influenciou Durkheim com as suas teorias. Considerava a sociedade colonial africana como um único campo social que incluía todas as formas de vida, desde as mais tradicionais até à dos funcionários europeus.Esta expressão ficou célebre porque contribuiu para questionar a rotulagem das populações migrantes, associando-as a uma identidade étnico-cultural determinada pela origem, que funciona em contexto urbano como um estigma social.
63
A cultura de seus pais parecia aprisioná-los, tornando-se uma força determinista.
Apesar de grande parte ter nascido em Portugal e não conhecer a terra de origem dos
pais, por todo o lado, nas escolas, autarquias, entre profissionais e estudiosos, surgem
sempre como segunda ou terceira geração de imigrantes/ africanos suspensos entre
duas culturas. Mas a questão é saber que duas culturas são estas em que os jovens estão
envolvidos? Uma cultura portuguesa homogénea, sem classes ou regiões e uma outra,
que tinha a ver com a cultura de origem dos pais? Só o trabalho de campo poderia dar
uma resposta a estas interrogações e o envolvimento com os jovens do bairro uma
condição para focalizar a pesquisa nos jovens, sem os tribalizar, forjando etnicidades,
onde o movimento parecia ir em sentido contrário.
Tal como fizera Gerd Baumann (1998), ao estudar os jovens de Southhall,
subúrbio de Londres, tornara-se relevante prescrutar as orientações interculturais da
cultura juvenil num subúrbio multi-étnico, desta vez, da Amadora e analisar as
influências múltiplas, as fusões culturais, numa perspectiva transcultural.
Procurei não utilizar um figurino predefinido, o que implicou, por exemplo, não
aceitar, a priori, a indispensabilidade de recorrer às associações locais como centros de
encontro e interconhecimento e aos dirigentes destas como fontes de informação
privilegiadas e, desde logo, líderes com um papel de mediadores entre aos instituições e
as populações. De facto, hoje em dia, as associações locais estão transformadas em
locais de prestação de serviços, detendo, para o efeito, a figura de Instituições Privadas
de Solidariedade Social (IPSS). Assim, é comum o funcionamento de ATLs, de jardins
de infância e de ateliers para crianças e joven,s no espaço da associação, pelo que há um
contacto mais regular com estes segmentos da população. Contudo, a relação directa
das associações com a população em geral é limitada, pondo em questão, muitas vezes,
a representatividade dos seus dirigentes que, apesar de tudo, não deixaram de ser os
interlocutores privilegiados junto da Administração local e central.
Uma outra opção consistiu em não cair na armadilha de descrever o bairro pelo
grau de desvio dos seus residentes face à comunidade mais geral, ou seja, através da
elevada delinquência, do número inusitado de mães solteiras, dos vários gangs de
adolescentes ou de jovens traficantes, etiquetagem social que pode resultar no
fechamento das populações ou em reacções de contra-estigmatização que dificulta o
diálogo intercultural com a população envolvente.
64
Como veremos na segunda parte deste trabalho, a organização social do bairro
revela-se de múltiplas formas, em que prevalecem as redes familiares, de vizinhança, de
conterrâneos, as quais definem a sua estrutura e exigem dos residentes regras e valores
muito claros; a matriz cultural de origem, seja dos migrantes, como dos imigrantes,
imprime dinâmicas culturais e simbólicas bastante visíveis no bairro, mas que são
moldadas por estratégias adaptativas, num quadro de reconstrução e inovação
permanentes.
O conhecimento, numa escala micro, da textura das localidades que integram o
tecido social metropolitano, permite-nos chegar ao miolo destes lugares carregados de
sentido, onde os actores sociais assumem uma relevância fundamental na produção
quotidiana da cultura e da sociedade urbana. De facto, quando observamos de perto e
utilizamos uma perspectiva de grande angular, estamos mais aptos a perceber que a
distância ofusca e distorce a realidade concreta dos residentes, transformando-os numa
abstracção sobre os quais se produzem ideias preconcebidas e mecanismos, quantas
vezes irracionais, de classificação das populações e da natureza das relações entre os
seus membros e o mundo envolvente.
Como sabemos, e a presente pesquisa é exemplo disso, o trabalho antropológico
obriga a um conjunto variado de relações pessoais, a uma prolongada comunicação com
as pessoas e grupos que pretendemos compreender e interpretar, que passa por um
envolvimento emocional e até, afectivo que retira o carácter de acção mecânica ao
trabalho de campo e de enciclopedismo etnográfico (Ellen, 1984: 70)52.
1.2.4. No terreno da cidade
A forma como o antropólogo conduz o trabalho de campo depende de vários
factores, dos quais se destaca o contexto e a situação em que este se encontra, a
personalidade e capacidade de empatia do próprio com os indivíduos e as opções
teóricas e metodológicas que assume.
Um dos primeiros passos é a tentativa de imergir na forma de vida das
populações locais, tentando apreender a linguagem, os comportamentos, rituais e
52 Ponto de vista que defende que uma monografia etnográfica deveria ter um carácter enciclopédico, isto é, que deveria apresentar um ponto de vista global da cultura ou da comunidade em questão e estender-se sobre todo o campo social: parentesco, economia, política, sistema de crenças, ecologia, cultura material e as artes de representar e decorativas.
65
penetrar lentamente nas seus espaços domésticos, de sociabilidade, nas associações e
nos grupos, de acordo com os objectivos da pesquisa. Desde logo, a presença do
antropólogo suscita curiosidade nas populações, as quais ora dão sinais de desconfiança,
ora de aproximação à vida quotidiana, o que nem sempre se revela com a autenticidade
necessária para prosseguir o conhecimento do modus vivendi das populações. Assim, “o
reconhecimento do banal, do quotidiano, do vivido, do situacional permite-nos, com
alguma evidência, reconhecer e identificar os espaços naturais das experiências: a
comunidade, o grupo e as diferentes formas de ser e de viver em comum, com toda a
complexidade que o social encerra” (Casal, 1996:40). Ora bem, é necessário negociar
esta aproximação à realidade local, ser paciente e flexível, encontrar as melhores
estratégias para que a pesquisa resulte.
O trabalho de terreno foi iniciado em Agosto de 1999, um mês especial porque
grande parte da população está de férias e o calor puxa as pessoas para as soleiras da
porta, para a rua e para o largo. Nos primeiros dois meses de terreno, este facto
aparentemente normal foi um primeiro elemento facilitador da aproximação aos
residentes do bairro, porque comecei por andar um pouco à deriva pelas ruas e becos,
metendo conversa com as pessoas que apanhavam sol ou com crianças que brincavam
um pouco por todo o lado; a frequência dos cafés, tascas, mercearias e cabeleireiros
também contribuíram para o lento e penoso trabalho de penetração na intimidade do
bairro.
O facto de ser mulher permitiu aproximar-me com mais facilidade de certos
segmentos da população, nomeadamente, das mulheres que ocupavam cargos de
responsabilidade nas economias locais; eram elas que tomavam conta dos cafés, das
tascas, dos cabeleireiros, detendo um papel relevante nestes espaços. Porém, este facto
também constituía um problema, quando pretendia aproximar-me dos homens, uma vez
que estes regressavam do trabalho às suas casas, já quase noite e meter conversa, na rua
ou no café, a partir de certas horas, era algo que, no quadro do sistema de valores em
presença, poderia suscitar suspeitas, ou não cair bem a quem me observava.
Como poderia começar a registar conversas e a recolher entrevistas neste
ambiente de rua e de café-tasca, sem espaço para uma conversa informal, tranquila?! As
notas de campo, tão fundamentais na recolha etnográfica, eram feitas em qualquer canto
do bairro e interrompidas constantemente, ora pelos miúdos, ora pelos acontecimentos
66
mais triviais, o que tornava difícil a vida secreta (Sanjek, 1990) destas anotações tão
preciosas para a preparação do diário de campo53. Por isso, ao fim de pouco tempo,
comecei a contactar pessoas com o objectivo de alugar um quarto no bairro e, deste
modo, poder pernoitar no local, circular à noite e interromper as longas horas de
observação durante o dia, debaixo de um calor tórrido, ou poder fazer uma conversa ou
entrevista com um mínimo de condições. Sabia que, se estas fossem feitas num local
bem conhecido do entrevistado, os resultados podiam ser mais satisfatórios do que se o
transplantasse para fora do seu contexto natural. Inicialmente, este facto trouxe-me
dificuldades acrescidas, porque optei por entrevistar as pessoas debaixo de parreiras
rodeadas de pessoas e ruídos, como foi o caso dos migrantes internos54, ou no beco,
como no caso das crianças ou dos mais velhos, ou ainda, no local dos ensaios, como no
caso dos jovens. Tudo isto agravado pelo meu limitado conhecimento do crioulo,
sobretudo badio e o calão que tornavam por vezes indecifrável as frases registadas no
minúsculo gravador. Uns meses mais tarde, passei a utilizar a Escolinha e a casa-mãe
dos Pina55 para fazer o trabalho de recolha de autobiografias e entrevistas aos jovens do
grupo Estrelas Cabo-verdianas. Assim, mesmo no coração do bairro Estrela d’África, o
nº 21 da Nossa Senhora do Monte56 tornou-se o meu habitat.
Por mais habituada que estivesse a lidar com este tipo de população, senti-me,
desde a primeira hora, extremamente inibida, quando se tratava de pedir às pessoas que
falassem da sua vida. Paradoxalmente, quanto mais confiança ganhava, tanto mais
difícil se tornava para mim pegar no gravador e desatar a gravar os seus testemunhos,
pedaços das suas vidas, entrando na sua intimidade e dando tão pouco em troca. Uma
forma de manter o interesse das pessoas em me descreverem pormenores dos seus
percursos de vida e do bairro foi o facto de ter referido que tencionava escrever um livro
sobre aquele local e as seus habitantes. Não era uma ideia inédita, já Ulf Hannerz (1969:
203) tinha feito o mesmo, quando iniciou uma pesquisa em Winston Street, em 53 Sobre o antropólogo e a observação participante, o trabalho de campo e os instrumentos de recolha de dados no terreno, ver George W. Stocking, Jr. (eD.), 1983. Nesta obra, são os próprios antropólogos que estão na mira da observação, transformados, para o efeito, em nativos no terreno. 54 Excepção para os Lameiras, que me receberam no seu espaço doméstico, por detrás do café-restaurante. 55 Como veremos na segunda parte, a família Pina representa a fileira migratória cabo-verdiana para Portugal e neste caso concreto, para a cidade da Amadora. O facto de não ocultarmos o nome real dos elementos desta família prende-se com o facto de, após ter dialogado com Alcinda Pina, nossa informante e Ego na geneologia dos Pina, ela sugerir que os familiares fossem nomeados pelos seus verdadeiros nomes. Apesar da prática corrente ser a utilização de pseudónimos, não posso deixar de me congratular com este gesto tão generoso. 56 Nome de uma das freguesias do concelho da Ilha Brava, de onde são oriundos os Pina.
67
Washington D.C., precisamente, entre Agosto de 1966 e Julho de 1968, isto é, durante
dois anos de trabalho de campo, o mesmo tempo que a minha pesquisa de terreno tinha
durado. Que coincidência feliz! O que eu procurava era algo que não era conhecido,
pessoal, privado, íntimo, informal, não codificado ou estruturado, de forma a não
enviezar a realidade. Parecia um empreendimento arriscado porque não sabia até onde
me podia levar tanta incerteza, improviso e até contradição. Uma coisa era certa, o
contexto em que se desenrolava a acção dos residentes e dos informantes estava
carregado de informação sobre as formas de vida dos residentes, importava, desde logo,
registar minuciosamente os pormenores e as coisas mais triviais, para mais tarde
reconstituir estes momentos numa descrição densa (Geertz, 1978), inteligível.
Outro dos aspectos a que eu teria de estar atenta era a observação que os
próprios habitantes exerciam sobre a minha presença no bairro e nos seus espaços.
Como observadora, sabia que também estava a ser observada e que tinha pouca margem
para fazer de conta, uma vez que, depois de entrar na intimidade destas pessoas e de me
tornar nativa, não lhes poderia virar as costas de repente, quebrando as regras da mais
elementar conduta de convivência.
Como veremos mais à frente, foi quase impossível não intervir na realidade
pessoal e social, o que colocou questões que se prendem com a dinâmica de
proximidade-distanciamento entre observador e observado e com a gestão das
subjectividades implicadas neste processo57. Tinha consciência que os meus
informantes tinham um conhecimento sem máscaras das suas histórias de vida e do
bairro, contudo, só me contariam aquilo que desejassem que eu soubesse. Este facto
implicou uma estratégia para decifrar os mistérios, os enigmas que o seu discurso ou
conhecimento poderia revelar. Esta dificuldade foi encarada como um desafio e não
como um obstáculo que me condenava, por exemplo, a substituir a relação e diálogo
face a face, isto é, no discurso directo, pelo discurso dos dirigentes associativos58 ou
políticos locais. A informação também vinha dos rituais, dos espectáculos, das reuniões,
das conversas e discussões na rua entre nativos, enfim, de todo um conjunto de formas
de comunicação verbais e não verbais, rotineiras ou ritualizadas, que povoam estes
contextos. Os acontecimentos que ocorriam eram tão imprevisíveis que sempre que 57 Sobre esta questão, ver Alba Zaluar, (1984). 58 Os compromissos destes dirigentes associativos com as lógicas do poder instituído e o distanciamento destes face à realidade quotidiana das populações, levaram-me a optar pelo não recurso a este tipo de informantes.
68
entrava no bairro, mesmo utilizando as diferentes entradas, havia qualquer surpresa para
ver ou ouvir e contar.
Os primeiros dois meses de terreno foram um deambular pelo bairro, com uma
sensação de intrusa num meio que não quer quase nada connosco. A Ina, vendedora de
milho, percebeu que por ali andava alguém à procura de qualquer coisa, sem rumo e,
por isso, acolheu-me no seu cantinho, ali, no beco junto à Rua do Apeadeiro, ao lado de
um fogareiro improvisado num bidon e de um cesto cheio de espigas de milho, no meio
das quais sobressaía um telemóvel sofisticado que contrastava com os restantes
objectos. Foi a minha primeira informante cabo-verdiana, cuja importância tinha a ver
com o grande conhecimento que ela tinha da vida dos jovens que moravam naquela
zona do bairro e pelo que ela própria representava: uma pessoa com uma história de
vida cheia de dramas e fiel às crenças tradicionais e a um mundo cheio de superstições,
muito querida de umas e suscitando desconfianças de outras pessoas por proteger a
malta nova que nem sempre se ocupava com actividades legais. Nestes primeiros meses,
arranjei o cabelo em todos os cabeleireiros do bairro, bebi cafés e águas em todos os
cafés, embora frequentasse com mais regularidade o Sossabi, cuja proprietária me
deixava cugir o milho no pilão, de forma articulada com ela e numa cadência ritmada,
ou aprender a arranjar o peixe para secar e vender em seguida; almocei em restaurantes
dentro do bairro, com comidas tradicionais cabo-verdianas ou guineenses
confeccionadas por mulheres com muito talento para a gastronomia e mesmo, para o
negócio; comprei produtos nas mercearias e nos vendedores da rua, fazendo perguntas,
muitas perguntas.
Depois de dois meses e meio de terreno59 e de uma observação sistemática do
movimento de pessoas no Largo Ilha Brava, nas Ruas Nossa Senhora do Monte, Ilha de
Santiago e Cidade Velha, nos becos e nas tabernas-café da D. Maria, D. Rosa, Sossabi,
de entrevistas aleatórias a adolescentes e a moradores de várias origens, o bairro Estrela
d’África transformou-se num território imenso, assumindo uma amplitude e uma
complexidade inimagináveis. Ao dar conta da heterogeneidade social e cultural dos
moradores, da distribuição socio-espacial de acordo com as origens regionais, dos
conflitos intergeracionais, da mobilidade social diferenciada, dos estilos de vida, do 59 O trabalho de terreno com carácter sistemático teve início em Agosto de 1999, após uma série de raids ao terreno, efectuados anteriormente, durante algum tempo. A possibilidade de montar tenda no bairro coincidiu com a atribuição de uma bolsa de doutoramento, do Programa Praxis XXI, da FCT, a qual veio viabilizar a pesquisa no terreno e respectiva dissertação.
69
ritmo de acontecimentos diários, a percepção inicial e o conhecimento anterior que
detinha sobre aquele bairro transformaram-se rapidamente. Em meados de Outubro de
1999, a perturbação que sentia era grande e traduzia-se numa sensação de impotência
para captar o fio condutor que me conduzisse aos caminhos traçados nos objectivos
iniciais de pesquisa. Rapidamente, tornou-se claro que teria de adoptar uma estratégia
que viabilizasse a compreensão e o conhecimento do bairro, o espaço e as pessoas em
interacção, sobretudo, dos jovens que ali cruzam trajectórias e projectos de vida.
Nesse momento, tornou-se óbvio que só seria possível, no curto prazo, conhecer
algumas facetas do modus vivendi das populações residentes no bairro, através de uma
janela de observação: o grupo de jovens Estrelas Cabo-verdianas. Desde longa data que
sabia da existência deste grupo de jovens e conhecia o seu líder, mas naquele momento,
não sabia que faziam do bairro o local de referência para desenvolverem as
sociabilidades em torno das actividades de dança e teatro. Neste contexto, interessava
compreender como é que os jovens do bairro desenvolviam certo tipo de relações de
amizade, através de organizações e redes informais, cuja estruturação contrariava a ideia
de que na cidade imperam “as relações impessoais, superficiais, transitórias e
segmentadas” (Cucó i Giner 1995:21)60. A autora refere, baseando-se em Gulick
(1973:993-994), que “a mesma gente que na cidade está implicada em relações
impessoais, racionais e orientadas para uma meta concreta, se encontra também imersa
numa rede intensa de relações pessoais e de orientação múltipla com amigos, parentes e
vizinhos. O descobrimento desta nova dimensão das relações sociais outorgará uma
centralidade, até então insuspeita, aos estudos da amizade” (Cucó i Giner, 1995:21).
Esta ideia parecia moldar-se como uma luva ao bairro Estrela d’África, sobretudo, à
população jovem ali residente, permitindo, pois, desfiar o novelo das relações sociais a
partir da informalidade e das trocas de afecto, de solidariedade e “ratificar a importância
dos espaços de tempo livre na estruturação dos grupos” de jovens (Feixa,1999:108).
No dia 16 de Outubro de 1999, num Sábado que iria revelar-se diferente de
todos os outros, chego ao bairro e após o meu percurso habitual por ruas e becos, bati à
60 Josefa Cucó i Giner (1995) opõe-se ao paradigma colocado pela Escola de Chicago, que via na cidade um meio patológico onde imperam relações impessoais e segmentadas. Faz luz sobre uma nova dimensão das relações sociais que são as relações de amizade. Esta obra inspirar-nos-á ao longo do presente trabalho.
70
porta da Escolinha61, ou seja, da casinha, como é conhecida entre os jovens, e logo
apareceu o rosto de um jovem que espreitou pelo postigo e voltou a fechá-lo; passados
momentos, apareceu o líder do grupo, com um ar sorridente e ao mesmo tempo
admirado por me ver por ali. Com efeito, eu tinha conhecido o Víctor, há vários anos,
como animador/mediador no projecto Nô Djunta Mon, quando este estava a ser
implementado na Estrada Militar da Damaia62. Na altura e como referi atrás, trabalhava
como assistente social na Câmara Municipal da Amadora63, nos Serviços da Habitação e
Recuperação de Áreas Degradadas e tinha a responsabilidade de fazer a ligação da
Autarquia Local aos chamados núcleos degradados do concelho da Amadora e
respectivas associações locais. Nesse dia, antes de começarem os ensaios, o Víctor
explicou-me como estava a trabalhar com os jovens, quem eram os animadores do
grupo, os bailarinos e como estavam informalmente organizados. Tal como eu tinha
suspenso a minha actividade na autarquia local, o Víctor abandonara a direcção da
Morna, última associação local com quem tinha colaborado conjuntamente com o grupo
de jovens. Durante a conversa, o jovem líder manifestava uma preocupação em deixar
claro que o grupo de jovens e as suas sociabilidades contribuíam, sobretudo, para a
motivação dos jovens em busca de uma vida mais equilibrada e, neste contexto, a dança
e o teatro eram um meio para atingir outros fins. Também os diversos jogos com
mensagens sobre regras de convivência em grupo, de entre-ajuda, cooperação, a morte
dos preconceitos e o despertar dos sentidos, serviam para moldar o carácter dos
adolescentes e dos jovens, tendo repercussões nas redes pessoais que extravasavam o
próprio grupo64. Depois de algum tempo de diálogo com o Víctor, ficou claro que, para
eu conseguir penetrar na vida do grupo, era indispensável a minha adesão e participação
nas diferentes actividades, desde logo, na dança, passando pelos retiros nas pousadas da
61 A Escolinha é um jardim de infância, que pertence à Associação Unidos de Cabo Verde, está localizado no Largo Ilha Brava, no bairro Estrela d’África. Este espaço, ao fim de semana, é cedido ao grupo Estrelas Cabo-verdianas e aos Bronzes para os ensaios e actividades de grupo. 62 Esta assunto será desenvolvido na terceira parte do trabalho. 63 Estreita ligação aos bairros de habitat degradado, desde 1986 até 1999, proporcionou-me a criação do Projecto Municipal para as Minorias Étnicas, do Secretariado Coordenador das Minorias Étnicas em que tinham assento representantes de todas as associações locais e mais tarde, o Conselho Municipal para as Minorias Étnicas do Município da Amadora e o respectivo regulamento de funcionamento. Esta experiência de anos de trabalho em contextos socio-culturais esteve na base de um Programa de Iniciativa Comunitária, o SUB-PROGRAMA URBAN da Venda Nova – Damaia de Baixo, o qual incluiu a criação de uma Escola Intercultural e um Forum das Comunidades, espaços de cruzamento de culturas, de formação profisssional de jovens, de promoção e fruição cultural. 64 Estas questões iniciais serviriam mais tarde, para orientar a pesquisa de que resultou a descrição e interpretação da parte três desta dissertação.
71
juventude, era necessária a minha presença nos aniversários dos seus membros e nos
funerais dos familiares, mas também nos espectáculos, nas deslocações à discoteca ou
ao cinema, enfim, transformar-me numa estrela cabo-verdiana.
1.2.5. A iniciação no grupo Estrelas Cabo-Verdianas ou uma
forma de going native
Nesse mesmo memorável dia 16 de Outubro de 1999, assisti ao ensaio dos
Estrelas Cabo-verdianas, durante toda a tarde, sentada numa pequena cadeira do jardim
de infância da Escolinha. Por volta das 19 horas, o Víctor desligou a aparelhagem de
música, pediu aos jovens que se sentassem em círculo, no chão e iniciou uma espécie de
ritual de iniciação, durante o qual fui apresentada ao grupo. O discurso do Víctor
enfatizava o facto de sermos velhos conhecidos, tendo-se referido nos seguintes termos:
“ Já é minha amiga há muitos anos, quando eu era muito novo, a Marina já passava
pelo bairro muitas vezes para colaborar em actividades e está a escrever um livro sobre
o Estrela d’ África”. Depois, passou-me a palavra, antes de ouvir os jovens
pronunciarem-se sobre a minha entrada para aquela família. Com uma atitude o mais
descontraída possível, confirmei que estava a escrever um livro sobre o bairro e que,
por isso, precisava do apoio de todos, não só dos mais velhos, mas também dos jovens
que ali vivem ou que têm amigos no bairro. A curiosidade estampada nos rostos dos
jovens era grande, mas poucos fizeram perguntas; um deles perguntou quando
começava a ensaiar e o Víctor respondeu que já amanhã, a Marina vai fazer-nos
companhia. Neste dia, deixei para trás o bairro, eram 22 horas, a pensar na utilidade do
meu gosto pela dança e da minha passagem pelo ballet, na adolescência, o que poderia
constituir uma competência facilitadora da minha integração no grupo. No dia seguinte,
lá estava eu, de mochila às costas, não só com o livro de notas de campo, lápis e o
chapéu, mas algum equipamento de treino, aguardando a hora do ensaio. Com efeito, a
partir daquele dia passei todos os sábados e domingos, tal como os restantes elementos
do grupo, a equipar-me com mochila, fato de treino, tshirt, body e saiote, pano
tradicional estampado que tinha comprado na feira de Assomada, terra do interior da
Ilha de Santiago, Cabo Verde (são quase sempre oriundos do Senegal), ténis de marca e
cabelo preso com fita. Estas eram as condições para uma boa aula de preparação física e
72
de dança, que todos os elementos do grupo adoptava e que apenas se diferenciava no
volume de roupa vestida. Em poucos ensaios e com o esforço do Víctor, dos bailarinos
e de mim própria, a distância criada pela idade, cor, cultura, papel social, foi-se
diluindo, até o toque se tornar quase natural. Era o início de uma longa caminhada que
anunciava transformar-se num fragmento importantíssimo da minha vida pessoal e da
pesquisa de terreno e que só viria a terminar um ano e meio mais tarde. No fim-de-
semana seguinte, depois daquela deslumbrante iniciação, tive a primeira longa conversa
com o Víctor, sobre o bairro e sobre o grupo de jovens. Combinámos o nosso encontro
às 19 horas, perto da estação da CP da Damaia. Ali estava eu, à hora combinada, com
uma pontualidade britânica, o que me custou uma hora e meia de espera. Com efeito, o
Víctor chegou às 20,30 horas, um pouco preocupado pelo facto de estar sozinha naquele
local, àquela hora da noite. Apressei-me a pensar (atitude etnocêntrica?!) que a questão
do tempo65 teria de ser equacionada para entender o ritmo do jovem Víctor, ou então,
teria de haver uma boa razão para isto acontecer. Um pouco mais tarde, com uma
relação cada vez mais próxima, percebi que não era apenas uma atitude moldada
culturalmente mas, de facto, o Víctor era abordado, a toda a hora, por jovens (e muitas
vezes pelas mães destes) que queriam o seu apoio para resolver problemas de relação
com os filhos e, sobretudo com as filhas. Sentados a uma mesa de café, junto ao bairro
Estrela d’África, começamos a nossa primeira conversa durante a qual foi traçado um
esboço de história e perfil do grupo Estrelas Cabo-verdianas, bem como da relação
deste com o bairro e envolvente.
Como veremos na terceira parte deste trabalho, passei a acompanhar o grupo,
todos os fins de semana, nos ensaios, nas deslocações aos espectáculos em que o grupo
actuava, ao cinema no Centro Colombo, à discoteca nas chamadas Docas Secas na
Amadora, a festejar os aniversários dos seus membros, o Natal do grupo, as viagens de
fim de semana ao norte e centro do País, aos funerais de familiares, a frequentar a casa
de alguns elementos que vivem no bairro Estrela d’África, 6 de Maio e Fontaínhas,
conhecendo familiares e vizinhos. Esta participação dentro do grupo permitiu-me
perceber a organização interna deste, as hierarquias ou lideranças partilhadas, o papel do
líder e o seu discurso, as práticas sociais e afectivas, os idiomas de companheirismo, de
solidariedade, de amizade e reciprocidade, as tensões e conflitos e a forma de os gerir, 65 Apressei-me a reler A Dança da Vida, a Outra Dimensão do Tempo, de Edward T. Hall (1996), tentando entender os diferentes tipos e experiências de tempo e amolecer as minhas pressas.
73
as representações sobre o bairro e a cidade envolvente, as relações de género e
intergeracionais dentro das famílias.
A recolha de dados começava pela observação e pelas conversas informais que,
ao longo do dia, eram registadas em notas de campo temporárias que à noite eram
completadas com ideias e passadas para o diário de campo e tornadas, deste modo,
permanentes; as entrevistas semi-directivas aos elementos do grupo foram gravadas e
algumas delas captadas em vídeo; foi feita a genealogia da família Pina que, para além
de representar a cadeia migratória cabo-verdiana e o processo de reagrupamento
familiar, tinha alguns jovens dentro do grupo; a produção de imagens através da
fotografia e do vídeo com registos in loco, com o objectivo de produzir um filme
documentário; com o apoio deste tipo de registos, tencionava captar o fluir da vida e
construir significados a partir de imagens e dos sons do mundo ( Penafria, 1999:111)
dos jovens e do bairro. Os registos fotográficos66 e em vídeo revelaram-se preciosos
como formas de captação de instantâneos e de imagens do quotidiano das populações e
de experiências fantásticas dos jovens nos espaços de sociabilidade. Alguns dos relatos
biográficos foram também gravados e filmados os seus protagonistas, tornando-se um
material precioso para o trabalho de codificação e interpretação dos dados.
Neste trabalho, foi dada muita importância ao método biográfico, sendo que
muita da informação sobre a história do bairro, dos processos migratórios e das
trajectórias de vida dos jovens foi fornecida pelas narrativas autobiográficas dos
informantes. Os problemas criados pela relação de exterioridade67, uma vez que, apesar
de muito próxima no campo da amizade, sentia-me distante do ponto de vista cultural,
foram em parte ultrapassados pela interacção que estabeleci com as pessoas biografadas,
mas também pelos registos em vídeo que referi anteriormente. Como? Recorrendo ao
filme para encontrar detalhes, confirmar datas, nomes, decifrar expressões, olhares e
tiques, descortinando, deste modo, não só aspectos da experiência vivida e da
personalidade dos biografados, mas também e sobretudo, aspectos dos traços culturais
66 Em 18 de Fevereiro de 2001, numa conversa de esplanada de um café no Dafundo, com José Pessoa, um dos maiores fotógrafos do nosso país e meu vizinho, tomei consciência de que os registos fotográficos eram fundamentais para fixar algo da essência das pessoas e dos lugares que a oralidade não atinge. No que diz respeito ao vídeo documental, tive o privilégio de poder dispor de um jovem com facilidade de acesso a estes espaços e jovens com conhecimentos tecnológicos de vídeo para produzir um documentário sobre o bairro Estrela d’África e sobre os jovens Estrelas Cabo-verdianas que faz parte dos anexos desta dissertação. 67 Sobre o método biográfico, ver Adolfo Yánez Casal, (1997:87-104), Jean Poirier et alli, (1995[1983]), Danielle Desmarais et Paul Grell, (1986).
74
dos grupos de pertença. A utilização talvez excessiva deste método nesta pesquisa tem a
ver com os meus medos de distorcer a realidade e os modos de pensar das pessoas com
as minhas interpretações e recortes de discursos. De tal modo este aspecto assumiu
importância no contexto deste trabalho que muitas vezes pensei eleger este método
como o mais credível no contexto da presente pesquisa. Esta opção metodológica
procurava “fixar, inscrever o discurso social relatado em factos ou palavras, que a
narrativa dos informantes nos confere, tentando que a explicação compreensiva do texto
etnográfico seja pautada pela ordem emic, isto é, em termos da cultura local estudada”
(Casal, 1996:80,101). De facto, um dos aspectos mais fascinantes do trabalho
antropológico é precisamente a possibilidade que a metodologia confere ao pesquisador
de obter uma informação genuína, que emerge do discurso, nos seus próprios termos,
dos informantes e que se revela essencial para desenhar o presente etnográfico.
Mas este caminho metodológico colocou dilemas, várias e sistemáticas
interrogações, que fui tentando resolver ao longo da pesquisa e que sumarizo em três
dimensões:
- a identificação do objecto de estudo, que faz parte da realidade social da nossa
sociedade e que tem de ser descrito e interpretado da forma mais exacta possível,
independentemente dos condicionalismos sociais encontrados;
- a forma como lidamos com as nossas percepções e ideossincrasias;
- como compatibilizamos a perspectiva histórica e os factos triviais, o banal,
tantas vezes invisíveis, mas que suportam e justificam comportamentos, valores,
modelos culturais e objectivos humanos.
O presente trabalho é um constante esforço para vencer as incertezas que estas
dimensões sempre me colocaram e para garantir coerência ao discurso sobre uma
realidade bastante complexa .
77
Capítulo 2
BREVE HISTÓRIA DE UM ESPAÇO-TERRITÓRIO: A HERANÇA E A FORMAÇÃO DO TECIDO URBANO DA
AMADORA
2.1. Fragmentos da história da Amadora do século XIX68
Na segunda metade do século XVIII, o território que constitui hoje a Amadora
possuía pequenos núcleos rurais, designadamente, os de Carenque e de A-da-Beja e
algumas quintas com casa senhoriais, muitas delas implantadas após o terramoto de
1755, que se espalhavam por entre vastos campos de trigo, de oliveiras e vinhas.
O viajante dos começos do século XIX ia por Palhavã e Benfica até ao alto da
Porcalhota, onde existia um velho edifício destinado às mudas de cavalos. Neste loca,l a
estrada bifurcava-se, dando lugar a uma estrada que ligava à Quinta da Amadora e a
outra, chamada Estrada Velha, seguia para Sintra (Callixto, 1987:29).
Nesta breve história, destacamos três dos lugarejos – Porcalhota e Venda Nova -
que ‘formam hoje a Amadora, todos com ligação com a antiga Estrada Nacional e a
Estrada Velha de Queluz, que foram pertença do concelho de Belém e da freguesia de
Benfica’ (Coelho, 1982:13).
O facto de termos escolhido apenas estes três lugarejos prende-se com a
necessidade de traçarmos uma perspectiva histórica de um território que veio a
transformar-se, no intervalo de um século, num dos espaços urbanos mais heterogéneos
e fragmentados do ponto de vista socio-urbanístico. Corresponde ao contexto onde se
desenvolveu o trabalho de pesquisa.
68 Os principais autores cuja obra está na base da presente abordagem são: António dos Santos Coelho (1982), A. Martinho Simões (1982) e Vasco Callixto (1987), os quais, para além de residentes na Amadora, dedicaram-se à recolha de informação sobre pessoas, lugares e tradições. As respectivas publicações foram apoiadas pela Câmara Municipal da Amadora.
78
2.1.1. Os lugarejos da Porcalhota, da Amadora e da Venda Nova
O nome Porcalhota69 era dado a uma localidade que englobava vários lugarejos,
os quais, apesar disso, tinham um nome próprio. Desde pelo menos 1773, que há
referências ao local, através da história da água, das bicas ou chafarizes e do Aqueduto
das Águas Livres. Com efeito, nesta zona, havia minas de água com muita qualidade,
daí o número significativo de fontes, algumas das quais deram origem a chafarizes que
representaram, durante muito tempo, uma importante infra-estrutura local. Há registos
da inauguração, em 20 de Julho de 1849, do primeiro chafariz da Porcalhota (Callixto,
1987:39). Na época, este era o principal lugar, porque ali se localizavam as melhores
casas. O antigo palácio do Galvão70, cuja quinta tinha cerca de um quilómetro, é um
bom exemplo. Este edifício ‘devia ter sido, no seu tempo áureo, de grande beleza e
resplendor. Os seus salões e corredores eram ornamentados com artísticos painéis de
azulejos e com estatuetas(...) ostentava um brasão e cantarias de pedra e tinha uma
capela’ (Coelho, 1982:16).
fig. 1 - Saloia junto à Gargantada, séc. XIX
No final do século XIX, a Porcalhota possuía mais de cem fogos. Era,
predominantemente, terra de seareiros, de moleiros e padeiros, pelo que havia várias 69 Segundo Vasco Callixto (1987), «Porcalhota» é, num português antigo, o diminuitivo de «Porcalha», isto é, de «leitoa». 70 O palácio foi demolido em 1959.
79
padarias. Para além destas actividades, havia um comércio com tendas, casas de pasto
ou tabernas, algumas com fama de bem cozinharem o saboroso coelho guisado à
caçadora e algumas outras petisqueiras. Os produtos hortícolas eram vendidos nas
quintas ou em venda ambulante. O talho e a farmácia eram os únicos estabelecimentos
deste tipo existentes em toda aquela zona, pelo que abasteciam todos os lugarejos
(Coelho, 1982:16). Foi nesta localidade que nasceram as duas primeiras escolas
primárias do sexo masculino e feminino.
Na Porcalhota ficava , igualmente, a Capela de Nossa Senhora da Lapa que,
durante anos, foi palco de romarias, festas populares e religiosas em memória de S.
Sebastião. Segundo o referido autor, “nas vésperas da festa, logo as pessoas
embandeiravam a estrada até à capela e á volta do seu adro. Faziam também cordas de
verdura (...) que eram atadas de mastro a mastro. A iluminação era com balões e
tijelinhas, passando mais tarde a ser feita com gás’ havia baile e no coreto tocavam
bandas da terra e de fora; montavam-se barracas de comes e bebes onde não faltava o
tradicional mexilhão e o coelho à caçadora e, até, bordoada a valer. Faziam as
cavalhadas, havia fogo de artifício, procissão todos os anos na festa ao mártir S.
Sebastião (Coelho, 1982:17).
Estes acontecimentos trouxeram a fama à Porcalhota que passou a atrair muita
gente de fora às festas e às casas de petiscos, das quais se destacava o Pedro dos
Coelhos. Assim, ‘de Caleche ou de trem, de Larmanjat ou a cavalo, ia-se de Lisboa à
Porcalhota, propositadamente, para saborear o apetitoso pitéu’ (Callixto, 1987:31).
O lugarejo com o nome de Amadora ficava situado numa zona baixa, entre os
moinhos da Venteira, a sul, e os moinhos do alto, a norte.
O nome tem origem numa ‘(...) vivenda, que hoje fica situada entre as ruas 1º de
Dezembro e Heliodoro Salgado. A essa vivenda alegre, toda engrinaldada de flores e
banhada de luz, deu o seu proprietário o nome Vivenda Amadora’ (Callixto, 1987:65).
As primeiras habitações eram dois antigos casais, casas com quintas e
pardieiros71 que ficavam localizados junto à Estrada Nacional72 e não ultrapassavam os
trinta fogos. O que resta deste casario é uma antiga casa que serviu de taberna, onde se
juntavam moleiros para confraternizar. Esta locanda73 sobreviveu ao processo de
71 Designação dada a casas velhas. 72 Hoje esta estrada tem o nome de Rua Elias Garcia. 73 designação que significava local de comes e bebes.
80
urbanização, isto é, ‘quando começou a desenvolução da Amadora’, que se deu após a
criação do caminho de ferro, transformou-se em mercearia e local de convívio, onde
havia petiscos, espaço para jogos e para ouvir cantar o fado. Transformou-se, pois, num
importante espaço de sociabilidade local, atraindo também pessoas de fora que se
deslocavam, ao domingo, ao «Retiro do Frade», para conviver, desfrutar da música e
das comidas tradicionais (Coelho, 1982:28). Mais tarde, este edifício foi sede da
Associação dos Operários da Construção Civil da Amadora.
Até ao fim do século XIX, a Venda Nova, cujo nome vem de uma loja ou
venda74 nova existente no local, foi um povoado com poucos ‘fogos’75. Quando se saía
das portas de Benfica, era o primeiro lugar a avistar-se ficando já extra-muros.
As Portas de Benfica eram uma fronteira citadina que fazia parte da Alfândega
Municipal, criada em Lisboa, em 1852, para fiscalizar os direitos de trânsito para a
cidade. Todas as viaturas, mercadorias e pessoas pagavam uma portagem que se
chamava imposto de barreiras. Em 1910, com a implantação da República, tal imposto
foi abolido’ (Callixto, 1987:147). Ainda hoje se podem ver alguns dos oito torreões,
ligados quatro a quatro por paredes com portas e janelas que formam o conjunto
edificado.
Neste lugar, existiu, igualmente, uma albergaria ou estalagem e um grande
armazém de vinhos para exportação, que se instalou no local, no início do século XX;
possuía uma oficina de tanoaria que produzia barris em grande quantidade.
Segundo relatos da época, era uma zona fustigada, todos os anos, por ventos e
chuvas que provocavam grandes inundações a partir do ribeiro que ali existia, criando
dificuldades de circulação nas velhas estradas.
2.1.2. Modos de vida e estilo de sociabilidade das populações dos lugarejos
Em meados do século XIX, a população era constituída, sobretudo, por pequenos
lavradores seareiros, trabalhadores do campo, moleiros, padeiros e operários manuais
que trabalhavam com as ferramentas agrícolas, ou nas pedreiras existentes a norte dos
povoados e que se destinavam às cantarias ou a mós dos moinhos ou azenhas (Coelho,
74 «Venda» era o nome dado a um estabelecimento de comércio. 75 O termo ‘fogo’ refere-se habitação com local para cozinhar através do fogo, da lareira; ainda hoje é utilizado pelos técnicos para designar um apartamento ou casa.
81
1982:31). Já nessa época, muitos tinham o seu emprego em Lisboa, deslocando-se,
diariamente, para a capital.
As mulheres ocupavam-se com a produção do pão em padarias domésticas que,
segundo António Coelho, eram dez, no fim do século XIX nas quais trabalhavam três ou
quatro mulheres. Eram muito poucos os homens que se ocupavam com este trabalho.
Outras mulheres tinham como ocupação a lavagem de roupa, a costura e os trabalhos
agrícolas.
Os seareiros vendiam, ainda nas eiras, o trigo e as palhas aos moleiros e
padeiros. Este autor refere que ‘os trigos criados nos campos desta região da Amadora
eram trigos rijos, a que chamavam durázios. Faziam um pão um pouco trigueiro, mas de
bom sabor e de alimento, por ser muito oleoso e a farinha, quando se molhava, deitava
um aroma agradável’ (Coelho, 1982:35).
fig. 2 - Saloias vendendo na Praça da Figueira, em 1860
A Amadora possui, ainda hoje, lugares que se designam por azinhagas76 que
eram caminhos estreitos, uma espécie de calçada, por onde passavam os animais de
carga (machos e o burro alcatroz) que transportavam os trigos, até chegarem aos
moinhos, os quais desciam pelos mesmos caminhos, carregando a farinha para as
padarias.
Das figuras mais visíveis nestas localidades saloias eram os moleiros os quais
‘… usavam de uma grande solidariedade entre eles. Era costume, por exemplo, que os 76 Ainda hoje existem lugares com o nome de azinhaga, por exemplo, a Azinhaga dos Besouros que se transformou, nas últimas décadas, num bairro de habitat degradado, localizado entre Alfornelos (Amadora) e Pontinha.
82
moleiros velhos ou desempregados percorressem os moinhos, em dias certos dando
volta a todos. Nesses dias, ajudavam os moleiros nos trabalhos dos seus moinhos e
recebiam comida em troca. Eles eram também os mensageiros das novidades sendo
conhecidos nos moinhos pelos marqueses (Coelho, 1982:39).
Durante o século XIX, foram criadas pequenas unidades produtivas, grande parte
de carácter familiar, nos núcleos habitacionais da Porcalhota e da Amadora.
No fim de século, predominavam as padarias domésticas, as oficinas de
carpintaria, serralharia, construção de carruagens, curtumes, tecelagem, tinturaria e o
pequeno comércio. Os trabalhadores empregavam-se também na construção civil, de
moinhos, bombas de água, etc. O único talho que existia, localizava-se na Porcalhota e o
peixe era vendido de porta em porta por peixeiros que usavam duas canastras ligadas
por um pau, o recoveiro, apoiadas no ombro. Na imprensa regional encontramos
referências a figuras típicas da terra como o Chico Carteiro do Linda Amadora, o
Álvaro dos Jornais, o Velho Janeiro, o famoso mestre Pedro dos Coelhos,
(Callixto:1987:59).
Em 1895, foi fundada a Fábrica de Espartilhos Santos Matos & Companhia77.
Esta empresa veio dar trabalho, sobretudo, às mulheres que, para além das padarias
domésticas e da venda ambulante de diversos produtos, passaram a trabalhar na fábrica
de cintas e de espartilhos. A pequena-burguesia era dominante naquelas localidades,
constituída por agricultores, pequenos comerciantes e industriais.
Os ares de toda aquela região eram conhecidos como muito puros pelo que eram
recomendadas para a reabilitação de pessoas com problemas de saúde. Muitas das
pessoas que ali tinham casas para férias começaram, gradualmente, a fixar-se no local,
bem como outras vindas de Lisboa ou outras regiões. A forma como os habitantes locais
recebiam os recém-chegados revelava uma atitude de tolerância, embora com reservas.
Segundo Coelho, “disse-se que, no princípio do desenvolvimento, o povo destes lugares
hostilizava os recém-chegados. Julgamos ser essa uma versão errada, nunca me ter
constado notícia de acontecimento em que a população dos lugares tivesse atitudes
hostis para com as pessoas que para cá vinham habitar (...)mas o povo destes lugares era
de hábitos francos, hospitaleiros e leais, embora de costumes diferentes. Era natural que
não gostassem de arrogâncias, ou de serem objecto de zombarias por parte dos que
77 Esta empresa só foi desactivada em 1970.
83
vinham de fora” (1982:49). É interessante este registo, uma vez que nos revela uma
faceta das migrações, geralmente invisível no meio das estatísticas: a forma como as
populações acolhem os migrantes e como estes reagem aos costumes locais. Neste caso
concreto, o autor revela uma preocupação em destacar aspectos positivos deste
confronto de olhares entre quem recebe e quem chega a um qualquer lugar, no concreto,
a Amadora.
Para além das tradicionais festas e romarias e dos encontros nas locandas para
comer uns petiscos, beber uns copos e jogar com os amigos, há a registar o surgimento
do Clube dos Doze sócios, cuja sede era no Alto do Maduro, junto à estrada Velha de
Queluz78. O edifício do clube era conhecido pelo nome de Choça dos Macambúzios.
Este clube foi dinamizador das sociabilidades locais, porque promovia bailes ao som do
piano e viola, jogos como o bilhar, chinquilho, corridas de saco, cavalhadas, subidas ao
mastro untado com sebo, teatro, conferências, banquetes, etc. Nos anos conturbados que
antecederam a proclamação da República, as instalações do Clube dos Doze foram
utilizadas para comícios de propaganda dos republicanos que, naquela zona, tinham
muitos adeptos. No final do século XIX, surgiram as sociedades recreativas e
desportivas, sendo uma das mais importantes a Sociedade Filarmónica Recreio Artístico
da Amadora (SFRAA), criada em 28 de Julho de 1878. Entre as diversas actividades
artísticas e culturais, a SFRAA dava concertos para os sócios do Clube dos Doze e para
a população em geral, nas tardes de Verão. Esta colectividade dava, igualmente, apoio
logístico e prémios a um grupo de caçadores e de passarinheiros da Porcalhota, que
promovia a modalidade de tiro em voo às calhandras, aves que apareciam na zona, em
grande abundância. Estes acontecimentos constituíram, durante anos, um motivo para
chamar pessoas ao local, para se divertirem, vindas de Lisboa e arredores. Os modos de
vida destas populações foram retratados por escritores e poetas, artistas plásticos79 e até,
jornalistas, de acordo com uma visão idílica e bucólica daqueles tempos. Referiam, por
exemplo, que “a gente desta terra levava vida pobre mas trabalhadora e sem grandes
misérias. Viviam como uma grande família e muitos deles eram realmente parentes.
Conheciam-se bem e respeitavam-se mutuamente, havendo neles o sentido da
solidariedade. Eram hospitaleiros e o mal de uns era sentido por todos” (Coelho,
78 Hoje, esta rua tem o nome de António Gonçalves Ramos, vereador da Câmara Municipal de Oeiras e responsável pelo calcetamento da rua, velha aspiração dos moradores. 79 Um dos artistas plásticos da Amadora mais conhecidos é Roque Gameiro.
84
1982:32). Estas palavras parecem querer dar-nos uma ideia de comunidade que
orientava a vida dos povos existentes naqueles lugares.
O processo de desenvolvimento da Amadora dependeu sempre das
acessibilidades e, neste contexto, o larmanjat e mais tarde, o caminho de ferro de
Lisboa/Sintra, foram duas vias estruturantes. O primeiro meio de transporte colectivo
que ligou a cidade de Lisboa e os arredores foi o omnibus80, o que circulou a partir de
1845, isto é, nos primeiros anos do reinado da rainha D. Maria II. Segundo Callixto,
“vieram depois os ripperts e o cher-á-bancs (...) e a primeira ameaça contra a tracção
animal deu-se em 1855, quando se fez a primeira tentativa para o estabelecimento de
um caminho de ferro entre Belém e Sintra” (1987:46). O larmanjat81, criado em 31 de
Janeiro de 1870, foi um meio de transporte constituído por “uma locomotiva que puxava
uma ou duas carruagens, sobre dois carris de ferro e mais um ao centro, de madeira.
Porém, as dificuldades de circulação nos dias de chuva e os consequentes
aborrecimentos para os utentes, fizeram com que tivesse um ciclo de vida curto, isto é,
funcionou apenas até 1877” (Callixto, 1987:21).
A inauguração da linha do caminho de ferro Lisboa – Sintra, em 2 de Abril de
1887, veio dar origem ao primeiro surto de construção nos núcleos mais próximos das
estações. Com efeito, o caminho de ferro82 rasgou quintas e atravessou lugares, como os
lugarejos da Amadora e da Porcalhota, ligando Lisboa a Sintra, ao longo dos seus 23
quilómetros de comprimento e onze estações. Por isso, e como esta era, na época, a
povoação de maior dimensão, durante muitos anos, a estação que servia estes lugares
teve o nome de estação da Porcalhota83. Outro meio de locomoção que fez história foi
o Chora84 um antecessor do autocarro, que fazia o percurso do Intendente para Belém e
que foi criado por Eduardo Jorge85, que fundou uma empresa de transportes, em 1888
(Callixto, 1987:25).
80 O célebre omnibus, palavra que significa para todos, em latim, era constituído por uma carruagem puxada por duas parelhas de cavalos e tinha uma lotação para 15 pessoas, cf. Clube de Entusiastas do Caminho de Ferro, C.E.C.F., Catálogo da exposição Amadora e o Caminho de Ferro, 1999. 81 O larmanjat, também conhecido por larmanjão, foi criado pelo francês J. Larmanjat, que nasceu em 1826 e foi responsável pela invenção de uma máquina a vapor, em 1866. 82 A inauguração da tracção eléctrica, na Linha de Sintra, foi em 28 de abril de 1957. 83 Esta designação não era do agrado dos habitantes pelo que, mais tarde, foi substituída por Amadora. 84 A designação ‘Chora’ tem a ver com a alcunha dada a Eduardo Jorge por outros empresários de transportes de Lisboa que diziam que aquele era sempre o mesmo, que a toda a hora chorava por ter menores lucros. 85 Eduardo Jorge nasceu em 1878, em Arganil e foi um dos maiores empresários de transportes da Amadora.
85
2.2. A Amadora do século XX: notas sobre o processo de
industrialização e de urbanização (*)
2.2.1. As primeiras quatro décadas
Na primeira década do século XX, há acontecimentos que marcam
profundamente a vida das localidades que constituem hoje a Amadora.
Um desses acontecimentos é a publicação de um decreto-lei, no Diário de
Governo de 4 de Novembro de 1907 e assinado pelo rei D. Carlos e pelo Presidente do
Governo de então, determinando que ‘a povoação constituída pelos lugares de
Porcalhota, Amadora e Venteira, da freguesia de Benfica, do concelho de Oeiras, fique
com a denominação comum de Amadora’ (Callixto, 1987:31). Segundo este autor, a 1
de Fevereiro de 1908, era substituído o letreiro da estação de caminho de ferro de
«Porcalhota» para «Amadora».
fig. 3 - A estação da Amadora e vista para os terrenos do actual Bairro da Mina; 1908 – 1913.
(*) - ver anexo I - 1
86
Neste período, a Amadora é palco de diversos acontecimentos, aos quais não é
alheia a forte influência de destacadas figuras locais, algumas delas pertencendo à
Maçonaria, como é o caso do poeta Delfim Guimarães86. São estas personagens que, em
4 de Abril de 1909, organizam a primeira Festa da Árvore87, criam um Centro Escolar
Republicano e, a 22 de Agosto do mesmo ano, fundam a Liga dos Melhoramentos da
Amadora88, a qual desenvolveu um intenso trabalho local que, mais tarde, a levou à
criação da freguesia da Amadora.
fig. 4 - Festa da Árvore – Azulejo de Roque Gameiro
86 Um dos jardins centrais da Amadora tomou o nome deste escritor e poeta que nasceu em 1872, no Porto, e que é um dos responsáveis pela fundação da Loja Maçónica A Verdade, aberta na Amadora em 1911 (Gomes, 2000:99). Uma das colectâneas mais importantes dos poemas de Delfim Guimarães é da autoria de Lopes Vieira, cuja publicação foi feita pela Câmara Municipal da Amadora, em 1989. 87 Paulino Gomes (2000) , na obra Amadora, Raízes e Razões de uma Identidade,‘ afirma que ‘ As Festas da Árvore foram introduzidas em Portugal pela Maçonaria que por elas, queria enraizar no País, um verdadeiro Culto pela Floresta, como riqueza em todos os parâmetros. Passou a fazer parte das actividades obrigatórias nas escolas de todo o País. Tornou-se até uma espécie de culto religioso em que o amor à árvore, como amiga do Homem, fazia ressuscitar memórias ancestrais da própria Humanidade (...) veneração tradicional e marcava um local para a prática de certos rituais cívicos e religiosos (...) era evocada como símbolo da mãe natureza’ p.101; tem a sua raiz ideológica na filosofia das Luzes, do século XVIII, promovendo a cultura e preconizando a transformação progressiva da sociedade, através da boa consciência dos seus membros, da filantropia e da instrução, p. 102. 88 A Liga dos Melhoramentos teve como objectivos 10 mandamentos, isto é, um conjunto de aspirações que têm a ver não só com as infra-estruturas e o embelezamento da Amadora , mas também a educação, a cultura e o desporto, aspectos que visam ‘a melhoria das condições locais da Amadora (Gomes, 2000:100).
87
Com efeito, “é neste contexto que a Amadora iniciou o processo de transição do
rural ao urbano, do ambiente de Quintas e Retiros para o que iria ser chamada de
Cidade-Jardim89(...) o processo incluiu um forte crescimento demográfico e urbanístico
(...) foi dinamizada por um grupo de pessoas (industriais, comerciantes, intelectuais e
artistas, denominado Liga dos Melhoramentos. A conotação maçónica parece evidente
pelas obras realizadas com particular empenho social e político”(Gomes, 2000:100).
Três anos mais tarde, “em 14 de Abril de 191290, foram inaugurados os Recreios
Desportivos da Amadora, por iniciativa de José dos Santos Matos e António Rodrigues
Correia, sócios da fábrica de cintas e espartilhos. Este espaço possuía um luxuoso salão
de festas e teatro, um ringue de patinagem e ténis” (Callixto, 1987:83).
Em 1910, dá-se a implantação da República e com este acontecimento, reforça-se o
papel de uma burguesia local que está na origem da movimentação de grupos sociais
urbanos que vão ser decisivos no futuro da localidade.
O lugar que é hoje a Amadora viveu, durante anos, uma condição errante no que diz
respeito à pertença administrativa. Fez parte do concelho de Belém, freguesia de
Benfica, do concelho de Oeiras, freguesia de Benfica, de Belas, concelho de Sintra e de
Carnaxide, concelho de Oeiras. Por essa razão, e com o objectivo de estabilizar esta
pertença, a 2 de Abril de 1914 é apresentada na Câmara de Deputados um projecto de
Lei que propõe a criação da freguesia da Amadora, mas só em 17 de Abril de 1916 é
que é outorgada a carta de alforria que institui a freguesia da Amadora; a primeira Junta
só veio a ser eleita em 26 de Agosto de 1917 (Simões, 1982:19). Com a criação
administrativa da freguesia da Amadora e após a instalação, em 1919, do Grupo de
Esquadrilhas de Aviação República, que significou o embrião da zona da instalações
militares de Amadora/Queluz, verificou-se um significativo aumento populacional, a
que não são alheios os projectos urbanísticos para a instalação de áreas residenciais
como o do Grande Bairro do Parque da Mina91 e o do Bairro das Cruzes92.
89 Este conceito de cidade-jardim foi desenvolvido por afamados arquitectos ligados ao planeamento urbanístico. No caso concreto, Martinho Simões (1982), na obra de referência ( pp.12 e 13), faz alusão aos planos para a Reboleira que assentam neste tipo de planeamento. É um tema recorrente em várias obras. (cf. ponto 2.2. do presente capítulo). 90 Martinho Simões refere a data de 1910 para a criação dos Recreios Artísticos da Amadora. Este equipamento foi alvo, nos anos 90, de um programa de reabilitação que lhe devolveu a sumptuosidade e a utilidade dos velhos tempos, embora com uma intervenção arquitectónica moderna a contrastar com a traça antiga que, no essencial, se manteve. 91 Localizado, hoje, na freguesia da Mina. 92 Localizado na freguesia da Venda Nova.
88
fig 5. - O primeiro projecto de urbanização dos terrenos da Mina, mandado elaborar pelo proprietário António
Cardoso Lopes, no início do século XX
Em trinta anos, isto é, entre 1890 e 1920, a população passou de 1500 para 4200
habitantes.
Em 1921, foi inaugurada a carreira regular dos eléctricos da Carris até ao
terminal de Benfica e em 1929, iniciam-se as carreiras regulares de autocarro93, entre
Benfica e Amadora e mais tarde, até Queluz e em 1937, até Lisboa (Custódio, 1996:27-
28).
O Guia de Portugal – Lisboa e Arredores, da autoria de Raul Proença, publicado
pela Biblioteca Nacional, em 192494, referia ainda a Porcalhota como localidade que
distava 8,5 km do centro de Lisboa (1983:476) e descrevia assim o território que se
avistava do comboio que seguia para Sintra:
93 A empresa de camionagem pertencia a Eduardo Jorge que teve um concorrente, na época, a empresa de viação Joaquim Luís Martelo. 94 A versão facsimilada da primeira edição (1924) da Biblioteca Nacional de Lisboa foi publicada, em 1983, pela Fundação Calouste Gulbenkian (cf. Guia de Portugal 1. Generalidades. Lisboa e Arredores, 1983, pp. 476-478).
89
“O comboio põe-se em marcha através duma região ondulada; à esq., o antigo aqueduto e à dit. e para trás, a povoação, com o seu parque sombrio. Apeadeiro da Buraca e da Damaia, sempre com a linha do aqueduto à esq. , depois à dir. e a 10 Km, a Amadora. Em frente da estação, a grande fábrica de espartilhos de Santos Matos & Cª. A Amadora é uma povoação moderna, que teve por núcleo a antiga Porcalhota, situada na estrada de Sintra, e ficou célebre entre os anais da estúrdia e da culinária indígena pelo «coelho à caçadora» (...) A Amadora, hoje cheia de vivendas, com um belo parque, boas condições de salubridade e a sua água da Mina, é habitada por muitas famílias de Lisboa e já frequentada, no Verão, como estação de vilegiatura. A Liga de Melhoramentos da terra tem trabalhado com espírito progressivo pelos interesses da vila. Entre as vivendas mais interessantes, devem citar-se a do Sr. Guilherme Eduardo Gomes, junto à estação, em que as janelas imitam Sintra, os arcos e beirais Évora, os azulejos a Madre de Deus e a torre do relógio a da matriz das Caldas da Rainha; e a casa do artista Roque Gameiro, no alto da Venteira, dominando a baixa de Queluz e rodeada de uma linda mata, projecto do proprietário e na parte N., do arquitecto Raul Lino” (1983:478).
Em 1930, a população era estimada em 7300 habitantes e é precisamente a este
crescimento, acentuado para a época, que se deve, em 1937, a elevação da Amadora a
vila. Neste ano, através do Decreto-Lei nº 27773, de 24 de Junho, o lugar da Amadora
foi elevado a vila, a primeira a ser criada após a publicação do Código Administrativo
da República, em 31 de Dezembro de 1936 (Simões, 1982:17).
A par de outros factores, dos quais se destacam as acessibilidades, a localização
de empresas no território da Amadora vai acelerar o ritmo do crescimento urbano.
Nos anos 30, instalam-se empresas como a Pereira e Brito95 que se dedicava à
produção de telas, tecidos impermeáveis e artigos confeccionados com estes materiais e
a BIS, Borrachas Industriais que se instala na Venda Nova.
fig. 6 – Panorâmica da Amadora, em 1943 (Vista do Alto dos Moinhos)
95 Segundo o Recenseamento e Estudo Sumário do Parque Industrial da Venda Nova (1996) feito pela Câmara Municipal da Amadora e da Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, esta unidade produtiva, situada na Rua Elias Garcia, foi desmantelada em 1992/93.
90
Na década de 40, inicia-se o processo de desenvolvimento do agrupamento
industrial da Venda Nova96, com a instalação de novas indústrias pesadas como, por
exemplo, a Sorefame, a maior unidade industrial do concelho. É precisamente em 1949
que é elaborado o Plano de Urbanização de Faria da Costa, que parece corresponder a
uma tentativa da Administração Central de dar resposta ao crescimento desordenado
que se verificava já nessa época (ESP/PDM/CMA, 1986)97.
2.2.2 De cidade - jardim a dormitório de Lisboa
A localização da Amadora, marcada por uma contiguidade em relação a Lisboa,
bem como o caminho de ferro e os diferentes meios de transporte que referimos, que
garantiam uma rápida e forte acessibilidade à capital, tornaram a Amadora um território
apetecível por parte de diferentes populações e investidores. Contudo, o crescimento
populacional, na década de 50, contribuiu para a criação de uma situação de
desequilíbrio entre a oferta e a procura de habitação, o que está na origem do processo
de construção de génese ilegal na Amadora. Como podemos ver no quadro 8, em 1950,
a população da Amadora era de 19700 habitantes contudo, este forte crescimento
populacional intensifica-se nas décadas seguintes, com os processos de migração para as
áreas urbanas. Desenvolvem-se novos núcleos urbanos junto às estações do caminho de
ferro98 da Amadora, como Damaia e Buraca e continua a crescer a zona industrial da
Venda Nova e a zona residencial que nela se apoiará.
Em 1959, começa a ser delineado um plano urbanístico para a extensa área que é
hoje a Reboleira. Notícias da época referiam-se ao grandioso plano urbanístico, à
“Cidade - Jardim99, primeira Cidade-Satélite de Lisboa, que começa a ser uma
96 A Venda Nova é hoje uma freguesia, onde está localizado o bairro Estrela d’África, pelo que será considerada, mais à frente, como uma escala interlocal no contexto da abordagem da cidade da Amadora. Por coincidência, esta é a primeira zona industrial da Amadora, cujas empresas de ramos distintos ali se fixaram, desde os anos 30 até hoje. Desenvolveremos este tema no capítulo 4). 97 Esta perspectiva do processo de urbanização da Amadora baseia-se no Plano Director Municipal-Estudos Prévios (1981) e nos Estudos Sumários de Planeamento da Câmara Municipal da Amadora (1986). 98 Como vimos, o caminho de ferro foi electrificado em 1957, criando, deste modo, mais rapidez e conforto aos utentes, o que provocou, igualmente, um boom no crescimento da população. 99 O conceito de cidade-jardim (Garden-city) surge no século XIX, criado pelos utopistas e está ligado ao Iluminismo. Defende um planeamento e organização do espaço de acordo com princípios de harmonia, flexibilidade, qualidade de vida. Este conceito foi desenvolvido por Howard, do qual resultou o conceito
91
realidade. A Reboleira - Amadora afirma-se no seu plano de urbanização como uma das
mais modernas localidades do País”(Simões, 1982:69).
fig. 7 - O bairro da Reboleira – A cidade-jardim. Como foi concebida a urbanização inicial
Nas décadas de 50 e 60, o crescimento urbano da Amadora foi tão intenso que
motivou intervenções urbanísticas que pretendiam estancar o processo de crescimento
desordenado que se estava a produzir no território. Foi durante este período que se deu a
aprovação, pelo Ministério das Obras Públicas de então, do Plano de Urbanização da
Freguesia da Amadora, o chamado Plano Aguiar, de 1960. Este instrumento de gestão
do território constituiu um avanço, relativamente ao já referido Plano Faria da Costa, de
1949. Nele se contemplavam preocupações urbanísticas relativamente a aspectos
fundamentais: definição de zonas de expansão do núcleo industrial da Venda Nova;
ordenamento e hierarquização da rede viária, não esquecendo as ligações regionais; a
previsão de equipamentos colectivos relacionados com a expansão urbana e elevada
densidade populacional; a ligação habitação/local de trabalho, na tentativa de criar vida
própria no território. Com base neste Plano de Urbanização, expandem-se os núcleos
urbanos existentes na Amadora centro, Damaia e Buraca (ESP/PDM/CMA, 1986).
A forte valorização do solo urbano causada, em certa medida, pela terciarização
de Lisboa, pelas criação de pólos industriais periféricos e pela consequente procura de
habitação por parte das populações empurradas para este e outros territórios periféricos,
de new town que era caracterizado por uma dimensão previamente estabelecida (50 000 ou 100 000 habitantes), in Leonardo Benevolo (1997:56).
92
sub-urbanos, provocaram pressões urbanísticas e alterações substantivas ao referido
Plano de Urbanização.
É nos anos 60 que surgem os núcleos clandestinos da Brandoa100, Casal da
Mira, Moínhos da Funcheira e outros de dimensão mais reduzida, que tinham uma
excelente localização e acessibilidades face ao concelho de Lisboa e possuíam terrenos
baratos não infra-estruturados. Este processo constituía uma resposta da economia
paralela às carências habitacionais sentidas pelas populações, sobretudo, as camadas de
menor capacidade económica, cujas poupanças não eram suficientes para investir na
aquisição de uma habitação legal (Pinto, 1997:369)101.
Estavam criadas condições para o surgimento de um mercado de arrendamento
para famílias que viviam na cidade de Lisboa em situações de habitação precária ou
para a aquisição de uma parcela de terreno por parte de migrantes internos que, longe de
suas terras, tinham a nostalgia de uma habitação com terreno. Como refere Leeds, “um
dos principais caminhos de entrada do migrante pobre é através de casas velhas,
decadentes ou habitações aparentemente construídas para residência proletária (...)no
Rio, parece haver considerável movimentação de um para outro desses tipos de
residências por parte de grande proporção de migrantes, até que eles se estabeleçam,
ascendam ou se mudem para as favelas” (1978:98). Como veremos nos próximos
capítulos, este fenómeno também ocorreu nos percursos dos migrantes internos que,
como a família Lameiras, quando vieram da terra de origem, viveram em quartos
alugados ou partes de casas velhas, na Lisboa antiga e, mais tarde, acabaram por
construir uma habitação precária com quintal, nos subúrbios, neste caso, na Amadora.
Durante a segunda metade do século XX, os jornais regionais e revistas da época
dão conta das preocupações dos habitantes da Amadora que vêem, todos os dias, lugares
e símbolos do património local serem ameaçados pela lei da picareta. A imprensa
reflectia um sentimento da população residente que via, na Amadora, desde o século
XIX até os anos 40, um lugar acolhedor e um simpático arrabalde lisboeta, onde se
passava férias, devido aos bons ares e onde havia harmonia e bom ambiente.
100 A Brandoa chegou a ser classificada como o maior bairro clandestino da Europa. 101 No colóquio A Política das Cidades ( 1997), no painel Sociedade Urbana, Madureira Pinto refere o seguinte: “Na ausência de programas habitacionais de iniciativa do Estado (....) assiste-se, nos dez anos anteriores a 1974, a uma verdadeira euforia na promoção imobiliária com subidas muito elevadas nos preços dos terrenos e construções. Para largas camadas da população portuguesa, a procura de alojamento começa a ter resposta em loteamentos de terrenos ilegais e na construção clandestina”, p. 369.
93
O jornal Notícias da Amadora102, de 3 de Junho de 1961, refere-se ao progresso
da seguinte forma: “...creio não ser descabido apontar o caso especial desta Amadora imensa que à viva força, uns tantos, de picareta em riste, querem transformar (e conseguem-no porque os ajudam e lho consentem) em incaracterístico burgo com pretensões ultra-modernistas, embora as manchas negras logo denunciem a falta de critério (...) tempos houve, bastante saudosos para alguns, por sinal, em que a Amadora era ‘uma povoação cativante, repleta de vivendas graciosas e elegantes, modestas umas e de certa opulência outras, e não o dormitório de cimento armado em que quase toda a vila está hoje transformada (...) um dia, vieram os homens da picareta dispostos a fazer valer a sua «lei» e as suas doutrinas (...) à sombra do progresso” (N.A. in Callixto, 1987:109).
De facto, alguns jornais da época davam conta da crescente transformação da
Amadora numa imensa cidade-satélite, da transformação radical da fisionomia, do
crescimento em comprimento, largura e altura e de perda das povoações e das suas
antigas características apagando vestígios, assim se modificam cidades, vilas e aldeias,
que outrora mais não eram que pacatos núcleos habitacionais, onde abundavam
moradias e onde vicejavam quintas e hortas (Callixto, 1987:119). “À sombra do progresso e
sob a lei da picareta em que aqui vivemos, os novos senhores desta vila, os homens do «projecto
aprovado», vão continuar a cometer atropelos urbanísticos (...)dentro de poucos anos não se saberá onde
acaba Lisboa, onde começa a Amadora e onde começa Queluz” ( Notícias da Amadora, de 24 de
Junho de 1962, in Callixto, 1987:121). Este desabafo de Callixto dava conta do
surgimento de um continuum urbano, no eixo Lisboa-Sintra, que hoje é particularmente
notório.
Apesar da profunda alteração da fisionomia do território da Amadora, esta vila
continuava a manter algumas das velhas tradições que se iam misturando com novos
costumes trazidos pelos migrantes internos. Assim, em 1963, numa revista103 da época,
surge uma referência à Amadora como “um dos mais importantes dormitórios de
Lisboa” (...) “apesar da sua importância populacional, não perdeu as características de
autêntica aldeia (...) as ruas à noite estão desertas (...) mais parece uma cidade
abandonada” (Simões, 1982: 101).
No jornal diário República, escrevia-se sobre um espírito de contradição que
nascia do facto de haver os que enalteciam a grandeza e prosperidade da Amadora e, por
102 O Notícias da Amadora, com sede na Rua Elias Garcia – Amadora, é hoje um prestigiado jornal da região, que mantém uma orientação atenta aos problemas sociais e urbanísticos da cidade. 103 Tratava-se da revista Eva, bem conhecida na época.
94
outro lado, os que chamavam à localidade o grande dormitório de Lisboa e Vila
Adormecida. Assim ‘devido à falta de coesão entre as camadas populacionais da
Amadora (...) duas soluções se oferece ao indivíduo: o seu lar, onde poucos têm
televisão (...)outra solução é o café, com a inevitável televisão, esse mágico “écran”
para onde, diariamente, convergem alguns milhares de olhos” (in Simões, 1982:104).
Neste excerto, é impressionante o realismo com que se descreve a vida na localidade
chamada Amadora: “mas a realidade, a realidade tangível, é que milhares de pessoas
vivem na mesma localidade, algumas na mesma rua, às vezes no mesmo andar do
prédio, e não se conhecem. E todos os dias, alguns milhares de indivíduos dirigem-se
aos seus empregos na capital; à tarde, voltam; no dia seguinte, o mesmo, e nunca se
falam, embora se vejam todos os dias, à mesma hora, no mesmo banco do combóio,
como se de indivíduos de planetas diferentes se tratasse” (Simões, 1982:101). Este
retrato dos amadorenses dá conta das consequências do rápido processo de urbanização
sobre a interacção social e cultural dos indivíduos, em que prevalecem relações
superficiais e impessoais que traduzem a existência de mundos contrastantes, fruto dos
processos migratórios. Paradoxalmente, a imprensa dava conta da profunda mudança
que se estava a operar na Amadora e da coexistência, no mesmo espaço, de traços que
tinham a ver com a matriz rural do princípio de século e que teimavam em persistir,
resistindo à erosão do tempo, e traços da vida urbana contemporânea.
Nos anos 60, ao mesmo tempo que a emigração portuguesa atingia o seu auge,
os que não emigraram, fugiram para as cidades e sobretudo, para Lisboa, onde se
iniciavam grandes obras como as do metropolitano. Com efeito, os migrantes internos
constituíam, na generalidade, um exército de mão-de-obra não qualificada e flutuante,
muito virada para a construção civil.
Não obstante ter sido intenso o fluxo de pessoas do campo para a cidade, o
mercado de trabalho continuava a precisar de mais mão-de-obra mas, desta vez, a
resposta foi encontrada nas ex-colónias. Por conseguinte, é com a vinda de contingentes
de cabo-verdianos para Portugal, que o mercado começou a reequilibrar-se. É conhecido
o caso de uma grande empresa que fretou navios para o transporte de trabalhadores de
Cabo Verde para Portugal, sobretudo, para a obra do metropolitano. Mais tarde, estes
95
trabalhadores imigrantes começaram a chamar as suas famílias num ciclo ininterrupto
que se manteve até aos dias de hoje104.
Em 1961, a população do território que constitui hoje a Amadora era estimada
em 50000 habitantes, passando, no início dos anos 70, para 115000 habitantes
(ESP/PDM/CMA, 1986).
> Evolução demográfica do (futuro) Concelho da Amadora
1890 1911 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981
População (em milhares)
1.5 3.7 4.2 7.3 10.3 19.7 49.2 115.0 163.8
Aumento em % 147 14 74 41 91 150 134 42
50/60 60/70 70/78 Crescimento total da
população da Amadora (em milhares) 29.5 65.8 40.2
Crescimento resultante da Imigração 28.2 60.8 31.10
Fonte: Estudos Sumários de Planeamento/PDM/CMA, 1986
fig.8 É nesta década que se inicia uma intervenção do extinto Fundo de Fomento de
Habitação (FFH), no campo da habitação social, com o Plano Integrado do Zambujal da
Buraca; é também elaborado o Plano de Urbanização da Brandoa e iniciada a instalação
de infra-estruturas, neste bairro. Contudo, o processo de urbanização não evita a
consolidação e o surgimento de novos bairros de construção ilegal e espontânea, de que
há dezenas de exemplos na Amadora.
Na segunda metade da década de 70, desencadearam-se nesta cidade os
processos de transformação das barracas em construções de alvenaria, um pouco por
todo o território, sobretudo, em terrenos públicos ou marginando antigas estradas
militares que se localizavam na fronteira com o concelho de Lisboa. Mas, se para uns a
solução para o problema habitacional estava nos bairros chamados clandestinos, para
outros tantos a alternativa eram os bairros de barracas, bairros de lata, tecnicamente
104 No capítulo seguinte, desenvolveremos este aspecto, pela relevância que assume no contexto do presente trabalho.
96
conhecidos como bairros de habitat degradado105. Estes surgiram, ininterruptamente,
como cogumelos, perante a incapacidade da administração local e central em controlar o
seu avanço e consolidação.
O Primeiro de Janeiro, na edição de 6 de Março 1977, encabeça um artigo com o
título O grande dormitório de Lisboa e os articulistas, referindo-se exclusivamente à
Amadora, escrevem artigos que se referem à situação da Amadora, paredes meias com
Lisboa e à febre da construção civil, à explosiva rapidez do seu crescimento
populacional (Simões, 1982).
Embora a proposta remonte a 1961, apenas a 11 de Março de 1977, foi aprovada na
Assembleia da República a criação do Município da Amadora, criando-se, para o efeito,
uma comissão instaladora, cuja função era desenvolver os estudos indispensáveis à
criação e institucionalização deste município. Contra vontade da comissão, que
pretendia que a Buraca e Alfragide fossem uma única freguesia e que a Falagueira e
Venda Nova constituíssem duas freguesias, viria a ser aprovado exactamente o
contrário, tendo sido criadas oito freguesias mais recentemente, em Julho de 1997,
foram criadas mais três freguesias (S. Brás, Alfornelos e Venda Nova), perfazendo um
total de onze freguesias (*). Apesar de constituírem territórios muito pequenos em
termos geográficos, as freguesias constituem um tecido urbano muito denso e
diversificado, do ponto de vista socio-económico e cultural.
O Município da Amadora foi criado a 11 de Setembro de 1979, através do Lei
nº45/79. No ano seguinte, foram instalados os órgãos autárquicos que iniciaram um
processo de transformações, sobretudo, no plano urbanístico, que mudaram o rosto da
cidade-concelho da Amadora.
(*) ver anexo I - 2
105 Este tema será desenvolvido no capítulo seguinte.
97
Nos anos 80, este processo teve como expressão mais visível a expansão e
densificação urbanas em grandes áreas do concelho: incremento na recuperação dos
bairros clandestinos, sobretudo, Brandoa, Moinhos da Funcheira e Casal da Mira; o
desenvolvimento da zona industrial da Venda Nova, que reflecte movimentos
importantes de reestruturação empresarial e produtiva, nomeadamente, de indústrias
pesadas (metalomecânica, construção de material de transporte) e dos sectores de
indústria urbana mais flexível (gráficas, vestuário, indústria farmacêutica), (Neves,
1996) ; começa a consolidar-se outro importante agrupamento industrial em Alfragide,
freguesia que conta hoje com uma concentração de unidades produtivas e de tecnologia
de ponta, de que a Siemens é um bom exemplo; implantação de grandes superfícies
comerciais e industriais, ao longo da Estrada Lisboa/Sintra.
A cidade-dormitório começou a fixar pessoas, não só do ponto de vista
residencial mas laboral, contribuindo para tal a terciarização do concelho. Com efeito,
“a economia da Amadora, na sua composição de actividades reflecte a inserção
metropolitana do concelho (...) suscita o interesse de localização de actividades
económicas na proximidade de grandes centros consumidores e com apreciável
dinamismo demográfico (...) definindo a tendência geral de centrifugação de actividades
económicas que marcou a Área Metropolitana de Lisboa-Norte”(Neves, 1996:76).
Inserida na primeira coroa da AML, a cidade-concelho da Amadora apresenta dinâmicas
próprias desta inserção ditadas pela proximidade habitação/emprego, com impacto no
sistema de emprego, que ultrapassa a escala municipal, para configurar uma bacia de
mão-de-obra (Beaumert in Neves, 1996:78) de base intermunicipal106.
Nos últimos anos, o mosaico de actividades da Amadora sofreu uma
transformação estrutural com retracção das indústrias pesadas e da construção civil e a
expansão dos serviços, do comércio e de indústrias urbanas com perfis que exigem
maior qualificação profissional. Este facto, aliado à saturação do território, em termos
urbanísticos, tem vindo a provocar uma diminuição dos fluxos populacionais, nas
últimas duas décadas. Os censos de 1981 e 1991 mostram que o processo de
urbanização do território da AML - e da Amadora em particular - apresenta contornos
que reflectem mudanças sensíveis nos padrões demográficos, pelo abrandar da
intensidade do êxodo rural do interior para a AML, não obstante a emergência de uma 106 Sobre este processo de proximidade local do mercado de trabalho e grandes aglomerações, com a Amadora como cenário, ver A. Oliveira das Neves (org.), (1996:78).
98
forte corrente imigratória envolvendo, sobretudo, indivíduos com origem nos países
africanos de expressão portuguesa107.
A Amadora é um bom exemplo de cidade que passou, sobretudo, a partir dos
anos 60 do século passado, por processos de crescimento acentuados e por uma
considerável ocupação do território. Como refere Victor Matias Ferreira, “é o
paradoxo do espaço metropolitano, com uma população muito elevada em toda a sua
área e a cidade de Lisboa que foi pivô de atracção, depois, expulsa essa população para
um espaço que não é urbano no sentido forte da palavra, que vai ser um espaço a
urbanizar, muitas vezes, em condições precárias de construção clandestina, que são as
periferias em geral (...) existe uma densificação em zonas da periferia e quando as
pessoas se deslocam para a cidade é suposto ficarem aí, mas o que se passa é que ficam
em dormitórios, em espaços que normalmente não têm equipamentos nem
acessibilidades. Não existe, aí, cidade (...) existe uma falta de cultura urbana...”
(2002:17) 108.
Vejamos, em seguida, quem foram afinal os urbanitas que, desde os anos 40, não
cessaram de chegar a estas paragens, transformando a vila da Amadora numa das
maiores cidades do País.
107 Desenvolveremos este tema no capítulo seguinte. 108 Cf. entrevista ao Jornal Expresso, de Victor Matias Ferreira, Edição nº 1530, de 23 de Fevereiro 2002, p. 17.
99
Capítulo 3
POPULAÇÃO E TERRITÓRIO: O LUGAR DA AMADORA NA A.M.L.
3.1. Dos dias vergados sobre a enxada à miragem urbana
Durante a segunda metade do século XIX, a teoria das migrações baseava-se
num modelo em que eram determinantes os factores de repulsão e de atracção109. No
primeiro caso, as principais causas da migração incidiam sobre a falta de acesso à
propriedade da terra, à existência de secas, fome, baixos salários e aumento
populacional; no segundo caso, a atracção era motivada pela procura de melhores
condições de sobrevivência, de trabalho e de salários. Os factores de atracção,
“colocavam em nítido contraste as vantagens da vida urbana sobre a vida rural; por
outras palavras, as luzes da cidade e as facilidades à disposição do urbanita agiam como
farol de referência para o camponês que passava os dias vergado sobre a enxada”
(Jackson, 1991:19). Para além destes factores, que assentam no plano das motivações e
opções de ordem individual inseridas na trama social, este autor defende que é
necessário avaliar os processos específicos de incorporação dos migrantes nos diferentes
sectores dos mercados de trabalho e de habitação. Por conseguinte, será importante
determinar os “efeitos estruturais que condicionam a experiência vivida pelo imigrante,
bem como as oportunidades que lhe são abertas e que têm uma influência decisiva na
adaptação e incorporação na sociedade de acolhimento” (Jackson, 1991:111).
Tendo como pano de fundo o processo de metropolização de Lisboa e a forma
como se distribuiu a população pelo território urbano-metropolitano, procuramos
enquadrar a cidade-concelho da Amadora, centrando-nos, para o efeito, nos diferentes 109 Na obra de John A Jackson, 1991 (1986), é explanado o modelo de atracção-repulsão construído por Ravenstein, tendo o estudo sido publicado em 1889. Pretendia explicar os mecanismos dos processos migratórios e as variáveis que condicionavam os fluxos. Nesta abordagem, Ravenstein relacionou a migração com a distância (curta e longa), para além dos centros urbanos, havendo também deslocações, por etapas, na direcção do centro de atracção e uma contra-corrente ou contra-fluxo em qualquer situação migratória, pp. 21.
100
fluxos migratórios que se operaram na segunda metade de século XX. Assim,
consideramos, por um lado, os migrantes internos que se fixaram na região de Lisboa,
entre as décadas de 40 e 60 e por outro lado, os imigrantes cujos fluxos foram mais
intensos, nas décadas de 70 e 80, sobretudo, populações provenientes dos PALOP, dada
a expressão que estes têm na AML e, em particular, no território da Amadora.
Com efeito, uma análise sobre a naturalidade da população residente em Lisboa,
até aos anos 60, mostrava o peso dos não-naturais desta cidade, em relação ao total de
residentes. Se recuarmos a 1890, “verificamos que 46% da população residente em
Lisboa não era natural da cidade (...) se o total da população residente em Lisboa
aumenta, entre 1890 e 1960, de cerca de 301 mil para cerca de 802 mil indivíduos (+
166%), o sub-grupo dos não naturais aumenta a um ritmo bem superior, passando de
140 mil, 1890, para 440 mil em 1960 (+ 214%)” (Cardoso, 1993:21).
Este fenómeno de crescimento acentuado marca, profundamente, os contornos
sociodemográficos e urbanísticos da cidade de Lisboa e está na origem da expulsão de
muitos milhares de pessoas para fora de portas e da consequente desertificação de
algumas zonas da capital. O crescimento dos concelhos limítrofes é induzido,
justamente, por este fenómeno, absorvendo uma parte significativa de lisboetas de fora
que procuram uma habitação economicamente mais acessível e de construção mais
recente, na periferia, como vimos no capítulo anterior.
A expansão e densificação dos espaços construídos nestes concelhos vão
determinar a invasão crescente dos espaços rurais e por conseguinte, vão dar origem ao
aparecimento de novos aglomerados urbanos, por vezes, como veremos mais à frente,
sem planeamento nem licenciamento prévio. A Amadora é um dos concelhos da
margem norte da região de Lisboa onde o impacto deste processo de urbanização mais
se fez sentir.
101
3.1.1. Migrações internas110
Entre o início dos anos 60 e o início dos anos 90, passaram a residir, na região de
Lisboa, mais de um milhão de pessoas. Assim, apesar da Área Metropolitana de
Lisboa111 ocupar apenas 4,2% da superfície de Portugal Continental, possui a maior
concentração populacional do País (Rosa, 2000:1045).
Na verdade, o processo de urbanização da AML teve um forte incremento, a
partir dos anos 60, período em que se verificaram grandes fluxos migratórios das zonas
rurais, sobretudo do interior centro e sul, para os centros urbano-industriais. Este fluxo
ininterrupto para a AML deve-se, em larga medida, a “um processo de desenvolvimento
espacialmente concentrado, baseado, fundamentalmente, na industrialização e na
tentativa de modernização da economia portuguesa no após-guerra” (Fonseca,
1988:268). Em consequência, a grande burguesia agrária foi perdendo poder económico
e político, o que provocou o desemprego ou o subemprego agrícola, que cresceu com a
mecanização da agricultura.
Os principais factores que estão na origem dos fluxos migratórios foram,
justamente, o baixo nível de desenvolvimento da agricultura e a falta de investimento
nas regiões do interior, o que teve como consequência uma autêntica sangria de mão-de-
obra para as zonas industrializadas. Este processo deu origem a correntes migratórias
internas para as áreas urbano-industriais do litoral, especialmente, para a região de
Lisboa e a uma progressiva desertificação das regiões do interior, provocando grandes
assimetrias regionais.
A mobilidade geográfica interna foi gerada pela necessidade de mão-de-obra
para sectores da indústria transformadora e da construção civil, para o comércio e
serviços. Esta mobilidade originou uma forte concentração de trabalhadores, sobretudo,
na região de Lisboa e de Setúbal, transformando-os em dois dos distritos do País que
exerceram maior atracção demográfica, nas últimas quatro décadas do século xx.
110 Segundo Jackson (1991:11), migração interna é um termo que ‘engloba as deslocações dentro de um país ou de uma área restrita; normalmente, não implica controlos formais (...) mas implica deslocações através de divisões administrativas’. Optámos por utilizar a terminologia de migrante interno e imigrante, embora este termo possa englobar o primeiro. 111 A partir da década de 50, o crescimento da cidade-metrópole de Lisboa começa a transpor os limites do concelho e, a partir dos anos 60, desenha-se uma unidade socio-económica e geográfica que engloba vários concelhos da periferia, que vem a designar-se, mais tarde, por Área Metropolitana de Lisboa.
102
Os pequenos agricultores e os assalariados agrícolas constituíram um exército de
mão-de-obra não qualificada que foi atraído pela indústria, bem como pelo chamado
terciário inferior112 (Fonseca, 1988:270).
Como refere Jackson (1991:83), “é característico de todo o migrante o procurar,
tanto quanto possível, efectuar uma mudança do conhecido para o conhecido”. É
precisamente esta tendência que está na origem das chamadas cadeias migratórias para
a cidade. Por conseguinte, a opção de mobilidade geográfica para a região de Lisboa foi
orientada, na maior parte dos casos, pelos contactos familiares, de conterrâneos e de
amigos que já se tinham fixado nesta zona, contribuindo, deste modo, para a escolha do
lugar de destino113.
Neste contexto, tem uma particular relevância o conhecimento da origem
geográfica da população da AML (Figura 9) e da Amadora, em particular. Assim, os
dados do censo de 1981 revelaram que, dos 2 507 457 habitantes residentes na AML,
apenas um pouco mais de metade (53,93%) tinha nascido nos distritos de Lisboa e
Setúbal, sendo 38,23% naturais de outras regiões do Continente (Fonseca, 1988:271).
Com efeito, até 1981, os distritos que exportaram maior número de indivíduos para a
região de Lisboa foram os distritos de Viseu, Guarda, Portalegre, Santarém, Vila Real,
Faro, Coimbra, Évora, Beja (52,88%) e Castelo Branco ( 30,79%) e os menores foram
Bragança, Aveiro, Braga e Porto (12,10%) (Fonseca, 1988:276). A população originária
do Norte e do Centro tem um peso maior na cidade de Lisboa e concelhos limítrofes, da
margem norte do Tejo. As populações do Sul, nomeadamente, os alentejanos e algarvios
concentram-se, sobretudo, nos concelhos a sul do Tejo e revelam uma forte segregação
espacial. Por exemplo, os alentejanos concentram-se nos concelhos da Moita, Barreiro e
Seixal, ainda que existam fortes núcleos destas populações nos concelhos da primeira
coroa urbana, sobretudo, Vila Franca de Xira e Amadora. A presença das populações
alentejanas114 no concelho de Amadora teve sempre uma grande visibilidade devido,
em parte, ao modo de vida das populações e à capacidade associativa, de que são
112 O terciário inferior engloba profissões como: contínuos, porteiros, polícias, motoristas, cobradores, empregados de balcão, de restauração e de hotelaria. 113 Este fluxo para a cidade vai alimentar, mais tarde, uma relação estreita dos locais de origem com os locais de permanência na cidade. Sobre esta questão ver A. Firmino da Costa (1985:735-756) 114 Na Amadora, há pelo menos dois grupos corais alentejanos, sendo que um deles está integrado na colectividade centenária SFCIA - Sociedade Filarmónica Comércio e Indústria da Amadora. No que diz respeito à restauração, existem vários restaurantes conhecidos pela gastronomia alentejana, funcionando alguns como tertúlias, onde se canta, conta histórias e se convive a partir da comensalidade. Como veremos, também encontramos, no Estrela d’África casas caiadas de branco pertencentes a alentejanos.
103
exemplo os grupos corais, os restaurantes e tertúlias, a gastronomia tradicional, muito
apreciada pelos amadorenses.
> População residente na AML, em 16 de Março de 1981, por
distritos de naturalidade
DISTRITO DE NATURALIDADE
AML AML – CONCELHOS A NORTE DO TEJO
AML – CONCELHOS A SUL DO TEJO
Nº. habit. % Nº. habit. % Nº. habit. % AVEIRO 25 719 1,11 20 991 1,20 4 728 0,84
BEJA 99 645 4,31 58 009 3,32 41 636 7,39 BRAGA 28 972 1,25 24 944 1,43 4 028 0,72
BRAGANÇA 24 835 1,07 20 838 1,19 3 997 0,71 CASTELO BRANCO 91 187 3,94 77 987 4,46 13 200 2,34
COIMBRA 66 881 2,89 56 932 3,25 9 949 1,77 ÉVORA 67 066 2,90 37 462 2,14 29 604 5,26 FARO 59 133 2,56 34 815 1,99 24 318 4,32
GUARDA 59 545 2,57 51 755 2,96 7 790 1,38 LEIRIA 47 576 2,06 41 361 2,36 6 215 1,10 LISBOA 1 067 064 46,13 971 830 55,54 95 234 16,91
PORTALEGRE 60 188 2,60 45 108 2,58 15 080 2,68 PORTO 36 703 1,59 31 172 1,78 5 531 0,98
SANTARÉM 106 712 4,61 80 087 4,58 26 625 4,73 SETÚBAL 285 312 12,34 33 306 1,90 252 012 44,74
VIANA DO CASTELO 32 719 1,41 28 599 1,63 4 120 0,73 VILA REAL 48 809 2,11 43 591 2,49 5 218 0,93
VISEU 104 937 4,54 90 991 5,20 13 946 2,48 TOTAL 2 313 009 100,00 1 749 778 100,00 563 231 100,00
Fonte: I.N.E., 1981
fig.9
Na estrutura de ligação destes distritos, individualizam-se duas componentes
principais de variação da incidência regional das migrações para a AML: uma de
orientação norte-sul, que traduz a desigual importância da emigração para o estrangeiro
e a partilha das áreas de recrutamento de mão-de-obra para Lisboa. Os trabalhadores
originários de Beja, Évora, Portalegre e Santarém têm um peso relativo que é muito
maior nas indústrias transformadoras, construção civil e agricultura, do que os
provenientes do Norte e Centro do País; no sector terciário, os alentejanos e ribatejanos
são minoritários em relação aos nortenhos (Fonseca, 1988:290). Os serviços pessoais e
domésticos representam entre 20 e 30% da população activa emigrada das regiões norte
104
e Centro, enquanto, no caso do Alentejo e Algarve, esses valores baixam para os 11 e
12% (Fonseca, 1988:292).
Estes dados revelaram, também, que a percentagem de mulheres não naturais
dos distritos de Lisboa (47,03%) e Setúbal (45,02%) era superior às dos homens. Esta
prevalência da população feminina resulta, sobretudo, de três factores: das migrações de
mulheres para trabalharem como empregadas domésticas; da emigração para os países
da Europa industrializada ser predominantemente masculina; do facto das migrações
dos homens serem indutoras da migração das mulheres em resultado do reagrupamento
familiar (Fonseca.1988:274). Porém, nas zonas de urbanização recente, onde a procura
de habitação por parte dos jovens é mais elevada, há maior equilíbrio entre indivíduos
dos dois sexos.
No que diz respeito à Amadora, vimos que o primeiro grande surto de
crescimento demográfico do município deu-se entre os anos 40 e os anos 60, podendo-
se considerar esta evolução populacional como característica de zonas agrícolas que se
transformam em zonas urbanas, num espaço de poucas décadas.
De facto, a melhoria substancial das acessibilidades, através da tracção eléctrica
dos comboios da linha de Sintra, a proximidade com Lisboa, o processo de
industrialização com a consolidação de uma enorme cintura industrial na AML e as
obras públicas, atraíram à Amadora grandes fluxos de migração interna. Em
consequência, verifica-se o acentuar do crescimento da população, nomeadamente, a
partir dos anos 50 e que se mantém até à década de 70, período em que a taxa de
crescimento continua a ser muito elevada (134%), apesar de sofrer um abrandamento
(ESP/PDM/CMA,1986). A esta situação não é alheia, como referimos, a crescente
terciarização de Lisboa e a criação de um mercado de rendas mais baixas nos concelhos
limítrofes, de que a Amadora é um bom exemplo. Contudo, desde o início da década de
70, este concelho regista um significativo abrandamento de ritmo de crescimento devido
à perda de atractividade motivada pela escassez de solos disponíveis e pelos preços
elevados dos existentes, o que tem tido, até ao presente, um forte impacto no mercado
da habitação. Por conseguinte, nas duas décadas em referência, o fluxo de migrantes
internos para a Amadora foi intenso e apresentava a seguinte proveniência: do concelho
de Lisboa (44,6%), do Alentejo (13,4%), da região Algarvia (2,1%), das Beiras (11,5%),
da zona Centro (11,3%), do Norte (9,1%) (Figura 10).
105
> População residente na Amadora, por Naturalidade
AMADORA POPULAÇÃO % CONTINENTE 150 667 91,9 AVEIRO 1 316 0,8 BEJA 8 916 5,1 BRAGA 2 584 1,6 BRAGANÇA 1 808 1,1 CASTELO BRANCO 8 097 4,9 COIMBRA 4 450 2,7 ÉVORA 4 554 2,8 FARO 3 092 1,9 GUARDA 4 904 3,0 LEIRIA 3 303 2,0 LISBOA 73 040 44,6 PORTALEGRE 5 515 3,4 PORTO 2 377 1,5 SANTARÉM 7 167 4,3 SETÚBAL 3 018 1,8 VIANA DO CASTELO 2 530 1,5 VILA REAL 5 690 4,3 VISEU 8 306 5,1 REGIÕES AUTÓNOMAS 1 148 0,7 ESTRANGEIRO 12 063 7,4 ANGOLA 3 557 2,2 MOÇAMBIQUE 1 913 1,2 OUTRAS EX-COLÓNIAS 5 052 3,1 OUTROS PAÍSES 1 541 0,9
Fonte: Estudos Sumários de Planeamento/PDA/CMA, 1986
fig. 10
> População residente na Amadora, por Naturalidade, agrupada
segundo as áreas definidas pelo MAI
CONTINENTE POPULAÇÃO %
BEIRAS 18 976 11,5
ZONA CENTRO 18 567 11,3
LISBOA 73 040 44,6
ALENTEJO 22 003 13,4
ALGARVE 3 092 2,1
TOTAL 150 667 91,9
Fonte: Estudos Sumários de Planeamento/PDA/CMA, 1986
fig. 11
106
Neste contexto, é comum encontrarmos, ainda hoje, zonas, bairros e ruas cujos
residentes são pessoas com a mesma origem regional, como testemunham várias zonas
de Lisboa e da Amadora.
Um outro aspecto que importa aqui referir é o dos movimentos pendulares no
interior da própria AML, comparando os períodos de 1965 – 1970, 1974 – 1981 e 1991
- 1997.
Durante o primeiro período, os fluxos migratórios entre os distritos de Lisboa e
Setúbal representavam apenas 8,9% de pessoas residentes, em 1970, na AML.
No segundo período, as trocas de população entre os dois distritos foram de
31,3% do volume global das mudanças de residência interdistritais dos habitantes da
AML. Com efeito, entre 1970 e 1981, o crescimento demográfico da margem sul do
Tejo foi de 45,3%, enquanto a margem norte cresceu apenas 33,4%(Fonseca,
1988:292;294).
Entre 1960 e os anos 90, o único concelho da AML a perder população foi o de
Lisboa, verificando-se, nos outros concelhos, aumentos populacionais115. Assim, em
1960, 53% da população residente na AML vivia no concelho de Lisboa, descendo para
26%, em 1991 e para 22%, em 1997 (Rosa, 2000:1048).
Grande parte desta população procurou, nos concelhos limítrofes, locais para
residir, invertendo o sentido anterior, o que revela que, nos últimos anos prevaleceu a
opção por residir nas margens mais próximas do concelho de Lisboa. Com efeito, a
erosão da zona central de Lisboa em termos de função residencial veio exercer nos
concelhos vizinhos uma pressão demográfica. Situada na fronteira com o concelho de
Lisboa, a Amadora é exemplo desse transbordo da capital que, durante anos, a
transformou numa cidade dormitório e de passagem, nos percursos diários para e dos
empregos, com uma dinâmica de desenvolvimento urbano fortemente induzida pela
capital.
Nos anos de 70 e 80, verificou-se na Amadora novo boom demográfico, mas este
teve como protagonistas muitos milhares de imigrantes, maioritariamente oriundos dos
PALOP, sobretudo, de origem cabo-verdiana, a que nos reportaremos mais à frente.
115 Segundo Maria João Rosa (2000), em 1991, o número de habitantes por Km2 no concelho de Lisboa, foi de quase 8000, enquanto na AML ele foi de cerca de 800 pessoas por km2 e no Continente, de um pouco mais de 100 pessoas por km2. A seguir a Lisboa, o concelho com maior densidade populacional foi o Porto, figurando na terceira posição o concelho da Amadora, seguido de Oeiras e Barreiro, (p.1048).
107
Contudo, no período de 1991 a 1997, deu-se uma redução do crescimento anual
médio do concelho da Amadora (PROT-AML,2001:7)116.
Hoje, a Amadora é considerada uma cidade com vida própria, onde coexistem
populações de origens diferenciadas, as quais apresentam uma grande visibilidade que
confere a este território um perfil sóciodemográfico e cultural de particular importância
no contexto da AML.
3.1.2. A metrópole de todas as cores
No quadro das migrações europeias, desde os anos 50, Portugal foi uma porta de
entrada e plataforma giratória de populações migrantes, sobretudo africanas e em
particular cabo-verdianas, com destino à Europa do pós-guerra117. A reconstrução desta
e o acelerado processo de industrialização e de urbanização provocaram uma procura de
mão-de-obra que fez com que portugueses e africanos se cruzassem nesta rota e destino.
O facto de grande parte dos emigrantes africanos passarem por Portugal, provocava,
muitas vezes, uma fixação no nosso país de parte deste contingente. Este aspecto revela
uma complexa teia de estratégias protagonizadas pelas populações migrantes.
Na segunda metade dos anos 60, “com a intensificação do processo de
industrialização e a entrada de Portugal na EFTA, a economia do país começa a abrir-se
ao investimento estrangeiro (...) aumenta a fixação em Portugal de residentes
estrangeiros (...) começa também nesta altura o actual fluxo imigratório com origem nas
colónias africanas” (Esteves et al.,1991:20 e Pires et al., 1989), com destaque para os
cabo-verdianos. Estes começam a substituir a falta de mão-de-obra na construção civil,
substituindo os portugueses que, entretanto, tinham emigrado para a Europa central.
Neste quadro, a densidade de contactos e a proximidade linguística, cultural e
institucional desempenharam um papel importante no processo de escolha da região de
destino (Malheiros, 1996:81).
116 Os dados do período de 1991– 997 foram extraídos do Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa ( PROT-AML) - Relatório e Estudos de Fundamentação Técnica, produzido pela Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo ( CCRLVT), Junho 2001. 117 A Holanda, em especial a cidade de Roterdão, possui uma das maiores concentrações de população cabo-verdiana na Europa.
108
A partir de 1974, o processo de descolonização e a instabilidade nos PALOP
provocou novos fluxos de imigrantes para Portugal, não só com motivação económica,
mas também política, o que teve expressão no número de refugiados com origem,
sobretudo, em Angola. No que diz respeito à imigração cabo-verdiana118, de natureza
laboral, prosseguiu a cadeia migratória que se tinha iniciado no início dos anos 70.
Com efeito, “o abrupto crescimento da população estrangeira residente no país, a
partir da segunda metade da década de setenta, tem como características mais marcantes
o lento, mas regular, crescimento de fluxos imigratórios provenientes da Europa e
Américas, por um lado, e a aceleração brutal, entre 1976 e 1980, da imigração com
origem nos PALOP” (Esteves et al.,1991:19).
Portugal tornou-se, sobretudo, a partir do início de década de 80, tanto nos
aspectos qualitativos como quantitativos, um país de imigração. Este facto teve efeitos
notórios em várias dimensões da estrutura demográfica portuguesa porque veio,
acentuar o carácter heterogéneo da população de algumas regiões do País e compensar o
envelhecimento demográfico destas. Para os países exportadores de mão-de-obra, o
facto de as populações em idade activa e mais qualificadas terem emigrado, teve um
impacto positivo pelo envio de remessas, mas também consequências muito negativas
pela perda de mão-de-obra e de quadros que eram indispensáveis para o seu
desenvolvimento. Em compensação, uma contracorrente faz entrar em Portugal fortes
contingentes de imigrantes, isto é, consolida-se a imigração cabo-verdiana, reforça-se a
imigração angolana e guineense, ganha novos contornos a imigração brasileira. Por
conseguinte, o nosso País é um exemplo claro da “importância que as relações coloniais
detêm no estabelecimento de fluxos migratórios entre antigas colónias e metrópoles,
uma vez que cerca de 40% dos estrangeiros legais presentes no País, em 1990, eram
oriundos dos PALOP” (Malheiros,1996:69).
Neste contexto, e segundo Fernando Luís Machado(1999:33-34), há três factores
que favoreceram o rápido crescimento da imigração, na década de 80.
Um factor de ordem económica, com a criação de um mercado de trabalho
reforçado pela componente de obras públicas e, portanto, da construção civil, o qual
118 A imigração cabo-verdiana processou-se em dois períodos distintos: um primeiro período, entre 1966 e 1973, com a entrada de fortes contingentes de mão-de-obra cabo-verdiana para a construção civil, sendo que, neste caso, é o próprio governo português e o sector da construção civil que faz o recrutamento; o período do pós-25 de Abril, que se distingue do anterior porque se processou através da cadeia migratória, o que conferiu a este fluxo migratório um perfil muito diferente.
109
teve grande impacto na região de Lisboa e Vale do Tejo e no Algarve; este processo
volta a surgir nos anos 90, com as obras de grande dimensão como, por exemplo, a
Expo. 98, o metropolitano, a ponte Vasco da Gama.
Um factor de natureza política, que tem a ver com a permissividade do Estado
Português, no que diz respeito ao controlo de entrada e permanência de estrangeiros,
que decorre da inexistência de uma moldura legislativa119 adequada ao fenómeno. Esta
situação impossibilitou os imigrantes de exercerem alguns direitos cívicos como o de
poderem votar, os seus direitos laborais, o acesso à habitação e dificultou a vida
associativa de carácter formal.
O terceiro factor é de natureza eminentemente social e tem a ver com a formação
de redes sociais120. A respeito desta última dimensão, Clyde Mitchell (1969) deu um
contributo decisivo ao construir um modelo analítico baseado na análise situacional e
análise de redes, que nos permite entender a cidade através das redes de
interconhecimento e das situações que moldam os percursos individuais e colectivos dos
urbanitas, neste caso, com background migrante. Beatriz Rocha-Trindade refere que “as
redes sociais fundadas em laços familiares, de amizade e com base na identidade de
uma determinada comunidade, são categorias analíticas fundamentais para a análise dos
sistemas migratórios; ao efectuarem ligações entre os países de origem e os de destino,
as redes sociais baseadas em laços interpessoais constituem factores de intermediação
entre os actores individuais e as forças estruturais” (1995:91). Veremos, na segunda
parte deste trabalho, como as redes familiares foram fundamentais no processo de
povoamento do bairro Estrela d’África.
Neste contexto, as populações imigrantes que escolheram Portugal para destino
tiveram performances diferenciadas. Um dos exemplos mais evidentes refere-se ao caso
dos cabo-verdianos. No estudo sobre a presença dos cabo-verdianos em Portugal,
119 O primeiro processo de regularização extraordinária teve lugar em 1993 (23 mil processos a que se juntaram 18 mil pendentes); o segundo processo de regularização extraordinária abrangeu mais de 30 mil pedidos. Desde 1981 que este edifício legislativo tem vindo a ser construído, destacando-se os seguintes diplomas: Lei nº 37/81, de 3 de Outubro; Lei nº 25/94, de 19 de Agosto; Decreto-Lei nº 244/98, de 8 de Agosto; D.L. nº 4/2001, de 10 de Janeiro; Decreto Regulamentar nº 9/2001, de 31 de Maio; Resolução do Conselho de Ministros nº 164/2001, de 30 de Novembro. 120 Esta perspectiva remete-nos para Radcliffe-Brown (1952), o qual afirma, a propósito da cultura que ‘a observação directa revela-nos que esses seres humanos estão ligados por uma complexa rede de relações que têm uma existência real. Uso o termo estrutura social para indicar esta rede’ (1974:217).Uma recente obra de José Luís Molina (2001), El análisis de redes sociales.Una introducción, dá conta dos contributos de diversos autores, no que diz respeito aos processos de construção de redes sociais.
110
centrado na reconstrução das identidades, Ana Saint-Maurice afirma que “ao longo da
história da emigração cabo-verdiana121, foram-se fixando fileiras migratórias com
origens e destinos quase predeterminados. Gerações inteiras partiram na mesma
direcção, apoiadas por redes formal ou informalmente organizadas e que foram
assegurando a integração na sociedade receptora. No entanto, a fileira extravasa a
família, estendendo-se aos vizinhos e aos conterrâneos”(1997:49). A Área
Metropolitana de Lisboa, e em particular a cidade-concelho de Amadora constitui um
bom exemplo desta concentração de imigrantes africanos (*) processada através das
redes sociais, a qual tem um papel de relevo no processo relacional e na integração
socioprofissional desses imigrantes. Efectivamente, em 1997, a maioria da população
estrangeira residente no País, sobretudo, nos distritos de Lisboa e Setúbal, tem origem
no continente africano (46.6% no País e 59.7% nos referidos distritos), seguido do
continente europeu (28,4% no País e 21,0%, nos distritos de Lisboa e Setúbal) (PROT-
AML,2001:21).
Estes números levam-nos à conclusão de que Portugal, mais do que um país de
imigração (Esteves et al.,1991), é um país com um desenho específico do mapa da
imigração o que o lhe confere um perfil de país com regiões de imigração
(Machado,1999:52). Como vimos, a região de Lisboa e Vale do Tejo tem uma taxa de
concentração de população estrangeira elevadíssima122 e serve, por sua vez, de placa
giratória, a partir da qual os imigrantes vão para outras regiões do país, onde se
concentram grandes obras de construção civil, por exemplo, o fluxo para o Algarve e
para estrangeiro.
(*) ver anexo I - 3
121 Nas Ilhas do Fogo, Brava e São Nicolau, emigra-se, sobretudo, para os EEUU( Boston é a cidade com mais cabo-verdianos); os naturais de Santiago e Santo Antão emigram para Portugal (Amadora é a cidade com mais cabo-verdianos); no caso de S. Nicolau, é conhecido o fluxo de mulheres para Itália, datado de 1962, recrutadas por religiosos; a Holanda, nomeadamente, Roterdão é uma das cidades com maior número de cabo-verdianos na Europa, cujo fluxo tem a ver com o porto e as actividades da marinha mercante. 122 Fernando Luís Machado (1999) compara, com outras cidades europeias, as taxas de concentração de estrangeiros, para concluir que os distritos de Lisboa e Setúbal ocupam o primeiro lugar. Refere, ainda, que a presença de migrantes é directamente proporcional ao nível de desenvolvimento das várias zonas do país (...) por isso, a quase totalidade de estrangeiros concentram na faixa do litoral (...) nas zonas deprimidas do interior, a estrutura de oportunidades a nível local não deixa espaço nem para reter os jovens, nem para a substituição dos emigrantes por imigrantes (pp.58-59).
111
A partir 1987, Portugal viu-se confrontado com um aumento contínuo e
significativo de entradas de estrangeiros: em 1988, entraram no País 95 milestrangeiros,
em 1993, esse número subia para 131 600, e em 1996, as estatísticas davam conta da
presença de 172 900, o que correspondia a 1,7% da população total. Deste montante,
mais de 40% dos estrangeiros eram oriundos do continente africano, particularmente,
dos PALOP ( 24% de Cabo Verde), sendo que 28% tinham como proveniência a Europa
e 15% o continente americano (Brasil,12%), (Wenden,1999:53)123.
Com efeito, as estatísticas da Eurostat sobre a imigração, datadas de 1996 e
reportadas a 1 de Janeiro de 1994, apontavam para Portugal as seguintes percentagens:
cabo-verdianos, 23,3%; brasileiros, 11,8%; angolanos, 8,7%; guineenses, 6.9%.
Estes números revelam a prevalência de populações cabo-verdianas e brasileiras (figura
12).
123 Estes dados foram recolhidos na Bibliothéque sur Communauté Européene, no Arche de la Défense, e encontram-se em C. Wenden, (1999:53).
112
> Não Nacionais por grupo de Nacionalidade em Portugal
Fonte: Eurostat: Statistiques sur la Migration, 1996
fig. 12
As estatísticas oficiais, em particular, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras,
apresentavam um quadro surpreendente, no que diz respeito à presença de imigrantes124,
sobretudo de origem africana, em Portugal. De facto, à medida que os processos de
legalização extraordinária foram acontecendo, o número oficial de residentes aumentou
substancialmente, o que significa que muitos milhares de pessoas estão fora das
estatísticas do SEF. Uma parte do problema tem a ver com o facto de, ao longo dos
anos, ter sido difícil contabilizar o fluxo imigratório procedente dos países africanos de
língua oficial portuguesa, porque, durante décadas, os movimentos populacionais eram
encarados como migrações interregionais. Por outro lado, os dados sobre a entrada e
residência de imigrantes em Portugal deixam de fora uma componente significativa de
fluxos clandestinos e, por outro lado, os números variam consoante as fontes.
124 Apesar das estatísticas oficiais não contemplarem uma fatia substancial de imigrantes que fogem à malha do controlo institucional.
Espanhóis
Britânicos
Outros
Guinienses
Angolanos
Americanos
Brasileiros
Cabo-Verdianos
Outros cidadãos UE
Alemães
113
Num relatório relativo a 1994, apresentado em Abril de 1995, o SEF fez um
balanço da entrada e permanência de estrangeiros em Portugal com autorização de
residência, na primeira metade da década de 90. Assim, em 1991125, o total de africanos
recenseados nos concelhos da Grande Lisboa e na Península de Setúbal era de 28 326
(21 425 GL e 5 688 PS). Neste contexto, a Amadora surge à cabeça, com 4 137
africanos originários dos PALOP e 142 de outra origem. Segundo esta fonte, os cabo-
verdianos constituíam o grupo mais numeroso, com 36.560 pessoas autorizadas a
residir. Contudo, a este número temos de somar outros tantos milhares que se
encontravam em Portugal sem esta autorização, isto é, clandestinos, e as crianças e
jovens que, embora nascidos em Portugal, mantinham a nacionalidade dos pais. O
CEPAC (1995)126 estimava que, em 1991, eram cerca de 80 mil os cabo-verdianos a
residir, em Portugal. Esta estimativa não está muito longe dos números apontados pela
Embaixada de Cabo Verde que, num estudo recente127, estimou um número de cabo-
verdianos residentes em Portugal, em 1998, da ordem dos 79 mil a 85 mil. A análise da
distribuição geográfica desta população, em Portugal, localizou 90% dos cabo-
verdianos na Área Metropolitana de Lisboa, sendo os concelhos de Amadora, Lisboa e
Loures aqueles que apresentam maior concentração. O mesmo estudo refere que os
indicadores demográficos apresentam uma elevada juventude da população cabo-
verdiana, sendo ¾ pessoas com menos de 40 anos; o número de crianças com menos de
10 anos tem vindo a diminuir, em consequência não só do abrandamento da imigração,
como pela diminuição da fecundidade. Há um equilíbrio dos sexos - 51,2% homens
para 48,8% mulheres - o que pode traduzir um reagrupamento familiar equilibrado. No
total da população cabo-verdiana, cerca de metade, mais precisamente 50,7% dos
indivíduos, mantém a nacionalidade cabo-verdiana e 42,4% detém a nacionalidade
portuguesa.
Segundo dados do CEPAC (1995), os angolanos autorizados a residir em
Portugal eram da ordem de 13 589, mas este número não engloba os clandestinos e os
que têm nacionalidade portuguesa. Numa tentativa de aproximação ao número real, o
125 Os dados do Censo de 1991 referem o número de estrangeiros residentes em Portugal e especificamente, nos concelhos da Grande Lisboa e Península de Setúbal. 126 Cf. Cadernos CEPAC 2 (1995). 127 O Estudo de Caracterização da Comunidade Caboverdeana residente em Portugal foi mandado realizar pela Embaixada de Cabo Verde em Portugal e publicado em Maio de 1999, em Lisboa.
114
estudo do CEPAC estima em 40 mil indivíduos angolanos, incluindo os que têm
nacionalidade portuguesa e os clandestinos.
Os guineenses eram também em número elevado, ascendendo a 10 828 o
número de legais. Contudo, o facto de ser uma imigração recente faz com que dispare o
número de clandestinos, podendo ascender a 20 mil o total de indivíduos.
A imigração proveniente de Moçambique e de São Tomé e Príncipe era
notoriamente inferior, sendo que existe uma equivalência no número de imigrantes, o
que não deixa de causar alguma surpresa, tendo em conta o número de habitantes dos
respectivos países. Assim, os moçambicanos e santomenses apresentam,
respectivamente, números de 4186 e de 3782.
Apesar de esta abordagem deixar de fora um contingente elevado de
estrangeiros, uma vez que apenas referimos os aspectos que mais impacto poderão ter
sobre a Amadora, não podemos, porém, deixar de fora os brasileiros, já que têm uma
presença considerável neste concelho, como veremos, mais à frente. A motivação dos
brasileiros para emigrarem tem subjacente a procura de melhores oportunidades de
ordem profissional e laboral e caracteriza-se por uma composição profissional128 mais
qualificada que os imigrantes africanos de língua portuguesa. A imigração brasileira
ganha uma expressão considerável nos anos 90, fenómeno este que vem reforçar a
presença de imigrantes de língua portuguesa no nosso País. A variação do contingente
de brasileiros, entre 1986 e 1996, é bem representativa do acentuar deste fluxo para
Portugal129. Ao nível da composição sociodemográfica, os migrantes brasileiros
apresentam uma estrutura etária muito jovem e a percentagem de mulheres e de homens
está muito equilibrada.
Em síntese, e utilizando a arrumação esboçada por Malheiros (1996:98),
podemos resumir a distribuição das populações estrangeiras na AML do seguinte modo:
- Uma concentração de europeus e americanos, nos concelhos de Lisboa e
Cascais;
128 O nível de qualificação académica desta população imigrante é, sobretudo, de nível médio e superior, não obstante ocuparem, muitas vezes, postos de trabalho que não exigem qualificação. 129 A imprensa tem revelado que muitos imigrantes brasileiros fazem do nosso país uma placa giratória para entrarem nos EEUU ou no Canadá, porque para os portugueses a entrada nestes países está, formalmente, facilitada.
115
- Dispersão dos africanos pelos concelhos da AML-N, onde ocorrem
fenómenos de segregação espacial;
- Grande concentração de asiáticos, em geral, e de indianos e
paquistaneses, em particular, nos concelhos de Lisboa e Loures, para além da
elevada percentagem de paquistaneses em Almada e no Seixal;
- Nos três casos, há uma tendência para a formação de enclaves
residenciais étnicos.
Como referimos, o número de residentes estrangeiros na AML é bastante
elevado e diversificado. A abordagem que fizemos é, por conseguinte, muito parcelar
uma vez que tem o objectivo de nos posicionar na quadro das populações migrantes do
concelho da Amadora. De facto, nesta região, a presença de estrangeiros com origem
europeia, asiática, indiana e americana é por demais evidente, contudo, restringimo-nos
às populações imigrantes com mais expressão na Amadora, uma vez que adoptámos
este concelho como unidade geográfica de análise, da qual o bairro Estrela d´África é
parte integrante.
3.1.3. Amadora, um município multicultural130
Sendo a Amadora a cidade-concelho de referência para o presente estudo,
procuraremos dar uma panorâmica da distribuição de estrangeiros nesta subregião de
migrações da Área Metropolitana de Lisboa Norte. Para o efeito, recorremos a dados
estatísticos com fontes diversificadas, embora não seja possível falar de números
exactos pela inexistência de levantamentos a nível de freguesia ou de bairro, em que a
naturalidade dos residentes131 seja uma categoria tida em conta.
Como vimos, os intensos processos de suburbanização de Lisboa tiveram como
consequência a dispersão da população estrangeira pelos concelhos limítrofes. Segundo
os censos de 1960, 1981 e 1991, ‘a população estrangeira tem maior significado nos 130 Sobre o conceito de sociedade multicultural, ver John Rex (1988:185-209) e Beatriz Rocha Trindade (1995:253). 131 Referimo-nos, especialment,e ao levantamento do Programa Especial de Realojamento – PER que, embora tenha dados sobre as populações residentes nos bairros de barracas, não utiliza muitas vezes a naturalidade como categoria, o que dificulta a identificação da origem dos residentes. No caso da Amadora, como se sabe, grande parte destas populações tem origem africana, nomeadamente, cabo-verdiana.
116
concelhos da margem norte do Tejo, especialmente, na Amadora, em Oeiras e em
Cascais (Malheiros, 1996:93).
Na década de 70, estes fluxos para a Amadora, constituídos, sobretudo, por
africanos dotados de poucos recursos, provocaram uma forte implantação no território
do município, de dezenas de bairros clandestinos e degradados, como veremos, mais à
frente.
No que diz respeito à população migrante africana residente na Amadora,
recorremos, sobretudo, aos dados do levantamento do CEPAC, datados de 1995. Este
levantamento não deixa de ser um recurso importante, por mais incompletos que os
dados possam estar, não só devido às populações indocumentadas132, mas também pelo
facto de considerar apenas as populações africanas residentes em bairros
desqualificados do ponto de vista socio-urbanístico133. O levantamento do CEPAC
cobriu 12 núcleos de habitat espontâneo da Amadora e apresentava os seguintes
valores: caboverdeanos, 13052; angolanos, 1091; santomenses, 667; guineenses, 519;
moçambicanos, 60; outros:10; num total de 15399 indivíduos (Cachada, 1995:16-17)
(*).
Segundo este estudo, no total dos bairros dos distritos de Lisboa e Setúbal, com
maior concentração de africanos, o Estrela d’África ocupa o 23º lugar, sendo o sétimo
do concelho da Amadora. O bairro Estrela d’África apresentava, em 31 de Dezembro de
1994, os seguintes valores: angolanos, 5; caboverdeanos, 840; guineenses 60;
moçambicanos e santomenses, 0, o que perfazia um número de 905 indivíduos
africanos naquele núcleo (Cachada, 1995:42).
Os elementos caracterizadores desta população apontam para uma profunda
heterogeneidade etnico-cultural, bem como uma situação de precariedade a vários
níveis, em particular, habitacional e laboral.
(*) ver anexo I - 4
132 Os chamados clandestinos por não terem a situação regularizada no que diz respeito à autorização de residência e permanência. 133 O CEPAC refere que o levantamento e caracterização engloba os ‘Imigrantes africanos a residir nos bairros degradados e núcleos de habitação social’. O Programa Especial de Realojamento fez o levantamento sistemático da população residente nos bairros de barracas, mas não utilizou a categoria naturalidade, apenas a categoria nacionalidade pelo que as pessoas com nacionalidade portuguesa mas com background imigrante não têm a origem identificada.
117
A Amadora é um dos municípios de Lisboa que tem uma das maiores
concentrações de populações imigrantes de origem africana, mas a cidade acolhe
também populações provenientes de outros continentes. Por exemplo, os brasileiros
contribuem fortemente para conferir um carácter multicultural a este território. O fluxo
desta população, para a Amadora, deu-se, sobretudo, nos anos 90, acompanhando, deste
modo, o fenómeno a nível nacional. Marcou a composição demográfica municipal, na
medida em que a estrutura etária destas populações é muito jovem e a componente
feminina é elevada.
No início dos anos 90, estimava-se em cerca de dois mil o número de timorenses
a residirem em Portugal. A Amadora, com um total de 174 residentes de origem
timorense134, possuía dois núcleos de concentração desta população: um núcleo de
refugiados a residirem num centro de acolhimento, localizado na freguesia da Venteira,
com um total de 116 timorenses, a que correspondiam cerca de trinta e dois grupos
domésticos; e um núcleo em Alfragide, com 58 timorenses, que integravam quinze
grupos domésticos, a residir em habitações construídas no âmbito da produção das
cooperativas de habitação.
O concelho da Amadora concentra, ainda, estrangeiros de origens várias,
europeia e norte-americana135, mas também populações de origem chinesa e indiana136.
Por fim, não podemos deixar de destacar a importância das populações ciganas
residentes na Amadora, que têm uma origem nómada137, migrante por excelência, mas
que há décadas começaram a sedentarizar-se por todo o País e, por conseguinte, na
AML e na Amadora, em particular.
A presença de ciganos em Portugal138 é estimada entre 20 e 30 mil (Liégeois,
1989 in Rocha –Trindade, 1995:144). Espalham-se por todo o País, mas há cidades ou
regiões onde esta presença é mais visível: terras como Vila Nova de Famalicão, ou
Pombal, passando pela AML e Alentejo são algumas das mais importantes referências.
Neste contexto, a Amadora ocupa o terceiro lugar, no que diz respeito à concentração de
134 Cf. brochura Solidariedade com Timor-Leste – Hamutuk Ho Timor (1993), elaborada no âmbito do projecto das «Minorias Étnicas e Comunidades Imigrantes do Município da Amadora». 135 Uma das razões é, concerteza, a presença de diversas empresas multinacionais. 136 Esta população dedica-se à restauração e ao comércio. 137 Na década de 80, ainda era comum ver-se acampamentos ciganos na Amadora, mas nos anos 90, já era difícil ver-se uma tenda cigana, porque a maioria da população tinha construído as suas barracas de madeira, forradas com pacotes de leite pasteurizado para evitar humidades. 138 Sobre a presença dos ciganos em Portugal, ver: Adolfo Coelho (1995,1892), Luiza Cortesão e Fátima Pinto (1995), Elisa Maria Costa (1996), Olímpio Nunes (1996), Isabel Fonseca (1996 [1995]).
118
grupos domésticos e de população cigana, na área coberta pelo Patriarcado de Lisboa139.
Em termos globais, e segundo um estudo da Pastoral dos Ciganos, datado de 1996, o
número de famílias na Amadora perfazia o número de 224, a que equivale 948
indivíduos, distribuídos pelas freguesias da: Brandoa (36 agregados, 150 indivíduos),
Buraca (85 agreg., 364 ind.), Damaia (67 agreg., 260 ind.) Falagueira (28 agreg., 136
ind.), Mina (5 agreg., 25 ind.), Venteira (3 agreg., 13 ind.) (P.C., 1996).
No bairro Estrela d’África, a concentração de famílias ciganas é bastante
reduzida, destacando-se duas famílias extensas, a residir na Rua D. Maria, cujo número
de indivíduos não deverá ascender a 15. Apesar de não significativa, do ponto de vista
numérico, a presença de ciganos no bairro constitui um factor de multiculturalidade,
nem sempre traduzido em interacção social e cultural.
As associações de migrantes
Uma das características das populações migrantes é organizarem-se em torno de
associações culturais, recreativas e desportivas. O município da Amadora foi fértil neste
aspecto e por isso, conta hoje com dezenas de colectividades e associações de todo o
tipo e dimensão. Mas, se os migrantes internos foram pioneiros neste movimento
associativo, os imigrantes, sobretudo oriundos dos PALOP, não ficaram nada atrás.
Uma das marcas mais expressivas da presença de populações migrantes na
Amadora é o surgimento, a partir do final dos anos 70 e início dos anos 80, de
associações140 que tiveram como embrião, em muitos casos, as comissões de moradores
de bairro, cujos líderes demonstraram uma grande capacidade para negociar com as
autoridades locais a criação de infraestruturas básicas e recursos socio-educativos. Os
cabo-verdianos141 foram os primeiros a criar estas comissões e associações, o que se
deve, em parte, ao facto de serem as populações imigrantes, mais expressivas do ponto 139 Cf. A Comunidade Cigana na Diocese de Lisboa (1996). O Secretariado Diocesano de Lisboa, Obra Nacional para a Pastoral dos Ciganos, realizou, entre Março e Setembro de 1994, uma caracterização da comunidade cigana residente na esfera do Patriarcado de Lisboa, que abrange 21 concelhos; publicou uma brochura com o título Comunidade Cigana na Diocese de Lisboa, 1996. 140 Sobre associações africanas e outras ligadas à imigração, ver Caderno CEPAC / 1 (1995) e, mais recentemente, Rosana Albuquerque et al. ,2000. 141 Associações como Unidos de Cabo Verde (Fontaínhas), Moinho da Juventude (Cova da Moura), Mãos Unidas da Casa da Alegria (Santa Filomena), Morna (6 de Maio), Nós, Associação dos Jovens para o Desenvolvimento (Estrela d’África).
119
de vista numérico, que mais cedo e de forma mais duradoura se fixaram no município
da Amadora. Inicialmente, estas associações eram estritamente africanas, isto é, tinham
apenas dirigentes com origem africana. Contudo, mais tarde, começaram a poder contar
com colaboradores (mesmo nos corpos gerentes) de outras origens, residentes ou não
nos bairros, pelo que a designação de associações cabo-verdianas ou angolanas não é,
hoje em dia, totalmente correcta. Todas têm em comum o facto de desempenharem um
papel de mediação e, portanto, de interlocutores privilegiados no quadro das relações
institucionais locais e supralocais, sobretudo com a Câmara Municipal da Amadora e
com a Segurança Social.
Hoje em dia, a maior parte destas associações possuem estatuto jurídico de
Instituição Privada de Solidariedade Social (IPSS) e assinaram protocolos com as
autarquias locais e/ou acordos atípicos com a Segurança Social, de molde a assegurarem
a prestação de serviços à população e a dinamizarem projectos de intervenção local. Por
vezes, desempenham um papel determinante na defesa dos direitos cívicos dos cidadãos
imigrantes, em especial, no que concerne à documentação e aos problemas de
legalização, bem como de integração na sociedade de acolhimento. Neste contexto, as
associações de imigrantes traduzem, por vezes, um grau zero de etnicidade (Machado,
1993), tornando-se reivindicativas, com algum grau de politização. Por conseguinte, “o
papel das Associações na defesa dos seus associados ganha cada vez mais relevância,
sobretudo, neste período de grande recessão económica e de crise social na Europa, na
qual os imigrantes são, quase sempre, o bode expiatório e o tubo de escape dos
problemas que afectam os europeus”(Cachada, 1995:109)142.
Tendo como ponto de partida a perspectiva defendida por John Rex (1994),
podemos afirmar que as associações de migrantes são estruturas e funcionam, de forma
complementar, a dois níveis: uma funcionalidade ligada a factores de ordem identitária,
com o objectivo de “ajudar a vencer o isolamento e afirmar os valores e as crenças do
grupo” e uma funcionalidade ligada a factores que se prendem com aspectos materiais,
ou seja, “proporcionar um apoio assistencial aos seus membros e agir na defesa dos seus
interesses e na resolução de conflitos com a sociedade receptora”(Albuquerque et al.,
2000:16,17).
142 Ver intervenção de Fernando Ká, O protagonismo das associações, in Imigração e Associações, Cadernos CEPAC / 1.
120
Neste contexto, a cidade da Amadora conta com um número elevado de
colectividades de cultura, desporto e recreio e mais de uma dezena de associações de
imigrantes, a maioria das quais sediadas em bairros de habitat espontâneo (*). A este
facto deve-se a criação, nos anos 90, do Concelho Municipal das Comunidades Étnicas
e de Imigrantes (*).
3.2. A estrutura demográfica municipal
Desde o início da década de 80 até 1995143, a população da AML cresceu quase
para o dobro, enquanto a cidade de Lisboa acusava a perda de cerca de 15 mil habitantes
por ano. Neste período, enquanto a taxa de crescimento da população do concelho da
Amadora, entre 81 e 91, foi de 10,9% e entre 91 e 95 foi de 5,4%, tendo a população da
AML, crescido nos mesmos períodos, respectivamente, apenas 1,5% e 0,8% (*). Por
conseguinte, comparando o concelho da Amadora com outros concelhos da AML144,
verificamos que este apresenta uma elevadíssima densidade populacional, isto é, 7.777,2
Hab./Km², quando comparado com a AML que apresenta valores da ordem de 817,2
Hab./ Km², sendo que a área do concelho da Amadora é de 24 Km² e a da AML é de 3
128 km² (RCTI,1997).
Não obstante a existência de fortes fluxos migratórios para a AML, a que
fizemos alusão atrás, é curioso assinalar que, entre os censos de 1981 e 1991, a estrutura
do crescimento da população da AML deve-se, sobretudo, à componente natural, é
muito superior à componente migratória, em quase todos os concelhos145. Assim, no
caso da Amadora, temos um crescimento efectivo de 17 896 pessoas, sendo que 13 345
desse total são devido a um crescimento natural e 4 552 pessoas têm a ver com o
crescimento migratório (SIG/DAU/CMA,1997) 146. (*) ver anexo I – 5, 6 e 7
143 Em 1995, o INE fez um conjunto de estimativas populacionais que complementam o Censo de 91. 144 Os dados aqui utilizados têm como fonte um Relatório da Comissão Técnica Intermunicipal (RCTI), que abrange os concelhos da Amadora, Cascais, Oeiras e Sintra, publicado em Setembro de 1997. 145 O concelho de Sintra é, neste contexto, uma excepção. 146 SIG – Sistema de Informação Geográfica do Departamento de Administração Urbanística da Câmara Municipal da Amadora.
121
A partir de 1991, os valores das densidades populacionais da AML revelam uma
relativa estabilidade, ou seja, à excepção do concelho de Lisboa, que cedeu a primeira
posição ao concelho da Amadora, todos os outros concelhos mantiveram as suas
posições relativas. Assim, destacam-se apenas Amadora e Lisboa que continuam a ser
os concelhos com maior densidade populacional, seguidos de Oeiras, na AML Norte, e
de Barreiro e Almada, na AML Sul (PROT-AML,2001:8) (*).
Em todos os concelhos da AML, verificou-se, entre 1960 e 1991, uma gradual,
mas irreversível diminuição das percentagens da população jovem147 e um aumento da
população idosa. Esta tendência agravou-se, nos últimos anos, sobretudo, nos concelhos
de Lisboa, Azambuja e Alcochete.
A partir dos índices de dependência148 da AML e da Amadora, em particular,
verificamos que, entre 1981 e 1991, deu-se um envelhecimento demográfico associado
a uma baixa da natalidade e a uma maior esperança de vida. Efectivamente, entre os
dois census, registou-se na Amadora um aumento do número de idosos e uma
diminuição de jovens, que se traduziu num índice de envelhecimento149 de 23,2%, em
1981 e de 45,2%, em 1991, os quais, comparados com os índices da AML (41,6%, em
1981 e 72,2%, em 1991), parecem relativamente baixos (RCTI, 1997).
A pirâmide etária do concelho evidencia, desde l981, um envelhecimento na
base, embora dados de 1991 apresentam um índice de dependência de Jovens de
26,7%150 (*).
Esta situação pode significar que a cidade-concelho de Amadora atraiu casais
jovens, provenientes de outros concelhos, mas revela, igualmente, a presença neste
território de uma forte e estável componente migratória.
No período em análise, deu-se uma mudança significativa na estrutura familiar,
produzida não só pela diminuição da dimensão, como pela própria organização e papéis (*) ver anexo I – 8 (*) ver anexo I – 9 e 10
147 O Seixal é o concelho da AML onde a composição etária da população é mais jovem: 32 pessoas idosas para 100 jovens (Rosa, 2000:1054). 148 Os índices de dependência traduzem a proporção do número de idosos e de jovens; os dados aqui apresentados têm como fonte primária os Censos de 1981 e 1991, INE, embora a nossa fonte continue a ser o Relatório da C.T.I. já citado. 149 Índice de Envelhecimento: idosos/jovens*100. 150O índice de dependência de jovens significa que, em cada 100 indivíduos em idade activa (15-64 anos), existem 27 jovens entre os 0 e os 14 anos.
122
no seu interior. Em 1991, cerca de 90% das famílias da AML tinham quatro ou menos
indivíduos, isto é, houve uma redução do número de filhos por casal, cresceu o número
de casais sem filhos e de pessoas a viverem isoladamente (PROT-AML, 2001:15).
No período em referência, o número de famílias decresceu, bem como a sua
dimensão, sendo que a dimensão média das famílias na Amadora era de 3,14, em 1981 e
2,93, em 1991, para o equivalente na AML, de 3,07 e de 2,93, para 1981 e 1991,
respectivamente (RCTI, 1997). Por conseguinte, no município da Amadora, a taxa de
natalidade tem vindo a diminuir desde 1981, acompanhando a descida verificada na
AML, embora, neste caso, os valores sejam mais baixos.
No que diz respeito à qualificação escolar e profissional, pensamos ser pertinente
referir os níveis de instrução e qualificação escolar, tendo como base os indicadores
relativos à população escolar e aos alunos matriculados no ano lectivo 1994/95151.
O nível de qualificação escolar da população da Amadora não difere muito dos
valores apresentados pela AML. Assim, verificamos que há uma percentagem elevada
de pessoas com o ensino básico do 1º ciclo concluído (37,90% na Amadora e 37,62% na
AML) e, no ensino superior, a percentagem é de 7,95% e 8,88%, respectivamente. Esta
situação repercute-se na estrutura socioprofissional, pelo que a Amadora apresenta uma
percentagem de operários qualificados e não qualificados (18,7% e 12,1%) que,
embora elevada, é substancialmente inferior à da Região de Lisboa e Vale do Tejo
(20,3% e 16,7%). No entanto, a percentagem de funcionários da administração é
substancialmente superior ( 32,0% na Amadora, para 25,6% na RLVT), o que reflecte
um crescimento do sector terciário, que corresponde a 61 952 trabalhadores (71,8%),
em detrimento do sector primário que apresenta um número reduzido de 203
trabalhadores ( 0,2%), bem como do sector secundário que, apesar de significativo,
representa apenas 24 137 trabalhadores ( 28,0%) (RTCI, 1997).
Neste contexto, verifica-se que a taxa de actividade na Amadora é muito
elevada, tendo o número de empregados aumentado, de 1981 (48,0%) para 1991
(50.9%), sendo superior à taxa de actividade da AML, cujos valores eram, em 1981, de
46,2% e em 1991 de 48,3%. A esta situação não é alheia a concentração, no município
da Amadora, de uma população jovem, em idade activa.
151 Fonte: Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo. 1998. Caracterização Física e do Território da Região de Lisboa e Vale do Tejo, Lisboa: Ministério do Equipamento, do Planeamento e da Administração do Território, p.p. 107-122
123
Os dados provisórios do Censos 2001 davam conta da diminuição da população
residente no Município da Amadora (*).
3.2.1. A outra face da romã: a malha urbana labiríntica
A Região de Lisboa e Vale do Tejo é pois, a zona do país com maior
concentração demográfica152 ,o que tem provocado, ao longo de décadas, fortes
pressões socio-urbanísticas, com particular ênfase neste território. Uma das
consequências foi a proliferação de espaços com elevado grau de desqualificação,
apelidadas tecnicamente como áreas urbanas críticas ou em crise, que coexistem com
outros espaços integrados, de forma mais ou menos harmoniosa, na cidade.
Este problema começa a desenhar-se, nos anos 40 e 50, quando os migrantes que
se deslocaram das zonas rurais para as zonas urbanas e dentro destas, do centro para a
periferia, começaram a implantar nas cidades construções precárias, dando origem aos
primeiros bairros de barracas. Ainda nos anos 50, uma “primeira geração de
clandestinos é constituída, predominantemente, por habitações de aluguer. São, em
geral, edificações construídas de forma precária e mal equipadas, mas representam,
contudo, uma melhoria de condições habitacionais para as famílias que procuram
abandonar as barracas ou partes de casas, sua primeira instalação na cidade” (Soares et
al. 1985:68)153.
Como vimos no capítulo anterior, o período de 1960 a 1973 está marcado por
um crescimento acentuado, devido ao êxodo de populações das regiões rurais para as
zonas urbano-industriais do litoral e sobretudo, para as Áreas Metropolitanas de Lisboa
e Porto. Este êxodo foi uma consequência da crise estrutural da agricultura portuguesa e
do acelerado processo de industrialização e do início de um processo de terciarização
das actividades económicas, em certas zonas do país. As indústrias
transformadoras, (*) ver anexo I – 11
152 Segundo dados do INE, de 1997, a população residente era de 3,3 milhões de habitantes (1/3 da população do país); a AML, que representa 13% do território português, concentra mais de ¾ da população da RLVT, isto é, 77,2% (PROT-AML, 2001:109). 153 Para entender a evolução histórica deste processo, ver texto de Bruno Soares, António Fonseca Ferreira e Isabel Guerra (1985:67-77).
124
sobretudo a construção civil, o comércio e diversas actividades específicas de serviços
(higiene urbana154, estiva, serviços domésticos, etc), passaram a absorver a mão-de-obra
que abandonava os campos. Assim, os profissionais da agricultura passaram de 41,5%,
em 1960, para 25,3%, em 1970 (Pinto, 1997:368). Como refere este autor, o
alargamento das bacias de emprego e as migrações pendulares (Pinto:1997:369)
marcam os perfis de mobilidade e os modos de vida de populações que passam a
relacionar-se directamente com as aglomerações urbanas. Em consequência, começa um
ciclo de procura de habitação, cada vez mais acentuada, nas zonas urbanas e a inflacção
do preço dos terrenos e da construção, dando origem aos loteamentos e à construção
clandestina155 nos espaços urbanos. O “fenómeno de urbanização clandestina é o
resultado de desajustamentos e rupturas do capitalismo e das respostas espontâneas que
o sistema social vai encontrando para as necessidades, expectativas e projectos que não
encontram saída através dos mecanismos institucionais” (Soares, 1984:27). Mas é
também resultado de “um factor de iniciativa individual e familiar na produção e
apropriação de uma casa e de um espaço que o sistema na sua lógica jamais lhe
proporcionaria” (Ferreira, 1984:30). Este tipo de habitat tem, entre outras causas, alguns
factores de natureza cultural, dos quais se destaca: “hábitos e aspirações de uma
população em transição rural-urbana, dando preferência à habitação isolada com
quintal; modificação nas exigências habitacionais da população urbana, com a procura
de tipologias alternativas na periferia - maiores áreas, baixa altura e relação com a
natureza; forte tradição no acesso à terra por parte da população portuguesa e peso
ideológico da casa própria” (Ferreira, 1987:228). Neste quadro, a solução encontrada
por muitos milhares de pessoas de origem rural parece “desenhar uma matriz sócio-
cultural, me que traços sociais comuns articulados (...) parecem não só predispor para a
construção clandestina, como também determinar em grande parte o modelo de habitat.
Estes traços apresentam-se fortemente dominados por factores e valores de carácter
rural” (Soares, et al., 1985:74).
154 São conhecidos os almeidas, trabalhadores da limpeza urbana, oriundos de Almeida, as varinas ou ovarinas, com origem em Ovar e muitos outros exemplos. Este facto revela que nem todos os camponeses se tornaram operariado, mas assumiram também um conjunto diferenciado, mas específico, de profissões. 155 Sobre a definição de urbanização e construção clandestina, ver textos de Luís Bruno Soares (1984) e de António Fonseca Ferreira (1984).
125
São as redes de solidariedade, familiares e sociais, que vão permitir a
concretização deste projecto a que estão associados um habitus156 e um modus vivendi,
em que a família e o habitat desempenham um papel determinante.
Como referimos no capítulo anterior, o município da Amadora foi criado em
1979, integrando, não só o território da freguesia de Amadora, como áreas da periferia
dos concelhos de Oeiras e Sintra. Ora bem, uma parte substancial destas periferias já
possuía, desde os anos 50, um número considerável de núcleos de habitat clandestino e
degradado. Por conseguinte, na Amadora, este fenómeno teve uma expressão precoce e
acentuada, que encontra no exemplo de Brandoa a situação mais paradigmática. Este
bairro chegou a ser conhecido como o maior bairro clandestino da Europa. Brandoa é o
caso mais conhecido (embora, não o mais característico) desta fase, tornando-se, mesmo
símbolo português da construção clandestina. “Este bairro desenvolveu-se ao longo da
década de 60, às portas de Lisboa, ignorado pelas autoridades. Só foi descoberto em
1969, quando aí ruiu um prédio de sete andares e o aglomerado já tinha cerca de 5 mil
fogos que albergavam mais de 20 mil pessoas” (Ferreira, 1987:224). Contudo, nas
décadas seguintes, novos bairros clandestinos surgiram no concelho, com particular
expressão na zona norte, por exemplo, o bairro Moinhos da Funcheira, composto por
três núcleos mais pequenos e o bairro Casal da Mira, já referidos atrás.
Mas para além destes bairros clandestinos, começaram a proliferar núcleos com
um habitat extremamente precário, não só pelo tipo de materiais utilizados na
construção das habitações (chapa de zinco e madeira), como pela ausência de infra-
estruturas básicas (esgotos, água e electricidade) (*). Na origem destes bairros de habitat
degradado estão famílias com origens diversificadas, que não tiveram alternativa de
escolha porque não dispunham de meios para aceder a um alojamento dentro dos
padrões clássicos, em virtude dos baixos e irregulares rendimentos. Para além desses
factores, os baixos níveis de instrução, a não qualificação profissional, a precaridade de
emprego e a insuficiente remuneração são as principais causas do fenómeno.
(*) ver anexo I – 12 e 13
156 Habitus constitui ‘um sistema de disposições duráveis e transponíveis que, integrando todas as experiências passadas, funciona em cada momento como uma matriz de percepções, de apreciações e de acções’, Pierre Bourdieu (1994:60-62).
126
É importante referir que os bairros da lata começaram a surgir no princípio do
século XX, acompanhando o processo de industrialização e de urbanização de Lisboa.
Como referimos no capítulo anterior, as populações trabalhadoras, que vinham para a
cidade, começaram por viver em quartos ou partes de casa, espaços exíguos para o
crescimento da família e sem o mínimo de condições de habitabilidade, localizados nos
bairros antigos de Lisboa. São exactamente, estas pessoas que acabam por optar pela
construção de uma barraca, já que, deste modo, têm a vantagem de não pagarem renda e
de desfrutarem de espaços exteriores para as suas múltiplas actividades e sociabilidades
e, que, muitas vezes, estão mais próximos das empresas ou locais de trabalho.
Com o crescimento da cidade de Lisboa para a zona periférica e para fora de
portas, deu-se a expansão destes bairros da lata para a fronteira com os concelhos
limítrofes, como é exemplo o continuum de barracas desde Algés, passando pela Buraca
até à Pontinha.
Os concelhos que sofreram maior impacto com este de crescimento anómalo da
cidade-concelho de Lisboa para fora de portas foram Oeiras, Loures e Amadora. Para
além da proximidade, a concentração da indústria e, consequentemente, do emprego e a
possibilidade de ter acesso a um alojamento mais barato determinaram o êxodo da
capital para os subúrbios. Estes possuíam terrenos expectantes, privados ou da fazenda
pública, que estavam localizados em espaços com uma morfologia que facilitava a
construção fora dos olhares das autoridades locais. Contudo, “só o facto de existirem
bairros, como os degradados, torna-se a expressão mais evidente de como a ‘falta de
respostas às necessidades de espaço das classes mais desfavorecidas constitui (...)uma
forma de promover a segregação” (Gaspar, 1987 in Cardoso, 1993:57) socio-espacial,
que se traduz num marcador de diferença e de hierarquia.
Em consequência, entre 1970 e 1981, assistiu-se a um significativo aumento
(33%) do número de famílias do continente a viver em barracas e outros alojamentos
não clássicos, que, em 1981, era já de 36 732, com particular incidência nos distritos de
Lisboa (57%), Porto (9%) e Setúbal (7%), (Silva et al., 1989:136).
No período de 1974 e 1985, o problema da habitação agravou-se
substancialmente em consequência dos fluxos populacionais, atraídos pela miragem
urbana. Na área de Lisboa, acentuou-se o crescimento suburbano, com a expulsão para a
periferia, isto é, para os bairros dormitórios, os bairros clandestinos e no caso dos mais
127
desfavorecidos, para os bairros de lata, de muitos milhares de famílias, acentuando-se a
segregação social e espacial e reforçando-se as manchas de habitação degradada.
Nos anos que se seguem a Abril de 74, a “recomposição de padrões de
mobilidade geográfica, a precarização da relação salarial, o bloqueamento do aparelho
produtivo nacional (...) têm de ser chamado à colacção, se se quiser entender a teia de
pobreza e exclusão que, progressivamente, se vai estendendo, no tecido urbano
português, em torno de situações habitacionais carenciadas” (Pinto, 1997:372).
Em 1997, segundo dados do INE, nos espaços desqualificados da AML,
residiam cerca de 300 mil pessoas em 262 bairros degradados podendo-se identificar:
89 bairros de barracas, 80 bairros sociais, 19 bairros degradados em centros históricos,
18 bairros clandestinos e 56 bairros em áreas degradadas como, por exemplo, os pátios-
ilhas. Só na AML-N, existem 203 bairros degradados (81,8% do total de bairros da
AML), onde vivem 237 992 habitantes (12.5% do total da população da AML), (PROT-
AML, 2001:109).
Fonte: DEPP, Ministério do Trabalho e da Solidariedade, 1998
fig. 13
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
POPULAÇÃO RESIDENTE EM BAIRROS CRÍTICOS DA AML, POR CONCELHO (1998)
128
Como se pode observar na fig.14 , Lisboa e logo a seguir Amadora, constituem
os dois municípios com maior número de pessoas a residir em bairros críticos. Neste
quadro, a Amadora apresenta-se com 34 bairros desqualificados e degradados onde se
concentram 33 578 habitantes, isto é, cerca de 17% da população deste concelho
(PROT-AML,2001). As freguesias onde encontramos maior número destes bairros são,
Venda Nova, Buraca e Mina, contudo, estes estendem-se até Alfornelos, Falagueira e
Damaia.
Fonte: DEPP, Ministério do Trabalho e da Solidariedade, 1998
fig. 14
A Amadora, devido à centralidade do seu espaço, nomeadamente, a proximidade
de Lisboa, constituiu desde a sua criação, um concelho muito atractivo para investidores
e migrantes.
Distante da cidade-jardim do princípio do século XX, a que nos referimos no
segundo capítulo, o território da Amadora está marcado, do ponto de vista urbanístico,
por muitas cicatrizes abertas, visíveis a olho nu e que, um pouco por todo o lado,
0
5
10
15
20
25
30
TOTAL DE BAIRROS CRÍTICOS DA AML, POR CONCELHO (1998)
BAIRROS SOCIAIS
BAIRROS BARRACAS
BAIRROS CLANDESTINOS
BAIRROS DEGRADADOS EM CENTROS HISTÓRICOS
129
revelam uma face pouco interessante do ponto de vista habitacional e do ambiente
urbano, mas de uma profunda riqueza do ponto de vista social e cultural. O essencial
aqui, é realçar a importância da Amadora como terra de acolhimento de migrantes
internos e imigrantes, o que lhe conferiu, ao longo das últimas décadas, um estatuto de
cidade jovem, do ponto de vista demográfico e plural, do ponto de vista etnico-cultural.
As migrações internas em cadeia para a Amadora, que se verificaram nas
décadas de 50 e 60, foram substituídas por um forte surto imigratório, a partir dos anos
70, de populações oriundas dos PALOP. Estas foram atraídas pela acessibilidade de um
vasto mercado de trabalho na AML e devido, como referimos, à facilidade em adquirir
habitação a menor custo nos bairros degradados e clandestinos. Assim, no domínio das
vulnerabilidades, e no que diz respeito às condições de habitação, a Amadora situa-se
no quarto tipo de concelhos que se distinguem pelo elevado número de população a
viver em barracas ou alojamentos semelhantes (Almeida, et al.,1992:42-43).
Segundo dados que se reportam a 1993, na Amadora existiam 33 núcleos
degradados, com 4 855 barracas, onde residiam 21 362 pessoas157. Apesar destes
núcleos estarem dispersos por todo o município, na realidade, há manchas bem visíveis,
compostas pela concentração de bairros junto aos eixos viários e ferroviários mais
importantes, que ligam a Amadora a Lisboa ou aos concelhos limítrofes.
A maior parte da população estrangeira, residente na Região de Lisboa e de
Setúbal, é proveniente do continente africano, correspondendo a 46,6% e 59,7%
respectivamente158. Nos bairros degradados e núcleos de habitação social da AML-N,
vive 72.3% e na Península de Setúbal, 27,6% do total de residentes na AML.
Os concelhos da Área Metropolitana de Lisboa - Norte com maior concentração
de populações africanas são Amadora, Oeiras, Lisboa e Loures.
157 Fonte DSHRAD/Departamento de Administração Urbanística/SIG - CMA, Dez.93.Um levantamento de Fevereiro de 1996, aponta para 4 636 barracas, 6 050 agregados e 20 798 residentes; em Julho de 1998, os números apontavam para 4 671 Barracas, 6 071 e 20 934 pessoas (cf. planta em anexo). 158 Fonte: INE, 1997
130
Fonte: DEDIAP/CEPAC – U.L.H.T., 1995
fig. 15
A Amadora destaca-se neste panorama com 15 399 africanos, o que representa
32% no conjunto da margem norte e 23,1% do total das populações africanas da AML
(PROT-AML, 2001:118). Dados do PER159 estimavam que na Amadora, em 1995,
11000 indivíduos eram de origem africana, sendo que a percentagem mais elevada
residia nos seguintes bairros de habitat degradados: bairro 6 de Maio (89,3%),
Fontaínhas (82,1%) e Estrela d’África (66,8%), seguidos da Encosta Nascente (66,4%)
e Santa Filomena (60,3%), (PER/CMA, 1994).
Os indicadores demográficos e a pirâmide etária revelam uma distinção entre a
população global da Amadora e o conjunto de populações residentes nestes espaços. O
envelhecimento crescente da população da Amadora e a juventude das populações
imigradas, sobretudo, africana e cigana160, é uma das características mais marcantes das
159 O Programa Especial de Realojamento (PER) foi uma das medidas de política de habitação implemantadas pela Administração Central. 160 Na Amadora, os ciganos vivem, sobretudo, nos bairros, Ribeira da Falagueira e Fonte dos Passarinhos (freguesia da Falagueira), Neudel (Damaia), Travessa da Reboleira, Alfornelos, Quinta do Conde Araújo e no bairro social do Zambujal (Buraca).
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
Comunidades africanas residentes em bairros desqualificados da AML, por concelhos - 1995
131
duas populações. Com efeito, a influência desta população na estrutura demográfica da
Amadora é grande, contribuindo, por exemplo, para manter a pirâmide rejuvenescida na
base, com uma forte presença de crianças e jovens até aos 20 anos (7 825) e uma baixa
presença de idosos com mais de 70 anos (762), (PER/CMA, 1994). Se analisarmos a
pirâmide etária do PER (1994), verificamos que há uma presença muito elevada de
pessoas com idades compreendidas entre os 0 e os 20 anos; assim, entre os escalões
dos 0 aos 19, o número de indivíduos é de 7 825; o mais elevado situa-se nos 11-15
anos, com um total de 2494 pessoas. Bastante abaixo, situam-se os escalões referentes a
população activa, sobretudo até aos 40 anos; a partir deste escalão etário, o número de
indivíduos não pára de descer, baixando significativamente a partir dos 70; e o mais
baixo, nos 86-93, com 43 indivíduos; entre os 70 e os mais de 85, perfazem 762, num
total de 20 905 (valores relativos a 12 de Dezembro de 1996).
A composição dos grupos domésticos dá-nos uma informação relevante
relativamente ao papel e importância que a família e as relações de parentesco
desempenham nestes grupos sociais. Em geral, a dimensão média é elevada ( cinco
pessoas, em média), predominando os agregados familiares com quatro a cinco pessoas,
seguidos dos que integram sete a nove pessoas. Por conseguinte, a estrutura familiar161
é, na maior parte dos casos, do tipo família nuclear (cerca de 50% dos grupos
domésticos). A tendência actual é para a redução do número de famílias alargadas e
extensas. Uma das leituras que se pode fazer desta tendência é que a realidade não
corresponde à ideia comum de que estas famílias têm muitos filhos e que este aspecto é
um dos factores de pobreza. Indiciam que prevalece a adopção de padrões urbanos e
europeus, no que à dimensão das famílias diz respeito, o que não significa qualquer
enfraquecimento dos laços de parentesco, como, aliás, veremos, na segunda parte do
presente trabalho.
A maioria dos indivíduos que reside em bairros de habitat degradado
caracteriza-se por um baixo nível de escolaridade, uma vez que se mantém, geralmente,
no nível da escolaridade obrigatória. A Amadora acompanha a tendência geral da AML.
161 A tipologia da família adoptada, inspirada em Laslett, é a seguinte: isolado - indivíduo que vive sozinho; monoparenta - indivíduo que vive sozinho com filhos; nuclear - casal com filhos ou casal sem filhos; extensa - família conjugal (nuclear ou monoparental) que vive com um ou mais parentes além dos filhos (a extensão pode ser ascendente, lateral ou descendente; alargada ou múltipla - duas ou mais famílias conjugais ligadas por uma qualquer relação de parentesco; outras - todos os casos que caem fora desta classificação, in Costa e Pimenta (1991:40).
132
Assim, tendo como base o censo de 1991, a Área Metropolitana de Lisboa
apresentava os seguintes valores (PROT-AML, 2001:120):
- A população que não sabia ler nem escrever correspondia a 10,2%, sendo
que 69,3% residia na AML-N
- 37,6% do total da população (955 614 habitantes) tinha apenas o
primeiro ciclo do ensino básico
- O número de indivíduos com instrução superior representava, apenas,
8,8%face ao total do população residente na AML, a maioria residindo na AML-N
(85,4%).
No total dos bairros de habitat degradado da Amadora, o peso da população
activa é elevado, ou seja, perfaz o total de 8673 indivíduos. Reportando-nos aos dados
do PER (1994), o número de indivíduos a exercerem uma profissão era de 8 045, os
desempregados eram 588 e 40 militares. Dentro da população não activa, contam-se os
menores de 6 anos (2328), os estudantes (5188), as domésticas (1704), os reformados e
pensionistas (1628) e 690 casos não declarados. A distribuição pelos diferentes sectores
de actividade era a seguinte: as indústrias transformadoras absorviam 296 indivíduos, os
serviços de electricidade, gás e água 143, a construção civil detinha o maior número de
trabalhadores, isto é, 3 592, o comércio a retalho 1 034, a agricultura 22, os transportes
495 e por fim, os serviços pessoais e colectivos que ocupavam 2463 pessoas, num total
de 8045. Como podemos observar, os sectores da construção civil e de serviços são
aqueles em que existe maior concentração de trabalhadores, o que corresponde,
efectivamente, à generalidade das situações neste contexto de imigração.
Neste quadro, talvez possamos avaliar o estado das cidades (Guerra,1994:11),
através de um conjunto de dimensões que colocam a nu não só a descontinuidade do
tecido urbano, bem como as fracturas socio-urbanísticas que afastam as populações de
todas as esferas do social. Porém, as culturas emergentes, marcadas por espaços de
sociabilidade, de solidariedade e de integração, associadas a estes contextos de habitat
espontâneo, conferem–lhes um interesse socio-antropológico, de que daremos conta, na
segunda parte deste trabalho.
133
Capítulo 4
VENDA NOVA/DAMAIA DE BAIXO: A ESCALA INTERLOCAL
A Venda Nova/Damaia de Baixo é a zona da cidade-concelho da Amadora onde
está localizado o bairro Estrela d’África, correspondendo, no contexto do presente
trabalho, a uma escala interlocal que importa conhecer. Por conseguinte, tentaremos
caracterizar este território, tendo como objectivo captar alguns dos factores socio-
espaciais e económicos que, directa ou indirectamente, interferem na mobilidade e nos
modos de vida da população do bairro Estrela d’África e na interacção deste com a
envolvente.
No contexto da cidade da Amadora, podemos considerar que se trata de um
microcosmos com dinâmicas e tensões que conferem a este território uma
especificidade paradigmática dos problemas urbanos das cidades portuguesas. Trata-se
de um tecido urbano com uma morfologia e tipologia urbana heterogéneas que
configuram uma unidade urbana peculiar. Com efeito, a forte dinâmica local, não só
empresarial como residencial, transformaram a zona da Venda Nova num local onde se
concentra uma diversidade de ocupações do espaço, protagonizadas por actores sociais e
económicos com interesses manifestamente antagónicos, cuja compatibilização exigiria
uma visão prospectiva e correspondente planeamento urbano, bem como uma forte
intervenção da Administração Local. Um exemplo de esforço neste sentido foi a
proposta de Plano de Urbanização da Damaia /Venda Nova162 que, apesar da sua
importância, nunca veio a ser concretizado.
Esta área da Amadora fica localizada na primeira coroa de expansão urbana da
cidade de Lisboa, sendo esta proximidade da capital um dos aspectos mais importantes
162 A proposta do Plano de Urbanização da Damaia / Venda Nova (P.U.) foi elaborada, em 1997, pela Oficina de Arquitectura (AO) e respectivo gabinete técnico de planeamento, desenho urbano e arquitectura, na sequência de concurso promovido pela Câmara Municipal da Amadora, através de uma equipa interdisciplinar. Abrangeu ¼ da população das freguesias Falagueira/Venda Nova e Damaia. A caracterização desta zona foi concluída em 1997 e é uma fonte essencial para o conhecimento da área envolvente do bairro Estrela d´África.
134
da zona, pelo impacto que tem na configuração espacial e social. Como zona estratégica
de fronteira, a zona da Venda Nova será em breve atravessada por grandes eixos viários,
o que lhe conferirá novos acessos e centralidades.
A ordem administrativa que configura a área é a freguesia, integrando,
actualmente, as freguesias da Venda Nova e da Damaia. No entanto, reportamo-nos, por
vezes, à freguesia da Falagueira/Venda Nova163, porque era a unidade administrativa do
período em análise.
4.1. População
O território apresenta uma dimensão pequena que contrasta com uma alta
densidade de ocupação. De uma área total de 110 hectares, 49 hectares estão ocupados
com unidades industriais e do total das 16 mil pessoas que se calculava naquela data
como população residente, 3.200 habitantes, isto é 20%, vivem em núcleos de habitat
informal (P.U., 1997)164.
Na sub-área da Venda Nova, onde se localiza a área industrial, a densidade
populacional sempre foi menor, apesar de ser compensada pela excessiva densidade dos
bairros de habitat espontâneo, onde se concentram as populações imigrantes sendo
estas, por conseguinte, responsáveis pela ocorrência do crescimento demográfico
diferencial das duas sub-áreas do Plano165. Com efeito, o carácter improvisado, mas
engenhoso, das habitações precárias, tem permitido às populações soluções de quase
contínua expansão, por acrescentos sucessivos, absorvendo não só uma corrente
imigratória que continua a ser significativa, como também a componente do
crescimento natural desta população. Por conseguinte, têm-se registado acréscimos
populacionais, sobretudo, nas áreas que coincidem com a implantação dos bairros de
habitat espontâneo, maioritariamente ocupados por população de origem cabo-verdiana 163 Como referimos, em 1999-2000, a freguesia da Falagueira-Venda Nova deu lugar a duas freguesias com a designação de Falagueira e Venda Nova, ficando o bairro Estrela d’África sediado na freguesia da Venda Nova. 164 Estes dados estão quase sempre contabilizados por baixo, devido à existência de imigrantes indocumentados. O Programa Especial de Realojamento (PER), em 1993, fez o recenseamento da população a realojar, prevendo a existência de 900 famílias que ocupam 735 construção precárias. 165 As sub-áreas consideradas pelo Plano são a Venda Nova e a Damaia.
135
e, a partir do final da década de 90, nas zonas ocupadas com novas urbanizações
construídas sobre os espaços onde, outrora, estavam implantadas grandes empresas166
(fig.16).
> Naturalidade e concelho de residência Anterior dos habitantes
das Freguesias da Damaia e Falagueira/Venda nova
NATURALIDADE Damaia
(%)
Falagueira
(%)
Concelho de
Residência
anterior
Damaia
(%)
Falagueira
(%)
Amadora 3.9 4.6
AM Lisboa 52.0 58.0 Lisboa 55.3 52.2
Zona Centro 18.0 14.0 Loures/V.Franca 9.4 12.9
Zona Sul 17.8 10.0 Almada/Seixal 5.5 4.2
Ex-Colónias 6.1 8.1 Zona Norte 4.8 4.8
Outros 6.1 9.9 Zona Centro 9.4 4.6
100 100 Zona Sul 6.1 6.0
Ex-Colónias 3.1 8.5
Outros 2.5 2.2
Fonte: Inquérito realizado pela C. M. Amadora 1991, Freguesias da Damaia e Falagueira/Venda Nova
fig. 16
Durante os anos oitenta, a cidade-concelho da Amadora sofreu uma profunda
alteração na composição etária da população residente, cujo aspecto mais relevante é o
processo de envelhecimento da população motivado, sobretudo, pela quebra da taxa de
natalidade e pelo abrandamento do fluxo migratório para a cidade. Em consequência, o
índice de envelhecimento passa de 23,2%, 1981, para 44,7%, em 1991, tornando a
jovem cidade’num território em que ¾ da população está na idade activa (entre os 15 e
os 64 anos) e a população idosa fica nos 8,6%. No mesmo período, a área da Venda
Nova apresentava exactamente a mesma percentagem de pessoas com mais de 65 anos,
166 Recentemente, foram construídos aglomerados residenciais no espaço onde esteve implantada uma empresa de enormes dimensões, a Cometna, apesar de este território estar integrado no espaço do Parque Industrial da Venda Nova.
136
embora com um índice de envelhecimento mais baixo: 44,7% no concelho, para 42,5%
na Venda Nova, sendo que os índices de dependência eram de 38,9% e de 40,0%,
respectivamente (P.U.,1997). A estrutura etária é reveladora de um peso elevado de
jovens, cuja percentagem de menores de 20 anos chega a atingir os 54% da população
(fig.17).
> Indicadores Resumo – Estrutura etária do Concelho
da Amadora e Freguesias da Área Plano, 1991
Índ. Envelhe. Ind. Depend. % Pop. > 65 % Pop. <15 % Pop. 15 - 65
Conc. Amadora 44.7% 38.9% 8.6 19.3 72.1
Freg. Damaia 62.3% 36.7% 10.3 16.5 73.2
Freg. V. Nova 42.5% 40.0% 8.6 20.3 71.1
Fonte: Inquérito realizado pela C.M. Amadora 1991, Freguesias da Damaia e Falagueira Venda Nova e Censo 1991-
INE
fig. 17
Por conseguinte, o perfil mais jovem da Falagueira/Venda Nova, embora tenha
seguido o padrão do concelho, deve-se a um aumento da população residente, motivado
não só pelo crescimento do parque habitacional legal como pelo crescimento da
população dos bairros de habitat espontâneo os quais, como referimos, apresentam uma
grande vitalidade em contraste com as zonas limítrofes.
Em 1995, as empresas sediadas na Venda Nova empregavam 3.500
trabalhadores (P.U., 1997). Embora a mão-de-obra fosse predominantemente masculina,
existia uma prevalência das mulheres nos sectores administrativos em detrimento dos
trabalho de produção, em que o número destas é reduzido. No sector de produção,
operavam 68% dos trabalhadores, sendo elevada a percentagem (60%) de operários
qualificados. Destes trabalhadores, 55% residia no concelho de Sintra e noutros
concelhos da AML, 35% residia no concelho da Amadora, 10% em Lisboa (PU,
1997:50).
Em virtude da elevada percentagem de população em idade activa na Amadora,
em especial, em zonas de grande concentração de populações migrantes, a taxa de
137
actividade era bastante elevada, existindo um número significativo de trabalhadores no
sector secundário, sobretudo, na indústria da construção civil e no sector terciário,
comedestaque para serviços de limpeza, restauração e comércio (fig.18).
> Profissão Exercida em % dos Residentes
nas Freguesias da Damaia e Falagueira/Venda Nova
Profissão Damaia Falagueira
Administrativos 28.7 28.0
Prof. Científ. 15.8 10.4
Construção Civil 14.7 20.0
Pessoal Comércio 13.0 14.8
Pessoal Serviço Dom. 13.0 12.0
Operários + Encarregados 14.3 14.6
Fonte: Inquérito realizado pela C.M.Amadora 1991, Fregusias da Damaia e Falagueira
Venda Nova
fig. 18
No que diz respeito à mobilidade geográfica, convém realçar que, em termos de
emprego, era elevada a dependência da população em relação à cidade de Lisboa,
deslocando-se, diariamente, mais de 50% para trabalhar neste concelho, sendo que
apenas ¼ da população activa exercia uma profissão no concelho da Amadora (P.U.,
1997), (fig.19).
138
> Local de trabalho em % dos Residentes
nas Freguesias da Damaia e Falagueira/Venda Nova
Local Trabalho Damaia Falagueira
Amadora 25.9 25.4
Lisboa 58.9 58.0
Sintra 2.9 3.8
Variável 6.8 7.5
Outros 5.5 5.3
100 100
Fonte: Inquérito realizado pela C.M. Amadora, 1991, Freguesias da Damaia e Falagueira/Venda Nova
fig. 19
O maior ou menor grau de dependência da população, em relação ao concelho da
Amadora ou de outros concelhos, prendia-se com vários factores entre os quais estava o
emprego e a aquisição de bens e serviços essenciais à sobrevivência quotidiana da
população. Apesar da oferta de bens alimentares e de serviços de restauração estarem
bem representados na Venda Nova, uma parte significativa da população também se
desloca às grandes superfícies do concelho para procederem à aquisição de bens
alimentares essenciais.
Os jovens têm maior mobilidade e deslocam-se com frequência para Lisboa, em
especial, para Benfica, sendo o Centro Colombo167 um dos espaços mais frequentados,
em detrimento do centro da Amadora. A proximidade, as acessibilidades e diversidade
de oferta de bens ou funções não básicos são factores determinantes. Devido às
múltiplas alternativas de transportes públicos e apesar de mais de metade da população
possuir automóvel, a população utiliza, no quotidiano, os transportes públicos,
sobretudo, o comboio da Linha de Lisboa-Sintra ou o autocarro.
A mobilidade social estava intimamente ligada ao grau de habilitações da
população. A população residente na freguesia da Falagueira/Venda Nova, no que diz
respeito ao ensino básico, estava acima da média do país e muito baixo no que se refere
ao ensino médio/superior, sendo que apenas 6% da população possui um destes níveis
167 Veremos, na parte III deste trabalho, que o Centro Colombo é um dos espaços mais procurados pelos jovens do bairro Estrela d’África e envolvente.
139
(PU, 1997). Se nos reportarmos às duas freguesias em referência, verificamos que a taxa
de analfabetismo era semelhante à do concelho, coincidindo, mesmo, no caso da
Falagueira/Venda Nova (fig.20).
> Habilitações em % dos residentes
nas Freguesias da Damaia e Falagueira/Venda Nova
Habilitações Damaia Falagueira
Sem Habilitações 4.3 7.9
Freq. Escola Primária 6.1 5.3
4ª Classe 32.9 32.1
Ciclo Preparatório 15.8 12.6
Unificado 18.0 19.4
Complementar 16.4 16.7
Curso Médio 1.8 2.0
Curso Superior 4.7 3.9
100 100
Fonte: Inquérito realizado pela C.M. Amadora, 1991, Freguesias da Damaia e Venda Nova Falagueira fig. 20
Contudo, estes dados não espelham a realidade dos bairros de habitat informal
que contrastam com estes níveis de instrução. Para exemplificarmos, recorremos a
dados da Câmara Municipal da Amadora, que se reportam a 1990 e que incidem sobre
dois dos bairros mais significativos dentro deste contexto (fig.21).
140
> Nível de instrução dos residentes adultos
nos Bairros Estrela de África e 6 de Maio
Grau de Habilitações Valor Absoluto %
S/ Habilitações 115 14,6
Freq. 1º Ensino Básico 191 24,2
4º Ano Ensino Básico 263 33,3
6º Ano Ensino Básico 147 18,6
9º Ano 60 7,6
Complementar 11 1,4
Médio /Profissional 1 0,1
Ensino Superior 2 0,3
Total 790 100,0
Fonte: CMA, Inquérito Socio–Económico, 1989/90 (790 respostas válidas)
fig. 21
4.2. Ambiente urbano
A imagem que os residentes tinham da zona, em 1994, e que ainda hoje se
mantém, é a de um território com falta de qualidade urbana168. Deste modo, as pessoas
apontavam como principais problemas a pouca limpeza urbana e a quase inexistência de
zonas verdes e jardins, a deficiente iluminação pública, as ruas em estado de má
conservação e as dificuldades de estacionamento. A questão da insegurança, associada à
criminalidade e ao tráfico de estupefacientes, também constituía uma grande
preocupação dos moradores, os quais têm vindo a sentir, nos últimos anos, um aumento
do vandalismo e dos pequenos furtos, tanto a instalações, como a pessoas.
As acessibilidades e a frequência dos meios de transportes, bem como a
diversidade comercial, nomeadamente, o comércio alimentar, são as razões para as
pessoas sentirem maior apego ao local.
168 A Equipa do Plano lançou um inquérito, em Julho de 1994, dirigido a 100 residentes, na área de intervenção, com um enfoque na avaliação e imagem que os próprios têm da zona, no que à qualidade do espaço urbano diz respeito, preocupando-se com os aspectos mais e menos positivos daquele território.
141
Como veremos, na II e III parte deste trabalho, a imagem que os moradores do
bairro Estrela d’África têm desta zona é diferente da visão captada, em 1994 e 1995,
pela equipa que elaborou a proposta do Plano de Urbanização, embora, no que diz
respeito à higiene urbana e à falta de equipamentos, apresentem as mesmas deficiências.
Com efeito, a existência de maior ou menor número de equipamentos colectivos
é um dos indicadores que melhor revela o grau de qualidade de vida urbana. Por
conseguinte, o crescimento inusitado de um território, sem que seja garantida a
correspondente criação de equipamentos, poderá constituir um dos motivos de maior
insatisfação da população, cujo resultado se reflecte na falta de participação cívica.
Assim, o acelerado crescimento do concelho, especialmente, nas décadas de 60 e 70,
criou agudas necessidades em equipamento, a que o Município teve dificuldades em
responder de forma eficaz.
Nos anos 60, o “ Plano de Urbanização (Plano Aguiar)169 não foi cumprido, no
que diz respeito à execução de equipamentos, as necessidades futuras nem sempre
foram estimadas e por último (refira-se o aparecimento de bairros ilegais, onde o espaço
afecto a equipamentos era escasso ou nulo) (...) a densidade das áreas residenciais e a
falta de terreno disponível para afectação de equipamento e ainda, a presença de núcleos
de habitação degradada, cuja população, pelo seu nível socio-económico e dificuldades
de integração (já que a maioria pertence a minorias étnicas), é particularmente
carenciada no que diz respeito aos serviços públicos”(P.U., 1997:24).
Na duas sub-áreas, existiam duas escolas do Ensino Básico - Falagueira 3 e
Damaia 2 - que recebem grande parte das crianças que residem nos diferentes bairros de
habitat espontâneo170. Fazia-se sentir, contudo, uma forte carência de jardins de infância
e de espaços para ocupação de tempos livres (ATL), tanto mais importantes quanto mais
elevadas são as taxas de insucesso escolar nestes contextos. Com efeito, nesta zona
existiam três jardins de infância: a Escolinha, no bairro Estrela d’África, gerida pela
Associação Unidos de Cabo Verde; o Centro de Infância do bairro 6 de Maio, gerido
pelas Irmãs Dominicanas, outro, na EB1 da Damaia 2 e um estabelecimento da rede
oficial gerido pelos Serviços de Educação da Câmara Municipal da Amadora. A
situação pouco se alterou, desde os anos 90 até aos dias de hoje.
169 Fizemos referência aos primeiros Planos de Urbanização, no segundo capítulo do presente trabalho. 170Muitas das crianças destes bairros, em especial do Estrela d’África, frequentam a escola do EB do 1º ciclo da Falagueira 4.
142
No que diz respeito a equipamentos desportivos, existia, apenas, um pequeno
campo na Damaia, que era gerido pelo Clube Desportivo Os Metralhas, uma pequena
colectividade local171.
Em contrapartida, no âmbito do Programa de Iniciativa Comunitária172, sub-
programa Urban da Venda Nova-Damaia de Baixo, foi construído um polidesportivo
coberto, na EB Damaia 2 e um campo desportivo, na EB Falagueira 3.
Os equipamentos culturais existentes na zona eram vários e alguns deles
apresentam uma grande dimensão. Destacamos os que são geridos pela autarquia local,
nomeadamente, a Fábrica da Cultura173 que serve de espaço de promoção de iniciativas
culturais, a recèm criada Escola Intercultural, de que falaremos um pouco mais à frente,
o Centro Cultural da Damaia174, com biblioteca, ludoteca e espaço de exposição e a
Loja Jovem175, espaço onde se realizam acções de formação e de aconselhamento a
jovens.
Existem dois mercados municipais, sendo as instalações do mercado da Venda
Nova muito recentes e situadas na Estrada Militar/Rua do Apeadeiro, contíguas ao
bairro Estrela d’África. Para além deste equipamento, a jovem freguesia da Venda Nova
conta com uma nova esquadra de Polícia que veio reforçar a intervenção da esquadra da
Damaia, e com instalações provisórias do Tribunal da Amadora.
171 Por dificuldades de gestão, este equipamento foi recentemente removido do local. 172 Pela importância de que se revestiu este Programa, faremos, mais à frente, um apontamento sobre as linhas de acção que tiveram maior impacto local. 173 Este equipamento cultural pertence à Câmara Municipal da Amadora e é composto por um pavilhão de grandes dimensões, da antiga fábrica da Cometna. 174 O Centro Cultural é gerido pela Junta de Freguesia da Damaia. 175 A Loja Jovem é um espaço pertencente à Câmara Municipal da Amadora, cuja actividade é dirigida a jovens residentes, sobretudo, nos bairros de habitat espontâneo. Fica localizada em frente ao bairro Estrela d’África.
143
4.3. Ocupação urbana (*)
4.3.1. Áreas urbanizadas e degradadas
No que concerne à ocupação urbana, a zona a que nos reportamos tem um uso
habitacional considerável, embora a malha urbana seja bastante heterogénea, isto é, com
tecidos urbanos distintos: um tecido antigo, edificado nos anos 20, um tecido de
moradias, um quarteirão de prédios ao longo da Rua Elias Garcia, sendo esta uma das
áreas que mais cedo sofreu o processo de urbanização que remonta ao início da década
de 50. A partir dos anos 60, consolida-se uma malha urbana em tecido de quarteirões e
em tecido de malhas abertas com uma tipologia semelhante, de acordo com uma
procura por parte de populações com semelhante origem social (P.U.,1997:32). As
construções antigas começaram a ser substituídas por blocos de apartamentos, de seis e
sete pisos e algumas áreas, ocupadas por construções industriais em adiantado estado de
deterioração, deram lugar a novas urbanizações, com oito e dez pisos e alojamentos de
dimensão média e tipologias de acordo com a dimensão média das famílias, isto é, de
2,7 pessoas/fogo (P.U.,1997:33). Hoje, esta dimensão habitacional tem vindo a ganhar
terreno à função industrial da zona da Venda Nova.
Como vimos, a ausência de espaços verdes nestas zonas constitui uma das
maiores carências referidas pelos moradores, o que, associado à falta de limpeza urbana
e à presença de uma extensa malha degradada, se traduz numa menor qualidade de vida
para os residentes.
Desde os finais da década de 60 e início da década de 70, que se dá um outro
fenómeno na zona, que consiste na fixação crescente de populações migrantes oriundas
do concelho de Lisboa ou de outros distritos do país e dos PALOP, que contribuíram
para a criação de bolsas de habitat espontâneo, com grande impacto na zona e
envolvente. Os núcleos de maior dimensão englobam os bairros das Portas de Benfica,
Fontaínhas, 6 de Maio e Estrela d’África e formam um continuum, que separa os
concelhos da Amadora e de Lisboa. Estes núcleos de habitação precária, conhecidos
por bairros de lata, de barracas ou degradados, ocupam uma área de 5,2 hectares e (*) ver anexo I - 14
144
‘calcula-se que, em 1995, viviam cerca de 4249 pessoas em 840 habitações precárias
(fig.22), o que sugere um índice da ordem das 5 pessoas por agregado, uma dimensão
francamente superior à das famílias das áreas habitacionais, na grande maioria,
habitadas por minorias étnicas de origem africana e descendentes. Estes valores dão
densidades habitacionais da ordem de 800 habitantes/ha, por conseguinte, um índice
muito elevado.
> Nº de alojamentos, residentes e estimativa de fogos a construír
nos Bairros de Habitat degradado da Área do P.U.
NÚCLEOS DEGRADADOS BARRACAS RESIDENTES FOGOS NECESSÁRIOS
Travessa da Reboleira 57 235 75
Estrela de África 215 1020 296
Bairro 6 de Maio 264 1473 386
Fontaínhas 262 1362 349
Estr. Circunvalação da Damaia 42 158 50
TOTAL 840 4249 1156
Fonte: Câmara Municipal da Amadora. Programa Especial de Realojamento. 1994
fig. 22
O crescimento destes bairros acentuou-se, sobretudo, a partir de Abril de 1974,
em consequência do processo de descolonização. Neste aspecto, os três principais
bairros tiveram ritmos de crescimento diferenciados, sendo que o das Fontaínhas176,
para além de ter sido o primeiro a surgir, foi o que se consolidou há mais tempo. Os
bairros 6 de Maio e Estrela d’África são mais recentes, pelo que a sua consolidação só
se operou nos anos 80 (fig.23).
176 O bairro das Fontaínhas foi, durante anos, um dos bairros de habitat espontâneo mais conhecidos pelos problemas que a sua presença inspirava aos moradores e comerciantes locais, os quais atribuíam todos os problemas de insegurança da zona aos jovens ali residentes. Com o tempo, este estigma social foi transferido para o bairro 6 de Maio, que cresceu de uma forma ainda mais labiríntica que o anterior.
145
> Origem das famílias dos Bairros Estrela d’África, Fontaínhas
e 6 de Maio
Bairros
Origem
Estrela de África Fontaínhas 6 de Maio
Africana 66.8% 82.1% 89.3%
Nacional 32.5% 16.7% 8.0%
Mista 0.6% 1.1% 2.7%
TOTAL 100% 100% 100%
Fonte: C. M. Amadora. Levantamento sócio-económico do Bº Estrela de África (1991), das Fontaínhas (1988) e 6 de
Maio (1991)
fig. 23
> Dimensão das famílias dos Bairros Estrela d’África, Fontaínhas
e 6 de Maio
Nº de
elementos
Estrela d’África Fontaínhas 6 de Maio Total
Nº % Nº % Nº % Nº %
1 50 16.9 40 11.5 68 17.8 158 15.4
2 60 20.3 55 15.8 55 14.4 170 16.5
3 51 17.2 71 20.3 64 16.7 186 18.1
4 48 16.2 64 18.3 54 14.1 166 16.1
5 45 15.2 43 12.3 54 14.1 142 13.8
6 23 7.8 35 10.0 39 10.2 97 9.4
7 12 4.1 21 6.0 24 6.3 57 5.5
8 6 2.0 12 3.4 12 3.1 30 2.9
9 0 0.0 6 1.7 11 2.9 17 1.7
10 1 0.3 1 0.3 2 0.5 4 0.4
11 0 0.0 1 0.3 0 0.0 1 0.1
TOTAL 296 100.0 349 100.0 383 100.0 1028 100.0
Fonte: Câmara Municipal da Amadora. Programa Especial de Realojamento. 1994
fig. 24
146
> Dimensão média das famílias dos bairros Estrela d’África,
Fontaínhas e 6 de Maio
Dimensão Média dos Agregados Familiares
Nº Médio de Pessoas por Fogo
Estrela d’África 3.4 4.7 Fontaínhas 3.9 5.2 6 de Maio 3.8 5.6
Total 3.75 5.2
Fonte: Câmara Municipal da Amadora. Programa Especial de Realojamento. 1994
fig. 25
Uma das características demográficas da população residente nestes bairros é
que registam elevadas taxas de crescimento, isto é, elevadas taxas de fecundidade e
natalidade, que são, geralmente, associadas a questões de índole sociocultural (fig.24 e
25). A estrutura etária é bastante jovem, sendo que 75% da população tem menos de 35
anos e 1/3 do total tem menos de 15 anos (P.U., 1997), (fig. 26 e 27).
> População por grupos etários dos bairros Estrela d’África,
Fontaínhas e 6 de Maio
Estrela d’Áfirca Fontaínhas 6 de Maio Total Nº % Nº % Nº % Nº %
< 15 307 30.1 486 35.7 488 33.1 1281 33.2 15-64 663 65.0 839 61.6 936 63.5 2438 63.2 >64 50 4.9 37 2.7 49 3.3 136 3.5
1020 100.0 1362 100.0 1473 100.0 3855 100.0
Fonte: Câmara Municipal da Amadora. Programa Especial de Realojamento. 1994
fig. 26
147
> Índices de dependência e envelhecimento (1994) dos bairros Estrela
d’África, Fontaínhas e 6 de Maio
Estrela d’África Fontaínhas 6 de Maio Total
Índ. Envelhecimento 16.3% 7.6% 10.0% 10.6%
Índ. Dependência 53.8% 62.3% 57.4% 58.1%
Índ. Dep. Jovens 46.3% 58.0% 52.1% 52.5%
Índ. Dep. Idosos 7.5% 4.4% 5.2% 5.5%
Fonte: Câmara Municipal da Amadora. Programa Especial de Realojamento. 1994
fig. 27
4.3.2. Área industrial
A zona industrial da Venda Nova está ligada ao processo de industrialização do
país, no período pós-guerra e ao processo de deslocalização de unidades industriais para
a periferia de Lisboa, em que a Amadora funcionou como área de recepção. Porém, é
em resultado da política industrial do Estado Novo que, nos anos 40 e 50, a zona
industrial da Venda Nova se projecta a nível nacional. Muitas das empresas sediaram-
se, nas décadas de 70 e 80, seguindo a tendência geral de centrifugação de actividades
económicas que marcou a AML-N neste período, beneficiando as empresas de “índices
de renda fundiária favoráveis que estiveram na origem de algumas transferências de
unidades empresariais (estabelecimentos e sedes de empresa) de Lisboa para a
Amadora” (Neves, 1996: 76).
Como vimos, no segundo capítulo, o agrupamento industrial da Venda Nova,
situado no então Concelho de Oeiras, iniciou a sua construção, na década de 40, sobre
antigos solos agrícolas de áreas tradicionalmente saloias, situadas às portas de Lisboa.
Com efeito, ‘a acessibilidade destes terrenos agrícolas, situados entre a antiga Estrada
Real Lisboa-Sintra (actual Rua Elias Garcia) e o caminho de ferro de Lisboa-Sintra, terá
facilitado a fixação das primeiras indústrias. Foram, ainda, estas condições que
possibilitaram a construção, na década de 30 e 40, do núcleo habitacional da Venda
Nova, com o seu traçado rectilíneo e regular de ruas, onde o predomínio de correntezas
148
de casas de um piso e a existência de alguns pátios, permitem concluir tratar-se de uma
urbanização de prédios de rendimento para operários e outros estratos sociais mais
carenciados (Custódio, 1996:28) 177. Segundo este autor, o primeiro projecto de
instalação de uma unidade industrial na zona data de 1920 e referia-se a uma oficina de
tecelagem para o fabrico de roupa interior em malha, a empresa Simões e Cª, projecto
esse que nunca veio a concretizar-se.
Segundo dados do Plano de Urbanização (1997: 44, 45), a instalação das
unidades industriais foi um processo que se deu em cinco períodos diferentes, a saber:
• Nos anos 30 e 40, instalam-se indústrias de metalomecânica pesada,
como a Sorefame (1943), e de vidro, como a Sotancro.
• Entre 1957 e 1962, fixam-se indústrias ligadas ao sector químico, de
plásticos e farmacênticas.
A maioria das empresas instala-se, a partir dos anos 70, em três períodos:
• Entre 1971 e 1975, instalam-se empresas da indústria química, a primeira
unidade gráfica e de construção civil;
• Entre 1979 e 1989 surgem diversas unidades industriais de sectores
diferenciados;
• Na década de 90, sobretudo entre 1990-94, surgem diversas empresas
gráficas e uma unidade de comércio por grosso.
A primeira geração de empresas do Parque Industrial178 da Venda Nova,
constituído durante as décadas de 30 e 40, inclui a BIS – Sociedade Industrial de
Borrachas (1931), Nobre e Silva (1939), Cel Cat e Electo Arco (1942), J.B. Corsino,
Sorefame, Cometna, Sociedade Industrial de Aplicação Biológica, Laboratórios Victória
e Sotancro. Deste modo, “o perfil industrial do Parque da Venda Nova define-se logo
na década de 40. Instalaram-se os ramos que iriam perdurar, até aos anos 80/90, como
os mais significativos: a metalomecânica, a metalurgia e soldadura, a borracha, os
plásticos, o vidro, a trefilaria179, o material eléctrico (...) as indústrias de química e
farmacêutica (...) as unidades têxteis (tapeçaria e confecção de malhas), que
177 A obra que serviu de base para a descrição do processo de formação de tecido empresarial do Parque Industrial da Venda Nova foi o Recenseamento e Estudo Sumário da Parque Industrial da Venda Nova, coordenado por Jorge Custódio, membro da Associação Portuguesa de Arqueologia Industrial, cuja publicação foi apoiada pela Câmara Municipal da Amadora. 178 Sobre este conceito de Parque Industrial, ver Custódio, 1996: pp.14-17. 179 Trefilaria designa a técnica de produção de fios em metal ou de ligas metálicas (Custódio, 1996:182)
149
desapareceram nos anos 60 (...) a presença de vários ramos isolados como o do calçado,
o da cutelaria e o da cerâmica comum” (Custódio, 1996:29).
Na cintura periférica do Parque Industrial, foi crescendo, nos anos 40, o parque
habitacional, ao mesmo tempo que pequenas unidades se implantavam; uma tinturaria
(1946) uma serralharia e uma oficina de fundição180(1947) e uma metalúrgica (1957). A
instalação de novas empresas prosseguiu, nos anos 50, embora a ritmo mais lento. As
empresas instaladas voltam a ter uma grande dimensão como, por exemplo, a editora
gráfica Bertrand, novas empresas da indústria farmacêutica e de construção civil,
destacando-se a Electro-Arco e a Sociedade de Construções Adolfo Vieira de Brito. Nos
anos 60, surge uma grande unidade do ramo dos plásticos, a empresa Titan. No final
desta década e durante os anos 70, parte do agrupamento industrial fica envolvido por
diversos núcleos habitacionais. Nesta última década, surgem as empresas comerciais, os
armazéns e novas empresas de construção civil, gráficas e da indústria farmacêutica
(Custódio, 1996:30).
Como vimos, o fenómeno de mobilidade industrial, verificado durante o século
XX, determinou a deslocalização de um número assinalável de empresas para os
concelhos limítrofes da cidade de Lisboa, destacando-se, neste quadro, a Amadora. Os
principais factores para esta localização no concelho de Oeiras, posteriormente,
Amadora, prendem-se, sobretudo, com a existência de vastas áreas expectantes e de
regras menos rígidas para a ocupação dos terrenos, com as boas acessibilidades, a
proximidade do mercado, a disponibilidade de mão-de-obra e, nas últimas décadas, com
o processo de modernização do tecido industrial. A centralidade deste espaço periférico
fez com que o Parque Industrial da Venda Nova coexista, hoje, com recentes
urbanizações, embora com dificuldades de diálogo entre estas funções opostas, de que
resultam limitações mútuas. Com efeito, “na década de 90, a transformação acelerada
das acessibilidades no contexto metropolitano, com alargamento às coroas periféricas,
alterou, de modo radical, uma atractividade/poder de atracção de raiz produtiva ligada
aos empregos industriais que caracteriza a Amadora. Neste período, aquela expansão
urbano-residencial não teve tradução em termos de projecto que aproximasse a Cidade
do modelo de Cidade associado aos modelos de industrialização flexível,
tradicionalmente dotados de serviços qualificados, de funções dimensionadas e de efeito 180 Esta oficina foi instalada nas instalações da antiga Fábrica de Azeitonas, um lagar de azeite localizado na Travessa da Falagueira (Custódio, 1996:29).
150
polarizador, e de grandes equipamentos públicos de uso colectivo. Ou seja, não
desenvolveu a estrutura de funções que constituiriam instrumentos de uma
reestruturação antecipatória e, eventualmente, qualificante” (Neves, 1996:79). Por
conseguinte, e em resultado das novas tecnologias e da valorização dos terrenos, há
empresas que procederam à reestruturação, deslocalização e relocalização, embora
continuem a manter uma grande presença na Venda Nova. De facto, as dinâmicas
económicas expressas nas fusões e relocalização de empresas ordenadas pela economia
mundial com impacto na zona provocaram a reestruturação, desmantelamento e
demolição das empresas locais. Algumas das empresas têm instalações com uma
qualidade arquitectónica considerável, desenhadas por afamados arquitectos como
Pardal Monteiro.
As indústrias pioneiras na zona (BIS e Nobre e Silva) e mesmo, as
representativas do processo de industrialização dos anos 40 (Cometna, Cel-Cat,
Sorefame e Sotancro) fecharam ou relocalizaram-se noutros concelhos ou, ainda, estão a
sofrer uma reestruturação. Outras empresas têm sido alvo de fusões, o que tem a ver
com os modelos de desenvolvimento industrial. O reordenamento da economia
mundial181 também se faz sentir na zona industrial da Venda Nova, leis essas
controladas pelo capitalismo internacional, que têm impacto na geografia e território
local. Os grupos económicos mundiais controlam algumas das principais indústrias
locais, fazendo com que haja uma relação do global com o local, isto é, com este
microcosmos que funciona como um xadrez em vários tabuleiros182. A indústria
farmacêutica é um bom exemplo do investimento estrangeiro cujas “reconversões e por
vezes, mesmo, o encerramento destas unidades são ditadas, na maioria dos casos, por
factores exógenos, obedecendo a estratégias e planos globais das grandes multinacionais
farmacêuticas que dominam o sector” (Custódio, ob.cit.1996:29). Com a forte presença
de um investimento a nível supra-municipal, era suposto que a administração local
estivesse na vanguarda deste dinamismo, traçando linhas estruturantes que
enquadrassem as dinâmicas que têm surgido neste território da cidade.
Porém, o processo de desindustrialização da Venda Nova, que teve lugar nas
décadas de 80 e 90, veio dar origem a um novo surto de urbanização que começou a
181 O caso da indústria farmacêutica, entre outras. 182 Expressão de António Firmino da Costa para exprimir as dinâmicas dos migrantes do bairro de Alfama com a terra de origem (1999).
151
engolir vastas áreas até aí reservadas à criação de empresas e postos de trabalho para
fixar populações. Em consequência, desencadeou-se um processo anunciador do
desmantelamento do parque industrial, designado por requalificação do espaço urbano,
só que, em vez de uma articulação de funções acompanhada da modernização das
empresas para evitar a fuga destas para outros concelhos, verificou-se o surgimento de
novas urbanizações e uma cada vez maior ausência de espaços verdes e públicos, bem
como de equipamentos colectivos de apoio à infância e juventude. Com efeito, na zona,
“têm existido pressões urbanísticas para a transformação das instalações de grandes
empresas em lotes para urbanizar, o que parece trazer desvantagens não só pelos postos
de trabalho que desaparecem, como pela dificuldade de circulação dentro das áreas
urbanizadas, que tem resultado em conflitos urbano-industriais” (PU, 1997:52).
Um exemplo deste paradoxo é a coexistência de áreas de alto valor urbano-
industrial com os bairros de habitat degradado, os quais não só existem desde o início
da década de 70, como viram o seu crescimento acentuar-se drasticamente, nas duas
últimas décadas. A notável capacidade de improvisação dos migrantes internos e dos
imigrantes, a inteligência com que se apropriaram de vastas zonas do território da
Amadora, em particular da Venda Nova, e com que os transformaram em territórios de
identidades várias, atestam, igualmente, esta incapacidade de integração dos vários
grupos por parte da Administração Local. As empresas nunca beneficiaram desta
presença, bem pelo contrário, como atesta o resultado das entrevistas feitas aos
empresários pela equipa do Plano de Urbanização. O facto de estarem localizadas junto
a bairros de habitat degradado é visto pelos responsáveis das empresas como o maior
inconveniente “pelo que elas (áreas de habitação degradada) implicam em termos de
falta de segurança que se traduz, muitas vezes, em deterioração das instalações por actos
de vandalismo” (PU, 1997:46).
A questão central que aqui se coloca reside no facto de as autoridades locais não
conseguirem acompanhar nem orientar as referidas ocupações. Por conseguinte, a falta
de visão prospectiva da intervenção pública, acompanhada por uma inércia, bem como
de interesses e políticas próprias não têm permitido um planeamento para uma cidade
mais equilibrada, com mais qualidade de vida e acima de tudo, mais humanidade. Os
planos e programas têm constituído acções importantes, mas pontuais e com reduzido
impacto na cidade, porque carecem de uma visão integrada. A ocupação do território, o
152
uso e a transformação não têm sido acompanhadas por planos que conformem os
interesses privados com a função social e cultural deste, de molde a gerir e a reduzir os
conflitos de interesses e propicie o desenvolvimento de uma cultura urbana, integradora
de todos os actores sociais, culturais e económicos. Assim, a “operacionalização de um
processo deste tipo passa por uma das dimensões mais importantes da reabilitação
urbana: a participação alargada e o protagonismo activo dos agentes sociais nela
implicados” (Ribeiro, 1991, 57)183.
4.4. Os Programas de Iniciativa Comunitária Urban
e de Reabilitação Urbana
As ideias veiculadas nos encontros dos programas Urban e de Reabilitação
Urbana permitiram identificar um conjunto de problemas urbanos que se colocam, hoje
em dia, às cidades. Uma das premissas fundamentais do urbano consiste na ideia de que
há uma profunda interdependência entre os problemas urbanos e os processos globais de
transformação das sociedades. No caso português, a génese dos problemas urbanos
assenta, entre outros factores, na ausência de políticas de planeamento urbano que
regulem, sobretudo, a especulação fundiária, o desordenamento do território urbano,
quer em termos habitacionais, quer em termos de localização das actividades
económicas, isto é, da funcionalidade das cidades, tudo isto acompanhado de um défice
de equipamentos colectivos e áreas de lazer. As consequências agravaram-se nas
últimas décadas, com o intenso fluxo de populações das áreas rurais para as cidades
portuguesas, provocado pela ausência de uma estratégia de desenvolvimento do interior
e pelo acelerado processo de industrialização que, sobretudo nos anos 60 e 70, se
traduziu numa suburbanização periférica e numa segregação territorial no próprio
interior das cidades (Coelho, 1996:5-7)184. Neste contexto, foi-se tecendo,
183 Sobre o tema Património, Ambiente e Reabilitação Urbana cf. Revistas Sociedade e Território nº 10-11 e 14-15. 184 Na síntese das principais ideias e reflexões do 1º Encontro dos Programas Urban e de Requalificação Urbana (1996) é referido que “(...) os espaços urbanos degradados têm sido o local privilegiado de inserção residencial dos estratos sociais insolventes que protagonizam aqueles fluxos (...) as tendências anteriores consubstanciam uma dinâmica de gueto social que, ao materializar-se em segregação territorial intra-urbana, produz bairros estigmatizados pela marginalização social e pela criminalidade que tende a associar-se-lhes”. p. 3,4 e 5.
153
especialmente nas áreas metropolitanas, uma malha urbana constituída por bairros de
construção espontânea, que polarizaram um tipo de populações trabalhadoras de
reduzida qualificação profissional e baixas remunerações.
Estes problemas urbanos chegaram aos nossos dias sem resolução à vista, apesar
dos sucessivos processos de realojamento185 das respectivas populações que sentem, por
outro lado, a desestruturação das redes de vizinhança e amizade que são
complementares das redes de parentesco e conterraneidade e que suportam um conjunto
de acções de solidariedade local, difíceis de reconstruir no novo habitat. Mas a reflexão
sobre esta problemática do realojamento também se faz sob a óptica da cultura de
direitos sem obrigações dos grupos desfavorecidos colocada pelos não-excluídos, que
se interrogam sobre os projectos de reabilitação de bairros com uma imagem social
estigmatizada, traduzida na expressão de gueto de marginais, a que se associa o rótulo
de sede de comportamentos oportunistas, pondo em questão a política de coesão social
e urbana (Coelho; 1996:18).
Na abordagem da revitalização de áreas urbanas em crise, o espaço urbano e o
ambiente urbano são dois temas recorrentes e centrais a que se associaram, mais
recentemente, os da auto-estima dos residentes, o estigma e a exclusão social e a
necessidade de atractividade do território para actividades mais qualificadas. Nesta
perspectiva, a paisagem urbana e dentro desta o espaço público assumem grande
importância ao incorporar os símbolos e as formas de apropriação colectiva, trazendo,
deste modo, vantagens económicas e sociais para os residentes.
Na década de 90, as cidades foram alvo de uma atenção particular por parte de
entidades públicas e da Comunidade Europeia186, que teve como consequência a
implementação de políticas e programas para as chamadas áreas urbanas em crise.
Estes programas desenvolvem-se desde 1994 e foram apoiados pelo FEDER e FSE, que
abrangeram seis subprogramas Urban e onze subprogramas PRU187. As 17 áreas188
186 A Comissão Europeia lançou a Iniciativa Comunitária Urban, na comunicação aos Estados-membros nº 94/C 180/02, publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias nº C 180 de 1.7.94. 187 PRU: Programa de Reabilitação Urbana. 188 Em Portugal, o Programa Urban integra seis sub-programas que correspondem às áreas: Vale de Campanhã (Porto), S. Pedro da Cova (Gondomar), Casal Ventoso (Lisboa), Venda Nova/Damaia de Baixo (Amadora), Odivelas (Loures) e Outorela Portela (Oeiras).
154
abrangidas pelos referidos Programas estão integradas, quase na totalidade, nas Áreas
Metropolitanas de Lisboa e Porto.
A Comissão Europeia, ao lançar a Iniciativa Comunitária Urban, tinha como
objectivo “apoiar a revitalização e a requalificação de áreas urbanas com fortes sinais de
degradação social e urbana: elevada incidência de grupos vulneráveis, desemprego e
acumulação de fenómenos de marginalidade e exclusão social” (Coelho, 1996:7)189
O Programa de Reabilitação Urbana apresentava como principal objectivo
“apoiar a revitalização e a requalificação das áreas urbanas – centros de cidades e suas
periferias – com problemas graves de declínio económico e urbano, desemprego e
deterioração da qualidade de vida e acumulação de fenómenos de exclusão social e
insegurança” (Coelho, 1996:8).190
O diagnóstico das dezassete áreas de intervenção referidas assemelhava-se a um
barómetro com a temperatura ecológica, económica e social das cidades portuguesas191.
Porém, nesta abordagem das cidades, a ausência da componente cultural e relacional
deve ser considerada uma das lacunas desta radiografia, situação que, em certa medida,
poderia ter sido ultrapassada com a integração de antropólogos192 nas equipas que
promoveram a caracterização e o diagnóstico das cidades em questão. Não deixa,
contudo, de ser muito interessante a forma como os problemas urbanos são
evidenciados, bem como a linguagem técnica adoptada para os descrever. Com efeito,
ao contrário do discurso e de práticas anteriores, o Programa Urban propôs-se incentivar
formas integradas de intervenção nos domínios físico, económico e social, apoiando a
criação de empresas e a formação profissional, o reforço dos equipamentos sociais e das
infraestruturas, numa lógica de concertação entre entidades públicas e privadas. A par
deste diagnóstico preliminar, o documento refere que “a complexidade da situação
urbanística, económica e social destas áreas não pode ser traduzida por uma bateria de
189 In Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional (1996), Programas Urban e de Reabilitação Urbana, Revitalização de Áreas Urbanas em Crise, p.7. 190 O PRU abange as seguintes áreas: Setúbal-ORUS, Moita-Vale da Amoreira, Almada-Nova Almada Velha, Cascais-Bairro Torre/Cruz da Guia, Sintra-Núcleo Urbano Central de Agualva, Vila Franca de Xira–Bairro Olival de Fora, Coimbra-Zona do Centro Histórico, Espinho-Marinhas de Silvalde, Vila do Conde-Caxinas e Poça da Barca, Guimarães-Zona de Couros/Entre Avenidas, Braga-Centro Histórico. 191 Sobre a origem e a natureza dos problemas urbanos das cidades portuguesas, ver Parte II da brochura produzida pela DGDR, acima referida, pp. 65-88. 192 Faça-se justiça ao subprograma Urban da Venda Nova/Damaia de Baixo, Amadora, que integrou na equipa uma antropóloga.
155
indicadores (...) e que nenhum indicador poderá substituir a riqueza de uma análise
qualitativa e vivida dos processos sociais que aí se desenrolam” (Coelho, 1996:11).
Neste diagnóstico, já encontramos preocupações expressas com situações de
segregação espacial e de exclusão social. Assim, os espaços são considerados
‘territórios estigmatizados por fenómenos de desemprego, marginalidade, insegurança e
risco, conduzindo a fenómenos de isolamento face aos espaços envolventes’. Todos os
espaços correspondem a áreas de grandes concentrações de ‘populações
desfavorecidas’, alguns conotados com ‘actividades marginais e mesmo criminosas’ ( é
dado o exemplo do caso do Casal Ventoso) e noutros casos áreas afectadas por
“processos de degradação urbana, embora fortes laços de solidariedade e de identidade
atenuem a gravidade dos problemas sociais, em particular, os da sobrevivência diária e
entravem a acção dos factores de desintegração social” (DGDR: 1996). A
desvalorização social da escola para além da escolaridade obrigatória, a inactividade
precoce e desinserção dos jovens do mercado do trabalho, as ameaças, pelo
desemprego, às fontes de rendimento, torna a população residente nestes territórios
grupos vulneráveis à exclusão social.
Este diagnóstico acentua, ainda, o carácter de dormitório dos espaços
suburbanos, classificando-os como frágeis do ponto de vista económico e da integração
social das populações residentes. Refere como causas a “ausência de vida comunitária,
as deficiências de equipamentos e funções urbanas, os baixos padrões de qualidade
habitacional e do espaço público, o que provoca um processo cumulativo de degradação
e abandono” (Coelho, 1996:12).
Estes discursos têm como denominador comum a preocupação da ameaça à
coesão social que constitui a “exclusão social associada a situações de desemprego, de
pobreza e de integração das minorias (...) pobreza, desemprego e minorias étnicas não
têm que andar necessariamente a par (...) quando os processos de desenvolvimento e de
crescimento urbano os fizeram coincidir num determinado território dão origem a
situações de insegurança e repulsão que tendem a acentuar o isolamento e o estigma
social do território em causa” (Coelho, 1996:13). A imagem socialmente negativa que
destes espaços193 é construída, está na base da perda da auto-estima das populações
residentes e da espiral de exclusão socio-espacial que sobre elas se abate. Contudo, há a
193 Esta questão será desenvolvida na parte II, a partir do estudo de caso do bairro Estrela d’ África.
156
percepção de que, para a revitalização das áreas urbanas em crise, é crucial a
preservação da diversidade social e económica da população e dos usos do território,
pondo em questão a ideia de que, numa área urbana em crise, está implícita a imagem
de uma população homogénea do ponto de vista económico, social e até, cultural. Sendo
assim, as respostas também não teriam de ser equacionadas de forma diferenciada, pelo
que seriam encontradas em soluções semelhantes para aquele conjunto de pessoas. O
que parece interessante neste diagnóstico é o facto de se constatar uma preocupação e
visão exógena de um conjunto de aspectos que caracterizam certos espaços urbanos que
pouco têm a ver com a situação social dos grupos, sobre a qual se constrói esse discurso,
o que constitui uma ameaça à coesão social. Produz-se um discurso que se escuda por
detrás de uma visão homogeneizadora do tecido social que os compõe, reclamando, por
isso, um olhar mais próximo e capaz de ler nas entrelinhas da textura social e espacial.
Procurámos encontrar, no contexto do bairro Estrela d´África, resposta a
algumas questões que aqui foram colocadas. Serão estes contextos marcados pela
homogeneidade social e cultural?! Será esta uma percepção de um olhar exterior que se
converte em verdade inquestionável?! Então, o que se passa dentro de um bairro que se
situa numa zona que se pode considerar paradigmática de uma área urbana em crise?
Tentaremos dar um contributo para uma resposta a esta questão, na segunda parte do
presente trabalho.
4.4.1. O Subprograma Urban da Venda Nova/Damaia de Baixo:
algumas utopias tornadas realidade
O subprograma Urban da Venda Nova/Damaia de Baixo desenvolveu-se, desde
1996194 até recentemente, numa zona da Venda Nova e Damaia, com graves fissuras
socio-urbanísticas, que abrangia a área industrial, uma zona urbana consolidada e áreas
de renovação urbana, bem como quatro núcleos de habitat espontâneo (*). (*) ver anexo I – 15
194 Apesar de estar previsto desde 1994, este Programa só começou a ser implementado cerca de dois anos mais tarde, prolongando-se até 2001.
157
A zona abrangida por este programa cobria uma área com cerca de 112 hectares,
dos quais, 42% era ocupada pela indústria, a zona residencial e de comércio tradicional
ocupava cerca de 35%, o espaço ocupado com a construção espontânea corresponde a
5% do território e 18% a áreas atravessadas pela rede viária e espaços livres (URBAN,
1998:7)195. A área ocupada pela habitação divide-se em duas zonas distintas: uma de
urbanização legal, onde a densidade de ocupação varia entre 292 hab./ha e 333 hab./há,
e uma zona de habitações precárias, onde a densidade populacional chega a atingir 668
hab/ha (GPI/CMA)196. Dados da mesma fonte referiam a existência de um total da
população na ordem dos 17 mil habitantes (9% da população da Amadora), sendo que
19% destes eram imigrantes com origem africana e os afroportugueses seus
descendentes.
Os problemas urbanos identificados pelo subprograma vieram confirmar os
diagnósticos elaborados por outros planos, nomeadamente, o PDM da Amadora e o
referido Plano de Urbanização da Damaia/Venda Nova, mas o relevo dado à prevalência
de comunidades imigradas e étnicas marcam uma diferença substancial. Neste contexto,
estas populações são colocadas no centro da problemática de exclusão social na cidade
da Amadora. A concentração de enormes e expressivas comunidades imigradas de
origem africana desenhou um mapa cultural profundamente heterogéneo, do ponto de
vista socio-cultural e económico. Esta concentração passa, por conseguinte, a estar
associada a uma forte desintegração social, que tem como factor principal a profunda
desigualdade de acesso aos recursos e de oportunidades, quer a nível do emprego e
qualificação, quer a nível da cobertura de equipamentos básicos, sobretudo, no âmbito
da habitação, saúde e educação. Acresce, ainda, os fortes padrões de segregação
residencial e os fenómenos de marginalização cultural que vieram provocar sérias
rupturas sociais.
Nesta zona da cidade-concelho da Amadora, é bem visível a matriz multicultural
do tecido social, que não é encarada por muitos residentes como uma riqueza cultural do
município, a descobrir e a valorizar como património socio-cultural que faz parte da
memória da cidade. (*) ver anexo I –16 195 A equipa do Gabinete do Sub-programa URBAN da Venda Nova / Damaia de Baixo produziu informação diversificada sobre a zona abrangida e sobre os diversos projectos socio-urbanísticos implementados (destacamos a Revista Urban, nº 1, de Junho de 1998) (*). 196 Gabinete de Planeamento Integrado da Câmara Municipal de Amadora.
158
Este aspecto adquire, pelo contrário, contornos estigmatizantes baseados em
preconceitos que lhe conferem um significado negativo e o associa a um
factor de perturbação do ambiente urbano e social, responsável pela insegurança, por
uma paisagem urbana profundamente descaracterizada que a Amadora sugere, quando
evocada pelos não-residentes.
Com efeito, a génese da ocupação de parte do território da Venda Nova,
protagonizada por populações imigrantes, conferiu àquele espaço de dimensões
reduzidas uma ocupação densa e labiríntica que facilitou a constituição de autênticos
territórios de identidade baseada numa cultura de origem comum (no caso dos cabo-
verdianos) e numa etnicidade, cumplicidade e solidariedade que garantiram, até aos
nossos dias, a coexistência de diferentes comunidades197. Os projectos que o Urban da
Venda Nova/ Damaia de Baixo se propôs implementar, foram maioritariamente
dirigidos a esta população, com o objectivo de capacitar e garantir maior mobilidade
social e profissional, contrariando a tendência para uma marginalização forçada e a
condenação a um estatuto de população não funcional, excedentária, condenada a
trabalhos economicamente periféricos e particularmente vulneráveis, em contextos
economicamente adversos198.
Assim, foi definido um conjunto de objectivos que se baseavam num diagnóstico
dos problemas urbanos locais, conjugado com um conjunto de prioridades que foram
traçadas pelas autoridades locais. Entre estas, destacamos o reforço da ‘cobertura ao
nível de equipamentos colectivos, a articulação da zona de intervenção com a cidade da
Amadora e a região envolvente, a promoção da inserção social, económica e cultural
das populações residentes, através de acções de dinamização comunitária e de formação
socio-profissional, o envolvimento dos agentes económicos, sociais e culturais locais,
reforçando as redes de solidariedade e o partenariado (DGDR, 1996:29-30)199. Através
deste subprograma, foram concretizadas medidas de reabilitação e de criação de
equipamentos de grande importância para a área de intervenção e o município da
197 Esta perspectiva será desenvolvida na parte II do presente trabalho. 198 Cf. intervenção CMA, no 1º Encontro dos Programas Urban e de Reabilitação Urbana, com o título «Coesão social e minorias étnicas, que acção pública?» Porto, Dezembro de 1996. 199 Para a implementação do Subprograma Urban da Venda Nova/Damaia de Baixo, foi criado o Gabinete Local do Urban, onde trabalhei como antropóloga, durante cerca de três anos, até iniciar o trabalho de campo da presente pesquisa e que teve como função estabelecer e fazer a manutenção das redes de partenariado, ao nível institucional e associativo, monitorizar e materializar as acções das diferentes medidas.
159
Amadora, uma vez que o carácter inovador destas realizações transformou-as em
exemplares únicos.
Determinadas acções estruturantes da Iniciativa Comunitária URBAN da Venda
Nova/Damaia de Baixo - Amadora tornaram algumas utopias realidade. Uma das
realizações de maior dimensão e importância foi a aquisição, em 1997, e posterior
reabilitação das instalações, de uma empresa local desactivada, a ex-J.B. Corsino, mais
tarde, Legrand. Deste modo, o edifício industrial de grandes dimensões foi
transformado, após a elaboração de um projecto de reabilitação, desenhado em
conformidade com um programa-base, numa Escola Intercultural, Forum das
Comunidades e Espaços para Micro-Empresas200.
A ideia de criação de uma Escola Intercultural tinha como pressupostos a
necessidade de se criar experiências piloto com efeito demonstrador e difusor, que
orientassem, complementarmente, os esforços das escolas e de outras instituições locais
no combate ao insucesso escolar, profissional e social de largas camadas da população.
Neste quadro, a escola Intercultural surge como um centro de recursos de formação e de
produção de materiais pedagogico-didáticos, de investigação para a acção e de espaço
de experimentação de projectos inovadores. O objectivo era ajustar as práticas das
comunidades educativas ao contexto profundamente multicultural do Município da
Amadora, criando um ninho de experiências pedagógicas inovadoras com
monitorização dos resultados. Os destinatários preferenciais deste Projecto eram os
adolescentes e jovens afrodescendentes, apostando na capacitação destes para uma
autonomia consistente, no plano económico, social e cultural. Neste sentido, a Escola
Intercultural foi criada para ser um dos eixos centrais do processo de inserção social
destes jovens e de apoio às organizações formais e informais que com eles interferem,
nos diferentes planos de intervenção.
Um outro projecto importante, criado a partir do Gabinete Urban, foi a proposta
de um programa-base e de elaboração do respectivo projecto de reabilitação do
complexo da Quinta de S.Miguel, antiga Quinta do Tivoli, num centro Comunitário
Intergeracional e numa Casa de Acolhimento de Crianças em Perigo.
200 A proposta da criação de uma escola Intercultural partiu da minha experiência de trabalho no Projecto das Comunidades Étnicas e de Imigrantes do Município da Amadora, que coordenei, durante alguns anos e que estava inserido no Departamento de Educação e Cultura da Câmara Municipal da Amadora. Considero uma utopia realizável porque, ao contrário do que se pensava no Departamento, esta ideia extravagante veio a ser considerada, na DGDR e em Bruxelas, uma das propostas mais inovadoras.
160
A partir do Gabinete Local do Urban, foram igualmente criados, com a
participação das associações locais201, vários projectos de intervenção comunitária, no
plano da saúde, da formação profissional, ateliers de música e dança, de imaginação e
de acompanhamento escolar202 (*).
A matriz comum a todos os projectos caracterizava-se pela valorização da
intervenção multidimensional, do trabalho em parceria, pela necessidade de avaliação
permanente dos resultados, tendo em vista a eficiência e eficácia das referidas acções. O
cenário de fundo destas intervenções foram os bairros de habitat espontâneo existentes
na zona de intervenção do Urban da Venda Nova / Damaia de Baixo.
Após esta breve caracterização do recorte da cidade-concelho da Amadora que
compreende a zona da Venda Nova, pensamos estar mais aptos para nos centrarmos no
bairro Estrela d’África e envolvente.
(*) ver anexo I - 17
201 Todas as Associações Locais foram convidadas a gerir, pelo menos, um projecto como entidades promotoras, em parceria umas com as outras e com as instituições locais. 202 Sobre estes projectos, ver desdobráveis do Urban, em anexo.
162
Como já vimos ao longo da primeira parte, durante três décadas, foi profunda a
transformação do território do Município da Amadora, o qual sofreu um impacto socio-
urbanístico acentuado, não só pelo tipo de malha urbana que se foi consolidando, como
pelas características do tecido social que se densificou nesta zona.
A muralha de Lisboa, configurada pela Estrada Militar, foi um dos elementos-
chave para a fixação de muitos milhares de pessoas neste espaço intersticial e de
fronteira, uma espécie de terra de ninguém, um baldio, que atraiu populações
(i)migrantes com um campo de possibilidades (Velho, 1987:27) muito limitado.
O bairro Estrela d’África é um dos trinta e sete núcleos de construção espontânea
existentes no Município da Amadora, muitos dos quais herdados dos concelhos
vizinhos de Oeiras e Sintra. Pertence a um continuum de bairros classificados como
degradados, de génese ilegal, que foram crescendo progressivamente em solos
particulares (caso da Cova da Moura) ou ao longo das estradas militares, sob o olhar
mais ou menos vigilante das autoridades locais.
Como vimos anteriormente, a localização da maioria destes núcleos urbanos de
habitat precário, na fronteira administrativa entre o concelho da Amadora e o de
Lisboa, nomeadamente, junto à linha dos caminhos de ferro e às principais vias de
acesso ao centro da cidade de Lisboa, permitiu uma grande mobilidade geográfica e
acessibilidade destas populações, essencialmente (i)migrantes, aos seus locais de
trabalho e de comércio, à escola e aos familiares espalhados por outros municípios.
Apesar de locais periféricos relativamente aos centros de decisão local, a
centralidade destes bairros, implantados dentro da primeira coroa urbana do distrito de
Lisboa, contribuiu para lhes conferir uma grande visibilidade que ora lhes dá o estatuto
de zona de intervenção prioritária, ora os converte em zonas marginais que têm de ser
erradicadas. Com efeito, a par do desenvolvimento crescente da cidade da Amadora, o
qual tem permitido a reabilitação de vastas zonas urbanas alvo de reconversão
urbanística, a coexistência destas com territórios chamados de exclusão ou em crise203
não deixa de ser um paradoxo de complexa justificação. O certo é que a imagem da
203 Sobre estas questões de exclusão social e áreas urbanas em crise ver Parte I, capítulos nºs 3 e 4 do presente trabalho.
163
cidade da Amadora204 não deixa de estar associada a este tipo de habitat e ao clima de
insegurança urbana atribuído às populações aí residentes, nomeadamente, aos jovens.
Nesta segunda parte, procuramos mapear as etapas de consolidação deste espaço-
território, recorrendo a um dos bairros emblemáticos da presença de populações
migrantes na cidade da Amadora, considerados, contudo, redutos anacrónicos de
imigrantes e migrantes de origem rural,205 mal adaptados às exigências da vida urbana.
Sobre este aspecto e o seu reflexo na imagem da cidade-concelho da Amadora e na
interação entre populações da cidade, daremos conta mais à frente.
A aproximação antropológica ao Estrela d’África está baseada em determinadas
prioridades e no tratamento seletivo de certas facetas da vida do bairro. De facto, num
contexto social e cultural tão complexo, é difícil para o/a observador/a estar presente em
todo o lado, devido, sobretudo, às restrições de tempo e de recursos. Assim sendo, a
pesquisa monográfica sobre o bairro assenta num trabalho de campo sistemático,
desenvolvido ao longo de dois anos e numa observação de aspectos relevantes da
memória e da organização social e cultural dos moradores e na forma como estas se
inscrevem na organização espacial. Como referimos no primeiro capítulo, foi dada uma
atenção particular aos jovens e, através daquilo a que se pode chamar participação
observante (Spradley, 1980), foram partilhadas sociabilidades com adolescentes e
jovens, o que permitiu compreender, a partir do interior dos grupos de pares, os estilos
de vida206 e formas informais de organização dos jovens que protagonizam a mudança.
Estas questões estão desenvolvidas na parte III do presente trabalho.
Por conseguinte, pretende-se nos capítulos seguintes, visualizar o contexto geral e
apresentar algumas características da vida das pessoas que vivem no bairro, perceber
como organizam e coexistem na diversidade, formando um todo heterogéneo do ponto
de vista socio-económico e cultural que configura, paradoxalmente, uma espécie de
204 Esta imagem esbate-se quando é referida, por exemplo, a freguesia de Alfragide e são muitas vezes as próprias empresas ou grandes superfícies que não utilizam a Amadora como referência para a respectiva localização. 205 Grande parte dos residentes no Estrela d’ África (excluindo os que já nasceram em Portugal) atestam os percursos de vida das populações migrantes a que nos referimos na Parte I, capítulo 2: ..... 206 Estilo de vida é uma expressão vaga, o que pode ser uma vantagem porque não nos compromete com algumas formas de análises bem definidas; Ulf Hannerz (1969:34) define estilo de vida como o envolvimento de um indivíduo com um conjunto de modos particulares de acção, de relações sociais e contextos.
164
comunidade207. Assim, procuraremos fazer um retrato mais profundo do lado humano
da condição de vida dos moradores, seguindo a sugestão de Gulick (1963:455 in
Hannerz,1969:16), isto é, cremos que esta abordagem pode ser uma das contribuições
particulares dos antropólogos urbanos para o estudo das cidades, retratar, justamente, as
visões e os sons da vida urbana. Para tal, empenhamo-nos em apresentar o bairro
Estrela d’África não como um caso de polícia ou de assistente social, delineando
contornos de patologia social, mas como um lugar onde se tecem afectos e recriam
solidariedades múltiplas, onde se reinventam tradições e luta pela sobrevivência
quotidiana. Com efeito, é do bairro humanizado que trataremos, de gente que trabalha
no duro que obriga os filhos a irem à escola, as raparigas a chegarem cedo a casa, os
jovens a não se meterem em sarilhos, que se reúne à mesa para jantar, que tem
prestações de electrodomésticos para pagar, que vê as mesmas novelas e os noticiários
como todos nós. Para trás, deixamos o outro bairro que imaginámos quando nada
conhecemos sobre estes lugares, transformando-os num foco de todos os males da
cidade, do perigo e violência, da carência e do vazio, da poluição e doença.
Procuraremos fazer uma abordagem com uma função desmistificadora que
contrarie este dualismo que enforma o imaginário da cidade e que reforça a
classificação bipolar dominante do rural e do urbano, do centro e da margem, da ordem
e da desordem, do puro e do impuro, do Eu civilizado e do Outro selvagem, que faz
parte de uma certa mitologia urbana.
207 O conceito de comunidade será objecto de análise, uma vez que é extremamente útil, para o presente trabalho, uma clarificação que evite a distorção do seu significado, quando aplicado a estas população. Cf. Anthony P. Cohen (1985).
165
CapituloV A GÉNESE DO BAIRRO
5.1. Apresentação do bairro: território e população
5.1.1. O território
Ocupando uma área de cerca de 13 600 metros, grande parte do terreno era e é,
ainda hoje, propriedade particular de uso industrial, facto este que motivou os herdeiros
do terreno a moverem, em 1985/86, uma acção de despejo colectivo sobre parte dos
residentes do bairro. Este é delimitado, a sul, pelo caminho de ferro – linha de Sintra –
pelas instalações provisórias do Tribunal da Amadora (antigo arquivo da Caixa da
Indústria) e pelo novo Mercado Municipal; a norte, pela Rua Francisco Simões
Carneiro que o separa do bairro 6 de Maio, e pela empresa de construção civil Pereira
da Costa; a este, pela Rua D. Maria ou antiga Estrada Militar e a sudoeste, por diversas
empresas, em particular a Gráfica Peres que fica contígua ao bairro (fig.28).
167
O Estrela d’África faz parte da malha urbana labiríntica da cidade-concelho da
Amadora a que nos referimos na primeira parte deste trabalho e insere-se no continuum
de bairros de habitat informal espalhados ao longo da Estrada Militar, que fazem
fronteira com o concelho de Lisboa.
Como veremos adiante, o processo de formação do bairro está intimamente
ligado à origem regional e étnico-cultural dos seus habitantes, de modo que a
estruturação do espaço e a toponímia reflectem esta composição. Com efeito, o bairro
está profundamente marcado pela origem dos seus moradores que, na ausência quase
total de intervenção exterior, foram estruturando o espaço e nomeando as ruas
recorrendo a uma matriz simbólica, através da transferência dos nomes dos lugares de
origem para o local de residência fora do seu país. Apesar deste facto não ser exclusivo
do Estrela d’África208, adquire aqui uma visibilidade excepcional que traduz não só a
criatividade dos seus protagonistas, como é um dos principais marcadores que
estruturam o quadro de interacção local (Cordeiro e Costa, 1999:65).
Apesar do nome do bairro fazer crer que ali só residem populações africanas, o
certo é que há toda uma cintura de casas habitadas por migrantes internos e algumas
famílias ciganas que também expressam as suas origens de diversas formas como, por
exemplo, nos nomes dos cafés e casas de pasto, exibindo elementos que também
evocam as terras de origem. Este aspecto sugere uma composição multicultural do
bairro Estrela d’África e, por isso, procuramos compreender a sua importância e reflexo
nos comportamentos, sociabilidades, formas de organização social, forjados a partir de
uma coexistência e interacção moldadas por factores internos e externos de natureza
diversa.
5.1.2. População
Segundo o levantamento do PER209, em 1993, viviam no bairro Estrela d’África,
1022 pessoas, que constituíam 296 unidades domésticas a residir em 220 casas de
construção espontânea.
208 O trabalho monográfico elaborado no âmbito da licenciatura em Antropologia, em 1991, na Cova da Moura, revelou, justamente, o mesmo processo de inscrição espacial das origens étnicas e regionais dos habitantes (cf. planta do bairro da Cova da Moura com as marcas toponímicas reveladoras da origem). 209 A base de dados do Gabinete do Programa Especial de Realojamento da Câmara Municipal da Amadora, criada a partir do levantamento de 1993, adiante designada por B.D.GPER, serviu de fonte
168
Confirmando a tendência da Amadora como terra de migrantes, o bairro
apresentava-se, pois, com uma diversidade de populações migrantes oriundas de várias
regiões do País e dos chamados PALOP (Países Africanos de Língua Oficial
Portuguesa). De facto, ainda hoje, o tecido social deste núcleo urbano é composto,
essencialmente, por populações de origem diferenciada do ponto de vista geográfico e
cultural, sobretudo das Beiras, Trás-os-Montes e Alentejo, de Cabo Verde, com
particular expressão dos naturais da Ilha Brava e da Ilha de Santiago, Guiné-Bissau
(Bissau e Mansoa), de Angola, de S. Tomé e Príncipe e, ainda, algumas famílias
ciganas.
As pessoas com nacionalidade portuguesa correspondem a 50,78 % do total
(279H e 240M), no entanto, há que ressalvar que este número de pessoas com
nacionalidade portuguesa inclui, por exemplo, os naturais de Cabo Verde que,
entretanto, adquiriram nacionalidade portuguesa e, consequentemente, todos os seus
filhos; seguem-se os cabo-verdianos (196 H e 164M), o que equivale a 35% do total;
os guineenses ocupam 9% (75H e 20M); os santomenses correspondem a 2,8% (15H e
14M); os ciganos, angolanos, moçambicanos e brasileiros surgem com um número
muito reduzido (B.D.GPER, 1994) (*).
A composição socio-demográfica traduz, pois, esta heterogeneidade e o perfil
etário salienta o carácter migrante da população. Assim, podemos verificar que há um
peso maior de homens do que mulheres, sendo a taxa de masculinidade de 78,81%,
predominando uma população masculina em idade activa. O número de crianças e
jovens, entre os 3 e os 18 anos, é muito elevado, correspondendo a 34,93% do total da
população; este facto pode ser observado através de uma pirâmide etária rejuvenescida
na base (fig. 29).
Como veremos adiante, o processo de formação do bairro está intimamente ligado
à origem regional e étnico-cultural dos seus habitantes de modo que a estruturação do
espaço e a toponímia reflectem esta composição. Com efeito, o bairro está
profundamente marcado pela origem dos seus moradores que, na ausência quase total de
principal para a caracterização demográfica do bairro. Pareceu-nos a fonte mais credível, apesar de existirem outros levantamentos totais ou parcelares da população residente. Em 2000, um dos anos de trabalho no terreno, trabalhei os dados existentes com o apoio do técnico informático responsável pela referida base de dados do GPER sendo os resultados apresentados no presente capítulo. Para efeitos de citação desta fonte, utilizaremos a seguinte designação B. D.GPER, 1994.
169
intervenção exterior, foram estruturando o espaço e nomeando as ruas recorrendo a uma
matriz simbólica através da transferência dos nomes dos lugares de origem para o local
de residência fora do seu país. Apesar deste facto não ser exclusivo do Estrela
d’África210, adquire aqui uma visibilidade excepcional que traduz, não só a criatividade
dos seus protagonistas, como é um dos principais marcadores que estruturam o ‘quadro
de interacção local’ (Cordeiro e Costa, 1999:65).
Apesar do nome do bairro fazer crer que ali só residem populações africanas, o
certo é que há toda uma cintura de casas habitadas por migrantes internos e algumas
famílias ciganas que também expressam as suas origens de diversas formas como, por
exemplo, nos nomes dos cafés e casas de pasto, exibindo elementos que também
evocam as terras de origem. Este aspecto sugere uma composição multicultural do
bairro Estrela d’África e, por isso, procuramos compreender a sua importância e reflexo
nos comportamentos, sociabilidades, formas de organização social, forjados a partir de
uma coexistência e interacção moldadas por factores internos e externos de natureza
diversa.
De facto, ainda hoje o tecido social deste núcleo urbano é composto,
essencialmente, por populações de origem diferenciada do ponto de vista geográfico e
cultural, sobretudo das Beiras, Trás-os-Montes e Alentejo, de Cabo Verde, com
particular expressão dos naturais da Ilha Brava e da Ilha de Santiago, Guiné-Bissau
(Bissau e Mansoa), de Angola, de S. Tomé e Príncipe e, ainda, algumas famílias
ciganas.
As pessoas com nacionalidade portuguesa correspondem a 50.78 % do total
(279H e 240M), no entanto, há que ressalvar que este número de pessoas com
nacionalidade portuguesa inclui, por exemplo, os naturais de Cabo Verde mas que,
entretanto, adquiriram nacionalidade portuguesa e, consequentemente, todos os seus
filhos; seguem-se os cabo-verdianos (196 H e 164M) o que equivale a 35% do total;
os guineenses ocupam 9% (75H e 20M); os santomenses correspondem a 2.8% (15H e
14M); os ciganos, angolanos, moçambicanos e brasileiros surgem com um número
muito reduzido (B.D.GPER, 1994) (*). (*) ver anexo II -1
210 O trabalho monográfico elaborado no âmbito da licenciatura em Antropologia em 1991, na Cova da Moura, revelou, justamente, o mesmo processo de inscrição espacial das origens étnicas e regionais dos habitantes (cf. planta do bairro da Cova da Moura com as marcas toponímicas reveladoras da origem)
170
A composição sócio - demográfica traduz, pois, esta heterogeneidade e o perfil
etário salienta o carácter migrante da população. Assim, podemos verificar que há um
peso maior de homens do que mulheres, sendo a taxa de masculinidade de 78.81,
predominando uma população masculina em idade activa.
O número de crianças e jovens, entre os 3 e os 18 anos, é muito elevado,
correspondendo a 34.93% do total da população; este facto pode ser observado através
de uma pirâmide etária rejuvenescida na base (fig. 29).
> Pirâmide Etária da População Residente no Bairro Estrela d’África
(num universo de 1022 pessoas)
Fonte: Câmara Municipal da Amadora. Programa Especial de Realojamento, 1994
fig. 29 A estrutura etária apresenta uma percentagem de pessoas de ambos os sexos
bastante elevada até aos 39 anos, notando-se uma diminuição gradual até aos 69 anos e,
a partir deste escalão etário, a diminuição é muito acentuada. Os residentes com mais de
60 anos ocupam apenas 8,7% da população (*). (*) ver anexo II -2, 2A, 2B
171
Numa breve caracterização da condição dos moradores perante o trabalho,
concluímos que a população activa é bastante elevada, sendo 427 o número de activos a
exercer uma profissão, 30 o número de desempregados (fig. 30). No que diz respeito à
população não activa, destaca-se o número de estudantes, que perfazem 280, de
domésticas com 57 mulheres e 64 reformados e pensionistas (fig. 31).
Ang Br CE (1) Cv Gu Mo Pt St Xx (2)
Homens 4 2 1 180 70 3 235 15 2
Mulheres 4 0 1 132 16 0 184 12 0
TOTAL HOMENS…512
TOTAL MULHERES…349
Fonte: Câmara Municipal da Amadora. Programa Especial de Realojamento, 1994
fig. 30
1) - Ang – Angolanos; (6) - Mo - Moçambicanos (2) - Br – Brasileiros; (7) - Pt - Portugueses (3) - CE – Comunidade Europeia (8) – St - Santomenses (4) - Cv – Cabo-verdianos (9) - Xx (Ciganos, etc) (5) - Gu - Guineenses
0
50
100
150
200
250
Ang Br Ce Cv Gu Mo Pt St Xx
POPULAÇÃO ACTIVA (HOMENS MULHERES POR NACIONALIDADE) DO BAIRRO ESTRELA d'ÁFRICA
MULHERES
HOMENS
MULHERES %
HOMENS %
172
Estes números não incluem a totalidade da população, uma vez que há um número de
não declarados, na ordem de centena e meia (B.D.GPER, 1994).
Ang Br Ce Cv Gu Mo Pt St Xx
Homens 0 0 1 16 5 0 44 0 0
Mulheres 1 0 1 32 4 0 56 2 0
TOTAL HOMENS…66
TOTAL MULHERES…96 NOTA: POPULAÇÃO NÃO ACTIVA A PARTIR DOS 16 ANOS DE IDADE
INCLUI: ESTUDANTES, REFORMADOS(AS), DESEMPREGADOS(AS), PENSIONISTAS, DESOCUPADOS(AS),DEFICIENTES, DOMÉSTICAS. Fonte: Câmara Municipal da Amadora. Programa Especial de Realojamento, 1994
fig. 31
A distribuição sectorial do emprego revela que 212 indivíduos trabalham no
sector de construção e obras públicas, seguindo-se os que trabalham em serviços
pessoais e colectivos, num total de 147 pessoas, distribuindo-se os restantes pelos
sectores do comércio, restaurantes e hotéis com 32 pessoas, e dos transportes, armazéns
e comunicações com 24 indivíduos (B.D.GPER, 1994) (*).
(*) ver anexo II – 3
0
10
20
30
40
50
60
Ang Br Ce Cv Gu Mo Pt St Xx
POPULAÇÃO NÃO ACTIVA (HOMENS MULHERES POR NACIONALIDADE) DO
BAIRRO ESTRELA d'ÁFRICA
MULHERES
HOMENS
MULHERES %
HOMENS %
173
No que diz respeito aos rendimentos das famílias, a situação era a seguinte: 467
indivíduos (95 famílias) tinham rendimentos per capita inferiores ou iguais a
20.000$00; 413 indivíduos (130 famílias) possuíam rendimentos entre 20 001$00 e
54.600$00; com rendimentos iguais ou superiores a 54 601.00 existiam 58 pessoas (27
famílias). Fora deste quadro, ficaram 84 indivíduos que não declararam, num total de
1022 habitantes (B. D.GPER, 1984).
As ocupações profissionais da população do Estrela d’África são
predominantemente o trabalho na construção civil, no caso dos homens, (dentro deste
sector, há uma grande variedade de ocupações que vai desde o servente até ao sub-
empreiteiro) e o trabalho doméstico, em empresas de limpeza, na restauração e no
comércio, no caso das mulheres (*).
Grande parte da população activa está, pois, integrada em circuitos informais do
mercado de trabalho, sujeita à precaridade do vínculo laboral, à ausência de protecção
social ou seguro de trabalho e a processos de mobilidade profissional descendente.
Neste contexto, as redes socio-laborais desempenham um papel determinante nos
percursos profissionais.
5.2 . História do bairro
5.2.1. Da origem…
5.2.1.1. No início era a Cova das Ratas
Embora o processo de fixação de população no local, onde hoje está implantado
o Estrela d’África, contenha elementos semelhantes a outros bairros de habitat
espontâneo existentes no Município da Amadora, todos têm uma história diferente
porque diferentes são também as pessoas que protagonizaram essa dinâmica e, por isso,
vale a pena determo-nos sobre o caso em análise.
Até à primeira metade dos anos 70, uma parte do território onde está implantado o
bairro Estrela d’África era uma zona de baldios atravessada por uma ribeira que corria a
céu aberto e que servia de vazadouro público, pelo que era conhecida como a Cova das
Ratas. Os pioneiros tiveram de edificar as suas habitações, nestes espaços intersticiais,
174
transformando-os num espaço doméstico onde pudessem recriar as suas vidas longe dos
olhares das autoridades locais.
Assim, ao longo de duas décadas e meia, vagas sucessivas de populações foram
preenchendo este terreno expectante, transformando-o num espaço vivido, que se foi
consolidando com o tempo, dando origem ao bairro.
Neste processo, a entre-ajuda, a reciprocidade e a solidariedade entre familiares,
vizinhos e patrícios foram elementos-chave para a transformação, de forma sui generis,
de um baldio urbano num lugar de referência para muitas centenas de pessoas.
As primeiras habitações a serem construídas eram de madeira e chapa mas, à
medida que o bairro se foi consolidando, estas foram transformadas em construções
precárias de alvenaria, em constante remodelação, de forma a melhorar as condições de
habitabilidade (fig. 32 e fig. 33).
fig. 32 - As primeiras casas em madeira fig. 33 - Transformação das casas para alvenaria
Apesar de o Estrela d’África ser um dos bairros mais recentes dentro do
continuum de bairros de habitat espontâneo, que referimos atrás, a inexistência de infra-
estruturas marcou, durante anos, a vida de pessoas que, ininterruptamente, ali se foram
fixando, desde o início dos anos setenta.
Nos anos 70 e 80, um chafariz público localizado junto à empresa Gráfica Peres e
outro, localizado junto ao apeadeiro da Damaia211, contribuíram para resolver um dos
principais problemas da população: a água. (*) ver anexo II – 4
211 Este apeadeiro deixou de existir com a construção da nova estação da Damaia.
175
A azáfama dos miúdos e mulheres carregando os bidões com água marcou,
durante anos, o quadro da vida quotidiana destas populações.
Durante anos a fio, a electricidade só foi possível através do expediente da luz
emprestada cedida pelos vizinhos, ou roubada aos postes de iluminação pública.
As ruas que se foram traçando no emaranhado das construções eram em terra
batida, muito estreitas e sinuosas, desenhando um labirinto que parecia servir de
protecção aos habitantes do bairro, como que querendo preservar a sua intimidade e,
simultaneamente, defendê-los dos olhares das autoridades locais,212 permitindo, assim,
prosseguir a transformação do alojamento, à medida do crescimento do grupo
doméstico. Em torno destas casas, cresceram hortas e construíram-se currais, onde se
criaram galinhas, coelhos e porcos213 que asseguraram a alimentação das famílias,
servindo de recurso para os dias mais difíceis ou para os rituais de comensalidade que a
visita de um parente ou o nascimento, casamento e morte de algum familiar214 obriga.
O testemunho de uma assistente social215, que teve contacto com o bairro desde
1977 e posterior intervenção local, é bem revelador da forma como as levas de
(i)migrantes foram imprimindo a sua matriz socio-cultural àquele local, transformando-
o num espaço multicultural por excelência.
O primeiro contacto que tive com o bairro Estrela d’África foi em 1977. Era uma língua de vinte a trinta casas de madeira junto à ribeira, num local que se chamava Cova das Ratas porque havia muito lixo e aí viviam os cabo-verdianos; na Estrada Militar havia casas de madeira, mas a maioria era de tijolo, onde habitavam ‘brancos’. O bairro começou a desenvolver-se em 80, na parte colada à linha do comboio, mas o pulo foi em 82; nesta altura, havia muitos conflitos entre essa ‘comunidade branca’ e os ‘negros’, pelo que as autarquias eram chamadas muitas vezes a intervir para apaziguar a ‘comunidade negra, africana’ que estava a chegar e a ‘comunidade branca’ existente. Eram famílias cabo-verdianas, não havia ciganos, senão em frente à loja jovem.
212 Ao longo do processo de consolidação do bairro, houve momentos de forte intervenção da Câmara Municipal e da GNR para evitar o alastramento do bairro. Porém, aos fins de semana, quando os fiscais estavam em descanso, as construções eram rapidamente erguidas com a ajuda da população, que se mobilizava para o efeito, imediatamente ocupadas, tornando-se um facto consumado difícil de contornar pelas autoridades locais, que não tinham alternativas habitacionais para estas populações. 213 Ainda hoje, existem as hortas e os currais em torno das casas e é possível comer um bom rojão feito num caldeirão e na fogueira erguida debaixo da escada da passagem aérea de peões sobre o caminho de ferro; durante o trabalho de terreno, foram várias as refeições que fiz, ali, sentada num tijolo, comendo torresmos e bebendo cerveja oferecidos, muitas vezes, pelas mulheres do bairro que criaram amizade comigo. 214 No caso dos cabo-verdianos, todos os ritos de passagem implicam a oferta de comida farta, até mesmo nos funerais, onde não pode faltar a canja de finado. 215 O serviço social teve, na décadas de 80 e início de 90, um papel importantíssimo no encontrar soluções com os moradores para um sem número de problemas, com especial destaque para o trabalho com as famílias com crianças pequenas; nos últimos anos, o trabalho no bairro tornou-se demasiado fragmentado para ter impacto junto das populações.
176
Por volta de 83, constituíram uma comissão de moradores. Em 85-86 despoletou-se a acção de despejo colectivo, porque o terreno era privado...os herdeiros do dono puseram uma acção; a Junta e a Câmara contrataram um advogado para apoiar a população. Em 89-90 começaram a chegar muitos guineenses de origem muçulmana. Para mim, nunca foi um bairro tão problemático como o 6 de Maio, nem nunca se ouviram contar histórias como nas Fontaínhas... Aqui, no Estrela d’África, os africanos da parte encostada à Pereira da Costa criavam porcos e faziam a matança do porco...criavam animais, até há pouco tempo [E. Garcia, 42 anos, assistente social].
Este depoimento revela o impacto que o crescimento do bairro teve no local e
como o processo de adaptação das populações foi complexo, ao mesmo tempo que nos
confirma algumas das estratégias de sobrevivência das populações que ali se foram
fixando.
5.2.1.2. De terra de ninguém a Estrela de África: os pioneiros - Migrantes internos
Nos anos 50, mais precisamente entre 58 e 59, vivia no local uma mulher de
naturalidade portuguesa e só na década de 60 é que se começaram a fixar novos
habitantes, existindo uma referência à existência de cinco pessoas do sexo masculino e
três mulheres, todos de nacionalidade portuguesa, a residirem na zona, nos finais desta
década (B.D.GPER, 1994). Contudo, só na primeira metade da década de 70 é que
começa o processo de urbanização daquela zona e é também a partir deste período que
chegam os pioneiros, cujo testemunho registamos ao longo do trabalho de campo.
Com efeito, os primeiros migrantes internos fixaram-se na Estrada Militar e foram
construindo os seus alojamentos, bem como as tabernas ou casas de pasto, projectadas
para o exterior216; outros construíram as habitações viradas para a linha do caminho de
ferro, para a designada Rua do Apeadeiro, com as entradas e vias de acesso às
habitações directamente ligadas à via principal.
Pelo contrário, os primeiros imigrantes cabo-verdianos começaram a construir as
suas precárias habitações no meio do canavial, junto a uma ribeira existente por detrás
de um torreão militar, único testemunho da função militar daquela estrada.
216 Todos estes residentes dão como morada a Rua D. Maria, Venda Nova, omitindo a designação de Estrela d’África, na localização das suas habitações.
177
Os Lameiras217 foram os primeiros migrantes internos a chegarem ao local e, por
essa razão, assistiram à chegada das levas de africanos e outros migrantes que deixaram
as pensões ou partes de casa em Lisboa, nos chamados bairros típicos, para construírem
a sua própria habitação, mesmo que um pouco precária218. São, pois, um bom exemplo
das trajectórias de vida dos migrantes que passaram pelo centro de Lisboa até se
fixarem nos subúrbios, dando origem aos numerosos bairros de génese clandestina ou
informal que povoam a paisagem da Área Metropolitana de Lisboa.
O testemunho de D. Helena e de Rosa, sua nora, proprietárias do café- restaurante
A Parreira, dá uma imagem clara do processo de crescimento do bairro Estrela
d’África, já que assistiram, não só à chegada dos primeiros africanos, como também aos
confrontos que se geraram com a fixação de um número crescente de populações de
origens étnicas e regionais diferentes.
A D. Helena tem 53 anos e é natural de Arcozão do Cabo, concelho de Moimenta
da Beira, distrito de Viseu; o marido tem a mesma naturalidade e o filho já nasceu em
Lisboa.
Ao referir-se aos primeiros africanos que chegaram ao bairro, a D. Helena dá-nos
conta que eram cabo-verdianos com quem era possível ter uma boa relação de
vizinhança. Esta imagem positiva foi-se acentuando com o facto de estes também se
tornarem clientes da taberna e, por isso, nada melhor que aceitar estas pessoas.
Fomos os primeiros, só havia a nossa casa e uma ali em baixo, não era assim mais nenhuma; passados dois ou três anos é que começaram assim a aparecer. E a construir, nós até tínhamos apanhado mais terreno mas eu disse para o meu marido que isto já chega, para matar o corpo já chega... Principalmente era daquele cruzamento até aqui em cima ! Pois ali em baixo temos a nossa criação, depois o meu marido vendeu; tudo isto era um talude, meti cá uma máquina para arranjar isto e a gente foi indo com a graça de Deus. A 13 de Junho de 1974, não havia aqui casas, apenas uma barraquinha aqui ao fundo. Segue-se que, com o poder do tempo, começaram a vir os pretos todos lá de fora, não é ! Começámos por ter uma vizinha também muito boa pessoa que a gente se deu muito bem com ela, que veio de Cabo Verde [Helena Lameiras].
217 Este testemunho é da D. Helena e da nora, a Rosa, da família Lameiras, que constituíram importantes fontes de informação, não só sobre a origem do bairro como das profundas dificuldades dos migrantes internos em se integrarem na cidade. Vieram para Lisboa à procura de trabalho e de melhorar as condições de vida. 218 Nas histórias de vida dos imigrantes, é comum verificar-se que, inicialmente, foram viver para quartos alugados ou partes de casas, nos bairros antigos da cidade de Lisboa; isto aconteceu a milhares de migrantes internos, mas também aos cabo-verdianos, havendo, por isso, zonas em Lisboa habitadas por populações com a mesma origem regional ou étnica. Mas muitas destas pessoas, para não terem encargos com o alojamento, preferiram construir ou comprar uma barraca na periferia. Sobre este assunto há várias referências, destacando, aqui, a narrativa de Zé Machado, morador da Bica, que fala deste movimento a partir do bairro de Lisboa (Cordeiro, 1997).
178
Outro factor importantíssimo para a sobrevivência desta família foi a presença, ali
mesmo ao lado, de grandes empresas da construção civil cujos trabalhadores
reclamavam a existência de infra-estruturas que lhes dessem apoio, sobretudo, ao nível
da alimentação e de bebidas. De forma inteligente e oportuna, a D. Helena começou a
preparar uma das respostas a esta necessidade, tendo criado para o efeito uma venda
junto ao muro da referida empresa, paredes meias com a sua precária habitação.
Depois os trabalhadores da Pereira da Costa (construção civil) começaram a dizer: a senhora podia vender aí umas cervejinhas, fazer umas sandes e então disse: ah, não sei, não, não sei, não! E eles insistiram que sim, e comecei assim a governar a minha vidinha. O meu marido, quando saía para trabalhar, deixava-me um barril de vinho, e eu ia buscar as cervejas à cabeça, porque na altura, o carro não deixava aqui as cervejas. O meu marido trabalhava na Rank Xerox, em máquinas fotocopiadoras. Bem, eu primeiro estava sozinha, depois veio uma sobrinha minha começamos a ter muita gente e o meu marido achou que se juntássemos os ordenados dava para abrir uma taberninha, porque isto era muito pequeno e assim não dava e assim foi... começamos assim a vida, mais tarde, foram acusar-nos e mandaram-nos deitar a placa abaixo e não deitámos...[Helena Lameiras].
Um desses trabalhadores, frequentador diário do Parreira e considerado como
um quase-parente dos Lameiras, é o Sr. Branco, com 59 anos de idade, é natural de
Vilar da Veiga, Terras de Bouro, distrito de Braga, Parque do Gerês. O Sr. Branco é um
dos operários de construção civil da Pereira da Costa, que dorme nas instalações da
empresa e que, tal como muitos outros trabalhadores, veio para Lisboa nos anos 60 e 70
à procura de trabalho. Corresponde à figura do migrante interno que deixou a família
no local de origem, à espera de dias melhores para proceder ao reagrupamento familiar,
que nunca veio a acontecer. Por isso, a mulher, um filho e uma filha ficaram a viver em
Vimioso, até hoje e, uma vez por mês, o Sr. Branco desloca-se até ao Norte para matar
saudades da família, da terra e dos amigos.
Este homem, envelhecido precocemente pelo trabalho e pelas condições de vida
na cidade, testemunhou o surgimento do bairro e o seu crescimento desenfreado.
Através de uma retrospectiva necessariamente breve, o Sr. Branco dá conta das
profundas alterações que a zona sofreu, tanto do ponto de vista físico como social,
permitindo-nos captar uma paisagem reveladora do ambiente urbano das últimas
décadas da Amadora. Vim para a Damaia, estava em Janeiro de 1977, já vai fazer 22 anos; eu vi isto a nascer, não havia casas... havia lá em baixo três casas, era nas Fontaínhas: uma do senhor Gomes, que tem uma taberna e ali em baixo à entrada das Fontaínhas, havia outra que é do senhor Joaquim Sousa, que tem uma tabernazita.
179
Conheci isto tudo. Aqui, deste lado, não havia quase nada, era um deserto, eram árvores por todo o lado. Começaram a cortar, a semear, a tapar...Mas isto aqui mudou muito porque o que não faltava aqui era terra [Branco, 52 anos, operário]. Nos anos 80, fez parte de um conjunto de pessoas que começaram a
infraestruturar a zona através da colocação de colectores para canalizar as águas da
ribeira evitando inundações e prejuízos para as empresas e populações. Descreve assim
esse momento:
Havia ali uma ribeira... um rio. Começámos a cavar a terra e pôs-se umas manilhas e a água começou a entrar para dentro... havia um rio, lá para cima, para quem vai para a estrada... É mais lá para cima... e aqui metemos umas manilhas que era para a água descer, era fundo, uma cova e a água passa por baixo [Sr. Branco].
Foi dos primeiros trabalhadores a tornar-se frequentador assíduo da taberna-
restaurante Parreira, pertencente à família Lameiras atrás referida, a qual se
transformou, ao longo dos anos, num dos principais espaços de sociabilidade do
bairro219.
...Aqui, também foi igual, morava aqui a D. Helena que tinha aquela casa ali atrás, onde ela cozia o pão no forno, mas fazia aquela mesa, ali debaixo de uma parreira. Vendia umas sandes para nós e umas cervejitas... depois, então, começaram aqui ... era um quintal e começaram aqui a tapar [Sr. Branco].
O pormenor importante como descreve os materiais com que as barracas de
madeira eram feitas permite-nos compreender melhor as condições de alojamento desta
população, ao longo de anos a fio. A descrição também nos dá conta dos novos
residentes e da difícil coexistência entre africanos e ciganos, a que a partilha do mesmo
espaço obrigou.
Aqui não havia nada, era só hortas... Depois daquelas hortas já taparam com arame, latão e com tijolo e em um, dois anos começaram a fazer as barraquitas, forravam por dentro com madeira e estava a casa feita. Eram africanos; para aí, em 78/79 já vinha pessoal lá de.....fizeram as barracas...[Branco]. Durante o trabalho de terreno, o tempo passado na casa de pasto dos Lameiras a
conversar e almoçar, numa mesa rodeada de operários, deu-me oportunidade de
entender um pouco melhor a vida destes homens que vivem sós na cidade, muitas
219 Ao longo do trabalho de campo, verificou-se que o número de tabernas entre as populações africanas aumentou substancialmente. São pontos fundamentais de encontro, de confraternização, de informação e base para criação de sociabilidades e cumplicidades. O problemas do alcoolismo é real e fonte de violência que muitas vezes extravasa a família, vindo para a rua.
180
vezes, em estaleiros ou quartos alugados para poderem enviar o pé de meia à família
que vive na aldeia ou na vila mais próxima da terra natal. As mulheres ficaram na terra
a zelar pela casa, pela educação dos filhos e a tratar dos animais e do campo. Esta
economia doméstica é fundamental para que tenham não só sobrevivido à fome, como
melhorado as condições de vida. Os homens em idade activa tiveram de abandonar a
enxada e trocá-la por muitos outros instrumentos de trabalho. Uns foram para as
cidades, onde a construção civil, a indústria e os serviços lhes deram trabalho, outros
foram para o estrangeiro, para França, Suíça, Alemanha. O testemunho do Sr. Branco é
revelador do trabalho duro e do sonho eternamente adiado de muitas famílias
portuguesas: sair da miséria dos campos e encontrar na cidade melhores condições de
vida. Porém, revela também que a cidade madrasta nem sempre torna este sonho
realidade, ou adia-o por uma vida, até que a idade da reforma lhe dê o bilhete de volta
ao campo, entretanto tornado urbano.
Lá para baixo, ficou igual, era só erva.... isto dava para grandes plantações de vinho, fazendas e ... tinha isto tudo para mim, eu fui parvo na altura não ter aproveitado porque eu trabalhava às 7h30, acabava às 6 horas, não tinha tempo... Depois, vê, uma pessoa sai cedo e chega tarde... Agora, agora... !!! Podia ter alguma coisa e agora não tenho nada... agora só tenho a minha terra... A pessoa vai orientando... às vezes, vou lá para cima, tenho lá o meu filho, a minha mulher a casa e um terrenozito. A minha filha casou, agora a minha mulher está com o filho e com a nora, a minha filha casou cedo, teve sorte ! O marido está para a Suíça, ela agora esta lá em casa porque o marido não está lá... ela não tem casa, tem uma casa alugada lá em Vimioso, vai ter com a mãe... a nora dorme com o filho e ela dorme lá...[Branco].
Este microcosmos constituído por esta localidade tem a particularidade de
representar, numa escala pequena, o que se passou na cidade-concelho da Amadora, nas
últimas duas décadas.
O fluxo migratório resultante não só do êxodo rural, como de outras zonas da
cidade de Lisboa, a que aludimos na primeira parte, está, pois, presente na formação do
tecido social do bairro. Com efeito, apesar da superioridade numérica dos cabo-
verdianos, o bairro foi crescendo com a fixação de muitas dezenas de migrantes
internos, os quais, por razões de habitação ou laborais, acabaram por se transferir para
aquela zona em expansão, na qual puderam edificar os seus alojamentos com mais
conforto e menos encargos financeiros, como referimos anteriormente.
181
(*)
Fonte: Câmara Municipal da Amadora. Programa Especial de Realojamento, 1994
fig. 34
(*) ver anexo II – 5
Ang Br C.E. Cv Gu Mo Pt St Xx1960_1963 0 0 0 0 0 0 2 0 01964_1967 0 0 0 0 0 0 1 0 01968_1969 0 0 0 0 0 0 2 0 01970_1973 0 0 0 6 0 0 7 0 01974_1977 0 0 0 18 0 0 27 0 01978_1982 0 0 0 8 0 0 39 0 01980_1983 2 0 0 38 1 0 62 2 01984_1987 0 0 1 46 5 0 63 3 01988_1989 1 1 1 19 5 1 19 0 01990_1993 3 1 0 61 64 2 57 10 2
0
50
100
150
200
250
300
ANO DE INSTALAÇÃO NO BAIRRO ESTRELA d'ÁFRICA POR NACIONALIDADES / Homens
182
Fonte: Câmara Municipal da Amadora. Programa Especial de Realojamento, 1994
fig. 35
(*) ver anexo II – 3A
Ang Br C.E. Cv Gu Mo Pt St Xx1960_1963 0 0 0 0 0 0 1 0 01964_1967 0 0 0 0 0 0 1 0 01968_1969 0 0 0 0 0 0 1 0 01970_1973 0 0 0 4 0 0 5 1 01974_1977 0 0 0 15 0 0 21 1 01978_1982 0 0 0 13 0 0 31 0 01980_1983 2 0 0 34 1 0 56 2 01984_1987 0 0 1 26 2 0 43 1 01988_1989 0 0 0 24 1 0 24 0 01990_1993 2 0 1 48 16 0 56 9 0
0
50
100
150
200
250
300
ANO DE INSTALAÇÃO NO BAIRRO ESTRELA d'ÁFRICA POR NACIONALIDADES / Mulheres
183
Como podemos ver, na categoria de portugueses220, encontramos um elevado
número de pessoas (um total de 274 homens e 235 mulheres), que se foram fixando ao
longo da década de 70 (73 homens e 57 mulheres); nos finais dos anos 70 e o no início
dos anos 80, dá-se um boom de migrantes internos que aumentam para mais do
dobro,pelo que na década de 80, existe um número de 144 homens e 123 mulheres, e só
no período de 90-93, estão registados 57 homens e 56 mulheres a residirem no local
(B.D.GPER, 1994) (figs. 34 e 35).
- Os cabo-verdianos
Os primeiros seis homens e quatro mulheres a fixarem-se no local, entre 70 e 73,
eram de origem cabo-verdiana. É entre 1974 e 1977 que os números começam a
disparar, havendo registo de 18 homens e 15 mulheres residentes, também de origem
cabo-verdiana.
São precisamente alguns destes pioneiros que nos dão conta da forma como o
bairro se constituiu numa unidade territorial.
Segundo aquela fonte, a chegada ao local dos primeiros africanos remonta a 1971-
73. Neste período, chega ao local o patriarca da família Pina, cabo-verdiano com
origem na Ilha Brava que, após ter vivido nas Fontaínhas, vai habitar uma casa de
madeira erguida no meio do terreno baldio, preparando-se, deste modo, para receber
mulher e filhos/as221.
(*) ver anexo II – 5ª
220 Como sabemos, esta categoria – nacionalidade portuguesa - é ambígua quanto à naturalidade dos cidadãos, porque engloba pessoas de países diferentes, cidadãos estrangeiros, mas que obtiveram a nacionalidade portuguesa. O facto deste levantamento não identificar a naturalidade leva-nos a crer que, por exemplo, as crianças ou jovens afro-descendentes com nacionalidade portuguesa estão englobados nos portugueses. 221 A família Pina tornou-se um elemento fundamental no processo de formação do bairro, pelo que merece uma atenção particular, mais à frente.
184
João Pina e Maria de Pina
fig. 36
Sendo assim, nos anos que antecedem o 25 de Abril de 1974, habitavam no local
apenas uma dezena de pessoas com nacionalidade cabo-verdiana, a maioria dos quais da
família Pina. Com efeito, os primeiros habitantes a fixarem-se no local têm origem na
Ilha da Brava, Cabo Verde, embora mais tarde se iniciasse uma fileira migratória
oriunda da Ilha de Santiago. Neste quadro funcionou plenamente a cadeia migratória
que veio juntar progressivamente, através do reagrupamento familiar, famílias como os
Pina, cujo percurso se torna paradigmático destes fluxos migratórios222, os Varela, os
Fortes, que ainda hoje têm uma presença muito significativa no bairro.
222 Por este motivo a família Pina será objecto de análise mais adiante.
185
fig. 37 – Bilhete de embarque de um membro da família Pina
O facto de esta primeira leva de cabo-verdianos ser oriunda da Ilha da Brava
marcou profundamente a morfologia e organização socio-espacial do bairro. De acordo
com vários testemunhos, pode-se dizer que havia um percurso tipo: primeiro, vinha o
homem da casa e/ou o filho/s mais velhos e só depois de garantirem alojamento para a
família é que mandavam chamar as mulheres e os filhos de tenra idade, a maior parte
dos quais nunca mais regressariam a Cabo Verde, como confirma o testemunho de
Alcinda Pina223, nossa informante.
Nós chegamos cá, a minha mãe, eu e os meus irmãos, porque o meu pai e irmão mais velho já cá estavam, há uns anos. Chegámos em Maio de 1977. Ainda me lembro e é curioso que ainda tenho o bilhete. Eu e o meu irmão estivemos a ver umas coisas que o meu pai tinha ali na mala, e encontrámos o bilhete da viagem, de 1977. O bilhete de avião custava, na altura, mil escudos. No início o meu pai não vivia aqui, mas nas Fontaínhas, depois é que veio para aqui, não para este sítio, mas para uma casa mais acima... Na altura, eu tinha 4 anos. Quando vim, isto era tudo diferente... havia uma ribeira, ainda me lembro que tinha uma ponte enorme que ia dar até lá a baixo, à estrada. Havia muito poucas casas...não me lembro se de madeira... daquela, lá em cima, não me lembro, mas quando o meu pai começou a fazer esta, já foi em tijolo. Aqui, somos todos da Ilha da Brava... estamos aqui há mais de 20 anos, só nasci em Cabo Verde, de resto... não conheço a minha ilha, nunca lá fui, como a maioria dos jovens que lá nasceram. Não me recordo de nada, era muito pequena [Alcinda Pina, 27 anos, Animadora Socio-Cultural].
223 A Alcinda Pina é membro da família Pina e uma das nossas informantes privilegiadas, pois conduziu-nos nos caminhos sinuosos do bairro e da sua família. Confirma que, tal como ela própria, dos jovens que saíram de Cabo Verde, em criança, são muito poucos aqueles que voltaram para conhecer a sua terra natal; a oportunidade de o fazerem tem mais a ver com projectos das associações locais do que com a iniciativa das famílias, as quais, por motivos de ordem económico-financeira, nunca mais visitaram Cabo Verde. Quando, por acaso, a sorte bate à porta de um familiar ou amigo patrício, circulam mercadorias, prendas, cartas que colmatam esta dificuldade.
186
A grande pobreza que se fazia sentir na sua terra de origem, devido, sobretudo,
às sucessivas secas, foi uma das razões que levaram os habitantes das Ilhas a
emigrarem.
Cabo Verde é um país que não tem recursos, não tem trabalho, é um país mesmo muito pobre...as pessoas vivem da agricultura, mas é quando chove, porque quando não chove ...a seca... [Alcinda Pina].
Este testemunho da Alcinda acaba por sintetizar o conjunto de razões que levaram
os cabo-verdianos à diáspora e a um eterno retorno adiado.
Na década de 70, temos registo da fixação de 64 cabo-verdianos (32 homens e 32
mulheres), embora grande parte destes se tenha instalado a partir de 1976 (B.D.GPER,
1994).
Benjamim Moreno224 foi um dos principais informantes que se cruzaram no nosso
caminho, pois testemunhou não só a origem do Bairro Estrela d’África, como também
foi o seu principal fundador. Cabo-verdiano de origem, com 45 anos de idade, o senhor
Benjamim chegou ao local em 1976 para construir a sua casa e descreve assim o que
viu nessa altura:
Vim para o bairro, em 1976 e quando cá cheguei, só encontrei três casais a morar aqui na rua: a tia da minha mulher mais dois senhores que estão nos Estados Unidos, mas os filhos estão cá na mesma... Aqui era tudo vago, não havia habitação, naquele largo havia uma grande horta, tinha criação de carneiros e além à frente, na estrada de cima só havia silvas, não havia mais nada... Quando cá cheguei não tinha habitação, depois fiz esta barraca para habitação...veio mais um senhor a seguir a mim e fez uma barraca mais à frente e pronto...as pessoas começaram a crescer, a crescer...[Benjamim Moreno, 45 anos, operário].
Nesta atmosfera bucólica, há um episódio muito curioso que se prende com uma
personagem decisiva na edificação do bairro, a quem se poderia chamar o primeiro
urbanizador, um homem com a alcunha sugestiva de Prego. Com efeito, o Sr. João
Prego foi o homem a quem os recém-chegados mandavam construir as suas habitações
em madeira, no meio do caniçal e, deste modo, garantiam um alojamento para os
parentes, o que acabava por ficar mais barato.
224 O Sr. Benjamim Moreno foi, igualmente, uma peça chave para o conhecimento da história do bairro Estrela d’ África. Era detentor de documentação única sobre a infraestruturação do bairro, dinâmicas de animação da população e das relações do bairro com entidades supra-locais. Após o realojamento no Zambujal da Buraca, o Sr. Benjamim cedeu a sua casa à Associação Unidos de Cabo Verde. Morreu em 2001, vítima de acidente cardio vascular.
187
Um homem, cabo-verdiano, que ainda é vivo, com quase noventa anos, chamado João Prego, é o construtor do bairro; vive cá no bairro e a gente chama João Prego, é coisa que ele não gosta que lhe chamem; é uma alcunha que a gente pôs porque ele começou a construir uma barraca lá em baixo ao fundo...logo de seguida quatro ou cinco barracas...não tinha cá ninguém, nem a mulher nem os filhos, conforma ele dizia, vendia aos outros. Enquanto os outros iam trabalhar, ele fazia as barracas, fazia de madeira, arranjava as tábuas, cortava com um machado, serrava aquilo e depois arranjava a barraca; estando a barraca pronta, vendia a barraca, naquele tempo, por dez ou quinze contos, conforme...[Benjamim Moreno].
Este processo manteve-se durante anos a fio e ainda hoje é possível encontrar no
bairro uma ou outra barraca de madeira mas, por ironia do destino, habitadas por
migrantes internos de fracos recursos.
Ao longo de anos, as populações e as autoridades locais relacionaram-se como o
gato e o rato, o que teve impacto na configuração espacial do bairro. À semana, os
fiscais da Câmara Municipal e a GNR tentavam controlar o crescimento e a
consolidação das habitações do bairro mas, ao fim de semana, os moradores juntavam-
se e em dois dias, a casa estava de pé e lá dentro uma família desfrutava da melhoria
das condições de alojamento. Toda a história do bairro é povoada por episódios mais ou
menos recambolescos deste tipo. Mas o mais importante de tudo é que o bairro cresceu
cimentando uma cumplicidade e uma entre-ajuda tão sólidas que se devem, não só à
origem comum dos moradores, mas também a esta adversidade permanente que
contribuiu para os moradores forjarem um sentimento de comunidade que perdurou até
aos dias de hoje.
Assim, o bairro foi enchendo, enchendo, até agora, não tem sítio para passar e depois de estar tudo concluído, mas havia ainda muito espaço, não é, então começou a invasão mesmo a sério! Foi em 1979/80, foi ali, então que começou-se a ‘urbanizar’; a Guarda Republicana da Amadora começou a impedir a construção, mas as pessoas faziam, eles vinham cá e deitavam abaixo...vinham cá muitas vezes e deitaram muitas barracas abaixo, não deixavam construir mais barracas, não sei porquê! ...Deitavam tudo abaixo, não se podia construir, por causa das fábricas, mas as pessoas, conforme eles deitavam abaixo, a malta continuava. Chegava o fim-de-semana, Domingo, não é?!, juntava-se o grupo todo, as pessoas, e quando chegava a Segunda-feira já estava tudo dentro e assim foi...[Benjamim Moreno]
Contudo, o boom deu-se, justamente, na década seguinte, com a fixação de 187
cabo-verdianos (103 H e 84 M). Só em três anos, entre 90 e 93, fixaram-se 61 homens e
48 mulheres, muitos deles familiares dos que ali se estabeleceram. Quando se analisa os
dados referentes às mulheres cabo-verdianas, verificamos que se fixaram, sobretudo,
entre 1970 e 1979 (32 mulheres), que o número quase triplicou entre 80 e 89 (84
mulheres) e só entre 90 e 93, fixaram-se 48 cabo-verdianas (B.D.GPER, 1994). Se
188
compararmos o número de mulheres e homens que se fixaram no período considerado,
concluímos que o número de homens é muito superior, o que se explica no quadro de
populações imigrantes. Apesar disso, e no caso dos cabo-verdianos, a diferença nunca
foi substancial, porque o processo de reagrupamento familiar funcionou quase sempre
num período curto de tempo.
- Outros africanos, ciganos, brasileiros
Os guineenses225 começaram a fixar-se no local, na década de 80. Há registos da
fixação do primeiro guineense, em 1982 e, nos anos subsequentes, de 11 homens e 4
mulheres. Contudo, os naturais da Guiné Bissau só começam a ter expressão entre 1990
e 1993, estando registados, neste período, 64 indivíduos do sexo masculino e 16 do
sexo feminino (B.D.GPER, 1994). Existe, pois, uma diferença muito grande entre o
número de homens e mulheres, o que significa que o processo de reagrupamento pode
não ter funcionado, neste caso, pelo que é comum existirem no bairro casas habitadas
apenas por homens.
Constatamos, actualmente, um número muito significativo de guineenses que se
instalaram, sobretudo, junto ao largo Ilha Brava, reconstruindo habitações e abrindo
locais de venda um pouco por todo o lado. Uma das razões para este aumento
substancial de guineenses poderá ter origem na situação política instável na Guiné-
Bissau, que condena as populações à condição de refugiadas dentro do país, ou a
procurar segurança fora deste.
Não temos registo de instalação, no local, de santomenses, na década de 70, com
excepção para duas mulheres cujo registo se deve, provavelmente, ao facto viverem
com pessoas de outra nacionalidade226. Na década de 80, há registos da fixação de 5
homens e 3 mulheres e entre 1990 e 1993, o número ascende a 10 homens e 9 mulheres,
tendo a maioria entrado em 1992 (9 H e 6 M). Os santomenses também só adquirem
algumas expressividade entre 1990-1993, durante os quais se fixaram 10 homens e 9
225 Durante o trabalho de campo, fiz amizade com guineenses, alguns dos quais são vendedores de produtos tradicionais, na Rua do Apeadeiro, onde costumava comprar cola, mandioca, etc., ou que tinham comércio dentro do bairro, como o Sr. Mamadu Djaló, com quem dialogava no meio de inúmeras dificuldades linguísticas. Um dos jovens, amigo deste, era professor de árabe na Guiné-Bissau e fazia, de vez em quando, umas visitas a Portugal. 226 Em contacto com os jovens, verifiquei que alguns tinham pais de nacionalidade cabo-verdiana (pai) e santomense (mãe).
189
mulheres. No cômputo geral o número de santomenses é reduzido, isto é, um total de 15
homens e 14 mulheres entre o final dos anos 70 e 1993 (B.D.GPER, 1994).
No que diz respeito à população angolana, entre 1970 e 1993, só estão registados
4 homens e 4 mulheres, os quais entraram durante a década de 80 e nos três primeiros
anos de 90 (B.D.GPER, 1994). Pensamos que, hoje, este número é significativamente
superior devido à guerra civil angolana, contudo, a actualização dos dados respeitantes
a este bairro não foi ainda realizada na totalidade.
O número de moçambicanos parece não ultrapassar os três indivíduos. Para além
destes africanos com origem nos PALOP, sabemos da existência de um número muito
escasso de zairenses, dos quais não há qualquer registo.
Apesar destes números nos darem uma ideia do peso das populações segundo o
país de origem, o certo é que há um número indeterminado de pessoas em situação
irregular que não constam dos levantamentos ou estatísticas, pelo que não são aqui
referenciados. Desta dificuldade já demos conta, na primeira parte do trabalho.
A diversidade étnico-cultural do bairro Estrela d’África passa, também, pela
presença de algumas famílias ciganas.
Os ciganos estão contemplados no levantamento do PER, com a categoria de
outros, mas sabemos que, na década de 80, ali se fixou uma família extensa, cuja
habitação foi implantada junto à Rua D. Maria / Estrada Militar, numa zona de fixação
de migrantes internos227.
Os relatos sobre a génese do bairro confirmam a existência de algumas famílias
ciganas, a maioria das quais habitava em construções de madeira que, aos poucos,
foram vendidas aos migrantes que iam chegando ao local.
Estas casas, aqui perto, apareceram aí há uns quinze anos, foi quando vieram para aqui os ciganos; havia mais (ciganos), mas começaram a abalar por causa dos pretos... e vieram para aqui, compraram a um português, ele tapou o muro, fez a horta e os ciganos compraram [Sr. Branco].
A presença dos brasileiros no bairro é quase imperceptível, embora possamos
encontrar o registo de dois brasileiros cuja instalação no bairro remonta a 1988 e a 1991
(B.D.GPER, 1994). 227 Esta família mandou reabilitar uma construção precária, transformando-a numa construção de grande qualidade, onde actualmente vivem apenas mulheres e crianças; o patriarca desta família foi morto na chamada Feira do Relógio e os restantes membros estão presos, supostamente por tráfico de estupefacientes; esta situação impossibilitou-nos de contactar mais de perto com esta família cigana, por isso, o que sabemos, é através dos testemunhos dos nossos informantes.
190
Ao fim de dois anos de trabalho de terreno, demos conta da existência de
imigrantes eslavos no bairro mas, como muitos outros imigrantes, também estão fora
das estatísticas oficiais.
Em termos globais, as pessoas com nacionalidade portuguesa correspondem a
50,78% do total (279H e 240M) da população, no entanto, há que ressalvar que este
número de pessoas com nacionalidade portuguesa inclui, como vimos, os cabo-
verdianos de naturalidade mas que, entretanto, adquiriram nacionalidade portuguesa e,
consequentemente, os seus filhos assumem a nacionalidade portuguesa; seguem-se os
cabo-verdianos (196H e 164M, o que equivale a 35% do total; os guineenses ocupam
9% (75H e 20M); os santomenses correspondem a 2,8% (15H e 14M; os ciganos,
angolanos moçambicanos e brasileiros surgem com um número muito reduzido
(B.D.GPER,1994).
5.2.2 A Família Pina228
Como referimos, os problemas das sucessivas secas e consequente pobreza
obrigaram os cabo-verdianos a uma emigração quase forçada, sobretudo, para Portugal,
Estados Unidos e Holanda. A família Pina não foi excepção e representa bem esta vaga
sucessiva de migrações, cuja fileira migratória foi sustentada pela necessidade de
procederem ao reagrupamento familiar naqueles países de acolhimento. Entre os Pina,
há os que emigraram para os Estados Unidos da América, para a Holanda e, sobretudo,
para Portugal, isto é, para a Área Metropolitana de Lisboa e dentro desta, para o
concelho da Amadora. Grande parte dos elementos da família Pina229 (fig. 38) fixaram-
se no Estrela d´África, embora alguns tenham saído, posteriormente, para outras
localidades e países.
(*) ver anexo II – 6, 6A, 7 e 7A
228 Introduzimos, em anexo (*), a descrição feita por Alcinda Pina (Ego) sobre o percurso dos seus familiares, desde que saíram de Cabo Verde – Ilha Brava. Os dados sobre a família Pina vão até onde a memória da Alcinda, apoiada nas dúvidas pelo irmão David, a leva. Para mim, foi surpreendente a reconstituição feita e a menção a 100 parentes, o que só pode ser explicado pela importância que a família desempenha nestes contextos. Quantos de nós seria capaz de o fazer?! 229 Pela importância desta família na construção e consolidação do bairro Estrela d’África, procederemos, mais à frente, à elaboração do respectivo mapa genealógico (*).
191
Construíram as casas, umas a seguir às outras, comunicando e interagindo
profundamente no quotidiano, como tantos milhares de imigrantes a viverem nestes
contextos.
Os membros da família Pina têm origem na freguesia de Nossa Senhora do
Monte, Ilha da Brava, o que se deve ao facto das duas avós (materna e paterna) de
Alcinda Pina, a nossa informante, serem naturais desta ilha e aí constituíram a
respectiva prole. Vejamos, então, como este processo se desenvolveu no caso dos dois
ramos da família (matrilateral e patrilateral) e como a família da Alcinda está na origem
da criação e povoamento do bairro Estrela d´África.
fig. 38 – A Família Pina
193
A Alcinda Pina230, que neste contexto é Ego, é uma jovem de 27 anos, filha do
primeiro cabo-verdiano a construir casa de madeira no local dando origem ao bairro que
mais tarde se iria chamar ‘Estrela d´África’. A Alcinda é solteira e vive ainda hoje com
o irmão mais novo, solteiro, em casa dos pais que faleceram há anos, no nº 21 da Rua
Nossa Senhora do Monte, mesmo no coração do bairro (figs. 40 e 41). Passados alguns
meses de nomadismo no bairro em que habitei sobretudo a rua, a Alcinda recebeu-me,
de uma forma muito acolhedora, na sala de visitas da casa, um local cheio de
fotografias da família e de recordações que faziam antever uma história rica em
acontecimentos. Foi num cenário tranquilo que começamos a nossa conversa sobre o
percurso da sua família e dela própria, bem como a forma como vê e sente o bairro. A
amizade que se forjou a partir desse momento viria a consolidar-se até hoje através de
uma reciprocidade e solidariedade permanentes.
fig. 40 – Fachada da casa-mãe da família Pina
fig. 41 – Alcinda Pina no páteo da sua casa
230 A Alcinda Pina tornou-se uma pessoa fundamental durante e pós o trabalho de campo. Foi em sua casa mesmo no coração do bairro que me abriguei, descansei dias a fio de trabalho de rua, realizei entrevistas, partilhei conversas e a vida dos jovens e preparei novos projectos para o grupo Estrelas Cabo-verdianas de que darei conta na conclusão deste trabalho.
194
fig. 42 | Diagrama genealógico dos membros da Família Pina residentes em 1999, no Bairro Estrela d’ África
195
A vida dura em Cabo Verde e a diáspora da família Pina
A saga da família Pina é uma experiência de vida muito comum nas famílias cabo-
verdianas. As famílias cresciam no meio de dificuldades, na maior parte das vezes,
intransponíveis, não por incapacidade dos cabo-verdianos em se esforçarem para
conseguirem um lugar ao sol, mas porque a mãe-terra sempre lhes foi adversa e o pai-
estado231 não conseguiu criar estruturas para que ao seus filhos pudessem escolher entre
o ficar e o partir. As secas e as fomes atingiram as ilhas desde o seu achamento (Carreira,
1984:17). Parecia que a vida de escravo ainda andava por ali às voltas e, por isso, estes
filhos órfãos, os cabo-verdianos, tiveram de buscar a vida (Kemper, 1996:198) fora da
sua terra natal e do seu país. O testemunho da Alcinda é bem o retrato da vida quotidiana
das famílias na luta pela sobrevivência.
Como éramos uma família muito grande, o meu pai teve a necessidade de vir para cá. Éramos oito filhos mas como faleceu uma irmã, cá, somos sete, agora. Já em Cabo Verde, as dificuldades eram grandes e para uma família numerosa existem sempre mais dificuldades e em Cabo Verde... país de poucos recursos a nível de trabalho e falta de chuva, as pessoas sobrevivem do pouco que a agricultura lhes fornece e da pesca. Para nos sustentarem, os meus pais trabalharam imenso, tanto em cabo Verde como cá ... o meu pai, em Cabo Verde, vendia bolos na estrada e a minha mãe trabalhava em casa de uma senhora rica; durante o dia trabalhava como cozinheira e à noite fazia os bolos para o meu pai vender, chegava a fazer 3 a 4 tabuleiros de 300 bolos cada, às vezes até às 3 horas da manhã... como não tínhamos forno para assar os bolos, o meu irmão David e irmã Maria João levantavam às 6 horas da manhã e levavam os bolos a uma padaria, que ficava a 30 minutos de casa, para assar. Depois de assar, traziam os bolos para que o pai fosse vender na estrada às pessoas que lá trabalhavam e vendíamos também em casa...[Alcinda Pina].
Em casa dos Pina, todos começaram a trabalhar desde tenra idade, sendo a
educação garantida também pelos irmãos mais velhos. De realçar que nesta família tanto
rapazes como raparigas foram preparados para desempenhar as mesmas tarefas em casa,
o que se revelou de grande importância na sobrevivência quotidiana, após a emigração.
Os meus irmãos mais velhos, para além de estudarem, tinham que tomar conta dos irmãos mais novos e realizar tarefas em casa, como ir buscar água, cozinhar, buscar lenha, limpar etc... apesar dessas dificuldades, foi-nos sempre transmitida uma boa educação que hoje passa de pais para filhos, principalmente para filhos machos, que dentro de casa não existe tarefas divididas entre homem e mulher, mas sim, que todos participam para uma melhor organização familiar. E assim
231 Esta metáfora foi utilizada por João Lopes Filho, nas suas obras, para se referir à sorte madrasta deste povo.
196
vai passando de geração para geraçã,o dentro da família Pina a nossa maneira de viver, que muitas vezes não é a mais positiva, mas...[Alcinda Pina].
Apesar dos muitos sacrifícios, a vida nem por isso sorria aos Pina, por isso, não
restaram muitas alternativas senão emigrar. Portugal foi o primeiro e único destino para
alguns membros da família Pina, até porque só precisavam do bilhete de identidade para
entrar na chamada Metrópole durante o período colonial. Afinal de contas, eram
portugueses porque tinham nascido numa das colónias portuguesas, o que lhes dava o
direito de circular mais ou menos livremente. Neste aspecto, é muito curioso
verificarmos que foi uma mulher quem emigrou para Portugal. Como refere Caroline
Brettell (1996:245), as mulheres também são emigrantes. Neste caso, foi a tia paterna da
Alcinda, a tia Idília, quem emigrou para Portugal, entre os anos 71 e 72, fixando-se,
primeiro no bairro das Fontaínhas e mais tarde, no local onde iria crescer o bairro Estrela
d’África. Entre as múltiplas ocupações, esta tia da Alcinda trabalhou em restaurantes da
Feira Popular, em Lisboa.
Em 1972/73, emigrou o irmão da Alcinda, David Pina, que veio juntar-se à tia
Idília, apoiando-se nesta para se alojar e empregar. Com efeito, depois de ter trabalhado
uns meses nas obras, o jovem David soube por um amigo do bairro que iam abrir
inscrições para admissão de pessoal nos CTT. Desta feita e na companhia da tia Idília, os
jovens foram inscrever-se nos CTT e ficaram apurados, pelo que passaram a trabalhar
nesta empresa pública.
O pai destes, João de Pina, veio para Portugal, ainda antes do 25 de Abril, nos
primeiros meses de 1974, e foi juntar-se à irmã e filho que viviam nas Fontaínhas.
Encontrou trabalho numa das grandes empresas locais de construção civil, a Pereira da
Costa, na Venda Nova, localizada a pouca distância do bairro.
Sim, foi em Cabo Verde. Ainda lá, quando o meu pai deparou que as condições de vida não estavam a melhorar, então optou pela emigração para Portugal, viajando em 1974, pois já cá estava o meu irmão mais velho e a minha tia paterna. Chegado a Portugal, iniciou trabalho na construção civil, na firma Mário Baptista Pereira da Costa e, passados alguns anos, foi chegando a pouco e pouco o resto da família. Antes da nossa chegada, o meu pai vivia com a minha tia e irmão nas Fontaínhas [ Alcinda Pina].
Na verdade, o bairro das Fontaínhas foi o primeiro dos locais de maior
concentração de cabo-verdianos, na Amadora. Durante muito tempo, foi um bairro muito
197
conhecido, não só por ser habitado quase exclusivamente por cabo-verdianos, como pelas
notícias dos jornais que atribuíam a estes estranhos moradores o mau ambiente da zona.
Encostado às Portas de Benfica, este bairro representava a face terrível da cidade, pois
concentrava gangs de marginais responsáveis pela insegurança urbana. Eram frequentes
as rixas entre cabo-verdianos, mas poucos saberiam da importância da origem regional
nestes conflitos. Com efeito, os badios de Santiago estavam em maioria, apesar da
presença dos sampadjudos, com origem no Fogo, Brava, Santo Antão, ser cada vez mais
significativa. De facto, o ambiente era cada vez mais pesado devido às brigas e mortes
que ali aconteciam, de forma que os Pina começaram a planear a mudança de local de
residência. Quando, em 1977, a mãe da Alcinda (figura 43) vem para Portugal com os
restantes filhos (figura 44), foram habitar a nova casa situada no futuro bairro Estrela
d’África. Mas como o meu pai tinha que buscar o resto da família, procurou um sítio melhor pois o ambiente nas Fontaínhas, nessa altura, não era agradável devido ao facto de os sampadjudos não se darem com os badios... então vieram para aqui, para o bairro onde antes era a Estrada Militar e foi aqui desde a nossa chegada, que vivemos. Cresci aqui no bairro e do que me lembro é que, no início tudo era agradável, pois viviam poucas famílias, o bairro era calmo e todos viviam em serenidade, ultrapassando sempre muitas dificuldades [Alcinda Pina].
fig. 43 – Bilhete de Identidade da mãe de Alcinda Pina.
198
fig. 44 - Autorização de saída de Cabo Verde de Júlia de Barros Pina, Alcinda Pina e irmãos
No final dos anos 80, era comum encontrarmos muitos moradores de bairros como
o Estrela d’África na recolha de papel e cartão, sendo esta uma tarefa, sobretudo de
mulheres e crianças. Pela importância de que se revestia na economia doméstica, havia
espaços no bairro onde se acumulava este produto e dias para a recolha por parte de
pessoas exteriores ao bairro, que ali se deslocavam com pequenos camionetas de caixa
aberta e compravam o material. Havia também quem reagisse muito mal ao aparato
caótico que esta mercadoria impunha ao bairro. Algumas destas pessoas estavam ligadas
aos serviços autárquicos, que não viam com bons olhos este acumular de lixo. Na época,
eu tinha começado a trabalhar na autarquia local com a responsabilidade de ligação desta
aos chamados bairros degradados da Amadora e lembro-me de ter feito uma proposta ao
então vereador da Habitação e Urbanismo, no sentido de a Câmara garantir contentores
localizados em locais específicos para que a população pudesse continuar esta actividade
sem colidir com a higiene e limpeza do bairro. Hoje, ao ouvir as palavras da Alcinda,
reforço a ideia de que o conhecimento do quotidiano destas populações é fundamental
para uma gestão equilibrada e justa por parte das autoridades locais232.
232 Iniciei, em 1986, o trabalho nos Serviços de Habitação e Recuperação de Áreas Degradadas e foi na qualidade de responsável pela ligação aos bairros de habitat espontâneo que comecei a fazer propostas no sentido da recuperação, por exemplo, dos largos dos bairros, de forma a transformá-los em lugares limpos e aprazíveis, com árvores, parques infantis e pilaretes para evitar o estacionamento de viaturas. Os primeiros bairros a merecerem a minha atenção foram, justamente, Fontaínhas e Estrela d’África.
199
Os meus pais nunca deixaram que nada nos faltasse; o meu pai trabalhava muito e às vezes dias e noites seguidos e a minha mãe, não me lembro de trabalhar cá, mas ajudava em casa com algum dinheiro, apanhando papelão numa fábrica de jornais na Venda Nova. Íamos buscar jornais mal feitos, caixas etc... e ela vendia a uma senhora portuguesa que vinha comprar aqui no bairro. Nessa altura, quase todas as mulheres iam apanhar papelão, pois o pouco dinheiro que dava já ajudava para comprar leite, pão, açúcar e café para os filhos... E assim foi...trabalharam e criaram-nos sem nunca nos deixar perceber das maiores dificuldades existentes. Hoje, relembro o passado e percebo o sacrifício que os meus pais passaram para nos dar uma boa educação e uma casa acolhedora da qual nada desfrutaram...[Alcinda Pina]. É comum nestas famílias as crianças começarem a trabalhar cedo para poderem
contribuir para a economia do grupo doméstico e, desta feita, abandonarem a escola
precocemente. Alcinda e os irmãos confirmam a regra e pelo seu testemunho, podemos
viajar pelas vidas destes, marcadas por uma responsabilização precoce desde tenra idade,
que lhes ceifou os sonhos e lhes retirou o tempo e a idade para brincarem como outras
crianças.
Em relação à minha família, também se passou o mesmo, as minhas irmãs, cedo, começaram a trabalhar, assim como eu, também. As mais velhas desde a chegada cá, em Portugal, razão porque cedo formaram família. O meu irmão mais velho, David Pina (34) foi o primeiro a emigrar para Portugal, estudou até à 4ª classe, em Cabo Verde, e desde a sua chegada que trabalha para os CTT de Lisboa. A minha irmã mais velha, Maria João Pina (37), estudou até a 3ª classe em Cabo Verde chegou a Portugal com uma prima, em Junho de 1976; trabalhou numa fábrica de café, em Campo de Ourique, durante um ano e três meses. Parou de trabalhar devido a licença de parto e questões de saúde, até 1988. A partir daí até à data trabalha como empregada de limpeza. A segunda irmã, Deolinda Pina Cardoso(45) estudou até aos 14 anos em Cabo Verde mas só completou a 2ª classe; chegou a Portugal em Dezembro de 1976, com a avó paterna e prima. Começou a trabalhar numa fábrica de peixe em Venda Nova, onde hoje são as Docas Secas, depois trabalhou como empregada de limpeza, no hipermercado do Continente da Amadora e hoje, trabalha em casa de uma senhora, a tomar conta de crianças. Em Maio de 1977, chegou o resto da família, a minha mãe, eu e quatro irmãos. O José Pina (38) ainda tentou estudar cá mas, devido à idade só o aceitavam no ensino nocturno, por isso, começou a trabalhar, deste então, na construção civil. Hoje é pedreiro e já não vive no bairro. Da Eugénia Pina Delgado(43), a minha terceira irmã, poucas lembranças tenho dela, pois a vida não permitiu que, ao melhorar a sua vida, a pudesse gozar junto dos 4 filhos e marido; sei que começou a trabalhar depois do nascimento do terceiro filho, numa casa de repouso em Venda Nova e depois, até ao seu falecimento, trabalhava na casa do patrão do marido, que é encarregado de obras. Em relação a minha irmã Elizabete Pina (47), iniciou os estudos em Cabo Verde e cá, só estudou até o 7º ano de escolaridade incompleto; iniciou trabalho no Centro Social 6 de Maio, como auxiliar de educação e depois até à data, trabalha como empregada de limpeza. Os mais novos da família, António (40) e eu iniciámos os estudos cá mas, por opção própria, o meu irmão António deixou os estudos no 7º ano de escolaridade, não completando o ensino obrigatório; aos 15 anos, começou a trabalhar como aprendiz de serralheiro, depois como montador de tectos falsos e divisórias, durante 10 anos, e hoje trabalha na construção civil, fazendo vários serviços. Eu, Alcinda Pina (41), sou a única que ainda luta para conseguir ir mais longe, mesmo deixando a escola aos 15 anos, por imposição do pai; iniciei o trabalho como empregada de limpeza em firmas, junto da irmã mais velha, levantando às 5 horas da manhã... como não era o meu sonho, comecei a tirar alguns cursos, trabalhando e estudando. Hoje sou Animadora Socio-Cultural,
200
profissão esta que quero me especializar em prol dos jovens para que tenham melhores opções na vida [Alcinda Pina].
Como vemos, apesar das origens humildes da família, a resposta dos Pina à
adversidade imposta pela sociedade de acolhimento foi a procura constante de soluções
para ultrapassarem os handicaps criados pelo berço pobre que tinham herdado dos pais e
o apoio constante destes para que os filhos não tivessem o mesmo destino deles, quando
jovens. Apesar de permanecerem no bairro Estrela d’África até hoje, não significa que
tenham vivido mergulhados na miséria toda a vida e que tenham reproduzido o ciclo da
pobreza, constituindo uma subcultura transmitida intergeracionalmente. O exemplo
desta família contraria o conceito de cultura da pobreza a que nos habituaram os
escritos de Oscar Lewis (Eames e Goode, 1996:407). Os elementos desta família não
podem, pois, ser consideradas vítimas passivas dos constrangimentos, mas como agentes
activos criando estratégias cheias de significado dentro de possibilidades limitadas
(Eames e Goode, 1996:412). Cabe aqui convocar o plano complexo de estratégias,
práticas e significados que são constantemente negociados, reconstruídos num processo
que reclama, simultaneamente, continuidade e mudança. Neste contexto, a etnografia
urbana, combinando as dimensões micro e macro, contribui decisivamente para pôr a
nu o esforço das populações para saírem do ciclo da pobreza e os constrangimentos das
condições estruturais de vida a que estão permanentemente sujeitos.
5.2.3. … À consolidação
5.2.3.1. A emergência da Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África
O processo de fixação das populações migrantes em terrenos da Fazenda Pública
ou privados não foi pacífico. Contou, desde sempre, com uma oposição sistemática das
autoridades locais, o que não só não evitou que os bairros crescessem a olhos vistos
como provocou uma solidariedade sem limites entre as populações migrantes, que levou
201
a melhor. Falo, claro, do caso da Amadora, mas esta dinâmica foi comum a muitos
outros contextos233.
A conjuntura política do pós 25 de Abril veio favorecer a organização e a
mobilização em matéria de reivindicações das populações trabalhadoras e o
aparecimento de organizações locais para melhoria das condições de vida nos bairros,
protagonizada pelas comissões de moradores. Deu origem a um período fértil em
movimentos sociais e à mobilização dos cidadãos em torno dessas comissões e
associações de moradores. Deste modo, um pouco por todo o lado, formam-se
comissões de trabalhadores e de moradores, muitas vezes de forma espontânea, para
defesa dos direitos laborais e cívicos, mas também para exigirem as infra-estruturas
mínimas nos bairros de habitat espontâneo. Esta efervescência associativa, de carácter
espontâneo e informal, está na origem de associações de migrantes que vieram a formar-
se, na primeira metade dos anos 80234. A transformação das comissões de moradores em
associações, que iria operar-se na década seguinte, deve-se à não existência de uma
moldura legislativa que permitisse o apoio das entidades oficiais a organizações com um
nível de formalização precário. As autarquias locais fomentavam esta dinâmica
associativa, apoiando com recursos financeiros e materiais, na expectativa que as
associações fossem parceiras na resolução dos graves problemas socio-urbanísticos que
se avolumavam com a fixação de contingentes de populações migrantes. Deste
movimento associativo na Amadora demos conta, na primeira parte do trabalho, cabe-
nos agora explicar como o fenómeno se desencadeou no bairro Estrela d’África.
A ideia da criação de uma comissão de moradores não foi espontânea, mas sim
impulsionada pelas Irmãs Dominicanas235, sediadas no bairro 6 de Maio, e pelas
autoridades locais, neste caso, a Junta de Freguesia da Falagueira/Venda Nova e por
entidades supralocais como a Segurança Social. Um dos argumentos para a necessidade
233 Noutros concelhos da AML, formaram-se bairros altamente densificados como, por exemplo, as Marianas, em Cascais, a Pedreira dos Húngaros, em Oeiras, etc, etc. 234 Ao longo deste trabalho, damos conta da intervenção de associações locais que tiveram origem nestas comissões de moradores e outras de intervenção cívica e com preocupações a nível da intervenção socio-cultural. São numerosas as associações de migrantes existentes na Amadora, as quais, desde a criação do Município, têm merecido uma atenção e apoio especiais das autarquias locais. 235 A presença das Dominicanas nestes bairros foi marcante ao longo dos anos. Havia entre estas Irmãs assistentes sociais que fomentavam a organização das populações dos três bairros: Fontaínhas, 6 de Maio e Estrela d’África. Criaram e fazem a gestão de um Centro de Infância, no bairro 6 de Maio.
202
urgente de criação de uma comissão de moradores era a ausência de uma plataforma de
diálogo e mediação entre as populações do bairro e o exterior, nomeadamente as
autoridades locais. O mesmo processo foi seguido nos bairros das Fontaínhas e 6 de
Maio, nos quais também foram criadas comissões de moradores, cuja fusão iria dar
origem, como veremos, à Associação Unidos de Cabo Verde.
Uma das pessoas que está na origem deste processo é Benjamim Moreno236, nosso
informante, que foi apresentado no início deste capítulo e que nos transmite, da seguinte
forma, como tudo começou:
Um dia, vinha do trabalho e quando me aproximava do chafariz que fornecia a água às pessoas que viviam no local, encontrei uma freira espanhola, a irmã Rosário, que conversava com um grupo de pessoas, o senhor Zé que já morreu, mas que vivia na primeira casa junto ao chafariz e quatro ou cinco pessoas que já viviam no bairro; falavam na importância de se criar uma comissão de moradores no bairro e explicaram quem eram e para que servia uma comissão dessas. Disseram-me... ‘nós estamos ali em baixo, nas Fontaínhas, estamos lá a trabalhar com crianças e também actuamos no 6 de Maio...escolhemos umas pessoas mais apropriadas que é para criar uma comissão de moradores...que é muito importante para o bairro, só que é voluntário o trabalho, não é emprego...tendo uma comissão de moradores aqui, nesta zona, já podem ir à Junta, à Câmara; por exemplo, vocês aqui não têm água, só têm este chafariz, não tem esgoto, tem de tratar disso tudo e depois, mesmo que as pessoas façam barracas mas deixem entrada para os carros entrarem e saírem... já viram que mais cedo ou mais tarde, se houver um incêndio, porque já tinham ardido as barracas lá nas Fontainhas...’ Começaram a juntar pessoas, homens e mulheres, e pronto, a irmã perguntou quem era a pessoa mais apropriada, a maioria delas indicava para mim, eu era um rapaz daqui..[ Benjamim Moreno]. O Sr. Benjamim tinha apenas 26 anos, quando aderiu à ideia da criação de uma
comissão de moradores no bairro. Estas eram estruturas com algum grau de formalidade,
que serviam de plataforma de mediação entre a população e as instituições supralocais
(Leeds, 1973). Esta função está bem expressa nas seguintes afirmações de Benjamim
Moreno:
...Depois, então, eu e esse João aceitámos; tivemos a preparar, não é?! Depois, houve um dia, a própria irmã foi connosco à Junta de Freguesia, apresentamos lá ao presidente Joel ... estes senhores moram no bairro...o bairro não tinha nome...explicaram que passamos a desempenhar o papel de comissão de moradores para comunicar com eles, a partir de agora, qualquer coisa que haja com respeito...o bairro dispõe... E assim foi, começamos a trabalhar e a primeira coisa que tratamos foi do nome do bairro [Benjamim Moreno].
236 O Sr. Benjamim ficou com todo o legado da Comissão de Moradores, no que diz respeito a livros de registo de contas, correspondência e o livro onde estava registado o nome das pessoas e o montante com que contribuíram para a instalação da rede de água e esgotos. Apesar de ter esta documentação guardada no sótão da casa, manifestou toda a abertura para me facultar o acesso, tentando recuperar este património documental único.
203
Em 1981, foi criada a comissão de moradores do Bairro Estrela d’África237, mas só
se constituiu (in)formalmente em Junho de 1983, através da eleição, em 12 de Junho de
1983, da lista única apresentada aos moradores (*).
O acto eleitoral contou com a presença de representantes da então Junta de
Freguesia da Falagueira-Venda Nova.
Interessante é o pedido de última hora de um megafone, ao Partido Comunista
Português da Amadora, o que denota alguma influência deste partido entre os membros
da Comissão de Moradores ou até no bairro (*).
Pelos documentos existentes, podemos confirmar a intensa actividade desta
comissão de moradores e concluir que foram os seus primeiros membros que conferiram,
com o apoio estreito da população, uma unidade territorial e identidade ao bairro.
5.2.3.2. Quando os arquitectos e os urbanistas são os próprios moradores
O bairro Estrela d’África é o produto não só de uma forma de organização do
espaço que combina uma multiplicidade de origens, trajectórias e de práticas, como de
uma memória que remete para a origem dos residentes e para a combinação desta com as
estratégias de fixação num país e numa sociedade diferentes. Estes factores combinados
conferem ao bairro uma plasticidade de fronteiras que o tornam um território sensível.
Nesta perspectiva, na origem do bairro estão vários factores que o marcam
profundamente: um saber-fazer original e uma concepção de habitat que integra valores
sociais e simbólicos próprios de populações numa situação particular de imigração
económica; esta situação teve efeitos modificadores devido aos condicionalismos de
ordem geográfica, funcional, económica e uma forte pressão domeio urbano
envolvente, pré-existente. Num êxodo ininterrupto, as populações imigrantes vieram
preencher a malha urbana da periferia, ocupando os interstícios ainda libertos, tornando-
se, assim, os arquitectos e construtores das suas habitações, os urbanistas do seu bairro. (*) ver anexo II – 8, 8A e 8B (*) ver anexo II – 9, 9A e 9B 237 Com um golpe de sorte, o Sr. Benjamim conseguiu descobrir onde tinha guardado o velho dossier da comissão de moradores e facultou-o para fotocópia na íntegra; como gesto de gratidão, organizei-o e fiz cópia para a Associação Unidos de Cabo Verde, que há muito namorava o fundador da comissão para lho ceder.
204
Um olhar atento e o suporte da perspectiva subjectiva dos residentes cabo-
verdianos permitem-nos descortinar uma série de estratégias complexas de ocupação do
espaço. O plano de implantação das habitações, que garante uma organização funcional
da circulação interna e uma comunicação na base das redes de parentesco,
conterraneidade e de vizinhança, e a respectiva toponímia, apresenta vários sinais de
privatização simbólica do espaço e testemunham a distribuição étnica ou regional dos
moradores. Assim, as pessoas da mesma ilha tendem a concentrar-se no mesmo espaço e
a casa é uma operação colectiva que conta com a cooperação da família, dos vizinhos e
amigos, enfim, com a ajuda recíproca do conjunto da comunidade238.
- Estrela d’África, ironia de um nome ou talvez não
A primeira tarefa da comissão de moradores foi reunir e tratar de discutir um nome
para o bairro, pois isso facilitaria a comunicação com as diferentes entidades,
contribuindo para os residentes se identificarem com o local.
É extremamente curiosa a forma encontrada por este grupo de pessoas para
atribuírem um nome ao bairro, às ruas e ao largo.
O orgulho de ali viverem, de serem africanos, trabalhadores, as saudades da terra
deixada para trás, sem data marcada para o retorno, foi o motivo que cunhou nas paredes
e no papel o nome do bairro e das ruas, momentos históricos que o Sr. Benjamim gravou
na memória e que descreve assim:
Na altura, já éramos cinco ou seis os que faziam parte da lista, cada um dizia o seu nome e escrevia. O senhor Eduardo, conforme dizia o nome, escrevia, no fim, eu disse ao João, que agora não está cá, nos temos de escolher um nome que não existe...começamos a pensar qual é o nome... porque é eu não pomos bairro Estrela d’África?! Eu comecei a pensar...boa ideia e o homem escreveu. Passado uma semana ou duas, chamamos a população e apresentamos os nomes, nome tal, nome tal, e há esse nome que surgiu, não sei se vocês vão querer ou não e pronto, a população que morava gostou...pode ficar Estrela d’África...[Benjamim Moreno]
Fora desta discussão e das listas para a comissão de moradores, estiveram os
migrantes internos que viviam de costas voltadas para o que se passava no interior do 238 Como referimos, há outros bairros onde este processo se desenvolve, sendo o bairro da Cova da Moura um dos melhores exemplos da implantação, em meio urbano, da matriz do arquipélago de Cabo Verde, cf. anexo.
205
bairro239. Com as entradas das casas viradas para a rua circundante e ocupados com
actividades de comércio ou serviços, deixaram a árdua tarefa da construção das infra-
estruturas para os cabo-verdianos que não se conformavam com o viver com os esgotos a
correr pelas ruas em frente às suas casas, nem com a falta de água e de luz nas suas casas,
por mais precária que fosse a construção.
Por conseguinte, o baptismo do bairro resultou numa apropriação parcial por
parte da população residente, uma vez que os moradores da cintura periférica do bairro
preferiram continuar a referir a Rua do Apeadeiro ou de D. Maria/Estrada Militar e as
freguesias da Falagueira ou Damaia como local de residência240.
- Evocação das terras de origem: o nome das ruas e do largo
Em Julho de 1983, a comissão dirige uma carta ao presidente da Junta de Freguesia
na qual informam que numeraram as casas segundo a orientação do edital da Câmara
Municipal e pedem a aprovação da numeração e dos nomes dados às ruas, cujo critério
foi o da origem da maioria dos moradores, isto é, de Cabo Verde; para o efeito, juntam
um croqui do bairro, com a respectiva numeração das portas e nomeação das ruas (*).
O Sr. Benjamim explica-nos, com um certo orgulho no olhar, como foram
atribuídos os nomes das ruas que atravessam o interior do bairro.
...E depois, começámos a estudar os nomes das ruas, por exemplo, ali, aquela rua lá ao fundo, fui eu que escolhi o nome da rua, portanto, pus Rua Ilha de Santiago, porque lá a maioria das pessoas que lá viviam era tudo dali e aqui , a minha própria cunhada, que fazia parte da lista, pôs o nome de Nossa Senhora do Monte, porque era na ilha em que elas moravam, em Cabo Verde; É a Ilha Brava, então, lá, que ela pôs o nome Nossa Senhora do Monte, eu ...surgiu a ideia Largo Ilha Brava... Então, lá para baixo, quando faz aquela rotunda, puseram o nome Rua Cidade Velha...havia pessoas daquela zona (da Praia). Se havia a maior parte de pessoas daquele sítio, a gente dava o nome...pronto e assim foi... [Benjamim Moreno]
(*) ver anexo II – 10 e 10A
239 Há um momento em que os residentes, portugueses de origem, se apercebem que aquilo que os africanos estão a fazer também lhes interessa, por isso, passam a observar com outros olhos a acção colectiva daqueles, chegando a oferecerem-se para colaborar. Percebi esta mudança de atitude, através do discurso do Sr. Branco, ele próprio um colaborador na implantação de condutas de esgoto no bairro. 240 As crianças e jovens afroportugueses procuraram, muitas vezes não referir o bairro Estrela d’África como local de residência, para evitarem a marginalização por parte dos colegas de escola; por vezes, são os próprios pais que os aconselham a fazê-lo.
206
O bairro passa, assim, a ter uma toponímia que remete directamente para as terras
de origem da maioria dos habitantes, a qual é objecto de placas de identificação
colocadas à entrada de cada rua, sendo as principais: Largo Ilha Brava, Rua Nossa
Senhora do Monte, Rua Cidade Velha e Rua Ilha de Santiago. As duas primeiras
remetem-nos para a origem dos residentes sampadjudos, da Ilha Brava, e as duas últimas
para os badios, da Ilha de Santiago (fig.45).
Como sabemos, estas populações imigrantes mantiveram sempre uma estreita
relação com os locais de origem. Com Cabo Verde, estabeleceram as redes de contactos
epistolares que tornavam tão diferentes os dias da mala, os telefonemas ou o envio de
dinheiro, enfim, um vai-vem de pessoas e de bens que asseguravam o reforço das já tão
fortes redes de contacto. Neste quadro, a correspondência para enviar e receber notícias
revelou-se um elo fundamental na vida destas populações.
Durante anos, o correio era deixado no café ou na mercearia mais próxima, com
cujos donos a população mantinha bons laços de vizinhança. Em todo o caso, a
numeração das casas foi um passo importantíssimo para a identificação dos moradores,
como explica o Sr. Benjamim.
Depois, tratámos dos números das casas...os números já fui eu próprio que tratei disso com os estagiários (de Serviço Social) da Segurança Social da Amadora. Vinham cá e então começamos a tratar dos números, depois levámos à Câmara (da Amadora) para enviar para os Correios e pusemos os números...[Benjamim Moreno].
208
Em Julho de 1984, num ofício remetido ao Serviço de Organização dos Correios, a
comissão de moradores faz uma pequena descrição do bairro e pede que o correio seja
entregue em suas casas, enviando, para o efeito, uma planta do bairro com as casas
numeradas e o nome das ruas (*).
A quinze de Abril de 1983, foi aberto o livro de registo241 de entrada e saída de
correspondência da Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (*).
É interessante verificar que o peso de ofícios para a Junta de Freguesia da
Falagueira /Venda Nova é grande, entidade a quem são apresentados, por escrito, os
problemas e necessidades da população. Nesta mesma data, num ofício dirigido ao
presidente da Junta de Freguesia, datado de 15 de Abril de 1983, os recém eleitos
apresentavam aquilo que consideravam as ”necessidades sentidas pela população do
Bairro Estrela d’África” (C.M.,1983) (*). Definiam a localização do bairro, sendo junto à
estação da Damaia, entalado entre fábricas; classificavam-no como “presentemente o
bairro mais carenciado nesta zona da Venda Nova-Falagueira... com total inexistência de
infra-estruturas de saneamento básico: esgotos e ramais de água...de estruturas de apoio à
população, tais como: largo, fontanário, balneário e lavadouro público”; num outro
parágrafo, informavam, ainda, “da disponibilidade da população do bairro em participar
nas obras a realizar, desde que o material fosse fornecido palas autarquias locais, assim
como o envio de técnicos para o estudo dos trabalhos de saneamento básico (esgotos e
água) a realizar” (C.M.,1983).
A formalização destes pedidos de apoio demonstra, por um lado, que a comissão de
moradores está bem apoiada na rectaguarda, pela forma como expõe os problemas e, por
outro, manifesta disponibilidade para participar activa e directamente na resolução dos
problemas, isto é, está disposta a meter mãos à obra para concretizar a infra-estruturação
do bairro.
(*) ver anexo II – 11, 11A, 11B e 11C
(*) ver anexo II – 12
(*) ver anexo II – 13
241 Estes registos fazem parte dos documentos do sotão a que aludimos, cuja fotocópia faz parte dos anexos ao presente trabalho. Na citação destes documentos, utilizamos a abreviatura de Comissão de Moradores (C.M., 1983).
209
Deste modo, ao mesmo tempo que faz pedidos de apoio para campanhas de
limpeza do bairro, para a colocação de contentores do lixo, colocação de ramal de água,
propõe trabalho voluntário a partir dos moradores (*). Neste pacote de pedidos, há
também a preocupação de instalar um parque infantil no largo do Bairro e de apoio a
visitas ao Jardim Zoológico, passagem de filmes e outras iniciativas dirigidas às crianças
do bairro, por ocasião do dia Mundial da Criança (*).
No mesmo ofício, que mais parece uma acta da reunião entre a comissão de
moradores e a Junta de Freguesia, fazem alusão à remoção de uma barraca que se
encontrava instalada no largo do bairro, argumentando que “ o largo é o único espaço
aberto existente e de possível utilização pela população do bairro” (C.M., 1983).
Nesta sequência, a Junta de Freguesia da Falagueira pediu à comissão de
moradores que apresentasse o projecto de utilização do largo para equacionar a
possibilidade de participar com materiais na construção de equipamentos: fontanário,
lavadouro, balneário e parque infantil. Para o efeito a comissão de moradores teria de
mobilizar a população para a limpeza do bairro e participação nas obras a realizar no
bairro e ainda, apresentar à Junta de Freguesia o croqui do largo, devidamente
dimensionado. Este ofício é assinado pelos membros da comissão de moradores: João
Ramos, David Pina, Benjamim Moreno.
Na correspondência da comissão de moradores podemos encontrar vários pedidos
de reunião com o presidente da Câmara Municipal da Amadora, apesar do contacto com
esta entidade não ser tão regular como acontecia com a Junta de Freguesia242.
Como podemos verificar pelo documentação da comissão de moradores, apesar da
dinâmica desta em todo o processo de organização do bairro, há o apoio subjacente
de técnicas de Serviço Social do Núcleo Local de Segurança Social, pelo que podemos
considerar que havia uma actividade organizada entre a população e várias entidades
locais e supralocais.
(*) ver anexo II – 14
(*) ver anexo II – 15, 15A
242 Hoje em dia, esta situação alterou-se por completo; são os diferentes Serviços da Câmara Municipal da Amadora quem tem uma relação (pontual) com o bairro.
210
O saneamento básico
Ofícios datados de Maio de 1983 pedem apoio logístico para as obras de
beneficiação do bairro, como por exemplo, camionetas para transporte de gravilha,
tijolos, cimento, manilha, sendo que a mão de obra podia ser toda recrutada no interior do
bairro (*).
O Sr. Benjamim explica-nos como foi resolvido um dos problemas mais graves do
bairro, isto é, a inexistência de água e esgotos, do seguinte modo:
Depois dos números, começámos a tratar do esgoto e água; quando eu comecei a tratar disto, havia moradores que diziam que era impossível, que nós não éramos capazes de pôr o esgoto e água e conseguimos! Através disto que nós conseguimos comprar materiais, manilhas e o resto que faltou a Junta (de Freguesia) contribuiu; as pessoas deram dois mil escudos cada casa; as pessoas, de início, não queriam dar dinheiro, mas era a única forma! A Câmara, na altura recusou, já foi em 85 a Câmara na altura não estava disponível...o presidente da Câmara mostrou-se disponível, não podia contribuir com tudo, mas se a gente fizesse uma parte, ele fazia outra...mas a Câmara, quando soube da nossa organização, no fim, apoiou. Sim, quando eles souberam da nossa iniciativa que tomamos junto da Junta, depois contribuíram com mais manilhas e depois a Câmara deu [Benjamim Moreno].
A água era garantida por um chafariz situado na Rua B à Latino Coelho, em frente
à Gráfica Peres, cuja torneira avariava sistematicamente e era alvo de preocupação, pois
abastecia todo o bairro. Este local ainda hoje serve, como outrora, para o encontro de
pessoas do bairro, devido à sua localização periférica (*).
Num ofício da Câmara Municipal, em que se refere o “pedido de ramal e contador
de água” a “autoriza esta ligação de água na construção situada na morada supra e
construída clandestinamente. Esta autorização é concedida a título precário .... e não
representa, de modo algum, qualquer compromisso da Câmara quanto à legalização da
construção”(C.M.,1983) (*).
(*) ver anexo II – 16
(*) ver anexo II – 17
(*) ver anexo II – 18 e 18A
211
Benjamim Moreno explica como se desenvolveu este processo, desta forma:
Para a água, ninguém pagou, só se pagou o contrato; para a água, tivemos um papel da Câmara, um papel verde, eu fui o próprio a passar de porta em porta, voluntariamente, a tomar o nome das pessoas, o número do bilhete de identidade e depois entregava essas fichas todas com o número da casa e o nome da rua e depois eles (os Serviços Municipalizados) vieram fazer a rede de águas e depois, a partir daí, cada pessoa com aquele papel que eu tinha preenchido, era chamado e faziam o contrato, para ligar à casa. Em relação ao esgoto, os técnicos vieram ainda não tinha traço (traçado), eles disseram que não dava para abrir esgoto, não havia meios e então fomos nós que fizemos o trabalho. Sim, eu e mais um rapaz chamado Zé António que estava comigo, começamos a pensar...eu fui falar com o dono daquela fábrica (a Gráfica)...fomos eu e os estagiários, fomos lá falar com o homem...se ele nos podia deixar ligar o esgoto daqui do bairro direito à fábrica e o homem concordou, porque ele tinha os lixos, que os moradores deitavam lá junto ao muro. Ele disse: já que vocês estão a limpar, limpam tudo, porque a boca de esgoto deve estar por ali, a rede principal passa aí, vocês procuram aí, se encontrarem, pela minha parte estão autorizados a ligar. Nos fins de semana trabalhavam...eu levantava sozinho e começava a cavar ou a limpar e depois vinha outro e depois, passado uma hora, estava uma mão cheia de gente, cada um fazia, outro cá deitava fora, outro ia cavar, mas ninguém começava....eu é que tinha de começar![ Benjamim Moreno].
Nas palavras de Benjamim Moreno, entende-se bem que ele desempenhou um
papel de líder em todo este processo e que detinha uma capacidade de dialogar com
empresas e entidades públicas, convencendo-as a apoiar a acção colectiva e voluntária
dos moradores.
É também possível entender que nem todos os residentes do bairro reagiam da
mesma forma, isto é, tinham a mesma relação de confiança para com os membros da
comissão de moradores e, em particular, com Benjamim Moreno.
Havia quem dissesse...ele só está empenhado nisso porque a Câmara paga e o presidente da Junta, por isso ele faz isso e eu não vou...houve moradores que só tiveram água e esgoto em último... Por exemplo, o caso desse senhor (referindo-se a um homem que morava ali perto) foi o último...ele não fazia nada naquela altura, tinha disponibilidade de ajudar mais, mas ele não ajudou, pois estava naquela dúvida que quando ele quisesse ligar a água e esgoto, ligasse de borla, não pagasse dois contos, mas ao fim e ao cabo ele tinha que pagar esses 2.000$00. Foi aquele senhor ali em baixo...[Benjamim Moreno].
Com efeito, grande parte dos moradores trabalhavam na construção civil e para
além disso, estavam muito mobilizados na melhoria das condições de vida no bairro,
única alternativa encontrada na cidade para poderem equacionar a hipótese de deixarem
os estaleiros das obras e poderem chamar as famílias, concretizando o reagrupamento
familiar tão desejado.
212
Apesar de toda a dinâmica da comissão de moradores, os registos confirmam que
só em Abril de 1985 estão criadas as condições para a construção da rede de esgotos do
bairro (*). É feito um levantamento dos moradores que querem e podem pagar a ligação
do ramal às suas casas. Num documento datado de Junho de 1985, a comissão de
moradores refere que procedeu à recolha de fundos para a construção da rede de esgotos,
tendo obtido, à data, 77 mil escudos. Referem que muitos moradores não têm capacidade
para apoiar financeiramente a obra, embora interessados em evitar esgotos a correr a céu
aberto, sobretudo, por causa das crianças; por este motivo, pedem à Junta que
comparticipe financeira e materialmente.
Mais uma vez, todo este trabalho foi realizado com mão-de-obra dos moradores e
apoio técnico e material do Junta de Freguesia e provavelmente, da Câmara Municipal,
uma vez que a Junta não possuía técnicos para o efeito.
Encontramos registos de pedidos para a resolução de problemas de cheias que
puseram em perigo habitações do bairro, muros de suporte de terras e outros que pedem
apoio para a melhoria das casas abarracadas sem o mínimo de condições de
habitabilidade.
A limpeza e embelezamento do bairro
Em Maio de 1984, a comissão de moradores pede a colocação de dois contentores
de lixo e envia uma planta do bairro com os locais assinalados, revelando uma grande
preocupação com o amontoar do lixo no chão (*).
E depois fizemos uma campanha de limpeza; começámos desde lá do fundo, porque as pessoas moravam aqui, você sabe, não havia facilidades (casas de banho), chegamos a ter lixo por todos os cantos... então, conforme limpávamos esse lixo, íamos queimar o lixo... Limpávamos o bairro, de uma ponta à outra, lá de baixo até aqui, lá da estrada até aqui...[Benjamim Moreno]
(*) ver anexo II – 19 e 19A
(*) ver anexo II – 20
213
A população de origem portuguesa reagiu de forma colaborante neste processo de
melhoria das condições de habitabilidade do bairro. Houve, até, quem se integrasse na
própria comissão de moradores do bairro, como podemos ver pelo relato de Benjamim
Moreno. Quando os brancos nos viam a fazer isso, juntavam-se a nós a fazer a limpeza, a mesma coisa: sim senhora, vocês estão a fazer um bom trabalho! Fomos limpar mesmo a casa deles, onde eles moravam! Limpámos aquilo tudo na rua D. Maria...Depois de ouvir e ver, um senhor que era branco e que já morreu, integrou-se na comissão de moradores. Era o senhor Leitão, já faleceu e a família despachou a barraca; moravam naquela casa logo à entrada... a família foi para o Cacém [Benjamim Moreno].
Este cooperação entre africanos e portugueses de origem, cimentada neste
momentos de grande mobilização colectiva, teve um grande impacto nas relações entre o
centro do bairro, povoado por sampadjudos e badios e a periferia, habitada por
alentejanos e beirões.
Com a electricidade veio a televisão e a casa cheia
Na mesma data, enviam um pedido à Câmara Municipal e à Junta de Freguesia
para colocação de candeeiros de iluminação pública, referindo a gravidade da situação,
nomeadamente, no Inverno (*). Neste caso, também fazem uma sugestão dos locais onde
devem ser colocados os candeeiros. Mais tarde, em Maio de 1985, fazem o mesmo
pedido à EDP, entidade responsável pela iluminação pública, referindo os inconvenientes
da inexistência de um único candeeiro público no bairro (*).
Eu, quando pedi a electricidade, já foi em 78; eu pedi e vieram cá, foi a EDP mas paguei três conto, era muito na altura! A primeira senhora que teve electricidade cá foi a Madalena, a seguir fui eu a pedir, as pessoas foram pedindo, pedindo, foram-se ajeitando, a vida era difícil, o salário era pouco, as pessoas foram ajeitando cada um, foram pedindo mais cedo ou mais tarde... mas entre nós, quando compramos a televisão, por exemplo, passava as novelas, a nossa casa era cheia de gente, vizinhos vinham ver televisão...a nossa casa e a da Madalena...[Benjamim Moreno].
(*) ver anexo II – 21
(*) ver anexo II – 22
214
As redes de vizinhança eram tão fortes que as casas dos primeiros moradores a
possuírem televisão se enchiam, revelando-se como espaços de sociabilidade por
excelência, numa época em que os cafés ou tabernas eram quase inexistentes.
Outra das acções que a comissão de moradores desenvolveu foi a recuperação do
espaço central do bairro e a construção de um parque infantil para as crianças.
Assim, em Julho de 1984, num ofício dirigido à Junta de Freguesia, a comissão de
moradores agradece todo o “apoio prestado às acções desenvolvidas neste bairro,
nomeadamente, a construção do Parque Infantil, que se tornou uma realidade”
(C.M.,1984) (*).
Mas as preocupações da comissão de moradores iam para além das estruturas
básicas. Revelam preocupações de ordem socio-cultural, procurando fazer reuniões e
sessões de esclarecimento à população, projectando filmes pedidos à Direcção Geral de
Educação de Adultos.
Estas sessões tinham como objectivo mobilizar a população para campanhas de
limpeza, para a construção do parque infantil, no largo do bairro e também para
informação sanitária como, por exemplo, a sessão sobre higiene e saúde (*).
Para a construção do parque infantil, contaram com o apoio de uma grande
empresa local, a Sorefame, que ofereceu aparelhos, com o apoio técnico da Câmara
Municipal, para a elaboração de uma planta de arranjo do largo e da localização do
parque infantil. Num ofício enviado à Junta, informaram que a mão-de-obra seria
garantida pela população e que o início da construção do parque estava marcado para o
dia 16 de Junho de 1984 (*).
A correspondência recebida pela comissão de moradores constitui, igualmente,
uma fonte de informação importante. Através desta, percebemos que, gradualmente, os
membros da comissão de moradores vão sendo integrados na vida social e cultural da
freguesia e do município, passando, deste modo, a possuir um estatuto de cidadania.
As entidades que contactaram formalmente a comissão de moradores foram,
sobretudo, a Junta de Freguesia da Falagueira-Venda Nova, a Câmara Municipal da
Amadora, mas encontrámos cópias de um ofício dos Correios e Telecomunicações de
Portugal, das Irmãs Dominicanas e cartas de moradores apresentando problemas. (*) ver anexo II – 23
(*) ver anexo II – 24
215
Nesta correspondência, podemos encontrar convites da Junta de Freguesia para esta
comissão integrar uma “comissão cultural formada por representantes de todas as
organizações da área”. Num ofício datado de Janeiro de 1983, a Junta de Freguesia refere
os objectivos desta comissão cultural, referindo que “esta terá como grande objectivo a
inventariação e organização de actividades culturais na Freguesia, tais como: organização
de comemorações dos dias mundiais da Mulher, da Criança, dia da Árvore, semana da
Juventude, 25 de Abril, 1º de Maio, Natal infantil na freguesia, etc”. Este ofício termina
com uma máxima que refere “não esqueça, a cultura é de todos e para todos e também
lhe diz respeito”(C.M.,1983) (*).
Com efeito, a comissão de moradores passou a participar em iniciativas realizadas
pela Junta de Freguesia, apesar da preocupação dominante com as infra-estruturas do
bairro, como é visível, através da documentação disponível.
Um dos problemas graves que afecta a população pelo menos desde o início de
1984 e que chega aos nossos dias, é o processo de despejo colectivo, de desalojamento de
54 famílias (hoje, um número muito superior) do bairro Estrela d’África. Com efeito, um
dos problemas é que parte do bairro Estrela d’África243, a que está mais próxima da
Gráfica Peres, é terreno particular de uso industrial, pelo que a proprietária moveu um
processo para expulsar os residentes daquele espaço. Este problema não afecta os
migrantes internos, porque estes estão sediados no espaço correspondente às Estradas
Militares.
Existe um documento que é assinado por representantes de um grupo coordenador,
em que se refere que este grupo e o advogado Dr. Álvaro Soares, representante da
população neste contencioso, pedem uma reunião ao presidente da Câmara para informar
da contestação que entrou em Tribunal contra os proprietários do terreno, onde o bairro
está implantado. Estes, através de um advogado, Dr. Martinho Madaleno, moveram esta
acção contra os moradores que ocuparam ilegalmente terrenos, cuja finalidade era a
construção de empresas (*). (*) ver anexo II – 25
(*) ver anexo II – 26
243 Este problema da ocupação de propriedades particulares acontece noutros bairros como no da Cova da Moura, mas não nos bairros vizinhos do Estrela d’África, que se implantaram nas antigas estradas militares.
216
Neste processo, estiveram mobilizadas as entidades locais e supralocais, desde a
Câmara Municipal, Junta de Freguesia, Núcleo Local da Amadora da Segurança Social,
Missionárias Dominicanas e mais tarde, a Associação Unidos de Cabo Verde.
O auto-denominado Núcleo Coordenador das Fontaínhas serviu de plataforma de
mediação entre o advogado, os moradores e as referidas entidades.
Para além desta correspondência, que nos dá conta de momentos importantes da
criação e consolidação do bairro Estrela d’África, as actas da comissão de moradores
revelam as preocupações dos seus membros (*).
Uma breve análise destas actas permite-nos pensar que já há uma preocupação em
criar algumas regras de funcionamento entre os seus membros, entre estes e as entidades
públicas e locais e entre a comissão e a população. Há uma preocupação de fazer correr a
informação, tanto entre os seus membros como entre estes e a população, do que se passa
nas reuniões com a Junta e a Câmara.
Nos documentos da comissão de moradores, encontrámos também um Livro de
Contas244 (*), aberto em 3 de Julho de 1983, onde está registado todo o movimento de
entradas e saídas de dinheiro. Estão inscritas despesas com material de escritório,
iniciativas, contas específicas para a colocação do esgoto no bairro, entre outras.
Na acta número um, que não está datada, mas que remonta ao primeiro trimestre de
1984, expressam a intenção de que “nós queremos que todos os elementos se unam com
força e com ampla liberdade... tudo o que se trata será arquivado e (registado) em actas
de várias reuniões” (C.M.,1984); num segundo ponto, questionam o que é uma comissão
de moradores e o balanço do que esta já realizou e o que “está para fazer”... “todos os
assuntos que se tratam nesta comissão serão de ampla compreensão de toda a população
em colaborarmos todos juntos” (C.M.,1984).
(*) ver anexo II – 27
(*) ver anexo II – 28
244 O livro de contas faz também parte do espólio documental que o Sr. Benjamim guardou no sótão e me foi igualmente cedido para fotocópia, fazendo, assim, parte dos documentos do sotão que temos vindo a referir como fontes primárias.
217
Numa acta de 15 de Abril de 1984, referem que “também temos muitas
dificuldades em ter os nossos filhos numa creche, onde se podem educar melhor” ...e “há
ainda um desconhecimento entre as Irmãs sobre as nossas dificuldades e que nunca nos
apoiaram em nada”.
Fazendo uma crítica ao funcionamento da primeira comissão de moradores,
afirmam que “qualquer problema que haja, devemos reunir imediatamente e dirigirmo-
nos à Junta ou à Câmara...quando houver trabalho, devemos reunirmo-nos todos...há
entre todos os elementos diversas missões de trabalhos que mais tarde serão devidamente
divididas...em todas as reuniões serão bem explicadas tudo o que se passa, tanto na Junta
como na Câmara....tem pedido de um apoio da educação sobre os filhos de moradores
...”. Há, quase sempre, uma preocupação latente ou expressa com as crianças, não só em
criar melhores condições de alojamento, mas também lúdicas e sobretudo, educativas.
Como referimos atrás, esta dinâmica de mobilização das populações, através das
comissões de moradores, também existiu noutros bairros como, por exemplo, no 6 de
Maio e no das Fontaínhas.
Associação Unidos de Cabo Verde
A expressão Unidos de Cabo Verde tem, justamente, como origem a fusão das
comissões de moradores dos bairros Fontaínhas, 6 de Maio245 e Estrela d’África. Com
efeito, em 1983, surge um movimento que culmina na constituição da Associação Unidos
de Cabo Verde246, a qual vai integrar vários membros da comissão de moradores do
Bairro Estrela d’ África, da comissão de moradores do das Fontaínhas e da organização
das Irmãs Dominicanas do bairro 6 de Maio.
245 No bairro 6 de Maio eram e são ainda hoje, as Irmãs Dominicanas quem dinamiza toda a intervenção socio-educativa. Uma das irmãs dominicanas, Juana Echeverria, chegou a fazer parte da direcção da Associação Unidos de Cabo Verde, podendo considerar-se uma moradora porque residia com outras irmãs, numa das três casas construídas no bairro pela Congregação. O Instituto de Apoio à Criança dinamizou, igualmente, vários projectos, a partir de uma antena montada no bairro. 246 Sobre esta associação, ver Albuquerque, Ferreira, Viegas (2000:41). O facto de ter sido responsável pela ligação da Câmara Municipal da Amadora ao chamado Movimento Associativo da Amadora e de ter trabalhado directamente com as associações de âmbito concelhio e de bairro, possibilitou-me a recolha de muita informação sobre a história e os projectos de intervenção local destas associações, em particular, as sediadas nos bairros de habitat precário. Na parte III do presente trabalho, voltaremos a fazer referência às associações cuja actividade teve e tem, ainda hoje, impacto no bairro Estrela d’África.
218
A constituição formal desta Associação remonta a 26 de Janeiro de 1983, data da
formalização dos primeiros estatutos, sendo registada em Diário da República, a 4 de
Março de 1983. Há registos da alteração dos estatutos a Dezembro de 1984, na qual se
destaca o novo perfil de Instituição Privada de Solidariedade Social, IPSS, com o
objectivo de poder obter o apoio financeiro para o funcionamento de um infantário,
jardim de infância (a implantar ao Estrela d’África) e o desenvolvimento de actividades
de tempos livres para crianças em idade escolar; pretendiam também “desenvolver
outras modalidades de assistência” (artigo 3º dos novos estatutos) dirigidos aos jovens e
idosos residentes nestes bairros.
Esta cooperação interbairro tinha como um dos principais objectivos unir forças
para dialogar com as organizações e instituições, especialmente, a Câmara Municipal.
Neste processo, há uma interferência muito forte do Núcleo Territorial da Amadora da
Segurança Social, através de técnicas e estagiárias de Serviço Social, as quais
demonstravam uma relação muito estreita com as organizações locais e com certos
segmentos da população.
Numa acta da assembleia geral da Associação, realizada em 29 de Dezembro de
1985, era referido que o bairro Estrela d’África era o mais prejudicado no saneamento
básico e destacava-se o facto de abrangerem os cinco bairros do zona: Portas de Benfica,
Fontaínhas, Bairro Novo das Fontaínhas, 6 de Maio, Estrela d’ África.
Em 1985, a 26 de Maio, são realizadas eleições para os corpos gerentes da
Associação Unidos de Cabo Verde – A. U. C. V., com um mandato para 1985-88.
Apenas possuímos um documento, no qual se refere as intenções da lista
concorrente às eleições para o mandato de 1988-1991 e no qual referem o apoio “na
solução do caso das 10 famílias, englobando 41 pessoas, residentes no Estrela d’África,
encostados ao muro da Companhia dos T. L. P.247, relativamente aos quais se prevê a sua
evacuação” (*). (*) ver anexo II – 29
247 A Companhia dos Telefones de Lisboa e Porto, TLP, hoje, Portugal Telecom, possui grandes armazéns, cujos muros fazem fronteira com o bairro Estrela d’África. As construções em alvenaria, feitas junto ao muro, começaram a abrir brechas que puseram em causa a segurança dos moradores e dos trabalhadores e bens da empresa.
219
Este era um grave problema dos moradores que tinham construído casas junto ao
muro de suporte da empresa citada. Este muro de suporte que separa a fileira de casas do
bairro e a referida empresa começou a ceder, pelo que a Câmara Municipal mandou fazer
o levantamento dos moradores destas habitações. É curioso referir que este levantamento
foi, justamente, realizado por mim, nos finais dos anos 80, o que constitui o meu
primeiro contacto directo com o bairro, na qualidade de assistente social da autarquia
local. Apenas me consigo recordar que uma das famílias tinha como chefe de família um
cabo-verdiano que trabalhava nos CTT; uma década mais tarde, através da pesquisa de
terreno, verifiquei que se tratava de David Pina, irmão da Alcinda Pina, uma das nossas
principais informantes. Porém, a evacuação a que se refere o ofício nunca teve lugar.
Neste período, as acções desenvolvidas pela Associação centravam-se em cursos de
alfabetização de adultos, do ciclo preparatório, actividades pré-escolares para crianças,
canto, teatro e dança, sobretudo para crianças e a construção da creche e jardim de
infância das Fontainhas e Estrela d’ África.
5.2.3.3. De pequenino se torce o pepino: as crianças do Estrela d’África e o
Projecto Amadora248
Durante anos, o bairro foi palco de intervenções por parte de diversas instituições,
sobretudo das autarquias locais e do Núcleo Territorial Local da Segurança Social, que
ali desenvolveram, a partir de 1985, o denominado Projecto Amadora. O destaque que
damos a este projecto releva da informação que este contém sobre um segmento da
população do bairro, as crianças, e do quadro de representações que estas suscitavam nas
professoras e técnicos de diferentes instituições.
Em 1985, surge o Programa de Intervenção no Bairro Estrela d’ África, que foi
dinamizado pelo Centro Regional de Segurança Social de Lisboa, Secção de Educação
Terapêutica - COOMP-de A-da Beja, na Amadora, na base de um acordo entre duas
entidades: o Centro Regional de Segurança Social de Lisboa e a Fundação Van Leer.
248 Este Projecto, adiante designado por P.A., foi financiado pela Fundação Bernard Van Leer e contou com a participação de diversas entidades, nomeadamente, o Centro Regional da Segurança Social de Lisboa –DSOIP. A fonte aqui referida é o Relatório de Avaliação Final do Projecto Amadora, 1991, elaborado pelo CRSSL-DSOIP.
220
Este projecto tinha como objectivo principal melhorar e estimular a participação e
responsabilização da família e da comunidade na prevenção e resolução de problemas
socio-educativos.
Os seis projectos que integravam este programa demonstram uma clara
preocupação com a situação das crianças daquele bairro e a certeza de que os problemas
tinham de ser atacados na origem. Assim, o primeiro projecto previa o levantamento e
caracterização da população infantil (faixa etária dos 0/6 anos); o segundo previa a
estimulação precoce das crianças dos 0 aos 2 e acompanhamento das crianças dos 3 aos 6
anos em situação de risco social; o terceiro projecto previa a criação de pré-primária e ou
ATL; o quarto projecto implementava o apoio às crianças do 1º ano de escolaridade, na
Escola nº3 da Falagueira; o quinto projecto procurava dinamizar e co-responsabilizar as
famílias das crianças do 1º ano de escolaridade; por último, o sexto projecto era dirigido
à sensibilização das entidades locais responsáveis para o problema da chamada carência
alimentar249 das crianças.
Ao analisarmos estes projectos, podemos concluir que, não obstante as condições
de alojamento serem profundamente precárias, as preocupações dos seus promotores
centraram-se nas crianças de tenra idade, porque eram estas que suportavam as maiores
carências, desde que nasciam, e estavam certos de que as repercussões destas, no sucesso
escolar e social, seriam devastadoras no futuro. Há registos das dificuldades de
implementação do projecto de criação do ATL ou pré-primária, sobretudo, no encontrar
um espaço adequado à implementação dos objectivos, referindo que as entidades e
instituições a que recorreram (Câmara Municipal, Juntas de Freguesia da Falagueira e
Damaia, Casal Popular da Damaia) não tinham dado qualquer resposta, optando, assim,
por adquirirem um espaço no próprio bairro, uma casa abarracada que estava à venda e
cujo processo de aquisição será descrito mais à frente. Para o efeito, a Associação Unidos
de Cabo Verde serviu de suporte jurídico para a captação de um subsídio, no valor de
249 Este problema das crianças mal alimentadas, que vão para a escola sem qualquer refeição, é, ainda hoje, uma grave situação que atinge crianças destes meios, como de outras camadas médias da população. É um dos problemas que mais afecta as crianças, a par da falta de acompanhamento por parte de familiares e técnicos de educação. As autarquias locais têm promovido o reforço do suplemento alimentar nas escolas e o apoio à contratação de mediadores locais.
221
350 000$00, com o qual esta Associação procedeu à compra da referida casa250. Os
responsáveis do programa fizeram, ainda, diligências junto da Câmara para a aquisição
de contentores que funcionassem como salas para instalação das actividades pré-
escolares. Os entraves causados pela burocracia e pela demora na chegada de respostas,
por parte das Instituições, levou a equipa a pedir o apoio aos jovens e às mães para a
organização de dois passeios e de uma colónia de férias, abrangendo crianças de cinco
anos. Nesta iniciativa, os promotores privilegiaram a participação e organização das
mães e dos jovens do bairro no acompanhamento e vigilância das crianças. A
preocupação da equipa não se centrava, apenas, na “prevenção do insucesso escolar e na
integração social precoce das crianças em estruturas formais de educação”. Na
fundamentação do projecto, destacava-se “o elevado número de crianças com problemas
de fome ou sub-alimentares e extremamente carenciadas ,do ponto de vista cultural”
(P.A., 1991).
Através da avaliação de um dos sub-projectos, que tinha como objectivo o
acolhimento e estimulação adequados das crianças que vão pela primeira vez à escola,
percebemos que a equipa começou por sensibilizar a escola e os professores para a
realidade do bairro, apesar do pessimismo destes em integrarem crianças do Estrela d’
África em turmas com excesso de alunos. Por conseguinte, os 30 alunos que entraram
para a escola, no ano lectivo de 84/85, foram distribuídos por três turmas com 10
crianças do bairro e com alunos “oriundos de meios mais diferenciados” (P.A.,1991). Por
sua vez, os professores destas crianças foram apoiados de forma sistemática. No ano
lectivo de 85/86 os professores puseram em causa este processo, provocando a
desmobilização da escola, sendo “as crianças do bairro Estrela d’África igualmente
distribuídas por todos os professores” (P.A,1991), sem conhecimento da equipa.
A par destas medidas, e “tendo em conta as grandes dificuldades de integração
escolar das crianças do bairro”, a equipa do projecto propôs-se “levar a cabo um
programa de estimulação intensiva para crianças que irão pela primeira vez para a escola,
assegurado por duas monitoras que fizeram formação intensiva” (P.A,1991). Em
simultâneo, desenvolveram ‘a articulação família/escola e promoveram o empenhamento
250 Trata-se da Escolinha e mais à frente, vamos ver como se operacionalizou esta aquisição, através da comissão de moradores, mais precisamente, de Benjamim Moreno, cuja mulher também fez a formação de ama e mantém, até hoje, essa ocupação.
222
dos pais no processo de evolução escolar dos filhos” (P.A,1991). A Câmara Municipal
responsabilizou-se pelo suplemento alimentar.
No relatório anual do programa, a equipa dava conta da metodologia encontrada
para trabalhar neste contexto e referia a existência de uma “sensação generalizada de
grande atraso social, cultural e económico nas crianças já identificadas, com expectativas
muito baixas, em termos de sucesso escolar” (P.A.,1991). Das 16 crianças do bairro,
escolhidas para testar métodos e técnicas pedagógicas, a equipa constatou o que tinham
em comum: eram “imaturas do ponto de vista social e emocional; desorganizadas,
dependentes; nada estimuladas, a nível grafoperceptivo; completamente desfavorecidas
no tempo e no espaço; com deficiente domínio da língua portuguesa, o que impedia a
comunicação com terceiros; a comunicação entre companheiros era facilitada pela
utilização do crioulo (P.A,1991). Um dos grandes problemas era a “sensação
generalizada de grande atraso sociocultural e económico, na maioria das crianças já
identificadas como sendo os piorzinhos; não falam ou falam mal o português; roem os
lápis e as borrachas; nem daqui a 8 anos terminam a escola primária; não têm livros, não
compram material....” (P.A,1991). Esta visão sobre as crianças teve como consequência a
necessidade de conduzir os professores à descoberta das potencialidades das crianças do
Estrela d’África, evitando que se instalassem neles imagens negativas e expectativas tão
baixas face a estes alunos. Este diagnóstico levou a equipa a concluir, entre outras coisas,
que “a resposta prioritária para estas crianças se situava a nível de uma estimulação
intensiva na área da expressão/comunicação, a partir da expressão gráfica (desenho,
plástica, dramática e prática sistemática da língua” (P.A.,1991). Em consequência, no
final do ano lectivo a que nos reportamos, o balanço era muito positivo, porque “50% das
crianças do bairro estavam em condições de acompanhar o grupo médio das respectivas
turmas” (P.A.,1991). Para as crianças que não acompanhavam o trabalho da turma, a
equipa criou o programa “recuperação de crianças com maiores dificuldades no acesso à
escrita e à leitura” cujo objectivo era “evitar o abandono involuntário destas crianças
pelos seus professores”. No final, estes concluíram que “a dinâmica cooperativa, a
amizade, a força de grupo, o companheirismo no dia a dia tinham sido os aspectos mais
importantes, sendo a falta de condições de trabalho (regime triplo, falta de material,
partilha de espaço/sala por três professores diferentes), as dificuldades das crianças
223
difíceis de ultrapassar, falta de cooperação das famílias, o desgaste físico e emocional os
maiores problemas” (P.A.,1991).
Um dos projectos visava envolver os pais neste esforço de capacitação das crianças
e ao mesmo tempo, reforçar a função parental, estimulando as capacidades dos pais como
educadores. Assim, a actividade da equipa centrou-se, também, na criação de um grupo
de pais, com o objectivo de implementar o Programa Intensivo de Motivação Pró-
escolar. Para este fim, foi contactada a Associação Unidos de Cabo Verde que aderiu a
este projecto de articulação da escola com as famílias.
Em Novembro de 1985, a equipa tinha já elaborado, uma caracterização da
situação das crianças alvo do programa em curso e, num conjunto de quinze crianças os
resultados eram os seguintes:
Crianças: autónomas – 20%; com capacidade de atenção – 73%; que reagem
adequadamente às situações da aula – 33%; organizadas e cuidadosas – 27%; que
completam as tarefas s/ ajuda – 0% e com pequena ajuda 20%; capazes de cooperar com
os outros 33%; aceites pelos outros – 67%; com noções elementares de espaço – 53%;
noções elementares do tempo: dia do aniversário 6%, dias da semana 6%, meses do ano
0%, estações do ano 0% (esta foi considerada a área mais deficitária); conhecem as cores
elementares – 53% ; motricidade: cortam com a tesoura 80%, pegam no lápis
adequadamente 80% (P.A.,1991).
Em Março de 1985, elementos da equipa, faziam uma proposta à Câmara
Municipal da Amadora para que esta, em colaboração com Centro Regional de
Segurança Social, promove-se a implementação de cantinas nas escolas primárias do
concelho. Procederam a um inquérito às 27 escolas primárias existentes, procurando
indagar o número de casos de alunos cujo comportamento fosse manifestamente afectado
pela carência de uma refeição completa, durante o dia escolar. Deste modo, estava
lançado o alerta para as graves carências alimentares das crianças que frequentavam a
escola, e foi desenvolvido um trabalho de sensibilização das entidades locais para este
problema.
Uma das iniciativas mais consistentes do Projecto Amadora, que chegou aos nossos
dias, foi a criação de uma rede de amas, isto é, de moradoras do bairro que adquiriram
224
competências para se responsabilizarem por crianças de tenra idade e cujas habitações
sofreram alterações para o efeito.
fig. 46 – Regresso ao bairro depois de um dia de trabalho Uma das iniciativas mais consistentes do Projecto Amadora, que chegou aos
nossos dias, foi a criação de uma ‘ rede de amas’, isto é, de moradoras do bairro que
adquiriram competências para se responsabilizarem por crianças de tenra idade e cujas
habitações sofreram alterações parar o efeito.
A Escolinha
A Escolinha é, hoje, um jardim de Infância/ATL, gerido pela Associação Unidos
de Cabo Verde. Situado no Largo Ilha Brava, este espaço tem sido, ao longo dos últimos
anos, o sítio de eleição do grupo de jovens Estrelas Cabo-verdianas e o local onde todos
os fins-de-semana se encontram para ensaiarem e estarem juntos. Na terceira parte,
desenvolveremos este aspecto que é, justamente, um dos factores estruturantes do grupo
de jovens acima referido.
A importância deste espaço, no quadro das dinâmicas socio-educativas e culturais
do bairro, torna-o merecedor do registo da sua história. Pelo testemunho das nossos
interlocutores, apercebemo-nos que existia uma grande preocupação pelas crianças, não
só porque os pais tinham horários difíceis para lhes garantirem apoio, como as mulheres
precisavam de trabalhar, pelo que não podiam ficar em casa a tomar conta dos filhos.
Com efeito, um dos aspectos que mais preocupava todas as famílias era o de os filhos
225
ficarem, desde tenra idade, horas a fio, entregues a si próprios ou às irmãs mais velhas.
Por essa razão, tornou-se prioritária a aquisição de um espaço reservado às crianças e
jovens do bairro.
O Sr. Benjamim, um dos protagonistas mais activos na procura de soluções para os
problemas do bairro, conta-nos com pormenor como desenvolveu este processo.
Aqui, o Estrela d’África não tinha nada (nenhum equipamento), então, ali, naquela casinha ao lado, que tem o jardim infantil agora, fui eu próprio a tomar a iniciativa de ir comprar aquela casa. Havia um senhor que era polícia, que morava ali, que foi para França e depois a mulher também, passado seis meses ou um ano, só ficou o sobrinho. Mas aquilo estava cheio de guineenses lá dentro, daqueles gajos que são curandeiros; estava cheio, estavam três ou quatro, então, quando eu comprei aquilo, o meu irmão é que tratou do negócio, na altura, pagamos 250 contos e para tirar os guineenses dali, deu trabalho, o homem mudou de fechadura mais de não sei quantas vezes. Por último, houve um senhor guineense, também que lá morava , esse é que os tirou dali; ele disse: ‘não sei se eles já compraram aquilo, eles pertencem a uma associação que está aqui, nós temos que entregar a casa, eles precisam de pôr obras aqui’. E assim foi! Eu, quando fui lá, ninguém tinha limpo aquilo, eu fui limpar aquilo... aquilo era uma porcaria, mantas podres, coisas podres era toda a porcaria, limpei aquilo sozinho... até a minha mulher dizia para a Natividade que eu podia adoecer a fazer o trabalho, limpei aquilo tudo, desinfectei com criolina, desinfectei aquilo e pronto, começámos a fazer a obra lá dentro e deitei algumas divisões abaixo, para fazer aquelas salas maiores, porque era tudo dividido em quartinhos e depois, começámos a fazer a obra até que ficou como está agora. Ultimamente, é que abrimos mais uma sala, onde eles (os Estrelas e os Bronzes) estão a dançar, abrimos de novo, já lá vão três ou quatro anos, é que temos aquela sal. Pronto e assim foi, continuamos...[Benjamim Moreno]
Este testemunho é igualmente rico em informação sobre a imagem que alguns
cabo-verdianos tinham dos guineenses que viviam no bairro, os quais, tal como acontece
ainda hoje, vivem em casas muito precárias, habitadas apenas por homens. Estes
dedicam-se, sobretudo, ao comércio tradicional, havendo um ou outro que se dedica à
actividade de curandeiro251.
A construção onde este equipamento está localizado tem sofrido melhoramentos e
no seu interior possui duas salas amplas, uma cozinha, sanitários e um gabinete de
trabalho administrativo.
A centralidade face ao bairro, isto é, estando localizado no Largo Ilha Brava, tem
uma grande visibilidade e serve de local de concentração da malta nova.
251 Um destes curandeiros vive nas traseiras da Ina, uma das nossas informantes, e ainda hoje desenvolve esta actividade no bairro.
226
Capítulo 6
NOS SEUS PRÓPRIOS TERMOS
Como referimos na apresentação desta segunda parte do trabalho, entendemos
fundamental deixar o discurso dos nossos informantes fluir, com uma interferência
mínima da nossa interpretação sobre as suas interpretações. Apesar do carácter, por
vezes, fragmentado desse discurso, o certo é que este método possibilitou a compreensão
dos elementos que os actores sociais relevam da maior importância, deixando ao seu
critério a ênfase neste ou naquele aspecto da realidade social e cultural que os envolve.
Contudo, o fio condutor desta abordagem, que começou no capítulo anterior, é a imagem
e as representações que o bairro suscita nos residentes e que estão na base da sua
identidade individual, social e cultural. Contudo, neste capítulo, centramo-nos na
construção da imagem de si e do bairro por parte dos adolescentes e jovens, preparando,
deste modo, o terreno para falarmos na forma como arquitectam a resistência à erosão a
que estão expostos, não só pelo facto de viverem no bairro, como pelos constrangimentos
permanentes exercidos pela sociedade envolvente, a que os próprios e as famílias estão
sujeitos.
6.1. Vida de criança / adolescente no bairro Estrela
d’África
Ao procurarmos um olhar do interior do bairro, deparamo-nos com a curiosidade
das crianças que habitam, sobretudo, as suas ruas e se interrogam o que faz uma tuga,
andando de lado para lado, à procura de qualquer coisa. Aproveitamos essa curiosidade
para fazer algumas amizades que resultaram em conversas um pouco desordenadas mas o
suficientemente espontâneas para nos revelarem formas de sentir a vida no bairro.
227
Os/as protagonistas destas conversas, que tiveram como cenário as ruas do bairro
Estrela d’África, pois foram realizadas na rua, sentados em vãos de escada, são crianças,
rapazes e raparigas, com idades compreendidas entre os 11 e os 14 anos, que foram
escolhidas de forma aleatória252.
O facto de terem nascido e de viverem numa cidade, faz com que sonhem num
emprego que pouco tenha a ver com o dos seus pais, com dinheiro e com roupas de
marca, com grife, como dizem os miúdos, para poderem ser melhor aceites nos seus
grupos de pares e pela sociedade envolvente. Muitas das suas atitudes são moldadas por
este desejo que parece ser tanto mais forte quanto lhes é negada a sua realização. Talvez
possamos compreender melhor o que leva estes miúdos a assaltarem as pessoas ou a
abandonarem a escola, se tivermos presente, as suas expectativas e a clivagem destas
com os recursos a que têm acesso, desde tenra idade.
Fig. 47 – Crianças a brincarem no Largo Ilha Brava
A Elsa
A nossa primeira conversa foi com a Elsa Cristina Lima que tem 14 anos e
começamos por lhe pedir que explicasse quais as suas rotinas.
252 Como referimos, não houve qualquer outro critério na escolha destas crianças para testemunharem sobre a vida no bairro, senão o facto de ali viverem. No caso dos jovens, houve não só o critério da residência no bairro Estrela d’África, como também pelo facto de integrarem o grupo de dança Estrelas Cabo-verdianas.
228
Quando me levanto, arrumo a casa primeiro... faço o que tenho a fazer, depois venho cá para fora
um bocado vou brincar, depois vou para dentro, depois vou para fora . Depois vou visitar a minha
avó que vive ali acima...e acho que ela vem aí... depois brinco com os meus primos e as minhas
primas. Jogar à apanhada, às escondidas ou à bola... penteamos , ao quarto escuro...[Elsa]
A Elsa nasceu em Lisboa e é filha de pai santomense e mãe angolana. Tem vários
irmãos: o irmão Sérgio, que é filho dos pais da Elsa, e outros irmãos/ãs que são ou da
parte do pai ou só da parte da mãe.
Comigo tenho este de casaco branco que é só da parte da meu pai, chama-se Sandro, só da parte
do meu pai. Tenho um que se chama Sérgio que é já mais velho do que eu, tem 16 anos e tenho mais
4 irmãos com a minha mãe, só da parte da minha mãe [Elsa]
Esta adolescente vive no bairro, desde há oito ou nove anos na casa onde viveram
os pais, que se encontra por detrás das nossas costas.
A mãe da Elsa tem hoje quarenta anos e o pai trinta e nove e é pedreiro de
profissão.
A madrasta trabalha numa empresa ... na fábrica de Sumol é... assim nos escritórios, a
arrumar... limpar, nas limpezas, né?!
A minha mãe não trabalha, está dentro de casa; a minha mãe tem problemas de pé e às vezes,
costuma estar doente, está desempregada... de baixa [Elsa]
A Elsa frequenta o 6º ano e afirma que gosta de estudar, embora sonhe ser, um dia,
cabeleireira. Referindo-se a um amigo que está ali ao nosso lado, afirma:
O Nelson chumbou por causa de faltas...faltava muito... anda no 5º ano.
Ele chumbou por causa das faltas e eu chumbei por causa ia à minha mãe...o meu pai não me
deixava lá e eu não ia à escola... não deixava ir ver a minha mãe [Elsa]
Referindo-se aos outros miúdos, que estão ali sentados ao nosso lado, diz:
este não chumbou, mas é malcriado, aquela vai para a escola este ano, tem 6 anos. Eles andam
todos na Casa Pia, lá, fazem pintura de automóveis [Elsa].
229
Quando se pergunta à Elsa, se os meninos entre os 9 e os 14 anos são muitos
rebeldes, fazem muitas asneiras, ela responde que gostam de roubar...é o vício, vêem os outros e
fazem o mesmo [Elsa].
As deslocações da Elsa são para fazer visitas a familiares, sobretudo, à casa das
minhas avós e à casa da minha mãe [Elsa].
O Bruno
O Bruno Coutinho tem 13 anos e responde às nossas perguntas, no meio do riso
dos outros adolescentes, mastigando uma pastilha elástica e parecendo brincar com a
situação.
À pergunta o que faz no dia a dia, responde que gosta de jogar à bola e de estudar.
Passei para o 8º ano. Gosta do ambiente da escola e tem lá amigos: ah, gosto tenho lá amigos tantos como
no bairro, é igual!
O pai do Bruno é cabo-verdiano e a mãe santomense e tem dois irmãos.
Falando de rotinas, o Bruno diz-nos que levanto às nove e meia da manhã e ajudo os meus
irmãos a limpar a casa depois vou jogar à bola...brincamos a jogar à bola, matraquilhos...há lá em cima,
na Domingas, perto do largo.
Para além disso, o Bruno diz-nos que jogo no computador, em casa, emprestam-me os meus
amigos, computador, consola, pouca gente tem no bairro.
A alimentação destas crianças e adolescentes é feita à base de arroz, batata, às
vezes, carne e a cachupa que é boa.
Para o Bruno, o ambiente do bairro é alegre, tem muitos miúdos e se lhe
perguntamos porque é que os miúdos da idade dele são rebeldes, ele responde que sim, eu
não sei porquê, às vezes, roubam, aqui ninguém precisa de roubar, aqui, no nosso bairro...
Como ele diz, vive-se bem no bairro, mas se pudesse escolher, gostaria de viver em
França, para jogar à bola, jogar num clube.
Em casa, todos falam português; falo com os meus pais português e com os meus
irmãos falo crioulo de Cabo Verde.
Das pessoas do bairro, o Bruno tem uma ideia, acha que alguns são bons.
230
A Vitalina
A Vitalina tem 13 anos e mora no bairro. Nasceu em Lisboa e os pais são naturais
de Cabo Verde, mas não sabe de que ilha.
Vivo com a minha mãe ...Não vivo com o meu pai ... Não conheço o meu pai, só tenho ajuda da
minha mãe A minha mãe tem 33 anos.
Vivo eu, a minha mãe e os meus três irmãos; a minha mãe trabalha de tarde e também vive sozinha
connosco, sustenta-nos sozinha...[Vitalina].
A Vitalina e a família vivem na Rua de Santiago nº 9, contudo, afirma que a minha
mãe mete (a morada) a rua da minha avó que é a Rua Nossa Sr.ª do Monte, Bairro Estrela D’África, não
vem nada para a minha casa, vem para a minha avó, é assim.
As rotinas são descritas com um certo entusiasmo, de quem é responsável por
tarefas de grande importância.
...Arrumo a casa em primeiro lugar, vou comer e depois vou me lavar, começo a arrumar a casa,
faço o almoço para os meus irmãos...tenho um irmão mais velho, tem 14, eu tenho 13, depois tenho
outro que tem 10 e o outro tem 5, faço o almoço para eles, depois do almoço ficamos a ver
televisão, a minha mãe chega e vemos e lanchamos; mais tarde, a minha mãe, às 17 horas, vai
trabalhar e fico com eles [Vitalina].
A mãe trabalha nas limpezas, em Queluz. Sim, ela deixa coisas para o jantar e eu faço.
Depois, ela vem do trabalho, janta e ficamos a ver televisão, às vezes, dormimos cedo, às vezes mais tarde.
A Vitalina anda a estudar, mas todos os dias vamos ver a minha avó e a minha tia que moram
na rua da minha avó, na rua Nossa Senhora do Monte, vamos a casa da minha avó ver se ela está bem, e
vamos ver a minha tia. A avó é cabo-verdiana mas a tia é santomense, como a minha mãe, também
trabalha nas limpezas.
Esta adolescente, tal como grande parte dos jovens do bairro, não conhece a terra
da mãe, mas afirma, com um sorriso de quem sonha, que gostava muito... muito.
No bairro, ela brinca como todas as crianças, sobretudo, na rua, porque a casa tem
de estar limpa e asseada; quando está de férias, vai até à praia. Nas férias, vamos à praia para Carcavelos, Estoril...vou com a irmã dele e com ele também,
apanhamos a camioneta na Amadora...metemo-nos à frente da praia.
231
E às vezes, vamos a festas...assim...baptizados, aniversários e casamentos. Fazem muita coisa, é
assim, fazem a mesa com bolos, comidas africanas...cachupa, feijoada, canja sopa...e mais...bolos,
sumos...muita coisa na mesa.
E música muita alta! É música alta, alta, alta...dançamos músicas africanas, no salão, lá em cima;
olha, pode ser numa escola que tem aí, que é a Escolinha, no largo do bairro, ou alugam, e tem
outro que é o salão do Domingo Dencho, que é um homem...é lá em cima, perto daqui do bairro, é
perto da estação [Vitalina].
Sobre o ambiente do bairro, a Vitalina diz-nos o que pensa sobre o comportamento
dos mais novos. Pelo menos aqui, no nosso bairro, não, assim guerras entre elas... há, entre nós, assim as jovens,
não só por causa dos namorados, mas das famílias.
Tem miúdas que é por causa de namorados, tem outras que não, tem outras que é por causa de
outras coisas que eu já não sei.
Sim... pelo menos eu acho que não brigo por namorados [Vitalina].
Passou para o 6º ano e quando a interrogamos sobre a frequência de um curso, diz-
nos com alguma sensação de incerteza face ao futuro: não sei, se chegar lá...gostava de tirar um
curso de modelo... mas eu gostaria de ser, agora assim, não sou alta e quando crescer já... preciso de
altura e corpo.
As compras de roupa são feitas, às vezes... as minhas roupas compra na Praça de Espanha...
Aahhhh... naquele mercado que há lá e na Zara, no Colombo...no Babilónia (na Amadora) compro
só sapatos; a roupa compro na ... tenho vestidos que compro na Zara, tenho outros que compro
noutras lojas, na Bata que é no Colombo [Vitalina].
A imagem e o sentimento de pertença ao bairro são muito fortes. Apesar dos
problemas da falta de espaços para brincarem e das diversas dificuldades, aquele canto
continua a ser único. Esta jovem refere-se ao bairro como um local sossegado, aprazível,
onde não há problemas grandes, onde gosta de viver e para já, nem lhe passa pela cabeça
escolher outro local, porque o bairro é bem fixe, a única coisa que mudava para melhor
eram as casas...não temos grandes casas... como a da minha mãe... o meu pai tem uma casa aí, que
sempre pega fogo e como tinha uma janela frente para a minha, quando pegou fogo, partiu-se tudo...a
minha casa o tecto do quarto ficou tudo... tudo... quer dizer não esta destruído, partiu-se.
232
O Moisés
O Moisés Mendes Varela é um adolescente com 12 anos. O que mais gosta de fazer
é de jogar matraquilhos, jogar à apanhada e andar de bicicleta.
Quando se lhe pergunta o que mais gosta no bairro, responde-nos, com um certo ar
de espanto: o que eu gosto mais no bairro ? É do meu café, é lá em cima, na Domingas, é onde eu jogo
matraquilhos.
A nossa conversa é interrompida várias vazes para os adolescentes falarem entre si,
em crioulo, como que querendo excluir-me do grupo. Contudo, quando o Moisés quer
dar uma resposta que não corresponde à realidade, os outros adolescentes respondem por
ele como que colocando-se do meu lado: Ele disse que gosta de roubar lá, no dia x, roubar
chocolates.
Fingindo ficar aflito, o Moisés responde-me: não... não, é mentira, eu não gosto (de
roubar)... não, não, não...nunca roubei.
Simulei uma situação em que o Moisés supostamente roubava um fio de ouro e
perguntei-lhe o que faria com esse dinheiro e a resposta foi clara: ia comprar ténis.
Os outros adolescentes, em coro, respondem-me: da Nike ou da Reebock...ele é ladrão, já
me roubou uns ténis...já roubou no estendal...ele só roubou coisas de (familiares )... sim dos primos... ele
vai calçar na escola...
Perante esta acusação dos amigos, Moisés confessa que se não for de marca, não tomo.
Quanto a roupa, o que prefere vestir é o fato de treino, mas o fato de macaco, fato de treinar,
para treino, é aqueles que têm argolas aqui...
Mas nem só de brincadeira vive o Moisés. Frequenta a escola Preparatória Roque
Gameiro e afirma gostar do ambiente e dá-se bem com os colegas. O que menos gosta na
escola é de estudar.
Sonha com a profissão de jogador de futebol, para isso, treina na escola, Amadora.
Nos tempos livres, gosta de ouvir música africana, por exemplo, o Kuduro ou o funáná,
ou o raggae jazz, ‘räi’, rap.
O maior problema que o Moisés encontra no bairro é quando alguém da minha família
está a brigar.
A mãe é cabo-verdiana e trabalha nas limpezas. O Moisés nasceu em Lisboa e,
segundo afirma: vivo com o meu pai, que é pedreiro, a minha avó e os meus irmãos; somos quatro,
tenho outra que vive em Cabo Verde e outra em Algés...
233
Para o Moisés, tudo o que se diz dos jovens e da violência é mentira, embora
confirme que alguns sejam um bocadinho violentos.
Sobre a existência de droga no bairro, diz-nos: aqui neste bairro já não há, havia, mas, no
bairro 6 de maio, oooohhh .... lá é que são elas !!!
Para não se deixarem influenciar, o Moisés diz-nos que só ficando dentro de casas
fechadas...
O uso da cola para respirar não parece ser um problema para estes adolescentes que
sabem tratar-se de Cola UHU. Confirmam que têm amigos que estão dependentes da
cola, mas nada que os atinja.
É raro a polícia entrar no bairro, vem, mas poucas vezes, é pouco, raro. Mas o Moisés
confirma que já houve problemas, há anos, pois refere: já houve, aqui problemas, sim ao pé da
minha casa havia muito numa casinha...
Os adolescentes presentes confirmam: aqui também havia muito, ao pé da casa da Céu,
referindo-se ao pequeno tráfico de substâncias ilícitas.
Contudo, afirmam que já não fazem isso, tem gente que tem medo da polícia e outras que não
têm...é bom não ter problemas.
6.2. Um olhar jovem sobre o bairro Estrela d’África
A narrativa dos jovens253, que se segue, é complementar do que já vimos
descrevendo desde o capítulo anterior. Contudo, pretende-se alargar o discurso dos
jovens a outras realidades do bairro, que não apenas às que estão na base da morfologia
do bairro e dos conflitos entre badios e sampadjudos, embora estes tenham uma grande
importância no quadro de interacção local (Costa, 1999). Mas a realidade vivida pelos
afrodescendentes tem planos e dimensões que se afastam da matriz identitária dos
progenitores e que não podem ser ignorados, pois é da intersecção destes que se pode
apreender as trajectórias e opções dos jovens.
253 Todos os jovens que nos deram o testemunho sobre o bairro fazem parte do grupo Estrelas Cabo-verdianas. Exceptuando o Victor Moreira, todos vivem no bairro Estrela d’África, desde que nasceram ou desde há muitos anos.
234
O Nuno
Nascer e viver no Estrela d’África, ao longo de mais de duas décadas, parece ser
uma boa razão para perspectivar o bairro a partir de um olhar de dentro. Acrescenta-se,
ainda, outras razões como o facto de captarmos o ponto de vista de um jovem, um
membro da família Pina e um bailarino do grupo Estrelas Cabo-verdianas, onde possui o
(petit non) nominho de Grosso. O que este jovem revela ser a sua visão do bairro parece
sumarizar o ponto de vista de jovens com um percurso individual e social idêntico ao
Nuno.
O Nuno Pina tem 22 anos, prestes a fazer 23. Vive no bairro, desde o nascimento,
com a família. É um dos numerosos membros da família Pina, que nasceu na
Maternidade Magalhães Coutinho e que, por isso, tem no bilhete de identidade a
naturalidade na freguesia de S. Jorge de Arroios.
Quando se lhe coloca a questão do gosto de viver neste local, responde com alguma
ambiguidade porque, apesar de tudo, ali estão as suas raízes:
Nasci em S. Jorge de Arroios e já aqui vivo desde então e...é assim, eu particularmente e
pessoalmente, não gosto de morar aqui né?...só que mediante as coisas...mas eu nunca hei-de me
desligar do meu bairro, nem das minhas origens [Nuno].
Os pais têm origem na Ilha Brava, freguesia de Nossa Senhora do Monte, mas
emigraram para Portugal nos anos 70. Contudo, o Nuno, tal como a maioria dos jovens
da sua idade, não conhece a terra natal dos pais.
Já tive oportunidades de ir, mas nunca tive sorte, sempre azar, das vezes que tive estava na tropa e
não deu para ir visitar, mas espero um dia...sou lisboeta, coração cabo-verdiano, aaah! Mesmo que
um dia saia daqui, hei-de estar ligado aqui porque hei-de tentar fazer com que não deixe perder as
tradições... da divisão entre grupos, uma divisão mental entre sampadjudos e os badios é que...se
calhar, os meus pais, quando chegaram aqui e depois vieram as minhas tias e fizeram casa ao lado,
depois as sobrinhas da minha mãe, percebe?! Trouxeram para cá a cultura, logo, não deixaram
que se perca a mesma cultura que tinham lá, assim, se morassem juntos, era mais fácil se
socorrerem uns aos outros e de certeza que aconteceu a mesma coisa com aquela parte lá de baixo,
de certeza que chegou um familiar, depois o tio, o primo, o sobrinho e tentaram concentrar-se
todos no mesmo sítio [Nuno].
235
O Nuno foi assistindo à vinda de vagas sucessivas de familiares e patrícios, ao
longo da sua vida e, como refere, durante os primeiros anos, só existiam cabo-verdianos
no bairro.
Dantes, há coisa de uns cinco, seis anos este bairro era só de cabo-verdianos. Depois, começaram
a vir para cá outras etnias ou outras raças africanas, portanto, guineense é mais abundante e
agora os zairenses também; temos dado bem, não acho que tenha tido problemas nenhuns pelo
menos da minha parte e da parte dos meus pais, na minha família nunca houve, assim, confusões
[Nuno].
A categorização dos cabo-verdianos entre si, em termos de badios e sampadjudos,
corresponde a uma classificação que se revela no que pensam sobre o comportamento,
língua e mentalidade do outro, atribuindo-lhe características diferentes das suas e, claro,
mais negativas.
Quando perguntamos como se manifesta a mentalidade dos badios e dos
sampadjudos, o jovem sente alguma dificuldade em explicar, mas avança com uma
explicação que deixa transparecer o facto de estarmos perante um auto-classificado
sampadjudo:
Tenho grandes discussões em relação ao sampadjudo e badio. É assim, eu acho que os badios são
só de uma ilha –Ilha de Santiago - os outros são todos sampadjudos, nós somos a maioria, nós
falamos mais e eles teimam em nos incriminar que somos menos do que eles, não sei se está a
entender?! Eles têm a mania que somos inferiores...ah, que os sampadjudos são isto...ah,
sampadjudos não sei quê das quantas...!!! Isto acontece mais aos mais novos, por exemplo nas
escolas ...eu sempre estive cá em Portugal e sempre falei o meu sampadjudo mas não me cabe (na
cabeça) que muitas pessoas que são sampadjudos e deixaram de falar a língua dos pais para
falarem o badio, só porque são gozados, ou eram...
Eu não sei...é...quer dizer, dentro da nossa tradição, temos outra tradição, ou seja, os sampadjudos
têm uma e os badios têm outra, não quer dizer que seja diferente e que eu não aceite a deles e eles
não aceitem a minha, é...eu não sei se você...há-de reparar esta parte (do bairro), aqui, toda a
gente limpa, por exemplo, eu não quero estar a dizer isso, é uma opinião pessoal; na parte de baixo
(do bairro) já não se vê tanta aceitação, ou tanta limpeza da parte exterior do bairro, do que você
vê desta parte, por exemplo, não quer dizer a minha, mas é o que está mais visível, não é?
Não tem a ver com os rituais, é a mesma coisa...
236
...o crioulo é um bocadinho diferente, é tipo o do norte com o de Lisboa...são pronúncias diferentes,
mas o crioulo é o mesmo.
Somos todos católicos, não há assim grandes diferenças.
Há a parte de cima do bairro e a parte de baixo que coincide com essa separação mental. Não são
(superiores) mas é a mentalidade deles.
Bom, eu penso que o que nos separa é mais ou menos a nossa cor; mas isso em nós, jovens, é...às
vezes, era mais sampadjudo contra badio, nós, aqui de cima, contra os lá de baixo a jogar futebol,
mas nada se passava além disso; não era assim uma rivalidade...
São mais violentos, nós somos mais pacíficos do que eles; eu, pessoalmente, não gosto nada de
confusão, não quer dizer que seja cobarde, mas se eu vejo confusão ou assisto a uma conjura, eu
não me meto, venho-me embora, acho que deve ser por isso que somos mais pacíficos, não
cobardes. Não gostamos mesmo de confusão! [Nuno].
O Nuno, desde que nasceu, ouve falar nestas diferenças e convive com elas porque,
tal como os outros jovens, tem de entender porque é que lidar com uma jovem que tem
pais badios é diferente de lidar com uma jovem que tem pais sampadjudos, isto nem
sempre é claro para quem nasceu cá e tem de conviver com algo que reproduz situações
de segregação entre os próprios.
Menos confusão gera a coexistência no bairro de cabo-verdiano com guineenses ou
outras populações com diferentes origens, como os zairenses ou os eslavos, mais
recentemente.
Eu não tenho amigos guineenses...não nos procuram, é um recinto muito fechado, não quer dizer
que, quando passam, não digam bom dia ou boa tarde, esses cumprimentos são normal, mas
convivência não há...não sei qual a religião deles...eu gostava de aprender alguma coisa deles; nós,
antigamente, não era criticar, mas falávamos que eles comem todos com a mão no mesmo prato...é
diferente...eu acho que isso é sinal de amizade, de partilha, sim, penso até que as pessoas se tornam
mais juntas, agora, eu não consigo, nem numa festa partilho o meu prato com as outras pessoas!!!
[Nuno].
A relação deste jovem com os progenitores tem algo que não é muito comum
encontrar, não só no bairro como fora deste.
237
Eu, graças a Deus, digo isto aos meus maiores como aos mais pequenos, tenho bons pais, tanto o
meu pai como a minha mãe, porque além de serem os meus pais são meus amigos, porque é
fundamental numa família a conversa...[Nuno].
Uma das questões que mais preocupa os pais é precisamente a ausência de
actividades e de espaços de ocupação dos jovens. Estes afirmam que o largo do bairro
está muito abandonado e que o importante é organizar as pessoas, motivando-as para a
participação e o convívio. A este respeito, o jovem Nuno parece ter ideias claras sobre o
que é necessário fomentar para mobilizar as pessoas do bairro, nomeadamente, os jovens.
Eu não fazia mais festas...mas animação de bairros...nós a organizarmos, manter o bairro mais
ocupado possível, não digo com festa. Há uns anos, faziam-se convívios aqui no largo, às vezes lá
fora, às vezes lá dentro, quando as instalações ( do jardim de infância) estavam disponíveis...
Eu procurei manter-me ocupado...nunca tive jeito para jogar futebol, mas tenho jeito para outras
coisas, estive na Igreja (da Damaia) fiz o crisma e essas coisas...até aos 18 anos e depois,
entretanto, fui para a tropa...eu não sou preguiçoso nem coisa do género, gosto de trabalhar, mas
também gosto de expandir as minhas ambições, não gosto de trabalhar nas obras, essas coisas,
estive quatro anos na tropa para ver se obtinha mais conhecimentos, consegui adquirir alguns.
Estive lá fora e depois mantive-me sempre ocupado, mantenho-me sempre ocupado. Agora, estou a
fazer este curso (agente de desenvolvimento) e espero continuar a fazer mais e mais para poder
ajudar o máximo que puder...digamos, agora aos mais novos e dou sempre estes conselhos a eles
[Nuno].
No imaginário dos urbanitas, estes bairros da periferia alojam jovens delinquentes
que estão na origem da insegurança dos cidadãos. A imagem interiorizada passou a ser
tida como real e a diferença entre a realidade do bairro e a imagem criada não existe.
Claro está que, quem contacta de perto com a realidade, capta uma ideia diferente
da conduta dos jovens, mesmo podendo encontrar situações que, de facto, são um
problema, em primeiro lugar, para os próprios moradores. Isto significa que são
mobilizados muitos recursos internos para reduzir o impacto de situações negativas que
alguns elementos da população possam trazer para o interior do bairro e envolvente.
A verdade seja dita este bairro que eu saiba, porque eu dou muito bem com eles, não há roubos e
assim, pessoas que roubam tipo carros e essas coisas e que tragam aqui para o bairro, isso dá fama
ao bairro mas, pelo que eu conheço, não quer dizer que não haja, há assim um ou outro indivíduo,
238
um ou outro miúdo que assaltam as pessoas, agora, não vamos dizer que é tudo mentira ou que é
tudo dramático...porque há pessoas que dramatizam duma maneira diferente, ou seja, se uma
pessoa rouba um alguidar, eles vão dizer que roubou uma casa, por exemplo, as pessoas que dizem
isto são pessoas que não conhecem a realidade dos bairros, mas muitas molduras são pessoas que
dramatizam e sendo isso temos o caso da nossa polícia... eu acho que, por vezes, devíamos ser
mosquitos, para ver realmente as coisas...para ver realmente a intervenção policial nos bairros,
para ver quem faz e quem não faz ou devia ser um parasita, para ver o lado bom e o lado mau de
um bairro [Nuno].
A relação de anos com estes contextos permitiu-me concluir que uma das formas
mais eficazes de trabalhar com estas pessoas é envolvê-las directamente nos processos,
de forma a serem co-responsáveis pela resolução dos seus problemas. Este trabalho tem
sido realizado pelas associações locais, mas com um reduzido impacto no bairro.
Perguntar a um jovem o que faria, se fosse responsável por uma associação, no que diz
respeito aos mais novos, sobretudo, às crianças até aos 9 anos, tornou-se inevitável e a
resposta traduz uma preocupação fundamental, a urgente ocupação integral das crianças.
Eu acho que há pouca ocupação aqui... a formação, dar-lhes uma formação profissional...em
várias profissões, mesmo, electricista, canalizador, que tenham a ver com as qualificações de cada
um, quer dizer se já têm formação, dar-lhes uma saída profissional. Tinha de lhes dar uma grande
formação...interessando-os através da música e dança porque é a parte que chama mais à atenção
e depois é tentar adquirir algo dele ou dela, tudo o que seja o lado positivo deles já seria
importante...desde que seja a participação em algo... não é só dar, mas também adquirir, as
pessoas se acomodam, mas se os obrigar a dar-nos já se sentem obrigados...responsabilizá-los com
algo, por exemplo: tu vais tomar conta daquilo...tu vais fazer isto...amanhã vais fazer
aquilo...[Nuno]
A passagem da infância para a vida adulta faz-se sem passar pela moratória que é
comum em certas classes sociais, em queo jovem permanece em casa dos pais, sem
trabalhar, estudando apenas e com o objectivo de obter, através dos estudos, um estatuto
socio-profissional mais elevado. O que se passa, então, com estes jovens que residem no
bairro?
239
Alguns trabalham, outros deixam-se estar, outros não trabalham, mas a maior parte trabalha nas
obras...há aqui rapazes que conheço que têm formação, uns têm o 11º ano, outros o 10º, outros só
fizeram o 9º ano, tenho familiares meus que fizeram o 9º ano ou o 10º, mas só que trabalham nas
obras...é o que dá mais dinheiro, costuma-se dizer...Somos quatro irmãos e todos estão a trabalhar
[Nuno].
A relação entre rapazes e raparigas parece ser intensa no quadro da interacção entre
os jovens do bairro. A forma como vêem as questões da sexualidade e da conjugalidade
parece ser um assunto sobre o qual eles conversam muito entre pares do mesmo sexo,
mas que nem sempre se torna facilmente legível nos comportamentos inter-pares.
Eu acho que a maneira de ver agora, é que eles e elas estão muito liberais...estão muito! ...Eu
critico muito os pais, mas acho que deve haver muito pouca formação a nível dos pais, porque se
uma pessoa deixa uma rapariga solta (né?), mas se não falar com ela, ou se não demonstrar os
perigos ou o que se deve usar e o que não se deve usar, os perigos que faz e os que não faz...o que
leva em conta que a criança nunca sabe o que há-de fazer, é claro que, se encontrar um homem
mais velho que já tem experiência, é claro que dá-lhe a volta, a muitos acontece isso...mas eu acho
que uma conversa familiar, parto para esse ponto porque é sempre um passo para que não haja
perigos, tanto para rapazes como para raparigas. A única forma que eu vejo é a formação [Nuno].
Neste contexto, podemos questionar qual o papel da escola na formação base destas
crianças e jovens, uma vez que o tipo de profissões dos pais obriga-os a permanecerem
muitas horas fora do bairro, não tendo, por isso, condições para garantir uma formação
adequada às expectativas que colocam nos filhos e filhas. A escola desmotiva-os, não é que agora a escola tem andado com muita animação,
muitos mediadores. Há alguns anos para cá, penso que tem vindo a melhorar, o
nível de insucesso escolar, acho que tem diminuído gradualmente e tenho
informação disso porque tento sempre saber e então, mesmo assim, no meu ver,
ainda existe muito insucesso escolar. Continuo a achar que o essencial era dar
formação profissional a esta malta toda, dinamizá-los para além da música e da
dança, apesar dessas actividades culturais, não se devem perder [Nuno].
240
O bairro Estrela d’África tem locais onde os jovens se encontram para conversarem
um pouco, marcarem deslocações para fora do bairro, passarem notícias ou,
simplesmente, para observarem quem entra e quem sai do bairro. Estes sítios podem ser
uma esquina entre a Rua Srª. Maria e a Rua do Apeadeiro, o largo Ilha Brava, ou a porta
da casa de um jovem que vive na Rua Nossa Senhora do Monte, como acontece
regularmente com o número 21, casa-mãe dos Pina. Ali (na esquina) é só para conversar, cumprimentar a pessoa, chegamos do
trabalho, passamos por ali, conversa-se, mas não há assim grandes combinações.
O que podemos combinar é, assim, o futebol, ou amanhã vamos jogar e tal...e
quando há uma festa, para juntarmos e conversar...
Assim, a nível de discotecas, a gente não vai juntos, cada um vai para onde quer.
Mas quando há uma festa de anos, o pessoal junta-se e vamos a uma discoteca,
aqui em baixo, às docas secas...é perto de casa, não há confusão, não há nada;
juntamo-nos lá e alugamos umas mesas...alugam mesas para os aniversários, eu já
festejei o meu aniversário lá; aquilo é no N’Guenda, é um nome angolano; há lá
outras, há várias discotecas e há de portugueses, também; lá, a gente come, bebe e
tal...[Nuno].
Uma das características do bairro é a existência de diversas tabernas, onde se pode
passar o tempo conversando e a petiscar comida tradicional, bem como comprar os
respectivos produtos. Estes lugares estão cheios de residentes do bairro e de pessoas que
ali se deslocam para visitar patrícios ou parentes. Contudo, os jovens não vêem estes
espaços aprazíveis ou que tenham algo a ver com eles.
Cafés à portuguesa, não frequentamos, é mais a rua e quando é no verão, é ali no largo, mais para
a tarde; dantes (quando o largo estava limpo e desimpedido de carros), íamos para ali jogar à
bola, aos fins-de-semana, e estava sempre pessoal ali; uns estavam a jogar aquele jogo do loto e
quando a gente não jogava à bola era o jogo do 31...estava tudo ocupado, agora não sei...o uril
não há aqui, em nenhum café, mas na Cova da Moura há nos cafés, estão sempre cheios e há
pessoas que têm, a Alcinda tem um banco de uril e enquanto estiveram aqui uns primos dos Estados
Unidos, fartámo-nos de jogar àquilo [Nuno].
241
Nestes encontros familiares, aproveita-se o tempo para provar a comida tradicional
de Cabo Verde. Da ementa, faz sempre parte a cachupa, caldo di peixe, o feijão e a
mandioca, os bolinhos, etc. Contudo, os jovens aderem muito pouco a este tipo de
alimentação, embora, desde pequenos, se vejam confrontados com a obrigatoriedade de
provar a cachupa. Sobre este sacrifício o Nuno diz-nos:
Eu, pessoalmente, não gosto de cachupa e os meus irmãos também não, a minha mãe até se chateia
connosco porque ela tem vontade de fazer porque o meu pai gosta e ela também, mas não faz por
causa da gente e para não se estragar....e o peixe também está quieto; eu como peixe, mas os meus
irmãos não comem; é só carne...por isso é que nós não temos assim tanta...tanta...como é que vou
explicar, tanta força física que tem, por exemplo, o meu pai, que já tem 42 anos e nem parece e a
minha mãe que tem 52 e ainda está a trabalhar e está rija. Nós, se calhar, quando chegarmos à
idade deles, já...acho que isso se deve muito à alimentação, agora, aqui, a gente só quer é
hamburgers...eu digo isso porque tenho consciência [Nuno].
Como vimos no capítulo anterior, a configuração espacial do bairro Estrela
d’África está marcada profundamente pela origem regional dos cabo-verdianos e pela
diferença étnico-cultural de outros imigrantes ou refugiados que ali tentam encontrar um
espaço para viver. O quadro de interacção é condicionado por este factor que, ora facilita,
ora dificulta a intersecção dos diferentes mundos que ali coexistem. Mesmo os mais
jovens têm a percepção de que o bairro está arrumado de acordo com a características
culturais das pessoas. Vejamos, então, como percepcionam esta questão.
A Rua Nossa Senhora do Monte também tem o nome de Bairro dos Solteiros; já há bastante tempo
que chamam isso...é uma freguesia da Brava... aquela por onde passamos é a Rua Ilha de
Santiago...lá em baixo, são badios...neste bocado (Rua Nª Sª Monte), quase todo o pessoal é da
Brava...os sampadjudos estão mais neste bocado aqui [Nuno].
São muito frequentes as celebrações dos ritos de passagem, que assumem um
importância relevante na vida do bairro. Os jovens participam nestes momentos de forma
mais ou menos activa. Mas o que pensam destas aparentes sobrevivências culturais?!
Nós fazemos o 7º dia do nascimento da criança, não sei se os portugueses fazem? É uma pessoa
mais velha que, ao 7º dia, tem um(a) bacio (a) com água e sal...é tipo baptismo, não é, tem uma
vela, um padrinho e uma madrinha, nós chamamos o cristão; a pessoa mais velha faz a oração,
242
reza e depois abençoa a criança e a casa; fazem a todos os filhos, quando nascem....colocam
tesoura debaixo da almofada da criança, até ao 7º dia, porque a criança é frágil...é para os maus
olhados. Isso é dos espíritos!
Sobre a curandeira do bairro, a D. Ana, eu acho que deve fazer qualquer coisa, eu não sei...para
ter tanta gente, acho que ela deve fazer qualquer coisa; eu tenho um lema que é: eu não acredito,
mas respeito, respeito bastante [Nuno].
A droga e a toxicodependência constituem um problema que se espalha um pouco
por todo o país. O bairro não é excepção. Existem pequenos nichos onde se vende o
produto em pequenas quantidades, nomeadamente, a cannabis e haxixe, e há jovens
implicados neste processo. Também há casos de pessoas que perderam filhos, devido à
toxicodependência, mas a situação passa um pouco despercebida aos olhos de um
observador não muito atento. Uma filha do Sr. Benjamim, nosso informante privilegiado,
contava que há sete anos atrás e durante algum tempo, o bairro teve mau ambiente criado
por situações deste tipo e foi preciso uma mobilização dos moradores para porem termo
aos desacatos e à constante intervenção da polícia da Damaia. Mas como percepcionam
os jovens esta situação?
Eu dou-me bem com toda a gente, seja ele o que for, não tenho problemas em falar com ninguém
porque eu sou assim, sei aquilo que sou, por exemplo: se uma pessoa me vê a falar com uma pessoa
que é toxicodependente, não quer dizer que eu também o seja, simplesmente posso estar a dar-lhe
conselhos; eu, uma vez ajudei um amigo que é português, andou comigo na escola, da qual há uns
dias atrás andava mal no meu curso, informei-me onde havia um centro de desintoxicação grátis e
arranjei-lhe tudo de graça, dei-lhe a morada e ele foi lá a duas consultas...estava com droga a
mais, eu fiquei contente, ele foi a duas sessões, sinto que fiz alguma coisa.
Mas eu falo bem com toda a gente, independentemente do que for, de que raça e religião.
Há poucos africanos toxicodependentes... mas as pessoas (de fora) levam tudo a nível de tudo mau;
vieram por causa de uma rusga qualquer e estava lá um jornalista, por isso, interpretam o bairro
assim, se alguns são drogados, todos são drogados, se alguns são passadores, todos são
passadores, mas tenho a certeza de que se alguém os convidar para uma festa aqui do bairro,
ninguém aparece, agora, se forem dizer que prenderam o não sei das quantas, ou mataram o não
sei das quantas, toda a gente vem; há um lado bom, ninguém aparece, eles não escrevem isso no
jornal [Nuno].
243
O Ilídio
Ilídio, também conhecido no bairro por Peroni, tem 26 anos, nasceu em Angola e é
outro jovem que vive no Estrela d’África, há mais de dez anos e que faz parte do grupo
Estrelas Cabo-verdianas, sendo um dos bailarinos centrais no grupo de dança.
Tem uma trajectória de vida muito diferente do caso anterior e, por isso mesmo,
constitui um exemplo importante da forma de captar a ideia de bairro e de ser jovem e
viver neste contexto.
Vivo no bairro, desde 1990, praticamente a fazer dez anos...vim de Angola, sensivelmente de
Luanda; vim directamente para cá. Tenho cá um tio no bairro que me dá muito apoio.
Vivi em Angola desde que nasci, sensivelmente até aos 16 anos, eu vivi mesmo em Luanda, nasci lá.
Eu sou de origem cabo-verdiana, tenho naturalidade angolana; nasci em Angola, o meu pai de
Santiago, da freguesia do Pico e a minha mãe de Stª Catarina, mas pertence tudo ao concelho de
Assomada [Ilídio].
Os pais deste jovem tiveram uma trajectória que também é um pouco comum nas
migrações cabo-verdianas. Muitos passaram por Angola, antes de virem para Portugal,
contudo, com a independência deste país e posteriormente, com a guerra civil,
abandonaram aquele território para procurar condições de sobrevivência noutros lugares.
Ser jovem do bairro é ser um jovem activo, dinâmico, ser um jovem que gosta da vida, eu sou um
caso desses, sou um jovem que, praticamente, a minha vida tenho-a ocupada: durante a semana
trabalho e aos fins-de-semana tenho os ensaios, também sou jovem que frequenta uns cursos daqui
do bairro, cursos de promotores de saúde e cursos de voluntariado de apoio aos doentes da sida, só
que, por circunstâncias da vida, não tenho tempo para dar apoio aos outros diversos cursos...só
estou dedicado à dança [Ilídio].
Tal como alguns dos jovens do grupo Estrelas Cabo-verdianas, ao longo dos
últimos anos, integrou-se nas associações locais com o objectivo de participar nas
actividades de intervenção local. Foi passando de associação em associação,
acompanhando, deste modo, os itinerários associativos do grupo.
244
Também fui elemento de um grupo de teatro, onde fui responsável do grupo de teatro que pertencia
à Associação AJPAS, que é daqui do bairro...possivelmente, de 1998, por aí; só tive dois anos de
direcção, depois tive que sair, tive que mudar de associação...e depois, já estou na Associação
Morna, sensivelmente há dois anos [Ilídio].
Como muitos outros jovens, Ilídio trabalha na construção civil, para sobreviver,
apesar de ter pretendido continuar os estudos.
Trabalho na construção civil.
Estudei até ao 12º ano, depois não dá para conciliar as duas coisas, trabalho e estudo, o trabalho
na construção civil como sabe, é um trabalho muito forçado, exige muito da pessoa e... [Ilídio]
A percepção que o Ilídio tem do bairro e das relações das pessoas denota que o seu
processo de socialização foi bem diferente do daqueles jovens que nasceram e sempre
viveram no seio das suas famílias.
Olha, para ser sincero, há muita gente que não gosta deste tipo de ambiente, mas
eu já estou habituado com este tipo de ambiente e gosto muito, não só pelo
ambiente, mas também pelas pessoas, as pessoas aqui são humildes e eu
considero aqui todo o mundo como uma família. Nós damo-nos tão bem, não há
conflitos, apesar da fama, mas eu acho que aqui, no nosso redor, eu falo no meu
redor, onde eu convivo com pessoas daqui não há aquele conflito...não digo ...há
sempre aqueles conflitos, mas não é assim muito beras, eu gosto de conviver com
as pessoas daqui; as pessoas daqui são todas meus amigos, nunca tive problemas
com ninguém, nem mesmo com os meus amigos; adoro esta bairro e eu acho que
as outras pessoas também gostam. Sinto-me seguro no bairro [Ilídio].
Os tempos livres destes jovens com participação no grupo já estão razoavelmente
estruturados. O grupo de amigos serve para que, quando se tem alguns momentos de
lazer, a companhia esteja garantida.
Nos meus tempos livres, praticamente não vou (ao café, à tasca)...pratico desporto; futebol ou
qualquer outro tipo de desporto, às vezes, também faço atletismo que é para manter o corpo em
forma e quando não tenho tempo e não me apetece sair, vou até ao clube de vídeo buscar um filme
245
e fico em casa a ver o filme, fico sossegado, porque sou uma pessoa que não gosta de fazer
sarilhos e sou uma pessoa pacífica [Ilídio].
O sentimento de pertença ao grupo Estrelas Cabo-verdianas é forte e também
serve como elemento de estruturação da amizade e do afecto. Destes aspectos, daremos
conta no capítulo seguinte.
Eu estou, há sete anos (no grupo Estrelas Cabo-verdianas), se não me engano.
Sinto-me feliz, uma alegria enorme, uma satisfação e não só de pertencer, mas também por
colaborar no grupo; eu acho que é um grupo muito dinâmico, cheio de energia, é uma família,
uma segunda família, onde não há conflito, onde o grupo sai para um passeio como família e
regressa como família; um grupo onde se deixa os problemas particulares e só tem um objectivo
em mente que é trabalhar para que o grupo se desenvolva.
Já viajei com o grupo, sensivelmente, há dois anos, fui no projecto de intercâmbio com cabo-
verdianos residentes na Holanda, projecto este financiado pela CE, projecto de teatro dançante
em que os holandeses faziam teatro e o grupo de cá fazia dança; uma colaboração de que gostei
bastante, viájamos para muitos países, sensivelmente, fomos duas vezes para a Holanda, uma vez
para a Itália, Luxemburgo, França e fizemos cá um espectáculo, seis meses depois, fui para Cabo
Verde, noutro projecto que foi patrocinado pela IPJ (Instituto Português da Juventude) [Ilídio].
Assim como alguns dos jovens do grupo, Ilídio pôde concretizar o sonho de
conhecer a terra natal dos pais, através dos projectos para a juventude patrocinados pelas
organizações da administração central, como é o caso do Instituto Português da
Juventude (I.P.J.). Este organismo subsidia projectos das associações locais, tentando
fomentar o intercâmbio juvenil entre jovens de diversos países.
Eu não conhecia a terra dos meus pais; foi a primeira vez que vi a terra dos meus pais e gostei
tanto...gostei das pessoas de lá, são umas pessoas espectaculares, existe uma ajuda mútua entre as
pessoas; da última vez, fomos para Cabo Verde, fomos a Santiago que é a capital (confusão com a
Praia) e também fomos para a Ilha de Santo Antão e S. Vicente [Ilídio].
Sou uma salada de culturas
Uma das questões que se colocam frequentemente em torno destes jovens, a que
se chama 2ª e 3ª geração de cabo-verdianos ou africanos, é a dificuldade que têm em
246
gerir duas culturas como se sentissem ensanduichados entre a cultura dos pais e a
cultura dita portuguesa. Esta ideia é sustentada, muitas vezes, sem que os próprios
jovens se pronunciem sobre o assunto, isto é, alguém se encarrega de falar por eles,
sejam os técnicos das autarquias, sejam os investigadores sociais ou, até, os
representantes associativos da chamada comunidade. Ora bem, é no pressuposto que é
indispensável ouvir e observar os jovens nos seus próprios termos e contextos que esta
abordagem deve ser feita, senão corre-se o risco de enviezar as conclusões ou reificar
ideias exteriores aos próprios actores sociais. Sendo assim, vejamos o que nos diz Elídio
sobre a sua identidade cultural.
Eu acho que o problema dos jovens não é derivado à cultura, os jovens, normalmente, têm de
preservar a cultura dos seus pais, isso é normal...
Tenho a mesma religião, sim, a católica, tem os mesmos hábitos e costumes e um pagão muito
forte da cultura africana, eu respeito. Quando estive em Cabo Verde, tive uma prova disso, em que
os jovens, todos os dias de manhã, ao levantar, têm de pedir conselhos aos pais, eles lá dizem a
benção e geralmente isso, hoje em dia, tem fugido bastante, os jovens já não respeitam tanto os
adultos. Muita gente me diz que eu ainda tenho pensamento dos velhos, é a educação que me
deram e que eu penso preservar e transmitir aos meus filhos...eu respeito muito a amizade (entre
pais e filhos), vale tudo na vida.
...participo nos rituais, gosto da comida...não, não, o problema não é o gostar muito, o problema é
que uma pessoa está constantemente a comer um tipo de comida...
A comida tipicamente cabo-verdiana, há vários tipos, mas a comida típica é a cachupa e é o caldo
de S. Nicolau...feito de mandioca, batata...é tipo caldeirada, mas é um bocado diferente.
Eu tenho uma salada de cultura, praticamente, tenho a cultura dos meus pais que são da cultura
primitiva e a cultura angolana, que é a do meu país de origem e agora, estou a viver cá e sigo a
cultura portuguesa... [Ilídio].
Este jovem, apesar de não conviver com os guineenses residentes no bairro,
conhece alguns elementos essenciais da sua cultura e faz questão em referir esse
conhecimento. ...Quando cheguei cá, só havia os cabo-verdianos, agora, é que estão a aparecer os guineenses;
eles são mais reservados, e geralmente os muçulmanos têm uma religião muito diferente das
outras, eles são reservados, têm a sua cultura, a sua forma de viver e principalmente, uma coisa
247
que eles odeiam é a carne de porco e para nós é como se fosse uma carne qualquer...eles têm
sempre aquele receio...eles pensam que as pessoas vão-lhes fazer pecado [Ilídio].
Por vezes, o sentimento do jovem em relação ao bairro é um pouco contraditório
mas, quase sempre, é um sentimento de pertença forte. Vale a pena perguntar o que
pensam das ideias preconceituosas que o exterior faz do bairro e o receio que este tipo
de bairros suscitam em quem nunca ali entrou.
Geralmente, as pessoas têm preconceito quando não sentem na pele porque as pessoas que o
sentem são pessoas de fora do bairro, não sabem o que se passa dentro de um bairro...as pessoas
são livres de pensar da forma como quiserem. Quando oiço as pessoas falarem mal do bairro, eu
simplesmente não ligo, pois essas pessoas não sabem nada; para mim, essas opiniões não me
interessam mesmo nada...nem um bocadinho! [Ilídio].
Destas expressões do jovem Ilídio transparece uma raiva contida pela impotência
que sente por não ter oportunidade para provar o contrário. Talvez sem se aperceber,
encontra-se frente a alguém que tenta contribuir para a realização desse seu desejo.
A Alcinda
Todos os Pina se fixaram no Estrela d´África, embora alguns tenham saído,
posteriormente, para outras localidades e países.
Construíram as casas, umas a seguir às outras, comunicando e interagindo
profundamente no quotidiano. A Alcinda viveu todo este ambiente de bairro, durante
mais de duas décadas, pelo que importa conhecer como esta jovem viveu o processo de
socialização a partir do bairro.
O que posso dizer sobre o bairro é que sempre vivi aqui, nós não tínhamos possibilidades de ir
para outro sítio, mas sempre gostei até um certo ponto... quando nós viemos, as pessoas eram
mais humildes. Todas as semanas tínhamos festas, os próprios vizinhos faziam. Pronto, a diversão
das pessoas mais velhas era isso mesmo, faziam festas na casa de uma, por exemplo, lembro-me
que o meu pai fazia muitas festas aqui em casa, as pessoas traziam coisas para passar a noite e
então, nos dias de inverno, faziam fogueiras em lata e ficávamos todos à volta da fogueira, ali no
quintal, a contar histórias...eles contavam histórias de antigamente e as festas de baptizado e
casamentos, era tudo diferente porque as pessoas eram mais humildes.
248
Agora, hoje em dia, são os próprios familiares, já não se dão, já é cada um por si, Deus por todos,
é cada um na sua casa, é muito diferente! Gostava mais do antigamente do que propriamente de
hoje... as pessoas dispersam-se, já se vão embora daqui, já não querem estar aqui, por exemplo,
eu não gostava de sair daqui, foi, pronto, a casa em que eu sempre vivi [Alcinda Pina].
Apesar do ambiente do bairro ter mudado bastante com a saída de muitos dos
primeiros residentes e com a entrada de novos imigrantes, parece, aos olhos de quem lá
vive ou convive com os seus habitantes, um lugar seguro, onde nos sentimos protegidos,
descontraídos e, por isso, menos agressivos ou tensos.
No bairro, sinto-me mesmo segura! Sinto que estou em casa...sinto uma força
como se os meus pais estivessem aqui....como eles construíram isto, foi o que ele nos
deixou...é como se eles estivessem cá, mesmo não estando...
Mas uma pessoa entra aqui, diz até que enfim, cheguei aqui e daqui ninguém me
tira, mas quando a gente pensa que um dia vamos ter que sair daqui, é um bocado difícil,
embora as pessoas não se dão, temos o nosso canto [Alcinda Pina].
Como já referimos, a imagem exterior do bairro é negativa e enferma de um
conjunto de preconceitos que são extensíveis aos outros bairros. É interessante saber o
que pensam os próprios moradores da ideia reificada sobre este tipo de habitat e
populações aí residentes, produzida fora do contexto e, por isso, espelha mais a
mentalidade de quem a produz do que a realidade dos factos.
...Eu oiço as pessoas falarem no aspecto das casas, do aspecto das ruas e isso, das pessoas serem
malcriadas...mas se formos a ver, se entrarmos num sítio qualquer daqui do bairro, as casas são
normais por dentro, têm aquele aspecto por fora...alguns não têm condições, mas são sempre
asseadas...
Agora já têm água, luz, casa de banho, esgotos...antigamente, havia um caminho que levava ao
chafariz, as pessoas iam lá buscar água...
Eu lembro-me que o meu pai foi dos primeiros a ter água [Alcinda Pina].
A origem cultural dos mais velhos deixou marcas importantes nas gerações que
mal conheceram ou desconhecem o país de origem dos pais: neste caso, Cabo Verde.
Para além disso, as condições de vida que foram criadas pelas populações para poderem
viver no bairro e a percepção deste forjada no exterior, bem como a relação com o
249
espaço urbano, parecem marcar fortemente a relação das crianças e jovens com os
progenitores. Os pais têm ainda a mentalidade de antigamente, diferente, não conseguem adaptar aos filhos, o
que fez com que a maior parte dos jovens não gosta de estar aqui, na casa dos pais, não se dão
com os pais....os pais cabo-verdianos têm aquela mentalidade antiga...a maior parte dos jovens,
hoje, não aceita isso e depois, as raparigas são mães porque a maior parte das mulheres não têm
conversas tipo de sexo...aquelas miúdas ficam a ajudar em casa ou vão para a escola, mas são
tratadas de outra maneira.
Os rapazes formam vários tipos de grupos, há aquele grupo (o grupo Estrelas Cabo-verdianas,)
que já é de rapazes com 20 e 25 anos até aos 30, que têm a vida organizada, têm uma visão
diferente da realidade...e os de 13 aos 18-20 anos... a maior parte deles não tem juízo...aquela
coisa das marcas... desporto...o que os leva a deixar a escola é um pouco quererem ganhar
dinheiro para ter coisas, para se vestirem à maneira deles...
O grupos de jovens concentram-se sempre em certas casas, até às tantas da manhã e a maior
parte deles já é casado, concentram-se nessas tabernas, na SRª. Rosa, na SRª. Maria e lá em
baixo, perto da Loja Jovem... também se encontram na estação da Damaia, no Rossio, mas só
quando combinam para sair ...[Alcinda Pina].
Quando as pessoas se juntam...há comunidade
Como referimos atrás, os ritos de passagem, sobretudo, a morte, o casamento, o
baptizado são momentos fundamentais da vida social que revelam uma forte coesão das
populações, independentemente das trajectórias individuais. Durante o trabalho de
terreno, participei em rituais por morte de dois jovens. Em ambos os casos, os passeios
do bairro encheram-se de panelas e tachos enormes cheios de comida confeccionada por
mulheres que têm esta função e que se deslocam em carrinhas, com tudo o que é
necessário para garantir a comida de defunto e os procedimentos que o momento exige.
Já falámos, atrás, de alguns aspectos, mas o testemunho da Alcinda vem reforçar a
importância destes rituais no seio da população do bairro Estrela d’África.
Quando há um caso desses (a morte), é bonito porque as pessoas se juntam e aí é que se vê que há
comunidade nessas pessoas, mesmo eles entreajudam-se, mesmo não se dando bem, quando há um
caso desses, as pessoas são solidárias umas com as outras e também quando há incêndios
acontece o mesmo...já houve aqui em baixo um...aí é que já vejo mais comunidade, fora disso...
250
Quando uma pessoa casa é convidado o bairro, quase todo... até o casamento da minha irmã foi
feito aqui na minha casa... eu lembro de se convidar quase o bairro todo...
O caso de uma pessoa que não vive aqui no bairro, aluga um restaurante...nós não fazemos em
restaurantes, mas num espaço onde nós podemos cozinhar, só alugam o espaço, por exemplo em
Benfica, mas agora já não alugam o espaço, já é em Carnide ou na Amadora.
As pessoas são mesmo muito fechadas, mesmo em relação a nós, que vivemos cá, quanto mais às
pessoas que vêm de fora, então é pior, né? Porque são mesmo muito fechadas, é incrível porque
....eu, quando entrei para a Morna, tínhamos o projecto Lusocrioulo e tivemos que fazer uma
deslocação porta a porta, e o que me deu a entender é que é assim, como as pessoas me
conheciam, eu conseguia com que abrissem a porta, embora não conhecesse muita gente aqui do
bairro, porque só conheço da rua, bom dia, boa tarde, consegui que um grupo de pessoas me
abrisse a porta...viram-me, já ficam um pouco mais à vontade...aquela conheço, vou ouvi-la para
perceber o que é que quer...
Eu, com os ciganos, tenho muito boas recordações, se calhar, porque já os conheço... [Alcinda
Pina].
As associações locais
As associações locais têm uma relativa implantação e influência no bairro. Os
Unidos de Cabo Verde gerem o Jardim de Infância que funciona na Escolinha, espaço a
que já nos referimos anteriormente. Apesar desta Associação ter herdado a casa do Sr.
Benjamim Moreno, após a saída deste e da família para o bairro de habitação social do
Zambujal, a Associação não tem tido uma intervenção regular no bairro, não obstante
deter um razoável poder de negociação com as autoridades e instituições locais. Foi,
aliás, este um dos motivos que levaram à criação, por parte de alguns dos jovens do
bairro e do seu líder, da Nós, Associação de Jovens para o Desenvolvimento254.
O que parece ter acontecido com vários dos líderes das associações locais é que
relegaram para segundo plano a intervenção local junto das populações e centraram as
suas atenções nos processos de negociação de recursos e de plataformas de cidadania.
Mas observe-se como vê esta situação uma das protagonistas da criação da Associação
Nós.
254 Na terceira parte deste trabalho, daremos conta do processo de constituição da referida associação de jovens.
251
As associações fazem muito pouco, aqui, eu acho que está tudo muito parado a esse nível...uma
das coisas que podiam fazer era ter um projecto, por exemplo, para os idosos, para as pessoas
mais velhas...
Por vezes, as associações preocupam-se mais com a população jovem, não com a população mais
velha, por isso é que as pessoas depois não têm convívio, fecham-se, não têm como passar o
tempo...muitos deles vivem sozinhos, depois os filhos começam a casar, começam a ter a vida
deles, começam a desaparecer um pouco, vão viver para outros sítios, então, as pessoas são
esquecidas...mesmo tendo vizinhos, mas os vizinhos também têm a vida deles...por exemplo, nós,
antigamente, concentrávamo-nos muito ali no largo, no Verão, aquilo era um ponto de encontro
para as pessoas, porque ali se juntavam grupinhos, grupinhos, jogavam, faziam montes de coisas,
ali sentados ao sol, a conversar, mas hoje, já não fazem isso porque a maior parte das pessoas
também já está um pouco velho, então, ficam a ver televisão, se tiverem, porque há muitos que
não têm...eu acho que o que falta aqui e noutros bairros é um pouco a dinamização dessas
camadas, sem ser dos jovens, porque prós jovens eles já têm, embora pouco, mas têm, agora a
população mais idosa é que não vejo mesmo nada, eu acho que se devia fazer mais pelos idosos,
pensar mais nos idosos...
... As instituições, se quisessem fazer alguma coisa, eles já teriam feito, não é?!
Porque eu lembro-me que já o fizeram...ali no largo, antigamente era um jardim, tinha baloiços
para os miúdos, tinha árvores, aquilo era uma diversão para os miúdos e até para as pessoas ...
era um ponto de encontro para juntar as pessoas, só que, lá está, os jovens deram cabo daquilo
por duas vezes e eles, então, acabaram com o jardim, não é?
Eu posso falar um pouco das associações que precisam de espaços e à Câmara não cede, embora
haja espaços que nós vemos e que foi pedido á Câmara e eles não cedem.
Há aí uns três anos, por exemplo, a Escolinha, eu não estou por dentro da Escolinha, eu acho que
a Escolinha devia ter um espaço maior, uma casa com mais recursos e melhores condições de se
trabalhar com crianças, uma construção maior e, no entanto, eu ouvi dizer que a Câmara não
permite fazer aumentos, apenas obras no interior. Podiam deitar aquilo abaixo e fazer uma casa
enorme... no meu ponto de vista, que aquilo não tem condições para ter lá as crianças, só que as
pessoas não têm recursos, mesmo se quisessem fazer....
Nós temos uma assistente social que trabalha na Segurança Social da Amadora, ela está mais
ligada às amas, para a população não temos.
É assim, eu, agora, como estou a fazer um curso de animação, que já me vai dar mais experiência
e mais capacidade de desenvolver projectos, eu gostava de desenvolver um projecto para idosos,
para o bairro...que fosse útil, tivesse interesse para as pessoas... na ocupação dos tempos livres,
educação e prevenção [Alcinda Pina].
252
É a conviver com eles que nós aprendemos Um dos aspectos mais gratificantes dos dois longos anos de trabalho de terreno é
ver reconhecido, pelo próprios jovens, as virtudes dos métodos antropológicos que
assentam na perspectiva do going native e mesmo, no método biográfico, opções que
nos conferiram legitimidade para estar no terreno e para ouvir testemunhos sem filtros
que distorçam a realidade. Apercebi-me, muitas vezes, desta prerrogativa que a Alcinda
traduz nas palavras seguintes:
Pelo que vejo, a Marina já está à vontade com as pessoas porque lá está, as pessoas são muito
fechadas e gostam muito da simplicidade das pessoas. Eu acho que a Marina deve ir mesmo por
aí, porque as pessoas daqui são muito simples, são directas logo com a pessoa...se não gostam das
pessoas, também elas pouco ligam...mas como a Marina está a fazer é excelente, porque é a
conviver com eles que nós aprendemos, que nós conseguimos algo deles...[Alcinda Pina]
O conceito de cultura é difícil de definir para todos nós. Mas o que pensam estes
jovens da sua cultura?
Tem a ver com o meu dia-a-dia, com a forma como eu vejo, a forma como eu vivo, não é?... Agora
se me perguntam qual é a tua cultura?... isso já é diferente, porque aí já posso dizer que a minha
cultura é a cultura cabo-verdiana...
Mas, para mim, a cultura mesmo em si é como eu vejo, como trabalho, como me visto, cada pessoa
tem a sua maneira de viver, cada pessoa tem a sua maneira de pensar, isso para mim é a minha
cultura...
A Marina já sabe onde estou aos domingos. Aos domingos, as pessoas estão mais em casa, não é?
Ao Sábado, todo o mundo trabalha...ao Domingo, também, muitas vezes...tem de ser! [Alcinda
Pina].
As mulheres guerreiras ou a tripla vida das mulheres do bairro
As mulheres têm um papel central em toda a organização e gestão, não só das
famílias como do próprio bairro. Nem por isso se podem dar ao luxo de ficar em casa a
tratar dos mais velhos, das crianças, dos maridos ou filhos, que chegam do trabalho ou
da escola. Elas saem de madrugada para empregos espalhados pela cidade da Amadora
253
ou de Lisboa, vão às compras, lavam, limpam e preparam refeições, enfim, desdobram-
se em afazeres até que o corpo caia de cansaço.
Muitas das mulheres saem daqui às cinco da manhã para trabalhar, nas limpezas... 85% das
mulheres daqui do bairro trabalham como empregadas de limpeza, em firmas, escritórios e casas
de senhoras; 8% na venda do peixe, mas também nas limpezas, devido ao facto de precisarem da
segurança social para os descontos, a fim de aderirem ao cartão de utente, abonos , etc... 4%
noutras profissões (varredoras da CMA, comerciantes, auxiliares de educação, auxiliares de
cozinha... ), 2% como amas e 1% das mulheres são domésticas.
Reconheço e admiro muito a força de vontade das mulheres africanas, especialmente as mulheres
cabo-verdianas, não pela razão de ser uma, mas sim pelo sacrifício que fazem para melhorar as
condições de suas vidas em prol dos seus progenitores, trabalhando de manhã à noite caso seja
necessário...A mulher cabo-verdiana não tem tempo para cuidar de si própria, envelhecendo cada
dia mais (aspecto físico do corpo muito fortes), isto, porque enquanto os homens trabalham, a
maior parte na construção civil, para o sustento da casa, elas trabalham para ajudar nas despesas
da casa, principalmente para a educação dos filhos, cuidam também da lida doméstica e dos
filhos.
Como sendo uma cabo-verdiana, a única crítica que faço em relação à cultura cabo-verdiana é a
mulher não ter a sua própria independência, porque lhes foi transmitida ou é tradição os homens
é que trabalham para o sustento da casa e a mulher cuida da casa e dos filhos e agrada o
marido... [Alcinda Pina]
A tradição é ultrapassada pelos novos modos de vida, novas culturas e
hábitos diferentes ...Mas, nos dias de hoje, as mulheres em geral já abriram os olhos e cada fez mais se tornam
independentes e já lutam por direitos iguais.... a luta pela sobrevivência num país estrangeiro leva
a que a tradição não fica esquecida, mas é ultrapassada por questões de novos modos de vida e
novas culturas e hábitos diferentes... [Alcinda Pina]
Como reconhece a Alcinda, as mulheres do bairro são guerreiras porque
enfrentam com coragem as barreiras que todos os dias se levantam à educação dos
filhos, ao trabalho dos maridos, aos perigos da droga e à falta de melhores condições de
vida no bairro.
254
O Victor
O líder do grupo Estrelas Cabo-verdianas, o Victor Lopes Moreira, tem 30 anos,
naturalidade cabo-verdiana e nacionalidade portuguesa. Um episódio interessante
marcou o seu nascimento. Nasceu a bordo de um navio, quando a mãe se deslocava a
Cabo Verde, à Ilha de Santiago, pelo que se pode considerar um filho do mar. Como não
podia viajar sem ter idade para o efeito, a família teve de declarar que o Victor tinha
dois anos e não dois dias e assim a mãe pôde regressar a Portugal.
Sou um falso badio
A mãe é cabo-verdiana, natural da Ilha de Santiago, pelo que, do ponto de vista
regional, é badia; o avô materno era natural da Ilha de Santo Antão e a avó materna da
Ilha de Santiago. O pai tem uma mistura de sangue português e cabo-verdiano: o avô
paterno era português, natural de Armação de Pêra, Algarve, e o bisavô paterno natural
da Ilha da Madeira; a avó paterna era cabo-verdiana, natural da Ilha de S. Vicente, isto
é, sampadjuda. O Victor refere-se a estas origens como sendo uma mistura de raças e por
isso, ser um falso badio.
Como vimos atrás, a ênfase que é dada à origem regional de badio ou sampadjudo
corresponde a um sistema de classificação que é operacionalizada, como vimos atrás,
por todos os cabo-verdianos e que tem grande influência na interacção social e cultural
deste povo.
Por conseguinte, tentamos perceber como é que o Victor define estas duas
categorias, apesar de nunca ter vivido em Cabo Verde.
Não são duas raças, raça é só uma, mas são duas mentalidades, duas formas diferentes de pensar
e de ser, de reagir, de estar na vida.
Na Ilha de Santiago, na cidade da Praia que é a capital, há normalmente a tendência de falar
carregando mais nas palavras, são mais rígidos a falar e quando falam o crioulo puro, ninguém
percebe; nas outras ilhas, falam mais suave, parece que estão a cantar, existem palavras inglesas
e francesas no meio...atrai-me muito esta forma de falar [Victor Moreira].
255
Quando colocamos a questão se estas diferenças se notam nos bairros da
Amadora, a resposta parece ser mais completa, uma vez que não se trata apenas de uma
questão linguística, mas também social e cultural, com implicações nos modos de vida
dos cabo-verdianos, embora os jovens tendam a acabar com estas diferenças.
O bairro aproximou badios e sampadjudos Já se notou mais a diferença (entre badios e sampadjudos), até à década de 90, notava-se mais a
nível de festas, onde os badios não se misturavam com os sampadjudos e até mesmo na forma de
viver no próprio bairro, onde existem zonas demarcadas já um pouco com mistura mas no bairro
existe uma zona rodeada por sampadjudos e outra por badios. Hoje em dia, com os jovens, a
tendência é acabar com esta diferença, mas existe esta diferença, não no sentido de levar a
conflitos uns com os outros, são formas de reagir, de estar na vida, completamente diferentes um
do outro.
É por causa das ilhas e é como aquela história do Benfica e do Sporting e aqui no bairro é o
mesmo...eu nasço aqui no bairro e o que acontece é que, hoje em dia, eu vejo os sampadjudos a
falarem badio e alguns badios até já falam sampadjudo o que quer dizer que o próprio bairro
trouxe alguma coisa, juntou-os e aproximou-os mais e tentam perceber porque é que tu és assim e
eu sou assim e isso levou a que o badio namorasse com sampadjuda e vice-versa, tornou-se mais
vulgar [ Victor Moreira].
Em termos de representações produzidas pelos badios e pelos sampadjudos, uns
face aos outros, acontece que as diferenças são profundas e dão origem a todo o tipo de
desconfianças e preconceitos. Produzem-se anedotas, piadas, criam-se estereótipos,
marcam-se distâncias sociais e espaciais. Assim, o Victor dá-nos alguns exemplos.
Os badios acham que os sampadjudos são muito cobardes, medricas, muito engraxadores e que se
aproximam mais dos portugueses, já os badios não aceitam abusos, impõem-se e quando se
impõem, os sampadjudos dizem que somos violentos, há facadas, tiros... não sabem conversar, é
tudo guerra, por isso são faca na liga.
Há esta ideia muito clara no terreno, o que hoje está a acabar, já se nota claramente um badio
morar ao pé de uma sampadjuda e até namorar com ela...[Victor Moreira].
As diferenças socioculturais entre badios e sampadjudos também se fazem sentir
na forma como celebram os ritos de passagem, os quais, mesmo em contexto urbano,
256
continuam a ser cumpridos como manda a tradição. Mas como percepcionam os jovens
as formas simbólicas dos progenitores lidarem, sobretudo, com o nascimento, o
casamento e a morte255?
Há poucas coisas diferentes: os badios dão muio mais importância a certos rituais do que os
sampadjudos; quando morre alguém da família, é nítido que o badio vive aquilo muito mais tenso
do que os sampadjudos, vivem os dois da mesma forma, a maneira de expressar e de mostrar é que
é diferente: os badios põem luto e a dor é chorada durante sete dias e com muita expressão, fazem-
se rezas, a esteira, a canja de finado que todos, parentes e amigos, têm de comer e todos os dias
vão a casa da pessoa rezar, e no sampadjudo existe pouco isso.
Quando nasce um filho, o badio cumpre o sete, para proteger a criança põe a faca atrás da
cabeceira, faz cruzes... os badios fazem, depois do sétimo dia, uma festa chamada o sete que é o
primeiro baptismo da criança, sem padre, para proteger a criança das almas más que dizem se
aproximam das crianças até ela receber o baptismo pela Igreja; normalmente, é a pessoa mais
velha da comunidade que vai a casa fazer essas rezas, são pessoas muito católicas e fazem as
rezas com água e sal e a criança tem padrinho e madrinha; os padrinhos têm um peso muito
grande porque são muito mais respeitados e vive-se o compadre e a comadre muito mais intenso
porque assumem um compromisso perante a Igreja e depois fazem uma festinha, às vezes, dura até
de manhã...
Os sampadjudos não vêem com bons olhos alguns destes rituais, não fazem isso como ritual...mas
isso, hoje em dia, está a perder-se muito, já se fazem baptismos com 12 e 13 anos...antigamente, a
minha avó dizia que não se faziam, ou se fizessem, eram crianças de famílias bem vistas pela
comunidade, respeitada e que dificilmente se viam a trabalhar no caminho [Victor Moreira].
No quadro de parentesco dos badios, o compadrio assume um papel relevante para
as famílias e a figura do tio também tem grande importância, até porque existem muitas
famílias monoparentais que têm no tio, irmão da mãe, uma figura central na educação e
no apoio afectivo e material dos sobrinhos.
O tio é muito importante, representa muito no badio e faltar ao respeito a um tio ou a uma ordem
dada pelo mesmo é grave; já no sampadjudo a figura de tio não tem tanta força assim...; ai do
sobrinho que refilar com o tio, porque ele lhe mandou fazer algum recado, ou mesmo, lhe deu uma
palmada e que chega a casa e ainda leva mais se for necessário! O tio pode bater, o pai dá-lhe
255 Sobre estes rituais, ver a obra de João Lopes Filho (1995:19-83)
257
razão. No sampadjudo, o tio nem tem direito, às vezes, de fazer queixa aos irmãos porque os
próprios sobrinhos ficam zangados com ele [Victor Moreira].
O casamento constitui outro momento importante na vida do cabo-verdiano/a, mas
é também celebrado de forma diferente, consoante se é badio ou sampadjudo.
No casamento, o badio faz o tempo de festa muito mais longo, são três dias (sexta, sábado e
domingo) e há certos rituais que estão a acabar. Os jovens já não aceitam aquilo que eram umas
provas; lua de mel em que a mãe da noiva fica à espera duma prova em que a filha foi virgem
para o altar; então esta prova é um lençol que ela traz, manchado do facto do acto, é a prova de
virgindade: quando vou dormir com a mulher, se o lençol é manchado de sangue, a honra prova-
se ela entrega à mãe e esta leva aos pais do noivo para mostrar que a filha casou virgem e a festa
dura até Domingo pelo facto do contentamento; há a véspera que é a Sexta-feira, o dia do
casamento que é o Sábado e o Domingo.
Para o badio, é muito importante (a virgindade), mas as raparigas badias vão captando cedo a
ideia de que as mães casaram muito cedo, aos 14 e 15 anos...
Isto está a perder-se um pouco e friso que são as raparigas dos seus trinta anos, que para mim são
jovens ainda e que já não levam o casamento como levava a minha avó; se a minha avó casasse
com aquele senhor, mal ou bem, ou ele é bom ou não, teria que levá-lo até ao fim e muitas vezes
debaixo de porradas e o casamento nunca se punha em causa terminar por isso, porque era uma
vergonha para a família e esta seria falada pela sociedade, só mesmo causado pela morte...e
muitos jovens já não vêem assim e num ponto, acho que deve ser assim [Victor Moreira].
Estas afirmações do Victor permitem antever que os jovens têm vindo, ao longo
dos anos, a distanciar-se das tradições dos progenitores e a adoptar novas formas de
celebrarem os momentos importantes das suas vidas.
No que diz respeito à mentalidade, face, por exemplo, à virgindade ou à
maternidade precoce, há ideias um pouco ambivalentes que têm mais a ver com
estratégias de emancipação e autonomia face à família, do que propriamente com uma
conduta baseada nessas novas formas de viver. É esclarecedor desta afirmação o que o
Victor nos diz sobre a maternidade precoce nas raparigas do bairro.
Eu vejo que as raparigas badias têm filhos muito mais cedo, porque as informações que elas vão
captando, directa ou indirectamente, perto da família, pela forma como os pais vão falando dentro
de casa ou com as amigas; muitas vezes, quando elas conversam com as mais velhas e que as
filhas estão por perto e vão captando, elas nem imaginam que as filhas estão a tomar atenção
258
nisso, o que leva com que realmente as filhas vão metendo isso na cabeça... Por exemplo, há uma
história que diz assim: fulana, com quantos anos tiveste filho? Eu tive com 14...eu tive com 16, eu
saí de casa nessa altura...mas agora, quem me está a segurar nas mãos são eles, tive filho cedo
agora já são homens e cuidam de mim. As filhas vão ouvindo aquilo ...
Hoje em dia, os jovens não têm essa paciência, digamos assim, de cuidar dos mais velhos...cuido
de mim, olho por mim, quero viver a vida... A moda e a influência americana está a levar as
pessoas a afastarem-se, cada vez mais, dos seus familiares; por exemplo, a discoteca... Elas
querem lá saber se os velhos estão a chatear muito!
São os pais que muitas vezes prendem (as raparigas), com medo que lhe aconteça alguma
coisa...eu costumo dizer que são medos da experiência que eles já tiveram, porque só pode ser
isso...com medo de terem filhos mais cedo, porque (os pais) o fizeram e porque eles sabem o
sacrifício que passaram e, por isso, prendem tanto que a rapariga revoltada e se tiver irmãos,
ainda pior, porque é assim: vê que o irmão sai e faz tudo e os pais deixam fazer, ah, porque é
homem! Ela que é rapariga não pode fazer, porquê? Ela não consegue perceber! Ainda quando é
sozinha, tenta perceber um bocadinho e aguentar mais um pouco e dizem assim: ah, é verdade, eu
sou o único filho, eles querem estar ao pé de mim, querem o meu bem!! E algumas vão percebendo
isso, mas quando são dois filhos, um rapaz e uma rapariga, aí as coisas torce o pepino, então,
acontece que ela vai vendo que está a ser controlada demais e, ao sentir que está controlada
demais, a única forma que ela vê de ganhar liberdade (o que é erradíssimo, volto a frisar!) é
engravidar.
Eu até trabalho com jovens e costumo dizer, é errado minha gente pensarem nisso, aí não vão ter
liberdade, antes pelo contrário...
Entregam-se ao primeiro homem que aparece e daí, se o primeiro homem não tem carácter,
porque não olha pela idade, mas desde que elas tenham as maminhas redondas e sejam bem
feitinhas, agarram. E o que acontece, quando chegam a casa, é normalmente apanharem a
gravidez logo à primeira, ou já não têm a virgindade ou então saem de casa com esse homem,
resultando que os pais, a partir desse momento, já não têm uma reacção diferente para elas... e
realmente têm, já as deixam sair porque já não vale a pena; quando isto acontece, acabam sempre
por ficar com os netos, porque deixam de apostar nelas e então,as elas vêem que isso dá resultado.
O que eu acho é que esse factor está a influenciar muito mais as jovens, actualmente, à procura de
liberdade... o que na verdade não é a liberdade, porque é assim: elas sabem que ao terem relações
sexuais, ao saírem de casa com aquele rapaz, mesmo que seja só por uns dias e depois, o rapaz a
mandar embora, ou apanhar a gravidez, os pais automaticamente deixam de lhe agarrar os pés,
porque aquilo que estavam a guardar já não existe [Victor Moreira].
259
As diferenças entre badios e sampadjudos fazem-se sentir nas escolhas
profissionais, embora estas opções estejam manifestamente condicionadas pelo mercado
de trabalho. Eu devo dizer que o badio gosta de ver ou tenta realizar a sua vida rapidamente e
monetariamente, também; eu costumo dizer que realmente o badio, dado o seu orgulho, não gosta
muito de fazer empréstimos, daí, levam a trabalhar muito cedo para organizar a sua vida. O badio
não gosta de ‘ter a cara alta’ para que amanhã ninguém lhe dê com isso na cara.
O sampadjudo procura concluir os estudos e mais tarde, ter um trabalho mais qualificado como,
por exemplo, nas embaixadas e grandes repartições encontram-se mais sampadjudos do que
badios.
A ideia que circula entre os badios e os sampadjudos é a seguinte: os sampadjudos são muito mais
virados a festas, passeios e artes e o badio pensa mais no seu trabalho, porque a barriga não se
enche com festas, mas se houver momentos para gastar mais do que devia, por exemplo, nos
casamentos, baptizados, o sete, então gasta [Victor Moreira].
No bairro, há muitas tabernas, lojas ou mercearias, por isso perguntamos ao Victor
quem tem maior controlo sobre este tipo de espaços do bairro.
É mais dos badios, porque os badios têm na ideia que os sampadjudos gostam mais
de trabalho leve, de pouco esforço, mas quem tem essas tabernas e lojinhas que se
vêem nos bairros são os badios, em que eles abrem e as esposas comercializam, ou
o próprio homem faz do comércio a sua profissão, e alguns guineenses também,
pois agora estão a tomar o poder do comércio no bairro.
Na construção civil, os encarregados de obras tinham essa ideia de que os mais
escuros de Cabo Verde (os badios) eram mais trabalhadores, pois eu mesmo já fiz
essa experiência [Victor Moreira]. A perspectiva emic que adoptamos, revela-se, neste quadro, de uma grande
importância para penetrarmos no olhar dos jovens sobre si mesmos e a realidade que os
rodeia. De facto, por mais estreita que seja a relação e maior o conhecimento que o
antropólogo possa construir em torno deste complexo edifício que é uma localidade e as
vidas dos que ali vivem, nomeadamente, dos mais novos, concerteza que ficaria pela
construção de categorias e de infindáveis classificações que,por vezes, se afastam da
260
lógica daqueles que dão substância a essas mesmas categorias e classificações. Esta
forma de engendar o discurso científico parece feita à medida do que se pretende
transmitir, sobretudo, se quisermos fugir às ciladas do discurso hegemónico sobre estes
contextos e seus actores.
Os que vão morar no prédio vêm respirar o cheiro do bairro Durante o trabalho de terreno, conheci uma mulher, com mais de quarenta anos,
que vendia roupa na rua256, que tinha ido viver para o Cacém com a família e que todas
as semanas ali estava a matar saudades do bairro. Ao perguntar-lhe o que a levava a vir
ali com tanta frequência, ela explicou que se sentia triste no prédio, porque as pessoas
mal se falavam, apesar de ser muito limpo e sossegado. Faltava a alegria do bairro, o
barulho das pessoas que se cumprimentam várias vezes ao dia e que param para contar
uma história ou falar das novelas. Julguei que isto acontecesse apenas aos mais velhos,
mas o testemunho do Victor revelou-me que o bairro é, também, o sítio da juventude.
Muitas senhoras e senhores que afastam do bairro mas depois trazem as suas actividades que
faziam no bairro, vêm respirar um pouco o cheiro do bairro, pois é a forma de não perderem o
circuito do ecossistema, estão fora, mas continuam a fazer parte daquele circuito e eu sou um
exemplo, eu não vejo o Victor fora do bairro, porque sinto a necessidade do bairro...já tive
propostas aliciantes, mas o Victor nunca pensou primeiro no dinheiro porque o oxigénio do bairro
e o ecossistema faz-me falta, é o meu mundo e ter de deixá-lo... e às vezes, quando não vou dar os
ensaios é um medo...fico a pensar que o bairro já não está lá, o terreno está todo aberto!...
Eu acho que, no dia em que mandarem o bairro abaixo, muita gente vai chorar, dói muito nos
jovens, vai doer muito nas famílias...vão sofrer bastante, porque é assim, é um mundo e só quem
vive cá dentro é que sabe que não é um mundo tão violento como as pessoas pensam...
Eu gosto (do Estrela d’Àfrica) porque é como quando chega o verão e as pessoas vão para a praia:
toda a gente vem para a rua, no verão, as casas ficam vazias e o bairro todo está na rua e o mais
importante para nós: está com música...[Victor Moreira].
256 Esta mulher trazia, todas as semanas, um saco cheio de peças de roupa para vender; quando vivia no bairro Estrela d’África, fazia venda no largo e até tinha vizinhas e amigas que lhe compravam roupa. Assisti à passagem de ciganos no bairro, que também faziam ali as suas vendas, não só de roupa, como de sabonetes, garrafas de whisky, etc.
261
O bairro é um mundo...com várias culturas e comunidades
A ideia de que o bairro é um espaço onde reina a desorganização social, o caos, é
aqui contrariada no discurso directo, reflectindo este testemunho o que pensam os
moradores. Com efeito, a percepção de que o bairro é um espaço multicultural, muito
heterogéneo, mas um mundo organizado, parece não deixar muitas dúvidas a quem
convive quase diariamente com este ecossistema. A diversidade pode criar problemas de
interacção social e até alguns conflitos, porque nem todos aceitam os hábitos culturais
dos outros.
O bairro é um mundo, mas que dentro desse mundo há organização.
Nós sabemos que aqui são os guineenses e os guineenses têm o seu território e os seus hábitos e há
sempre ligação (com outros povos) não muito forte, mas ela existe, porque se não houver aquela
ligação automaticamente há conflitos.
Estamos conscientes que todas essas culturas estão aqui, eles têm as suas festas e a gente não
colabora, eles também não se chateiam, é natural, vivem a sua cultura, mas os portugueses sentem-
se incomodados com as outras culturas, porque dizem que o barulho é intenso, não têm horas limite
das suas festas e que não deixam dormir...é natural, porque eles quando fazem, têm limites e não
fazem aquela alegria por fora, mas não deixam de participar na comunidade e não deixam de
participar no ecossistema...[Victor Moreira].
Dar a palavra à população
Uma ideia que fica clara, quando se fala em associações locais ou em instituições
supralocais, é que estão um pouco distantes e conhecem mal os problemas que todos os
dias afectam as populações e, desde logo, os projectos de intervenção local acabam por
ter pouco impacto. O Victor explica o que pensa deste tipo de comportamento dos líderes
associativos locais.
Hoje em dia, nem as próprias associações têm força assim, quando vão pedir informações sobre as
culturas, não sabem...para as associações terem força têm de estar no terreno e viver diariamente
nos bairros ou as pessoas que trabalham nessas associações têm que partilhar o mesmo espaço e
hoje em dia, o que encontramos lá são pessoas de fora!
262
...Muitas reuniões e nunca há tempo para porem os pés no bairro e depois, quando vem uma
entidade qualquer, sim, a gente leva-os ao bairro...mas não é só para levar ao bairro, é perceber o
bairro...
E o que eu vejo é que as associações fazem muitas amizades, mas que têm lógicas de poder em
termos de amizade...
Neste aspecto critico muito a Câmara nesse sentido, porque fomentam isto, ouvem mais as
associações do que propriamente a população, porque nunca ouvi nenhuma associação pedir à
população que fale por ela...nunca vi uma associação reunir-se com a população e decidirem o que
esta vai dizer ou pedir à Câmara...
Eu acho que uma associação tem de ter pessoas que partilhem alguma coisa dentro do bairro, que
vivam, se for preciso dentro do bairro..
As comissões de moradores eram muito mais fortes, com presidentes do bairro e, além disso, a
associação tem de ter peso para fazer decisões lá fora, porque é a representante do bairro, mas
antes de dar qualquer coisa, qualquer entidade terá de consultar (a população do bairro) e terá de
se criar o hábito ao bairro de eles dizerem sim e responderem sim, há que ter forças de ambos os
lados...e é assim que faço para que o meu grupo funcione.
Eles (os jovens) costumam dizer que, quando o Victor diz ‘sim’, podemos estar tranquilos que ele
pensa em nós, e nunca digo A ou B sem ouvirmos a nós próprios, isso é importante, porque só
assim temos uma associação rica e forte e temos um bairro contente...eu costumo dizer que estas
(associações) já estão viciadas [Victor Moreira].
O termo comunidade é frequentemente utilizado, tanto pelos dirigentes
associativos, como pelos técnicos das autoridades locais, quando se referem às
populações destes bairros. Tentamos, neste contexto, perceber até que ponto a percepção
da população, como um todo, tem algo a ver com uma unidade conjuntural que se
operacionaliza, quando ameaças externas interferem no dia a dia da localidade. Eu estou de acordo e garanto que é assim, porque dentro do próprio bairro existem várias
comunidades, agora, é natural que as pessoas dão a ideia de que, quando acontece algo que
abrande o bairro todo, o colectivo, aí, une-se completamente para representar-se lá fora, mas
dentro do bairro há várias comunidades e não se consegue trabalhar pensando num seu todo...é
muito heterogéneo... e depois, as pessoas dizem muito, e eu não estou de acordo, é, todos os bairros
são iguais... não(!) são completamente diferentes, a pessoa que trabalha aqui com um à vontade,
concerteza que, se vai ao 6 de Maio, não trabalha à vontade.
Se quiser fazer o estudo de um bairro, não pode fazer de dois como se fosse um, não consegue e, se
fizer isto, está a fazer um erro muito grande, porque é assim, é um bairro que funciona da sua
263
forma, tem a sua organização e mesmo que estejam um ao lado do outro, funcionam (de forma)
completamente diferente...até a forma de construção e de organização do beco é diferente; por
exemplo, os becos daqui, do Estrela d’África, são rectos e os do 6 de Maio são quase todos em zig-
zag...portanto, quem fizer isto, está a fazer um erro muito grande! [ Victor Moreira].
Minorias étnicas, o que é isso?
Desde que iniciei este trabalho, evitei, no meu dia a dia no terreno, utilizar a
expressão, teoricamente fundamentada, de minoria étnica. A resposta está no mal estar e
até, um certo ponto de revolta, que suscita nas populações, especialmente nos jovens. Por
conseguinte, tentei perceber que sentimento é esse que nasce nos olhos dos jovens,
quando se coloca essa questão.
Não sei porque me deram esse nome (de minoria étnica), se calhar porque eu sou pequeno, ou será
por eu ter cor diferente do outro, ou as pessoas que me deram esse nome queriam que eu tivesse
uma cor uniforme, então o mundo todo teria que ter a mesma cor! ...
Eu acho que o mundo é rico pelo facto de termos várias cores, tons de pele, para ser mais directo.
Eu próprio, quando me dizem que eu pertenço à minoria étnica, chateio-me, porque eu pertenço a
uma comunidade que, por certas questões, trabalha e funciona assim, tem os seus hábitos...no meu
ver, foi um nome pomposo que criaram e nos deram, um rótulo...nem os próprios jovens sabem
porque nos chamam assim e não gostam... chega a um ponto que, então, os portugueses também
são porque eles também vivem assim...
Há jovens que dizem que nos chamam assim porque vivemos em barracas e eu digo que não,
porque se moras num prédio, continuas a ser (uma minoria étnica), e se não for por isso, então, é
porque somos pretos!... [Victor Moreira].
Preto, negro e racismo
É comum assistirmos a discursos ou conversas em que as pessoas (técnicos,
autarcas, académicos, etc) procuram termos que não firam os interlocutores de origem
africana ou afrodescendentes. O Victor expressa, deste modo, o que pensa sobre esta
terminologia titubeante.
264
Ser racista, tanto é da mesma cor, como é pele diferente, aí estamos assentes que eu possa ser
racista como o outro.
Tem mais a ver com questões económicas do que com a cor da pele, apesar de que, em alguns,
nota-se que é a cor da pele que incomoda!
Para mim, cada um tem a sua ideia e desde que não me toque...agora quando somos chamados
preto ou negro, aí não há racismo, o que nós sentimos é que estamos a ser ofendidos, o que nos
leva muitas vezes a sermos agressivos, porque é como chamar ‘filho da mãe’, é a mesma coisa e no
africano estas duas ofensas são por gozo e então, quando reage não reage por ser racista, mas sim,
por o ofenderem e daí surge aquela conversa – tu és racista porque me chamaste....
Quando (uma pessoa não sabe se deve chamar preto ou negro) eu prefiro que a pessoa seja
espontânea, chama aquilo que acha que me deve chamar, se me chamar preto, fico contente, se me
chamar negro, fico contente!...
...Quando alguém pensar em me chamar negro ou preto, já paro uns segundos e os olhos já me
dizem e sinto e isso dá-me força, uma raiva dentro de mim que eu interpreto como racista...é como
me chamarem directamente ou por natureza própria ...isto normalmente acontece com os polícias:
não querem ofender, mas acabam por ofender mesmo e há aqueles que chamam pretos para
ofender mesmo!...[Victor Moreira].
O povo africano é atrevido
A relação do bairro com a envolvente e desta com o bairro tem merecido a atenção
dos nossos interlocutores, ao longo desta segunda parte. Contudo, no contexto do
presente trabalho, é extremamente importante registar tudo aquilo que serve para
testemunhar se existem e como se formam ou se atenuam as fronteiras entre estes
diferentes mundos. Pelo testemunho do jovem Victor, há como que uma atitude pró-
activa da população residente, que resulta na tentativa de enfraquecer as fronteiras que se
levantam, quotidianamente, entre os habitantes e a envolvente.
O que eu devo dizer é que houve muito, há uns anos atrás, e tem desaparecido um pouco, porque o
povo do bairro é atrevido e, pelo facto de ser atrevido, eles têm ultrapassado essas barreiras...
Existe como que uma linha virtual, mas como é um povo muito atrevido... mas eu digo que a
resistência é do nosso lado, do lado do bairro...temos um ponto de referência: é no metro, no
comboio e encontramos outras pessoas, não há hipótese mas, de contrário, eu não preciso de lá
entrar, este mundo para mim...é como se não existisse aquela zona, para eles, aquela zona
desapareceu...agora, nota-se muito ao redor daqueles prédios que são alugados pelos africanos.
Isto quer dizer que eles estão a sair para os arredores e alguns estão a resistir, porque estão à
265
espera que o bairro seja mandado abaixo e daí, terem sossego, muitos alugam essencialmente a
africanos, mas depois, quando estiver mais calmo, regressam...
Para as pessoas que vivem ao redor, este mundo não existe para eles, mas como o povo africano do
bairro, que está perto deles é atrevido.... porque se não fosse, de certeza que havia barreira, porque
não viam e eles também não vinham, então, havia uma barreira claramente!
... e quando vai, é recebido com medo e como estão com medo, há que perder pelas desvantagens e
daí, acontece muitas vezes choque, assaltos, esticões, contactos físicos...[Victor Moreira]
É neste contexto que pretendemos enquadrar o grupo de jovens Estrelas Cabo-
verdianas, através do qual procuraremos entender as trajectórias de vida, as práticas e a
cultura produzida pelos jovens. A procura de compreensão dos modos de vida urbanos,
dos estilos de sociabilidade e do papel do grupo de pares e da amizade nas opções juvenis
será reservada aos capítulos que integram a terceira parte do presente trabalho.
266
Capítulo 7
IMAGENS, COEXISTÊNCIA E COMUNICAÇÃO
INTERCULTURAL
7.1. Estrela d’ África, um bairro de fronteiras?
No bairro Estrela d’África encontramos uma diversidade social, económica e
cultural que se manifesta em diferentes dimensões da vida das populações residentes.
Esta diversidade é bem visível na organização espacial e no quadro de interacção
local (Cordeiro e Costa, 1999:65), o que torna o bairro um espaço privilegiado para a
observação do processo de construção de fronteiras étnicas (Barth, 1976) entre grupos e
da gestão da plasticidade que estas implicam para a sobrevivência do bairro, bem como
as dinâmicas intergeracionais e interculturais que vão moldando a identidade de bairro.
Um olhar persistente e atento permite-nos detectar sinais manifestos de um
continuum cultural com o local de origem, que se reflecte nos modos de espacialização
(Jean Remy, 1994, in Silvano, 1997) das populações, nos modelos de organização do seu
habitat e nas formas como estes integram elementos simbólicos da comunidade.
Por seu lado, alguns migrantes internos257 abriram estabelecimentos de restauração
que se transformaram em espaços de lazer e de sociabilidade para trabalhadores da
mesma região ou de regiões próximas que, como referimos nos capítulos anteriores,
trabalham nas fábricas que envolvem o bairro, por exemplo, a fábrica de construção civil
Pereira da Costa, situada mesmo ao lado, fazendo fronteira com aquele, tem operários
que tomam diariamente as refeições num pequeno restaurante do bairro, pagam ao mês e
257 Junto aos muros da empresa Pereira da Costa, os Lameiras construíram um grande forno a lenha para cozer pão tradicional, tão do agrado dos trabalhadores de origem rural.
267
utilizam o espaço como se fosse uma colectividade, onde jogam dominó, cartas, ouvem
música, assistem colectivamente aos jogos de futebol, contam anedotas e contos, narram
histórias de vida dos familiares e da terra. A proximidade com a terra de origem é grande,
pois é lá que têm a família e os seus haveres. Sabemos hoje que os Lameiras construíam
um forno de cozer pão, também, junto aos muros da empresa Pereira da Costa e foi aí
que começaram o contacto regular com os trabalhadores. Os migrantes internos
concentraram-se na periferia do bairro, o que lhes permite uma maior interacção com a
envolvente.
As poucas famílias ciganas habitam casas que têm ligação directa à rua principal, a
Rua D. Maria / Estrada Militar.
A fixação dos guineenses e angolanos junto ao Largo pode significar uma
imigração mais recente, que vai ocupar interstícios menos densificados com
possibilidades de expansão. Os guineenses utilizam, igualmente, um largo passeio junto
às paragens do autocarro e no circuito de passagem para a estação do comboio, para
fazerem o comércio tradicional, marcarem encontros, passarem notícias de familiares e
patrícios.
Outro exemplo do que afirmamos é a distribuição espacial dos residentes, segundo
a sua ilha de origem e o traçado de ruas, becos e travessas, cujas casas desenham, no
espaço, a rede apertada de parentes e conterrâneos que as foram edificando, de forma
flexível e evolutiva, adaptadas aos ritmos e costumes quotidianos, bem como às
sucessivas alterações do grupo doméstico. Estamos a falar dos cabo-verdianos que
ocupam duas grandes zonas, consoante a ilha de origem: os sampadjudos originários,
sobretudo, da Ilha Brava, fixaram-se numa zona contígua à fileira de casas que rematam
a cintura do bairro e os badios, com origem na ilha de Santiago, numa zona interior do
bairro.
Com efeito, a morfologia que o bairro apresenta hoje reflecte, efectivamente,
vários aspectos da origem das populações (i)migrantes, dos seus estilos de vida e do seu
quotidiano, sendo alguns dos traços mais evidentes a toponímia, a configuração das ruas
e o espaço central, o largo, as denominações dos estabelecimentos comerciais, as cores e
embelezamento das fachadas das casas. Serve de exemplo a denominação do largo –
Largo da Ilha Brava – e das ruas que atravessam o interior do bairro – Rua Nossa
268
Senhora do Monte (Ilha Brava), Rua Cidade Velha e Rua Ilha de Santiago. Esta
apropriação simbólica do espaço deve-se ao facto de os primeiros residentes serem
oriundos das Ilhas Brava e de Santiago, de Cabo Verde.
fig. 48 - Placa toponímica
269
fig. 49 - Distribuição da população residente no Bairro Estrela d’África segundo a sua orgiem
étnico-regional.
270
Os moradores sabem identificar os limites destas secções, que só se tornam visíveis
a olho nu quando centramos a nossa atenção nas pessoas que permanecem à porta ou à
janela das habitações, ou quando entramos num café, taberna ou mini-mercado e nos
apercebemos que os proprietários ou frequentadores têm determinada origem étnico –
cultural ou regional (fig. 49).
A rua, os passeios e as esquinas jogam um papel importantíssimo na criação destes
círculos de sociabilidade. Neste contexto, são sobretudo as crianças adolescentes e os
jovens que dominam estes espaços.
A abordagem que fazemos, neste capítulo, tenta captar a imagem que os moradores
constróem sobre esta diversidade social e cultural e quais os processos e estratégias que
accionam para gerir a interacção social e cultural no quotidiano do bairro.
Uma das questões que reputamos de grande importância, não só para a
reconstituição da história do bairro, como também para a compreensão das categorias
que criam e das representações que os próprios moradores têm de si e dos outros com
quem coexistem, é o discurso que desenvolvem sobre o seu habitat e as pessoas com
quem interagem. Para o efeito, recorremos a algumas personagens etnográficas e
procurámos na narrativa destas uma visão do seu mundo e da interacção que estabelecem
entre si. Ao longo do trabalho de campo, fomo-nos cruzando, de forma mais ou menos
casual, com crianças, jovens e pessoas mais velhas que nos foram dando esta ideia de
dentro, nos seus próprios termos, deixando-nos pouca margem para reinventarmos um
bairro fora do contexto.
7.1.1. Os migrantes, a diversidade e as sociabilidades de bairro
Segundo a D. Helena258, o bairro começou a crescer, a partir de 1980. Numa das
conversas intermináveis, afirmou com uma certeza de quem viu crescer o bairro, que só a
partir de 1980 é que isto começou, aí a crescer cada vez mais [Helena, comerciante].
A nora de D. Helena, a Rosa, acrescentou que ali no bairro, é tudo gente de trabalho, de
boas famílias, agora lá para baixo no 6 de Maio a gente não tem conhecimento nenhum porque com essa
258 Helena Lameiras e Rosa, sua nora, são duas informantes cuja trajectória de vida se enquadra nos percursos dos migrantes internos, a que já fizemos referência.
271
gente não se brinca . Esse bairro é o fim do mundo.!? Pelo menos, tem má fama. Mas devem viver em
condições muito lástimas...![Rosa].
A Rosa afirma que não têm contacto com o bairro, porque a casa está separada
pelos quintais e por isso, não sabe muito bem o que se passa lá dentro. Claro está, que a
proximidade espacial é máxima, mas as distâncias culturais marcam a coexistência das
populações com origens étnico-culturais tão heterogéneas. O facto é que os interesses do
pequeno comércio encarregam-se de compatibilizar as diferenças numa coexistência
pacífica, porque são precisamente estas populações que frequentam os estabelecimentos,
no dia a dia do bairro. Em todo o caso, só o desconhecido é que mete medo e, sendo
assim, os africanos e ciganos, que vivem ali ao lado, são tidos como muito boas pessoas.
Nós aqui nem para o bairro estamos (virados). Nós damos aqui com este bocadinho, que são pessoas excelentes. São, sim senhora, isto tudo é cabo-verdianos. Havia brancos, mas já morreram. Tinham vindo da terra deles, é mais da Beira. É tudo do campo, principalmente da Beira Alta. E também temos ali de Braga, Faro...e de Sátão. Ali, aquela gente do Pereira da Costa, que é uma empresa, portanto, a maior parte do pessoal é todo lá de cima. Moram quase todos lá dentro, eles têm lá um estaleiro para dormir. Têm um estaleiro e um refeitório lá dentro [Rosa]. Como já referimos atrás, algumas irmãs dominicanas vivem em habitações pré-
fabricadas, perto do 6 de Maio e gerem um jardim de infância que desempenha um papel
muito importante na integração das crianças e jovens que ali residem. Apesar deste
trabalho, o impacto negativo do pequeno tráfico de estupefacientes resulta numa imagem
do bairro como covil de criminosos. Por essa razão, as pessoas que vivem na envolvente
e mesmo, em bairros similares, tendem a construir uma imagem de profunda insegurança
em torno daquele local.
Claro, claro!! Mas também quem faz aquilo não são directamente pessoas que vivem lá...portanto, os que fizeram e construíram as barracas...se não forem os filhos, só se for os netos...porque, dizem que, de vez em quando, há qualquer confusão assim com eles próprios, o próprio preto critica, aqueles já mais conscientes. Eles próprios criticam, quando uns não trabalham... talvez, quando há casos de droga, lá para baixo, há uma casa de remédios, mas não é de pessoas mais jovens. Aqui, o único barulho é quando passam aqueles rapazes que vêm das discotecas, ou sei lá... aqueles que fazem a vida nocturna e se juntam em grupos, então gritam, berram e... É à noite. Mas também têm que ter cuidado com o ouro ou qualquer coisa.
272
Há 10 anos atrás, quando eu me casei, de vez em quando eu e o meu marido íamos ao cinema, em Lisboa e voltávamos por volta das 2 da manhã, apanhávamos táxi, parávamos nas Portas de Benfica e vínhamos a pé ....hoje não se pode! Nem pensar! Mas nunca me roubaram. Saíamos, não é? Voltávamos fora de hora... aqui na esquina ou ali em baixo, é onde costumam estar certos grupos. Somos conhecidos, são pessoas de cá... por vezes podem vir os de lá de baixo e fazer barulho e iam para outros lados...os que moram directamente aqui não fazem barulho...[Rosa].
A Rosa sabe da existência de cafés e pequenas tabernas no bairro, mas afirma: eu
não conheço, mas sei que há, mas não conheço; há a nível mais de cafés; a gente não frequenta para aí.
A ocupação das pessoas
Segundo as nossas informantes, as pessoas que as rodeiam trabalham na construção
civil a nível de homem ... as mulheres trabalham, em geral, como mulher a dias, e muitas na indústria da
hotelaria... aqui, o que existe é indústria hoteleira e pronto... e trabalham a dias [Rosa] .
Gostar e desgostar de viver no bairro
Muitas pessoas já não gostam de viver no bairro. Muitas já não, derivado ao emprego. Há muitas pessoas aqui, principalmente as pessoas de cor têm já saído com...eu, pelo que tenho conhecimento, há aí casais que receberam quase 20 mil contos. Mas, depois, salvo erro, a casa é logo entregue à Câmara. Depois não voltam a ir morar lá. Mas já temos conhecimento que aderem (ao programa especial de realojamento –PER). Depois, acho que vão à Caixa Geral de Depósitos, porque tem os juros mais baixos... O comentário que andou por aí é assim: isto vai abaixo... isto vai abaixo... e aquelas pessoas que têm um bocadinho mais de possibilidade, não é! ... recorrem à câmara e têm o seu dinheiro, a sua casa e depois fazem o favor de dizer que quem chegar em último que a câmara não tem dinheiro para pagar a toda a gente e que não sei quê.... e pelo menos umas 4 ou 5 famílias sabemos que já saíram daqui... Olhe, eu também já estou a comprar mas, se eu tivesse escolha ia para lá (para a terra natal) é totalmente diferente; vive-se muito bem. Hoje em dia, pelo menos lá para as nossas zonas vive-se muito bem. As pessoas já lá têm fábricas. Hoje em dia, mesmo as mulheres que vivem lá no campo já levantam às 8, já não é o que era !!! Qualquer mulher já vai ao cabeleireiro ... já... já.... oh, oh!!! [Rosa].
Como matar o tempo quando se está longe da família
O café-restaurante Parreira tem um amplo espaço que é utilizado para as refeições
da clientela quase certa de algumas empresas locais mas, fora das refeições, transforma-
se num espaço de sociabilidade, um ponto de encontro de conterrâneos e amigos, bem
como de colegas de trabalho.
273
As horas que passei neste espaço, a almoçar ou, simplesmente, a conversar debaixo
da parreira, deram-me possibilidade de observar como era utilizado como ponto de
encontro para a cavaqueira e para o jogo. Até mesmo os Lameiras se sentavam à mesa a
jogar dominó e cartas com os clientes, como se nestes momentos todos fossem iguais.
Contudo, havia diferenças significativas, porque grande parte dos clientes eram
assalariados que trabalhavam, e trabalham ainda hoje, nas empresas localizadas na
proximidade do bairro e cujos ordenados não lhes permitia andar a gastar dinheiro pela
cidade. Assim, velhos e novos, homens de origens diferentes, ali se encontram para mais
uma partida e mais um copo que, afinal de contas, ajudam a matar as saudades da família
e o tempo.
As pessoas jogam às cartas ...os homens jogam... Eu ainda agora estava a jogar a sueca!!! Os mais novos...olhe aqui, há os de 18 a jogar às cartas, como os 60...61, por exemplo; agarra a malta, já estão de férias, mas aos fins-de-semana quando não estão a trabalhar, encontram-se aqui... Lá para o mês que vem, já tá aí tudo cheio...agora, está tudo de férias. Vão para fora, muitos. Aqueles que trabalham no Pereira de Costa, às vezes fazem aqueles trabalhos de empreitada. Não há aí uma casa como a minha, aqui, não é de luxo!! Sim, sim ... mas a maioria dos clientes são tratados como familiares... e depois, aqui, também não se leva caro [Rosa].
Ali convive-se, mata-se as saudades da terra e sublima-se o esforço a que o
trabalho obriga. Passa-se o tempo a jogar às cartas, ao dominó ou aos matraquilhos... o
pessoal quer é passar o tempo!! Bebem, sobretudo cerveja e, às vezes, um copo de
mistura com gasosa, é que, na sua ideia, a água com o vinho faz mal... Aqui fica o
testemunho do Sr. Branco259.
É... às vezes faz uma feijoada à transmontana ... eu gosto muito, sim senhora; quando não agrada,
come-se umas costelas fritas e outras coisas...
Pagamos ao mês...
O pequeno almoço não, é só almoço e jantar. Saio daqui às 7 horas e 30m para o trabalho e, se
puder, venho ao almoço...
Em vez de pagar um conto e tal lá fora, aqui uma pessoa paga 700$ ou 800$, já é algum
dinheiro...É mais barato, já sabe o que tem aqui..!
259 O Sr. Branco é operário da construção civil, na Empresa Pereira da Costa e cliente diário dos Lameiras.
274
Se for lá fora ,por exemplo a gente paga mais, mas se for uma pessoa, diariamente, paga menos. É
um preço especial, agora, se uma pessoa vai pagar 1.200$ ou 1.300$ ao fim de um mês, não dá
para comer... Então não é ! Não ganha, é muita massa. Se uma pessoa só ganha 100.000$ por
mês!!! Então, ia para a minha terra, lá, ganhava pouco, mas ia comer lá casa...[Branco].
As refeições no Parreira ficam mais baratas e além do mais, pode-se pagar ao mês,
como se faz na mercearia da terra. Por isso mesmo, muitos trabalhadores da Pereira da
Costa almoçam nos Parreira e pagam ao mês. Aquele é um espaço quase doméstico, cujo
ambiente serve para substituir, na medida do possível, o apoio familiar que está longe.
O problema está nos mais novos
O ambiente do bairro e envolvente tem passado por fases mais ou menos pacíficas.
O nosso interlocutor identifica locais povoados e controlados pela acção dos
adolescentes que, a mando dos mais velhos, acabam por assaltar pessoas, em plena rua,
ou lojas menos prevenidas260.
De há poucos anos para cá, a deslocação do tráfico de estupefacientes,
nomeadamente, do Casal Ventoso para alguns destes bairros, provocou, por um lado,
uma forte e diária intervenção policial e por outro, uma dependência cada vez maior de
sectores da população deste negócio. Em consequência desta actividade, a zona começou
a ser fustigada pela insegurança e o medo mas, mesmo assim, não se tornou um reduto de
criminosos, como testemunha o Sr. Branco que ali passa todos os dias.
Há uns anos, era um tempo que os africanos... não havia aquela coisa de os africanos, não metiam
problemas e.... agora está mais ou menos...
Agora isto está muito calmo... de uns anos para cá, já abrandou !!! Não se podia passar aqui de
noite, a certas horas não se podia passar...
Há 4, mais ou menos, não se podia passar..... há 6 anos...
A polícia andava aí em cima deles por um tempo e acabou por abrandar, mas a pessoa não podia
andar aí na rua ...!
E assaltavam aí o pessoal... juntavam-se uns quatro ou cinco...eram os africanos novos! Os novos
vinham à frente e depois, os mais velhitos atrás... e faziam naquela curva ali....
260 Não é raro ver, no pequeno comércio ou em lojas de desporto na Amadora, jovens afrodescendentes que trabalham ao balcão e cuja presença pode ser inibidora de assaltos por parte dos mais novos.
275
Ali é que era o pior, a obra era ali.... tinha que parar primeiro, para ver se o pessoal estava ali ou
não ...!
Aqui (no Parreira) há bom ambiente e aos sábados, há muita gente... come e bebe..., agora do
banco de fora para aqui, é que fazem barulho, mas são esses ... não são os que estão aqui porque
os conheço bem.
É tudo gente de trabalho.
É gente de trabalho, agora aqui a malta bebe, come e prontos ... lá fora é outra gente....
Para mim, até aqui à data, têm sido umas pessoas mais ou menos... Sim, até à data, agora daí para
a frente não sei. Até hoje, é senhor Branco assim, senhor Branco assado, para quem me conhece,
porque por quem não me conhece é bom dia e boa tarde..
Os mais pequeninos, se houver aí alguma coisa, diz-se aos pais ou... isso também já estão
normalizados... Já estão no normal... antigamente os mais novos... mas agora já não, agora já
estão mais... mais... Agora já estão mais sossegados.
Racismo? Não, não há... o racismo aqui não, aqui, tanto é para branco como para preto. É igual, o
pessoal entra come, bebe...[Branco].
O Sr. Branco, tal como a maioria dos migrantes internos que ali habita, não se
desloca para dentro do bairro. Parece haver uma fronteira que separa estes mundos
quando se trata de cruzar espaços domésticos.
Lá para dentro, para os lados do largo, não tenho ido para ali, para ali não vou. Não, ali para os
lados das Fontaínhas tenho passado... Não, como trabalho aqui, venho por aqui, vou à Damaia de
Cima ou à Damaia de Baixo até às Portas de Benfica...[Branco].
Apesar dos escassos metros que separam esta secção do bairro, do largo da Ilha
Brava, a distância parece ser enorme, como se de outro mundo se tratasse. Este aspecto
parece sugerir uma ideia de espaço fragmentado que só se revela comunidade quando o
exterior adverso põe em risco a existência do bairro.
7.1.2. Presença cigana
Questionado com a presença dos ciganos no bairro, o Sr. Branco mostrou que tem
uma boa opinião das famílias que vivem mesmo ali ao lado do local que frequenta todos
os dias, isto é, a casa de pasto dos Lameiras.
276
Não... esses aqui, frequentam. Ainda hoje, estiveram cá, mas não comem, só beber...comer não..!
Sim, a comida aqui não...a alguém, andava aí um rapaz que se chama Zé... Pois, também não são
muitos, são para aí uns quatro, têm a tia cá, também.
Já cá estão há 15 anos e são uns gajos porreiros, não tenho problemas com eles.
Com os ciganos, para já, não tenho tido problemas com eles, nem ninguém daqui... temos andado
muito bem, agora com os africanos!! Fazem assim uns barulhozitos... [Branco]
A D. Helena tem como vizinhos as famílias ciganas que vivem no bairro, daí a
importância de conhecer a imagem que tem destas populações, sobretudo, no que diz
respeito às relações de vizinhança. À nossa pergunta de quem são os vizinhos e como se
dá com eles, responde:
São, são ciganos!
O ambiente? Oh, conforme!
A gente liga pouco... só uma vez é que, por causa de uma filha, é que vieram aqui e partiram a
vitrine toda, espalharam as garrafas de cervejas pelo salão fora e a gente sem ter culpa nenhuma,
porque a filha tinha fugido, porque ela queria namorar com um rapaz madeirense e o pai não
queria o rapaz madeirense, queria que ela se casasse com um cigano e ele fugiu de casa e nós
dizíamos que não sabíamos de nada e a partir daí, nós não tivemos problemas com ninguém...
Não, nem pretos, nem brancos.
Frequentam muito a minha casa, muitos, muitos pretos e ainda agora, houve bola no domingo, era
a casa cheia.
E como o meu filho é boa pessoa e trata bem as pessoas, não é ...!
É assim, porque também as pessoas vêm a casa das outras derivados ao bom comportamento, não é
É mesma coisa, tenho aí pessoas brancas maravilhosas, temos aí africanos: cabo-verdianos,
angolanos, guineenses....todo.
Sim muito, com o meu filho, ele dá-se bem com toda gente .. é assim [Helena Lameiras].
A nora da D. Helena, a Rosa, faz questão de afirmar que ciganos de fora andam aí
à frente, na praça, a vender e até familiares (dos que estão cá a viver). Como pelo
menos uma família cigana vive numa casa com boa construção, virada para a Rua D.
Maria, perguntámos se conheciam esta família. Sim, mas pelo ambiente ...a gente não sabe o que se passa à nossa frente.
E isto já vem de longe, porque já vem derivado do pai, que já morreu.
Sim morreu em Agosto, há 4 anos, quando houve aquele tiroteio de ciganos no Relógio [Rosa].
277
A D. Helena dá a sua opinião sobre estes vizinhos um pouco enigmáticos, com
recursos, mas também com grandes fatalidades a marcar as suas vidas. Mataram (o chefe de família), sim senhora.
Olha que tiveram aqui uma semana, até ali, àquele cruzamento, cheio de ciganos, os autocarros
nem passavam... mas à noite, nem uma mosca a gente sentia..
Não fazem barulho nenhum, não senhora! [Helena Lameiras]
7.1.3. Os cabo-verdianos: duas gerações entre a continuidade e a
mudança
Os fragmentos de vida e as preocupações expressas pelos nossos interlocutores
permitem, justamente, situar os jovens no contexto de um bairro povoado por pessoas
com diferentes idiomas e diferentes cosmogonias, nem sempre de fácil leitura.
Benjamim Moreno261 e Gualdina Lopes262 pertencem a uma geração de
imigrantes, cujos esforços foram quase exclusivamente direccionados para a
sobrevivência e para a criação de condições de vida diferentes para os filhos. No caso da
Ina, diminuitivo de Gualdina, está bem presente a crença no sobrenatural e na forma
como esta condiciona as suas vidas. Não podemos dizer que é algo de pré-moderno
porque, um pouco por toda a cidade e em todas as classes, existem pessoas extremamente
crentes nestas forças e que aplicam avultadas verbas para as controlarem. Benjamim
Moreno centra-se num dos maiores problemas contemporâneos que perpassa toda a
sociedade portuguesa, mas que, nestes contextos, provocam um impacto diário na vida
dos moradores: o tráfico e consumo de drogas e a violência que lhe está associada.
Vejamos como estes aspectos são vividos pelos nossos informantes.
261 Informante cabo-verdiano a que aludimos anteriormente, presidente da primeira comissão de moradores do bairro. 262 Gualdina Lopes foi uma das primeiras informantes cabo-verdianas que nos apoiaram no início do trabalho de terreno.
278
A ameaça da droga no bairro
Nos finais dos anos 80 e início dos anos 90, o bairro atravessou uma fase de
desassossego provocado pelo receio da existência, mesmo no interior do bairro Estrela
d’África, de um grupo de jovens que começara a traficar algumas substâncias ilícitas.
Este facto atraía ao bairro outros adolescentes e jovens que ali se deslocavam para
adquirir o produto. Teve início um processo de controlo do movimento destes jovens,
que contou com a mobilização de alguns sectores da população, mais atentos ao
problema das drogas e das consequências para as crianças e adolescentes da zona. Assim,
conseguiram estancar a sangria a tempo e evitar que o tráfico de estupefacientes se
implantasse no Estrela d’África. Durante o trabalho de campo, falei com mulheres, cujos
filhos tinham sido presos, acusados de venderam droga, e mães, cujos filhos tinham
morrido em consequência do consumo. Neste último caso, um dos jovens que tinha
morrido era o principal apoio da família, pelo que a sua morte tinha trazido a miséria
àquela casa.
Hoje em dia, este movimento mantém-se nas margens do bairro, isto é, em becos
próximos das saídas e é protagonizado, muitas vezes, por filhos de migrantes internos.
Contudo, o problema não atinge as dimensões de bairros vizinhos, onde o problema se
alastrou e domina muitos aspectos da vida das pessoas.
O Sr. Benjamim conta-nos como conseguiram erradicar este problema do interior
do Estrela d’África.
Eu fui para a França, estive cinco anos sem estar aqui no bairro e assim que voltei, chamaram-me
logo...respondi eu não tenho tempo disponível para estar a trabalhar nisso(na Associação Unidos
de Cabo Verde.)
Foi na altura em que a droga começou aqui, com força...a droga começou com um rapaz e uma
rapariga que viviam aqui, depois daqui, não sei se eles foram chamar os outros, como é que se
alastrou ...
...E assim foi, começamos a criar um grupo de jovens, a Mena (Filomena, filha mais velha do Sr.
Benjamim) participou....Isto foi há seis anos, em 1993...depois começamos a dar volta a essa
“coisa” da droga, mas secretamente...já foram presos alguns, mas mais tarde, todo o problema
aqui é que eles foram presos e pronto, aquela miúda que começou, já cá não está também, está lá
para o Algarve, mas ela tem vindo cá e o filho é excelente... tem uns 16, 17 anos...vive cá no bairro,
279
sozinho, mas é excelente....fez estudos e tudo, é o melhor que lá está , faz a vida dele, normal; o
outro está preso, mas foi mais tarde, foi depois que acabou a invasão aqui...nós tomamos a
iniciativa, mas foi secreto, porque se eles soubessem que nós ...ou telefonavam para a polícia, ou
falava alguém que podia falar com a polícia, eram capazes de nos matar... Estavam a ser
controlados e depois, então desapareceram, eram guineenses a vender droga aqui no bairro, tudo
guineenses, havia três ou quatro cabo-verdianos, eles eram comandantes do grupo, eles às vezes
nem vendiam, ficavam encostados a olhar, olhar, e os outros é que faziam o trabalho, depois as
pessoas passavam por cima da ponte, viam aquilo, vendiam na presença dos miúdos, então a
polícia começou a tomar a iniciativa, houve um dia que a polícia veio por aqui, cercaram lá em
baixo, nesta rua, foram para ali para a fábrica, cercaram-nos, eles foram no meio, foi a partir daí
que começou a abrandar.
Quando eles iam por ali (pela Rua de Santiago), porque era mais perto, a polícia já lá estava,
agarrava; alguns que fugiam para a fábrica, a polícia lançava naquela curva e diziam ‘pára, você
aí não passa’ [Benjamim Moreno].
O quotidiano de alguns destes bairros está marcado pelas incursões da polícia, que
tenta identificar os responsáveis pela venda de estupefacientes e detectar os locais onde o
produto é guardado até à transacção. A vigilância exercida sobre os moradores apresenta
contornos de controlo do tipo panóptico, que obriga a diferentes estratégias de defesa.
Por isso, a relação dos jovens destes bairros com a polícia é muito hostil e revela
desconfianças, injustiças e conflitos permanentes.
Uma outra moradora do bairro Estrela d’África, que convive diariamente com estes
cenários, é Gualdina Lopes, de diminuitivo Ina, uma cabo-verdiana de 53 anos que, no
quadro desta pesquisa, foi uma das personagens etnográficas chave.
Com efeito, no início do trabalho de campo, a Ina teve um papel muito importante
na descoberta do bairro, a partir de um beco onde se concentravam diferentes jovens que
pareciam ter algo em comum. A curiosidade que suscitaram valeu-me dias a fio e horas
sem fim, até noite dentro, sentada numa cadeira partida, gentilmente emprestada pela Ina.
Esta vendia milho assado, na rua e dizia, frequentemente, que eu lhe dava sorte na venda,
ao mesmo tempo que me ia falando de um ou outro jovem dali e das suas relações de
vizinhança.
Um dia, a Ina convidou-me para comer uma cachupa bem preparada por ela, na sua
casa. Recebeu-me na sala repleta de móveis e de pequenos objectos, entre os quais se
280
destacava uma imagem de Nossa Senhora de Fátima rodeada de flores; o frigorífico, o
micro-ondas e a televisão, a um canto, faziam parte deste conjunto. A notícia da morte de
Amália Rodrigues levava a Ina a descrever momentos em que a observava, em Alcântara,
local onde tinha sido sua vizinha, antes de vir residir para o Estrela d’África.
Mas quem é, afinal, a Ina e que imagem tem deste bairro?
Gauldina Lopes Moreira é cabo-verdiana e tem, como refere,
56 anos no documento, mas tenho 53.Tenho dois irmãos, mas não tenho cá família (no bairro); vêm
cá me visitar, tenho cá um irmão que está em Queijas, tenho outro que mora em Miraflores; esteve
aqui, ele e o meu sobrinho, há três semanas.
Tenho uma (irmã)cá, outra em Cabo Verde; em Cabo Verde éramos nove, morreu um, ficámos
oito, tenho, lá, sete irmãos.
Somos sete... aqui tem mais um, em Miraflores, estamos quatro, mais esse de Queijas, onde está a
minha mãe....ela é Alberta Lopes Moreira e eu sou Gualdina Lopes Moreira.
O pai já morreu, faz em 31 de Setembro (1999), 11 anos que ele faleceu, em Cabo Verde, faltavam
quatro meses para o Natal.
A minha ilha é Santiago, freguesia de S. Lourenço dos Órgãos.... e o mais novo criou com a minha
mãe... foi com o meu pai, eu não dava muito bem a minha madrasta.... ela andava sempre a me
chatear, sempre me censurava e deixei, vim-me embora... O meu irmão foi para a tropa, em
Angola... depois, voltou para aqui e ficou aqui, mora em Queijas, com os filhos, às vezes, ajuda-me,
eu também ajudo, mas não é o suficiente... ele também tem 5 filhos mais 2 que tem fora, que é de
outra mulher, o outro, de Miraflores, não tem filhos mas tem mulher...
Vim (para aqui morar)com a família, com a filha e o homem com ....
O filho está cá, mora na Amadora, às vezes aparece cá...
Agora, não me lembro ( a idade do filho), mas acho que tem 44 ou 45 anos.
Trabalha na construção.
A filha trabalha num café, numa lavandaria, ali, em Massamá. Mas como era muito cansativo para
ela e tinha que gastar gasolina, o patrão não dava-lhe o transporte, ela deixou e foi trabalhar para
as limpezas, deixou as limpezas e arranjou trabalho num café. Chama-se Ana Paula, tem um filho,
vive ali na Cruz de Pau [Ina, 53 anos].
A D. Ina veio viver para o bairro, há uns doze anos, já o bairro tinha muitas casas,
mas diz-nos: vieram construir outras casas praticamente já tinha a minha casa toda, o primeiro andar,
lá atrás...
Nessa altura, trabalhava em Lisboa, nas limpezas, pois tinha que trabalhar!
Entrava de manhã; foram vários anos.... alguns já morreram.
281
Depois disso, fui trabalhar em Alfragide, numa firma, num laboratório de medicamentos, não sei
se era por conta de uma empresa. Eu lá ....hummm...iam pagar à gente no fim do mês.
A 18 de março, faz 6 anos que eu caí, aliás, em 1994. Foi mesmo no trabalho...
...Não (deram indemnização), deram-me qualquer... depois dali fiquei à espera para trabalhar.
Tenho o caso em tribunal, o médico disse que eu já podia trabalhar, mas com a coluna fracturada,
como é que eu posso ir trabalhar, em 6 meses, andava dobrada, as costas não podiam levantar, eu
ia trabalhar? Estava pronta para trabalhar, eu não fui!! Ele disse para que...vai embora, vai
trabalhar!! Depois, ele disse para mim: ah, vai fazer o que tens para fazer! Pedi que me desse
aquele envelope fechado que é para levar para seguro, então fui ali à frente do Arquivo de
Identificação e mandei abrir e tirar fotocópias, dei uma para o Tribunal e guardei uma.
Estou à espera, até agora, ainda não sei nada (da decisão do Tribunal).
O médico é dos seguros, ali na rua dos Santos. Eu disse ao médico, ele mandou-me ir buscar o
papel na Caixa e ainda disse que não me dão...!
Já falei com o médico da Caixa, que disse para eu ir buscar o papel, mas não vão dar que escuso
de lá ir e acabei por não ir buscar o papel [Ina].
Tal como tantas outras mulheres cabo-verdianas, a Ina trabalhou numa empresa de
limpezas. Como trabalhadora imigrante, a sua história revela as dificuldades e barreiras
que estes trabalhadores encontram pela frente, das quais resulta, em boa medida, uma
condição de pobreza não desejada. A burocracia e a forma como as instituições lidam
com os processos mais complicados, como é o caso de doença ou de acidente, que foi
atrás relatado, atira estas pessoas para o estádio de sobrevivência e para o refúgio nas
forças sobrenaturais.
O problema dos miúdos desocupados
A Ina era uma pessoa muito afável para a malta nova. Mas nem toda a gente pensa
que é inocente esta relação. Por exemplo, a D. Maria, natural do Norte e dona de um dos
cafés junto ao beco onde vive a Ina, desconfia que ela encobre os jovens que têm
actividades menos lícitas e, por isso, transmite-lhe uma certa agressividade. Assisti, no
terreno, a vários confrontos de palavras que eram reveladoras desta desconfiança e que
aumentavam de tom na minha presença.
282
O ano passado, estava a tomar conta de um café, depois entreguei o café fui para a casa da minha
prima, nas Fontaínhas....
É um ambiente pesado... as pessoas, às vezes...na mão...ai meu Deus do céu! Aqui, neste bairro,
pode-se dizer que é muito melhor. É muito, muito sossegado.
Prontos, aqui não devia de haver sarilho !!!
Nas Fontaínhas, ai meu Deus do céu ! Um dia, assaltaram um homem, correram com ele, largaram
a carteira ao pé mim, eu agarrei a carteira e dei ao homem na mão...Eu não sei (o que os miúdos)
não sei o que pensam !
Estão desocupados, não vão à escola, andam na rua e muitas vezes, as mães não podem com
eles...Há uns que deixam as mães dormir e saem, a mãe não sabe...à noite...
À noite, só fazem porcaria à noite... ! Os rapazes daqui, não! Aqui, também temos algumas
crianças, mas não fazem porcaria...chega às tantas da noite, cada um vai para caminha, e mais
nada. Mas ali, mais em cima, no 6 de Maio.... muitas vezes, também...
Mas aqui, nesta zona é muito diferente, muito diferente... a vida também tem que se sustentar.... há
pouco tempo, roubaram um homem, a roupa, ali na praça, o homem correu ele gritava, os outros
corriam atrás dele... só que as pessoas daqui...
Podem estar de manhã à noite, mas ninguém mexe aqui, isto é, quem vem de ... ainda ontem à noite,
estavam a repetir... dois rapazes, quando vêm para aqui se divertir com os outros rapazes...Sim e
com uns palavrões feios! Até a minha prima, noutro dia, disse que ia correr com ele e assim vai
deixar de dizer palavrões .... está ali a conviver, convive, brinca, ri, é diferente, agora aqueles
palavrões, não dá!!!– Não gosto nada....Ninguém gosta... estão ali e...
(a malta nova, aqui, é sossegada). Não, eles quase não falam... falam com os companheiros e... dali
até aquela rua é um santo. Chega a malta doutro lado, chama... aqui mora o neto dessa senhora,
aqui ao lado (a D. Maria) e o filho da minha prima, esses são amigos, falam, cada um tem a sua
namorada e quando chega a altura, uns vão para o trabalho, outros para a escola, uns ficam ...
Alguns falam crioulo.
Não falam, falam português!!!
Falam, é tudo malta boa para mim...!
É, é ... é Ina para aqui, Ina para lá....
Estão sempre a chamar a Ina... ainda hoje, vieram duas pessoas sempre a chamar pela Ina, como
está ! Se já estou melhor! Eu dou bem com toda a gente...É, graças a deus ( sou muito respeitada) [
Ina].
283
Coisas de vizinhas...
Ao longo do trabalho de campo, pude testemunhar as dificuldades de
relacionamento entre a D. Gualdina e a D. Maria, proprietária do café situado na Rua do
Apeadeiro, já dentro do beco. Antigamente, vendia umas cervejinhas ali dentro, mas agora a senhora (D. Maria) anda sempre a
discutir comigo...
Sim, a D. Maria discutia comigo!
Não, estou a pensar em comprar umas meias, comprar aquilo para vende, ...não gosto de estar
parada.
Gostava de vender (no Mercado Municipal), mas aquilo é caro, a Câmara cobra...
Não posso estar muito tempo de pé, se tiver muito tempo de pé, cansa-me as costas.
Aqui no bairro, as pessoas são quase todas cabo-verdianos, muitos !!!
Guineenses, há muitos e cabo-verdianos ...
Dou bem com toda a gente!...[Ina].
A venda do milho assado é para sobreviver...
Depois do acidente de trabalho, a Ina teve de se ocupar com outras formas de
ganhar o sustento. Parar é morrer, por isso, tentou montar uma actividade que obrigasse
a um investimento mínimo. A venda na rua, de milho assado, foi a solução encontrada. Havia um senhor que já morreu, o falecido Juvêncio, ele disse para mim, porque é que tu não achas
milho para vender!? Foi comprar o milho, eu depois paguei-lhe, ele disse, agora, queima o milho,
depois, põe na brasa com carvão e assa o milho para vender, foi ele que me ensinou a vender...
Comecei a vender, há muitos anos, antes de ter partido a coluna... Antes, estive uns tempos parada,
e depois o milho dá dinheiro para o café, para o óleo, e às vezes dá para a água e a luz...
Depois comecei a rir e disse: toma o milho e assa-o, sou filho de um homem que gosta muito de
trabalhar! Comecei a rir... e naquele dia, mesmo ele achava o milho, ali em cima e quando o milho
acabava, ele mandava-me buscar mais para acabar de vender o milho... foi assim que aprendi a
vender o milho...é verdade!...Muita gente vem aqui comprar!
Naquele dia, vendi o milho e muita gente veio bater na porta a perguntar: não há milho, não há
milho ???
Agora, quem traz o milho é um senhor que vende na feira de Alcobaça, em Santarém, com muito
sacrifício, com a carrinha dele, com a mulher dele e às vezes, trás os filhos.. coitado! É vida , não é
!?
284
Ele disse que tem que semear, tem que lavrar, tem que isto, tem que aquilo... compra, vende o milho
e quando acaba de vender, recolhe o dinheiro que é para fazer compras...[Ina].
Doença de espírito: quando o finado vem tomar as pessoas
Um dia, a Ina disse-me que andava muito mal disposta, sempre a cair, sempre com
azar. Percebi que isto era importante para o espírito das pessoas, isto é, para uma pessoa
estar saudável ou não, que as doenças de espíritos são muito graves. O que a Ina sentia,
para chegar à conclusão que tinha qualquer problema, não é nada que as pessoas não
receiem que lhes aconteça, nomeadamente, os cabo-verdianos, isto é, que encoste
espírito de finado. Apesar de maioritariamente católica, a população tenta exorcizar os
medos e perigos e para tal, não poupam em ritos de passagem, sempre que alguém morre,
cumprindo meticulosamente tudo o que está prescrito na tradição.
Os mais novos, embora respeitem, têm já um olhar distanciado em relação ao
mundo dos espíritos. É uma dimensão do transcendental que não aflige as suas jovens
vidas. A Ina conta-nos uma história igual a tantas outras que correm no segredo, que só
as paredes das casas testemunham, ou alguém com quem se tem intimidade. ...Eu olhava...tinha visões não, olhava e via pessoas; não, eu não conhecia.
Era homem, depois de ele falar explicou quem era.
Aparecia às vezes é de noite, às vezes é de dia.
Explicou quem era ... depois fui perguntar um primo, agora ele deve ter 60 e tal anos, perguntei a
ele, se ele conhecia algum senhor chamado, Bermiro!!!
Ele lembrou,... deixou o endereço de onde ele morava .
Num lugar chamado Travessa de Goiava, foi assim que ele disse para mim, eu já sabia quem era,
mas esse senhor já morreu há muito tempo, ele era mau na vida.
Era muito mau na vida, bateu na mulher até morrer, daí, ele disse para mim....
Então... a minha filha andava sempre caída no chão, ela era clarinha e ficava toda manchada...
havia uma senhora que sabia a casa dessa senhora, mas ele não queria levar.
Não, a mulher... a minha filha fazia barulho com ela, ela ainda discutiu, discutiu... ela já foi ao
médico, mas cada vez que tinha alguma coisa, ia ao médico e nada se resolvia... então, foi ali levar,
ali à casa daquele senhor, em Miraflores, o senhor é moçambicano... levaram e então retirou
aquilo que estava com ela...
Era um espirito, o mesmo que eu tinha...
A mim, eu olhava, andava ... mas, a partir daí, ela não sabia o que era ... e eu também não...
285
Falava e tudo, dizia o nome, tudo!...
Era um espanto, eu olhava para ele, tinha um chapéu grande na cabeça, assim muito alto, muito
clarinho, com bengala na mão e de fato !! Houve um dia que a Paula viu e ele disse que eu tinha a
vista muito comprida...que eu olhava muito, que eu estava sempre a ... depois falou, falou...
Eu vim com ele para cá !!!...
Eu já vim com isso, então, depois....
Nós dizemos que o finado vem tomar as pessoas... dali, eu fui... nos dias em que era para ir para lá
era uma confusão, porque eu não queria ir, não queria!!! Disse que o corpo era dele, depois a
senhora disse para ele que o corpo não era dele e para ele se retirar, para ir... gritei.... gritei... dei
no chão e quando vim para cá vim de ... de rastos, muito cansada... depois, a senhora disse que eu
tinha uma ferida por dentro.
Não, já nunca mais vi (o homem)...saiu mesmo (do corpo)!
Aparecia em vários sítios...fora de casa e dentro também... ele andava comigo..! Um dia, ele foi
para aquele lado e aquela hora ainda o vi... no Natal foi assim, eu olhei e ele estava no corredor,
no corredor da casa, ali noutro lado, eu olhei para ele e disse: vai para o teu lugar que não é
aqui... retire-se, vai para o espaço, vai para o mar!! E daí desapareceu! Vi-lhe mais uma vez, na
cozinha, mas eu não disse nada à Paula, porque ela tinha medo, sim...
Fui dormir, mas embora estivesse na cama, só dormia às vezes, quando estava muito cansada,
fiquei lá deitada de costas e de repente, virei a cara e ele estava ao pé da cama, ajoelhado, com o
chapéu na cabeça, a bengala na mão... olhei para ele, passei por ele e foi à casa de banho, quando
voltei, olhei para ele desconjurei-o e ele desapareceu..!!!
(Para o desconjurar) dizia assim: vai para o espaço! ...vai para o mar!,.. vai para onde Deus
vai...depois, ele disse-me que eu estou farta de o desconjurar, que ele espanta que já o mandei para
retirar-se... mas, até que enfim. Eu cheguei a ir no lugar, andei mesmo para tirar preguiça, não
tinha sorte com nada, não tinha sorte com os negócios, nadinha!!! Chegou aquele dia e fui
mesmo...a senhora amarou-o e meteu-o num frasco... Amarrou e levou para o mar e cavou para
enterrar.
Da maneira como eu estava, não via nada...
Foi mesmo naquele dia...os meus irmãos deram-me dinheiro e agora tenho que acabar de pagar,
são sessenta mil escudos (60.000$00 ).
Levei 2 a 3 anos a pagar...são muito caros, porque só eles é que podem tirar.
Essa senhora (a curandeira do bairro), aí em baixo, é minha prima...
É difícil encontrar alguém para fazer esse trabalho...é muito difícil! Já fui a uma senhora que se
chama Fátima, em Sintra, já ouviu falar dela?
(E este senhor que é guineense e mora aqui ao lado da Ina) ele trata, também...
286
Têm mesmo muita (sabedoria) ...mas eles a mim, não (trataram) ... aquilo foi posto pela minha
madrasta e uma senhora que pôs ... Foi aquele que matou a minha mãe com essa porcaria,
também!!...
...não vou dizer para ela, nem o filho sabe... o outro irmão não vou dizer nada, porque a mãe é dela
...
Ela está viva, mas eu tenho que mudar o meu corpo para ir a Cabo-Verde.
Chego lá, comprimento e falo com ela.
Vou falar com ela... aquilo que fizeram para mim e para minha mãe, obrigadinho...! Mais nada !!!
Com a idade de 16 anos que eu tive, assim ...sem sorte nenhuma... essa porcaria, andava atrás de
mim , eu via , via um espírito mau atrás de mim...durante muitos anos...
Só agora é que consegui livrar dele!!! Ainda com vontade de voltar, mas já não posso
fazer...pediram para voltar... já foi, foi um Sr. Caí, em baixo: foi meu primo também, eu tinha uma
seta atrás de mim, mandou as setas atrás de mim ... um dia, foi com a D. Susana , muito amiga
minha, considero ela, minha mãe... e fui à Espanha, vimos ela na estação de comboio ... eu vi , eu vi
aquele espírito tão grande, parece um vulcão de terra, lixo ...eu pus a mão no rosto do meu filho e
disse : Credo, credo, credo, depois de um tempo, vi ele a ir assim!
Quando desconjurei-o, depois, a D. Fernanda ... depois vinha a falar, ali que era para a D.
Filomena não andar comigo, porque se andar comigo, um dia vai ficar oca.
A mesma (dizia isso) ela falava, agora, Deus levou para no lugar dela, ai dela que me
atrapalhe...via para ela assim ; meio branca.
Pois, mas tem que eu via com estes meus dois olhos, que entra dum lado da porta e ele doutro...
primeiro, comecei a ver...
Eu nunca acreditava em nada, quando me disseram, vocês acreditam em tudo...não, não
acreditava, nem nos tempos que via ...
Ah! Quais histórias, quais carapuças, vocês também (não são espíritos) gostam de mistura disto,
daquilo... agora embirram com as pessoas, para quê que me dizem isso!.. Ah, qual espirito, espírito
têm vocês, tu também não és espírito, não és espírito que está aí em pé... largam-me da mão, pá.
Mas a uma certa altura, quando já estava até na minha cama, agora sentia as coisas mais pesadas,
quero andar, quero mexer ,mas não posso, e quando acordo, assim cansado... eu não acreditava,
andava nisto á volta de 6 meses, não acreditava por nada, que dissessem e ficavam chateados
comigo, mas quando eu ouvia eles a dizerem sempre aquele vulto ao pé de mim, sempre aquele
vulto em cima de mim, eu então chamei a Paula e disse: fui lá ter com o chefe, ali, comecei a
acreditar, não acreditava nunca... nunca me disseram para ir a casa da curandeira... o meu
dinheiro ninguém vai comer ... depois de 6 meses, já fiquei a acreditar porque aquilo andava
mesmo comigo a toda hora, a todo momento, eu via aquilo e ele falou, explicou como era e disse
que desde os 16 anos que está a me acompanhar. Mandou ir à casa de curandeiro, não sei quê?
287
Vocês acreditem muito, quais histórias, quais carapuças...Eu não acredito em nada, cheguei à
conclusão....depois disso, nunca tive medo.
Quando saí de lá, saí, parecia uma pena, leve, andava, saí do chão, tive que ir até em lá baixo,
sentei e ainda passou um autocarro, senti que não podia subir, passou 2 e mais 4 e só depois entrei
[Ina] .
Este testemunho de Ina reforça a ideia da diversidade de mundos que povoam o
bairro Estrela d’África e que convivem lado a lado. A vida quotidiana destas gentes está
marcada por acontecimentos que condicionam as relações de vizinhança e as moldam de
acordo com as estratégias de sobrevivência.
7.1.4. A força de ser sampadjudo ou badio
Estas duas expressões correspondem a formas de definição da imagem
interiorizada que os cabo-verdianos têm das diferenças regionais e configuram um
conjunto de traços distintivos, de oposição, baseados na evolução histórica e cultural do
arquipélago de Cabo Verde.
Esta imagem está bem viva nos cabo-verdianos que residem na Amadora e,
particularmente, no Estrela d´África. Assim, ser da Ilha de Santiago ou da Praia significa
ser badio; para o sampadjudo, um badio é um vadio, malcriado, faca na liga, mais negro,
selvagem, menos civilizado, grosseiro, barulhento, adepto do batuque e do funáná.. Ser
sampadjudo é ser da Ilha Brava, do Fogo, do Mindelo, de S. Vicente; para um badio o
sampadjudo é um covarde (mofino), fofoqueiro, comilão (sampadjudo barriga de
batata!), ladrão (pirata de S. Vicente!).
Para além destas imagens e estereótipos, o regionalismo manifesta-se, também
noutros aspectos da vida social como, por exemplo, na escolha do parceiro. As raparigas
sampadjudas são tidas como mais levianas, traiçoeiras, são adeptas da morna, género
dominante nas suas ilhas. Por este facto, é mais frequente a união endogâmica entre os
sampadjudos e entre os badios, evitando a mistura, o que também acontece nos grupos
desportivos, musicais e de pares.
288
Os crioulos da Praia e de S. Vicente também são diferentes, o que é reforçado com
base nas ilhas de origem. Contudo, temos de admitir que as novas gerações já não estão
tão marcadas por estas influências, embora elas continuem a existir, mas com
intercepções, tangências ou justaposições entre esquemas, modelos ou sistemas gerados
nesses dois mundos.
A divisão do bairro em zonas de badios e de sampadjudos (fig. 46) marca os
territórios de identidade social dos cabo-verdianos, de forma mais ou menos profunda.
Mas como vêem os mais novos esta divisão? Será que estas categorias influenciam a
interacção social e cultural dos jovens? Que imagens têm uns dos outros?!
Pedimos a alguns jovens do bairro que nos explicassem como interpretam estas
divisões regionais que, em Cabo Verde, eram separadas pelo oceano, mas que no bairro,
apenas uma viela separa os dois territórios.
Nesta zona, nunca tivemos problemas, mas aquela zona, mais lá em baixo, tem um bocado mais de
problema, já são mais pessoas da Praia, são os chamados badios e nós aqui, é curioso como o
bairro, eu vejo o bairro dividido, porque é assim: do largo para cá, até ali à estrada, é quase só
sampadjudos, tem pessoas da Brava, pessoas, doutras ilhas, são diferentes, não pensam da mesma
maneira e do largo para baixo, é quase só badios, encontra-se lá uma ou outra pessoa que é
sampadjudo, como também aqui nesta zona onde vivo, encontra-se um ou outro badio. Não sei
porquê esta divisão, mas penso eu que é quando as pessoas começaram a entrar aqui no bairro, as
primeiras pessoas, as mais antigas, pronto, as primeiras casas que foram construídas foram as do
meu pai e as da minha tia e depois, sucessivamente, as pessoas vinham de Cabo Verde e iam
fazendo as paredes em tijolo [Alcina Pina].
Estas duas categorias integram uma classificação que define o perfil das pessoas
originárias da Ilha de Santiago e do conjunto das restantes ilhas. ....Os da Praia não gostam dos de S. Vicente, porque dizem que eles são mais ricos e não sei mais o
quê...mas cá, é diferente, porque eu já aprendi a falar o badio na escola, porque eles gozavam-nos
imenso, tive a necessidade de aprender a (língua) deles para não me meter com os outros...e
depois, quando comecei a trabalhar...
Há imensas, imensas anedotas, até se inventam anedotas ...nós ficamos até às tantas da manhã, em
dias de calor, a contar anedotas sobre badios ...[Alcinda Pina]
289
A categorização dos cabo-verdianos entre si, em termos de badios e sampadjudos,
corresponde a uma classificação que se revela no que pensam uns sobre o
comportamento, língua e mentalidade do outro, atribuindo-lhe características diferentes
das suas e, claro, mais negativas.
Quando perguntamos como se manifesta a mentalidade dos badios e os
sampadjudos, o jovem sente alguma dificuldade em explicar, mas avança com uma
explicação que deixa transparecer o facto de estarmos perante um auto-classificado como
sampadjudo:
Tenho grandes discussões em relação ao sampadjudo e badio. É assim, eu acho que os badios são
só de uma ilha –Ilha de Santiago - os outros são todos sampadjudos, nós somos a maioria, nós
falamos mais e eles teimam em nos incriminar que somos menos do que eles, não sei se está a
entender?! Eles têm a mania que somos inferiores...ah, que os sampadjudos são isto...ah
sampadjudos não sei quê das quantas...!!! Isto acontece mais aos mais novos, por exemplo, nas
escolas ...eu sempre estive cá em Portugal e sempre falei o meu sampadjudo mas não me cabe (na
cabeça) que muitas pessoas que são sampadjudos e deixaram de falar a língua dos pais para
falarem o badio só porque são gozados, ou eram...
Eu não sei...é...quer dizer, dentro da nossa tradição temos outra tradição, ou seja, os sampadjudos
têm uma e os badios têm outra, não quer dizer que seja diferente e que eu não aceite a deles e eles
não aceitem a minha, é...eu não sei se você...há-de reparar esta parte (do bairro), aqui, toda a
gente limpa por exemplo, eu não quero estar a dizer isso é uma opinião pessoal; na parte de baixo
(do bairro), já não se vê tanta aceitação ou tanta limpeza da parte exterior do bairro, do que você
vê desta parte por exemplo, não quer dizer a minha, mas é o que está mais visível, não é?
Não tem a ver com os rituais, é a mesma coisa...
...o crioulo é um bocadinho diferente, é tipo o do norte com o de Lisboa...são pronúncias diferentes,
mas o crioulo é o mesmo.
Somos todos católicos, não há assim grandes diferenças. Há a parte de cima do bairro e a parte de
baixo, que coincide com essa separação mental. Não são (superiores), mas é a mentalidade deles.
Bom, eu penso que o que nos separa é mais ou menos a nossa cor; mas isso, em nós jovens é...às
vezes, era mais sampadjudo contra badio, nós, aqui de cima, contra os lá de baixo, a jogar futebol,
mas nada se passava além disso; não era assim uma rivalidade...
São mais violentos, nós somos mais pacíficos do que eles; eu, pessoalmente não gosto nada de
confusão, não quer dizer que seja cobarde, mas se eu vejo confusão ou assisto a uma conjura, eu
não me meto venho-me embora, acho que deve ser por isso que somos mais pacíficos, não
cobardes. Não gostamos mesmo de confusão! [Nuno Pina, 22 anos, agente de desenvolvimento]
290
O Nuno, desde que nasceu, ouve falar nestas diferenças e convive com elas porque,
tal como os outros jovens, tem de entender porque é que lidar com uma jovem que tem
pais badios é diferente lidar com uma jovem que tem pais sampadjudos. Este facto nem
sempre é claro para quem nasceu cá e tem de conviver com algo que reproduz situações
de segregação entre os próprios.
Na terceira parte, voltaremos a dar conta da importância do bairro, no quadro das
sociabilidades dos jovens e do impacto desta segmentação dicotómica – badio/
sampadjudo – na interacção dos jovens.
292
As janelas de observação e de reflexão que abrimos sobre a cidade da Amadora,
permitem-nos fazer uma aproximação aos saberes urbanos que têm como base a ideia: o
indivíduo, inserido em espaços social e culturalmente heterogéneos, cria diferentes
estratégias que lhe permitem adoptar um viver urbano263, não necessariamente impessoal,
determinado pela anomia, por uma atitude blasé (Simmel, 1990:66)264, nem tão pouco é
mais propenso, a priori, para a violência, a delinquência e a criminalidade. Este caminho
obriga-nos, desde logo, a abandonarmos uma concepção idealizada do mundo rural
(preferimos ver o rural cá dentro), a ideia de que a segregação, criminalidade,
desemprego, pobreza são problemas sociais intrinsecamente urbanos e de que o indivíduo
tipicamente urbano é estrangeiro, isto é, o estrangeiro é, no contexto urbano, a figura
identitária por excelência.
A estas identidades externas contrapomos uma perspectiva da cidade como lugar
de relação por excelência, desembaraçada da referência rural, a priori. Assim, o urbanita
está inserido em diferentes quadros de interacção que moldam as suas vidas, mas num
permanente trabalho de bricolage ele faz, simultaneamente, as escolhas e manipula o
controlo social, adoptando diferentes estratégias identitárias que lhe permitem superar as
fissuras sociais do espaço relacional urbano.
O atalho que percorremos, leva-nos ao grupo de jovens Estrelas Cabo-verdianas,
cujo estilo de sociabilidade nos permite pensar a cidade, a partir da emergência de novas
identidades sociais, ligadas, sobretudo, às noções de microculturas, amizade, situação,
rede, grupo informal, liminaridade, sentimento de pertença, que estão na base de novas
configurações relacionais. Estas não têm implícita a ideia de que os jovens norteiam as
condutas grupais pela resistência ou pelo desejo de uma mudança revoltada contra a
ordem social estabelecida.
Neste trabalho, procuramos a diversidade e não modelos rígidos ou estáticos, onde
se moldam as culturas juvenis. Talvez se torne mais desinteressante apresentar uma
263 A obra de John Gulick (1989) dá-nos contributos fundamentais para esta perspectiva de aproximação às cidades. O conhecimento aprofundado das realidades concretas que compõem o vivido urbano permite uma sensibilização às diferenças entre cidades e habitantes particulares, à diversidade e complexidade da interacção social e cultural no interior das diferentes cidades. 264 Segundo Georg Simmel, a essência da atitude blasé é a indiferença à diferença das coisas...incapacidade de reagir a novas sensações com a energia apropriada.
293
juventude que traça os seus caminhos com rupturas e continuidades mas, como veremos,
é disso mesmo que se trata, no caso estudado.
Seria bem mais confortável partir de uma das teorias que enformam as perspectivas
académicas sobre a juventude: por exemplo a teoria da frustação, provocada pela
desigualdade no acesso às oportunidades de ascenção social; a teoria do rótulo, isto é, da
rotulação dos jovens que vivem em guetos ou bairros pobres e que os classificam de
jovens de etnias inferiorizadas ou camadas pobres, como delinquentes; a teoria das
classes perigosas que associa as condições miseráveis de vida da classe operária à
explosão de violência e criminalidade; a teoria do underclass focalizada na delinquência,
deriva ou no comportamento desviante; ou até, mesmo, a teoria da exclusão, que tem
como princípio explicador da conduta dos jovens não a pobreza ou a cultura da pobreza,
mas a exclusão, isto é, de processos de desemprego, afastamento da escola, a
estigmatização pelo uso de drogas, o enfraquecimento dos movimentos sociais e a
diluíção dos laços sociais nos bairros, a ausência do conflito social que foram
substituídos pelo vazio e raiva (Zaluar,1997). Comprometidas com o positivismo, estas
teorias foram criticadas, porque transformavam os jovens em objecto e o seu
comportamento em fatalidade ou determinação, esquecendo que eles participam, de
forma activa, nas escolhas e acções, apesar das restrições e pressões de forças poderosas
(Jankowsky, 1991; Katz, 1988; Matza, 1964 in Vianna, 1997:20).
Mas como escapar a esta confortável tentação, quando estamos perante fenómenos
tão complexos? Fugindo a generalizações, a hipóteses preconcebidas, mudando de
método?
Partindo de uma análise situacional265 do referido grupo de jovens, recorremos a
uma definição emic, na qual os actores sociais definem a situação em que estão
implicados com um certo grau de coerência comunicativa e de significados partilhados,
isto é, de shared meaning, e a uma definição etic, inscrita num espaço mais ou menos
estruturado.
265 Para J. Clyde Mitchell (discípulo de Gluckman, pertencente à Escola de Manchester), ‘a análise situacional consiste em seleccionar, de uma vasta gama de actividades e interacções correntes (ou fenómenos sociais em geral) um conjunto limitado de acontecimentos, em relação aos, quais o analista tem justificações para julgar que os pode ligar de uma determinada maneira e interpretá-los logicamente, em termos da compreensão geral’.
294
Esta aproximação ao conhecimento da cidade teve, como vimos na parte II, um
espaço intermédio, a Venda Nova e como locus o bairro Estrela d’África, que serve de
quadro social, de setting, onde toda a interacção é localizada. A identidade do grupo
Estrelas Cabo-verdianas está muito ligada a este território e a sua presença representa
para o bairro um recurso de grande importância.
Em suma, pretende-se, com a abordagem que se segue, contribuir para o
conhecimento dos estilos de sociabilidade dos jovens em contexto urbano, analisando as
culturas juvenis como uma ‘metáfora dos processos de transição cultural, a imagem
condensada de uma sociedade em mudança, em termos das suas formas de vida, regime
político e valores básicos’ (Feixa, 1999:89), ou como uma metáfora das tribos
primitivas, só que, nas tribos juvenis266 como ‘comunidades emocionais’ (Maffesoli,
1990), as crenças religiosas foram substituídas pelos gostos musicais, vestuário e
acessórios.
Na terceira parte, procuramos caracterizar o grupo Estrelas Cabo-verdianas e
fazer uma breve história, ao longo de década e meia de existência, de forma a melhor
entender o seu percurso e o reflexo deste no tipo de organização. Essencialmente, tentar
explicar quais os factores estruturantes do grupo que garantiram a sua existência e
coesão, não obstante o grau de autonomia e de informalidade que assumiu, até
recentemente. O mais importante, contudo, é compreender o impacto que um grupo de
jovens pode ter, não só na construção das identidades, trajectórias e projectos de vida
dos seus membros, como também na transformação, embora lenta e sinuosa, do tecido
social onde estão inseridos.
266 Sobre o tema das ‘tribos urbanas’, ver Michel Maffesoli, (1990), Valerie Fournier, 1999, Carles Feixa, 1999 (1998).
295
Capítulo 8
A EMERGÊNCIA DO GRUPO ESTRELAS CABO- -VERDIANAS RAZÕES PARA O SURGIMENTO E
ITINERÂNCIAS
Uma das marcas mais peculiares do grupo de jovens Estrelas Cabo-verdianas
reside no facto de a composição e organização serem feitas à medida dos jovens que se
foram incorporando o grupo. Mas se a sua composição e o modelo organizativo reflectem
as trajectórias de vida dos próprios jovens e do seu líder em particular, foram igualmente
moldados, ao longo dos anos, pelo grau de informalidade e de maior ou menor
dependência face às associações locais.
A idade, a classe, a origem étnica, o local de residência dos seus membros e o facto
de ser um grupo misto (rapazes e raparigas) dão-lhe um perfil marcado por uma
homogeneidade facilitadora de uma interacção social e cultural particular.
As metamorfoses do grupo explicam-se pelo grau de informalidade267 que sempre
o caracterizou, não obstante existirem códigos de conduta, regras e elementos
estruturantes como o bairro, o líder, as actividades ligadas à dança, os espectáculos, as
viagens em grupo, o convívio, o lazer e a amizade, que, no conjunto, evitaram a erosão
do sentimento de pertença que tem cimentado a sua coesão. São estes elementos que 267 A informalidade do grupo prende-se mais com o aspecto de não constituir uma organização legalizada, em termos estatutários e de registo formal, porém, apresenta um grau de formalidade interna elevado, que se objectiva através de cartões individuais, relatórios de actividades, actas de reuniões de avaliação das actividades performativas, correspondência diversa com instituições, trajes, horários e dias fixos para os ensaios, etc.
296
explicam que, apesar da entrada e saída de jovens e da mudança de local de interacção, o
grupo continue a constituir uma entidade que permanece una e indivisível, um espaço de
forte sociabilidade, que configura um certo estilo de vida, um ethos, e uma visão do
mundo, um eidos, que servem, não só de suporte emocional, social e cultural aos
membros do grupo, como de modelo para as crianças e adolescentes do bairro e
envolvente.
8.1. Caracterização do grupo Estrelas Cabo-verdianas
Desde a sua criação, em 1984, o grupo tem sofrido oscilações permanentes, no que
diz respeito à sua dimensão e composição, próprias de um grupo informal que se
reconfigura permanentemente.
Ao longo dos últimos anos, foi integrando jovens de diferentes idades, sobretudo,
entre os 15 e 30 anos, descendentes de imigrantes cabo-verdianos, santomenses e
angolanos que, como vimos nos capítulos anteriores, vieram para Portugal, nos anos 70 e
80 e se fixaram na cidade-concelho da Amadora.
O grupo de dança Estrelas Cabo-verdianas268 é composto por 30 elementos, sendo
16 raparigas e 14 rapazes, incluindo o líder do grupo.
Os jovens que o integram, são de dois tipos:
• os bailarinos centrais do grupo de dança, que formam entre cinco e oito pares,
que constituem o núcleo duro, isto é, uma elite que se sujeita a duros ensaios
semanais, que tem de estar permanentemente operacional para participar em
espectáculos;
• os outros bailarinos, mais recentes, que servem de reserva, no caso de ser
necessário substituir algum bailarino principal, nos espectáculos.
Mas para além daquele número, o grupo alarga-se, ainda, a um conjunto de amigos
e amigas que não dançam, mas que acompanham todas as actividades fora da dança,
nomeadamente, as deslocações aos espectáculos, as excursões para fora de Lisboa, as
268 Os dados sobre os elementos do grupo reportam-se a finais de 1999, início do trabalho de campo no Estrela d´África, período durante o qual foi feito um levantamento e caracterização dos jovens do Estrelas Cabo-verdianas.
297
diferentes celebrações. Formam uma rede parcial269 que, por sua vez, se articula com
uma rede mais ampla, que engloba não só jovens do bairro Estrela d’África, como de
bairros da envolvente.
Os 30 elementos considerados, apresentam idades com um intervalo que vai desde
os 16 aos 32 anos, distribuindo-se pelos seguintes grupos etários:
Com idades entre os 15-19 anos: 13 jovens; entre os 20-24 anos: 11; entre os 25-29
anos: 4; entre os 30-34 anos: 2 jovens. Como se pode verificar, a maioria dos elementos
tem entre os 15 e os 24 anos, o que confere ao grupo uma marca muito jovem. Por outro
lado, a proximidade de idades produz, no interior do grupo, uma identidade geracional
que parece sintetizar o perfil de uma geração de afroportugueses tentando redefinir as
fronteiras geracionais, sociais e culturais com os progenitores.
Não obstante serem todos filhos e filhas de imigrantes com diferentes
naturalidades, grande parte dos jovens, para além da naturalidade portuguesa, possui
também nacionalidade portuguesa. Relativamente à naturalidade do pai e da mãe, a
situação dos jovens é a seguinte: cabo-verdiano/cabo-verdiana: 23; cabo-verdiano /
santomense: 3; santomense/santomense: 1; cabo-verdiano/angolana: 1; cabo-
verdiano/portuguesa: 2.
Quanto à naturalidade dos jovens, verificamos que a maioria nasceu em Lisboa ou
Amadora, existindo um número muito reduzido que nasceu em Cabo Verde, S. Tomé e
Príncipe e Angola. Uma parte significativa dos membros do grupo Estrelas Cabo-
verdianas são naturais de Lisboa, porque nasceram na freguesia de S. Jorge de Arroios,
local onde se encontra sediada a Maternidade Magalhães Coutinho, e apenas um número
reduzido nasceu em África. Assim, no que diz respeito à naturalidade270 dos jovens,
temos: freguesia de S. Jorge de Arroios/Lisboa...10; freguesia de S. Sebastião da
Pedreira/Lisboa...1; Amadora...6; Oeiras...1; Santiago do Cacém/Sines...1; Cabo Verde/
Ilha de Santiago/concelho da Praia...1; Cabo Verde/Ilha de Santiago/concelho de Sta.
Cruz...1; S. Tomé e Príncipe/Ilha de S. Tomé...2; Angola...2. Neste contexto, os jovens
269 De aproximação em aproximação, o espaço urbano pode ser representado como um conjunto articulado (rede total) e os meios sociais urbanos podem ser estudados como sistemas solidários, faccionais (rede parcial)...com o tempo, as redes parciais podem tornar-se instituições mais ou menos formais’ Agier, Michel, p.53. 270 Neste quadro, falta identificar a naturalidade de 5 jovens.
298
apresentam as seguintes nacionalidades: Portuguesa: 19; Cabo-verdiana: 9; Angolana: 2.
Apesar de afrodescendentes e de residirem em contextos marcados pela cultura de
origem dos progenitores, grande parte dos jovens foram socializados num contexto
urbano e europeu o que se repercute profundamente nas suas opções culturais.
O que importa aqui destacar é o facto de não estarmos perante uma ‘segunda ou
terceira geração de imigrantes’(Baumann,1998)271, mas de jovens portugueses, nascidos
e criados num contexto urbano, cuja maioria nunca visitou o país de origem dos pais,
nem vivenciou a experiência da imigração, senão através de relatos dos pais e vizinhos.
Poucos são os elementos do grupo que já visitou Cabo Verde ou S. Tomé, embora
desejem fazê-lo, para melhor compreenderem as tradições culturais dos pais, como eles
próprios referem. A este respeito, testemunhei o regresso de uma visita a Cabo Verde, de
uma das bailarinas do grupo, a Mana. Esta jovem, antes e depois dos ensaios semanais,
passou horas a fio, rodeada das amigas, a narrar as experiências e emoções que viveu
durante esta viagem à terra dos pais. Entre outros aspectos, Mana afirmava que se sentiu
como uma estrangeira na terra natal dos pais, por isso, as pessoas observavam-na com
admiração, rodeando-a de atenções e fazendo perguntas sobre o modo de vida dos cabo-
verdianos em Portugal e dos jovens afroportugueses, em particular. Mas a curiosidade
das amigas do grupo foi também muito grande, pois não quiseram perder pitada das
infindáveis descrições da Mana sobre o país de origem dos pais e sobre a vida dos jovens
em Cabo Verde. A forma entusiástica como receberam as prendas que esta trouxe para
todos os amigos e amigas do grupo, sobretudo, colares com pedras da sorte e sofisticadas
roupas interiores compradas nas tão tradicionais feiras cabo-verdianas, revelou o fascínio
exercido pela terra dos pais mas, simultâneamente, a distância dos jovens em relação a
Cabo Verde.
Os membros do grupo vivem no continuum de bairros de habitat precário,
degradado272, que separa os concelhos da Amadora e Lisboa, ou em bairros de habitação
271 A observação parece-me muito pertinente neste contexto pois há muita confusão sobre esta questão na literatura académica, sendo a tendência dominante condenar os jovens a um percurso de vida e opção que pouco tem a ver com a realidade. 272 Como referi na introdução ao trabalho, evito esta designação pelo carácter estigmatizante de que é portadora e que se estende aos próprios habitantes, transformando-os em feios, porcos e maus, imagem que faz parte de uma cartografia imaginária de representações dos cidadãos, que vivem noutros habitats mais consolidados.
299
social, nomeadamente, no Zambujal273. Os restantes elementos residem em zonas de
parque habitacional privado, como Mem Martins, Rio de Mouro, Tapada das Mercês,
Reboleira. Assim, se distribuirmos o número de jovens pelos referidos locais, temos o
seguinte resultado: Bairro Estrela d’África - 9; Bairro 6 de Maio - 5; Bairro das
Fontaínhas e Bairro Novo das Fontaínhas - 4; Reboleira - 3; Damaia de Cima - 1; Casal
de Sta Filomena - 1; Zambujal/Buraca - 2; Amadora(freguesia desconhecida) - 1; Mem
Martins e Tapada das Mercês/ Sintra - 4.
Grande parte dos jovens vive em habitações precárias, numa zona intersticial274,
cuja malha é composta por bairros inter-étnicos com uma forte segregação social urbana,
pois trata-se de bairros de habitat precário e espontâneo, considerados uma cintura
degradada da periferia. Contudo, há um número significativo de jovens que, apesar de
não viver nestes espaços de habitat degradado interage com os jovens aí residentes, o
que revela que as redes de sociabilidade são muito fortes e que o bairro Estrela d’África é
também, simbolicamente, o seu bairro. Este facto traduz uma forte apropriação do espaço
e a criação de um território de identidade que não pode deixar de provocar nos jovens um
comportamento colectivo marcado por uma profunda territorialidade com valor cultural,
que se reflecte nos estilos de sociabilidade.
Os jovens do grupo têm como principal ocupação a escola ou trabalho.
Os mais novos estudam, mantendo-se apoiados pelos pais ou parentes, tentando
adquirir qualificações académicas que lhes permitam ascender a um estatuto profissional
afastado do dos seus progenitores que, na maioria, teve de contentar-se com a construção
civil e o trabalho de limpeza.
273 O Zambujal é um complexo habitacional, gerido pelo IGAPHE (Instituto de Gestão e Alienação do Parque Habitacional do Estado), destinado ao realojamento das populações residentes em habitações muito precárias, ou alvo de reconversão urbanística. Neste caso concreto, referimo-nos ao Zambujal, situado na freguesia da Buraca, Amadora. Há duas jovens do grupo, cujas famílias foram realojadas pelo PER, Programa Especial de Realojamento para erradicação de barracas. 274 As áreas intersticiais são zonas de filtro entre secções da cidade, associadas a um determinado habitat que é definido como espaços onde se produzem graves fissuras sociais com a envolvente, caracterizam-se por uma desorganização social provocada pelos processos migratórios, uma anomia endémica e, supostamente, apresenta condições particulares que fazem germinar grupos (de jovens) marginais. Formam uma região moral que espelha, do ponto de vista exterior, as identidades dos seus habitantes, numa reificação cómoda para produção de um discurso hegemónico, implícito nas classificações socio-espaciais correntes ( no senso comum, mas também nos técnicos e políticos), criando fronteiras simbólicas e limites à interacção.
300
Os 13 jovens, que identificamos como estudantes, têm os seguintes graus de
escolaridade: seis frequentam o 9º ano, quatro o 10º ano e uma o 11º ano. A maioria
frequenta a Escola Secundária Azevedo Neves, na Amadora, registando-se um caso que
frequenta a Casa Pia de Lisboa.
Alguns trabalham e estudam, manifestando um interesse especial na qualificação
profissional. Nesta situação, encontramos dois jovens que têm feito formação
profissional nas áreas da restauração e como agentes de desenvolvimento. Os restantes
15 elementos trabalham em sectores diferenciados, dos quais destacamos: construção
civil (pedreiro/ladrilhador: 2, servente:1): 3 rapazes; restauração (auxiliares de cozinha:1,
empregadas de balcão:4): 5 jovens; limpeza: 2 raparigas; jardinagem:1 rapaz; animação
sociocultural (animador, monitor): 2 rapazes; educação (auxiliar de educação): 1
rapariga; doméstica: 1 rapariga.
Deste modo, enquanto para os rapazes as oportunidades de trabalho estão
afuniladas na construção civil, nas raparigas existe uma concentração na área da
restauração. No primeiro caso, é através da rede de familiares e de vizinhança que o
processo de recrutamento se desenvolve; no segundo caso, são as próprias jovens do
grupo que passam a informação da existência de vagas, por exemplo, no McDonald’s,
que acabam, muitas vezes, por ser preenchidas pelas amigas do grupo. Alguns destes/as
não resistem a substituir, pontualmente, amigas/os do grupo, sempre que necessário,
acabando por fazerem turnos de fim-de-semana, em determinados locais de trabalho.
Como referimos, o grupo Estrelas Cabo-verdianas tem uma composição mista, de
14 rapazes e 16 raparigas, o que confere ao grupo uma certa especificidade no que diz
respeito aos estilos de sociabilidade adoptados por ambos os sexos em interacção. Assim,
no grupo coexistem formas culturais que combinam traços de condutas, supostamente,
próprias das culturas juvenis femininas e masculinas. No caso das raparigas275,
verificamos a existência de uma cultura própria das jovens de hoje, que se materializa em
275 Na obra Twinty girls (1988), centrada num grupo de jovens amigas de South London, Helena Wulff questiona a subordinação assumida pelas raparigas que, supostamente, deveriam ser invisíveis, escondidas nos seus quartos de dormir (bedroom culture), enquanto os rapazes ocupavam as esquinas das ruas. Esta antropóloga coloca, pois, a ênfase nas culturas juvenis como contributo substantivo para o desenvolvimento do conceito de cultura, num sentido mais lato, e define microcultura como o fluxo de significações e valores manipulados por pequenos grupos de jovens na vida quotidiana, tendo em consideração situações locais concretas.
301
traços como: as horas passadas no quarto, a falarem sobre os problemas da relação com
os namorados ou com os pais, as atitudes narcisistas de se vestirem de forma sensual,
utilizando o preto e o branco como cores dominantes, bem como as roupas interiores
sedutoras; de aplicarem as cosméticas sofisticadas no rosto e nos olhos, trabalharem os
penteados, marcarem o corpo com piercings ou tatuagens, deixando antever que fazem
parte de uma cultural juvenil276 mais lata.
No caso dos rapazes, também identificamos comportamentos e a adopção de
marcas identitárias, próprias dos jovens urbanitas, destacando-se, por exemplo, os
desenhos feitos na cabeça e na cara, através de cortes especiais do cabelo e da barba, os
dreadlocks277, as tatuagens, o modo de vestir em que predomina as roupas e calçado de
desporto de marca, com grife, a apetência pelo desporto, especialmente pelo futebol, a
apropriação do espaço exterior, como o beco, a rua, o café, lugares de convivialidade,
por excelência. Estas marcas servem para a auto-definição dos jovens, enquanto pessoas
e grupo, mas também para comunicarem com outros jovens comprometidos com
diferentes estilos juvenis278.
Neste sentido, parece óbvio que pretendem demarcar-se das práticas culturais dos
progenitores com um background279 africano, embora não rejeitem completamente
alguns traços de inspiração afro280. De facto, a identidade cultural dos pais dos jovens
marca-os em vários aspectos da sua vida e tem reflexo nos estilos juvenis que adoptam,
276 Carles Feixa define as culturas juvenis, num sentido amplo, isto é, a maneira como as experiências sociais dos jovens são expressas colectivamente mediante a construção de estilos de vida distintos, localizados fundamentalmente no tempo livre, ou em espaços intersticiais da vida institucional. Num sentido mais restrito, definem o surgimento de micro-sociedades juvenis com graus significativos de autonomia em relação às instituições adultas, que se dotam de espaços e tempos específicos e que se configuram historicamente nos países ocidentais, a seguir à Segunda Guerra Mundial, coincidindo com grandes processos de mudança social no campo económico, educativo, laboral e ideológico (1999:85). 277 Dreadlocks: um dread é um indivíduo que age como o leão: um tipo calmo, pacífico, mas que se revolta quando é molestado ou vê injustiças; lock significa estar preso e locks são uma espécie de tranças sem entrançado a que os jovens chamam rastas, na cabeça, embora o termo se aplique aos que seguem o rastafarianismo. 278 Segundo Feixa, (estilo) pode definir-se como a manifestação simbólica das culturas juvenis, expressa num conjunto mais ou menos coerente de elementos materiais e imateriais, que os jovens consideram representativos da sua identidade de grupo (1999:97). 279 Para Clyde Mitchell, é necessário investir mais na análise do contexto interaccional do que no background dos indivíduos implicados na situação ou nas culturas, em nome das quais interagem (1980:53-81). 280 Marcas culturais como a utilização do crioulo como meio de comunicação privilegiado no interior do grupo, ou a reinvenção de danças tradicionais cabo-verdianas no seio do grupo.
302
apesar de conhecerem a cultura de origem dos pais, de forma filtrada por inúmeras
estratégias de sobrevivência, numa reinvenção permanente.
Os jovens são, quase na totalidade, filhos de trabalhadores com uma profissão
subalterna, motivada, na maior parte dos casos, por uma qualificação restrita e ligada a
sectores profissionais sem grande estatuto. Vale a pena fazer aqui um apontamento sobre
as profissões dos pais dos jovens, membros do grupo, já que há uma ideia generalizada
de que estes reproduzem o quadro profissional dos familiares, seguindo as mesmas
profissões e partindo das mesmas limitações de formação base. Assim, identificamos as
seguintes profissões:
• Nas mulheres: domésticas281 – 11; empregadas de limpeza – 4; empregadas
domésticas – 3; ama – 1; cantoneira – 1;
• Nos homens: empreiteiro – 1; pedreiro – 7; armador de ferro – 2; servente – 2;
calceteiro – 1; soldador – 1; operador de máquinas – 1; mineiro – 1; supervisor-
chefe nos CTT – 1.
Se compararmos estas com as profissões dos jovens, verificamos que começam a
surgir diferenças significativas, que traduzem uma maior qualificação académica dos
jovens bem como uma maior acessibilidade destes a certos sectores, com particular
destaque para a educação, cultura282 e serviços. Contudo, a mobilidade social continua a
ser muito moldada pelo contexto familiar e social dos jovens. Estes vivem no seio de
famílias e de uma rede de vizinhança com fortes sociabilidades locais, que exercem
funções de socialização primária. Com efeito, a interacção quotidiana, face a face com
parentes e vizinhos, imprime nos jovens traços culturais básicos como a linguagem, os
papéis sexuais, os hábitos de higiene que, se no contexto da sociedade local é uma
vantagem, pode tornar-se um handicap, quando está em causa a relação com a sociedade
envolvente.
281 Estou em crer que algumas destas mulheres trabalham em serviços de limpeza embora se assumam apenas como domésticas, até porque não estão inscritas na segurança social ou fundo de desemprego. 282 Existe um mercado potencial para os jovens residentes nestes bairros, que tem a ver com a necessidade de mediadores socioculturais nas escolas, nas associações e autarquias locais. O Victor, o Nuno Pina e a Alcinda são exemplo deste tipo de ocupação, tendo frequentado, para esse efeito, cursos de animadores socioculturais e de agentes de desenvolvimento.
303
Porém, o grupo funciona como canal de mobilidade social (Jankowski, 1991 in
Zaluar, 1997:22) e, apesar dos obstáculos encontrados para concretizar as aspirações, os
jovens Estrelas Cabo-verdianas encontram portas que se abrem a novas situações.
8.2. De grupo informal de jovens a associação local
8.2.1. A relação do grupo de jovens Estrelas Cabo-Verdianas com as
associações locais: uma simbiose estratégica.
A emergência do grupo Estrelas Cabo-verdianas está marcada por factores de
ordem social e cultural, devendo, por isso, ser contextualizada no espaço e no tempo que
marcaram o seu surgimento e desenvolvimento.
Ao longo dos anos, a vida do grupo foi condicionada por uma série de
acontecimentos que, se por um lado revelam a fragilidade destes colectivos, por outro,
confirmam a resistência que estes têm à erosão do tempo e das vicissitudes. A chave
desta longa existência está nos factores que estruturam o grupo a que nos referiremos no
capítulo seguinte. Como uma árvore de folhas perenes, o grupo Estrelas Cabo-verdianas
resistiu a todas as estações do ano da sua existência, daí, a importância de conhecermos a
história desta microestrutura. Assim, podemos considerar que existem três momentos
importantes na vida do grupo: os anos 80, que correspondem à fase do surgimento, na
Estrada Militar do Alto da Damaia, do embrião de um grupo que em breve se
denominaria Estrelas Cabo-verdianas; os anos 90, ao longo dos quais o grupo Estrelas
Cabo-verdianas se aproxima de diversas associações locais, formando com estas uma
simbiose que permitiu a sua afirmação e projecção; e o período entre 1999 e 2001283,
uma terceira fase em que o grupo afirma a sua autonomia das associações locais e
começa a criar as condições para a formação de uma organização formal, uma associação
283 Estes anos de ruptura do grupo Estrelas Cabo-verdianas com as associações locais coincidiram, mais ou manos, com o trabalho de terreno que desenvolvi no Estrela d’África, o que me proporcionou o acompanhamento do processo de criação de uma nova associação local e, simultaneamente, aprofundar os motivos dessa ruptura. O facto de fazer parte integrante do grupo de jovens, conduziu ao meu envolvimento directo na criação desta estrutura, porque o líder e os mais responsáveis entenderam que seria oportuno aproveitar o meu know how para o efeito. Mais à frente, este processo será explicado em detalhe.
304
juvenil que será designada por NÓS – Associação de Jovens para o Desenvolvimento,
com sede no bairro Estrela d’África.
Nos anos 80, a Associação Caboverdiana, com sede em Lisboa, pôs em marcha o
projecto Nô Djunta Môn, dirigido à população imigrante de origem cabo-verdiana e que
tinha como fundamento a necessidade de proceder à alfabetização desta população
imigrante. Nesta sequência e com o apoio de uma empresa de construção civil e de
entidades oficiais, a Associação Caboverdiana mandou construir, em terrenos
expectantes, mais tarde destinados à auto-construção284, o Centro Cultural do Alto da
Damaia, o qual serviu de base para todo o trabalho de intervenção local.
O referido projecto, monitorizado por uma equipa pluridisciplinar285, dirigia-se às
famílias, adultos iletrados e crianças que não se sentiam motivadas pela escola. Numa
reportagem sobre o projecto Nô Djunta Môn, feita pelo Jornal África Notícias (*), que
remonta a 1982-83, pode ler-se que “... a situação do bairro é difícil mas... os moradores
estão unidos por um espírito de solidariedade muito grande... praticamente não existem
problemas de criminalidade na área. As desavenças entre vizinhos são,
esporadicamente, registadas...há um baixo índice de criminalidade na zona”. Apesar
deste cenário de paz, o mesmo artigo realça a dificuldade das crianças e adolescentes em
se integrarem na escola e a incapacidade dos professores para lidarem com as diferenças
linguístico-culturais e daí resultarem atitudes de rebeldia por parte dessas crianças e
jovens.
(*) ver anexo III – 1
284 O Município da Amadora criou uma reserva de terrenos destinados ao realojamento de populações residentes em construções muito precárias, com ou sem o envolvimento directo na construção dos próprios destinatários das habitações. Para além de preços controlados, a auto-construção previa o apoio directo dos interessados. 285 Esta equipa incluía médico e enfermeira, bem como professores e animadores sócio-culturais. Para além do problema da instrução e da promoção do sucesso escolar, a equipa teve uma grande intervenção ao nível da saúde, sobretudo, no combate a epidemias como a tinha ( rastreio da Depranocitose) e outras doenças que afectavam a população jovem, e o planeamento familiar como meio de prevenir a gravidez precoce nas jovens e o estado de gravidez frequente das mulheres cabo-verdianas. De referir que esta equipa era conhecedora dos traços culturais que estruturavam a vida das populações e, por isso, fazia um trabalho de esclarecimento e de diálogo permanente com os moradores. Para o efeito, contribuía o facto do projecto estar sediado no terreno e ter na equipa colaboradores cabo-verdianos.
305
De facto, muitas crianças vagueavam pelas ruas, um pouco à deriva, sem aparente
ocupação, mas o que é certo é que uma parte significativa apoiava as mães nas lides
domésticas, tomava conta dos irmãos mais novos, ou andava de contentor em contentor
do lixo, à procura de cartão/papelão para venda, de forma a contribuir para os magros
rendimentos da família286. A vida difícil das famílias fazia com que estes miúdos não
encontrassem em casa a segurança, o afecto e o prazer de viver, pelo que se juntavam em
pequenos grupos, que faziam da rua o local de eleição para as aventuras.
É neste contexto que surge, em 1984, o grupo Estrelas Caboverdianas, por
iniciativa do jovem Victor Moreira, líder do grupo até hoje, então com 17 anos, que há
muito reunia crianças e adolescentes que andavam pelo bairro à procura de parceiros
para brincar, dar uns chutos na bola, ouvir música, partilhando, deste modo, experiências
e afectos. O Victor descreve, do seguinte modo, as motivações que o levaram à criação
do grupo de jovens:
....Com os outros, comecei a aprender o crioulo, pois frequentava os mesmos cafés, a fazer jogos
às escondidas, à apanhada, à bola...mas havia mais qualquer coisa que nos unia, que era a música.
Em 1982, começámos a falar em grupo, começámos a juntarmo-nos no local onde marcávamos
encontro e partilhávamos algo...começamos a dar nas vistas e os pais começaram a perguntar o
que estávamos ali a fazer, todos juntos e escondidos...Chegou a um ponto que surgiu a ideia de
criar um grupo de dança no bairro.
Uma ideia de grupo mais séria surgiu em 1984. Nessa altura, começou a haver uma filosofia. Eles
deram, por sorteio, o nome de Estrelas Cabo-verdianas.
Na altura, eram oito elementos, desde os quatro aos dezoito anos, rapazes e raparigas. Uns foram
dando lugar aos outros, casaram, tiveram filhos. Na altura, o grupo era mais familiar, não havia
laços de sangue, mas partilhávamos comida, roupa...[Victor Moreira].
O Centro Cultural do Alto da Damaia, através do projecto Nô Djunta Môn, veio
dar visibilidade a esta mobilização e desencadear um processo de apoio à formação de
jovens como animadores e promotores de saúde, à criação de diferentes ateliers de apoio
escolar às crianças e de apoio social às famílias. Como veremos mais à frente, o próprio
286 Como vimos na primeira parte deste trabalho, a vida da Alcinda Pina e irmãs está marcada por este tipo de tarefas que ocupavam seriamente as crianças, evitando que andassem a mendigar pelas ruas.
306
Victor formou-se como animador socio-cultural, com o apoio deste projecto, embora o
seu sonho fosse o curso de Direito.
Como não há bela sem senão, nos finais da década de 80 e com o argumento da
reconversão urbanística do Alto da Damaia287, o Centro Cultural foi mandado demolir
pela Câmara Municipal da Amadora. O fim anunciado do projecto Nô Djunta Môn
obrigou os jovens do grupo Estrelas Cabo-verdianas a procurarem outros espaços e
novas formas de apoio fora daquele bairro, o que os conduziu a uma nova etapa de vida
cheia de experiências partilhadas com outras associações locais, nomeadamente, com os
Unidos de Cabo Verde, a Associação de Jovens Promotores de uma Amadora Saudável
(AJPAS ) e a Morna – Associação Cultural Luso-Africana.
Por conseguinte, o grupo de jovens, que se tinha vindo a consolidar sob a liderança
do Victor, passou a concentrar as suas actividades na antiga freguesia da
Falagueira/Venda Nova, isto é, no continuum de bairros das Fontaínhas, Portas de
Benfica, 6 de Maio e Estrela d’ África, locais onde estavam sediadas as referidas
associações.
A segunda fase da vida do grupo está marcada por uma adesão às dinâmicas
associativas que já existiam, ou que surgiram nos anos 90, na Amadora.
Como dissemos atrás, com o fim da actividade da Associação Caboverdiana no
Alto da Damaia, o grupo Estrelas Cabo-verdianas deslocou-se para a Venda Nova.
Inicialmente, o grupo de jovens passou a ter o apoio da Associação Unidos de Cabo
Verde288, sobretudo, no que diz respeito às instalações para ensaios e outras
sociabilidades juvenis. Mais tarde, o grupo passa a trabalhar com a Associação de Jovens
para uma Amadora Saudável, AJPAS,289 criada por iniciativa da Câmara Municipal da
Amadora, a partir do Projecto Europeu Cidades Saudáveis, com a parceria dos Centros
de Saúde da Venda Nova e Reboleira. Por fim, jovens afro-portugueses residentes nos 287 Em Agosto de 1986, passei a integrar o conjunto de técnicos superiores da Câmara Municipal da Amadora e foi na qualidade de assistente social, responsável pela ligação aos chamados núcleos degradados, que desempenhei um papel de mediação neste processo. 288 A Associação Unidos de Cabo Verde foi criada, formalmente, em 16 de Outubro de 1982, instalando a sede no bairro das Fontaínhas, apesar de ter um âmbito de intervenção alargado aos bairros 6 de Maio e Estrela de D’África, localidades de origem das comissões de moradores que lhes deram origem. O processo de constituição desta associação foi referido na primeira parte, quando enunciámos a história do bairro Estrela d’África. 289 A AJPAS surgiu na sequência do projecto Promotores de Saúde na Comunidade Migrante, integrado no movimento Cidades Saudáveis – Ano 2000 e foi formalizada em 29 de Julho de 1993.
307
bairros 6 de Maio e Estrela d’África, entre os quais o líder e jovens do grupo Estrelas
Cabo-verdianas, criaram a Morna - Associação Cultural Luso-Africana290. Estes jovens
tinham, inicialmente, como objectivo principal a dinamização de espectáculos culturais,
utilizando grupos de música e dança com matriz intercultural.
De forma directa ou indirecta, a sobrevivência destas associações passou a
depender de recursos humanos, materiais e financeiros oriundos dos programas e
projectos da Câmara Municipal da Amadora, das Juntas de Freguesia da
Falagueira/Venda Nova e Damaia, da Segurança Social, dos Centros de Saúde locais e da
Comunidade Europeia como, por exemplo, dos Programas Integrar e Urban. Embora
fortemente apoiadas pelas autoridades locais, não só através da cedência de instalações,
de subsídios para o funcionamento e para as actividades, de apoio logístico e material,
bem como acompanhamento técnico nas áreas social e cultural, estas associações criaram
condições para o desenvolvimento de dinâmicas com grande impacto nos jovens, não só
dos bairros da Amadora, como de outros bairros fora desta cidade. Este facto revela que
as redes de sociabilidade inter-pares e inter-associações funcionavam de acordo com
afinidades, interesses e objectivos comuns e em territórios diversificados, ou seja, não se
confinavam a um bairro ou cidade. Um exemplo do que acabámos de referir é relatado
pelo líder do grupo, Victor Moreira, da seguinte forma:
...Chegámos a pertencer à Loja Jovem291, onde trabalhava com os jovens dos bairros, vinha gente
de todos os lados; os jovens do Estrela d’ África eram a maioria, mas havia gente de Santa
Filomena, Zambujal, Buraca e até do Catujal, Setúbal...[ Victor Moreira].
Durante grande parte dos anos 90, o grupo Estrelas Cabo-verdianas manteve-se
integrado nestas duas últimas associações juvenis com uma autonomia relativa. O
interesse era mútuo, uma vez que, por um lado, o grupo emprestava o seu brilho aos
290 A Morna - Associação Cultural Luso-Africana foi formalizada em 23 de Novembro de 1995, na sequência de uma ideia de criação de uma organização promotora de espectáculos, a Afrodisíaco, da responsabilidade do jovem Ermelindo Varela (presidente da Morna), do Pedro ( promotor cultural da Discoteca N’Genga) e mais tarde, o Victor Moreira (líder do grupo Estrelas d’África). Em anexo, juntam-se mais informações sobre estas associações locais. 291 A Loja Jovem é um espaço da Câmara Municipal da Amadora, destinado ao atendimento e formação de jovens, e está sediada na Rua SRª. Maria I, em frente ao bairro Estrela d’África. O programa de utilização deste espaço tem tido alterações permanentes, dependendo das políticas municipais, pelo que é visto como um espaço polémico, com falta de consistência e, por conseguinte, com resultados limitados.
308
objectivos traçados pelas associações, cujos líderes292 procuraram tirar todo o benefício
para a associação da existência de um grupo de dança e de teatro com prestígio e, por
outro lado, o grupo informal de jovens tinha uma organização que garantia os recursos
materiais para o desenvolvimento das suas actividades.
Ao longo do período a que nos reportamos, a coexistência do grupo com as
referidas associações foi assolada por inúmeras querelas, cuja origem estava quase
sempre na contradição indissolúvel que opunha o estatuto de autonomia relativa e de
informalidade que o grupo reivindicava para si, aos interesses da associação como
organização formal, com dirigentes e recursos próprios. As dificuldades decorrentes da
falta de espaço para os ensaios (a falta de instalações para os ensaios do grupo sempre
constituiu um dos maiores problemas ao desenvolvimento das suas actividades293 ) e de
recursos materiais e financeiros para garantir o desenvolvimento das diferentes
actividades de dança, teatro e de ócio, retardaram a emancipação do grupo, face às
diferentes associações.
A parceria com os Unidos de Cabo Verde
A primeira organização local, sediada na Venda Nova, a acolher o grupo de jovens
Estrelas Cabo-verdianas foi a Associação Unidos de Cabo Verde. Ainda hoje se mantém
uma relação entre ambas, devido à cedência, por parte desta Associação, de instalações
para o grupo desenvolver algumas actividades regulares, nomeadamente os ensaios do
grupo.
Durante anos, o trabalho desta Associação dirigido aos jovens era quase todo
desenvolvido pelo Victor Moreira e pelo grupo ‘Estrelas Cabo-verdianas’. Apesar de se
terem separado, a colaboração tem-se mantido reforçada pelo facto de a Associação
Unidos de Cabo Verde contar com a participação de um ou outro jovem deste grupo294
na respectiva direcção.
292 O Victor, para além de líder do grupo, aceitou, em dado momento, fazer parte das direcções das associações, o que acelerou o processo de ruptura do grupo com estas plataformas. 293 Foram várias as diligências com o objectivo de conseguirem um espaço, o que se explica pelas dificuldades de coexistência do grupo com as associações locais, que cederam instalações para os ensaios. 294 Por exemplo, o Nuno Pina, um dos mais destacados bailarinos do grupo Estrelas Cabo-verdianas, fez parte da direcção, nos últimos três anos.
309
Os jovens e a construção de uma Amadora saudável: a relação do grupo de
jovens com a AJPAS
Na primeira metade da década de 90, e acompanhando toda uma dinâmica
institucional295, um grupo alargado de jovens afroportugueses desenvolveu uma intensa
actividade dirigida a outros jovens, que tinha como ideia central dotá-los de
conhecimentos ‘na área da sexualidade e dos riscos de transmissão sexual (tais como a
sífilis, a hepatite B e a Sida) numa perspectiva global e integrada de promoção de
saúde...e aprofundando conhecimentos sobre opiniões e atitudes relativas à sexualidade
e às doenças sexualmente transmissíveis, nos grupos socialmente desfavorecidos e
minoritários do Município da Amadora’296[AJPAS].
Este grupo de jovens voluntários promotores de saúde foi rapidamente integrado
nas iniciativas da autarquia local para a área da Saúde e apoiado na constituição de uma
associação formal, a AJPAS - Associação de Jovens Promotores da Amadora Saudável,
que aglutinou os jovens mobilizados para o projecto Promoção da Saúde. Entre estes
jovens estava o Victor, que logo se prontificou a preparar coreografias, cujos temas
centrais eram o amor e a sexualidade, a maternidade, a prevenção de doenças
sexualmente transmissíveis, isto é, as tão faladas DTSs como o HIV, sífilis e hepatite B.
Assim, o grupo Estrelas Cabo-verdianas foi integrado na AJPAS, em 1993,
passando a ensaiar na Loja Jovem e a levar a mensagem aos jovens, através da música e
da dança, mobilizando-os para este desafio.
Por conseguinte, em Abril de 1994, foi criado pelos responsáveis da Associação de
Jovens para uma Amadora Saudável (AJPAS) o projecto, Teatrodançando II297, que
iniciou um ciclo de intercâmbio com a Cidade da Praia e com o Tarrafal298, em Cabo
295 Sob o patrocínio da Organização Mundial de Saúde, desenvolveu-se o movimento internacional Cidades Saudáveis ( é curioso referir que o representante da OMS, que garantia a ligação desta organização à Câmara M. da Amadora, era um antropólogo). A Câmara Municipal da Amadora, as Juntas de Freguesia e os Centos de Saúde do Município e as Associações Locais integraram-se no programa Movimento Cidades Saudáveis Amadora - Ano 2000, que está na origem do surgimento, em 1993, da AJPAS - Associação de Jovens Promotores da Amadora Saudável, que integrava o grupo de dança liderado pelo Victor Moreira. 296 Este texto faz parte dos documentos da AJPAS, que traçam os objectivos desta associação. 297 Penso que esta designação tem a ver com o facto de já existir um grupo de teatro de amadores, Teatrodançando, numa escola secundária da Amadora, 298 A cidade-concelho da Amadora é geminada com o concelho do Tarrafal. No âmbito desta geminação e na qualidade de coordenadora do Projecto das Comunidades Étnicas e de Imigrantes do Município da
310
Verde e a cidade de Roterdão, na Holanda (*). No preâmbulo da descrição do projecto é
interessante realçar a forma como é dada importância à dança, como meio privilegiado de
transmitir mensagens. Assim, é referido que ‘a população cabo-verdiana reage de forma
mais positiva e aderente a mensagens transmitidas de um modo vivo e directo. É a
tradição da oralidade! Os costumes e o saber, no mais das vezes, são transmitidos
oralmente....compreende-se, assim, os resultados susceptíveis de serem alcançados,
quando os meios de comunicação e divulgação utilizados são, por exemplo, peças de
teatro e de dança...’ [AJPAS].
Neste texto, podemos verificar que há uma preocupação pela cultura parental
(Feixa, 1999), definida como uma identidade étnica, com normas de conduta e valores
vigentes no meio social de origem dos jovens, que pressupõe um conjunto de interacções
quotidianas entre membros de gerações diferentes (Feixa, 1999:86).
Ao fim de algum tempo de colaboração entre as AJPAS e o grupo Estrelas Cabo-
verdianas, surgiram problemas de entendimento entre os dirigentes da associação e o
líder do grupo, motivando a cessação da colaboração que se tinha desenvolvido durante
alguns anos299. Na origem destes afastamentos estavam não só problemas de liderança
face ao grupo, nomeadamente, entre o Victor Moreira e os jovens dirigentes das
associações, como o jogo de autonomia versus dependência do grupo de dança face às
organizações locais. De facto, as fronteiras entre o grupo e a associação que o integrava,
eram manipuladas por ambas as partes, o que tornava esta relação bastante problemática.
Esta simbiose estratégica acabava quase sempre em rupturas anunciadas, deixando
para trás algumas mazelas, que limitavam a coexistência entre o grupo e a associação.
(*) ver anexo III – 2 e 2A
Amadora, procedi ao levantamento dos tarrafalenses a residir na Amadora, com o objectivo de promover iniciativas junto destes no quadro da referida geminação. 299 As divergências entre o líder do grupo e os dirigentes da associação têm quase sempre origem na tentativa de vincular o grupo à própria associação, fazendo-o depender desta e não do seu líder, o que sempre trouxe amargos de boca a ambos os lados.
311
Entretanto, toda a actividade do grupo Estrelas Cabo-verdianas foi transferida
para a associação de jovens Morna, uma vez que o líder do grupo passou a fazer parte da
direcção desta, deixando, por conseguinte, o trabalho que vinha desenvolvendo em
colaboração com a AJPAS.
Afro-português, luso-africano, luso-crioulo: a vez da Morna
Na segunda metade da década de 90, surgiu, na Venda Nova, uma nova associação
local, a MORNA - Associação Cultural Luso-Africana liderada, como referimos atrás,
por jovens residentes nos bairros 6 de Maio e Estrela d’ África, alguns dos quais faziam
parte do grupo de dança, incluindo o líder do grupo.
Num documento em que esta associação faz a apresentação do projecto Allô Allô
Cabo Verde, é referido: ‘...o projecto vem consubstanciar essa mesma prioridade,
deslocando um grupo de jovens, todos eles luso-africanos, a Cabo Verde, para que assim
possam adquirir uma noção mais clara e vivida da realidade do país de origem...e tem
as seguintes ideias-força: reforçar a identidade cultural e, assim, valorizar a nossa
matriz histórica no país de acolhimento, intercâmbio de experiências, práticas e saberes
na área de animação cultural, promoção da saúde, educação e dinamização de grupos
de jovens (formais e/ou informais) e criar condições favoráveis à vinda de um grupo de
jovens a Portugal para tomarem contacto mais profundo com a realidade vivenciada
pelos luso-cabo-verdianos’ [Morna].
A implementação, na Venda Nova/Damaia de Baixo, do Programa de Iniciativa
Comunitária URBAN300, permitiu à MORNA desenvolver ateliers dirigidos, sobretudo, a
adolescentes e jovens residentes nos bairros 6 de Maio, Estrela d’África e Fontaínhas. É
neste contexto que, em 1997, é criado o projecto ‘Lusocrioulo’ que ‘...tem como
objectivos principais servir como base de orientação para jovens com dificuldades de
inserção escolar, social e profissional...intervir numa zona de grande carência 300 A Câmara Municipal da Amadora criou o Gabinete do Programa de Iniciativa Comunitária URBAN, para desenvolver o Programa Urban da Venda Nova/Damaia de Baixo que, desde 1997, desenvolve na zona um intenso trabalho de coordenação de projectos locais, sobretudo, na área de formação e animação socio-cultural, cujas entidades promotoras são as associações locais, entre as quais a AJPAS, MORNA, Unidos de Cabo Verde e o Centro Social 6 de Maio. A minha presença na equipa do Programa permitiu-me reforçar a proximidade ao contexto onde decorreram estas acções.
312
económico-social e cultural...o projecto consubstancia um módulo de Apoio Escolar,
Animação Socio-Cultural e um Atelier de Imaginação’ [Lusocrioulo/URBAN] (*).
Em 1998, no âmbito do referido Programa URBAN é igualmente criado um
projecto de animação socio-cultural e um atelier de dança, cujos elementos passam a
designar-se Bronzes, dirigido a crianças e adolescentes residentes nos referidos bairros
(*).
É orientado pelo Victor Moreira, com o apoio de monitores de dança, como é o
caso do jovem Mário Pereira, cuja autobiografia incluí no próximo capítulo.
Segundo o documento de apresentação do projecto, estes ateliers visam ‘criar um
espaço aberto e receptivo a sensibilidades diferentes...que se afirme como amplo forum
de aprendizagem e conhecimento do outro’ [Lusocrioulo/URBAN].
Os objectivos do projecto revelam preocupações com a forma como as crianças e
adolescentes lidam com a escola e com o ócio, ao mesmo tempo que pretende ‘preservar
e valorizar a identidade cultural da ‘comunidade local’ e, consequentemente, aumentar
os níveis de auto-estima e de respeito para com a cultura do outro’
[Lusocrioulo/URBAN].
Assim, o objectivo das actividades do grupo Bronzes era, sobretudo, criar nos seus
membros competências ao nível do ‘comportamento social (fala, gestos, atitudes), do
teatro/dramatização e da dança portuguesa, africana, cigana301, outra’
[Lusocrioulo/URBAN].
O grupo de dança Bronzes era constituído por cerca de 20 crianças e adolescentes,
com idades compreendidas entre os 8 e 14 anos, residentes, na sua maioria, no Estrela d’
África. Grande parte destas crianças e adolescentes era afro-portuguesa, filhos/as de pais
cabo-verdianos, embora o grupo tivesse dois ou três elementos ciganos, residentes no
Estrela d’África.
(*) ver anexo III – 3 e 3A
301 O facto de mencionarem a cultura cigana, deve-se à participação de crianças ciganas que residem no bairro Estrela d´África, mesmo em frente à Loja Jovem, onde decorriam estas actividades.
313
Os Bronzes tinham rotinas idênticas às dos Estrelas Cabo-verdianas. Todos os
sábados e domingos, entre as 13 e 15 horas, o Mário302, monitor de dança subsidiado
pelo projecto Lusocrioulo e membro dos Estrelas Cabo-verdianas, como dissemos, tinha
a difícil tarefa de disciplinar este grupo de pequenas bailarinos e de ajudar a criar alguns
talentos que poderiam transitar para o grupo Estrelas Cabo-verdianas. Este era, de facto,
o grande sonho de qualquer Bronze, era uma promoção levada muito a sério e que mexia
bem lá dentro, porque sabiam que, desse modo, estariam mais perto do Victor, da
elevação do seu estatuto e do reconhecimento social. Neste contexto, o grupo Estrelas
Cabo-verdianas exercia um fascínio que se transformava numa espécie de mapa de
orientação para a vida individual e social de muitos jovens que residiam em bairros como
o Estrela d’ África, 6 de Maio e Fontaínhas, situados na cidade da Amadora. Este efeito
de espelho é, na verdade, um dos aspectos mais relevantes da relação dos
adolescentes/jovens com os seus pares e que importa registar como um fenómeno de
mimetismo, isto é, de imitação que, se fosse desenvolvido em maior escala, poderia
traduzir-se numa substancial mudança de comportamentos e de valores. Como sabemos,
os processos culturais estão cheios de casos de imitação e esta situação não é excepção.
Para melhor entender esta projecção dos jovens Estrelas nos mais pequenos, passei
a assistir aos ensaios dos Bronzes, tentando conhecer melhor os adolescentes e, também,
criar condições de aproximação ao Mário e, deste modo, facilitar a conversa sobre a sua
experiência de vida303.
Assim, todos os sábados e domingos, antes de começarem os ensaios, o ritual
repetia-se. Logo que eu batia à porta da casinha, o postigo abria-se, depois a porta e a
seguir a Vitalina, a Flávia, a Raquel, a pequena Sara atropelavam-se para me darem um
beijo e para se sentarem ao meu colo, mexerem no meu cabelo liso e fazerem e
desfazerem pequenas tranças, ao mesmo tempo que me interrogavam sobre o que lhes
vinha à cabeça. Eu notava a admiração destas crianças-a-caminho-da-adolescência pela
minha presença naquele local e pelo facto de já pertencer ao grupo Estrelas Cabo-
verdianas, no fundo, um dos seus grandes sonhos! Passado pouco tempo, comecei a
302 O Mário era monitor de dança dos Bronzes, para além de ser um bailarino dos Estrelas Cabo-verdianas e irmão do Rui 1, com quem partilhou uma extraordinária experiência de vida, que podemos conhecer em parte, através da autobiografia incluída no capítulo seguinte. 303 A autobiografia do Mário está incluída no último capítulo desta parte.
314
aperceber-me que o encontro, aos fins-de-semana, na Escolinha, para os ensaios de
dança, criara nestas crianças uma sensação de conforto, de segurança por não ser apenas
a rua ou a soleira da porta os únicos locais para conversarem e conviverem.
A minha presença provocava, por vezes, uma vontade indomável de se
distinguirem dos seus pares, mas havia dias em que se esqueciam que eu ali estava e
falavam das suas preocupações ou brincadeiras. Num destes momentos, pude escutar a
Vitalina, conversando em crioulo com duas amigas do grupo, sobre a menstruação e o
medo de tomar banho, ou de lavar a cabeça quando estava menstruada. Falavam de forma
muito séria e apreensiva, como que adivinhando riscos e desafios que esta condição lhes
podia acarretar. Nestas etapas do ciclo de vida das adolescentes, a reacção das mães é,
geralmente, de grande preocupação pelo que pode acontecer às filhas, a partir deste
momento e manifesta-se por uma protecção e um controlo, por vezes, muito rígidos, nem
sempre capazes de evitar problemas. Uma das estratégias utilizadas pelas jovens, para
fugir a este controlo, é precisamente a gravidez precoce, pois sabem que a partir daqui
passam a ser tratadas como uma pessoa adulta e podem seguir o seu caminho304.
Como vimos na primeira parte, as entrevistas feitas a alguns adolescentes do bairro,
alguns dos quais estavam integrados nos Bronzes, permitiram conhecer melhor o seu
mundo e a relação com o bairro.
Em 1999, em consequência de algumas divergências entre o líder do grupo e
membro da direcção, Victor Moreira, e o presidente da Associação MORNA, o grupo
Estrelas Cabo-verdianas abandonou aquela associação que, apesar da ruptura, manteve a
funcionar, durante algum tempo, o grupo Bronzes, isto é, o atelier de dança do projecto
Lusocrioulo, apoiado pelo Programa Urban.
Desde então, a ligação do Grupo Estrelas Cabo-verdianas às associações locais
tem sido feita através da cedência de instalações, uma vez que o grupo continuou a
ensaiar em espaços da Associação Unidos de Cabo Verde305.
304 Sobre esta questão, ver Angela Robbie (ed.), 1991. 305 Durante algum tempo, na Escolinha, jardim de infância dos Unidos de Cabo Verde e mais tarde, num espaço cedido por um antigo dirigente desta Associação (Benjamim Moreno, nosso informante) que, entretanto, foi realojado no bairro de habitação social do Zambujal, na Buraca, Amadora.
315
8.2.2. De grupo informal a associação juvenil: o nascimento
da «Nós - Associação de Jovens para o Desenvolvimento»
Num terceiro momento, como vimos, o grupo desvinculou-se das associações
locais e o seu líder preparou o terreno para propor aos jovens a constituição de uma
associação juvenil.
Assim, no dia 14 de Abril de 2001, durante uma estadia na Pousada da Juventude
de Mira, o grupo alargado de jovens reuniu-se para debater o interesse e a viabilidade da
criação de uma associação juvenil. Nesse dia, pelas 15.30 horas, após um divertido
almoço, todos os jovens foram-se sentando em longos bancos de madeira colocados no
átrio exterior da cozinha, localizada no meio do pinhal da Pousada, a qual funcionava,
igualmente, de apoio ao parque de campismo.
fig. 50 - O grupo de jovens em Mira, 2001
316
O encontro306 começou com uma explicação por parte do Victor das razões que o
conduziram àquela proposta, ele que sempre contestou o formalismo e o poder por não
serem, muitas vezes, bem utilizados e contribuírem para afastar as associações das
pessoas e dos seus reais problemas. Porém, estava convicto de que esta nova associação
marcaria a diferença. Em seguida, o líder do grupo propôs que a associação fosse
baptizada com o nome Nós – Associação de Jovens para o Desenvolvimento e colocou-
o à discussão dos jovens. Com efeito, este era o nome que estava agora em discussão e
que carecia de alguma explicação sobre o seu significado307.
Nós - Nô em crioulo - significa nós de colectivo, nosso, mas também pode significar nós de atar,
de unir...todos podem fazer parte, serem sócios, sejam namorados, familiares, amigos de
bailarino...a cota deve ser um preço ... as mulheres vão ter aqui um papel muito forte...tem de
haver pessoas com garra...isto vai resolver muitos problemas... [Victor Moreira].
A esta explicação apetece-me juntar a de Connerton, quando refere que “a
linguagem litúrgica faz um uso especial do ‘nós’ e do ‘eles’. A forma plural de ‘nós’ e
‘nos’ indica que, embora existam vários oradores, estes estão a agir colectivamente,
como se fossem um único, uma espécie de personalidade colectiva...A comunidade é
iniciada quando os pronomes da solidariedade são repetidamente pronunciados. Ao
pronunciarem o ‘nós’, os participantes reúnem-se não só num espaço exteriormente
definível, mas também uma espécie de espaço ideal determinado pelos seus actos
discursivos” (1999:68).
O líder do grupo, apelando ao sentido de communitas, foi dizendo repetidas vezes
que gostava de ouvir a opinião de toda a gente, que todos se deviam pronunciar e dar
sugestões.
A proposta de nomes para os corpos gerentes da associação308 foi amplamente
discutida e reformulada, notando-se, nos rostos dos jovens, uma satisfação e um receio
306 O ambiente que rodeou a criação da Associação Nós encontra-se desenvolvido no capítulo das actividades cíclicas do grupo. 307 Sobre o significado de ‘NÓS’, ver Paul Connerton, 1999 (1989). 308 Os corpos gerentes da associação Nós foram distribuídos por três orgãos: a direcção composta por presidente (Victor ), vice-presidente( Alcinda), tesoureiro (Luís) , e dois vogais (Lita e Nina); assembleia geral: com uma mesa constituída por presidente (Solange), vice-presidente (Helder) e secretária (Goreti); conselho fiscal: presidente (Sónia), vogais (Isabel Moreno e Bucha).
317
por serem nomeados para os cargos, mostrando desconhecer as respectivas
competências, desajeitados que se sentiam para desempenhar papeis formais.
O argumento suscitou a intervenção de grande parte dos jovens, rapazes e
raparigas, que não quiseram deixar de aproveitar este momento tão importante da vida do
grupo para tecer algumas críticas e autocríticas, fazendo, simultaneamente, propostas
para o grupo ultrapassar algumas dificuldades. Ao longo desta assembleia foram
distribuídas responsabilidades não só em relação à recém criada associação, mas também
em relação ao grupo de dança Estrelas Cabo-verdianas.
fig. 51 - Assembleia de jovens para a constituição da Associação ‘Nós’
Neste contexto, o líder e alguns dos jovens com mais responsabilidades dentro do
grupo reafirmaram que a sua conduta continuaria a ser pautada pela amizade baseada na
frontalidade, solidariedade e entreajuda, características e valores que, na perspectiva
destes jovens, induziriam consensos. Assim, a amizade voluntária e pessoal continuaria
a ser a marca do grupo e, desde logo, os participantes continuariam a ser escolhidos
livremente, sem qualquer tipo de coacção externa, dentro de amplo espectro de
possibilidades. Manter-se-ia uma relação de igualdade, de reciprocidade309, apesar da
309 Autores como Wallman (1992), Gilmore (1975), Allan (1989) realçam o carácter plurifuncional da relação de amizade, que serve para tudo (all purpose), que pressupõe reciprocidade e equivalência transaccional que se dá entre amigos: inversão emocional, ajuda mútua, tarefas e serviços; todos procuram que haja reciprocidade.
318
existência de uma partilha de responsabilidades. A ligação ao bairro, sobretudo aos
adolescentes e jovens, sustentada por uma base de confiança310, seria uma realidade
incontornável.
Estavam, assim, lançados os principais dados para que o grupo avançasse com
uma nova estratégia de afirmação, não só no bairro, como na cidade da Amadora.
Estou em crer que a minha presença no interior do grupo e a longa experiência que
me atribuíam para lidar com estes processos, também contribuiu para que ganhassem
mais confiança em si próprios, para avançarem com este projecto.
Durante o período de recolha de elementos para a constituição da futura
associação juvenil, dividimos tarefas entre o Victor, a Alcinda, o Luís e eu própria.
Passamos, então, a reunir em minha casa, no Dafundo e na casa da aldeia, perto da
Lousã311. Num ambiente descontraído, fomos redigindo os estatutos312(*), analisando os
passos necessários à formalização da associação e procedendo à distribuição de
trabalho. No intervalo das reuniões, fazíamos o ponto da situação, através do telemóvel
e resolvíamos os problemas que iam surgindo. O nome da associação surgiu numa
destas reuniões de trabalho e o lugar de madrinha deste projecto colectivo foi-me
conferido por ter contribuído para o surgimento e denominação da NÓS.
Os objectivos da nova associação traduzem novas preocupações dos jovens e a
intenção de criarem respostas a novas situações e desafios:
Desenvolver a cooperação e solidariedade entre os seus associados, na base da realização de
iniciativas relativas à problemática da juventude;
Promover projectos que visem a prevenção de riscos para os jovens, nomeadamente, a
toxicodependência, doenças sexualmente transmissíveis, gravidez precoce e violência juvenil;
Implementar projectos de desenvolvimento comunitário no bairro (Estrela d’África) e envolvente,
no sentido de melhorar as condições de vida das famílias e consequentemente, dos jovens;
(*) ver anexo III – 4
310 Como refere Simmel, há um laço estreito entre amizade e confiança, que implica um conhecimento do outro. A confiança é intermediária entre conhecimento e ignorância a propósito de uma pessoa, reduzindo a margem de incerteza (Georg Simmel, 1950 (1903) in Bidart, Claire, 1997:29) 311 Após o trabalho de campo e com o objectivo de redigir a dissertação, passei uma grande temporada em Vale do Gueiro, perto da Lousã, terra do meu pai onde possuo uma casa de campo. 312 Fiquei responsável pela redacção dos estatutos da Associação e pela proposta do nome da associação, que acabou por ser bem acolhido por todos.
319
Dinamizar ateliers de dança, musica, teatro, informática, fotografia e vídeo e outras acções de
formação;
Promover o intercâmbio com jovens de outras culturas nacionais e internacionais;
Desenvolver o estudo, investigação e difusão de informação relativa aos jovens e sua realidade
cooperando, sempre que possível, com entidades públicas e privadas, visando a integração social
e o desenvolvimento de políticas adequadas [Associação NÓS].
Com um nome sugestivo e com estatutos, os jovens começaram a tratar de toda a
documentação com o intuito de formalizarem a Associação NÓS. Assim, o Victor, A
Alcinda e o Luís fizeram uma série de diligências: contactaram a Câmara Municipal da
Amadora, através do Gabinete de Apoio às Minorias Étnicas, no sentido de obter os
contactos indispensáveis para a legalização de uma associação juvenil; deslocaram-se ao
Instituto Português da Juventude para pedir documentação; ao Registo de Pessoas
Colectivas, para obterem o cartão de Pessoa Colectiva; percorreram a Amadora à
procura de um Notário que fizesse a escritura da associação. Ao fim de muitos meses de
espera e sem resultados à vista, a escritura foi realizada, a 31 de Maio de 2002, em Vila
Nova de Poiares313.
fig. 52 - Os fundadores da Associação ‘Nós’ no local de realização da escritura
313 A solidariedade da Drª Margarida, a notária de Vila Nova de Poiares, foi determinante para que este impasse fosse superado. Ela própria fez questão em resolver, com a urgência possível, todas as diligências no sentido da Associação NÓS ser legalizada.
320
Para grande parte dos jovens Estrelas Cabo-verdianas, uma associação criada
pelos próprios parecia garantir a existência de um espaço de autonomia e de reforço de
competências e da auto-estima de cada um, um espaço de sociabilidade e de produção
de valores, mas também de projectos sustentados pela possibilidade de uma nova
capacidade de gestão material e financeira.
Neste contexto, bastou constar que jovens do grupo Estrelas Cabo-verdianas
estavam a criar uma nova associação para começarem a surgir reacções, nem sempre
positivas, de líderes de algumas associações locais que pareciam encarar esta associação
como uma rival que entra no seu território. Ora bem, a escala em que estes episódios
acontecem é pequena, mas as repercussões na vida destas microestruturas não são
negligenciáveis, porque constituem uma ameaça permanente à sua coesão e
sobrevivência. Não obstante estas resistências, desenhava-se, assim, uma estrutura
colectiva formal – a Associação Nós - com uma base territorial, o bairro Estrela
d’África, inserido num espaço urbano, a cidade da Amadora (*). Esta nova configuração
do grupo de jovens poderá revelar-se crucial para a reinvenção permanente das
identidades individuais e colectivas dos jovens, produto de uma mescla sincrética de
vários estilos existentes no seu meio social (Feixa, 1999:87, 101). Mas, mesmo que não
se opere esta fusão de idiomas, concerteza que será um espaço de responsabilização e de
autonomia que contribuirá para o exercício da cidadania destes jovens.
(*) ver anexo III – 5
321
Capítulo 9
NHA GRUPU Ê NHA ALMA314: AMIZADE E PERTENÇA
ENTRE JOVENS
9.1. Organização interna e factores estruturantes do grupo
Estrelas Cabo-verdianas
A antropologia urbana tem dado um contributo insubstituível na análise de
processos que se esgueiram por entre a trama das relações sociais dos urbanitas. Ao
estar atenta às situações sociais mais ou menos estruturadas, ao informal e mesmo, ao
banal, ao desmontar artificialismos, ao penetrar nos laços sociais, nas redes e nos tecidos
pelas pessoas no quotidiano, ao valorizar os sentidos, a reciprocidade, a amizade acaba
por nos conduzir ao ‘mundo da vida’ (Habermas in Zaluar,1997).
Para a aproximação ao grupo Estrela Cabo-verdianas, convocámos uma
metodologia que nos permitiu penetrar no mundo dos jovens e, por seu intermédio, num
bairro visto através de um prisma caleidoscópico.
Como vimos no capítulo anterior, durante longos anos, a ideia do carácter
informal e de uma relativa autonomia face às organizações e instituições locais
prevaleceu no interior do grupo Estrelas Caboverdianas. Contudo, nos últimos três
anos, essa ideia deu lentamente lugar a uma outra concepção que pressupunha a
necessidade de transformação do grupo de jovens em associação.
314 Esta expressão, em crioulo, significa o meu grupo é a minha alma; foi utilizada por um dos jovens para definir o sentimento de pertença face ao grupo Estrelas Cabo-verdianas.
322
A questão que colocamos é a seguinte: como foi possível ao grupo informal de
jovens sobreviver, durante tantos anos, mantendo uma unidade e uma coesão
assinaláveis, sem um enquadramento legal?!
Pois bem, o grupo de jovens Estrelas Cabo-verdianas, embora colaborando
estreitamente com as associações locais, manteve-se fora de um campo organizacional
formal, pelo que, para compreender a sua existência e funcionamento foi necessário
encontrar pontos de ancoragem que lhe conferisse consistência.
A actividade do grupo enquadra-se no tipo de situação social repetitiva (Agier,
1996)315, que se define por uma necessidade de interacção dos actores sociais e uma
regularidade localizadas no espaço e no tempo. É nesta situação social que melhor
podemos observar os efeitos de pertença ao grupo e ao bairro.
Contudo, como veremos mais à frente, o grupo marca o seu afastamento do
quotidiano, através de formas liminares (inversão, perversão, reinvenção), criando
situações rituais (Mitchell, 1980) que têm tradução na dança316 e nas actividades fora da
rotina dos ensaios. É, pois, em torno dos tempos livres (Hannerz, 1986[1980])317 que se
desenha o modus vivendi deste colectivo.
Neste quadro, parece fundamental situar o grupo no espaço e no tempo318, bem
como na trama de relações e, desde logo, na interacção dos seus membros, a qual é
315 Michel Agier (1996) dá-nos uma preciosa ajuda para equacionarmos, dentro da sua perspectiva situacional, a distinção entre três tipos de situação que permitem ver melhor as relações entre a interacção, a situação e o quadro. Recorremos a essa tipologia para evocarmos o grupo Estrelas Cabo-verdianas e definirmos o respectivo quadro social urbano. 316 O arquétipo deste tipo de situação ritual é a Kalela Dance, estudada por Mitchell, em que a companhia de dança e a sua actuação iluminavam a natureza do tribalismo (derivado do antigo modo de vida dos Bisas), tal como se apresenta em circunstâncias urbanas; a inclusão de funções como as de médico e enfermeira identificavam a Kalela com um tipo de dança inspirada no contacto com os europeus. No caso do grupo de dança Estrelas Cabo-verdianas, dá-se a incorporação de funções de personagens das ilhas de origem dos pais, por exemplo, os agricultores e o papel da mulher do campo. Penso, contudo, que apesar das semelhanças, os jovens estão longe de pretender regressar a um estádio de tribalização, como acontece com os protagonistas da Kalela Dance, apenas pretendem recrear tradições da cultura parental, Clyde Mitchell: (1956). 317 Ulf Hannerz distingue cinco domínios de papéis assumidos pelos cidadãos: 1- a casa e o parentesco; 2- o aprovisionamento (espaço de trabalho e mercado); 3- os tempos livres; 4- a vizinhança; 5- o tráfico (os espaços públicos das ruas, praças e outros espaços de interacção minimal), (1986:273). 318 A análise situacional liberta-nos de um quadro espacial e institucional rígido, permitindo, deste modo, a apreensão de fenómenos que podem estar marcados por uma certa fluidez, fora dos quadros sociais urbanos (família, vizinhança, trabalho), sem estar totalmente fora deles. O importante é o compromisso situacional do urbanita, procurando reencontrar elementos significativos da ordem social global, por um lado, e as articulações possíveis entre diferentes situações vividas, sejam elas acidentais, rotineiras ou rituais, Cf.
323
regida por uma série de normas mais ou menos explícitas e consensuais, entre as quais
se destacam a lealdade e a ajuda (Cucó i Giner, 1995)319.
A existência de factores decisivos para o moldar da identidade de grupo tem
contribuído para que este mantenha a coesão interna e a autonomia relativa e se afirme
como uma entidade colectiva com competências específicas e com finalidades que
extravasam o próprio grupo para se alargarem ao bairro onde está inserido.
Neste quadro, desenhamos os traços distintivos do grupo de jovens Estrelas cabo-
verdianas, a partir de quatro factores estruturantes:
• O bairro, que forma o quadro local de interacção dos jovens actores sociais.
• O líder carismático, com o qual partilham vidas, competências, afectos,
tristezas e euforias e a quem se pode atribuir o centro, a cabeça da estrela desta
rede;
• As actividades, que são de dois tipos:
a) a dança, como actividade colectiva estruturante do grupo e, dentro desta, as
actividades de rotina, isto é, os ensaios semanais no bairro Estrela d’África e os
espectáculos, que são momentos acompanhados pelos fãs e familiares,
realizados na Amadora ou noutras localidades;
b) actividades cíclicas, como as excursões com estadias fora de Lisboa e os
rituais e celebrações nos aniversários, Natal, entre muitos outros;
• A relação de amizade e o sentimento de pertença ao grupo e ao bairro, que dão
substância à rede de amigos que o grupo configura, mas que se alarga a outras
redes construídas fora deste;
São, de facto, estes elementos que têm constituído as forças centríptas que puxam
os jovens para o interior do grupo, processo que o transformam num porto de abrigo,
num ancoradouro, onde amarram as suas vidas.
Clyde Mitchell, «Orientaciones de los estudios urbanos en África» in Michel Banton (comp) 1980, Antropologia social de las sociedades complejas,Madrid: Alianza, pp.53-81. 319 O contributo de Josefa Cucó i Giner (1995), para o enquadramento da amizade entre o grupo de jovens foi fundamental.
324
O carácter liminar que sugere a informalidade é reforçado mais pelo exterior do
que no interior do grupo. Com efeito, os jovens sentem-se perfeitamente integrados,
partilham códigos éticos e de conduta, obedecem às regras estabelecidas entre todos e
obrigam ao seu cumprimento, sujeitando os seus membros a sanções; descentralizam
responsabilidades, o que permite nivelar mais do que hierarquizar e utilizam a crítica e a
auto-crítica como chaves para a tolerância e o diálogo dentro do grupo.
Uma perspectiva emic leva-nos às afirmações do líder do grupo, que tem prazer
em explicar como este se estruturou, ao longo de anos, sem ser necessário recorrer a
fórmulas rígidas que passassem por uma formalidade legalizada. Assim, afirma que:
‘o grupo tem uma estrutura, mas não é formal. Tudo o que é formal mete medo, exige documentos,
num mundo onde não se está legalizado...os jovens têm medo, seria uma forma de afugentá-los.
Existe uma hierarquia, regras do jogo, o formal existe dentro das nossas cabeças!
Existe a figura do padrinho, quem traz e apresenta a pessoa ao grupo.
Desde 1984, o grupo entendeu que tinha de fazer qualquer coisa pelo bairro, todo o tipo de bairro
com dificuldades, com jovens sem rumo, darmos uma mãozinha.
Fomos quase empurrados para termos uma estrutura formal.
As regras são simples: aceitaram-me, nomearam-me, investiram-me como responsável, não à
imagem de um patrão rígido, eu tinha peso sobre as cabeças dos jovens, porque eu não tinha
vergonha de mim próprio, de ser cabo-verdiano, assumia que isto era cativante, não tinha
vergonha de ser africano, de ser negro, para eles era como se eu tivesse dito tu és importante, é
bom seres africano.
As regras são nunca gozar com o outro, ajudar a família, têm de compreender a mãe e o pai, os
jovens não sabem lidar com isso, entram em stress...
Os horários a cumprir, os compromissos a assumir por causa dos espectáculos... têm de honrar a
farda, o traje do grupo, se falhasse, seria convidado a sair...
No grupo, eles próprios constroem as regras. Na escola as regras são impingidas!
A dança não é o objectivo final. Entramos pela porta dentro e sentimos que o grupo está bem ou
que há alguém com problemas. Comunicamos em crioulo e todos sentem, imediatamente...dizem as
regras que querem, sentamo-nos no chão e estamos horas a discutir as regras, o castigo é dado
pelos próprios jovens...pesa mais que uma chicotada dos pais!
Acham que esta forma de funcionamento é certa? Criticam forte e feio, fazem a auto-crítica.
Temos de obedecer, se não, temos de sair para a rua. Os pais são chamados, em último caso.
É importante haver grupos de jovens na escola, mas mais importante é haver grupo de jovens no
bairro, onde passam a maior parte do tempo e os pais só chegam à noite. Neste caso, o grupo de
325
bairro exerce sobre eles um controle...a escola tem de perceber que as regras têm de ser
discutidas com os jovens’ [Victor Moreira] .
Para garantir a unidade interna do grupo e reforçar os elementos estruturantes,
arquitectam-se rituais distintos e celebrações, nos quais participa também o grupo de
amigos, transformando-se em rituais de iniciação e de afirmação grupal, que
pressupõem uma renovação e confirmação periódica dos laços que os unem. Serve de
exemplo, a figura do padrinho e o baptismo320 dos novos membros, que lhes confere um
estatuto de quem passou a fazer parte daquela família, ou a quase obrigação de
participarem em aniversários, nascimento de filhos, morte ou casamento de familiares e
em todas as actividades do grupo.
Para contrariar um pouco a rigidez das regras e das obrigações, os elementos do
grupo planeiam ir juntos, por exemplo, à discoteca, ao cinema, ao centro comercial, ou
organizam deslocações para fora de Lisboa, servindo estas estadias para reforçar os
laços de amizade e alargá-los a outros amigos. Constituem, por conseguinte, espaços de
forte sociabilidade que permitem não só a reflexão sobre a vida do grupo, como a
inversão das regras, as infracções contínuas, as quais, para além de divertirem, permitem
amolecer quaisquer tentativas de rigidez e de hierarquização.
Este fenómeno aproxima-se da ideia de communitas, que Turner321 definiu como
uma anti-estrutura social em que os laços podem ser criados fora das hierarquias e das
relações sociais...são fenómenos de natureza liminóide, que se aparentam à liminaridade
e que são próprios de certos grupos de jovens (Segalen, 1998:36).
Vejamos, agora, de que forma operam os referidos quatro elementos estruturantes
do grupo, a partir do conhecimento que a participação observante, enquanto membro do
grupo, me permitiu construir, ao longo de dois anos de trabalho de terreno, e em que
320 O baptismo dos novos elementos do grupo é feito, geralmente, nas estadias de fim de semana fora de Lisboa. Mais à frente, será descrito o ritual de iniciação a que fui sujeita, em Mira, bem como alguns novos elementos do grupo. 321 Turner (1990 [1969]) refere que no estado de communitas, o tempo e o espaço ritual constituem um hiato na vida e organização social de qualquer sociedade, encontrando-se, assim, fora da estrutura; define também liminaridade como um estádio que se caracteriza pela ambiguidade, em que as pessoas saem temporariamente da sua posição social e da trama das relações sociais; neste tipo de relacionamento humano, a sociedade não está estruturada, hierarquizada.
326
medida estes dispositivos são parte integrante do processo de construção das identidades
individuais e colectivas do jovens.
9.1.1. Contexto sócio-cultural: o bairro Estrela d’África como
quadro local de interacção
O principal contexto socio-espacial, onde se desenrola a acção do grupo Estrelas
Cabo-verdianas, é o bairro Estrela d’África. Este é a base territorial de referência, a
localidade onde se produzem os traços definidores da identidade de grupo, a qual pode
ser analisada como uma ‘metáfora dos processos de transição cultural, uma imagem
condensada de uma sociedade em mudança’ (Feixa:1999:89), embora, não
necessariamente em todos os aspectos identitários.
Para os jovens do grupo, o bairro é a casa, é um lugar quente, que aconchega,
onde se sentem seguros e como que protegidos pela população. Deste modo, existe uma
influência recíproca entre o bairro Estrela d’África e o grupo Estrelas Cabo-verdianas.
Assim, para os residentes, a presença do grupo e o impacto das suas actividades nas
crianças e jovens é de grande importância, porque vêem neste tipo de ocupação uma
forma de os afastarem de tentações, pois consideram os jovens do grupo um exemplo a
seguir. Vejamos alguns aspectos desta influência recíproca.
Ao analisar o conteúdo de uma carta de apresentação322 do grupo Estrelas Cabo-
verdianas (*), verificamos que a preocupação pelos problemas da comunidade é uma
constante. Comunidade, aqui, são as famílias e dentro destas, as crianças e os jovens que
merecem uma atenção especial do grupo. Neste documento, é referido que “os bairros
deste tipo não têm respostas sociais para os problemas da população, nomeadamente, para as crianças e
adolescentes que ficam desde muito cedo entregues a si próprios. Se têm a sorte de encontrar apoio da
família e da sociedade, nomeadamente, das associações, da escola, e das autarquias locais, fazem um
grande esforço para ultrapassar as dificuldades de todo o tipo que encontram pela frente, isto é, todo um
conjunto de problemas de insucesso escolar, gravidez precoce, incentivos à marginalidade...pois sabem
que tudo isto inviabiliza o grande sonho...que é vencer na vida e ter acesso ao que os outros têm.
(*) ver anexo III – 6 e 6A
322 Documento que integra a correspondência do grupo Estrelas Cabo-verdianas, datado de 1999.
327
Como este ideal é quase sempre impossível de atingir nas actuais condições de vida, a auto-
estima dos jovens encontra-se em baixo e estão desmotivados perante tantas barreiras e dificuldades
colocadas pela sociedade onde vivem, pelo que é fácil desistir de um futuro melhor e então, acontece
muitas vezes o pior, enveredam pelo caminho mais acessível que é a droga e a delinquência que lhe está
ligada, chamado pelos mais velhos como “vida fácil”, que significa que não se olha a meios para atingir
os fins” [Carta de apresentação do grupo Estrelas Cabo-verdianas].
O mesmo registo refere que ‘a desmotivação, a ausência de alternativas e os mencionados
problemas constituíram as principais razões para a constituição do Grupo Estrelas Cabo-verdianas, com
o objectivo central de ocupar os jovens em torno de actividades socio-culturais e de formação,
preparando-os para a vida activa e social, nomeadamente, para a escola e o trabalho e,
simultaneamente, garantir a existência de espaços de afecto e de solidariedade’ [idem].
Tendo como base este diagnóstico, o grupo decidiu traçar duas linhas de trabalho
que revelam: por um lado, uma vontade de recriar cenários multiculturais para passar a
mensagem da tolerância e de respeito pelas tradições dos progenitores; por outro,
revelam uma grande preocupação pelos problemas de saúde e sociais dos jovens.
• “ uma frente de trabalho virada para a dança, em geral: portuguesa, caboverdeana, guineense,
angolana, santomense, moçambicana, dança de salão; procurou-se, deste modo, divulgar as raízes e as
influências mútuas entre as diferentes culturas, em especial aquelas que representam as origens dos pais
dos jovens;
• outra frente de trabalho direccionada para os aspectos relacionados com a promoção da saúde
na comunidade e a prevenção de determinadas doenças, sobretudo, as doenças sexualmente
transmissíveis / D.S.T., que começavam a preocupar os jovens e os responsáveis da saúde” [Idem].
A forma que o grupo resolveu adoptar para levar a cabo estas orientações foi a
constituição de um repertório de músicas que, através da dança e da dramatização, de
coreografias e de performances, procuravam transmitir mensagens, que actuavam como
mapas mentais para orientar a interacção quotidiana dos jovens. As sociabilidades,
criadas, a partir desta interacção e das actividades, conferem ao grupo um estilo de vida,
um ethos, com impacto não só nos seus membros, como também nas crianças e jovens
que vivem no bairro ou nos bairros contíguos ao Estrela d’África, sobretudo, 6 de Maio
e Fontaínhas. Por conseguinte, o estilo de sociabilidade adoptado pelo grupo constitui
também um mapa de orientação para os mais novos, que aspiram a pertencer, um dia,
àquele grupo e poder integrar-se, através da música e da dança, num conjunto de
iniciativas a que os seus membros têm acesso, passando a fazer parte desta família
unida.
328
Perigo e sedução
Como referimos atrás, para além dos amigos forjados dentro do grupo, os jovens
têm redes de amizade mais amplas, dentro e fora do bairro.
Muitas destas amizades têm a ver com jovens com outras maneiras de pensar e
com experiências de vida diferentes como, por exemplo, o Taopi, que é cabo-verdiano e
tem tido problemas com o tráfico de droga, ou o Covi que, embora não tenha a ver com
esse mundo, utiliza sinais do grupo de pertença, como o piercing323, o brinco na orelha,
o corte de cabelo e pode até fumar um chamon324 ou padjinha325de vez em quando.
A diversidade de modelos e de processos de identificação a que os jovens do
bairro aderem, coexistem com os traços distintivos do grupo Estrelas Cabo-verdianas,
pois alguns jovens têm irmãos ou parentes dentro do grupo e partilham das iniciativas
destes.
O Victor Moreira, líder do grupo, conhece bem o meio e lida com todo o tipo de
jovens, sendo por vezes os próprios pais destes que lhe pedem para falar com os filhos
procurando trazê-los ao bom caminho, de volta para casa, para não entrarem no vício [Victor
Moreira]. Precisamente, no dia em que o Victor nos dava estas informações, iria
procurar dois adolescentes a pedido das mães.
O tráfico na periferia do bairro e sobretudo, no 6 de Maio, traz a população em
sobressalto. Há anos atrás, quando os moradores estavam organizados, a vida dos
traficantes estava dificultada porque havia um grande controlo social dentro do Estrela
d’África. Hoje em dia, a ausência de um trabalho colectivo com base na participação
dos moradores e, por outro lado, com o fim anunciado do Casal Ventoso, estas
localidades tornaram-se vulneráveis ao tráfico de estupefacientes e a um tipo de
organização que é acompanhada do exterior pelos controladores do tráfico. A
envolvente destes bairros também faz parte deste quadro, por isso, não é de admirar que
haja locais para as transacções do produto e para o negócio. Registei no diário de campo
323 Sobre o piercing e a tatuagem, ver capítulo III, sobre Práticas de marginalidade, de Valerie Fournier, 1999. 324 Chamon significa charro, no léxico calão. 325 Para os jovens cabo-verdianos padjinha significa erva, palha.
329
um episódio que me surpreendeu, passados poucos meses de trabalho no terreno. Num
Domingo de trabalho no bairro, pelas 22 horas, ao chegar perto do meu carro, reparei
que um dos vidros parecia ter sido partido à pedrada. Passados dias, o Victor fez questão
em me explicar que há locais de tráfico, onde acontecem, muitas vezes, zaragatas entre
os traficantes ‘... neste local comercializa-se a droga em bruto e, quando o ouro ou o dinheiro não é
equivalente ao valor da substância, há guerra, tiros, pedradas e agressão’ [Victor Moreira]. Por
azar, eu tinha parado o carro exactamente num desses locais, isto é, junto ao Banco
Nova Rede, perto das obras de reabilitação da área envolvente à estação dos caminhos
de ferro da Damaia, a escassos metros da esquadra da polícia da Damaia.
À medida que o trabalho de campo me permitiu conhecer melhor o bairro,
apercebi-me que em alguns becos do bairro traficava-se drogas. Um dos locais era uma
pequena construção abarracada, à entrada da Rua Nossa Senhora do Monte, onde residia
um jovem que chamava um pouco a atenção porque, para além de ter a música alto,
utilizava o cheiro a incenso para atrair a atenção dos jovens; outro dos locais era uma
casa em alvenaria, em frente da taberna-café da D. Maria, no beco onde residia a Ina,
personagem de que falámos na parte anterior; ali perto, uma outra construção,
pertencente a uma família cigana, tinha sido encerrada pela polícia, após terem
encontrado o produto para venda.
Passados alguns meses de terreno, já não era difícil apercebermo-nos destas
movimentações. Passei muitas horas na rua a conversar com a Ina, sentada numa velha
cadeira sem parte das costas que ela delicadamente me emprestava, comendo milho
assado e observando o movimento daquele beco e apercebi-me que, mesmo ali ao lado,
havia quem traficasse substâncias ilícitas. Ao cair da noite, um corropio de miúdos a
entrar e a saír do beco para comprarem a sua dose, era uma constante.
Foi neste quadro que conheci o jovem Alexandre, muito magro e com uns grandes
olhos azuis, filho de migrantes internos, que estava agarrado, mas depois de um
tratamento ficara melhor, não fora a tuberculose que o apanhou e que, meses mais tarde,
o vitimou, para grande desgosto dos amigos e familiares.
Dias mais tarde, três jovens que moravam naquele local foram presos pela polícia,
todos eles filhos de pessoas que viviam em casas que davam para o beco. Um deles, ao
tentar fugir, foi apanhado pelo comboio e conduzido ao hospital. Tinham sido
330
denunciados por um ex-companheiro da mãe de um deles, que jurou vingar-se quando
saiu de casa. O silêncio sofrido destes familiares revelava uma preocupação permanente
sobre o destino dos filhos e, por isso mesmo, tinham uma atitude muito reservada. A
minha amizade com a Ina e o facto de pensarem que eu era assistente social, e de
saberem que pertencia ao grupo de jovens, levou a que a mãe de um deles, a D. Rita, me
abrisse as portas da casa e tentasse uma certa aproximação. Em contraste com a grande
imagem da Virgem Maria colocada num altar improvisado pela mãe, no quarto de
dormir, o jovem Adilson, de 23 anos, tinha o culto de Bob Marley e da música reggae; o
seu quarto mais parecia uma igreja, onde os ícones eram gravuras das místicas criaturas
do rastafarianismo (Fournier, 1999:46)326 e a atmosfera cheirava a incenso, que se
misturava com um reggae genuíno. Penso que a substância vendida era apenas o haxixe
e que aqueles pouco consumiam, apesar de a erva, a cannabis, ser um elemento
fundamental nos rituais de convivência de alguns jovens, desempenhando uma função
de sociabilidade.
O movimento de pessoas na entrada da Rua do Apeadeiro, em frente ao Mercado
Municipal, era controlado por uma mulher, a partir da sua janela, que, com o decorrer da
minha presença no bairro se revelou uma informante interessante. Trata-se de Felisbela,
migrante interna, com 51 anos, faladora e simpática, que se referia ao local como um
dos favoritos dos jovens para traficar. Dizia que na relva do Mercado havia bocados de
droga e que o movimento e o desassossego eram uma constante.
Numa das muitas conversas com o Victor, este contava que já tinha acompanhado
uma rede de traficantes para saber como operavam e para tentar desviar um jovem que
tinha sido recrutado por aqueles. Lamentando profundamente, explicou que ‘o dinheiro
fácil constitui uma grande sedução e os jovens têm como grande objectivo, por exemplo, conquistar uma
mulher tuga327, fora do bairro e que, para isso, precisa de um carro vistoso com uma boa aparelhagem de
som, boa música, roupa de marca, casa fora do bairro...por isso não olham a meios para atingir este fim’
[Victor Moreira].
326 As chamadas tribos de babacools ou de rastafarians fazem do consumo de cannabis e de haxixe um dos seus costumes que parecem ter sido herdados dos hippies dos anos 60; são adeptos de músicas com ritmos como o ska, o reggae de Bob Marley para uns e os Doors, Janis Joplin para outros e a Babilónia, metáfora da actual condição humana, está no centro da contestação. Estes jovens são muitas vezes vegetarianos e atribuem propriedades terapêuticas à cannabis, em contraposição à cerveja e ao tabaco utilizados por outras subculturas juvenis com uma função de sociabilidade. 327 Tuga significa portuguesa, branca, que vive fora do bairro.
331
A ausência de programas alternativos e de formação pré-profissional coloca os
adolescentes entregues à sua sorte e, neste contexto, a sedução por atalhos de rápido
sucesso material é o caminho a seguir. Por isso, não admira que todos os dias haja
miúdos que aderem a um tipo de solução para poder aceder a um tipo de estatuto social
que os arranque do anonimato.
Até à data de conclusão do trabalho de campo, isto é, até Setembro de 2001, o
consumo de estupefacientes no interior do bairro era muito baixo. Os poucos postos de
venda de substâncias ilícitas tinham como clientes malta de fora do bairro. A este facto
não é alheia a existência de grupos como os Estrelas Cabo-verdianas que têm como
elemento fundador a sociabilidade e, desde logo, o consumo de drogas é considerado
anti-social. Os elementos do grupo de jovens sabem que as estratégias do
toxicodependente podem passar por se juntarem, mas que este tipo de grupo nada tem de
social ou cultural. Como veremos mais à frente, a eficácia simbólica das performances
dos Estrelas Cabo-verdianas tem a ver com estes temas e problemas que lhes estão
associados.
Idioma de beco
A rua e o beco328 constituem, igualmente, arenas de forte sociabilidade para os
jovens que residem no bairro e para aqueles que ali têm amigos ou centros de interesse.
São, por conseguinte, locais facilitadores da comunicação e da circulação de
informações, onde se passa mensagens, através de diferentes códigos de conduta e de
honra que estabelecem as regras de convivência, procurando gerir conflitualidades,
antagonismos, contribuindo, deste modo, para consolidar a rede de amigos.
A esquina ou o beco, situados nos limites do bairro, funcionam como torres de
vigia, pólos de confluência de interesses, pontes entre o bairro e a envolvente, marcam
fronteiras entre o conhecido e o desconhecido.
Um dos locais de encontro dos jovens, mais frequentado, é a esquina da Rua do
Apeadeiro com a Rua D. Maria, junto a uma das principais entradas no bairro Estrela
328 Beco é uma palavra que substitui esquina, expressão que não é do agrado das pessoas porque tem uma conotação negativa. Cf. William Foote Whyte, 1972 (1943).
332
d’África, pela Rua Nª Sª do Monte. Ali se concentram jovens com diferentes formas de
estar na vida, pertencentes a diferentes grupos, mas com um elo comum: uma cultura de
bairro e de beco. Passam horas a observar quem entra e quem sai do bairro, como que
controlando este movimento, a falar numa linguagem que é um misto de crioulo com
calão, acertando percursos e cruzando trajectórias de vida.
Mas existem outros locais eleitos pelos jovens para comunicarem entre si. É
frequente concentrarem-se à porta do Parreirinha, pequeno café situado na Rua SRª.
Maria, em frente ao bairro. No Inverno ou à noite, os jovens concentram-se debaixo das
escadas da passagem aérea sobre o caminho de ferro, onde fazem uma fogueira e se vão
aquecendo, à medida que esperam os amigos ou conhecidos para conversar ou para se
deslocarem para outro local.
É muito raro encontrar raparigas partilhando destes espaços. Elas parecem preferir
o Largo Ilha Brava para se concentrarem, mas frequentam, sobretudo, as casas umas das
outras, com visitas frequentes. Deste modo, é comum encontrar uma sala cheia de
raparigas em frente à televisão, conversando e partilhando as suas experiências,
trocando roupas ou objectos. Apesar dos espaços domésticos serem exíguos, isso não
impede que utilizem os seus quartos para terem mais privacidade, formando círculos de
amizade e de cumplicidade.
Porém, no grupo Estrelas Cabo-verdianas, há uma orientação no sentido de
contrariarem e até, anularem a diferenciação sexual existente noutros espaços de
sociabilidade. Embora na dança os papéis de homem/mulher estejam bem definidos,
para evitar a atracção dos jovens uns pelos outros, o líder insiste na ideia de que, dentro
do grupo, homens e mulheres são todos iguais, isto é, têm os mesmos direitos e as
mesmas responsabilidades.
O bairro é a nossa casa
Os jovens do grupo conhecem bem os miúdos do bairro e sabem que muitos dos
seus problemas residem na falta de ocupação e de interesse em algo que reforce a auto-
estima. Por essa razão, arrastam consigo uma agressividade mal contida que, na opinião
dos jovens do grupo, se for bem aproveitada, pode revelar-se numa atitude positiva e
bem sucedida. Por isso, os membros do grupo tentam fazer chegar aos mais pequenos as
333
suas mensagens, procurando deste modo influenciar os comportamentos e mostrar
solidariedade para com os jovens que estão com problemas. O Victor explica da
seguinte forma como este processo se desenvolve:
Os jovens que aderem (ao grupo) são jovens que nunca tiveram grupo nenhum e quando se
juntavam acabava sempre em confusão e aqui no grupo eles vão perdendo essa agressividade e
têm este contacto todos os fins de semana; é aqui que eles vão descarregar toda a energia e a
mensagem do grupo vai passando de jovens para jovens e de bairro para bairro, mas aqui no
Estrela d’África, fica o embrião, a referência, é a nossa casa!
Antigamente a comunicação entre as pessoas era muito restrita, embora os elementos do grupo
são maioria daqui do bairro, o grupo acolhe jovens de todos os bairros daqui da zona e também
de outras zonas. Daí que a filosofia do grupo é ajudar o próximo, a nível pessoal, a nível de grupo
e do que for preciso. Eu não preciso de estar lá para que essa ajuda seja realizada, há sempre
aquela preocupação, quando um dos jovens falta ao ensaio, porque está com problemas e então a
solidariedade é o ponto máximo do grupo [ Victor Moreira].
Os amigos chamados marginais que são fãs do grupo
O grupo tem uma função socializadora e, desde logo, integradora, por isso não é
de estranhar que nas actividades que desenvolve participem jovens que tiveram
problemas com a família, com os namorados/as ou mesmo com a polícia e os tribunais,
aceitando-os com toda a experiência de vida e ‘cadastro’329, mostrando que há outros
caminhos menos arriscados e mais compensadores. Há que ter uma equipa coesa para trabalhar com estes jovens, não no sentido de que eles
precisam de ajuda, mas fazer algo que os desperte e que os ocupe de outra forma e deixa de existir
o padrão de comparação, mostrando aos jovens o outro lado da vida e o jovem acaba, ele próprio,
por fazer a escolha. Eu sinto que os jovens podem ter outras oportunidades de escolha, devido ao
facto do medo que as pessoas têm de achar que estes jovens são marginais. Normalmente fazemos
isso, a nossa intenção é cativá-los, ocupá-los, inseri-los na sociedade, cativá-los para o estudo e
para o trabalho e o mais importante é cativá-los a cuidarem de si próprios e com isso dar a
oportunidade de conhecerem para além, outras zonas, não só o bairro, há outras comunidades,
outros jovens para se conhecer e é através disto que aparecem as dificuldades, porque os custos
329 O grupo integra jovens que têm histórias de vida extremamente complexas e convive com adolescentes e jovens com problemas com a justiça. A autobiografia do Mário, que incluímos no último capítulo, é um exemplo de percurso comum a muitas crianças e adolescentes.
334
são maiores e como o grupo está a trabalhar sozinho pesa mais as despesas. Estas saídas são
jornadas de reflexão do grupo e saídas com elementos do grupo e os amigos deles, porque há a
necessidade de saber qual a ideia que eles têm sobre o grupo e para mim é útil, no sentido de
saber se eu estou a trabalhar num bom sentido, é a forma de me avaliar a mim próprio, através da
opinião vinda de fora e, normalmente, são amigos chamados marginais, mas que são fãs do grupo,
vivem e vibram com o grupo até ao ponto de, às vezes, incomodarem o grupo quando estão a
actuar no palco, pois os amigos ficam eufóricos. E isto faz com que se crie um laço de amizade
entre mim e esses amigos, porque de outra forma eles não têm a oportunidade de divertir como
jovem igual a outro qualquer [Victor Moreira].
Estas palavras transmitem-nos uma ideia de que as oportunidades dadas aos
jovens são muito reduzidas e que tudo começa com a falta de espaços e recursos
materiais e financeiros para desenvolverem as suas actividades. Por outro lado, as
autoridades locais e outras instituições não estão preparadas para apoiar grupos
informais, mesmo que estes desenvolvam um bom trabalho junto de camadas mais
difíceis ou desintegradas de jovens que não se aproximam de organizações formais.
Eu acho que isto acontece porque são rejeitados e postos à parte e, hoje em dia, não há espaço, no
bairro (Estrela d’África) não há espaços para dar, o espaço aqui (na Escolinha) é muito reduzido
para 30 jovens, mas como é o único espaço que temos e agradecemos à Associação Unidos pelo
facto de nos disponibilizarem este espaço sem custos nenhuns.
Penso que as Câmaras de qualquer área se deviam preocupar um pouco mais criando espaços e
dando condições a grupos que trabalham no terreno e que estão a fazer algo de útil [Victor
Moreira].
Por esse motivo e como vimos na primeira parte, a Câmara Municipal da
Amadora, através do sub-Programa Urban da Venda Nova/Damaia de Baixo, decidiu
adquirir uma unidade fabril que, depois de reabilitada, deveria ter como objectivo
central dar resposta a esta necessidade330.
330 Este foi um dos motivos porque fiz a proposta de criação de uma Escola Intercultural e de um Forum das Comunidades, no âmbito do Sub-Programa Urban da Venda Nova/Damaia de Baixo. Há muitos anos que se sente esta necessidade na Amadora, uma cidade profundamente multicultural, com poucos espaços acessíveis a grupos diversificados, mas com prioridade para as crianças/adolescentes e jovens. Dentro de poucos anos, já estaremos em condições de avaliar o impacto desta estrutura nas populações locais.
335
As raízes que vieram da barriga e a dança dos cotas
O grupo Estrelas Cabo-verdianas apresenta uma matriz multicultural, não
obstante a maioria do grupo ser de origem cabo-verdiana, representando, assim, a
composição dominante do tecido sociocultural dos bairros onde residem os seus
membros, nomeadamente, o Estrela d’África, 6 de Maio e Fontaínhas. A música e a
dança enquadram-se, pois, numa mescla afro-caribean e latina que resulta em
sonoridades e ritmos de grande interesse não só para os jovens actores, como para as
pessoas que têm oportunidade de conhecer o trabalho do grupo. Como veremos mais à
frente, do repertório musical fazem parte músicas como a antiga mazurca, o funáná, as
mornas, as coladeras, mas também o reggae, o chá chá chá e outras que os jovens
actualmente apreciam.
Na perspectiva do líder do grupo, as danças tradicionais serviriam para aproximar
os jovens dos mais velhos e, numa troca de experiências e de conhecimentos, fomentar o
respeito pelas culturas de origem dos progenitores e reforçar o afecto entre novos e mais
velhos.
Dentro do grupo, há angolanos, santomenses, guineenses, há, dentro de Cabo Verde os
sampadjudos e badios, há portugueses que, neste momento, não estão em acção, o grupo é aberto
a todos, à comunidade. E não escondemos que a maioria é cabo-verdiana.
Dar a conhecer diferentes culturas é mais um objectivo de grupo que surgiu porque na altura
estava em foco dançar o funáná, dar a conhecer aos portugueses o funáná e, como havia outros
grupos a dançar, Os Estrelas tiveram necessidade de fazer algo para chamar a atenção do bem
para nós e para os outros e começámos a ter muito contacto com pessoas idosas e elas
começaram a dizer em crioulo ‘porque é que não fazem algo que nos lembra a nossa terra?’ e
então, comecei a falar com elas no sentido de me explicarem o funáná puro, de Cabo Verde, desde
a forma como se pega na mulher, qual o intuito que tem, toda a história que envolve o funáná...e
eu trouxe a história para o grupo, eles acharam piada, porque são essencialmente jovens que
estão a fazer a dança dos ‘cotas’, assim chamam os mais velhos. É claro que isto não foi bem
recebido por muitos deles porque queriam fazer coisas modernas, foi difícil incutir esta ideia na
cabeça deles, mas depois perceberam que era uma óptima ideia darmos para recebermos alguma
coisa, no sentido de troca de experiência com os mais velhos [Victor Moreira].
336
As performances evocam, de igual modo, problemas sociais e de saúde que pesam
sobre a população em geral e sobre os próprios jovens e têm um objectivo claro:
informá-los e sensibilizá-los para não caírem na ratoeira de uma vida fácil. Os outros estilos e temas da música têm a ver com situações que acontecem no bairro, ou com a
forma como as pessoas olham o bairro, situações que o grupo acha que se deve levantar ou
preservar e muitos deles utilizam isto para mostrar aos pais que, apesar de não terem nascido em
Cabo Verde e no tempo deles, que o filho continua com as raízes que vieram da barriga, porém, de
outros temas como a sexualidade, gravidez precoce...
Através de um projecto, conseguimos sempre fazer o levantamento de coisas de Cabo Verde e
nisto houve a necessidade de também levantar dados sobre outras culturas como a de Angola, de
Portugal, de países de origem dos elementos do grupo, para que estes não se sentissem inferiores
e respeitar um pouco a consciência deles.
Mais tarde, o grupo aderiu à ideia de apoiar um curso de promotores de saúde, um rastreio no
bairro e a aplicação da vacina contra a hepatite B; depois de fazermos o curso, resolvemos
aplicar a informação que recebemos na formação, na dança em prol da comunidade [Victor
Moreira].
Romper com os tabus e curtir a vida
A dança e a música contribui também para transmitir aos mais velhos a mensagem
de que o seu silêncio ou a falta de diálogo com os mais novos, em relação à sexualidade,
ao perigo de uma gravidez precoce, às drogas, a,o VIH, à tuberculose, não os defende
destes problemas. A ideia é que os tempos são outros, os costumes e as tradições vão-se
alterando, os problemas são diferentes e a cidade traz novos desafios para todos e em
particular, para os mais novos.
...Nós temos feito bastante que é romper esses tabus (dos mais velhos,) mostrar-lhes que devemos
abrir um pouco, desde a mãe não falar com a filha sobre sexualidade, os filhos fazerem certas
perguntas... além de fazermos dramatização teatral mostrando aos pais que é errada a posição
que estão a tomar...há temas variadíssimos, desde mexermos com a morte, com a igreja, porque o
povo cabo-verdiano é muito católico. Quando é o povo angolano, nós temos respeito por outras
coisas, não pela igreja católica.
Em todos os bairros, há o curandeiro, quer dizer há pessoas que fazem orientação espiritual...
O povo cabo-verdiano é um povo que acredita um pouco nisso, acredita forte mais do que devia;
em termos do curandeiro, temos muito pouco, são mais os guineenses que fazem isso, agora os
337
cabo-verdianos procuram esses serviços, nos bairros, existem, porque eles acreditam que essas
coisas acontecem.
A malta jovem está a tentar domesticar um pouco essas coisas...de viver a sua vida, digamos
assim, de curtir a sua vida...[Victor Moreira]
Quando entro na porta do bairro
A imagem do bairro como uma casa acolhedora e segura faz sentido para os
jovens que conhecem todos os seus cantos. Ali, toda a gente se conhece e pode andar à
vontade, sem ser criticado porque está roto, ou anda com rolos na cabeça e o roupão
vestido, porque gritou ou cuspiu para o chão. Ora bem, o que importa é que se sentem
como uma grande família em casa, descontraídos e seguros.
A convivência que existe, só quem está dentro do bairro é que sente isto...
Os jovens estão agora na tentação de comprar casa, assim como os próprios pais e estão a sair do
bairro, mas dificilmente deixam a casa do bairro, porque dói; é diferente comparar com o bairro,
eu saio daqui para trabalhar e estou com muita gente, não sou eu, estou a representar um papel e
quando entro na porta do bairro sinto-me eu; posso estar roto ou sujo, porque o bairro tem a sua
forma de viver, que é a forma a que eu estou habituado e a forma como eu quero estar, pois é lá
que eu grito, salto, corro, é onde tudo tem o seu porquê e isto já faz parte do bairro; posso fazer
tudo o que eu quero, por exemplo, pilar o milho, deixar o cão solto, as crianças andam na
rua...enquanto que no prédio não, é tudo limitado!
E como costumo dizer, o bairro tem o seu ecossistema e se realmente for alterado tem de ser
alterado com cuidado, é alterar e dar condições para alterar, há que pensar avançar em mudar o
sistema com muito cuidado porque o bairro tem o ecossistema próprio!...[Victor Moreira].
Como vimos, o bairro dos jovens tem espaços de sociabilidade bem demarcados,
tanto física como socialmente. Os rapazes elegem o beco, a esquina para se
encontrarem, comunicarem e partilharem informações. As raparigas utilizam, sobretudo,
o largo do bairro e a zona envolvente às suas casas. Mas o que queremos agora entender
é como a realidade do bairro molda, por vezes de forma subliminar, os campos de
possibilidades dos jovens afrodescendentes. Estamos a falar, por exemplo, na oposição
dicotómica badio versus sampadjudo e seus reflexos não só na organização socio-
espacial do bairro, mas também nas sociabilidades dos jovens.
338
Com efeito, a dicotomia também parece estar presente nos jovens que, apesar de
não ficarem manietados pelas diferenças, utilizam-nas no seu relacionamento diário, na
imagem que têm da rapariga sampadjuda ou de rapaz badio, nas atitudes de chiste, nas
brincadeiras. Mesmo que estes não demonstrem grandes diferenças, parecem ter algum
cuidado com a reacção dos pais, quando pretendem, por exemplo, encetar um namoro
ou sair para fora de Lisboa, numa viagem de convívio. Isto significa que o bairro e a sua
configuração tem um grande impacto nas atitudes e sociabilidades dos jovens do grupo
e, por conseguinte, nas formas como constroem a sua identidade.
É, pois, neste quadro de vida que os jovens do bairro constroem as suas
microculturas, as quais combinam, de forma particular, personalidades, localidades,
acontecimentos e situações sociais que experienciam juntos.
O Estrela d’África é, por conseguinte, mais do que um bairro estruturado
conforme as necessidades da população, é uma localidade, onde se garante e fortalece o
sentimento de identidade pessoal , de segurança e de pertença.
9.1.2 . O líder do grupo: o elo que faltava
Nestas microculturas juvenis, a existência de uma personalidade marcante, isto é,
de um líder, é um elemento determinante da própria natureza dos grupos que nascem a
partir delas.
A trajectória de vida do Victor deixa claro a capacidade deste jovem para accionar
diferentes gramáticas culturais, operando como um mediador331, que põe em contacto
diferentes realidades socio-culturais e um líder que articula mundos complexos e
diferentes.
De facto, estamos perante um indivíduo que valoriza e expressa a sua singuralidade
pela capacidade de lidar com o fenómeno da complexidade socio-cultural, através do
papel de mediador cultural. Como refere Gilberto Velho, ‘trata-se do papel
desempenhado por indivíduos que são intérpretes e transitam entre diferentes segmentos
e domínios sociais...embora, na origem, pertençam a um grupo, bairro ou região moral 331 Hermano Vianna (1997) define mediador transcultural como aquele que coloca as diferenças em interacção.
339
específicos, desenvolvem o talento e a capacidade de intermediarem mundos diferentes’
(1994:81). Esses mediadores não são seres desenraizados ou marginais no sentido
clássico. Desenvolvem a capacidade de lidar com dois ou mais códigos o seu sucesso
profissional e pessoal depende do seu desempenho como intermediários. Em uma
sociedade complexa e heterogénea, papéis como esses, nem sempre explícitos e
conscientes, fazem parte da própria lógica do processo interativo. O potencial de
metamorfose permite aos indivíduos transitarem entre diferentes domínios e situações
sem custos psicológico-sociais ao contrário do que se poderia esperar, a partir de uma
visão mais estática de identidade (1994:82)332.
Se considerarmos o grupo uma rede333 de jovens com uma interacção forte, então o
líder é o centro desta estrela, é o cabeça da rede, o elo fundamental que concentra e une
os elementos constitutivos dessa estrela.
Com efeito, o líder do grupo detém um papel central em torno do qual gravitam os
elementos do grupo: ele é a figura do pai, do irmão mais velho, do namorado ideal, do
amigo perfeito, do ombro a que se recorre, sempre que surge um problema. Por
conseguinte, a presença e acção deste núcleo central em torno do qual gravitam os
elementos que integram o grupo, têm um efeito aglutinador de sensibilidades e de
tendências.
Mas como é que um jovem se mantém líder de um grupo, durante mais de uma
década, atravessada por conflitos e por acontecimentos com intensidades suficientes para
desintegrá-lo?!
Como vimos no primeiro capítulo, na segunda metade da década de 80, este jovem
foi revelando características de liderança reforçadas por uma auto-estima e segurança
pouco comuns por entre os adolescentes e jovens afrodescendentes. Mas o que o
distinguia de outros potenciais líderes era os traços de uma personalidade que combinava
uma capacidade para aglutinar vontades, gerir problemas e, sobretudo, construir afectos e
amizades. O jovem Victor tornou-se um símbolo, porque aceitava a sua mestiçagem
332 Sobre esta questão, ver Gilberto Velho, 1994. 333 Para Barnes, as redes formam um conjunto de laços (set of linkage) no interior dos limites de uma qualquer comunidade ou organização; neste quadro, podemos distinguir interacções numa estrela de primeira ordem e numa estrela de segunda ordem, o que permite relacionar o conjunto de redes numa dada situação; o critério principal de cooperação, o laço social que está na base da existência da rede, (1987).
340
(Kandé, 1999:83) sem complexos, valorizava a cultura dos pais das crianças e
adolescentes com quem interagia, e como ele dizia:
...tornava positivo tudo aquilo que os envergonhava: a história de pobreza dos pais, as profissões
que inferiorizavam, a comida pesada (essa terrível cachupa!), a música barulhenta do funáná, o
vestir colorido, a cor da pele escura que se via à distância, o indomável cabelo carapinha, enfim,
um conjunto de coisas que não vale a pena seguir! Contribuía para que as crianças e adolescentes
ganhassem força para resolver esta confusão interior, para construírem a sua própria ‘cultura’ e
afastassem a ‘raiva’ que, quantas vezes, se tornava numa agressividade incontrolável [Victor
Moreira]
Neste contexto, o líder constituiu sempre o elo que faltava às vidas destes pequenos
heróis, sendo o mediador que, para cada situação, soube tecer as pontes de diálogo entre
os jovens e a família ou a sociedade envolvente. Numa bricolage permanente,
reformulou elementos culturais de diferentes culturas e, nos seus próprios termos,
recriou-os, misturou-os, dando-lhes um carácter de hibridismo comum nos meios
urbanos.
A existência de um líder com uma forte personalidade e capacidade para
disciplinar comportamentos, de forma amplamente democrática, para garantir a
interiorização das regras de jogo, imprimiu ao grupo uma força e uma identidade
cimentadas por uma profunda amizade e um sentimento de pertença, sem os quais talvez
tivesse uma existência mais efémera.
Nos capítulos anteriores, tentámos enquadrar uma parte da autobiografia do
Victor no contexto do bairro Estrela d’África. Cabe agora realçar aspectos da vida deste
jovem que configuraram o perfil de líder do grupo Estrelas Cabo-verdianas e que o
projectaram junto dos outros jovens da Amadora.
Com efeito, a história de vida do líder e a vida do grupo de jovens Estrelas Cabo-
verdianas têm uma relação profunda e são dois percursos indissociáveis.
Quando fala de si, está sempre presente o grupo Estrelas Cabo-verdianas como se
estas duas realidades fossem duas faces da mesma moeda. De facto, ao longo das
intermináveis conversas, em lugares diferentes (no bairro e envolvente, no Dafundo, na
Lousã), foi sempre uma tarefa difícil fazer com que o Victor falasse apenas de si,
341
deixando de parte os bairros e a realidade dos jovens que neles vivem, fazendo antever ,
entre outros aspectos, que há uma profunda simbiose entre estas três dimensões da
realidade.
Percebe-se, através da narrativa biográfica, que sente como que uma missão a
cumprir junto dos mais novos e que esse trabalho passa pela música e pela dança, duas
paixões indissociáveis da sua vida. É deste modo que nos dá a conhecer aspectos da sua
vida:
‘Não nasci nestes bairros, nasci em Cabo Verde e com meses, passei por S. Tomé e depois vim para
Portugal.
Conheci Cabo Verde muito tarde. Fui aprendendo o crioulo, fui vendo, falando...
O meu pai saiu da guerra e veio para Portugal com a minha mãe em 1972, tiveram conflitos entre
os dois, por isso regressou a Cabo Verde mas voltou em 1974.
Tive sempre amigos portugueses, sempre fui um africano privilegiado. Nunca senti o racismo na
pele, pelo menos nunca mostraram.
Vivi com a minha mãe nas Portas de Benfica e um dia, tinha 7 ou 8 anos, fui passar uns dias com a
minha avó badia.
Escolhi ficar com ela, embora a minha mãe me quisesse criar...levantei o nariz cedo.
Aproximei-me da minha avó pela compreensão e carinho, no bairro, chamo-lhe mãe...
No bairro, tive amigos como o Rui Costa, futebolista, jogávamos à bola na rua com outros
miúdos...
Frequentei a Escola Azeredo Neves, fui dos primeiros alunos. Vim de Cabo Verde já com a
primária.
Os meus pais faziam um regime muito apertado, revoltei-me e passei uma semana em casa da
minha avó, na Reboleira, que me marcou para a vida.
Os meus pais tinham medo que eu entrasse nos bairros e que me perdesse, não conseguissem
dominar-me, que eu quisesse estudar, que aprendesse o crioulo, que experimentasse outras coisas,
fumasse, bebesse, tinham medo de tudo.
Eles atravessaram uma fase de dificuldades e eu exigia muito, queria ler, ir a sítios que queria
conhecer (por exemplo, a descoberta do Mosteiro dos Jerónimos), diziam-me ‘nunca chumbaste,
vais ter prémio’. Começaram a ver que não podiam com as despesas, não tinham dinheiro, por isso,
vim para o seminário. Uma pessoa amiga da minha mãe disse-lhe ‘já que o seu filho é inteligente
deve ir para padre’.
Eu só queria estudar, mas fui para o Seminário na Guarda. Aos 12/13 anos, pensei em
trabalhar...os jovens do bairro ganhavam dinheiro, dinheiro vivo, compravam coisas e eu falei com
amigos meus para trabalhar...comecei a pensar em ir trabalhar...
342
...fui à construção civil, mas como sou um indivíduo esticadinho, com pele mais clarinha,
perguntaram-me se era angolano ou sampadjudo....disseram-me que estes querem festa Sexta,
Sábado e Domingo, os outros são muito mais trabalhadores.
Os sampadjudos são homens com muita arte, são ladrilhadores, carpinteiros, são especializados.
Não gosto de ser tratado como um coitadinho, precisamos de ajuda, mas esse coitadinho revolta-
nos.
Desde os 13 anos, até concluir o 11º ano, começaram a virar muito para a religião, naquela altura,
era inconcebível ir por este caminho...tinha um comportamento esquisito, fugia para ir ver as
raparigas...tinha sorte com as mulheres... expressava-me bem em português, vestia de forma
diferente... portava-me mesmo mal, era terrível... fui para Braga e mandaram-me embora.
Vim para Lisboa, para o D. João V, fazer o 12º ano, só vinha ao bairro à noite. Em 1980, a minha
avó chegou da Praia, de Santiago.
Identifiquei-me com ela e pedi para ir viver para a Reboleira...foi contra a vontade da minha
mãe...atraía-me muito a maneira de ser da minha avó.
Comecei a abrir leques no mundo crioulo...sou negro e, por isso, achei que devia aprender a falar
aquele dialecto, o crioulo. Com os outros, comecei a aprender, pois frequentava os mesmos cafés, a
fazer jogos como às escondidas, à apanhada, à bola. Havia mais qualquer coisa que nos unia, que
era a música.
Em 1982, começámos a falar em grupo, juntarmo-nos num espaço local, onde nos encontrávamos e
partilhávamos algo...começamos a dar nas vistas e os pais começaram a interrogar sobre o que
estávamos ali a fazer, todos juntos e escondidos.
Uma ideia de grupo mais séria surgiu em 1984. Nesta altura, começou a haver uma filosofia.
Tive uma ligação a quase todos os bairros, mas uma ligação mais forte ao bairro onde dormia, à
Reboleira. Há que juntar todos os bairros, não criar aquele bairrismo que, na altura, era forte.
Comecei a frequentar um curso de promotor de saúde e voluntário da prevenção da SIDA, dentro
do próprio bairro, no Alto da Damaia.
Durante três anos, aprendi a lidar com as pessoas, era animador. Nunca gostei de ver tudo igual,
de fardas, fato igual parece coro, por isso, nunca gostei de ser educador.
Um dia, estava com um grupo de cabo-verdianos e conheci o Sr. Álvaro Apolo e a Celeste Correia,
do projecto Nô Djunta Môn, com a equipa do projecto, a Teresa e a enfermeira Fátima, que
procuravam jovens do bairro para trabalharem no projecto.
Eu namorava uma rapariga, a Zenaída, que foi escolhida, tiveram pontaria, ela tinha ideias de ser
médica....a mim fascinava-me trabalhar no bairro mas não como educador, por isso fiz um curso
animador socio-cultural e foram-me buscar para ajudar o bairro.
Comecei a dar nas vistas, acho que é um dom, que nasci com ele, sempre tive o poder de atrair os
grupos, gostava do futebol, dava uns toques, eles achavam que eu tinha tudo de bom e boa família,
era pessoa exemplar e diziam ‘sentimo-nos bem ao pé de ti, és como um exemplo para os nossos
343
pais, sentimo-nos bem perto de ti, tens paciência, a gente respeita-te, não bebes...os nossos pais
dizem, porque não fazes como o Victor’.
Senti que podia ser útil para eles...fui tirar outros cursos... gostava de dançar e fui para o ballet
(estive três anos na Gulbenkian)...dei nas vistas...
Os meus pais achavam que isto não era vida para mim, não era para um cabo-verdiano. Desisti,
perdi forças, mas fiquei com o bichinho da dança. Só dançava músicas portuguesas, inscrevi-me
nos alunos de Apolo. Chamavam-me ‘preto’ para brincar comigo...[Victor Moreira].
Quando se refere ao seu perfil de líder, tem a preocupação de explicar qual o seu
papel junto dos jovens do Grupo Estrelas Cabo-verdianas e de outros jovens de
diferentes bairros que o procuram como alguém em quem podem confiar plenamente,
mesmo nos momentos mais perigosos ou difíceis das suas vidas.
Não os vejo como bailarinos, mas como amigos, sou conselheiro, qualquer tipo de problema ajudo
a resolver, como um irmão, para tomarem decisões falam com o Victor, os pais também ouvem a
minha opinião...há problema desabafam comigo, sempre quis vê-los como pessoas e não como
bailarinos [Victor Moreira]
Uma das dimensões mais preciosas do grupo reside no facto de constituir um
espaço de liberdade em que todos ditam as regras, ainda que o líder se sinta o guardião
do seu cumprimento.
Há informalidade no grupo, as associações tentam manipular os jovens, mas os jovens querem
sentir liberdade e só há um grupo que respeita essa liberdade, os Estrelas Cabo-verdianas...
São jovens que estão sozinhos e quando estão juntos, faz faísca (daí, dizerem que os jovens são
violentos)...mas não são violentos! O que se passa é que não têm oportunidades para se expressar,
por isso tornam-se agressivos, ao falar, querem atacar, no grupo vão perdendo isto, são
trabalhadores e têm vontade que chegue o fim-de-semana para os ensaios, ali está o amigo, trocam
amizades, vão jantar a casa uns dos outros...
Os outros, que vivem no bairro, vão vendo... o bairro é o ponto de referência, o ponto de encontro,
como dizem, ‘este bairro é a nossa casa’...
Pertencemos à Loja Jovem, onde trabalhava com jovens dos bairros, vinha gente de todos os lados;
os jovens do Estrela d’África eram a maioria, mas havia de Sta. Filomena, Zambujal, Buraca e até,
do Catujal, Setúbal.
Têm dificuldades em pagar a renda, convivem e aqui encontram a solução para os seus problemas.
Se um não tem dinheiro para pagar a renda, falam aqui, tentam encontrar uma solução. Este é o
mundo que eles querem!
344
Tem de haver uma ‘equipa’ coesa, há que ocupá-los doutra forma até se encontrarem e fazerem a
escolha.
Hoje, não preciso de lá estar porque eles ajudam-se uns aos outros.
Os jovens que andam pelo bairro não são tão perigosos assim, são formas de se expressarem, eu
sinto que eles podem ter outras oportunidades de escolha, outros padrões de comparação e não
‘isto é bom, isto é mau ...’.
As dificuldades dos jovens são muitas: transportes, alojamento, falta de dinheiro...
É importante conhecer a opinião dos familiares e amigos do grupo, qual a ideia que têm sobre o
grupo, o que fazemos.
Os que são tidos como marginais, agressivos, vêm ao grupo, às actuações e vibram com o grupo,
prometem que se portam bem e dizem ‘tu és mesmo amigo de um gajo! Eles dizem que a gente
vende droga, rouba carro, tu dás-nos oportunidades, teacher, falamos sobre o problema, confias
em nós...teacher quando há outro passeio?’
Estão no bairro sozinhos, tem de haver mais espaços para os jovens...agradecemos aos Unidos que
nos deixam ensaiar aqui, mas a Câmara deve dar condições aos grupos que estão no terreno e não
só às associações. Se tivéssemos um espaço em condições!...
No bairro não há espaço para nada e isso é mau...a Câmara que pense também no grupo...os
jovens sentem que estão a ser cativados... o grupo é aberto a todos.
Numa primeira fase, o jovem quer fugir da cultura dos pais, não cultivar a cultura dos pais.
Renegam-na porque sempre ouviram dizer que é negativa, rebaixada, de inferioridade, nunca de
igualdade...a comer cachupa, vou até onde? Vestir colorido, quem o faz? O escuro vê-se à
distância! Para que, cultivar alguma coisa que é neutro.
Negativa porque é um conjunto de coisas que não valem a pena. Dizem, ‘a cultura dos meus pais é
uma porcaria’.
Então, vou mostrar-lhes que aquela cultura é importante, fazê-los entender e respeitar as duas
culturas e tomar uma opção...eu construí a minha própria forma de funcionar, tanto numa, como na
outra, sinto-me bem.
A cultura portuguesa é impingida na escola...gozam comigo porque o meu cabelo é assim, o nariz
é...a escola tem de mostrar que há respeito entre as culturas...
É preciso o jovem ter uma força interior que o faça andar. Eu digo, segue o que quiseres fazer...os
jovens encontram em mim as respostas à sua confusão, talvez, porque eu já passei por isso.
Ajudar os jovens a encontrar força, senão vem a raiva. Digo-lhes, constrói a tua cultura! [Victor
Moreira]
345
Ser líder é um dom O jovem Victor sabe que nem todos têm capacidade para liderar. Há atributos que
se desenvolvem, mas há outros que parecem estar nos genes, como é o caso de nascer ou
não com características de líder. É deste modo que explica o que pensa sobre esta
questão:
Ser líder é um dom, nasci com ele e sempre atraí as pessoas para ao pé de mim, para fazermos algo
de bom e útil; era uma referência para os pais por ser um bom filho, que não fuma, não bebe que,
no fundo, não foge aos padrões que os pais achavam normal para os filhos, mas eu nunca me senti
líder de ninguém, sempre fui um jovem como qualquer um..
Depois, como sempre fui virado para a arte, fui para a Gulbenkian e fiz ballet durante três anos e
não continuei porque achavam que para um cabo-verdiano aquilo era mariquice...como tinha o
bichinho da dança em mim, fui para os Alunos de Apolo e fiz dança rítmica, depois, voltei para o
bairro da Reboleira, em 1982, e fundei o grupo Estrelas Cabo-verdianas, existindo sempre um
respeito mútuo entre mim e os elementos do grupo.
As minhas funções não são de treinador, mas também de um amigo, conselheiro e para muitos,
irmão mais velho...
...certamente, não é só para ocupá-los, mas estar ali para os ouvir e dar-lhes a responsabilidade e
liberdade da acção [ Victor Moreira].
A formação do Victor Moreira em torno da animação socio-cultural e o trabalho
profissional na Misericórdia de Lisboa, junto de jovens com dificuldades de adaptação à
escola e à sociedade, deram-lhe competências para desenvolver dinâmicas de grupo e
para trabalhar com a complexidade cultural e social do bairro e dos jovens. Contudo, é o
perfil de mediador (entre o jovem e a família, o jovem e a escola, o jovem e a polícia,
entre jovens em discórdia), é a experiência do viver naqueles bairros e a capacidade de
ser cúmplice e de defender valores como a amizade, é tudo isto que faz com que os
jovens designem o Victor para seu líder.
Aos 7/8 anos decidi vir viver para o bairro, na casa da minha avó (materna, badia) enquanto os
meus pais sonhavam com outras coisas para mim: não queriam que eu conhecesse a vida dos
bairros, com medo de eu me tornar um ‘marginal’ ; eu sempre quis estudar e conhecer as coisas de
perto e daí, exigia muito o que muitas vezes não tinham para me satisfazer; aí apareceu um amigo
da minha mãe que disse para ela me inscrever num seminário, o que surgiu a ideia dos meus pais
346
quererem que eu fosse padre; andei no seminário, depois, desisti e voltei para os bairros, onde me
inseri num curso de animador socio-cultural, com o objectivo de ajudar os jovens destes bairros
...mas não gostava, nem os jovens gostam de ser tratado como ‘um coitadinho’, isso é que nos leva,
muitas vezes, a nos perdermos, a termos grandes dificuldades, mas que essas dificuldades nos
levam a ser tratados como ‘coitadinhos’...o que eu digo é que quando estão a ajudar-nos, fazem-
nos sentir que somos uns ‘coitadinhos’ e isso revolta-nos.
Conheci Cabo Verde muito tarde e tudo o que sei de crioulo aprendi aqui, estudei sempre em
escolas portuguesas, nunca senti o racismo na pele e, neste caso, considero-me um africano
privilegiado; os meus amigos foram mais portugueses, tanto na escola como, agora, no trabalho, e
nunca tive problemas de não me compreenderem [Victor Moreira].
Esta imagem positiva de si próprio e de quem foi bem sucedido na vida é um dos
traços que marcam a identidade pessoal do líder do grupo e que este tenta passar para os
respectivos jovens. A melhor fórmula é não terem complexos e traçarem os caminhos da
vida com as suas próprias mãos.
9.1.3. As actividades do grupo
A vida do grupo está marcada por um conjunto de actividades, que têm como
centro a dança. Através destas, o grupo adquire uma função de catarse, na medida em que
contribui para expandir energias acumuladas e, simultaneamente, libertar tendências
agressivas, de forma mais ou menos controlada.
As actividades do grupo são, como referimos, de dois tipos:
a) as actividades de rotina, os ensaios, cuja cadência ou regularidade é semanal,
pois todos os sábados e domingos os jovens marcam encontro no bairro; os espectáculos
são também momentos de grande importância não só para o grupo, como para as famílias
e fãs;
b) as actividades esporádicas ou cíclicas, que ocorrem em determinados períodos
do ano, como, por exemplo, as idas colectivas ao centro comercial, as excursões que
incluem jornadas de reflexão e de convívio fora de Lisboa, ou as celebrações do Natal,
dos aniversários, etc.
347
Estes estilos de sociabilidade têm como principal pano de fundo o bairro Estrela
d’África, embora existam outros espaços urbanos que fazem parte da geografia destas
sociabilidades. Por exemplo, o cinema D. João V, ou uma discoteca na Amadora, um
centro comercial em Lisboa, ou as pousadas da juventude, numa qualquer zona do país.
Estes constituem espaços e momentos de divertimento, de aventura, mas servem também
de reflexão, discussão, decisão, encaminhamento de problemas ou situações para evitar
rupturas anunciadas e, por conseguinte, optar, tomar rumos e percorrer os trilhos traçados
nos mapas afectivos dos jovens. As deslocações para fora de Lisboa têm precisamente
essa função, ao mesmo tempo que retemperam forças e fortalecem o espírito de
communitas no interior do grupo, a que nos referimos anteriormente.
Mas vejamos, mais em detalhe, cada uma destas dimensões, para compreendermos
melhor a natureza do grupo Estrelas Cabo-verdianas.
9.1.3.1. A dança e a música
Como referimos, a dança é a principal actividade dos jovens e, por conseguinte, um
importante factor estruturante do grupo. Longe de ser apenas um sistema de movimentos
humanos, a dança constituiu uma dimensão central na vida do grupo. É através da dança
que os jovens exercem não só o domínio sobre os corpos, mas estabelecem uma
interacção entre si, mais profunda, desenvolvendo, simultaneamente, códigos de
comunicação e de informação que pretendem passar no interior do grupo e deste para o
exterior. Deste modo, a dança permite-nos identificar, através das formas culturais que
resultam do uso criativo dos corpos, num espaço e num tempo determinados (Edwards,
Bridget, 2001:490-492)334, algumas opções culturais e sociais dos membros do grupo.
As danças são quase sempre uma dramatização que segue, com a sequência dos
movimentos do corpo, o ritmo da música, tentando exprimir as mensagens que esta
incorpora. Tudo parece ter uma história individual ou colectiva, que passa por evocar as
334 Esta autora refere-se ao trabalho de Theresa J. Buckland (ed.) 2001 (1999).
348
terras de origem dos pais335, as diferenças regionais, sobretudo, entre badios e
sampadjudos, o trabalho, a relação amorosa entre o homem e a mulher, as questões
sexuais e os problemas criados pelo VIH e consequências para o indivíduo, são temas
sempre presentes.
As peças do grupo de dança são cuidadosamente descodificadas para que os
bailarinos interiorizem o significado e desempenhem, o melhor possível, o papel que lhes
é exigido. Deste modo, a selecção musical, cuidadosamente feita pelo Victor, constitui
um repertório que já entrou nos ouvidos dos bailarinos, os quais utilizavam esta
sequência repetitiva para memorizar gestos e passos de dança, articulando-se uns com os
outros.
O repertório musical336
Ao longo de anos, o grupo de dança foi seleccionando um conjunto de músicas que
serviram de base às diferentes coreografias. Danças teatrealizadas como Sumara tempo,
Valentim, Codê di dona, A Doença Sida, Grupo de amigos foram minuciosamente
explicadas337 aos bailarinos/as para produzirem o efeito desejado.
Vejamos alguns exemplos como são traduzidas as peças dançadas.
• Sumara tempo: em português significa esperar o tempo ou ver o tempo.
‘Durante muito tempo, todo o trabalho que exigisse grande esforço físico era
considerado típico do homem negro. Quando este tenta optar por trabalhos de pouco
esforço físico, é visto pela comunidade cabo-verdiana como um preguiçoso, um
malandro.
335 Como já referimos há contornos semelhantes aos da Kalela Dance, que também nos permitem avaliar o grau de ligação dos jovens à cultura de origem dos pais. Contudo, há uma diferença fundamental, pelo facto de eles não terem vivenciado essa experiência directamente. Por vezes, parece que querem demonstrar que, apesar de estarem tão distantes dessa cultura, respeitam-na. 336 O repertório musical do grupo é constituído por músicas de diversas origens, com predominância de ritmos cabo-verdianos, que serve de suporte às coreografias trabalhadas pelo grupo e cuja mensagem é assimilada de forma a transmitir um sentimento de tristeza, revolta ou alegria. O repertório musical é escolhido de acordo com os temas em discussão e/ou as audiências. 337 Foram feitos registos em video que servem para traduzir, através da imagem, o que em palavras é difícil: as expressões corporais vão dando forma ao conteúdo das músicas, do qual damos alguns exemplos.
349
Associado à visão do trabalho esforçado, existe sempre um tempo e uma energia
para a mulher e para a dança. Daqui resulta o facto de a mulher ser sempre vista na
música africana como um fruto desejado, sendo todo o esforço que se aplica na
dança a forma de atraí-la’
• Valentim
‘Dança tradicional provocada por um grupo de mulheres que dão o batuque. O
batuque são sons que elas provocam através da colocação de um pano por entre
as pernas, batendo as duas mãos em toques compassados no pano.
Ao provocar o som do batuque, também cantam, aproveitando, assim, a música
para contestar e dizer o que consideram profano.
À medida que umas tocam e cantam, outras dançam com movimentos bruscos,
certos e coordenados das ancas.
Aqui, no batuque, o homem tem um papel meramente passivo.
• Codê di Dona
‘É um funaná muito típico, o mais perto da música tradicional, que é tocado por
ferro e gaita. Este tipo de dança era normalmente dançado nas festas, pois era
esta a única oportunidade que os casais enamorados tinham de estar muito perto
um do outro sem que surgisse qualquer tipo de comentário maldoso.
Era habitual que, nas festas, as mulheres ficassem na cozinha e os homens na
sala de dança. Normalmente, era o dono da festa que ia buscar uma mulher, ou a
sua própria mulher, para abrir o salão e com o salão aberto, outros homens vão
também buscar o seu par. Então, no salão, dá-se uma disputa sobre quem dança
melhor e quem tem a mulher que rebola mais.
No final da dança, se a mulher achar que o homem é um bom par, demonstra a
sua simpatia por ele’.
• Doença SIDA
‘Retracta as várias formas e comportamento, através do qual podemo-nos
contagiar com o vírus da SIDA’
350
• Grupo de amigos
‘Tudo começa no grupo de amigos. Existe um par de amigos que se atraem um
pelo outro
É através do grupo de amigos que tudo começa, às vezes são eles a nossa força
para entrarmos no mundo da droga, mas também podem ser eles a nos dar a
força de que precisamos para sair dela. Tal como o grupo de amigos, o namoro é
uma das formas mais fáceis de se levar outro ao consumo de drogas e é também
o mais forte na ajuda e reabilitação do toxicodependente’.
Outras músicas que fazem parte do repertório são:
• Moda Bitchú: (Como Bicho): como é mau andar com várias mulheres.
• Somebody: a luta da mulher por um homem.
• Funáná: (Menina bô e bam): mulher escrava.
• As diferenças: (Zulo): as várias diferenças em toda a África.
• História do passado: história dos escravos (a revolta).
• Difikuldadi - Belmiro I: (funaná moderno): dar a conhecer as modificações que
houve no funaná.
• Sala Batchú: (Santo Amaro): convívio na sala de batchú.
• Movimento: os negócios à volta da droga, os conflitos e o mal que provoca.
• Nola Dance: aproveitamento de todos os movimentos do africano, em geral e
mostrar que ‘todos diferentes, todos iguais’.
• Corpo vira seis: a música portuguesa está presente na cultura africana.
• Sampadjudo ku Badiu: acabar com as divergências entre as duas raças do povo
cabo-verdiano.
• Belmiro II: reforça a relação a dois.
• Maria Julia: a mulher no passado.
• Tchuba: a esperança e fé de um dia melhor, ou ‘a seca em Cabo Verde’.
• Tradiçon (Bala d’Áço): Todo o trabalho sobre o domínio das ancas e o poder do
encontro entre mulheres batuque.
• Rapaz novo (Livity): relação pai/filha/namorado.
351
• Rependimento: depois é que é...
• Mundo negro: ver o mundo com outros ‘olhos’.
• Balão (preservativo): o balão que veio proteger a vida.
• Sakis I: a luta pela sobrevivência, mesmos direitos, mesmos deveres.
• Sakis II: alegria e movimentos bruscos do povo africano
• Povo: deixa nos segui nos caminho’.
• Escravo: (de Bob Marley)
Como se pode verificar pela designação e explicação do significado das danças,
estas podem ser um veículo importante para o conhecimento da sociedade, em que o
grupo de jovens que as produzem, coreografam e representam, está inserido. Fazem
parte, pois, de uma cultura expressiva, que espelha a realidade social e cultural em que
vivem os actores que a protagonizam e os desafios que enfrentam.
Como referimos no capítulo anterior, o grupo Estrelas Cabo-verdianas apresenta
uma matriz multicultural, não obstante a maioria do grupo ser de origem cabo-verdiana,
representando, assim, a composição dominante do tecido socio-cultural dos bairros onde
residem os seus membros, nomeadamente, o Estrela d’África. A música e a dança
enquadram-se, pois, numa mescla afro-caribean e latina que resulta em sonoridades e
ritmos de grande interesse não só para os jovens actores, como para as pessoas que têm
oportunidade de conhecer o trabalho do grupo. Do repertório musical fazem parte
músicas como a antiga mazurca, o funáná, as mornas, as coladeras, mas também o
reggae e o chá chá chá e outras que os jovens actualmente apreciam.
Na perspectiva do líder do grupo, as danças tradicionais serviriam para aproximar
os jovens dos mais velhos e, numa troca de experiências e de conhecimentos, fomentar o
respeito pelas culturas de origem dos progenitores e reforçar o afecto entre novos e mais
velhos.
Dentro do grupo, há angolanos, santomenses, guineenses. Há dentro de Cabo Verde, os
sampadjudos e badios, há portugueses que neste momento não estão em acção. O grupo é aberto a
todos, à comunidade. E não escondemos que a maioria é cabo-verdiana.
352
Dar a conhecer diferentes culturas é mais um objectivo do grupo, que surgiu porque na altura
estava em foco dançar o funáná, dar a conhecer aos portugueses o funáná e, como havia outros
grupos a dançar, Os Estrelas tiveram necessidade de fazer algo para chamar a atenção do bem
para nós e para os outros e começamos a ter muito contacto com pessoas idosas e elas começaram
a dizer em crioulo, ‘porque é que não fazem algo que nos lembra a nossa terra?’. E então comecei
a falar com elas, no sentido de me explicarem o funáná puro de Cabo Verde, desde a forma como
se pega na mulher, qual o intuito que tem, toda a história que envolve o funáná...e eu trouxe a
história para o grupo, eles acharam piada, porque são essencialmente jovens que estão a fazer a
dança dos ‘cotas’, assim chamam os mais velhos, é claro que isto não foi bem recebido por muitos
deles, porque queriam fazer coisas modernas. Foi difícil incutir esta ideia na cabeça deles, mas
depois perceberam que era uma óptima ideia darmos para recebermos alguma coisa, no sentido de
troca de experiência com os mais velhos [Victor Moreira].
Embora ainda hoje predomine esta marca, novos ritmos e novos temas têm vindo a
ser trabalhados pelo grupo Estrelas Cabo-verdianas, numa procura de refrescar o
repertório com novos temas e significados338.
9.1.3.2. Os ensaios no coração do bairro Estrela d’África
Os ensaios semanais de dança têm para os jovens Estrelas Cabo-verdianas uma
verdadeira função de sociabilidade e, desde logo, constituem um tempo e espaço
fundamentais na vida do grupo.
Os jovens do grupo manifestam um entusiasmo e uma necessidade de se
encontrarem no bairro, não só com o objectivo de se manterem preparados para os
espectáculos, mas também porque os ensaios constituem momentos privilegiados para
comunicarem e interagirem de forma muito descontraída e gratificante. De facto, os
jovens anseiam que chegue o fim de semana para estarem juntos e, ao mesmo tempo que
põem à prova as suas capacidades performativas, põem em dia as novidades de uma
semana sempre rica em episódios familiares, do namoro, da escola ou do trabalho.
338 Sobre as condutas musicais de certas categorias de jovens e a relação destes com a música, verCf Anne-Marie Green (éd), 1997.
353
Os ensaios estão sujeitos a uma rotina e disciplina que obriga os jovens a
obedecerem a uma organização que só se altera no caso de surgirem obstáculos que
precisam de ser contornados. Por exemplo, em caso de doença ou de coincidência com o
turno de trabalho, os responsáveis por assegurar a abertura do espaço, pelo som ou pela
coordenação do ensaio, podem ser substituídos, mas têm de justificar essa ausência.
A sala onde decorrem os ensaios é pequena, tem apenas uma pequena janela e uma
porta, mas desempenha uma função muito uterina, isto é, é quente, transmite segurança,
protecção e tem um efeito terapêutico, porque permite expandir energias acumuladas,
agressividades reprimidas, remover complexos, aumentar a auto-estima. A temperatura
do local é quase sempre quente, muito quente, o que faz com que os corpos destilem e no
ar paira um odor e um calor que acentua o carácter de comunidade emocional (Maffesoli,
1990) do grupo de jovens.
fig. 53 – Ensaio do grupo ‘Estrelas Cabo-Verdianas no bairro’.
Assim, apesar das limitações do espaço para o desenvolvimento de jogos e das
técnicas corporais, aquele é insubstituível, do ponto de vista da centralidade do grupo,
pois proporciona uma interacção afectiva e relacional muito forte. Mas vejamos, mais em
354
pormenor, como funciona esta actividade de rotina do grupo, tentando reconstruir um
ensaio-tipo.
Antes do início do ensaio, os jovens que estão encarregados de varrer ou de lavar o
chão, sobretudo no Inverno, limpam e arrumam os materiais do ATL até a sala estar
pronta para comportar o maior número possível de jovens bailarinos/as; outros estão
encarregados de trazer para aquele espaço a aparelhagem de som e os CDs ou cassetes
com o repertório musical que se pretende trabalhar.
O ensaio de sábado começa às 16 horas e pode terminar às 22 horas. Os jovens
começam a chegar a conta gotas, antes desta hora e apenas os que trabalham podem
chegar com atraso. As ausências são justificadas e as dificuldades de um bom
desempenho por causa, por exemplo, da menstruação, podem ser colocadas ao líder do
grupo, que evitará sobrecarregar a jovem em causa. O rigor no cumprimento das regras
aperta-se, quando se avizinha um espectáculo, porque neste caso todos os pormenores
são importantes.
Os jovens, rapazes e raparigas vêm munidos com um saco ou mochila onde
guardam uma indumentária própria para o ensaio, do qual fazem parte, no caso das
raparigas, saiotes curtos e calções, uma t-shirt que se possa enrolar na cintura, pano
tradicional de Cabo Verde339, uma fita ou ganchos para segurarem o cabelo e sapatilhas e
no caso dos rapazes, calças ou calções de treino, t-shirt larga e ténis.
Nestes ensaios do grupo, o Victor é apoiado pelo Beto, um jovem que, entre outras
ocupações, era bailarino em Cabo Verde e que veio recentemente para Portugal trabalhar
na construção civil.
O ensaio dos bailarinos começa sempre com exercícios de aquecimento e de
relaxamento de músculos e de tensões, passando, gradualmente, para os temas que se
querem coreografar e que respeitam um figurino cheio de jogos de sedução e de aspectos
da vida social e cultural.
Quando os corpos já estão quentes, descontraídos e as mentes concentradas, são
escolhidos os pares, não de forma aleatória, mas de acordo com os resultados que se
pretende obter com os ensaios: se está em preparação um espectáculo, os pares de
339 Estes panos estampados e muito coloridos são, muitas vezes, de origem senegalesa; o panu di bitcho genuinamente cabo-verdiano, não é usado, porque é mais difícil de adquirir e muito caro.
355
homens e mulheres são escolhidos de forma a executarem uma boa performance; quando
se trata de um ensaio normal, os pares podem ser escolhidos de acordo com as
competências técnicas de uns e a preparação precária de outros, para se apoiarem
mutuamente.
Inicia-se, então, a sequência musical que obriga os jovens a uma atenção redobrada para
a execução correcta das técnicas de dança e da coreografia que se pretende trabalhar.
Tipos de música como a morna, coladera, kola S. Jon, funáná, masurca, reggae,
chá chá chá, exercem, nos corpos dos rapazes e raparigas, um ritmo frenético, difícil de
acompanhar.
Corpos em movimento
Ao longo dos ensaios, o grupo tem de percorrer, dançando, um itinerário de
músicas que fazem parte do repertório que referimos atrás mas, simultaneamente,
interagir de forma profunda, através de jogos que quebram barreiras e inibições.
Quando os pares estão tensos ou com dificuldades de concentração, o Victor
introduz um conjunto de jogos que têm a função de melhorar a interacção entre os
bailarinos e pôr à prova, por exemplo, a capacidade de cooperação, de solidariedade entre
os membros do grupo.
É um momento muito apreciado pelos jovens porque se divertem e expandem
energias, descontraem-se, fazem esforços para comprimir os corpos como que
procurando amalgamá-los num só, treinam o domínio sobre a dor, a força física e a
habilidade para se libertarem de obstáculos e ganharem confiança em si próprios e nos
outros. Retiram-se as máscaras, vencem-se as distâncias corporais, elege-se o mundo
maravilhoso do tacto, como uma linguagem subtil que, combinado com a essência dos
odores transforma estes momentos numa comunhão de sentidos na sua totalidade quase
transcendental340.
O olhar dos monitores de dança é penetrante, concentrado nos pormenores da
performance de cada par e na articulação deste com o conjunto.
340 Sobre a linguagem do corpo, os sentidos, as dimensões do espaço e do tempo, ver: Méchin, Bianquis e David Breton, 1998; Edward T. Hall, 1996 (1983) e 1986 (1966).
356
Quando é necessário, fazem uma crítica contundente e a música e a dança repetem-
se uma, duas, três vezes, até estar bem.
O Victor faz críticas, em crioulo e português, do tipo ‘...mulheres muito serenas, muito
bem coordenadas’ ou ‘mulheres muito tensas, desarticuladas, homens agitados, quando a música é
completamente lenta, mexeram-se mas não entraram na peça...’[Victor Moreira].
O Beto afirma num crioulo fechado, de badio retinto: ‘...se costumam ter cinco tiveram
dois ou dois e meio...no primeiro, houve falhas mais grave, o problema é...’[Beto].
Os jovens sentam-se no chão e nas pequenas cadeiras do jardim de infância para
ouvir atentamente as críticas e apresentar as dúvidas ou as razões para as falhas. Isto
acontece, sobretudo, com as bailarinas mais velhas, que questionam as críticas sob o
olhar muito fixo das mais novas. Há uma preocupação em acompanhar os bailarinos mais
dotados, ou com melhor performance, porque são estes que marcam o ritmo.
Na fase da minha inserção no grupo, foi muito interessante observar e sentir a
forma como o Beto, o Ilídio ou o Feia se preocupavam em me ensinar, por exemplo, a
pegar no pano, a dar leveza ao corpo, a movimentar os braços ou as ancas, ao ritmo da
música. Ao fim de uns meses de ensaio, já sentia em mim e nos jovens um à vontade
consistente, um vencer barreiras do tacto, do odor, do olhar, da idade, do ritmo.
O Victor repete sistematicamente que dentro do grupo de dança não existem
homens ou mulheres, gordos ou magros, bonitos ou feios mas, sim, bailarinos/as que
podem trocar de papéis. Deste modo, o líder do grupo faz questão em reforçar a ideia do
carácter assexuado do grupo de dança, como que querendo evitar que o erotismo se
apodere dos bailarinos e das regras e disciplina que estes têm de interiorizar. Isto não
significa que, fora do espaço de dança, não haja namoros entre elementos do grupo e que
alguns não tenham projectos de vida em comum.
Para os jovens, o que importa é que o corpo, através dos gestos, se transforme
numa mensagem, isto é, que nele se inscrevam códigos que exprimam emoções,
sentimentos, valores, sejam o reflexo de modos de vida, como se o corpo fosse um texto
para se ler. Por isso, a linguagem do corpo (Fast,1984) é bem trabalhada para se tornar
eficaz, por exemplo, num espectáculo.
357
O telemóvel e o controlo
Durante os ensaios do grupo, era possível observar uma bateria de telemóveis
pousados sobre a mesa e a perturbação e desconcentração que instalavam nos jovens,
quando sentiam que aqueles estavam a tocar ou a receber mensagens, que podiam ser
uma mera combinação de um encontro, até ao piropo do tipo black sexy Bucha.
Mas o telemóvel também serve para que companheiros/as e algumas mães
controlem as jovens à distância, embora o líder tenha proposto que, durante as horas do
ensaio, não se deveria atender as chamadas, salvo se há alguém doente na família, ou
algo inadiável para fazer. Assim, pela desconcentração que provocavam nos jovens, os
telemóveis passaram a ser desligados no início dos ensaios.
Há uns anos atrás, era vulgar ver um jovem com uma aparelhagem de som, um
tijolo, na mão, passeando na rua ou juntando-se a um qualquer grupo de jovens que
estivessem estacionados no beco.
Hoje em dia, o telemóvel é um dos objectos mais apreciados e indispensáveis para
os jovens e toda a sua vida é programada a partir deste pequeno instrumento de
comunicação.
9.1.3.3. Os espectáculos: o Dia Mundial da SIDA evocado no D. João V
No âmbito das actividades em torno da dança e da música, a preparação dos
espectáculos constituem momentos de grande azáfama e entusiasmo para o grupo de
jovens (*).
Com bastante antecedência, são escolhidos os pares fixos e os de substituição, é
seleccionado o repertório musical com as respectivas danças, conforme as audiências e o
objectivo do espectáculo. Os trajes são cuidadosamente limpos e preparados para esse
acontecimento. Os ensaios duplicam e a disciplina torna-se mais apertada até estar tudo a
postos para o grande dia ou noite.
(*) ver anexo III – 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, 7G, 7H, 7I, 7J, 7K, 7L, 7M, 7N
358
No dia 1 de Dezembro de 1999, Dia Mundial da SIDA, o grupo Estrelas actuou no
D. João V, antigo cinema da Damaia, que foi adquirido pela Câmara Municipal da
Amadora e onde se realizam eventos culturais.
Os jovens do grupo fizeram questão, como é costume nestas circunstâncias, de
marcar um encontro e de seguir juntos para o local do espectáculo. Neste dia, assim
aconteceu, só que poucos cumpriram a hora prevista para o encontro. Estes momentos
são simultaneamente de tensão, nervosismo, mas também de grande prazer. Todos os
jovens apareceram com os seus penteados bem trabalhados, repletos de trancinhas, as
raparigas vestiram-se elegantemente e esticaram os cabelos com gel para disfarçar a
ondulação. Algumas raparigas justificaram o atraso com os horários por turnos no
McDonald’s e o facto de se deslocarem de autocarro, o que torna tudo mais moroso
àquela hora.
No encontro que se realiza após os espectáculos, estes são sempre avaliados pelo
Victor para corrigirem ou melhorarem aspectos da performance dos pares, para
avaliarem se foram bem escolhidos e como interagiam, se tinham uma expressão facial
tensa ou liberta, se estavam desconcentrados, enfim, se conseguiram fazer passar as
mensagens das peças.
Para este efeito, o grupo destaca um elemento para filmar o espectáculo e o
respectivo vídeo servirá de base para este processo avaliativo do desempenho dos pares e
de cada bailarino individualmente341.
Estes são momentos importantes na vida do grupo, porque a reflexão sobre o
desempenho de cada um é feita colectivamente, cada elemento do grupo pode dar a sua
opinião, fazer uma crítica ou auto-crítica dentro do grupo, de forma fraterna. Isto não
significa que, por vezes, não haja ressentimentos provocados por brincadeiras
inoportunas ou comportamentos um pouco abusivos de um jovem para outro. Neste caso,
o facto de ser mais velho conta muito para o encaminhamento da discussão e o sanar das
divergências. No dia deste espectáculo, o Helder, por exemplo, considerou que o Feia
tinha tido um comportamento incorrecto para com ele e criticou-o, mas sem deixar de
referir que, como mais novo, o respeitava.
341 Cf. ‘Conversas de palco’ in Erving Goffman, 1993 (1959:208-09) e ‘disciplina dramática’ pp 254-255.
359
No final da avaliação o líder propõe que a verba recebida pela actuação do grupo
(cinquenta mil escudos) fosse utilizada no pagamento das despesas com a limpeza dos
trajes e o restante fosse distribuído por todos os bailarinos, como estímulo (*).
A presença, nestes espaços, de familiares e amigos, políticos e técnicos, transforma
os espectáculos em momentos de grande euforia, emoção e tensão e neste ambiente
festivo, o grupo de jovens, como comunidade de gostos e de interesses, vê legitimada a
sua existência. Durante o espectáculo, os jovens que acompanham o grupo de dança
vibram como uma verdadeira claque.
A produção cultural ali sintetizada confere aos espectáculos dos Estrelas Cabo-
verdianas um lugar particular na vida do grupo, uma oportunidade de transpor barreiras
de uma cultura localmente construída para uma cultura urbana mais abrangente.
9.1.3.4. As actividades fora da rotina: fragmentos de percursos do grupo
Para além das actividades que referimos anteriormente e que são marcadas por uma
cadência semanal, o grupo organiza múltiplas actividades fora destas rotinas e das quais
vamos dar alguns exemplos mais significativos para os jovens.
A ida ao Centro Comercial
As deslocações em grupo, aos centros comerciais, fazem parte integrante do rol de
actividades dos jovens do grupo. São momentos de grande descontracção e de convívio
que geralmente obedecem a um percurso que tentaremos reconstruir a partir da
experiência de terreno.
No fim de mais um ensaio no bairro, mais precisamente, no dia 24 de Outubro de
1999, alguns jovens combinaram uma ida ao cinema, no Centro Colombo. Fizeram
questão que eu partilhasse esse momento de convívio e explicaram-me o que tinha de
fazer para acompanhar o grupo.
(*) ver anexo III – 8
360
O ponto de encontro foi a casa de Alcinda Pina, mesmo no coração do bairro, numa
zona chamada pelos próprios, bairro dos solteiros.
Numa das paredes exteriores da casa, há uma placa que diz “vivenda Pina – nº 21”;
é a última casa de sampadjudos, da Rua Nª Sª do Monte, antes de se entrar no corredor
que os separa dos badios (figura 40). É uma espécie da casa-mãe para os Pinas, porque
ali viveram os pais que foram dos primeiros imigrantes cabo-verdianos a fixarem-se no
local e casa-grande para o grupo, porque é ali que se concentram, quando programam
alguma saída colectiva para fora do bairro. É, pois, o ponto de referência para se
encontrarem, fora do quadro dos ensaios do grupo de dança.
O facto de se prepararem para uma deslocação colectiva para fora do bairro
constituía sempre uma saborosa confraternização, em que havia lugar para criticarem as
suas actuações, através do visionamento do vídeo dos espectáculos, para beberem sumos
de fruta, Martini e para conversarem. Outro aspecto interessante destes encontros era a
despreocupação face ao objectivo principal, isto é, irem juntos ao cinema. Apesar das
horas irem passando, eu não via, nem sentia ninguém nervoso com o aproximar da hora
do filme e do tempo de deslocação até ao centro comercial. De facto, o que parecia que o
importante era, mais uma vez, o estarem juntos e a ida ao cinema um pretexto. A
percepção do tempo e das distâncias parecem não coincidir com a minha e interroguei-
me, mais uma vez, se esta tinha a ver com as diferenças de idade, com referências sócio-
culturais ou com ambos os factores.
As raparigas apresentam-se muito bem vestidas, com roupas onde predominam o
preto e o branco, sapatos ou botas com tacões bem altos e uns penteados sofisticados, em
que predominava o alisamento dos cabelos com utilização de gel e ganchos trabalhados.
Os rapazes vestiam fatos de treino e ténis de marca, cortes de cabelo e barba trabalhados
e já tinham abandonado o boné com a pala para baixo, o que constituíra um traço
distintivo, até há pouco tempo.
Cerca das 18:30, apanhámos o autocarro da carreira 67, em direcção ao Centro
Colombo.
Numa das entradas do Centro Comercial que dá acesso à galeria central, tinham
encontro marcado com amigos dos membros do grupo, que não vivem no bairro, nem na
envolvente . Uma vez concentrados, começaram por levantar dinheiro no multibanco,
361
compraram embalagens com hamburgers, batatas fritas, sumos, pipocas e dirigem-se
para o cinema. A seguir, discutiram o tipo de filme a ver e, neste caso, todos
concordaram com A filha do General, cujo actor principal é John Travolta; a justificação
era de que se tratava de um filme cheio de acção e aventuras. Durante o filme, os comes e
bebes passaram de mão em mão, num frenesim constante, porque todos faziam questão
em partilhar o petisco que alguns tinha preparado.
Depois do filme, percorremos as avenidas do centro comercial, em grupo, falando
alto, rindo e olhando para algumas montras, sobretudo, de material de desporto, cuja
montra era, quase sempre, objecto de admiração.
A partilha desta experiência permitiu-me entender algumas das opções do grupo
em termos de espaços de sociabilidade.
Com efeito, o centro comercial acaba por reproduzir as diferentes funções da
cidade (restaurantes, cinemas, ruas, praças, lojas). Para os jovens, não é o lugar do homo
anonymus (Freitas, 1996:123)342, mas um lugar de convivialidade e de consumo, onde a
tribo se encontra, comunica e se diverte.
O centro comercial proporciona ao grupo alargado dos Estrelas Cabo-verdianas
múltiplas experiências, ligações e formas de sociabilidade itinerantes. É um espaço
democrático (todos podem fruir de tudo o que o CC oferece), acolhedor, alegre, muito
atractivo, cheio de luz e de conforto, limpo e seguro, que contrasta profundamente com
os bairros onde residem os jovens. Daí o seu poder de sedução.
A cultura do automóvel
As deslocações dos jovens em grupo fazem-se, quase sempre, em transportes
públicos; para o Centro Colombo, apanham a carreira 67, mas se vão para outras zonas
da cidade, podem deslocar-se no combóio da linha Sintra-Lisboa. Tanto num caso, como
no outro, as paragens ou estações estão ali, mesmo ao lado do bairro Estrela d’África.
342 Ricardo Ferreira de Freitas (1996) faz o estudo comparativo do Shopping Center Rio-Sul, no Rio de Janeiro, e o Forum des Halles, em Paris, abordando estes espaços na perspectiva de simulacros dos principais elementos da cidade.
362
Contudo, há sempre um elemento atrasado, que resolve levar o automóvel, exibindo esta
marca de prestígio para tugas ver.
Numa das deslocações em que acompanhei os jovens ao Centro Colombo,
aproveitei a boleia do Beto, no seu Ford vermelho, para regressar ao bairro. Alguns dos
jovens também aceitaram o convite. Um carro cheio de jovens afroportugueses e uma
europortuguesa no meio deles, a música bem alto, com um ritmo de funáná, foram os
ingredientes para chamar a atenção das pessoas que olhavam para nós com um ar de
espanto.
Do ponto de vista dos jovens, é um prazer e um factor de sedução esta forma de
circular, pouco discreta. Numa das conversas com o Victor, este referiu-se a este
comportamento como uma estratégia para conquistarem uma tuga, ou de promoção
social. Por esta razão, é comum assistir-se, na zona envolvente ao bairro, a este vai-vem
de carros com cores e sonoridades provocantes. Assim, podemos constatar que o carro é
um símbolo de estatuto, de poder, instrumento de sedução e de atracção, que marca a
diferença. O carro exibe-se, é para ser visto, a música em alto som dá uma ajuda neste
chamar da atenção e, provavelmente, ajuda a esquecer a semana de esforço nas obras,
que dá dinheiro mas que sai do corpo.
Festejar o aniversário na Discoteca N’genga343
Como vimos no último capítulo da primeira parte, a zona industrial da Venda Nova
sofreu, nos últimos anos, um processo de reabilitação urbanística considerável. As bolsas
de unidades industriais degradadas deram lugar a novos empreendimentos habitacionais e
industriais. Contudo, a partir de 1998, o que teve um grande impacto local foi a
reabilitação dos grandes armazéns da BIC, os quais foram reabilitados e transformados
numa correnteza de restaurantes e discotecas. Esta zona passou, então, a chamar-se
Docas Secas, por analogia às Docas de Alcântara.
Como seria de esperar, as populações mais jovens da Amadora, residentes naquela
zona, que se deslocavam para Lisboa com o objectivo de se divertirem, passaram a
343 N’Genga é uma expressão angolana que significa a festa.
363
frequentar estes estabelecimentos. Claro está que os jovens afroportugueses passaram a
ter ali, mesmo à mão, um espaço de referência para o convívio nocturno.
Os empresários destes estabelecimentos, sobretudo os responsáveis da Discoteca
N’genga, investiram bastante nestes potenciais clientes, através da criação de uma
atmosfera de imagens, cores e música pró-africana.
É neste quadro que, no dia 31 de Outubro de 1999, o grupo Estrelas é convidado a
fazer um espectáculo na pista de dança da discoteca. No sábado anterior, o Victor
colocou à consideração do grupo o convite que lhes fora feito pelo responsável da
discoteca. Assim, no início do ensaio, os elementos do grupo sentaram-se no chão e
ouviram atentamente a proposta de participação do grupo de dança num espectáculo ao
vivo na Discoteca N’Genga e as contrapartidas que lhes foram oferecidas. Discute-se os
pormenores e tudo foi posto à votação: ir ou não ir, fazer ou não o espectáculo,
recebendo 50% das entradas, quais os pares que vão fazer o espectáculo, as músicas e
danças a seleccionar. A limpeza e conservação dos trajes do grupo eram da
responsabilidade de um elemento, por isso, este aspecto foi tratado com todo o cuidado.
Todos se pronunciaram e votaram com o braço no ar. Estava decidido actuar e foi então
que seleccionaram o repertório musical.
No dia seguinte, houve ensaio com os pares que iriam actuar à noite. Às 20h30
todos regressaram a casa para descansar um pouco e para se prepararem para uma noite
agitada. Antes, porém, combinaram os encontros em casa uns dos outros, de acordo com
critérios de maior afinidade ou amizade. A Bucha teve a iniciativa de sugerir o meu local
e hora de encontro e é, neste contexto, que às 23h30, estou nas Portas de Benfica, junto à
paragem dos autocarros, à espera que me contactem. Pela familiaridade com que falam
do local, logo me apercebi que este é, igualmente, um ponto de encontro para
deslocações em grupo para os diversos locais de lazer. De facto, àquela hora da noite,
observei diferentes grupos de pessoas, sobretudo jovens, concentrarem-se nas Portas,
utilizando o telemóvel ou a cabina telefónica para confirmarem os encontros e seguirem
os seus rumos nocturnos.
Mesmo ali ao lado está o bairro das Fontaínhas, local onde residem alguns
elementos do grupo. Os becos sinuosos e estreitos e as casas inacabadas, vistas pelo
exterior, contrastam com o interior, apertado mas acolhedor, cheio de móveis e de
364
elementos decorativos. O acesso às casas é, muitas vezes, feito através de escadas
íngremes, o que provoca quedas, sobretudo, às pessoas mais idosas e às jovens, quando
utilizam calçado com saltos muito altos. Exemplo dessa situação é o acesso à casa da
Sónia, bailarina principal do grupo Estrelas Cabo-verdianas, situada no bairro das
Fontaínhas, local para onde nos dirigimos nessa noite e onde assisti aos preparativos da
festa na Discoteca N’Genga. O pormenor da maquilhagem, da tatuagem no peito, dos
penteados e das roupas foram ali tratados com um cuidado rigoroso para que todo o
corpo fosse sedutor. Neste quadro, e enquanto aguardava que as jovens se preparassem
para a festa , a irmã da Sónia, com 16 anos de idade, dizia-me que não saía de casa para
se divertir, porque não gostava do seu corpo, sentia-se muito gorda, e mostrava-me
fotografias de quando era mais magra e, por isso, tinha uma maior auto-estima. Por
coincidência, e através do álbum de fotografias da família, reconheci o pai destas jovens,
um cabo-verdiano que trabalhava na Câmara da Amadora, na recolha nocturna dos lixos,
e a mãe que é responsável por uma taberna-café na Rua das Fontaínhas, no mesmo
bairro, propriedade da família.
Depois destes preparativos, voltámos às Portas de Benfica para apanharmos um
táxi para a discoteca. Os taxistas desta zona parecem já familiarizados com este tipo de
clientela e rumos, não me parecendo temer a proximidade dos bairros, como acontece
com os que se deslocam de fora para os bairros. Este aspecto surpreendeu-me, porque
revelou e confirmou que, afinal de contas, os preconceitos em relação a estas populações
não podem ser generalizados. De facto, esta situação provava que, quem tem interesses
económicos nestes potenciais clientes e conhece um pouco a realidade, tem uma ideia
positiva destas populações e destes jovens.
Ao chegarmos à discoteca, apesar de haver um forte controle das entradas, os
elementos do grupo foram passando com facilidade ao lado da longa fila de acesso ao
interior do espaço. Confirmei que já são conhecidos do gerente da discoteca, não só
porque já fizeram outras actuações de dança, mas porque é comum festejarem ali o
aniversário, tendo, para o efeito, direito a ramo de flores, a bolo de aniversário e a música
especial. Por coincidência, nesse dia, a Sónia festejou os anos, não na Escolinha, como
acontece frequentemente, mas na discoteca, como vem sendo cada vez mais comum entre
os membros do grupo.
365
Nessa noite, por volta das três da madrugada, o grupo de dança reuniu-se num local
para que os bailarinos se vestissem com os trajes do grupo e se preparassem para a
actuação na pista de dança, utilizando, para o efeito, o repertório mais ritmado. Ao
assistir ao espectáculo, pudemos observar que era manifesta a sensualidade dos corpos
dançando ao som de música afrocaríbean e os gestos abundantes pareciam comunicar
incessantemente, substituindo as palavras. O sucesso foi imediato e o prazer e orgulho
estava estampado nos rostos dos bailarinos e da claque que os acompanhou.
Por volta das 6 horas da manhã, os jovens começaram a abandonar a discoteca,
preocupados com a reacção dos pais ou com a ida para o trabalho. Este era o caso da
Nhunha, que me acompanhou a pé desde a discoteca até aos táxis das Portas de Benfica
e, pelo caminho, ia confessando a sua preocupação pela repreensão do pai e pelo facto de
ter um turno, a partir das nove da manhã, no McDonald’s do Carrefour, em Telheiras.
A Discoteca N’Genga passou a ser um espaço de diversão e de eleição para alguns
dos elementos do grupo, apesar das advertência do líder do grupo, no sentido de evitarem
noitadas sucessivas que prejudicassem o funcionamento dos ensaios.
Nos últimos anos, verificaram-se vários incidentes na zona das Docas Secas e
envolvente, motivando a intervenção das autoridades locais, entre as quais a autarquia
local, que manifestou a intenção de mandar encerrar alguns estabelecimentos. Contudo,
estes espaços de sociabilidade são cada vez mais procurados por segmentos
diversificados da população, pelo que se torna difícil concretizar este tipo de reacção à
turbulência da vida nocturna.
Com efeito, a emergência das discotecas344 como espaços de ócio, provocou um
grande impacto social nas formas de comunicar e de consumir. Libertou os jovens das
regras rígidas do baile (estamos longe das etiquetas de a menina quer dançar e de levar
uma tampa, mudou os hábitos quanto ao tipo de consumo de bebidas, de música e formas
de dançar, combinando novos jogos de luzes e de sonoridades. A discoteca passou a ser
344 Feixa, na obra de referência, faz uma abordagem muito curiosa sobre o papel destes espaços disco, no quadro das sociabilidades dos jovens. Refere que a discoteca reflecte o papel de instituição social total, que pode ‘conceber-se como uma microsociedade com as suas regras próprias’... ao mesmo tempo reflecte ‘as condições económicas, sociais, matrimoniais e de consumo vigentes no sua envolvente social’ ...actua como difusora de determinadas modas musicais e juvenis...mas também como cenário de encontro e redistribuição de diversos estilos (Feixa, 1999:118-119).
366
um centro difusor de modas juvenis345 associadas à música, transformou-se num
megapalco de encontros, de estilos e cosméticas, de relações efémeras. Mas é, também, o
lugar onde a tribo celebra os ritos de passagem que se querem eternizados, onde se
actualiza a, por vezes precária, identidade individual e social.
Festa de aniversário na Escolinha
Todos os aniversários são festejados em grupo, no bairro, no local do ensaio ou na
discoteca. A diferença é grande porque, quando se festeja no bairro, a desinibição é
completa, uma vez que se sentem em casa.
Tudo começa pelo anunciar do aniversário com alguma antecedência e todos
trazem algo para comer e beber. Após o ensaio, geralmente de sábado, colocam-se as
mesas no meio da sala e enchem-se com o bolo de aniversário (com o nome gravado),
frango assado no espeto, aperitivos, rebuçados e bebidas, sobretudo martini, sumos e
champanhe.
A música é um complemento indispensável para manter um bom ritmo e a alegria
ao rubro. Muitos dos jovens trazem prendas para oferecer ao/à aniversariante e a oferta
destas cria um momento de particular acalmia e curiosidade. Uma camisa, uma gravata,
um lenço, uma carteira, um colar ou pulseira de missangas, um produto de cosmética,
enfim, podem ser variadas as opções, o que importa, ali, é mesmo o gesto.
Quando o ambiente da festa começa a aquecer, acontece o inevitável ritual de
destruição, que mais parece um potlach346 em que tudo o que é comestível se destrói,
voando pelo ar, atirado à cara dos outros, resultando, no final, um caos dentro da sala.
(*) ver anexo III –9
345 Cf. Roland Barthes, 1981 (1967) e Gilles Lipovetski. 346 Potlach é uma expressão utilizada por Marcel Mauss para designar um ritual de troca que proporciona, igualmente, a reunião de tribos, de clãs e de famílias...produz um nervosismo e uma excitação notáveis... Mauss, Marcel, 1974 (1903). Sempre que algum membro do grupo festeja o aniversário, todos trazem comida e bebidas para partilhar com os restantes; a partir do momento que cantam os parabéns, começam numa destruição de tudo o que resta, sendo os bolos atirados à cara do parceiro, as bebidas despejadas pela cabeça, enfim, desatam-se as vontades manietadas pelas regras sociais e, então, vale tudo, é a destruição ritual. O meu aniversário, em 2001, também não passou despercebido (*).
367
Parece que, de repente, há uma explosão de liberdade que nos permite regredir aos
tempos de criança, em que se pode exceder os limites sem se assumir a total
responsabilidade.
A asneira é a palavra de ordem e não há líder nem responsáveis que consigam
reter tanta energia acumulada e libertada naquele momento de comunhão emocional.
Porém, quando se aproxima o fim da festa, começa o penoso trabalho de limpeza
da sala e das roupas, entretanto carregadas de bolo e de sumo, a recolha do lixo, trabalho
este em que todos participam, concordem ou não com o desperdício produzido.
O local de ensaio fica, assim, pronto para a função educativa que justifica a sua
existência.
Um Natal diferente
O Natal de 1999 foi festejado no dia 18 de Dezembro, sob a inspiração da ideia do
grupo como uma família. Todos estavam motivados para preparar a festa de Natal de
forma diferente, em que o mais importante era, mais uma vez, estarem todos juntos e
unidos por uma amizade inabalável.
O líder do grupo sugeriu que se comprasse uma prenda simbólica para todos,
incluindo as crianças e adolescentes do grupo Bronze, estando a dificuldade no pouco
dinheiro que o grupo possuía. Por este motivo, resolvi propor ao Victor a compra de algo
útil para todos e, neste sentido, deslocámo-nos para o centro da Amadora para tentar
encontrar a prenda ideal: carteiras de bolso com fantasias, para os rapazes e adereços
para as raparigas dos Bronze e agendas do tipo organizer, com capas de fantasia, para
todos os Estrelas, de forma a poderem agendar os compromissos, sobretudo em matéria
de ensaios e espectáculos347.
Na data combinada para o Natal dos grupos de dança, os Bronze começaram a
chegar à Escolinha, às 15 horas, carregados de bolos (tinham-se quotizado para comprar
um bolo, numa confeitaria da Damaia), bolachas, rebuçados e sumos.
347 Nesse ano, fiz questão de oferecer as prendas de Natal aos elementos do grupo de dança Bronze e aos Estrelas Cabo-verdianas; o Victor deslocou-se comigo ao centro da Amadora para comprar agendas e carteiras para todos.
368
Neste dia, o Mário, o monitor de dança, mal conseguiu dominar os Bronzes que,
entre gritos e atropelos, devoraram, rapidamente, tudo o que existia sobre as mesas,
deixando um rasto de lixo por todos os cantos da Escolinha.
O Victor chegou quase no fim da festa e teve de dominar os impulsos dos
adolescentes e de convencê-los a deixar a sala limpa e arrumada.
Apesar desta exigência, a alegria estava estampada no rosto dos Bronzes, que
saíram eufóricos da Escolinha, com a sua prenda na mão, mostrando a todos como era
bom pertencer ao grupo e ter amigos.
Após o ensaio do grupo, os Estrelas começaram a colocar as mesas no centro da
sala e a espalhar as bebidas e a ceia preparada por todos.
Na véspera, tinham feito uma listagem dos nomes que ofereciam e a quem a
respectiva prenda de Natal. Só o Victor e o Nuno conheciam esta listagem, para não
retirar o efeito surpresa.
Todos tinham comprado uma prenda para oferecer e a curiosidade era grande. A
música, a dança e a euforia ao rubro rapidamente transformaram a sala num palco de
perseguições, com comida e bebidas atiradas à cara uns dos outros. Como nas festas de
aniversário, esta destruição ritual, do tipo potlach, constituía um dos momentos mais
fascinantes do encontro e tinha um efeito catártico nos jovens, que pareciam querer
derreter, deste modo, tensões acumuladas e restrições sociais que condicionavam a vida
quotidiana. A festa constitui, pois, um momento sublime de inversão da realidade
quotidiana.
Estas celebrações têm muitas vezes um papel de substituição dos rituais que
deveriam acontecer a nível familiar, mas que, por diversas razões, não se tornam
possíveis nesse quadro. Por esta razão, aliás, as festas e os rituais do grupo acabam por
ter uma expressão que está muito para além da sua função, no sentido em que preenchem
sucessivos vazios que a sociedade e a família impõem aos jovens.
A morte e o grupo de jovens
A morte de um familiar de qualquer membro do grupo implica a suspensão dos
ensaios, no fim-de-semana seguinte e, em substituição, visitam-se os familiares dos
369
amigos enlutados. Para o efeito, o grupo marca encontro no bairro e desloca-se para o
local onde decorrem os rituais, cumprimentando os mais próximos, conversando,
comendo (muito pouco) a comida tradicional348 e acompanhando, mais tarde, o funeral.
Ao longo do trabalho de campo no bairro, a morte que mais me impressionou foi a
do irmão da Salomé, um jovem de 22 anos, cujo funeral se realizou no dia 7 de
Novembro de 99, no cemitério de Carnide.
Como sempre, o ponto de concentração foi a casa da Alcinda Pina e todos os que
tinham carros se ofereceram para transportar os amigos até ao cemitério. Neste local,
havia muita gente concentrada, sobretudo jovens, que se desdobravam no apoio à amiga
Salomé e choravam emocionados pela morte prematura do Manuel Joaquim,
pronunciando palavras inintelegíveis e atirando as primeiras terras para cima do caixão,
abraçando-se como que solidários na mesma dor. No final da cerimónia, muitos dos
jovens do grupo foram a casa da amiga, partilhar da tradição, comendo canja de finado e
fazer companhia para aliviar o desgosto desta morte precoce.
O grupo Estrelas Cabo-verdianas mantinha esta regra como sagrada, esforçando-se
por revelar diferentes formas de manifestar a sua consternação e solidariedade para com
os amigos e respectivos familiares.
Esposende e Mira: duas experiências ímpares
O trabalho de campo permitiu-me acompanhar, passo a passo, a preparação de duas
estadias fora de Lisboa: uma na Pousada da Juventude de Esposende, em Abril de 2000 e
a outra na Pousada da Juventude de Mira, em Abril de 2001. Em ambos os casos,
acompanhei o grupo durante a permanência nestes locais, vivendo intensamente a
experiência de uma vida colectiva que, embora efémera, revela aspectos únicos da acção
colectiva e individual dos jovens.
Uma das mais excitantes vivências do grupo é, de facto, o tempo de estadia longe
de Lisboa, algures numa pousada da juventude, onde todas as capacidades dos jovens
para gerir afectos e conflitos, são postas à prova.
348 A refeição é constituída, sobretudo, por guisado de borrego, milho, canja de finado, sumol e coca-cola.
370
Anualmente, o grupo faz pelo menos uma viagem deste tipo, quotizando-se para
pagar despesas de alojamento e alimentação.
Estas deslocações são preparadas com muita antecedência e as tarefas distribuídas
por alguns elementos do grupo, numa tentativa de descentralizar e de responsabilizar o
maior número possível de jovens pela preparação da viagem, de forma a conferir-lhes
determinadas competências. Assim, o Victor, na qualidade de líder do grupo, vai
controlando à distância, através do telemóvel, o cumprimento das tarefas por parte dos
jovens que, por sua vez, encarregam-se dos contactos institucionais, nomeadamente, com
a Movijovem, para reservar os alojamentos numa Pousada da Juventude,349 e com a
Câmara Municipal, com o objectivo de reservar o autocarro e motorista para o efeito,
sendo este pedido, posteriormente, formalizado por escrito.
Vejamos, pois, como foi preparada a primeira destas duas viagens.
O Nuno Pina ou o Rui Pina ficaram com a incumbência de reservar a pousada mais
próxima do local onde o grupo pretendia ficar sediado, durante o fim de semana. Deste
modo, formalizaram junto da Movijovem a reserva e fizeram o respectivo pagamento.
A aquisição de alimentos para confeccionarem as refeições, durante os dias de
permanência, ficou a cargo de outros elementos, um dos quais o Zé Gato.
As mulheres foram preparando os pais para esta ausência e, muitas vezes, é o
próprio líder do grupo que os convence a autorizarem as filhas a permanecerem dois ou
três dias fora de casa. Muitas vezes, o líder faz o trabalho de mediação com os pais, no
sentido de os tranquilizar quanto às condições de segurança e de respeito entre todos os
elementos do grupo.
Três dias em Esposende e uma visita ao Gerês
A deslocação a Esposende decorreu nos dias 21, 22 e 23 de Abril de 2000 (*).
O ponto de encontro estabelecido foi junto à loja de música Sons d’África, na Rua
D. Maria/Estrada Militar, junto à principal entrada do bairro Estrela d’África. 349 Por força desta participação nas estadias dos jovens do grupo nas pousadas da juventude, acabei por adquirir o cartão de alberguista para facilitar o acesso do grupo, uma vez que, sendo informal, não tinha personalidade jurídica e necessitava de alguém que se responsabilizasse não só pelos pagamentos das despesas, como também pelo cumprimento das regras, durante a permanência nas Pousadas.
371
A partir das 7h30, os elementos do grupo e amigos começaram a chegar a conta-
gotas. Há sempre alguém que se encarrega de trazer o tijolo com cassetes de música
gravadas para a viagem e, logo de manhã cedo, começa a tocar e a animar o ambiente,
que é de festa, desde a primeira hora.
Os responsáveis pelo organização da estadia surgiram com um carrinho de
supermercado cheio de mantimentos para as refeições dos três dias de estadia.
Desta vez, o autocarro foi alugado pela Câmara Municipal da Amadora a uma
empresa de transportes e o condutor era de origem cabo-verdiana, o que provocou uma
empatia imediata entre o motorista e os jovens.
Como sempre, à medida que a hora avançava, começaram as chamadas para os
telemóveis dos atrasados mas, desta vez, é o próprio Victor que não aparece nem
telefona, o que criou alguma ansiedade no grupo, pelo receio que qualquer problema
pudesse impedir o líder de acompanhar o grupo. De facto, tinha-se sentido mal disposto,
mas nada que o impedisse de viajar.
Eram 9 horas, quando partimos rumo a Esposende.
A distribuição das pessoas no autocarro não permitia grande convívio, pelo que não
foi fácil para os jovens manterem-se durante muito tempo sentados, sendo a brincadeira e
o jogo uma constante nestas viagens.
Assim, logo que saímos de Lisboa, já a algazarra era grande, com a música bem
alto e o riso à mistura, correrias pela galeria central do autocarro, mudança contínua de
lugar e o assalto aos sacos e mochilas das raparigas que, sabendo de experiências
anteriores desta pilhagem aos seus lanches, já vinham preparadas para a grande confusão.
Contudo, não se deixaram assaltar sem dar luta, porque isso tornaria desinteressantes
esses roubos de comida, guloseimas e bebidas transportadas em sacos para a viagem.
O produto do roubo era sempre distribuído pelos cúmplices, os quais não só
tentavam distrair as atenções de quem estava a ser alvo deste saque, como avaliavam a
destreza do principal assaltante. O jogo só acabava quando o/a lesado/a descobria o
desfalque e fingia enfurecer-se, obrigando à restituição do produto roubado o que, na
maior parte das vezes, era impossível, porque era comido à medida que era distribuído.
(*) ver anexo III – 10, 10A e 10B
372
As paragens pelo caminho foram, também, momentos de grande excitação e,
sempre que possível, de subversão de regras, que ia desde a utilização dos sanitários de
homens pelas jovens, como o dançarem jovens matchos uns com os outros, ou os gestos
eróticos das raparigas que dançavam umas com as outras, atitudes estas a provocar
olhares de curiosidade e de espanto nas pessoas que os presenciavam.
Neste quadro, a atitude do líder era de grande permissividade e até de
cumplicidade, pelo que se deixava envolver nos jogos e nas excentricidades, omitindo o
papel de liderança. Este facto, embora criasse alguma ambiguidade no seu papel,
provocava nos jovens um prazer enorme por verem o líder pactuar com a rebeldia e a
provocação. Parecia-me que em todo este comportamento dos jovens havia um prazer
explícito em contrariar o estabelecido, através de comportamentos que subvertiam as
regras do jogo. Era como um pôr à prova os amigos e os estranhos, de forma
provocadora, mas não agressiva, sendo esta conduta uma constante no convívio dos
elementos do grupo.
A chegada à Pousada da Juventude de Esposende revelou que estas estadias, apesar
do jogo e da brincadeira, tinham uma organização prévia que os jovens tentavam cumprir
com disciplina. Assim, as chaves dos quartos dos rapazes e das raparigas foram entregues
aos responsáveis, mas cada um escolheu, dentro desta divisão sexual, os companheiros
de quarto. Enquanto esta escolha acontecia, outros procuravam a cozinha e
encarregavam-se, de imediato, da arrumação e conservação dos víveres, de forma a que
as refeições fossem servidas com qualidade.
No primeiro dia e de forma quase natural, as raparigas invadiram a cozinha e os
rapazes, depois de se equiparem, foram para o campo de jogos, no exterior da pousada,
jogar futebol.
373
fig. 54 - Esposende, 2000 - jovens do grupo jogando à bola
fig. 55 - Esposende, 2000 - jovens preparando o almoço turno das raparigas
Como era grande a confusão na cozinha, dado o número de raparigas que queriam
colaborar, a Chinda (Alcinda) propôs-se organizar dois turnos, um para cozinhar e outro
para lavar a loiça. Parecia que estávamos perante uma divisão sexual do trabalho e da
reprodução do papel da mulher e do homem na cultura dominante. Este pensamento era
para mim preocupante, porque fazia antever comportamentos muito conservadores num
conjunto expressivo de 50 jovens. De facto, não esperava que tal acontecesse! A
374
aproximação da hora de preparação do almoço do dia seguinte revelou-se uma grande e
positiva surpresa. Com efeito, na cozinha, não estava uma única mulher e os rapazes
controlavam totalmente a situação, dando a perceber que já tinham previamente decidido
qual era a ementa e quem a executava melhor. Neste caso, os jovens tinham-se
organizado de forma a dividir as tarefas por todos. As raparigas tinham ida à feira, que
decorria ali perto, ou passeavam pelo exterior da pousada, evitando ficarem fechadas nos
quartos, correspondendo, assim, a uma regra implícita da estadia. Fora e dentro da
cozinha ouvia-se a música afro-caribe, por vezes, num som estridente, a qual era uma
companhia constante que parecia ritmar as tarefas de cada jovem, que dançava e cantava
num sem fim de gestos de trabalho, de malabarismos e de brincadeira. Qualquer
pormenor inusitado era motivo para grande euforia. Por exemplo, a existência de uma
garrafa de champanhe motivou nas jovens uma grande excitação, levando-as a beber sem
parar cada copo e a dançar efusivamente ao som de um ritmado hem, hem, hem..., como
que espantando os problemas e soltando a imaginação. Um momento especial aconteceu
quando as jovens me obrigaram a beber, de um trago só, um copo cheio de champanhe e
ansiaram conhecer a minha atitude e o efeito desta partida. Outro exemplo desta euforia
foi a descoberta de um saco cheio de azeitonas o que provocou uma grande confusão,
gerando uma atitude de concorrência entre as jovens que se esforçaram para ver quem
mais roubava e comia, mesmo sabendo que estavam reservadas para enfeitar uma das
refeições planeadas. O período durante o qual decorreram as refeições foi bem mais
tranquilo, até porque a fome apertava e o controle de uns sobre os outros era maior.
Constatei que, por vezes, eram as jovens mais velhas que se revelavam mais ávidas
destes momentos lúdicos e de asneira, de descompressão e que, por isso, tinham
comportamentos mais extravagantes.
375
fig. 56 – Esposende, 2000 - jovens preparando o almoço turno dos rapazes
O contacto inicial com os funcionários da pousada foi muito reservado. Sintoma
disso foi o pedido que me fizeram para obter autorização para a utilização de material de
cozinha, sobretudo, grandes tachos e panelas, para a confecção de refeições para dezenas
de jovens. Não deixou de ser curiosa esta delegação do papel de mediadora que me foi
atribuído espontaneamente, como se, neste contexto, o facto de ser tuga e mais velha
fosse uma grande vantagem. Porém, após esta inibição inicial, a relação com os
funcionários da pousada revelou-se muito aberta, o que parecia dever-se não só a uma
preparação profissional daqueles para lidar com jovens, bem como para aceitar as
diferenças.
Como referimos atrás, no que diz respeito ao alojamento, os grupos de rapazes e de
raparigas ficaram nas respectivas alas da pousada: uma para os homens e outra para as
mulheres350. Os quartos rapidamente se encheram de roupa e objectos pessoais, alguns
dos quais, como os perfumes, foram guardados com algum cuidado, porque sabiam que
não demorava o assalto dos rapazes aos seus objectos pessoais. Em consequência, as
raparigas planeavam, geralmente nas casas de banho, estratégias para ‘sequestrar’ um
rapaz que era alvo de castigos diversos, como represália pelo desaparecimento de algum
350 Na pousada, existia ainda uma zona reservada a casais.
376
objecto. Este jogo do gato e do rato assemelhava-se a uma sequência de jogos sexuais
porque, no meio da confusão, a malícia e o desafio entre rapazes e raparigas era uma
constante.
As ocupações daqueles dias foram diversificadas: jogar à bola, andar de carrinhos
eléctricos num carrocel localizado ali perto, vaguear pelas ruas de Esposende, visitar o
Gerês, onde circulámos em pequenos grupos, entrando nas lojas para fazer pequenas
compras, comendo gelados, comentando em crioulo tudo o que se via, o que suscitava a
curiosidade dos transeuntes.
No regresso, foi feita uma avaliação da viagem e estadia, orientada pelo líder e com
a participação de todos os jovens, que não deixaram de fora nenhum acontecimento,
preocupando-se, sobretudo, em sanar os problemas criados por alguns excessos. O Victor
aproveitou para projectar um vídeo que foi produzido durante a estadia e que gravou
momentos inesquecíveis do convívio, de desinibição e euforia, entre os membros do
grupo.
Três dias em Mira
Nos dias 13, 14 e 15 de Abril de 2001, partimos rumo a Mira para uma estadia na
respectiva Pousada da Juventude (*).
Tal como há um ano atrás, o ponto de encontro do grupo foi a loja de música Sons
d’África, à mesma hora, isto é, às 7h30, e o quadro repetiu-se: foram chegando em
pequenos grupos, com sacos cheios de bolachas, sandes, frango assado, amêndoas, sugos,
sobretudo, para a viagem, o carrinho de supermercado igualmente cheio de produtos
alimentares para as diversas refeições, durante a estadia que, após ter sido despejado, foi
colocado debaixo das escadas da passagem aérea sobre a linha do comboio.
Desta vez, o autocarro saiu à hora prevista, talvez, devido ao facto das críticas
serem cada vez mais severas em relação aos jovens que sistematicamente se atrasam.
(*) ver anexo III – 11, 11A, 11B e 11C
377
Durante o percurso, repetiu-se o ritual do roubo, dos assaltos aos sacos e mochilas,
da redistribuição por todos os amigos do produto desses saques, do fingir que ninguém
viu, do jogar às cartas. Os gritos, a euforia, o desassossego foram uma constante e,
devido a esta expansão de energias e de alegria, a viagem de três horas passou bem
depressa.
Ao chegarmos à pousada da juventude, os responsáveis pela viagem e eu dirigimo-
nos à recepção, informando da reserva. Apesar de tudo ter sido esclarecido pelo Rui 1351,
o recepcionista entregou-me as chaves dos quartos dos rapazes e das raparigas. Não
percebi se este imaginou que estava perante uma monitora de férias. O facto é que os
meus amigos reagiram bem a esta minha nova responsabilidade, porque receavam
alguma confusão com as escolhas dos quartos. Porém, esta atitude conferiu-me um
estatuto de diferente entre iguais, que parecia dar aos jovens um certo conforto,
nomeadamente, no que diz respeito à relação com terceiros, sobretudo, com os
funcionários da pousada. Outro exemplo deste tipo de atitudes é o facto de ter sido
chamada a intervir, quando se verificaram queixas de um casal com filhos que, não
podendo descansar por causa do ruído à noite, apresentou uma reclamação e manifestou
o seu desagrado pela confusão lançada pelos jovens dentro da pousada. Não foi difícil
resolver este problema, porque os jovens tinham consciência da sua conduta exagerada.
Porém, em contraste com este desassossego, pude constatar, mais uma vez, que eles
tinham a estadia bem programada, no que diz respeito à organização dos turnos de
rapazes e raparigas para prepararem as refeições, tendo sido elaboradas as respectivas
ementas, e as iniciativas, como o concurso de dança para as mulheres, a festa do pijama
para os homens, bem como o baptismo dos neófitos do grupo.
O baptismo dos membros recém-chegados ao grupo
No último dia da estadia em Mira, o líder do grupo rodeou-se de alguns jovens
mais velhos e começou um ritual a que chamou baptismo352 dos novos membros do
grupo. Este ritual consistiu em perseguirem e agarrarem os recém chegados ao grupo e, 351 Como há três jovens com o nome de Rui, o grupo designou-os como Rui 1, Rui 2, Rui 3. 352 O baptismo aqui descrito assemelha-se a um ritual de iniciação a que os jovens são sujeitos para fazer a transição de fora para dentro do grupo e integrarem-se nas regras deste.
378
de forma algo violenta, obrigá-los a ajoelharem-se ou a deitarem-se no chão, ao mesmo
tempo que despejavam água fria sobre as cabeças destes e iam pronunciando uma lenga-
lenga de boas vindas ao grupo. Durante toda a tarde, deu-se uma verdadeira caça ao
homem, por toda a zona envolvente da pousada, perseguia-se quem fugia ou se escondia,
evitando esta cerimónia de iniciação, uma vez que isso implicava ficarem
completamente encharcados de água e muitos jovens já estavam vestidos com a única
roupa que tinham para o regresso a casa. Por tudo isso, sentia-se uma certa relutância
dos/das jovens em se sujeitarem a este ritual de iniciação mas, apesar disso, ninguém
conseguiu escapar desta aventura .
O meu baptismo constituiu um momento de grande expectativa para os jovens, uma
vez que alguns duvidavam da possibilidade do grupo me sujeitar a um ritual tão violento
e incómodo. Percebi que era muito importante para todos o facto de eu não constituir
uma excepção, pelo que, após uma perseguição por parte dos jovens e de alguma
resistência, acabei por cair nas mãos do pequeno grupo de jovens que procediam à
cerimónia de iniciação. Estes, depois de me terem obrigado a ajoelhar, despejaram um
balde cheio de água fria na minha cabeça, ao mesmo tempo que o Victor
pronunciava palavras de boas vindas ao grupo. Os jovens juntaram-se para assistir a este
desafio que me foi ali mesmo colocado e que, indubitavelmente, contribuiu para reforçar
a confiança e amizade dos elementos do grupo face à minha pessoa.
fig. 57 – Mira 2001, o baptismo dos membros recém-chegados ao grupo
379
Em todos estes momentos estava presente uma certa violência ritual que suscitava
nos jovens, ao mesmo tempo, um fascínio e repulsa, sentimentos de ambiguidade e de
contradição que acompanham, de resto, toda a dinâmica do grupo Estrelas Cabo-
verdianas e amigos.
9.1.4. Da amizade e do sentimento de pertença
A amizade é uma construção social, culturalmente modelada e desde logo uma
relação dinâmica, cujas formas e conteúdos variam no espaço e no tempo. O sentido que
se dá à amizade advém de uma construção cultural e de uma inserção social (Bidart,
1997:24-25).
Tal como outros laços informais, a amizade exerce uma influência sobre a conduta
das pessoas, permitindo a utilização desses vínculos para contornar os
constrangimentos353 sociais das instituições e organizações formais.
Neste caso, o sentimento e afecto (Cucó i Giner, 1995:28)354 constituem um
elemento central da relação, que pressupõe uma adesão voluntária e desinteressada,
sustentando-se na base de lealdade, da confiança e da reciprocidade.
A amizade é, para os jovens do grupo, como a água de que precisamos todos os
dias, uma forma de estar com o outro, de partilhar tudo o que há a partilhar, é algo muito
forte que os une e faz sentir bem.
Se perguntarmos aos jovens o que significa o grupo para eles, as respostas355 são
bem reveladoras deste sentimento de pertença.
Apesar da explicação do Victor poder ser considerada um pouco narcisista, porque
concentra na sua pessoa o poder de criar e manter a amizade, esta corre entre os membros
do grupo de forma constante, revelando-se insubstituível em momentos difíceis da vida
do grupo ou de cada um dos seus elementos.
353 Apesar de haver autores que defendem uma unanimidade na definição dos atributos da amizade ocidental: o carácter voluntário e pessoal da relação, isto é, não está sujeita a determinantes externos da vida social ou económica, aproximando-se da relação pura (Giddens, 1997:82-92). 354 A amizade assenta numa relação pessoal que, por mais controlada que seja, é sempre uma relação não substituível, como refere Simmel (1989:281, in Cucó i Giner, 1995:28). 355 Uma parte destas respostas são ditas e escritas em crioulo para facilitar a capacidade dos jovens para exprimir um sentimento.
380
A amizade dentro do grupo tem a ver com o líder, se souber fazer bem o papel e não por obrigação,
senão faço mal.
Percebes bem a mente, os objectivos do líder, o líder é a fotografia do grupo. Tem de fazer o
sacrifício do líder, mostrar que está pronto a receber, mostrar que tenho o meu ombro ali, em
situações familiares de ruptura é criticado, às vezes, mas aceite, é recebido em casa...
Eu sinto falta daquilo, sinto que não construí nada por mim, preciso de estar ali no grupo.
A amizade é algo que circula ali, entrego-me à outra pessoa, a amizade é uma forma de estar com o
outro, é como se fosse água de que necessitamos todos os dias, é uma coisa muito forte. O grupo só
funciona com a amizade ou, então, só com dinheiro.[Victor Moreira]
Num grupo é preciso ter união, amizade e confiança, acima de tudo.
Para mim, o grupo Estrelas Cabo-verdianas significa muito, quando estou com o grupo sinto bem,
feliz e realizada por fazer aqulo que gosto, também faz-me fugir um pouco dos problemas, alivia-
me o stress e faz-me rir muito, que é uma coisa que eu gosto muito.
Com este grupo aprendi muito e espero continuar a aprender.
Eu sou amiga de todos, mas acho que há falta de confiança entre nós. Este grupo é a minha
segunda família, defendo-o de qualquer coisa’[Mana]
Eu gosto muito do nosso grupo, porque a distracção é tudo para mim, a convivência é muito
importante no nosso dia a dia e também mantém a minha forma, ensina-me a ajudar os outros e a
fazer com que contribuam comigo, sendo assim, ser ajudado também... digamos que esta equipa se
prepara para um bom início de funcionamento e que no futuro, seremos todos uns grandes
profissionais da dança mas, para isso, teremos que lutar e sermos muito unidos para não
perdermos a batalha final [Piteco]
Sinto que este grupo tem um significado especial para mim, porque é como se fosse um segundo lar.
Tive oportunidades que eu não poderia ter, se lá não estivesse, conhecer o país, lugares lindos, que
tantos não o tiveram, saber o que é realmente um grupo e ver feitios diferentes num só local, e não
só, conhecer jovens novos, etc.
Sou uma jovem que teve muitos problemas na vida e tive de saber lidar com eles, pedindo conselhos
aos mais velhos, sempre que possível, penso eu que, se não estivesse no grupo, poderia ser uma
pessoa diferente, não haveria de ser a mesma pessoa que sou agora.
Acima de tudo, dá-me prazer de estar neste grupo, sinto que sou feliz a fazer aquilo que faço, se
estou triste e com problemas é só estar lá, fico contente. Por isto tudo, sinto que foi a melhor
escolha que fiz para mim próprio.
381
Entrei aos 14 anos para o grupo, para um grau inferior, lutei muito para conseguir o meu primeiro
objectivo, fazer parte dele; só passado um ano, o meu objectivo estava a ser concretizado. Quando
dei o meu primeiro espectáculo ao lado deles, fiquei muito contente e muito satisfeito comigo
próprio, tudo isso só por ter prazer de dançar.
Há muita coisa para dizer mas neste momento não há palavras que digam o que sinto por este
grupo Estrelas Cabo-verdianas [Feia]
O nosso coração está dentro do grupo. Se afastar, ah, meu Deus, eu não aguento.
Nós somos muitos, mas a nossa amizade que temos é para todos quem entrar no grupo e resta para
mais alguém. Já viajámos para muitos países, já fomos para muitos passeios, já passámos muita
alegria, até dizemos: depois desta alegria, a morte não é nada, já passamos coisas tristes, chorar
já nós chorámos, o grupo é tudo para mim, o grupo não me deixa pensar em nada, a minha paixão
são os meus colegas do grupo, a minha família é o meu grupo [ Rui 3].
A amizade é uma forma de sentir que obriga a estarem juntos, sampadjudos e
badios, angolanos, santomenses, tugas e outros.
O grupo é o lugar onde a amizade cresce e se desenvolve, onde as vidas se cruzam.
Para além do objectivo de estarem juntos, os jovens elegem o grupo como a sua família e
como o espaço privilegiado para exprimirem uma personalidade colectiva, através de
diferentes idiomas, mais ou menos visíveis, dos quais a dança e a estética dos corpos, o
crioulo e uma ética e amizade produzidos no seu interior são os companheiros
indispensáveis nesta travessia colectiva.
Estes traços marcam um estilo de vida que configura um ethos resultante de
percursos individuais e colectivos. Um estilo de vida que se revê na forma como falam
dos seus problemas, mesmo os mais íntimos, como contornam situações difíceis que
atingem as suas famílias e os próprios jovens; na forma como tratam os corpos e como se
vestem, os adereços, a capacidade de brincar como crianças e de fazerem partidas e
roubos rituais, ou os potlach, durante os quais destroem tudo o que está à mão, os jogos
pedagógicos com os quais treinam habilidades e competências e, sobretudo, a forma
como reagem a todo o tipo de pressões a que qualquer jovem está exposto na sociedade.
Esta forma de estarem juntos dá conteúdo às suas vidas, muitas delas com sonhos
ceifados cedo. Dá segurança e conforto, um sentido de família em que a autonomia e a
liberdade aumentam o sentido de responsabilidade.
382
A amizade dentro do grupo Estrelas Cabo-verdianas caracteriza-se por uma
relação informal, tenuamente ancorada à estrutura social do bairro, constituindo um tipo
de amizade com um carácter intersticial, residual, não institucional ou estrutural, que
cresce num ambiente particular, isto é, num contexto de bairro com características
específicas.
As relações de amizade entre os membros do grupo, alargadas aos amigos,
namorados e parentes jovens, funcionam na base de compromissos e regras estabelecidas
pelo líder e outros responsáveis, as quais são aceites de bom grado pelos outros
elementos; a base é pessoal e voluntária, por isso, há uma liberdade de movimentos que
não é de todo desprovida de controlo, como se de um contrato se tratasse. Há também um
grande respeito pela privacidade de cada um, embora os problemas emocionais e
afectivos sejam discutidos em grupo ou individualmente. Assim, não é raro ver um/uma
jovem a chorar a um canto, à espera que o líder ou um amigo do grupo a/o venha
consolar.
De facto, os jovens procuram no grupo um refúgio para fugir às regras, por vezes
rígidas, impostas pelos pais, pela escola, pelos empregadores. Aqui, no seio do grupo,
não há a competitividade e a impessoalidade que se encontram nas instituições da
sociedade.
Com efeito, um aspecto muito importante para alimentar a auto-estima dos jovens
é a possibilidade de decidirem sobre o como e o que fazer em grupo, tornando-se agentes
decisores e não apenas receptores de ordens emanadas de terceiros. Os direitos e deveres
são estabelecidos pelos próprios membros, as sanções a aplicar definidas caso a caso,
sempre que o grupo desenvolve endemicamente conflitos de pequena ou maior dimensão.
Mas seria errado transmitir uma ideia idílica do funcionamento do grupo. Por
vezes, os conflitos estalam no seu interior, ou são accionados do exterior, contudo, tais
conflitos, sobretudo, os gerados dentro do grupo, são cuidadosamente geridos pelo líder
com o apoio de todos os elementos do grupo.
Como vimos anteriormente, esta forma de estar é fortemente apreciada pelas
crianças e adolescentes do bairro. Muitos destes aspiram a fazer parte do grupo,
manifestando este desejo de duas formas: ou positivamente, observando os ensaios e
esperando crescer para ser convidado a integrar o grupo, ou negativamente, fazendo todo
383
o tipo de ruído e de desacatos no exterior ou no telhado da Escolinha, provocando a
desestabilização do ensaio, obrigando à intervenção do líder. É que a escassez de espaço
para os ensaios e a falta de recursos para aumentar o número de participantes no grupo de
dança, obriga a limitar a entrada destes, mesmo que seja, apenas, para assistirem aos
ensaios e estarem com os mais velhos, sonhando poder vir a ser como eles.
O estilo de sociabilidade dos Estrelas Cabo-verdianas constitui, como referimos,
um mapa de orientação destes candidatos a adulto com referências culturais híbridas,
baseadas numa mestiçagem ou negritude, por vezes, mais estigmatizante que libertadora.
Ser um Estrela Cabo-verdiana significa desfiar o novelo da confusão em que
sentem mergulhadas as suas vidas.
O grupo é um espaço onde se tece uma identidade com fios de tradição e
modernidade, construídos a partir de um kit cultural, cujos componentes se escolhe, de
acordo não só com as opções que os jovens assumem individual e colectivamente, mas
também com as audiências e os contextos.
Neste quadro, os amigos desempenham um papel muito importante na vida dos
jovens, protegendo-se mutuamente, ao longo do ciclo vital, proporcionando companhia e
suporte emocional, contribuindo com eficácia para a construção da identidade pessoal e
social, ajudando a ultrapassar os problemas e as crises da vida quotidiana, muitos das
quais resultam em rupturas e isolamento (Cucó i Giner, 1995:53).
O modelo de sociabilidade do grupo pressupõe formas de igualdade de género. A
integração e acompanhamento do grupo permitiu-me observar o tipo de relações de
amizade intersexos, desde situações em que a polaridade sexual se manifesta, isto é, em
que rapazes e raparigas parecem desempenhar papéis opostos sem poderem ter
intimidade, como há situações de contactos íntimos e informais entre amigos. Esta última
faceta é a mais comum e corresponde à organização informal do grupo, que permite uma
linha de conduta mais flexível e aberta.
A primeira situação é assumida, por exemplo, nas estadias prolongadas de fim de
semana356, em que as tarefas estão divididas por grupos de homens e grupos de mulheres,
356 Como referi atrás, acompanhei, durante o trabalho de terreno, duas estadias de três dias cada, nas Pousadas da Juventude de Esposende e de Mira. Estes constituíram momentos fundamentais para a compreensão das relações de género nos jovens do grupo. A intensidade de relações e de acontecimentos
384
existindo uma certa rigidez na distribuição das tarefas. Contudo, como referimos atrás, os
grupos de rapazes e de raparigas assumem papéis idênticos, quer seja na compra e
confecção dos alimentos, quer nas limpezas.
Nas actividades performativas do grupo, esta divisão sexual é igualmente
assumida, numa tentativa de representar os papéis tradicionais da mulher e do homem,
nas culturas de origem dos pais.
O grupo proporciona uma relação intersexos que não só é saudável, como
indispensável para se evitar situações de segregação na própria vida real. Esta relação é
ritualizada em momentos nos quais os rapazes e as raparigas assumem papéis contrários,
através dos quais os rapazes passam a ser raparigas e vice-versa, dançando nesta posição
e desenvolvendo comportamentos que são do sexo oposto.
O grupo protagoniza um tipo de relações intersexuais que funcionam também como
espaço desinibidor e de alimento da auto-confiança, resultando em atracções múltiplas,
que se podem transformar em vínculo amoroso, que acaba por coexistir com os laços de
amizade.
A amizade e o sentimento de pertença, são entre outros factores, o fermento de que
o grupo necessita para cimentar a coesão, o compromisso e as sociabilidades de que são
protagonistas.
9.2. Baza até lá! Quando a casa passa a ser a cidade, a casa é a rua
O poder de integração e de equilíbrio emocional conferido pelo grupo aos jovens
que dele fazem parte é uma das dimensões mais importantes deste tipo de associações
juvenis. É frequente ouvirem-se histórias sobre os problemas familiares e de
inadaptação à escola, que levam muitos destes jovens a afastarem-se da família e do
bairro. As organizações que trabalham com crianças e adolescentes de rua sabem que
muitos dos que se concentram na Praça do Comércio ou no Cais do Sodré, por exemplo,
revelaram-se ímpares, dado o afastamento do bairro e do olhar vigilante dos parentes e vizinhos, os quais exercem um controlo muito grande sobre as jovens.
385
são oriundos da Amadora, nomeadamente, de bairros de habitat informal.357 Não é
nosso objectivo desenvolver esta questão, mas deixamos um registo da trajectória de
vida de um dos jovens bailarinos que encontrou, no grupo Estrelas Cabo-verdianas, a
família e no bairro Estrela d’África, a casa que durante anos a fio não teve.
O Mário, um jovem com 18 anos, nasceu no bairro das Fontaínhas, na Venda
Nova, Amadora, e viveu com os pais, de origem cabo-verdiana, no chamado bairro Cor
de Rosa, mandado construir pela Câmara Municipal para realojar as vítimas das cheias.
No dia 30 de Outubro de 1999, passavam três meses do trabalho de campo
intensivo no Bairro Estrela d’África, quando tive o encontro com o Mário Pereira para
conversarmos sobre a sua experiência de vida.
Sabia, pelo líder do grupo Estrelas Cabo-verdianas que a história de vida do
Mário era paradigmática das crianças/adolescentes que vivem na rua358. Senti, porém,
algum pudor em penetrar no seu mundo, porque sabia que tinha tido uma experiência de
vida tão fascinante como traumática. O meu amigo Mário e colega de dança resolveu-
me esta questão, dizendo que gostaria de me contar a sua história e que sonhava um dia
poder participar num filme sobre a sua experiência para que as pessoas entendessem
melhor o mundo das crianças de rua. Sentados em pequenas cadeiras do ATL dos
Unidos, na Escolinha, mesmo no coração do Estrela d’África, iniciámos a nossa
conversa, a qual só terminou quando chegaram os primeiros pequenos bailarinos/as do
grupo de dança os Bronze, do qual o Mário foi monitor de dança durante algum tempo.
Em discurso directo, descreveu-me do modo seguinte, a sua vida:
Eu tenho essa visão da forma como os jovens vivem no bairro ou das necessidades dos jovens que
vivem nestes bairros, porque primeiro eu vivi uma certa época da minha vida nestes bairros.
Os meus pais são cabo-verdianos, a minha mãe é de Santiago, o meu pai é de Praia.
Vieram para cá (Portugal) já há 23, 24 anos e eu nasci aqui na Damaia naquelas casas de cor-de-
rosa (bairro municipal para realojamento das vítimas das cheias). Depois fui para a Venda Nova
para um bairro que fica naquela rotunda das Portas de Benfica.
357 O Instituto de Apoio à Criança (IAC) teve um projecto de trabalho com crianças de rua a viverem nas praças do centro de Lisboa e concluiu que uma parte significativa das crianças era oriunda da Cova da Moura, 6 de Maio e outros bairros similares. 358 Sobre este tema, ver: José Machado de Pais e Lynne Chrsholm (Orgs)1997; Stéphane Tessier, 1998; José Luís Garcia (org.), 2000; JoãoSebastião, 1998; José Martins Barra da Costa, 1999.
386
Eu vivi aí, também um ou dois anos, depois, fui viver para Benfica, fui depois para Sacavém,
depois, para Damaia.
Depois, os meus pais separaram-se e entretanto, juntaram-se e acabaram por se separar outra
vez e aí, eu fui pá minha casa, não quis que o meu pai nem a minha mãe se zangassem...
pensassem que gostava mais de um, ou que eu gostava mais do outro e aí, resolvi vir para a
minha casa.
Tinha os meus sete ou oito anos, quando fui viver na rua.
Só que eu, desde os 10 anos, ando num colégio interno.
Eu tenho 18 anos... fui criado num colégio onde tinha tudo, vinha passar o fim-de-semana...
Primeiro, fui para o Coas, um colégio na Bela Vista... é um colégio de observação... andei aí dois
anos, depois fui para o Navarro de Paiva, que fica em Sete Rios; há aquele colégio de meninas e o
colégio de rapazes. Neste colégio, andei durante seis anos, eu e o meu irmão mais velho, o Rui,
que tem 21 ou 22 anos.
Eu e o meu irmão criámos separados um do outro. Ele foi para o colégio Navarro da Paiva,
primeiro do que eu, quando éramos pequenos também... ele sempre viveu com o meu pai e eu com
a minha mãe. Os meus pais separaram-se e levou com que nos separássemos... aí, eu nunca
conheci o meu irmão.
O meu irmão vivia aqui nas casas cor de rosa, com o meu pai e eu vivia na Venda Nova, com a
minha mãe e aí levou com que eu vivesse longe do meu irmão. Cheguei a uma certa idade e tive
curiosidade de conhecer esse meu irmão e comecei a ir atrás dele. Só que, nessa altura, não sabia
que o meu irmão fugia de casa, não tinha essa noção, ainda era pequeno.... aí, quando eu me
apercebi disso, fiz a mesma coisa. Fugi de casa e fui para a rua, vivi com outro tipo de amigos na
rua, em Lisboa, na Praça da Figueira com.... eram jovens com outros tipos de comportamentos,
outra forma de vida completamente o contrário daquilo que eu pensava, não é ?!
Eles viviam ali, nas saídas do metro, do calor, dormiam por ali, não é ?
Acabei por ficar por ali com eles.
Tinha os meus oito ou nove anos.
Sim, eu fugi de casa, também, fui à procura do meu irmão, só que... para ir para onde ele estava,
tinha que ir por certos caminhos, não é ?
É assim, lá, a gente sente a liberdade total e é um dos pontos mais fortes que existe. Depois, a
gente tem não é bem um líder, percebe.... Mas é como se fosse um líder, o mais velho, o mais velho
é aquele que encaminha, porque ele já conhece aquilo, já conhece isto, já conhece aquilo e ele diz-
te, é pá ,eu ontem tive lá e estava muito fixe, baza até lá e o povo todo... todos aqueles que são
amigos e que estão no grupo vão atrás, é como se fosse um líder.
A gente tínhamos um tipo de vida que era... levantávamos de manhã, tipo 8 horas da manhã.
E nós íamos na Praça do Comércio, lá na Praça do Comércio, havia lá aqueles....parques de
estacionamento, nós íamos para lá estacionar carros e arranjávamos dinheiro e é assim, para
387
alguns sim, porque havia outros mais reguilas...e roubava-se pessoas, prontos, isso era uma coisa
...
Na rua e nas discotecas, a gente ia para as discotecas e ficávamos lá nas portas e às seis da
manhã, quando vinha o povo todo, arrastávamos uns aos outros e tirávamos a carteira ou, às
vezes, despíamo-los todo nu, tiravamos-lhe a roupa toda... mas isso não acontecia a todos,
normalmente, quando isso acontecia, eles chamavam um ou outro, não é!!! Eles lá combinavam:
olha, vamos os dois, como é que é ? Eu, por acaso, nunca roubei ninguém, eu não sei roubar, não
sei.....
Não, é assim, para além de a gente ir pedir dinheiro, a gente pede nas esplanadas, eles pedem nos
parques de estacionamento e nos parques conseguem fazer, num dia 10 contos. Se tiveram lá o dia
inteiro podem fazer sei lá...15 contos, se encontrarem um estrangeiro que lhes dá uns escudos a
mais, depois do dinheiro que fazem nos parques, ainda correm praticamente todas as esplanadas
de Lisboa e chegam ao fim do dia com 20 ou 30 contos no bolso, muitas vezes, metade desse
dinheiro é para o consumo de drogas.
Agora, não se nota tanto, mas o consumo da droga é uma coisa que eles têm na vista de todo o
mundo....fazem lá e procurar ir para as praias, por exemplo, procuram estar em jardins enormes...
Nós tínhamos aquele parque de estacionamento lá em cima, em Santos, tinha um pequeno jardim,
uma coisinha pequena...na Praça do Comércio, há aquele estabelecimento do exército, não é ? Aí
ao lado tem um jardim pequeno.
Tem umas palmeiras, eles deitavam-se lá e as pessoas passavam e olhavam, mas eles estavam-se
nas tintas...
Eles usavam cola, nessa altura, eles usavam cola de contacto para cheirar e ficavam todos
embriagados, era muito raro beberem vinho ou cerveja, mas gostavam, não quer dizer que não
bebessem, não é !? ... Gostavam e uma das coisas que se aprende muito depressa é a fumar e a
conhecer todo o espaço em Lisboa. Circula-se bem, a casa passa a ser a cidade toda. A casa é a
rua.
Conhecemos também os lugares onde dormimos porque um dia dorme-se aqui, outro dia, dormia-
se ali, conforme... os locais onde se passa a noite. Às vezes em Santos, amanhã, no Castelo de S.
Jorge, hoje, aqui no Rossio...é claro que a gente não faz esse pensamento diário, mas durante o
dia a gente vai pensando...hoje, vou dormir aqui e eles dormem onde lhes apetece. Propriamente,
nunca ficam num sítio especifico para dormir, não é !?
Eles usavam algum tipo de drogas e uma delas é o álcool e outra é o haxixe, a cola de contacto
que eles fumavam... esse dinheiro é feito durante o dia nos parques de estacionamento, nos
roubos, nas esplanadas de Lisboa. Para além disso, também se visitava a cidade era uma das
coisas que se fazia muito, era visitar a cidade, andar de barco, de eléctrico, de comboio ...
388
Eu acho que essa sensação de andar em grupo é...primeiro, dá segurança e há momentos que se
tem formas, capacidades de estar à vontade naquilo que fazes... naquilo que faço, naquilo que
quero fazer amanhã e...
É assim, o grupo tem as suas regras, só que são regras ligeiras. São regras que a gente pensa
nelas, mas que por vezes não cumprimos. São coisas que cada um ...é...é a educação que cada um
leva em si, eu não faço isto, não faço aquilo...isso são pequenas regras, mas cada um cria as suas
regras...uma das regras que se encontram é aquelas regras dos crimes, mais elevados, percebe ?!
Matar pessoas, por exemplo, partir montras, conforme o tipo de pessoas que existem num grupo.
Quer dizer, quando o líder é uma pessoa forte nessa área, a gente sente-se seguro e vamos pelos
métodos dele, porque o líder é uma pessoa que dá muita confiança para o grupo.
Sim, tanto protege, como dá aquela segurança de que é.... se a gente se quebrar, eu posso fugir e
ele fica lá, ele vai nos segurar, ou se eu bater num miúdo, ele vai segura, percebes!? É um pouco
esta segurança e muitas vezes, quando a gente íamos presos, o líder ia lá, chateava-se com os
polícias...
Nós éramos grupos dos 15 até os 16 anos, havia pessoal que tinha 17/18 anos e ele já tinha os
seus 25 anos.
Primeiro, é assim, ele era o mais velho dessa vida, tinha uma longa vida nisto, depois, tinha uma
boa visão da cidade, como funcionavam as coisas, o que é que poderia acontecer aqui ou ali...
quais os perigos que poderíamos encontrar, não é !?E depois, também é aquela pessoa mais forte
que nos defende dos perigos, das brigas em que nos metemos e é uma pessoa que, apesar de estar
nesta vida, tem os seus conselhos...
Nós éramos 20, um grupo muito grande.
Se somos apanhados, no momento, a gente fica desorientados.... a notícia corre dum lado para o
outro, até que a gente possa encontrar, por exemplo, outro líder... então, o grupo tenta se juntar a
outro grupo, tentar segurarmos a nós próprios e às vezes, o grupo desfaz-se e aí, cada um vai
procurar a sua orientação e muitos procuram o caminho de casa, outros regressam aos Institutos
de Reinserção Social e outros continuam nessa vida.
Outros juntam-se a outros grupos... é assim, a vida continua.
Eu encontro muitas vezes, quando passo pela Baixa, eu agora vivo em Alcântara e às sextas-feiras
e aos sábados, eu encontro amigos meus daquela altura, que não me conhecem hoje !!! Passo por
eles, cumprimento, mas...
Vou lá e hoje em dia, muitos deles já não estão tão mal, mas muitos deles estão mais magros,
porque, hoje em dia, devem ter fugido para outras drogas....
Hoje, outros que estão bem procuram trabalhar nas obras, eu, muitas vezes, passo no Bairro Alto
e encontro jovens dessa altura, que estão lá e traficam, mas cada um tenta melhorar dentro
daquilo que faz...
389
É assim, o que me levou a sair daquele grupo é que eu tinha um objectivo, no meio disto tudo, eu
tinha um objectivo que não era uma coisa fixa, uma coisa pensada, mas que estava neste destino,
era encontrar o meu irmão, depois...
Sim, só que, um certo dia, eu cansei de andar nessa vida, já me sentia triste, sozinho, esfomeado,
cansado, aí, nessa noite, eu lembro-me muito bem, estava a chover, éramos seis elementos e
estávamos a passear... íamos para o Cais Sodré e íamos a subir aquela rua onde é agora o
Armazém do Chiado, e como estávamos a conversar eu comecei a ficar para trás, a ficar para
trás e deixei o grupo seguir e sentei-me numa entrada de uma das lojas e comecei a pensar: estou
com saudades da minha família, não quero andar mais nesta vida , tenho saudades dos meus pais,
dos meus irmãos !!!.... e deu-me na cabeça de ir ao Governo Civil...que era ali perto.
Pois, e fui até lá e encontrei lá um carro, isto, eram meia-noite, em frente à esquadra e sentei-me
onde estão as duas rodas da frente, deitei-me em cima do capot; veio um polícia, devagarinho,
acordou-me e perguntou-me o que estava a fazer e eu disse que estava a dormir, levou-me para
dentro, fizeram-me um inquérito e fiquei lá na cela naquela noite. Fiquei admirado, porque
trataram-me bem. Na manhã seguinte, veio um outro polícia falar comigo e perguntaram-me se
queria ir para casa ou para um colégio e eu pedi para ir para o colégio onde estava o meu
irmão...
Depois, fui levado para o Tribunal de Menores e a juíza disse-me que não podia ir para o colégio
do meu irmão, mas sim para outro, e fui para Coas, de lá, a juíza deu ordens para eu visitar o meu
irmão e duas semanas depois, fui vê-lo.
O meu irmão estava no Navarro de Paiva, comecei a visitá-lo periodicamente e passados dois
anos, mandaram-me para lá. Estive lá cinco anos, mas os meus pais nunca me visitaram; saí há
pouco tempo, eu saí em Abril. Agora pertenço a este grupo e sinto-me bem. [Mário Pereira].
O Mário não foi ter com a família, pai ou mãe, mas ficou a viver aqui e ali, em
quartos alugados, cuja renda era paga com o dinheiro que recebia de um dos projectos
URBAN, na qualidade de monitor de dança do grupo Bronzes; integrou-se no grupo
Estrelas Cabo-verdianas, onde o irmão já se destacava pelas suas qualidades de
bailarino. Hoje, o Mário é acarinhado pelo grupo, continua a sonhar ser actor e espera
que o sol nasça, também, para ele.
390
O Grupo Estrelas Caboverdeanas Kuzé ta significa pa mi:
Ta xinti ki kel grupu ten un significadu spicial pa mi pamódi ê cima ke nha segundu lar. N`tinha oportunidadi kin ca pudia tinha sim ca staba la, n´conchi nhã país, lugaris bonitu, kin tantu ka tinha, pan sabi realmenti kuzé ki ê un grupu e odja fetios difirenti só num lugar, e ê ca só conchi jovem nobus, etc. Ami ê un jovem ki tinha várius probulemas na bida n´tinha ki sabi lida ku ês, ami in pidi concedjo na guentis más bedjos sempri ki era possivél n´ta pensa ki sin ca staba la gosi n´ca ero o mesmu alguem. Apesar di tudu ta dan prazer di sta nês grupu, n´ta xinti sabi pa quel qui ami n´ta fazi, si mi sta tristi e ku probulemas sô di mi sta la, n´ta fica contenti, pa keli tudo n´ta xinti ki foi midjor escolha ki mi n´ fazi pa mi própri. In entra ku 14 anu pa un grau inferior, ami luta tcheu pan consigui, nha 1º obigetivo ,foi fazi parti del, sô passadu un anu ki mi consigui nha obigetivo staba concretizadu kuandu in da nha primeru espetaculo na ladu des tudu ,in fica contenti, e muiti satizfeitu ku mi própri, tudu sô pa prazer di dança. Tem tcheu kusa pa fla mas nes momentu ca ten palabras ki ta fla quel kin ta xinti pa kel grupu Estrelas Caboverdeanas.
O Grupo Estrelas Caboverdeanas O que significa para mim:
Sinto que este grupo tem um significado especial para mim, porque é como se fosse um segundo lar. Tive oportunidades que eu não poderia ter, se lá não estivesse, conhecer o país, lugares lindos, que tantos não o tiveram , saber o que é realmente um grupo e ver feitios diferentes num só local, e não só, conhecer jovens novos, etc. Sou um jovem que teve vários problemas na vida e tive de saber lidar com eles, pedindo conselhos aos mais velhos, sempre que possível, penso eu que, se não estivesse no grupo, poderia ser uma pessoa diferente, não haveria de ser a mesma pessoa que sou agora. Apesar de tudo, dá-me prazer de estar neste grupo, sinto que sou feliz a fazer aquilo que faço, se estou triste e com problemas, é só estar lá, fico contente, por isto tudo, sinto que foi a melhor escolha que fiz para mim próprio. Entrei, aos 14 anos, para um grau inferior lutei muito para o conseguir, o meu primeiro objectivo fazer parte dele, só passado um ano, o meu objectivo estava a ser concretizado, quando dei um meu primeiro espectáculo ao lado deles, fiquei muito contente e muito satisfeito comigo próprio, tudo isso só por ter prazer de dançar. Há muita coisa para dizer mas, neste momento, não há palavras que o diga o que sinto por este grupo Estrelas Caboverdeanas.
391
Conclusão
O objectivo inicial da pesquisa apontava para uma aproximação à cidade, através
de um bairro, observando e analisando aspectos da vida urbana, cuja cristalização no
tempo ou fluidez das situações nos permitissem compreender alguns sistemas de
organização social, de valores e competências assentes, sobretudo, na componente
informal destes contextos e populações. Por conseguinte, e apesar de termos encontrado
no bairro um viver urbano, com protagonistas de grande relevância para a compreensão
dos múltiplos processos de construção de identidades, com um particular destaque para
as mulheres, optámos por fazer o enfoque num grupo informal de jovens e nos seus
estilos de sociabilidade, o qual serviu de janela de observação sobre o bairro, o que se
revelou de extrema importância no quadro dos objectivos deste trabalho.
A questão central que esta opção metodológica nos colocou era a dificuldade de
compatibilizarmos estes microcosmos com a cidade no seu todo, conferindo, desde logo,
uma projecção destas pequenas unidades que as validasse como peças de uma
engrenagem que opera na construção da cidade e faz parte da fluidez da vida urbana.
Sendo assim, a cidade deixaria de ser apenas o background, o contexto, para fazer parte,
numa perspectiva sistémica, da unidade de análise e, assim, possibilitar o processo
comparativo com outras cidades. Estávamos perante não um problema de escalas, mas
de articulação entre as escalas micro, intermédias e macro e, dentro destas, admitir a
presença de múltiplas identidades e o impacto destas no processo de construção social e
cultural das sociedades urbanas. Esta complexidade suscitou nova questão que se
prendeu com a unidade do problema e com o problema do contexto, para utilizar duas
392
determinantes propostas por Cohen (1978:381)359, sendo que os problemas associados
às unidades socio-culturais têm uma prevalência e importância substantiva nestas
sociedades atravessadas por processos de globalização, urbanização e de migrações
massivas. Como referiu Wirth, a ‘cidade tem sido o cadinho das raças, dos povos e das
culturas...Ela não só tolerou, como recompensou diferenças individuais. Reuniu povos
dos confins da terra, porque são diferentes e, por isso, úteis uns aos outros e não porque
sejam homogéneos e da mesma mentalidade (1987:98). Contudo, a esta visão positiva
do papel dos diferentes povos na construção de sociedades mais cooperantes e
solidárias, acrescentamos a visão realista das dificuldades de coexistência criadas, não
pelas diferenças culturais, mas pela situação económica e política mundial regida por
uma lógica que encontra nas populações (i)migrantes os bodes expiatórios para os
problemas do desemprego, da insegurança urbana e das disfunções socio-urbanísticas
das cidades. Neste contexto, as novas formas de racismo e de xenofobia ganham um
fôlego virulento que “mascara as raízes económico-políticas da moderna
pobreza...noutras palavras, o problema não somos nós mas eles. Nós somos a medida da
vida boa, que eles estão a ameaçar e a minar, e isto é assim porque eles são estrangeiros
e culturalmente diferentes (Stolcke, 1995:2-3)360 .
É evidente que, no presente trabalho, apenas estudamos um segmento da vida
urbana, porque não estava ao nosso alcance estudar a cidade como um todo, isto é,
cumprir o ideal holístico. Se o tentássemos fazer, as limitações de recursos levar-nos-
iam a uma mera catalogação ‘descritiva de domínios antropológicos sem análise das
relações entre eles’ (Hannerz,1986:298), o que não traria quaisquer vantagens para a
compreensão do pulsar da vida urbana no quotidiano da cidade. Optámos, pois, por dar
visibilidade a processos, delimitados no espaço e no tempo, que estão na base das
interrelações sociais e culturais dos urbanitas, através de uma análise intensiva de alguns
processos e situações, relegando para segundo plano uma cobertura extensiva da cidade
359 Cf. Ronald Cohen, (1978.7:379-403); a unidade do problema tem a ver com a questão do objectivo/subjectivo...coloca a questão da categorização pelos não-membros (ênfase objectivista) como oposta à própria identidade de uma pessoa ou identificação com um grupo étnico particular (ênfase subjectivista). Como vimos na introdução deste trabalho, Barth deu o grande contributo para a compreensão das fronteiras étnico-culturais; o problema do contexto é simultaneamente histórico e ideológico: comportamento, cultura material, crenças, valores, tabus têm de ser compreendidos no próprio contexto, senão, o seu significado e significante escapa-nos. 360 Sobre esta questão, ver Verena Stolcke, (1995).
393
da Amadora. Por conseguinte, pensamos ser útil destacar pequenas centralidades, nas
quais predominam processos de mediação protagonizados por membros da população
que integram esses pequenos, grandes mundos do viver urbano.
Ao convocar várias escalas do urbano, a nossa preocupação centrou-se na
interrelacção de diferentes dimensões de natureza similar e no impacto que produzem
umas sobre as outras, tentando romper com o preconceito da guetização dos bairros e da
hierarquização das cidades; por exemplo, a categorização da cidade-concelho da
Amadora como periferia, embora situada na primeira coroa urbana de Lisboa, e a
cidade-concelho de Lisboa como centro, oculta uma complexidade de processos de
dependência da segunda face à primeira, que se traduziram, ao longo de muitas décadas,
nos contingentes de pessoas que se deslocam para trabalhar em Lisboa, no
abastecimento de produtos alimentares361, entre muitos outros factores. Também serve
de exemplo o impacto dos processos de urbanização na hierarquização das localidades,
dentro do próprio concelho-cidade da Amadora, com reflexo no preço dos solos, no
processo de fragmentação socio-urbanística e na produção de imagens segmentadas da
cidade, baseadas num colonialismo interno (Ross, 1982:449 e Porter e Washington,
1993:144)362; este envolve a formação de comunidades satélites dependentes, que
formam uma cintura em torno das áreas urbanas centrais. Contudo, mais do que
confrontar a Amadora com outras cidades363, tentamos analisar o impacto destas
imagens na subvalorização desta cidade baseada na presença de fissuras socio-
urbanísticas de grande expressão. Neste cenário, tentamos perscrutar o papel que a
cidade da Amadora joga no tabuleiro das interacções dos grupos e na formação das
identidades colectivas, sobretudo, ao nível dos mecanismos de controlo social e de
manipulação de conflitos, isto é, na reconfiguração de novas fronteiras entre os
urbanitas autóctones e os (i)migrantes e a tradução destas no atenuar ou acentuar da
etnicidade.
361 Uma das figuras típicas de Lisboa é a saloia, personagem enaltecida em muitas obras e que levava pão do melhor, hortaliças frescas e outros bens alimentares fundamentais para serem vendidos nas ruas e mercados de Lisboa. Sobre este aspecto, ver Graça Índias Cordeiro, 2001. 362 Cf. Jeffrey A Ross 1982; sobre o paradigma do colonialismo interno, ver J. R. Porter e R.E. Washington «Minority Identity and Self-Esteem», 1993. 363 A escala que utilizamos neste caso é a da própria cidade da Amadora, mas estes processos passam-se a um nível mais abrangente, isto é, à escala do País e entre países.
394
Por sua vez, no recorte da cidade da Amadora, que elegemos para observação,
procuramos identificar as escalas de organização socio-espacial para captar as linhas de
clivagem intra-bairro, configuradas pela heterogeneidade social e cultural, articulando
estas micro-unidades de organização colectiva, através das transacções materiais e
imateriais dentro dos diferentes grupos. Neste quadro, isolamos algumas estratégias das
populações, tentando descodificar os vários discursos e marcas identitárias, investindo
nas redes de vizinhança de familiares e de amigos e analisando como estes níveis
influenciam e são influenciados pelo todo que é a cidade364. Como vimos, estes
diferentes domínios contêm, por sua vez, uma constelação de possibilidades em que
prevalecem nós de interacção, laços, interesses, trocas, significados partilhados, afectos
e amizade, que asseguram a coexistência de populações com concepções do mundo e
estilos de vida diferenciados365.
Vários caminhos nos poderiam conduzir à essência da cidade. A opção tomada foi
fazer um retrato inclusivo da cidade, captando as faces sensíveis, como o bairro e o
grupo de jovens, conferindo-lhe uma imagem humanizada. Este caminho implicou um
mergulho nas águas agitadas das contradições entre o pensar e o viver um determinado
contexto urbano.
Sabemos que grande parte das imagens estigmatizantes são produzidas a partir do
contacto superficial dos urbanitas com territórios edificados na base de uma lógica
informal, mas utilitária e flexível, por populações de quem se reclama uma presença
necessária em termos de mão-de-obra disponível e não exigente. Paradoxalmente, esta é
uma presença perturbadora, porque parece desafiar constantemente a ordem estabelecida
e pôr em perigo a nossa cultura e ameaçar a nossa identidade nacional.
Servindo de ponto de partida, o grupo e o bairro pareciam fazer sentido, porque
nos permitiam entender como o ‘urbano é definido e como a sociedade urbana remete
para a história de grupos particulares descritos’ (Peattie e Robbins, 1984:95)366. Na
364 Sobre esta questão, ver J. Pujadas e F.Bardají, 1988. 365 Estes mecanismos de enraizamento são construídos ao longo de anos e anos de interacção social e cultural que podem estar em causa devido aos processos de urbanização e de realojamento que, ao não terem em conta esta textura cumulativa, são dos principais causadores das rupturas urbanas. 366 Sobre esta questão, ver Lisa Redfield Peattie and Edward Robbins, 1984.
395
mesma linha de preocupações, Anthony Leeds367 colocou o poder local em relação com
instituições de poder supralocal, isto é, levando em conta a influência das localidades,
como loci de poder, nas instituições e estruturas supralocais368, como loci de outras
formas de poder (1978:48). No presente trabalho, consideramos a relação do bairro com
as autarquias locais e as associações, mas deixamos de fora as igrejas, a polícia, os
partidos políticos que, no caso das favelas do Rio de Janeiro, analisadas por Leeds,
foram amplamente desenvolvidas (ob.cit). Esta questão fica em aberto no presente
trabalho, embora se tenha a noção de que para se entender os processos de criação,
crescimento, consolidação de localidades como o Estrela d’África, teríamos de remeter a
nossa reflexão para duas questões fulcrais na formação destes processos, que têm a ver
com a valorização fundiária do solo e com os interesses económico-financeiros. Estes
dois factores são determinantes na desigual distribuição dos recursos e, mesmo com uma
intervenção das instituições locais e supralocais, as dinâmicas e as lógicas em presença
transformam estes espaços e pessoas em meros peões no tabuleiro dos insondáveis
interesses económicos e políticos. Quem tem poder económico e político não está
interessado em manter populações (i)migrantes por perto, porque a sua presença
desvaloriza o território, por isso, pagam o preço da deslocalização destas populações
para grandes complexos habitacionais afastados, tanto quanto possível, dos seus
empreendimentos urbanísticos. Poder-se-á questionar, se este tipo de conclusões não
está marcado por contornos ideológicos que lhe possa tirar cientificidade. Talvez, mas
arriscamos a deixar esta questão em aberto, lembrando que os antropólogos, a coberto
de uma certa neutralidade, não podem omitir nas suas análises as causas profundas de
processos de marginalização espacial, social e económica, aflorando apenas as
consequências desses processos. Como refere Otávio Velho, “a cidade sempre é
considerada como o locus de convergência das grandes correntes e interesses
367 Cf. Anthony Leeds e Elizabeth Leeds, 1978. Leeds define localidade como ‘...são os loci de organização visivelmente distintos, caracterizados por coisas tais como um agregado de pessoas mais ou menos permanente ou um agregado de casas, geralmente, incluindo e cercadas por espaços relativamente vazios, embora não necessariamente sem utilização’. 368 Para Leeds, as estruturas supralocais ‘são organismos para cujos princípios organizacionais qualquer conjunto dado de condições locais e ecológicas é irrelevante...qualquer estrutura, cuja formação não seja governada por, ou relacionada a uma dada localidade e que confronta várias localidades, de maneira idêntica’, por exemplo: os partidos políticos, o mercado de preços, as associações profissionais, o tráfico internacional de drogas, o Estado (sistema judiciário, burocracias , sistema eleitoral....) mas, também, os mass media, a polícia...
396
económicos, políticos e ideológicos”(1987:10). Nesta perspectiva, já no início do século
passado, Simmel afirmava que “a economia do dinheiro domina a metrópole” (Velho,
1987:14) e que “o horizonte da cidade se expande de uma maneira comparável ao modo
pela qual a riqueza se desenvolve...dentro da cidade, o aumento imerecido do aluguer de
um terreno, através do simples incremento das comunicações, traz ao proprietário
proveitos automaticamente crescentes...a vida da cidade transformou a luta com a
natureza pela vida em uma luta entre homens pelo lucro que, aqui, não é conferido pela
natureza, mas pelos outros homens” (Velho,1987:20)369. Na mesma linha, também Park,
ao referir-se à cidade, dizia que “o dinheiro é o principal artifício pelo qual os valores
foram racionalizados e os sentimentos substituídos pelos interesses. É justamente porque
não temos nenhuma atitude sentimental ou pessoal por nosso dinheiro, como acontece
com relação a, por exemplo, nossa casa, que o dinheiro se torna um meio de troca
valioso” (Velho, 1987:40)370. Nesta mesma perspectiva, Nisbet (1979:102)371 descrevia
a paisagem urbana como “a cidade é...o refúgio do comerciante sem escrúpulos...dos
que se dedicam a viver à margem da lei e da moralidade...é a selva, a concorrência
feroz, e o meio para o êxito rápido e fugaz, especialmente, o financeiro”(1979:102). Ora
bem, é neste quadro que procuramos encontrar algumas razões para a existência das
profundas assimetrias que atravessam, como feridas abertas, a cidade da Amadora. Os
bairros de habitat informal são elementos das peças do mosaico de interesses e
dinâmicas de transformação da cidade da Amadora e, em particular, da Venda Nova.
Por conseguinte, enquadram-se nesta perspectiva, na medida em que o poder
económico, através da especulação imobiliária, dita as regras políticas para a
reconversão destes espaços apetecíveis pela proximidade da capital e pela centralidade,
face às vias de comunicação e aos centros de decisão supralocal. Condicionantes
estruturais determinam, pois, a natureza das relações entre as populações destes bairros
e seus representantes e o poder económico e político, isto é, as instituições supralocais,
de que nos fala Leeds. Como referi no início deste trabalho, há tendência para culpar a
vítima e, neste sentido, as populações (i)migrantes e seus descendentes são disso um
exemplo acabado. Penso que estas questões rasgam largas avenidas para a discussão do
369 Cf. Georg Simmel, 1987 [1902]. 370 Cf. Robert Ezra Park, 1987 [1916]. 371 Cf. Robert Nisbet, 1979 (1976:69-104).
397
urbano, não apenas por parte dos urbanistas e responsáveis pelo planeamento, mas
também por antropólogos urbanos e outras formações, não esquecendo o papel
fundamental da população e seus representantes nestes processos.
Outra questão de contextualização, que nos pareceu problemática, consistiu na
utilização do conceito de bairro (Cordeiro, 1997:39 e Costa, 1999:16)372 para referir o
território a que os líderes locais de um segmento da população deram o nome de Estrela
d’África. Sabemos que esta noção é utilizada na linguagem corrente e corresponde a
uma representação socio-espacial. Contudo, podemos questionar a sua existência,
sobretudo, se tivermos a preocupação de delimitar e identificar os contornos, em termos
administrativos, no mapa da cidade. Neste sentido, o bairro Estrela d’África e similares
não existem. O que não há dúvida é que, para os residentes no espaço com aquela
designação, o conjunto de ruas, de becos e o largo configuram um bairro, pelo que, pelo
menos ao nível do valor simbólico para essas populações, estamos perante a presença
inequívoca de um bairro. Atendendo ao facto de existirem, dentro do bairro, vários
espaços com valores simbólicos distintos, pensamos estar perante o que podíamos
designar por microáreas de vizinhança (Alvito, 1998, Magnani, 1998) ou, então, por
núcleos, adoptando, desde logo, o discurso técnico-político das autoridades locais. Neste
caso, estaríamos, concerteza, a desvalorizar o património social e cultural desenvolvido,
ao longo de décadas, pelos residentes, num permanente reajustamento de identidades
múltiplas que confrontam o modelo bipolar moralista (Gulick, 1989:8-9)373 a que
estamos habituado,s na análise de contextos urbanos. Mais do que uma unidade
administrativa374, o bairro, como escala de organização socio-espacial, permitiu-nos
chegar perto de pequenas unidades de vizinhança e de sociabilidade, densamente 372 Sobre os problemas de delimitação socio-espacial ,ver obras de Graça Índias Cordeiro, 1997, e António Firmino da Costa, 1999. 373 Cf. Ob. Cit. Este modelo assenta num visão dicotómica e de oposição entre o rural (comunidade, natural, tribal, moral, escala humana, pessoal, integrado, sagrado, primitivo, simples, estável, homogéneo) e o urbano (não comunitário, sofisticado, sociedade de massas, corrupto, desumanizado, anónimo, anómico, secular, civilizado, sofisticado, mutável, heterogéneo) p. 9 374 Só as freguesias é que têm este estatuto. O bairro não é uma realidade configurada na lei como unidade territorial urbana, com uma estrutura administrativa pré-definida; segundo Firmino da Costa, os bairros, como unidades administrativas, acabaram em 1833, com a Revolução Liberal, na qual se fez uma reforma administrativa, ficando os bairros fiscais; segundo este autor, hoje em dia, a terminologia associada ao bairro serve para classificar as relações afectivas e sociais, os repertórios simbólicos, os múltiplos investimentos relacionais, a construção socio-cultural, tudo isto definidor de identidades sobrepostas, assentes em enraizamentos selectivos, auto-imagens que, por sua vez, têm efeitos de estruturação da interacção social e cultural.
398
produzidas neste contexto e das quais emergem formas sociais, algumas das quais foram
delimitadas ao longo deste trabalho. Tentámos perceber até que ponto poderíamos
nomear um contexto com esta configuração como uma sociedade de bairro (Costa,
1999:492)375. Esta parecia ter a vantagem de não estigmatizar, guetizando as populações
residentes que produzem um quadro social de tipo específico, no qual se sobrepõem,
num entrelaçado espesso, múltiplas dimensões de relacionamento humano, onde se
geram estilos de conduta característicos e formas simbólicas singulares...uma identidade
cultural muito vincada, reportada pela população ao bairro, como entidade colectiva
preeminente e como círculo particularmente relevante de pertença pessoal e grupal
(Costa, 1999:493). Com este argumento, punha-se em causa as ideias redutoras, mas que
fizeram um longo e importante percurso na literatura sobre o urbano, de que, na cidade,
as redes sociais, os quadros de interacção locais e as formas simbólicas teriam
desaparecido sob a onda arrasadora de laços especializados, descontextualizados e de
estilos efémeros (Costa, idem). Em todo o caso, o nome Estrela d’África parecia ser
válido apenas para um segmento da população, isto é, para os imigrantes africanos e
seus descendentes376, deixando de fora outros segmentos da população, nomeadamente,
os migrantes internos e os ciganos, que atribuíam ao local de residência apenas o nome
da rua onde viviam (D. Maria ou Estrada Militar ou, ainda, Rua do Apeadeiro) não
nomeando, por conseguinte, a origem africana de uma parte significativa do território.
Este, dividido em pequenas áreas segundo a origem dos habitantes, parecia aproximar-
nos do conceito de pedaço, desenvolvido por Magnani (1998) e amplamente aplicado ao
caso das favelas cariocas, e que consiste naquele “espaço intermediário entre o privado
(a casa) e o público, onde se desenvolve uma sociabilidade básica, mais ampla que a
fundada em laços familiares, porém, mais densa, significativa e estável que as relações
formais e individualizadas impostas pela sociedade” (Magnani,1998:116)377. Segundo
este autor, as microáreas de vizinhança integravam estes lugares que servem de suporte
para as representações àcerca das diferenças existentes no interior de uma favela; quanto
375 Este autor inspirou-se nas obras de William Foote Whyte, 1981 [1943], e Norbert Elias, 1987 [1969]. 376 Na escola, muitas crianças que residem nestes bairros não se identificam como vivendo neles, mas nomeiam, igualmente, a rua envolvente ou a zona onde este está implantado. Muitas vezes, são os próprios pais que as aconselham a fazê-lo para não serem marginalizadas pelos colegas e professores. 377 Ver, igualmente, Marcos Alvito (1998:181-208).
399
mais dentro, mais baixo, mais desvalorizado, isto é, mais distante da sociedade
abrangente; no conjunto e marcadas por círculos concêntricos de laços identitários e de
solidariedade, estas pequenas áreas estavam em oposição a outras localidades.
Como referimos na introdução deste trabalho, e segundo Leeds, cada localidade
tem uma característica fundamental: constituem pontos nodais de interacção, onde há
uma ordem relacional criada a partir de uma rede altamente complexa de diversos tipos
de relações (1978:31), cuja textura é determinada pelos laços de parentesco, amizades,
parentela ritual e vizinhança. Este autor desenvolveu um modelo para tratar dos
conceitos de comunidade, enquanto unidade social, e de localidade, enquanto unidade
geográfica, num único quadro de referência e como uma totalidade única, sistémica
(1978:26-27). Deste modo, o conceito de localidade tentou substituir o problemático
conceito de comunidade e respectivos estudos de comunidade, que transportavam
métodos utilizados no estudo das tribos para outras realidades bem distintas. Este termo
era também fonte de confusão porque, em vários estudos, se opunha a sociedade (Eames
e Goode, 1977:11)378.
Assim, outra forma de conceber o lugar antropológico (Augé, 1994) foi,
justamente, através das redes que permeiam as instituições e que acabam por estruturar
as relações quotidianas das populações. Numa obra clássica, mas que mantém toda a
actualidade, Clyde Mitchel (1980:69) identifica três tipos de relações sociais em
contextos urbanos: as relações estruturais, categoriais e pessoais. Debruçámo-nos sobre
as relações categoriais que se desenvolvem a partir de contactos quotidianos superficiais
e que se baseiam em estereótipos, isto é, em classificações decorrentes de características
como a cor da pele, a linguagem, o tipo de vestuário, as quais moldam comportamentos
mútuos, em função dessa categorização; mas o presente trabalho alicerçou a sua análise
nas relações do tipo pessoal, as quais são ‘constituídas pela rede de laços pessoais que
cada indivíduo constrói em seu redor’ (Mitchell, 1980:71). Num universo denso e
heterogéneo, que designamos por bairro, prevalecem as redes desenvolvidas a partir das
relações familiares379, como exemplificamos com o caso dos Pina e dos Lameiras e de
vizinhança mas, também, redes de amizade em torno das sociabilidades, como o caso do
378 Cf. E. Eames e J. Goode, 1997. 379 Sobre redes familiares, ver texto de Mieko Miyaji, 1993.
400
grupo de jovens Estrelas Cabo-verdianas. Nestes dois casos, as redes estão
microterritorializadas, isto é, ancoradas a um espaço da cidade, ao qual estão apegados.
Que melhor exemplo poderíamos dar que a expressão de um jovem Pina, que nos dizia,
ao referir-se à Rua dos Solteiros380: aqui, os (jovens) de cima jogavam contra os
(jovens) de baixo porque esta rua separa os sampadjudos dos badios. Estas redes são
localizáveis no espaço do bairro e, desde logo, formam pequenos mundos com
significações que configuram as identidades locais.
Como vimos pelo estudo das sociabilidades dos jovens, estas informam-nos sobre
as “culturas que estão na base do apego aos lugares urbanos” (Agier, 1998:44-45) e
sobre os “laços sociais que fundam esse sentimento de apego ao lugar, como se constrói
essa identificação social com pequenos mundos relacionais que povoam o bairro e lhe
conferem sentido, mesmo para aqueles que, em situação de mobilidade social, puderam
deixar o bairro” (Agier, 1998:46)381. Porém, estas redes e sociabilidades não se
confinam aos limites do bairro, já que, paradoxalmente, para se afirmarem, tanto num
caso como no outro, elas alargam-se a outros contextos intra e inter urbanos, apontando,
deste modo, para uma desterritorialização que faz parte destes mecanismos de
inclusividade e exclusividade na produção das identidades urbanas. As visitas
permanentes a familiares, ou as sociabilidades dos jovens com pessoas residentes fora
do bairro e da cidade da Amadora, são disso mesmo exemplo. O que queremos enfatizar
é que, apesar dos laços de parentesco, de vizinhança e de amizade serem muito activos
no interior do bairro, eles estão ligados a outros territórios, o que lhes confere uma
amplitude que extravasa os nichos de solidariedade intra-bairro. Esta constatação no
terreno transformou-se num contributo para refutar a ideia de tendência da população
para formar um gueto.
A perspectiva que temos estado a desenvolver, procurando, simultaneamente,
entender o bairro e os jovens que são objecto da presente pesquisa, conduz-nos a uma
importante interpretação destes fenómenos, desenvolvida por Hobsbawm (1983), a qual
parece ser pertinente no actual contexto.
380 O nome de Rua dos Solteiros foi atribuído pelos residentes para designar uma viela, comprimida entre os muros das empresas e as construções do bairro, habitada por rapazes solteiros, que separa a zona dos sampadjudos da dos badios. 381 Cf. Michel Agier, 1998.
401
Com efeito, Hobsbawm (1983:9 in Nagel 1994:163) defende que a construção e
reconstrução de rituais, de crenças, costumes e outros componentes culturais é um
trabalho simbólico de invenção da tradição, que serve três propósitos:
a) para estabelecer ou simbolizar a coesão social ou de pertença ao grupo;
b) para estabelecer ou legitimar instituições, o status e relações de poder;
c) para socializar ou inculcar crenças, valores ou comportamentos.
De facto, assim acontece com os habitantes do bairro. No caso dos
caboverdeanos, por exemplo, quando nasce uma criança, ou quando chega a hora do
crisma, todos os parentes e muitos patrícios juntam-se e partilham rituais antigos,
sempre renovados, em que cada um desempenha um papel determinado. Anthony Cohen
refere que “ao construir cultura, o passado é um recurso usado pelos grupos na busca
colectiva de significado e comunidade” (2000:99). Deste modo, num determinado
momento importante na vida de um membro ou de uma família residente, um sector da
população forma uma comunidade em torno deste objectivo, construindo uma cultura
baseada no idioma da solidariedade e da reciprocidade. Este autor refere que “ao
procurar compreender o fenómeno da comunidade, temos de olhar para as relações
sociais que a constituem, como repositórios de significado para os seus membros, e não
como um conjunto de ligações mecânicas” (Cohen, 2000:98). Neste caso concreto,
cabo-verdianos, guineenses, angolanos, migrantes internos formam grupos
espacialmente distribuídos com tensões subliminares, mas quando se trata de defender
os seus interesses comuns, por exemplo, relativamente ao despejo colectivo que pesa
sob parte do bairro, ou ao eventual processo de realojamento levado a cabo pela
autarquia local, podem, em determinados momentos, construir uma pan-etnicidade
(Spiritu, 1992) instrumental que os une em torno da defesa dos interesses comuns. Neste
contexto, como resposta às adversidades externas e apesar da diversidade social,
económica e cultural, as populações residentes criam um quadro de interacção local
(Costa e Cordeiro, in Velho,1999:68) que favorece o surgimento de uma comunidade
solidária (Nagel,1994), edificada pelos diferentes subgrupos étnico-culturais, fora da
história real de cada grupo, envolvendo a construção e reconstrução cultural em torno
de interesses e significados partilhados. Na realidade, o bairro, como localidade, não
constitui uma comunidade homogénea mas, antes, um lugar onde se forjam pontos
402
nodais de interacção social( Leeds,1973:31), que asseguram o seu funcionamento; o
bairro comunidade emerge de uma identidade local, de um sentimento de pertença ao
local que cria um sentido comunitário contruído na relação próxima, face a face, entre
pessoas e grupos com problemas e interesses comuns. O bairro Estrela d’África parece
sugerir o desenvolvimento desta dimensão, que tem contribuído, justamente, para a
coexistência e a coesão das populações residentes.
Como vimos ao longo do trabalho, particularmente na segunda e terceira partes,
nestes meios com um habitat informal, a proximidade residencial traduz-se num sistema
de interacção peculiar. As crianças e os jovens são criados num ambiente de fortes
sociabilidades de vizinhança (Bidard, 1997:173) o que, à partida, parece uma grande
vantagem nos processos de sociabilização. Paradoxalmente, as relações intensas,
reforçadas pela entre-ajuda, a reciprocidade, são a outra face do estigma que paira sobre
estes contextos, como se estes valores conservassem os grupos num estádio de fósseis
societais (Ross, 1982:440). Contudo, estes atributos podem não funcionar no caso dos
adolescentes e jovens, que preferem, muitas vezes, manifestar distanciamento, ou a sua
revolta, assumindo um papel de predadores de presas fáceis, que povoam a cidade.
Neste caso, se, por um lado, se transformam em heróis entre iguais, entram, por outro
lado, para a galeria dos marginais que os media e o discurso político se encarregaram de
responsabilizar pela insegurança urbana. Sem querer alimentar um quadro idílico destes
contextos, o que seria um erro e uma desfocagem do real, o que queremos enfatizar é
que esta retórica reificadora encobre uma realidade mais profunda. Com efeito, a
globalização cultural, que também chega a estes recantos da cidade, passa a estruturar as
relações, no tempo e no espaço, de forma que já não é a família, nem a escola, o
trabalho ou o meio de residência que modelam o perfil do jovem. Acresce, ainda, a
precaridade e a exclusão da corrente principal económica e política, que impedem os
jovens de participar na construção dos seus projectos de vida, o que lhes confere um
estatuto zero (Chisholm, 2000:24)382. Se acrescentarmos a este roubo da identidade
pessoal, perpetrado pela sociedade, a frustração dos jovens que acalentam aspirações
irrealistas e, por conseguinte, irrealizáveis, podemos imaginar como é difícil segurar a
barra e manter o equilíbrio tão instável que os contextos, onde vivem, oferecem. Se
382 Sobre esta questão, ver artigo de Lynne Chisholm (2000:11-26).
403
encontrei jovens do grupo, que sonhavam ser bons cozinheiros, técnicos de automóveis,
informáticos, havia os que desejavam ser actores, pilotos, modelos ou hospedeiras de
bordo. Contudo, o desânimo na escola e as dificuldades de acesso a um emprego que
não seja a construção civil ou as limpezas, aumentam o risco de se verem relegados para
o esquecimento social e para a inactividade que, mesmo sendo uma espécie de folga
intergeracional (Pais, 1996:323), pode resultar numa moratória conflitual e de grandes
tensões, face à sociedade envolvente, enfim, numa dessocialização dos jovens. Neste
quadro, as solidariedades informais, os mundos relacionais urbanos dos jovens
desempenham um papel fulcral na construção da identidade individual e,
simultaneamente, têm significações que nos informam sobre as identidades urbanas. São
mundos que, através de novos mitos, heróis, moda, música, estilos de vida e de
sociabilidade, ditam a autossocialização, os modelos de actividade e as formas culturais
do jovem. Como refere Pujadas, ao referir-se aos processos de socialização, “numa
sociedade urbana contemporânea existe uma multiplicidade de contextos de interacção
muito diferenciados, em função da especialização de funções, papéis e classes sociais.
Por isso, não é de estranhar que, não obstante existirem normativamente valores e
padrões de comportamento gerais para o conjunto da sociedade, estes não colocam para
cada sujeito e grupo primário particular, um significado unívoco. O que é unívoco é o
poder político-judicial-legislativo que interpreta e aplica estes princípios básicos,
estabelecendo uma tipificação das condutas desviadas, com o que a dialéctica dos
pequenos grupos interactivos (com seus valores e atitudes particulares) tende a ser
integrada no grande colectivo societário, numa relação hierárquica e desigual” (Pujadas,
1993:55-56). É, justamente, nas organizações e redes informais, que o jovem goza de
uma relativa autonomia e deixa de estar sob a alçada directa das restrições das relações
parentais e o seu status não está marcado pela posição socio-económica383. As relações
hierárquicas e verticais e desiguais dão lugar ao sentimento, à amizade que se sustenta
na ‘base de certos ideais partilhados: a lealdade, a confiança e a reciprocidade (Cucó i
Giner, 1996:169)384. Paradoxalmente, os grupos informais de jovens aproximam-se,
deste modo, dos valores da geração dos progenitores, só que, desta feita, são eles quem
383 Sobre estes aspectos, ver as obras de Olivier Galland, 1996. 384 Cf. Josefa Cucó i Giner (1996:167-172).
404
dita as regras do jogo. Como vimos, é no domínio do lazer que as culturas juvenis
adquirem maior visibilidade e valor simbólico, não tanto pelos contornos que acabamos
de referir, mas pelo grau de periferia que supostamente apresentam em relação ao
sistema normativo da sociedade. Como refere Machado de Pais (1996:133), há uma
tendência “que toma as práticas juvenis como normativamente marginais em relação à
cultura dominante, que seria específica das gerações mais velhas...”. Esta perspectiva é
controversa pelos “vícios do etnocentrismo de adulto”, do adultocentrismo a ela
associados e que levam a encarar as culturas juvenis como disfuncionais, passivas,
marginais e, enfim, anómicas385. Como pudemos verificar pela análise das práticas de
sociabilidade do grupo Estrelas Cabo-verdianas, os jovens incorporam nas suas
expressões culturais as suas próprias normas, agindo e sancionando, de acordo com
estas. O efeito destas normas pode transpor-se para as práticas quotidianas que têm de
ser contextualizadas para fazerem sentido no quadro da produção simbólica e, por
conseguinte, da construção das identidades. O mesmo autor afirma que, “a diferentes
grupos sociais de jovens, correspondem diferentes práticas e culturais juvenis... a ideia
da juventude como uma diversidade de situações sociais” (Pais, 1996:135), sendo que
há uma constelação de factores que interferem na construção das identidades individuais
e sociais dos jovens. Estamos de acordo com Carles Feixa, quando afirma que, a partir
da “singularidade das histórias de vida dos jovens, podem descobrir-se condições sociais
gerais. Se algo nos ensina as histórias, é que a subalternidade não implica,
necessariamente, submissão e a marginalização não implica, necessariamente,
marginalidade. As culturas juvenis são, sem dúvida, uma solução simbólica e portanto,
ilusória, mas nem por isso o seu papel é menos importante, já que servem para conferir
aos jovens identidade social na difícil transição do campo para a cidade, da infância à
vida adulta, da periferia para o centro, do local para o universal. Graças a elas, os jovens
podem negociar colectivamente a sua existência e converter um estigma de
marginalização num emblema de identidade” (1999:181).
Esta ideia sintetiza todas as preocupações que perpassam este trabalho no que diz
respeito aos jovens da cidade da Amadora e do bairro Estrela d’África, em particular.
385 Cf. obra de José Machado Pais, 1996, Culturas Juvenis, Lisboa: Imprensa Nacional/Casa da Moeda; nomos significa conjunto de normas e anómicas significa sem normas
405
Em suma, podemos dizer que uma das questões que nos parece clara é que as
populações urbanas caracterizam-se por uma heterogeneidade étnica e regional, sendo
esta um dos determinantes externos do contexto urbano (Mitchell,1987). Por
conseguinte, mais do que estudar um segmento da realidade social e tratá-lo “como uma
unidade autónoma (por exemplo, uma minoria étnica) é necessário perceber os
mecanismos que criam e mantêm as fronteiras dessa comunidade em relação ao
conjunto da cidade e o impacto que esta e a sociedade mais abrangente tem nessa
comunidade” (Leeds:1994:234). A complexidade da interrelação entre os subsistemas
não permite um tratamento atomizado das diferentes variáveis (parentesco, associações,
habitação, etc.) que estão em jogo no vasto tabuleiro que é a cidade. Separar os
elementos e isolá-los do conjunto, pode levar a um entendimento falacioso da realidade
socio-cultural das populações, no caso concreto, migrantes, criando mitos em torno do
seus estilos de vida, supostamente pré-formatados de acordo com as suas culturas (é o
caso da cultura da pobreza), em vez de os incluir na totalidade do processo social. Nos
diferentes contextos, com particular relevância no tipo estudado, é fundamental
relacionar ‘as características macro-sociais com as características micro-sociais dos
contextos sociais imediatos, nos quais os indivíduos, famílias e grupos vivem.
Condições “económicas particulares, procedimentos e políticas estatais, dimensão e
dispersão/concentração dos grupos pelos estados e regiões afectam os modos de
adaptação, porque aumentam ou diminuem a categorização social e a saliência das
fronteiras do grupo e aumentam ou diminuem as oportunidades para o contacto
intragrupo e intergrupo, a comunicação, competição, cooperação e comparação social”
(Hurtado, Gurin, Peng, 1994:130)386.
Ao estudarmos o bairro Estrela d’África, partimos de uma ideia clara de que este
não é um enclave social, com as suas próprias características internas: culturalmente
fechado ao exterior, auto-suficiente, onde residem estranhos à cidade, na maioria,
migrantes rurais. A realidade empírica permitiu-nos perceber que, pelo contrário, há
uma relação forte com a cidade, que é delimitada por fronteiras, cuja plasticidade
permite operacionalizar um conjunto de estratégias de adaptação à cidade. Estas vão-se
moldando, de acordo com as oportunidades criadas pela sociedade mais vasta, isto é, a
386 Cf. Aida Hurtado, Patrícia Hurin, Timothy Peng, 1994.
406
estrutura de emprego e o mercado de trabalho, a formação profissional, as políticas de
habitação, o sistema de protecção social. Com efeito, é importante sublinhar que, dentro
do sistema social, encontramos diferentes estratégias adoptadas pelos indivíduos e
grupos nos seus processos de adaptação ao espaço urbano, que contribuem para a
negociação e definição das fronteiras sociais e culturais entre grupos. Estes recorrem a
um kit cultural seleccionando e manipulando componentes, de molde a estruturar as suas
manifestações culturais e as representações sociais. Como sugere Joane Nagel (1994),
neste processo de construção de fronteiras e de produção de significados, importa
compreender em que medida a identidade étnica é o resultado de processos internos e
em que medida a etnicidade é definida e motivada externamente. A cultura, para além
do legado histórico, é construída do mesmo modo que as fronteiras étnicas são
edificadas pela acção dos indivíduos e dos grupos e pela interacção destes com a
sociedade mais lata.
Como referimos anteriormente, as relações sociais no bairro são
predominantemente do tipo face a face e pessoais, o que nos pode sugerir uma forte
presença de atributos de ruralidade, nos moradores do bairro. O facto é que muitos dos
residentes têm, de facto, uma relação com os meios rurais de origem, mas a maioria tem
uma forte influência do meio urbano, ou porque nasceram noutro país e vieram viver
para a cidade, há décadas, ou porque aqui nasceram, como é o caso dos mais novos. Este
tipo de relações favorece uma maior partilha dos recursos disponíveis, uma entreajuda e
solidariedade permanente entre os residentes, que contribuiram para minimizar os
efeitos dos constrangimentos impostos pela sociedade.
Os jovens, apesar de crescerem neste contexto, experimentam um processo de
individualização, que passa pela construção de projectos de vida assentes numa
multiplicidade de motivações que, se encontrarem condições favoráveis para a
concretização, poderão contribuir para a transformação do mapa social das sociedades
urbanas com o perfil do Estrela d’África. Constroem as suas identidades pessoais e de
grupo e utilizam-nas como mediadores nos processos de diálogo com diferentes
segmentos da sociedade. Através de uma coreografia da amizade, eles protagonizam
novos modelos de identificação colectiva, marcados pela aventura de novas marcas,
idiomas, ritos que, embora de expressividade efémera, definem uma singularidade
407
produzida através de objectos, cosméticas, expressões, sensibilidades e modos de viver
os afectos, que configuram uma estética particular. Neste aspecto, estão vulneráveis,
como todos os adolescentes e jovens, às consequências do processo de globalização que
perpassa as sociedades contemporâneas.
No final deste trabalho, fica-nos a certeza de que o bairro e, em particular, os
jovens representam uma face sensível da cidade, que, se revela um caminho fascinante
para os antropólogos urbanos.
408
Bibliografia
Abou, Sélim, 1981, L'Identité Culturelle. Relations interethniques et problèmes d'acculturation,
Paris: Éditions Anthropos. Abramo, Helena, 1994, Cenas Juvenis, São Paulo: Scritta. Agier, Michel, 1996, «Les savoirs urbains de l'anthropologie» in Enquête, nº4, pp. 35 - 58. Agier, Michel, 1997, «Anthropologues en dangers. L’engagement sur le terrain» in Les Cahiers
de GradHiva, nº30. Agier, Michel, 1998, «Lugares e redes. As mediações da cultura urbana» in Niemeyer, Ana Maria
e Godoi, Emília de (org.), Além dos Territórios. Para um diálogo entre a Etnologia Indígena, os estudos rurais e os estudos urbanos, Rio de Janeiro: Mercado IFTDAS.
Agier, Michel, 1999, L'invention de la ville. Banlieues, towships, invasions et favelas, Paris:
Éditions de l'Aube. Albuquerque, Rosana, Ferreira, Lígia Évora, Viegas, Telma, 2000, O Fenómeno Associativo em
Contexto Migratório. Duas Décadas de Associativismo de Imigrantes em Portugal, Oeiras: Celta Editora.
Allan, G., 1989, Friendship, Boulder: Westview Press. Almeida, João Ferreira, 1990, «Portugal. Os próximos 20 anos.» in Valores e Representações
Sociais, VIII Vol., Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. Almeida, João Ferreira, Capucha, Luís Antunes, Costa, António Firmino et alli, 1992, Exclusão
Social. Factores e Tipos de Pobreza em Portugal, Oeiras: Celta Editora. Alvarez, Reguillo, L. y otros 1982, Plazas et sociabilité en Europe et Amerique Latine, Paris:
Boccard. Alvito, Marcos, 1998, «Um-bicho-de-sete-cabeças» in Zaluar, Alba e Alvito, M. (org.), Um
século de favela, Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, pp. 181-208. Amit-Talai, Vered and Wulff, Helena (ed.), 1995, Youth cultures, a cross-cultural perspective,
New York and London: Routledge. Antunes, Marina 1991, Etnicidade Urbana e Marginalização. Um olhar sobre a comunidade
409
cabo-verdiana na Amadora, Tese de Licenciatura, Lisboa:FCSH-Universidade Nova de Lisboa .
Antunes, Marina, 1994, «Relações Inter-étnicas. O Projecto das Minorias Étnicas da Autoridade
Local da Amadora – uma experência em aberto» in Relatório do Seminário da Elaine sobre Acções de Combate ao Racismo pelas Autoridades Locais, Barcelona, pp. 51-54.
Antunes, Marina, 1996, «O Município da Amadora e o Desafio Intercultural» in Notícias da
Amadora, nº 1261 de 11 de Julho. Antunes, Marina, 1997, «O Desenvolvimento Local e as Comunidades Étnicas e de Imigrantes»
in Revista Poder Local , nº 130, Abril/Julho, pp. 87-92. Antunes, Marina, 1998, «Contributo para a reflexão sobre as Questões da Segurança Humana» in
Dossier Anti Racista, nº 2, pp. 27-30. Antunes, Marina, 1999, «A Integração Social de Jovens em Meio Urbano – o contributo do Programa Urban da Amadora » in Actas do Seminário “El Medio Urbano como Marco
de Inserción Sócio-laboral”, Córdoba, pp. 63-70. Antunes, Marina, 2001, «Bairros e contextos locais. Estrela d'África, um bairro de fronteiras?» in
Pinheiro, M., Baptista, L., Vaz, M.J. (org.), Cidade e Metrópole. Centralidades e Marginalidades Oeiras:Celta Editora, pp. 219-228.
Antunes, Marina, 2001, «Nha grupu e nha alma (o grupo é a minha alma): amizade e pertença
entre jovens do bairro Estrela d’África» in Cidade e Diversidade: Etnografias Urbanas em Diálogo (no prelo).
Arcas, Manuel Moreno, 1975, «Ferdinand Tönnies: el conflicto entre comunidad y sociedade» in
Ethnica, nº10, pp. 87-98. Ariés, Phillipe, 1978, «La famille et la ville» in Esprit, vol.2, nº1, pp.2-12. Aschenbrenner, Joyce and Collins, Lloyd (eds), 1978, Processes of Urbanism, The Hague:
Mouton Publishers. Augé, Marc (dir.), 1978 (1975), Os Domínios do Parentesco, Lisboa: Edições 70. Augé, Marc, 1994, Le sens des autres. Actualité de l'anthropologie, Paris: Fayard. Augé, Marc, 1994, Não-Lugares, Introdução a uma antropologia da sobremodernidade,
Amadora: Bertrand Editora. Aymard, M., 1986, «Amitié et convivialité» in Ariés, P. et Duby, G. (eds.), Histoire de la vie
privée Tome 3, Paris: Seuil. Banks, Marcus, 1997 (1996), Ethnicity: Anthropological Constructions, London and New York:
Routledge. Banton, Michael, 1968 (1965), The Relevance of Models for Social Anthropology, Tavistock
410
Publications. Baptista, António J. Mendes e Martinho, Maria Albina (dir.), 1996, Programas Urban e
Reabilitação Urbana. Revitalização de Áreas Urbanas em Crise, Lisboa: Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional (DGDR).
Baron, S., 1989, «The Resistence and Its Consequences:The Street Culture of Punks» in Youth
and Society, nº 21, nº2, pp.207-237. Barth, Fredrik (comp.), 1976 (1969), Los Grupos Étnicos y sus Fronteras. La organización social de las diferencias culturales, México: Fondo de Cultura Economica (FCE). Barthes, Roland, 1981 (1967), O Sistema da Moda, Lisboa: Edições 70. Base de Dados do Gabinete do Programa Especial de Realojamento (GPER) da Câmara
Municipal da Amadora, 1994. Base de Dados do Sistema de Informação Geográfica (SIG) do Departamento de Administração
Urbanística (DAU) da Câmara Municipal da Amadora, 1997. Bates, Daniel G., 1994, «Minorities, Identity and Politics in Bulgaria» in Identities. Global
Studies in Culture and Power, Vol.1, nºs 2-3, pp. 201-221. Baumann, Gerd, 1998 (1996), Contesting Culture Discourses of Identity in Multi-ethnic London,
Cambridge: Cambridge University Press. Baumann, Gerd, 2001 (1999), El enigma multicultural, Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica,
S.A.. Baumann, Zygmunt, 1992, Intimations of Postmodernity, London: Routledge. Becker, Howard, 1970, Los extrãnos.Sociologia da la desviación, Buenos Aires: Amarrortu. Begag, Azouz, 1995, Espace et Exclusion. Mobilités dans les quartiers périphériques d' Avignon,
Paris: L'Harmattan. Benevolo, Leonardo, 1997, O Último Capítulo da Arquitectura Moderna, Lisboa: Edições 70. Benocet, Guilboté O., 1979, «Vers une analyse stratégique de la sociabilité» in Archives de
l'OCS, nº3, pp. 7-21. Berger, Peter I. e Luckmann, Thomas, 1973 (1966), A Construção Social da Realidade,
Petrópolis: Vozes. Bidart, Claire, 1997, L'amitié, un lien social, Paris: Éditions La Découverte. Bloom, A., 1996, L'Amour et l'Amitié, Paris: Éditions de Fallois. Bott, Elizabeth, 1971 (1957), Family and Social Network Roles, Norms and External
Relationship in Ordinary Urban Families, New York: Free Press.
411
Bourdieu, Pierre, 1984, La 'jeunesse' n'est qu'un mot. Questions de sociologie, Paris: Editions du
Minuit. Bourdieu, Pierre, 1993, La Misére du Monde, Paris: Éditions du Seuil. Bourdieu, Pierre, 1994 (1989), O Poder Simbólico, Lisboa: DIFEL. Bourdieu, Pierre, 1999, «Délits d'Immigration» in Actes de la Recherche en Sciences Sociales, nº
129. Brake, Edward, 1983, Comparative Youth Culture, London: Routledge. Brown, Phillips, 1987, Schooling Ordinary Kids: Class Culture and Unemployment, London:
Tavistock Publications. Buckland, Theresa J., 2001 (1999), «Dance in the Field: Theory, Methods and Issues» in Dance
Ethnography, New York: St.Martin's Press, Inc.. Buecher, Hans, 1975, «Ciclos de fiestas y sistemas de comunicación rural-urbana en altiplano
boliviano» in Hardoy, Jorge E. E Richard P. Schaedel (comp), Las Ciudades de America Latina y sus areas de influencia a través de la historia. Lima: SIAP
Burgess, Robert G., 1997 (1984), A Pesquisa de Terreno. Uma Introdução, Oeiras: Celta Editora. Burke, Peter, 1992, O Mundo como Teatro: Estudos de Antropologia Histórica, Lisboa: DIFEL. Buss, Franleeper, 1985, Dignity: Lower income women tell of their lives and struggles, Ann Arbor: University of Michigan Press. Cabral, João de Pina, 1991, Os Contextos da Antropologia, Lisboa: DIFEL. Cabral, João de Pina, 2000, «A difusão do limiar: margens, hegemonias e contradições» in
Análise Social, nº153, Vol.XXXIV, pp.865-892. Cabral, Manuel Villaverde e Pais, José‚ Machado (coord.), 1998, Jovens Portugueses de Hoje.
Resultados do inquérito de 1997, SEJ - Estudos sobre Juventude, nº 1, Oeiras: Celta Editora.
Cachada, Firmino (coord.), 1995, Imigração e Associação, Lisboa:Cadernos CEPAC/1. Cachada, Firmino (coord.), 1995, Os Números da Imigração Africana, Lisboa:Cadernos
CEPAC/2 Cachin, O, 1996, L'offensive rap, Paris: Gallimard-Découvertes. Callixto, Vasco, 1987, Páginas da História da Amadora, Amadora: Câmara Municipal da
Amadora. Calvo, Tomás, 1995, Crece el racismo, también la solidariedad. Las actividades de jóvenes ante
412
otros pueblos y cultura, Madrid: Tecnos. Camilleri, Carmel, 1996, «Stimagtisation et stratégies identitaires» in Haumont, N. (éd.) La Ville:
agrégration et ségrégation sociales, Paris: L´Harmattan, pp.85-92 Campbell, Anne, 1984, The Girls in the Gang. A Report from New York City, New York: Basil
Blackward. Camps, Victoria, 1996 (1993), Paradoxos do Individualismo, Lisboa: Relógio d'Água. Cardoso, Ana, 1993, A Outra Face da Cidade. Pobreza em Bairros Degradados de Lisboa,
Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa. Cardoso, Ruth (org.), 1997 (1986), A Aventura Antropológica. Teoria e Pesquisa, São Paulo: Paz
e Terra. Caro, Baroja J., 1966, «La ciudad y el campo o una discusion sobre viejos lugares comunes» in
La ciudad y el campo, Alfaguara, pp.11-36. Carreira, António, 1984 (1977), Cabo Verde (Aspectos Sociais. Secas e fomes do século XX),
Biblioteca Ulmeiro, nº 9, Lisboa: Ulmeiro. Carrión, Fernando y Wollrad, Dorte (comp.),1999, La Ciudad, Escenario de Comunicación,
Quito-Ecuador: FLACSO. Casal, Adolfo Yáñez, 1996, Para uma Epistemologia do Discurso e da Prática Antropológica,
Lisboa: Edições Cosmos. Casal, Adolfo Yáñez, 1997, «Suportes teóricos e epistemológicos do método biográfico» in
Ethnologia, nº 6-8, pp. 87-104. Cecchetto, Fátima, 1996, Galeras funk cariocas: entre o lúdico e o violento, Rio de Janeiro:
Instituto Medicina Social, UERJ. Centro Regional de Segurança Social de Lisboa – DSOIP, 1991, Relatório de Avaliação Final do
Projecto Amadora, Amadora : Fundação Bernard Van Leer. Chaves, Luís, 1999, Da Gandaia ao Narcotráfico, Lisboa: ICS Cheema, Gsabbir, 1985, Researching the urban poor: project implementation in developing
countries, Boulder: Westview Press. Chenoune, F., Poirier, J.F., 1993, Rap et Tags: l'esthétique des banlieues sur la place publique,
Paris: Encyclopédie Universalis. Chesnais, Jean Claude, 1981, Histoire de la Violence, Paris: Pluriel. Chisholm, Lynne, 2000, «Joventut i globalizació: una entesa conjunta, una actuació conjunta» in
Feixa, Carles i Saura, Joan R. (eds.), Joves entre mons – Moviments juvenils a Europa i a Amèrica Llatina, Lleida : Universitat de Lleida.
413
Cicéron, 1995, L'Amitié, Paris: Éditions Mille et une Nuits. Clarke, Austin, 1992, Public Enimies: Police Violence and Black Youth, Toronto: Harper Collins. Coelho, Adolfo, 1995 (1892), Os Ciganos em Portugal. Com um estudo sobre o calão, Lisboa:
D. Quixote. Coelho, António dos Santos, 1982, Subsídios para a História da Amadora, Amadora: Câmara
Municipal da Amadora. Coelho, Fátima, 1996, «Síntese das principais ideias expressas e algumas reflexões» in 1º
Encontro dos Programas Urban e Reabilitação Urbana, Porto, Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional (DGDR).
Coenen-Huther, Jacques, 1988, «Relations d’amitié, mobilité‚ spatiale et mobilité sociale», in
Espaces et Sociétés‚ nº2, pp.51-65. Cohen, A. K., 1955, Delinquent Boys: The Subculture of the Gang, London: Gollier-MacMillan. Cohen, Abner (ed.), 1974, Urban Ethnicity, London: Tavistock Publications. Cohen, Anthony P. and Fukui, Katsuyosiii (eds.), 1993, Humanising the City? Social Contexts of
Urban Life at the Turn of the Millennium, Edinburgh: Edinburgh University Press. Cohen, Anthony P., 2000, (1985), The Symbolic Construction of Community, London and New
York: Routledge. Cohen, Ronald, 1978, «Ethnicity: Problem and Focus in Anthropology», in Annual Review of
Anthropology, nº7, pp. 379-403. Cohen, S., 1979, Folk Devils and Moral Panics: The Creation of Mods and Rockers, London:
McGibbon and Kee. Coleman, James S., 1961, The Adolescent Society.The Social Life of Teenager and its Impacts on
Education, New York: The Free Press. Coleman, James S. e Huséné, Torsten, 1990, Tornar-se Adulto numa Sociedade em Mutação,
Porto: Afrontamento. Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo (CCRLTV), 1998,
Caracterização Física e do Território da Região de Lisboa e Vale do Tejo, Lisboa: Ministério do Equipamento, Planeamento e Administração do Território.
Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo (CCRLVT), 2001, Plano
Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT-AML). Relatório e Estudos de Fundamentação Técnica, Lisboa: Ministério do Equipamento, Planeamento e Administração do Território.
Comissão Técnica Intermunicipal (RCTI), 1997, Relatório, Lisboa: CCRLVT.
414
Connerton, Paul, 1999 (1989), Como as Sociedades Recordam, Oeiras: Celta Editora. Constant, Denis, 1982, Aux Sources du Reggae, Roquevaire: Parentheses Contador, António Concorda, 1998, «Consciência de geração e etnicidade: da segunda geração
aos novos luso-africanos» in Sociologia. Problemas e Práticas, nº26, pp. 57-83. Copperman, Émile, 1961, La génération des bloussons noirs, Paris: Maspero. Copperman, Émile, 1967, Problémes de la Jeunesse, Paris: Maspero. Cordeiro, Graça Índias, 1997, Um Lugar na Cidade. Quotidiano, Memória e Representação no
Bairro da Bica, Lisboa: D. Quixote. Cordeiro, Graça Índias, 2001, «Trabalho e Profissões no Imaginário de uma Cidade: sobre os
“Tipos Populares” de Lisboa» in Etnográfica, Vol. V (1), pp.7-24,. Cordeiro, Graça Índias, e Costa, António Firmino, 1999, «Bairros: contexto e intersecção» in
Velho, Gilberto (org.), 1999, Antropologia Urbana. Cultura e Sociedade no Brasil e em Portugal, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, pp. 58-79.
Corrigan, P., 1979, Schooling the Smash Street Kids, London: Macmillan. Cortesão, Luiza e Pinto, Fátima (orgs.), 1995, O Povo Cigano: Cidadãos na Sombra. Processos
Explícitos e Ocultos de Exclusão, Porto: Afrontamento. Costa, Alfredo Bruto da e Pimenta, Manuel (coord.), 1991, Minorias Étnicas Pobres em Lisboa,
Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa. Costa, António Firmino da, 1985, «Espaços urbanos e espaços rurais: um xadrez em dois
tabuleiros», Lisboa: Análise Social, vol.XXI, ( 3º-4º-5º), nº 87-88-89, pp.735-756. Costa, António Firmino da, 1999, Sociedade de Bairro. Dinâmicas Sociais da Identidade
Cultural, Oeiras: Celta Editora. Costa, António Firmino da e Cordeiro, Graça Índias, 2001, «Lugares fractais no tecido social
metropolitano» in Pinheiro, M., Baptista, Luís e Vaz, Maria João (org.), Cidade e Metrópole. Centralidades e Marginalidades, Oeiras: Celta Editora, pp.215-217.
Costa, Elisa Maria Lopes da, 1996, O Povo Cigano em Portugal. Da História à Escola, Setúbal:
CIOE/ESE Setúbal. Costa, José Martins Barra da, 1999, Práticas Delinquentes: de uma criminologia do anormal a
uma antropologia da marginalidade, Lisboa: Edições Colibri. Cruces F. & Diaz de Rada, A., 1991, “El intruso en su cuidad. Lugar social del antropológo
urbano” in Malestar cultural y conflicto en la sociedad madrileña, II Jornadas de Antropologia de Madrid.
Cunha, Isabel Ferin (org.),1996, Os africanos na imprensa portuguesa:1993-1995, Lisboa:
CIDAC.
415
Custódio, Jorge (coord.), 1996, Recenseamento e Estudo Sumário do Parque Industrial da Venda
Nova, Amadora: Câmara Municipal da Amadora. Danzioer, Sheldon and Gottschalk, Peter,1986, «Work, poverty, and the working poor: a
multifaced problem» in Social Science Review, nº60, pp.34-51. Danzioer, Sheldon and Plotnick, Robert D., 1986, «Poverty and Policy: lessons of the last two
decades» in Social Science Review, nº 60, pp.34-51. Davis, Mike, 2001, Más allá de Blade Runner. Control urbano: la ecologia del miedo, Barcelona:
Virus Editorial. De Miguel, Armando, 1979, Los narcisas.El radicalismo cultural de los jóvenes, Barcelona:
Kairós. Delamont, Sara, 1995, Introduction to Social Anthropology of Western Europe, London:
Routledge. Delgado, Manuel, 1995, Cultura e paródia. Las microculturas juveniles en Cataluña, Barcelona:
Mimeo. Desmarrais, Danielle et Grell, Paul (dir.),1986, Les Récits de Vie. Théorie, Méthode et
Trajectoires Types, Montréal (Quebec): Editions Saint-Martin. Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional (DGDR), 1996, Programas Urban e Reabilitação
Urbana. Revitalização de Áreas Urbanas em Crise, Lisboa: MEPAT Dubar, C., 1991, La Socialisation, Paris: Arman Colin. Dubet, François, 1985, La galére: jeunes en survie, Paris: Fayard. Dumont, Louis, 1985 (1983), O Individualismo. Uma perspectiva antropológica da ideologia
moderna, Rio de Janeiro: Rocco. Durham, Eunice R, 1984, «Urbanização e migração» in A caminho da cidade. A vida rural e a
migração, São Paulo: Editora Perspectiva, pp.19-42. Durham, Eunice R., 1997 (1986), «A pesquisa antropológica com populações urbanas: problemas
e perspectivas» in Cardoso, Ruth (org.), A Aventura Antropológica, Rio de Janeiro: Paz e Terra, pp. 17-37.
Eames, Edwin and Goode, Judith, 1973, Urban poverty in a cross-cultural context, New York:
Free Press. Eames, Edwin and Goode, Judith, 1977, «The Culture of Poverty: A Misapplication of
Anthropology to Contemporary Issues» in Eames, Edwin and Goode, Judith, Anthropology of the City. An introduction to Urban Anthropology, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall.
416
Eames, Edwin e Goode, Judith, 1996, «Coping with Poverty. A cross-cultural view of the Poor»
in Gmelch, G. and Zenner, W., Urban Life. Readings in Urban Anthropology, Illinois: Waveland Press Inc., pp.378-392.
Eggleston, J. , 1976, Adolescence and Community, London: Arnold. Eidheim, Harald, 1976 (1969), «Cuando la identidad étnica es un estigma social», in Fredrick
Barth, Los grupos étnicos y sus fronteras, Mexico: Fondo de Cultura Economica (FCE). Eisenstadt, S.N., 1956, «Ritualized Personal Relations» in Man, vol.96, pp.90-95. Elias, Norbert, 1987 (1969), A Sociedade da Corte, Lisboa: Editorial Estampa Elias, Norbert, 1991, La société des individus, Paris: Fayard. Elias, Norbert and Scotson, J. L., 1994 (1965), Established and the Outsiders. A Sociological
Enquiry into Community Problems, Londres: Sage Publications. Elias, Norbert and Dunning, Eric, 1993, Quest for Excitement, Sport and Leisure in the Civilizing
Process, Oxford: Blackwell. Ellen, R. F. (ed.), 1984, Ethnographic Research. A Guide to General Conduct, London:
Academic Press. Emel, Y. et Paradeise, C., 1976, La Sociabilité, Paris: INSEE. Epstein, A. L., 1978, Ethos and Identity.Three Studies in Ethnicity, Londres: Tavistock. Equipa do Plano, 1986, Estudos Sumários de Planeamento, Amadora: Gabinete do Plano Director
Municipal da Câmara Municipal da Amadora. Erikson, Erik H., 1980, Identidad, Juventud y Crisis, Madrid: Taurus. Escal, F., 1979, Espaces sociaux, espaces musicaux, Paris: Payot. Espiritu, Yen de, 1994, «The Intersection of Race, Ethnicity, and Class: The Multiple Identities of
Secon-Generation Filipin» in Identities. Global Studies in Culture and Power, Vol. 1 (2-3), pp. 249-273.
Esteves, Maria do Céu (org.), 1991, Portugal, País de Imigração, Lisboa: IED-Instituto de
Estudos para o Desenvolvimento. Fast, Julius, 1984 (1970), A Linguagem do Corpo, Lisboa: Edições 70. Feixa, Carles, 1988, La Tribu Juvenil. Una aproximación transcultural a la juventud, Torino:
Edizioni l'Occhiello. Feixa, Carles, 1990, Culturas juvenils, hegemonia i transición social. Una história oral de la
juventut a Lleida (1936-1989), Barcelona: Universidade de Barcelona.
417
Feixa, Carles , 1996, «Antropologia de las Idades» in Prat, Joan y Martínez, Ángel (ed.) Ensayos
de Antropología Cultural. Homenaje a Claudio Esteva-Fabregat, Barcelona: Editorial Ariel, pp.319-334.
Feixa, Carles, 1999 (1998), De jóvenes, bandas y tribus. Antropologia de la juventud, Barcelona:
Editorial Ariel. Feixa, Carles, 1999, «Ethnologie et Cultures des Jeunes: Des Tribus Urbaines aux Chavos
Banda» in Sociétés, Revue des Sciences Humaines et Sociales, De Boeck Université, nº1. Feixa, Carles and Roig, X., 1994, «Youth Cultures. Anthropology and the Study of European
Youth» en McDonald (ed.), in European Comission. Toward and Anthropology of European Union, Brusels: EC
Feixa, Carles i Saura, Joan R. (eds.), 2000, «Joves entre dos mons. Moviments Juvenils a Europa
i a l'América Latina» in II Forum déstudis sobre la Joventut, Lleida: Secretaria General de Joventut: Universitat de Lleida.
Feixa, Carles, Costa, Carmen y Pallarés, Joan (eds.), 2002, Movimientos juveniles en la Península
Ibérica. Graffitis, griotas, okupas, Barcelona: Editorial Ariel. Feixa, Carles, Molina, Fidel y Alsinet, Carles (eds.), 2002, Movimientos juveniles en América
Latina. Pachucos, malandros, punketas, Barcelona: Editorial Ariel. Feldman-Bianco, Bela (org.), 1987, Antropologia das Sociedades Contemporâneas - Métodos,
Rio de Janeiro: Global Editora. Fernandes, Luís, 1998, O sítio das drogas, Porto: Ed. Perspectiva. Fernandes, Luís e Carvalho, Maria Carmo, 2000, «Problemas no Estudo Etnográfico de Objectos
Fluidos. Os casos do sentimento de insegurança e da exclusão social» in Educação, Sociedade & Culturas, nº 14, pp.59-87.
Ferragotti, Franco, 1983, Histoire et Histoire de Vie. La méthode biographique dans les sciences
sociales, Paris: Librairie des Meridiens. Ferrand, A. et Mounier, L., 1993, «L'échange de paroles sur la sexualité: une analyse des relations
de confidence» in Population, nº5, pp.1451-1476. Ferreira, António Fonseca, 1984, «Crise do alojamento e construção clandestina em Portugal» in
Sociedade e Território, nº1 / Março, pp. 29-37. Ferreira, António Fonseca, 1987, Por uma Nova Política de Habitação, Porto: Afrontamento. Ferreira, António Fonseca e Vara, Fernanda (coord.), 2001, «Relatório e Estudos de
Fundamentação Técnica» in Ordenamento do Território da AML: PROT-AML, Lisboa: CCRLVT-Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo.
Ferreira, Vitor Matias e Craveiro, Maria Teresa (coord.), 1991, «Património, Ambiente e
418
Reabilitação Urbana» in Sociedade e Território, nºs 14 e 15 / Dezembro. Figueiredo, Alexandra Lemos, Silva, Catarina Lorga e Ferreira, Vitor Sérgio, 1999, Jovens em
Portugal. Análise longitudinal de fontes estatísticas 1960-1997, SEJ - Estudos sobre Juventude nº 3, Oeiras: Celta Editora.
Filho, João Lopes, 1995, Cabo Verde. Retalhos do Quotidiano, Lisboa: Editorial Caminho. Finnegan, Ruth, 1998, Tales of the City. A Study of Narrative and Urban Life, Cambridge:
Cambridge University Press. Fischer, Claude S., 1975, «Toward a Subcultural Theory of Urbanism» in AJS, Volume 80, nº 6,
pp. 1319-1341. Fisher, Claude S., 1982, To Dwell among Friends .Personal Networks in Town and City,
Chicago: The University of Chicago Press. Fize, Michel, 1993, Les bandes. L'entre-soi adolescent, Paris: Desclée de Brouwer. Flores, Juan, 1986, «Rap, graffiti y break. Cultura callijera negra y portorriqueña en Nueva
York» in Cuicuilco, nº17, pp.34-40. Fonseca, Isabel, 1996 (1995), Enterrem-me em Pé. Os ciganos e a sua jornada, São Paulo:
Editora Scharcz. Fonseca, Laura Pereira da, 2001, Culturas Juvenis, Percursos Femininos. Experiências e
Subjectividades na Educação das Raparigas, Oeiras: Celta Editora. Fonseca, Maria Lucinda, 1988, «As Migrações para a Área Metropolitana de Lisboa. Dos anos
sessenta aos anos oitenta», in Povos e Culturas. A Cidade em Portugal: como se vive, Lisboa: Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa.
Fontaine, A. et Fontana, C., 1996, Raver, Paris: Anthropos. Fornäs, Johan and Bolin, Göran (eds.), 1995, Youth Culture and Late Modernity, London: Sage
Publications. Foster, George and Kemper, Robert V. (eds.), 1974, Anthropologists in cities, Boston: Little
Brown. Foster, George and Kemper, Robert V., 1996, «Anthropological Fieldwork in Cities» in Urban
Life. Readings in Urban Anthropology, Illinois: Waveland Press Inc., pp.135-150. Foucault, Michel, 1996 (1975), Vigiar e Punir. História da Violência nas Prisões, Petrópolis:
Vozes Fournier, Valérie, 1999, Les Nouvelles Tribus Urbaines. Voyage an cœur de quelques formes
contemporaines de marginalité culturelle, Chêne-Bourg, Genève: Georg Éditeur. Fox, Richard, 1977, Urban Anthropology. Cities in their cultural settings, Englewood Cliffs,
New Jersey: Prentice-Hall.
419
Fox, W. and Wince, M., 1975, «Musical taste cultures and taste public» in Youth and Society, nº7. Freeman, Derek, 1983, Margaret Mead and Samoa. The Making and Undmaking of an
Anthropological Myth, London: Penguin Books. Freitas, Ricardo Ferreira, 1996, Centres Commerciaux: îles urbaines de la post-modernité, Paris:
L'Harmattan. Friedl, John and Chrisman, Noel, 1975, City Ways. A Selective Reader in Urban Anthropology,
New York : Crowell Comp. Frith, S., 1978, The Sociology of Rock, London: Constable. Galdwin, Thomas, 1961, The anthropologists view of poverty, New York: Columbia University
Press Galland, Olivier, 1999 (1984), Les jeunes, Paris: Editions La Découverte. Galland, Olivier, 2001 (1997), Sociologie de la Jeunesse, Paris: Armand Colin. Gans, Herbert J., 1962, «Urbanism and suburbanism as ways of life : a reevaluation of
definitions», in Rose, Arnold M. (ed.), Human behaviour and social process, London: Routledge and Kegan Paul, pp. 625-649.
Gans, Herbert J., 1982 (1962), The Urban Villagers : Group and Class in the Life of Italian-
American, N.Y.: The Free Press. Garcia, José Luís (coord.), 2000, Estranhos. Juventude e Dinâmicas de Exclusão Social em
Lisboa, Oeiras: Celta Editora. Geertz, Clifford, 1978, A Interpretação das Culturas, Rio de Janeiro: Zahar Editores. Gelder, Ken and Thornton, Sara (eds.), 1997, The Subcultures Reader, London: Routledge. Gendrot, Sophie, 1994, Ville et Violence, Paris: Presses Universitaires de France. Giddens, Anthony, 1997 (1991), Modernidade e Identidade Pessoal, Oeiras: Celta Editora. Gil Calvo, Enrique, 1985, Los depredadores audiovisuales. Juventud urbana y cultura de massas,
Madrid: Tecnos. Gilbert, Alan, Hardoy, Jorge Enrique and Ramirez, Ronaldo, 1982, Urbanization in
contemporary Latin America: critical approaches to the analyses of urban issues, Chichester: John Wiley.
Gillis, John R., 1981, Youth and History.Tradition and Change in European Age Relations, 1970-
present, New York: Academic Press. Gilmore, D., 1975, «Friendship in Fuenmayor. Patterns of integration in a atomist society» in
Ethnology, XIV (4), 311-324.
420
Gilroy, P., 1993, «Between Afro-centrism and Euro-centrism:Youth Culture and the problem of
hybridity» in Young, nº 2, pp.2-12. Giner, Josefa Cucó i, 1995, La amistad. Perspectiva antropológica, Barcelona: Icaria. Institut
Català d'Antropología. Giner, Josefa Cucó i, 1996, «Amigos y Vecinos. Hacia una antropología de la amistad», in Prat, J.
y Martínez, A. (ed.), Ensayos de Antropología Cultural. Homenaje a Claudio Esteva- Fabregat, Barcelona: Ariel, pp.167-172.
Giner, Josefa Cucó i, 2000, «La sociabilité en Espagne» in Ethnologie Française, XXX, nº 2,
pp. 257-264. Giner, Josefa Cucó i, 2000, «Proximal Paradox. Friends and Relatives in the Era of
Globalization», European Journal of Social Theory, nº3, pp.313-324. Giordano, P.C., 1995, «The Wider Circle of Friends in Adolescence» in American Journal of
Sociology, vol. 101, nº3, pp. 661-697. Giudicelli, A., 1994, La Caillera. Quartiers sensibles, Paris: Seuil. Glazer, Nathan and Moyniham, D.P., 1963, Beyond the melting pot: the Negros, Puerto Ricans,
Jews, Italians, and Irish of New York City, Cambridge: M.I.T. Press and Harvard University Press.
Gmelch, George and Zenner, Walter P., 1996, Urban Life. Readings in Urban Anthropology,
Illinois: Waveland Press Inc.. Goffman, Erving, 1974, Les Rites d'interaction, Paris: Éditions de Minuit. Goffman, Erving, 1982 (1963), Estigma. Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada,
Rio de Janeiro: Zahar Editores. Goffman, Erving, 1993 (1959), A Apresentação do Eu na Vida de Todos os Dias, Lisboa: Relógio
d'Água. Gomes, Isabel Brigham (coord.), 1999, Estudo de caracterização da comunidade caboverdeana
residente em Portugal, Lisboa: Embaixada de Cabo Verde. Gomes, Paulino, 2000, Amadora. Raízes e Razões duma Identidade, Matosinhos: Minha Terra. Grafmeyer, Y. et Joseph, I., 1998 (1979), L'Ecole de Chicago. Naissance de l’ecologie urbaine,
Paris: Éditions Aubier. Green, Anne-Marie, 1986, Les adolescents et la musique, Issy-les-Moulineaux: Éditions E.A.P.. Green, Anne-Marie (ed.), 1997, Des Jeunes et des Musiques. Rock, Rap, Techno..., Paris:
L'Harmattan.
421
Guerra, Isabel, 1994, «As Pessoas não são Coisas que se Ponham em Gavetas» in Sociedade e Território, nº 20 /Abril-Maio, pp.11-16.
Gulick, John, 1989, The Humanity of Cities. An Introduction to Urban Societies, Massachusetts:
Bergin & Garvey Publishers, Inc.. Gulick, K., 1973, «An overview and approach to the meaning of urban though a look at
minimally urban places» in Press, I. and Smith, M.E. (eds.), Urban places process, Londres - N.Y.: MacMillan, pp. 61-76.
Gutwirth, Jacques et Pétonnet, Colette, 1987, Chemins de la Ville. Enquêtes Ethnologiques, Paris:
Editions du C.T.H.S.. Habermas, Jungen, 1987 (1981), Théorie de l’ Agir Communicationnel, (2 Vols.), Paris: Fayard Hager, S., 1984, Hip-Hop, New York: St.Martin's Press. Hall, Edward T., 1986 (1966), A Dimensão Oculta, Lisboa: Relógio d'Água. Hall, Edward T., 1996 (1983), A Dança da Vida. A outra dimensão do tempo, Lisboa: Relógio
d'Água. Hall, Stuart, 1977, (1969) Los hippies: una contracultura, Barcelona: Anagrama. Hall, Stuart and Jefferson, Tony (eds.), 1983 (1976), Resistence through Rituals.Youth
Subcultures in post-war Britain, London: Hutchinson. Hallman, Howard, 1984, «The many faces of neighborhoods», in Neighborhoods.Their place in
Urban Life, Beverly Hills/London/New Delhi: Sage Publications. Hannad, Judith Lynne, 1988, Dance, sex and gender: signs of identity, dominance, defiance, and
desire, Chicago and London: The University of Chicago Press. Hannerz, Ulf, 1969, Soulside inquiries into ghetto culture and community, New York: Columbia
University Press. Hannerz, Ulf, 1978, «Problems in the Analysis of Urban Cultural Organization» in
Aschenbrenner, Joyce and Collins, Lloyd R. (eds), Processes of Urbanism, The Hague: Mouton.
Hannerz, Ulf, 1982, «Washington and Kafanchan: a view of urban anthropology» in L'Homme,
XXII nº 4, pp.25-36. Hannerz, Ulf, 1986 (1980), Exploración de la Ciudad. Hacia una antropologia urbana, México:
Fondo de Cultura Economica (FCE). Hannerz, Ulf, 1989, «Culture Between Center and Periphery: Toward a Macro Anthropology» in
Ethnos, nº54, pp. 200-216. Hannerz, Ulf, 1992, Cultural Complexity. Studies in the Social Organization of Meaning, New
York: Columbia University Press.
422
Hannerz, Ulf, 1996, Transnational connections. Culture, people, places, London and New York:
Routledge. Harrington, Michael, 1962, The other America: Poverty in the United States, New York:
Macmillan. Harrouel, J. L., 1994, Culture et contre-culture, Paris: PUF. Hastrup, Kirsten and Hervick, Peter 1989, Social Experience of Anthropological Knowledge,
London and New York. Haumont, Nicole (éd.), 1996, La Ville: Agregation et Ségrégation Sociales, Paris: L'Harmattan. Havelock, Eric A., 1996 (1988), A Musa Aprende a Escrever. Reflexões sobre a oralidade e a
literacia da Antiguidade ao presente, Lisboa: Gradiva. Hebdige, Dick, 1979, New Accents Subculture. The meaning of style, London: Muthuen &
Co.LD. Heisler, Barbara Schmitter, 1992, «The Future of Immigrant Incorporation: Which Models?
Which Concepts?» in International Migration Review - IMR, Volume xxvi, Nº2, pp.623-645.
Hewitt, Westwook, 1989, Rap, Beats of the Rhyme, London: Omnibus Press. Hicks, James F. and Vetter, David Michael, 1983, Identifying the poor in Brazil, Washington,
D.C.: World Bank Publications. Higgins, Michael James, 1983, Somos Tocayos: Anthropology of urbanism and poverty, Lanham:
University Press of America. Hillier, Bill and Hauson, Julienne, 1990 (1984), The Social Logic of Space, Cambridge:
Cambridge University Press. Hobsbawm, Eric e Ranger, Terence (orgs.), 1984 (1983), A Invenção das Tradições, Rio de
Janeiro: Editora Paz e Terra. Hobsbawm, Eric, 1992, «Whose fault-line is it anyway?»in New Statesman & Society, pp. 23-26. Holston, James, 1999, «The modernist city and the death of the street» in Low, Setha M. (ed.),
Theorizing the City. The New Urban Anthropology Reader, N.Y. and London: Rutgers University Press, pp. 245-276.
Homobono, José Ignacio, 2000, «Antropologia urbana: itinerarios teóricos, tradiciones nacionales
y ámbitos temáticos en la exploracion de lo urbano» in Zainak. Invitacion a la Antropologia Urbana nº 19, 15-50.
Homobono, José Ignacio, 2000, «Introducción: De la antropologia social a la antropologia
urbana» in Zainak. Invitacion a la Antropologia Urbana , nº 19, pp.7-12.
423
Hubert, D. et Claudé, Y., 1991, Les skinheads et l'extrême droite, Montreal: V.L.B. Editeur. Huff, Ronald (ed.), 1990, Gangs in America, Newbury Park: Sage Publications. Hunter, David J., 1964, The slums: challenge and response, Glencoe: Free Press. Hurtado, Aida, Gurin, Patricia and Peng, Timothy, 1994, «Social Identities - A Framework for
Studying the Adaptations of Immigrants and Ethnics» in Social Problems, Vol. 41, nº 1, pp. 129 - 151.
Jackson, John A., 1991 (1986), Migrações, Lisboa: Escher. Jensen, Jeffrey, 1996, Metal Heads. Heavy Metal Music and Adolescent Alienation, Boulder:
Westview Press. Juliano, Dolores, 1993, Escuela y minorias étnicas, Madrid: EUDEMA. Kandé, Sylvie (dir.), 1999, Discours sur la Métissage, Identités Métisses, Paris: L'Harmattan. Keefe, Susan Emley, 1996, «The Myth of the Declining Family: Extended Family Ties Among
Urban Mexican-Americans and Anglo-Americans» in Gmelch, George and Zenner, Walter P. (eds), Urban Life. Readings in Urban Anthropology, Illinois: Waveland Press Inc., pp. 308-322.
Kellerhals, Jean e McCluskey Hughette, 1988, «Uma topografia subjectiva do parentesco.
Contributo para o estudo das redes de parentesco nas famílias urbanas» in Sociologia. Problemas e Práticas, nº5, 169-184.
Kemper, Robert V., 1996, «Migration and Adaptation. Tzintzuntzeños in Mexico City and
Beyond» in Gmelch, George and Zenner, Walter P. (eds), Urban Life. Readings in Urban Anthropology, Illinois: Waveland Press Inc., pp.196-209.
Kertzer, David and Keith, Jenny (eds.), 1984, Age and Anthropological Theory, London: Ithaca. Kraemer, Hazel V. (ed.), 1974, Youth and Culture, Monterey: Brocks and Cole. Kurth, S.B., 1970, «Friendships and Friendly Relations» in McCall, G.J. (ed.) Social
Relationships, Chicago: Aldine Publ.Co.. Kurtz, Donald V., 1996, «Hegemony and Anthropology. Gramsci, exegeses, reinterpretations» in
Critique of Anthropology, Volume 16, number 2. Lagrange, Hughes, 1995, La civilité a l'épreuve: crime et sentiment d'insecurité, Paris: Presses
Universitaires de France. Lagrée, Jean-Charles et Lew-Fai, Paula,1985, La Galére: Marginalisations Juvéniles et
Collectivités Locales, Paris: Éditions du CNRS. Lapassade, Georges, 1990, Rap ou la fureur de dire, Paris: Loris Talmant.
424
Latour, Éliane de, 1999, « Les Ghettomen. Les gangs de rue à Abidjan et San Pedro» in Actes de la Recherche en Sciences Sociales, nº 129, pp. 68-83.
Lave, Jean, Duguid et alii, 1992, «Coming of Age in Birmingham: Cultural Studies and
Conceptions of Subjectivity» in Annual Review of Anthropology, nº21, pp. 257-282. Lawrence, Denise and Low, Setha, 1990, «The built environment and spatial form» in Annual
Review of Anthropology, nº19, pp. 453-505. Leeds, Anthony, 1971, «The concept of the ‘culture of poverty’: conceptual, logical and empirical
problems, with perspectives from Brazil and Peru» in Leacock, E. (ed.), The Culture of Poverty: A Critique, New York: Simon & Schuster, pp. 226-283.
Leeds, Anthony, 1973, «Locality power in relation to supralocal power institutions» in Southall,
Aidan (ed.), Urban Anthropology. Cross-Cultural Studies of Urbanization, New York: Oxford University Press, pp. 15-41.
Leeds, Anthony, 1994 (1968), «The anthropology of cities: some methodological issues» in
Sanjek, Roger (ed.) Anthony Leeds. Cities, Classes, and the Social Order, Ithaca and London: Cornell University Press, pp. 233-246.
Leeds, Anthony in Hardoy, Jorge E. E Shaedel, Richard P. (comp.), 1975, La sociedade urbana
engloba a la rural: especializaciones, nucleamentos, campo y redes: Metateoria, Lima: SIAP.
Leeds, Anthony e Leeds, Elizabeth, 1978 (1977), A Sociologia do Brasil Urbano, Rio de Janeiro:
Zahar Editores. Leith, P., 1994, « Race, Inequality and transformation» in Identities, Vol. 2-3. Lepoutre, David, 1997, Coeur de Banlieue. Codes, Rites et Langage, Paris: Editions Odile Jacob. Levi, Giovanni y Schmitt, Jean-Claude (eds.), 1996, História de los jóvenes, Madrid: Taurus. Lévi-Strauss, Claude, 1987 (1977), L'identité, Paris: Quadridge / PUF. Lévi-Strauss, Claude, 1989 (1962), O Pensamento Selvagem, São Paulo: Papirus Editora. Lewis, Oscar, 1966, «The culture of poverty» in Scientific American, Vol. 215 (4), pp.19-25. Lewis, Oscar, 1979 (1961), Os Filhos de Sánchez, Lisboa: Moraes Editores. Lewis, Oscar, 1985 (1959), Antropologia de la pobreza. Cinco famílias., Mexico:Fondo de
Cultura Económica, pp. 65-118 Liebow, Elliot, 1967, Tally's corner. A study of negro streetcorner men, Boston: Little Brown. Logan, Kathleen, 1981, «Guetting by with less: economic strategies of lower income households
in Guadalajara» in Urban Anthropology, 10 (3), pp.231-46. Lomnitz, Larissa, 1978, «Survival and reciprocity: the case of urban marginality in México» in
425
Laughlin, Charles D. and Bradly, Ivan A. (eds), Extinction and survival in human populations, New York: Columbia University Press
Louis, P. et Prinaz, L., 1990, Skinheads, Taggers, Zulus & Co., Paris: La Table Ronde. Low, Setha M., 1996, «The Anthropology of Cities: Imaging and Theorizing the City», in Annual
Review of Anthropology, nº 25, pp.383-409. Low, Setha M., 1999, Theorizing the City. The New Urban Anthropology Reader, N.Y:
University Press. Machado, Fernando Luís, 1985, «As práticas de sociabilidade em Queluz Ocidental» in
Sociedade e Território, nº 3, pp.90-99. Machado, Fernando Luís, 1992, «Etnicidade em Portugal. Contrastes e politização» in Sociologia.
Problemas e Práticas, nº 12, pp. 123-136. Machado, Fernando Luís, 1993, «Etnicidade. O grau zero da politização» in Emigração e
Imigração em Portugal. Actas do Colóquio, Algés: Fragmentos, pp. 407-414. Machado, Fernando Luís, 1994, Luso-africanos em Portugal: nas margens da etnicidade in
Sociologia. Problemas e Práticas, nº 16, pp. 111-134. Machado, Fernando Luís, 1998, «Da Guiné-Bissau a Portugal: luso-guineenses e imigrantes» in
Sociologia. Problemas e Práticas, nº 26, pp. 9-56. Machado, Fernando Luís, 1999, Contrastes e Continuidades. Migração, Etnicidade e Integração
dos Guineenses em Portugal, Tese de Doutoramento em Sociologia , Lisboa: ISCTE. Maffesoli, Michel, 1990, Aux creux des apparences. Pour une ethique de l'esthetique, Paris:
Plon. Maffesoli, Michel, 1990 (1988), El tiempo de las tribus, Barcelona: Icaria. Maffesoli, Michel, 1993, La contemplation du monde. Figures du style communautaire, Paris: Grasset. Maffesoli, Michel, 1995, «Le Retour des Tribus» in Sciences Humaines, nº48, mars. Maffesoli, Michel, 2001 (2000), El instante eterno. El retorno de lo trágico en las sociedades
posmodernas, Barcelona: Ediciones Paidós. Maffi, Mario, 1975, La cultura underground, Barcelona: Anagrama. Magnani, José Guilherme Cantor, 1992, «Tribos Urbanas: metáfora ou categoria?» in Cadernos
de campo. Revista dos Alunos de Pós-Graduação em Antropologia, Dep. Antropologia FFLCH/USP, São Paulo, ano 2, nº2 .
Magnani, José Guilherme Cantor, 1998, Festa no pedaço. Cultura popular e lazer na cidade, São
Paulo: Editora Hucitec.
426
Maisonneuve, J. et Lamy, L., 1993, Psycho-sociologie de l'amitié, Paris: PUF. Malheiros, Jorge Macaísta, 1996, Imigrantes na Região de Lisboa. Os anos da mudança:
imigração e processo de integração da comunidade de origem indiana, Lisboa: Edições Colibri.
Mangin, William (ed.), 1970, Peasants in cities, Boston: Hougton Mifflin Co.. Martin, Ben L., 1991, «From Negro to Black to African American:The Power of Names and
Naming» in Political Science Quarterly, volume 106 ,nº1, pp. 83-107. Martiniello, Marco, 1992, Leadership et Pouvoir dans les communautes d’origine immigrée,
Paris: L’Harmattan Matza, David, 1969, «The positive Delinquent» in Delinquency and Drift, New Jersey: Prentice-
Hall. Mauss, Marcel, 1974 (1908), Sociologia e Antropologia, São Paulo: EPU/EDUSP. Maxwell, Andrew H., 1988, «The anthropology of poverty in black communities: A critique and
systems alternative» in Urban Anthropology and Studies of Cultural Systems and World Economic Development, Vol.17, pp.171-91.
Mckenzie, Roderik, 1984, «Le voisinage» in Grafmeyer, Y. et Joseph, I., L’ École de Chicago.
Naissance de l’ Ecologie Urbaine. Paris: Aubier, pp.209-50 McRobbie, A., 1984, «Dance and social fantasy» in A. McRobbie and M.Nava (eds.), Gender
and Generation, London: Mcmillan. McRobbie, A., 1993, «Shut up and dance: youth culture and changing modes of feminity» in
Cultural Studies, nº7, pp. 406-426. Mead, Margaret, 1995, (1971) Adolescencia y cultura en Samoa, Barcelona, Buenos Aires y México: Ediciones Paidós. Mead, Margaret, 1997, (1970) Cultura y compromiso. Estudio sobre la ruptura generacional,
Barcelona: Editorial Gedisa. Méchin, Collette, Bianquis, Isabelle et Breton, David Le (dir.), 1998, Anthropologie du Sensoriel.
Les Sens dans tous les sens, Paris: L'Harmattan. Mignon, P. et Hennion, A., 1991, Rock, de l'histoire au mythe, Paris: Vibrations - Anthropos. Mitchell, J. Clyde, 1969, Social Networks in Urban Situations. Analyses of Personal
Relationships in Central African Towns, Manchester: Manchester University Press. Mitchell, J. Clyde, 1980 (1966) «Orientaciones Teóricas de los Estudios Urbanos en África» in
Banton, M., Antropologia Social de las Sociedades Complejas, Madrid: Alianza Editorial, pp. 53-81.
Mitchell, J. Clyde, 1987, «The Situational Perspective» in Cities, Society and Social Perception.
427
A Central African perspective, Oxford: Clarendon Press. Mitchell, J. Clyde, 1996 (1956), «La dance Kalela. Aspects des relations sociales chez les citadins
africains en Rhodésie du Nord» in Enquête, 4, pp. 213-43. Miyaji, Mieko, 1993, «Family and Social Networks in New Urban Situations. A Comparative
Perspectives» in Cohen, Anthony P. and Fukui, Katsuyoshi (ed.), Humanizing the City? Social Contexts of Urban Life at the Turn of the Millennium, Edinburgh: Edinburgh University Press, pp.163-183.
Molina, José Luis, 2001, El análisis de redes sociales. Una introducción, Barcelona: Ediciones
Bellaterra. Mondada, Lorenza, 2000, Décrire la Ville. La construction des savoirs urbains dans l'interaction
et dans le texte, Paris: Anthropos. Monod, Jean, 1966, «Des jeunes, leur language et leurs mythes» in Les Temps modernes, juillet,
pp. 74-87. Monod, Jean, 2002, (1968) Los Barjots. Etnología de bandas juveniles, Barcelona: Editorial
Ariel. Monteiro, Vladimir Nobre, 1995, Portugal Crioulo, Praia: Instituto Caboverdeano do Livro e do
Disco. Moscovici, Serge. and Farr, R. M. (eds.), 1984, Social Representations, Cambridge: Cambridge
University Press. Mullings, Leith, 1987, Cities in United States, New York: Columbia University Press. Mullings, Leith, 1997, On our own terms. Race, Class and Gender in the Lives of African
American Women, New York and London: Routledge. Munhgam, G. and Pearson, G. (eds.), 1976, Working Class Youth Culture, London: Routledge
and Kegan Paul. Musgrove, F., 1964, Youth and the Social Order, London: Routledge and Kegan Paul. Nagel, Joane, 1994, «Constructing ethnicity: creating and recreating ethnic identity and culture»
in Social Problems, vol. 41, pp.152-176. Nash, Mary y Marre, Diana (eds.), 2001, Multiculturalismos y género. Un estudio
interdisciplinar, Barcelona: Ediciones Bellaterra. Nava, M., 1992, Changing Cultures, London: Sage Publications. Neves, António Oliveira, 1996, «Reestruturação económica em meios urbano-metropolitanos: o
caso da Amadora» in Sociedade e Território, nº 23 / Outubro, pp. 75-94. Neyrand, G. et Guillot, C.,1989, Entre clips et looks - Les pratiques de consommation des
adolescents, Paris: L'Harmattan.
428
Niemeyer, Ana Maria de e Godoi, Emília Pietrafesa de (orgs.), 1998, Além dos Territórios: Para
um Diálogo entre a Etnologia Indígena, os Estudos Rurais e os Estudos Urbanos, R.J.: Mercado de IFTDAS.
Nieto, José A., 1996, «Antropología de la Sexualidad» in Prat, J. y Martínez, A., Ensayos de
Antropología Cultural. Homenaje a Claudio Esteva-Fabregat, Barcelona: Ariel, pp. 357-368.
Nisbet, Robert 1979 (1976), «Paisages sociológicos» in La sociologia como forma de arte,
Madrid: Espasa-Calpe, pp. 69-104. Nunes, Olímpio, 1996, O Povo Cigano, Lisboa: Edição do Autor.
Oficina de Arquitectura (coord.), 1997, Plano de Urbanização da Damaia/Venda Nova. Estudos de Caracterização, Lisboa: OA-Oficina de Arquitectura.
Oliven, Ruben G., 1980, «Por uma antropologia das cidades brasileiras» in Velho, Gilberto (org.),
O desafio da cidade, Rio de Janeiro: Editora Campus, pp. 23-36. Oliver-Smith, Anthony, «Economic crisis and the informal street system of Spain» in Estellie
Smith (ed), Perspectives on the informal economy, pp. 207-233. Osmont, Annick, 1981, «Strategies familiales, strategies residentielles en milieu urbain» in
Cahiers d’Études Africaines, XXI-1-3 (81-83), pp.175-195. Ostrowestsky, Sylvia (coord.), 2001, «De la ségregation à la dispersion. Le territoire comme
mode d’expression identitaire» in Espaces et Sociétés, nº 104. Paine, R., 1969, «In search of friendship:an explanatory analysis in 'middle-class' culture» in
Man, nº 4, pp.505-524. Pais, José‚ Machado, 1989, Juventude Portuguesa: Situações, Problemas, Aspirações - Usos do
Tempo e Espaços de Lazer,Tomo V, Lisboa: Instituto da Juventude e ICS. Pais, José Machado, 1995, «Sociabilités juvéniles dans des espaces urbains: cultures urbaines,
cultures juvéniles ou cultures» in Espaces et Sociétés, nº79, pp. 79-91. Pais, José Machado, 1996, Culturas juvenis, Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda. Pais, José Machado e Chisholm, Lynne (coord.), 1997, «Jovens em mudança» in Actas do
Congresso Internacional: Growing up between centre and periphery, Lisboa, Maio 96. Colecção Estudos e Investigações, nº 10
Pallida, Salvatore, 1999, «La criminalisation des migrants» in Bourdieu, P. (dir.), Actes de la
Recherches en Sciences Sociales, Paris: Seuil, pp. 39-49. Pàmpols, Carles Feixa, 2001, «Generació @. La joventut al segle XXI» in Secretaria General de
Joventut, Barcelona: Generalitat de Catalunya. Park, Robert Ezra, 1987 (1916), « A Cidade: Sugestões para a Investigação do Comportamento
429
Humano no Meio Urbano» in Velho, Otávio Guilherme, O Fenómeno Urbano, Rio de Janeiro: Editora Guanabara, pp.26-67.
Park, Robert Ezra, 1999, La Ciudad y otros ensayos de ecología urbana, Barcelona: Ediciones
del Serbal. Parsons, Talcott, 1963, «Youth in the context of American Society» in Erikson, E.H. (ed.),
Change and Challenge, London: Basic BooksYouth. Peattie, Lisa Redfield, 1991 (1968), The View from the Barrio, Ann Arbor: Paperbacks. Peattie, Lisa Redfield and Robbins, Edward, 1984, «Anthropological Approaches to the City» in
Rodwin, Lloyd and Hollister, Robert, Cities of the Mind. Images and Themas of the City in the Social Sciences, New York and London: Plenum Press.
Peek, Peter, 1980, Urban poverty, migration and land reform in Ecuador, The Hague:
Netherlands Institute of Social Sciences. Penafria, Manuela, 1999, O Filme Documentário. História, Identidade, Tecnologia, Lisboa:
Edição da Autora. Peristiany, J.G., 1971 (1965), Honra e Vergonha: Valores das Sociedades Mediterrâneas, Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian. Perlam, Janice E., 1986, The myth of marginality: Urban poverty and politics in Rio de Janeiro,
Berkeley: University of California Press. Petonnet, Colette, 1985, Oú est tous dans le brouillard, Paris: Éditions Galilée. Pinheiro, Magda, Baptista, Luís V. e Vaz, Maria João (org.), 2001, Cidade e Metrópole.
Centralidades e Marginalidades, Oeiras: Celta Editora. Pinto, José Madureira, 1997, «A sociedade urbana» in A Política das Cidades, Lisboa: Conselho
Económico e Social, pp. 365-406. Pires, Rui Pena e Saint-Maurice, Ana, 1989, «Descolonização e migrações. Os Imigrantes dos
PALOPS em Portugal» in Revista Internacional de Estudos Africanos, nºs 10 e 11,Jan.-Dez., pp.203-226.
Pitrov, A., 1978, Vivre sans famille? Les solidarités familiales dans le monde d'aujourd'hui,
Toulouse: Privat. Plotnicov, Leonard, 1973, «Anthropological fieldwork in modern and local urban contexts» in
Urban Anthropology, nº2, pp.248-264. Poirier, Jean, Clapier-Valladon, Simone e Raybaut, Paul, 1995 (1983), Histórias de Vida. Teoria
e Prática, Oeiras: Celta Editora. Porter, J. R. and Washington, R.E., 1993, «Minority Identity and Self-Esteem» in Annual Review
of Sociology, nº19, pp. 379-403.
430
Poutignat, Philippe et Streiff-Fenart, Jocelyne, 1995, Théories de l'ethnicité, Paris: PUF. Prat, Joan y Martínez, Ángel (ed.), 1996, Ensayos de Antropología Cultural. Homenaje a
Claudio Esteva-Fabregat, Barcelona: Ariel. Proença, Raul, 1983 (1924), Guia de Portugal – Lisboa e Arredores, Lisboa: Biblioteca Nacional. Pujadas, Joan Josep, 1993, Etnicidad. Identidade cultural de los pueblos, Madrid: Eudema. Pujadas, Joan Josep, 1996, «Antropología Urbana» in Prat, Joan y Martinez, Angel (ed.), Ensayos
de Antropología Cultural. Homenaje a Claudio Esteva-Fabregat, Barcelona: Editorial Ariel, pp.241-255.
Pujadas, Joan Josep e Bardají, F., 1987, Los Barrios de Tarragona. Una Aproximación
Antropológica, Tarragona: Ajuntament de Terragona. Quintino, Celeste, 1994, «Topologia da Diferença» in Dossier Anti-Racista, Frente Anti-Racista,
nº 1, pp. 36-38. Radcliffe-Brown, A. R., 1974 (1952), Estructura y Función en la Sociedad Primitiva, Barcelona:
Ediciones Península. Ragi, Tariq (dir.), 1999, Les Territoires de L'Identité, Paris: L'Harmattan. Rapp, Rayna, 1987, «Urban kinship in contemporary America: families, classes and ideology» in
Mullings, Leith (ed.), Cities in United States, New York: Columbia University Press. Raulin, Anne, 2001, Anthropologie urbaine, Paris : Armand Colin. Reohr, J. R., 1991, Friendship. An Exploration of Structure and Process, London: Garland
Publications. Rex, John, 1988, Raça e Etnia, Lisboa: Editorial Estampa. Ribeiro, Manuel João, 1991, «Reabilitação Urbana: estratégia e organização» in Sociedade e
Território, nº 14-15, pp. 56-61. Rinaudo, Christian, 1999, L' Ethnicité dans la Cité. Jeux et enjeux de la catégorisation ethnique,
Paris: L'Harmattan. Robbie, Angela (ed.), 1991, Feminism and Youth Culture, London: McMillan. Robert, Philippe et Lascoumes, Pierre, 1970, Les Bandes d'Adolescents, Paris: Éditions
Ouvriéres. Roberts, K., 1983, Youth and Leisure, London: George Allen and Unwin. Rocha-Trindade, Maria Beatriz, 1995, Sociologia das Migrações, Lisboa: Universidade Aberta. Roché, S., 1993, Le Sentiment d'insécurité, Paris: PUF.
431
Rodwin, Lloyd and Hollister, Robert M. (eds), 1984, Cities of the Mind. Images and Themes of City in the Social Sciences, New York and London: Plenum Press.
Rogers, Alisdair and Vertovec, Steven (eds), 1995, The Urban Context. Ethnicity, Social
Networks and Situational Analysis, Oxford / Washington D.C: Berg Publishers. Romani, Oriol, 1982, Droga i subcultura. Una história cultural del "haix" a Barcelona,
Barcelona: Universidade de Barcelona. Romani, Oriol, 1983, La tumba abierta. Autobiografia de um grifota, Barcelona: Anagrama. Romani, Oriol 1996, «Antropología de la marginación» in Prat, Joan y Martínez, Angel (eds.),
Ensayos de antropologia cultural.Homenaje a Claudio Esteva-Fabregat, Barcelona: Ariel, pp. 303-314.
Rosa, Maria João Valente, 2000, «Notas sobre a população - Lisboa: Área Metropolitana e
cidade» in Análise Social, nº153, vol. XXXIV, pp.1045-1055. Rosenfeld, Gerry, 1987, Shut those thick lips: A study in slum school failure, Prostect Heights:
Waveland Press Inc.. Ross, Jeffrey A., 1982, «Urban development and the politics of ethnicity:a conceptual approach»
in Ethnic and Racial Studies, Vol.5, nº 4 October, pp. 440-456. Roszak, Theodore, 1973, El nacimiento de una contracultura, Barcelona: Kairós. Royce, Anya Peterson, 1977, The Anthropology of Dance, Bloomington & London: Indiana
University Press. Rynkiewich, Michael A. and Spradley, James P., 1976, Ethics and Anthropology Dilemmas in
Fieldwork, Canada: Macalester College. John Wiley & Sons. Saint-Maurice, Ana de, 1997, Identidades Reconstruídas. Cabo-verdianos em Portugal, Oeiras: Celta Editora. Saint-Pierre, Caroline de, 1991, Mode de sociabilité d'une population de jeunes dans un quartier
de Ville Nouvelle, Paris: DEAÉEHESS. Salgueiro, Teresa Barata, 1992, A Cidade em Portugal. Uma Geografia Urbana, Porto:
Afrontamento. San Roman, Teresa, 1986, «Comentários sobre un proyecto de investigacion socioantropologica de la marginación social» in Perspectiva Social, nº 22, pp. 141-151. Sanjek, Roger (ed.), 1990, Fieldnotes. The Makings of Anthropology, Ithaca and London: Cornell
University Press. Sanjek, Roger, 1990, «Urban anthropology in the 1980's: a world view» in Annual Review of
Anthropology, nº19, pp.151-186. Schoerske, C. E. and Fava, S. F. (ed.), 1968, The idea of the city in european though: Voltaire to
432
Spengler, New York: Thomas y Crowellin. Schutz, A., 1979, Fenomenologia e relações sociais, Rio de Janeiro: Zahar Editores. Sebastião, João, 1998, Crianças da Rua. Modos de vida marginais na cidade de Lisboa, Oeiras:
Celta Editora. Segalen, Martine, 1990, Nanterriens. Les Familles dans la Ville. Une Ethnologie de L'identité,
Toulouse: Presses Universitaires du Mirail. Segalen, Martine, 1998, Rites et Rituels Contemporains, Paris: Éditions Nathan. Selby, Henry A., Murphy, Authur D., Fernandez, Ignacio C. and Castaneda, R. C. Aida, 1987,
«Battling urban poverty from below: a profile of the poor in two Mexican cities», in American Anthropologist, nº 89 (2), pp.419-423.
Shephers, J., 1993, «Difference and power in music» in Solie, R.A., (ed.) Music Scholarship
Berkeley, Musicology and Difference. Gender and Sexuality, CA: University of California Press.
Signorelli, Amalia, 1999, Antropología urbana, Barcelona: Anthropos Editorial. Silva, José Carlos Gomes da, 1994 (1989), «A Identidade Roubada» in Ensaios de Antropologia Social, Lisboa: Gradiva. Silva, Manuela e Costa, Alfredo Bruto (coord.), 1989, Pobreza Urbana em Portugal, Lisboa:
Centro de Reflexão Cristã-DPS da Cáritas Portuguesa. Silva, Maria Cardeira da (org.), 1997, «Trabalho de Campo» in Ethnologia. Nova Série, nº 6-8. Silva, Maria Cardeira da, 1999, Um Islão Prático. O Quotidiano Feminino em Meio Popular
Muçulmano, Oeiras: Celta Editora. Silvano, Filomena, 1997, Territórios da Identidade, Oeiras: Celta Editora. Simmel, Georg, 1971, On Individuality and Social Form, Chicago: The University of Chicago
Press. Simmel, Georg, 1983, «Conflito» in Simmel, São Paulo: Ática Simmel, Georg, 1990, (1979), «Métropoles et mentalité» in Grafmayer, Y. et Joseph, I., L’École
de Chicago, Paris: Éditions Aubier, pp. 61-77. Simões, A. Martinho, 1982, O Concelho da Amadora. Pequena História de uma longa
caminhada que chega ao fim, Amadora: Câmara Municipal da Amadora. Soares, Bruno, Ferreira, António Fonseca e Guerra, Isabel Pimentel, 1985, «Metrópoles e
Micrópoles. Urbanização clandestina na Área Metropolitana de Lisboa» in Sociedade e Território, nº 3, pp.67-77.
Soares, Luís Bruno, 1984, «Clandestinos e outros destinos. Urbanização clandestina e política
433
urbana» in Sociedade e Território, nº 1, pp.18-28. Soczka, Luís; Machado, Paulo; Freitas, Maria João e Moura, Marta, 1988, «Bairros Degradados
da Cidade de Lisboa» in A cidade em Portugal: como se vive, nº 3, pp.299-332. Sollors, Werner (ed.), 1989, The Invention of Ethnicity, New York / Oxford: Oxford University
Press. Southal, Aidan (ed.), 1973, Urban Anthropology. Cross-Cultural Studies of Urbanization, New
York: Oxford University Press. Spencer, Paul (ed.), 1985, Society and the Dance. The social anthropology of process and
performance, Cambridge: Cambridge University Press. Sperber, Dan, 1989, «L'etude anthropologique des representations:problémes et perspectives» in
Jodelet, D. (ed.), Les Représentations sociales, Paris: PUF. Sperber, Dan, 1992, O saber dos Antropólogos, Lisboa: Edições 70. Spradley, James P., 1980, Participant Observation, London: Harcourt Brace College Publishers. Stocking Jr., George W. (ed.), 1985 (1983), Observers Observed. Essays on Ethnographic
Fieldwork, Wisconsin: The University of Wisconsin Press. Stolcke, Verena, 1995, «Talking Culture. New Boundaries, New Rhetorics of Exclusion in
Europe» in Current Anthropology, vol.36, number I, pp.1-13. Suttles, Gerald D., 1968, The Social Order of the Slum. Ethnicity and territory in the inner city,
Chicago: The University of Chicago Press. Suttles, Gerald D., 1970, «Friendship as a Social Institution» in McCall, G. J. (ed.), Social
Relationship, Chicago: Aldine Publ.Co.. Suttles, Gerald D., 1984, «Cumulative texture of local urban culture» in American Journal of
Society, nº 90 (2) Sep: 283-304. Sutton, C. R., 1975, «Comments» in Safa, H. I. and Du Toit, B. M. (comps.), Migration and
Development, Haia: Mouton Swidler, Ann, 1996, «Culture as action: symbols and strategies» in American Sociological
Review, nº 51: 273-286. Tabouret-Keller, Andrée, 1994, «De la culture idéale aux cultures de contact» in Labat, C. et
Vermes, G. (eds.) Cultures ouvertes, societés interculturelles. Du contact à l’interaction, Paris: L'Harmattan.
Tessier, Stéphane (dir.), 1998, A la recherche des enfants des rues, Paris: Éditions Karthala. Thornton, Sara, 1995, Club Cultures. Music, Media and subcultural Capital, Cambridge:
Wesleyan University Press.
434
Thrasher, Federic M., 1963 (1927), The Gang. A Study of 1,313 Gangs in Chicago, Chicago & London: The University of Chicago Press.
Tomás, Maria Cátedra, 1994, «Tecnicas cualitativas en la antropologia urbana», in Malestar
cultural y conflicto en la sociedad madrileña, II Jornadas de Antropología, Madrid, pp.81-99.
Tonkin, Elizabeth; McDonald, Maryon and Chapman, Malcolm (eds.), 1989, History and
Ethnicity, London and New York: Routledge. Travassos, Sónia Duarte, 1998, «Capoeira e alteridade; sobre mediações, trânsitos e fronteiras» in
Zaluar, Alba e Alvito, Marcos (org.), Um Século de Favela, Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas
Turner, Victor, 1990 (1969), Le phénomène rituel. Structure et contra-structure, Paris: PUF. UNESCO, 1983, La Juventud en la década de los 80, Salamanca: Sígue-me. V.V.A.A., 1992, La jeunesse et ses mouvements, Paris: CNRS. Valentine, Charles A., 1968, Culture and Poverty. Critique and Counter-proposals, Chicago:
The University of Chicago Press. Velho, Gilberto, 1975, Nobres e Anjos:um estudo de tóxicos e hierarquia, São Paulo: USP. Velho, Gilberto (org.), 1985, Desvio e Divergência. Uma crítica da Patologia Social, Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editor. Velho, Gilberto, 1987 (1981), Individualismo e Cultura. Notas para uma antropologia da
sociedade contemporânea, Rio de Janeiro: Zahar Editores. Velho, Gilberto, 1989, (1973) A Utopia Urbana. Um estudo de antropologia social, Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editor. Velho, Gilberto, 1994, Projecto e Metamorfose. Antropologia das sociedades complexas, Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editor. Velho, Gilberto (org.), 1999, Antropologia Urbana. Cultura e Sociedade no Brasil e em Portugal,
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. Velho, Gilberto e Alvito, Marcos (orgs.), 1996, Cidadania e violência, Rio de Janeiro: Editora
UFRJ /Editora FGV Velho, Otávio Guilherme (org.), 1987, O Fenómeno Urbano, Rio de Janeiro: Editora Guanabara. Verkuyten, Maykel, 1991, «Self-Definition and Ingroup Formation among Ethnic Minorities in
the Netherlands» in The Journal of Social Psychology, vol. 54, nº 3, pp. 280-286. Verkuyten, Maykel 1992, «Ethnic Group Preferences and the Evaluation of Ethnic Identity
435
Among Adolescents in the Netherlands» in The Journal of Social Psychology, nº 132 (6), pp.741-750.
Veyne, P.; Vernant, J. P.; Dumont, Luis et alli, 1987, Indivíduo e Poder, Lisboa: Edições 70. Vianna, Hermano, 1988, O mundo funk carioca, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. Vianna, Hermano (org.) 1997, Galeras Cariocas. Territórios de conflitos e encontros culturais,
Rio de Janeiro: Editora UFRJ. Vieillard-Baron, Hervé‚ 1994, Banlieue, Ghetto Impossible?, Saint-Étienne: Éditions de l'Aube. Vieira, Lopes, 1989, Delfim Guimarães. O Poeta da Amadora, Amadora: Câmara Municipal da
Amadora. Vincent-Buffault, A., 1995, L' Exercice de l'amitié : pour une histoire des pratiques amicales aux
XVIII et XIX siécles, Paris: Seuil. Wacquant, Loic J.D.,1993, «De l' Amérique comme utopie à l' envers» in Bourdieu, Pierre, La
Misére du Monde, Paris: Éditions du Seuil, pp. 263-278. Wallet, Jean-William, 1999, «La communication interculturelle: dialogue de malentendants sans
malantendus» in Tariq, Tagi (dir.) Les Territoires de L’identité, Paris: L’Harmattan. Wateau, Fabienne (org.), 2001, «La Ville Sensible. Recherches en Anthropologie au Portugal» in
Revue de l'association 1901, nº7. Waters, Mary C.,1994, «Ethnic and Racial Identities of Second-Generation Black Immigrants in
New York City», in IMR, Vol. XXVIII, nº 4, pp.795-820. Weber, Max, 1958 (1921), The City, New York & London: The Free Press. Wellman, B., 1992, «Men in networks. Private communities, domestic friendships», in Nardi,
P.M. (ed.), Men’s friendships, Newbury Park-Londres:Sage Publications, pp.74-114. Wendel, Helena, 1994, Cenas Juvenis. Punks e darks no espectáculo urbano, São Paulo: Scritta. Wenden, Catherine Withol de, 1999, L’Immigration en Europe, IIAP, Paris: Bibliothéque sur
Communauté Européene. Whyte, William Foote, 1981 (1943), Street Corner Society: The Social Structure of na Italian
Slum, Chicago: The University of Chicago Press. Whyte, William Foote, 1984, Learning From the Field: A Guide From Experience, Beverly Hills:
Sage Publications Willis, Paul, 1977, Learning to Labour: How Working-Class Kids Get Working-Class Jobs,
London: Saxon House. Willis, Paul, 1978, Profane Culture, London: Routledge and Kegan Paul.
436
Willis, Paul, 1990, Common Culture: Symbolic Work at Play in the Everyday Cultures of the Young, Boulder: Westview Press.
Willmott, P., 1987, Friendship Networks and Social Support, Londres: Policy Studies Institute. Wilson, Richard, 1993, «Anchored Commmunities: Identity and History of the MAYA-
QÉEQCHI» in Man, nº28, pp. 121-138. Wirth, Louis, 1928, The Ghetto, Chicago: The University of Chicago Press Wirth, Louis, 1987 (1938), «O urbanismo como modo de vida», in Velho, Otávio (org.), O
Fenómeno Urbano, Rio de Janeiro: Editora Guanabara, pp. 90-113. Wolf, Daniel R., 1991, The Rebels. A Brotherhood of outlaw Bikers, Toronto: University of
Toronto Press. Wolf, Eric R., 1999 (1966), «Relaciones de parentesco, de amistad y de patronazo en las
sociedades complejas» in Banton, Michael (comp.), Antropología Social de las Sociedades Complejas, Madrid: Alianza Editorial.
Wolff, Éliane,1991, Quartiers de Vie. Approches ethnologique des populations défavorisées de
l’île de la Réunion, Paris: Meridiens Klincksieck. Wulff, Helena, 1988, «Twenty Girls. Growing-up, Ethnicity and Excitement in a South London
Microculture» in Social Anthropology, Estocolmo: Stockholm Studies. Wulff, Helena, 1992, «New mix, new meanings» in Palmgren, C., K.L. and Bolin, G. (eds.),
Youth Culture, Stockholm: Youth Culture at Stockholm University Ethnicity. Zaluar, Alba, 1984, «Teoria e Prática do Trabalho de Campo: alguns problemas» in Série
Antropológica, Fundação Universidade de Brasília. Zaluar, Alba, 1997, «Gangues, Galeras e Quadrilhas: globalização, juventude e violência» in
Vianna, Hermano (org.), Galeras Cariocas. Territórios de conflitos e encontros culturais, Rio de Janeiro: UFRJ, pp.17-57.
Zaluar, Alba e Alvito, Marcos (org.), 1998, Um Século de Favela, Rio de Janeiro: Fundação
Getúlio Vargas. Zorbough, Harvey W., 1983 (1929), The Gold Cost and the Slum, Chicago: University of
Chicago Press.
14
Anexo II | 6
A Família Pina
Geneologia da família ‘Pina’
A partir de informações recolhidas junto da Alcinda Pina e o irmão David
Pina, foi possível reconstruir o mapa geneológico da família ‘Pina’ ao longo de cinco
gerações. Contudo, não foi nosso objectivo inicial fazer o estudo exaustivo desta
família nem do processo migratório que os seus elementos protagonizaram, o que só
por si daria um excelente material etnográfico. Foi ao longo dos dois anos de trabalho
de terreno que esta família ganhou lenta mas segura importância para a compreensão
da origem, consolidação e ambiente do bairro Estrela d’África. Sendo assim, por vezes
os dados são escassos relativamente a certos parentes, coincidindo com o afastamento
destes em termos geográficos porque emigraram para os Estados Unidos da América
ou para a Holanda. Prevalece, contudo, a presença de familiares em Portugal,
sobretudo na Amadora ou concelhos limítrofes.
Comecemos, pois, pelo primeiro nível geneológico, isto é, pelos avós de Ego.
O avô paterno (1) é desconhecido, por isso, é a avó paterna, Maria de Pina
(2), conhecida pelo nominho ‘Babuca’, que desempenha um papel central na família.
Maria de Pina era uma ‘sampadjuda’ de gema porque nasceu em Nossa Senhora do
Monte, Ilha Brava. Porém, veio com os filhos para Portugal e viveu no Estrela
d’África até falecer com 96 anos de idade.
Desta união nasceram quatro filhos, dois rapazes (7 e 12) e duas raparigas (9
e 11).
O avô materno de Ego, Augusto de Barros (4) era natural da Ilha do Fogo.
15
A avó materna, Eugénia Lopes (5) era natural da Ilha Brava. Teve uma
primeira união com um homem ‘badio’ (3) da qual resultou uma filha (15) e da união
com Augusto de Barros (4) nasceram três filhas (13, 17 e 19).
No segundo nível geneológico podemos considerar os tios e tias patrilaterais e
matrilaterais, deixando para o fim os pais de Ego.
Assim, temos do lado do pai de Ego os seguintes tios e tias:
O tio paterno de Ego, Fortunato dos Santos (7) tem naturalidade cabo-
verdiana e 67 anos de idade. È casado com uma mulher cujo nome é desconhecido (6)
e tem três filhas com nomes igualmente desconhecidos (20, 21 e 22). Esta família
emigrou para os Estados Unidos da América, para Pataquete, onde vivem até hoje.
A tia paterna de Ego, Zulmira dos Santos (11), conhecida pelo nominho
‘Tutuca’, tem 58 anos, naturalidade cabo-verdiana, Ilha Brava. Depois de ter vivido
nos bairros das Fontaínhas e Estrela d’ África, foi viver para Pataquete, EUA onde
residia o irmão Fortunato (7).
Do seu casamento de um homem do qual se desconhece o nome (10)
nasceram três filhos (31, 32,33) dos quais também não temos informações para além
do facto de viverem nos EUA.
A tia paterna de Ego, Idília Pina Faria (9), conhecida pelo nominho ‘Titia’,
tem 63 anos de idade, nasceu em 1 de Abril de 1939, na Ilha Brava. Foi a primeira
mulher a emigrar em 71/72, como referimos atrás, e depois de viver nas Fontaínhas,
fixou-se, em 1975 no local que viria a transformar-se em Bairro Estrela d’África.
Do casamento com um homem do qual se desconhece o nome (8) teve quatro
filhas (24, 26, 29 e 30), primas de Ego.
A filha Lucília Pina Gomes (24), com o nominho de ‘Didi’, nasceu em 10 de
Janeiro de 1967, na Ilha Brava e vive desde 1981 no bairro Estrela d’África. Casou
com Joaquim Fortes Aires (23), conhecido por ‘Quim’, de quem teve um filho, o
Bruno Pina Fortes (64), que nasceu em 9 de Maio de 1982, em Lisboa, e vive desde
essa data no bairro estrela d’África; a filha, Sandra Sofia Pina Fortes (65) nasceu a 25
16
de Outubro de 1992 e vive no bairro desde essa data. Apesar de terem nascido em
Portugal têm nacionalidade cabo-verdiana.
Paula Pina Gomes (26) é outra das primas de Ego que teve uma primeira
união com Arlindo Soares (27), cabo-verdiano de origem, de quem teve um filho,
Marcos Pina Soares (69). Viveram na Reboleira. Da segunda união com Alves Pina
(25), teve três filhas Alexandra Lee (66), Ashley Lee (67) e outra cujo nome é
desconhecido (68). Nasceram nos Estados Unidos da América e vivem actualmente no
Cacém.
Maria de Fátima Pina Gomes (29), natural da Brava, nasceu a 20 de Janeiro
de 1963. Casou-se com Manuel Fortes Aires (28) de quem teve duas filhas, a Cátia
(70) e a Carla (71), as quais vivem com os pais em S. Marcos, no Cacém.
Por último, Maria Isabel Pina Gomes (30), conhecida pelo nominho de ‘Zai’,
nasceu em Portugal, em 14 de Dezembro de 1975 e vive actualmente nos EUA.
As tias matrilaterais de Ego são as seguintes:
A tia materna Maria Lopes (15) nasceu na Brava e tem hoje 75 anos. Vive na
Holanda em Zaandam.
Da união com um homem (14) do qual não temos informações, teve três
filhas: Júlia (48), Eva (49) e Eugénia (50) , todas residentes na Holanda, e um filho
José (51), que vive em Portugal e trabalha nos CTT.
Maria Lopes em três meias irmãs entre as quais a mãe de Ego.
A tia materna Elci Lopes de Barros Gomes (17) tem 62 anos e é natural da
Brava. Viveu em Angola, mais precisamente em Huambo, e hoje reside em Pataquete,
EUA. Da união com Viriato José Gomes (16), que tem 65 anos e é natural da Brava,
teve sete filhos, sendo três raparigas (52, 54 e 57) e quatro rapazes ( 53, 55, 56 e 58).
As primas e os primos de Ego, filhas e filhos da tia Elci são os seguintes:
Fátima Barros Gomes (52), mais conhecida por ‘Fatinha’, nasceu em 13 de
Outubro de 1978, na Ilha Brava.
Samuel Barros Gomes (53) nasceu em 2 de Janeiro de 1972 em Huambo,
Angola e foi viver para Cabo Verde em 1975.
17
Rita Barros Gomes (54) nasceu em Novembro de 1965 em Huambo, Angola;
vive desde 1988 em Pataquete, EUA.
Augusto Barros Gomes (55), com o nominho de ‘Guta’, nasceu em 28 de
Março de 1967 em Huambo, Angola; foi viver para Cabo Verde em 1975 e veio para
Portugal em 1993, residindo actualmente no Estrela d’África.
Viriato Barros Gomes (56) nasceu em 7 de Janeiro de 1963 e vive em Nossa
Senhora do Monte, Ilha Brava.
Maria Barros Gomes (57) nasceu em 8 de Março de 1959 na Ilha Brava,
residiu no Estrela d’África e mora, actualmente, em Zaandam, Holanda.
José Barros Gomes (58) nasceu em 18 de Abril de 1968 no Huambo, Angola,
mas vive em Cabo Verde desde 1975.
A tia de Ego Berta Lopes da Silva (19) é natural da Brava e está a residir nos
EUA há mais de dez anos. Do casamento com um homem (18) do qual não temos
quaisquer informações, nasceram cinco filhos, sendo dois rapazes Pedro Lopes da
Silva, conhecido pelo nominho ‘Pépé’ (59) e Augusto Lopes da Silva (60) e três
raparigas Maria Lopes da Silva (61), uma filha conhecida pelo nominho de ‘Zinha’
(62) e outra com nome desconhecido (63).
Vamos fixar-nos agora nos pais de Ego, irmãos e irmãs, sobrinhos e sobrinhas
e filhos destes.
Os pais de Ego são ambos naturais da Ilha Brava e emigraram para Portugal
nos anos 70.
O pai de Ego, João de Pina (12), conhecido na família e vizinhança pelo
nominho de ‘Pai’, nasceu na Ilha Brava em 12 de Março de 1933. Em 9 de Janeiro de
1974, João de Pina, veio juntar-se à irmã Idília e ao filho David, após ter deixado
para trás a freguesia da Nossa Senhora do Monte, em Cabo Verde; fixou-se
inicialmente no bairro das Fontainhas e, passado pouco tempo, foi habitar uma casa de
madeira na zona que viria a ser o bairro Estrela d’África.
18
A mãe de Ego, Júlia Lopes de Barros Pina (13), nasceu em 12 de Dezembro
de 1933 na freguesia de Nossa Senhora do Monte, na Ilha Brava. Fixou-se no estrela
d’África em 1977.
Desta união nasceram três rapazes (34, 38 e 40) e cinco raparigas ( 37, 41, 43,
45 e 47).
Entre 1971 e 1991 e por vagas sucessivas, todos os elementos da família
emigraram para Portugal, vindo a fixarem-se no espaço que hoje constitui o bairro
Estrela d’África, juntando-se aos familiares que aqui tinham preparado as condições
de alojamento básicas para que a família voltasse a estar reunida. A mãe de Ego veio
para Portugal após a independência de Cabo Verde, em 1977, trazendo consigo alguns
filhos, incluindo Ego com quatro anos.
Seguindo as datas de emigração de Cabo Verde para Portugal, verificamos
que todos os irmãos de Ego vieram instalar-se na Amadora.
O primeiro irmão de Ego a emigrar para Portugal foi David Barros de Pina
(34), nascido em 15 de Março de 1957, na Ilha Brava. Como dissemos, David veio
para Portugal em 1973 e foi residir com uma tia paterna no bairro das Fontaínhas.
Devido ao mau ambiente neste bairro causado pelos desacatos permanentes entre
‘badios’ e ‘sampadjudos’ decidiu ir viver numa casa de madeira no futuro Estrela
d’África. Um ano depois, em 1975, a companheira, Maria Gonçalves Vieira (35),
nascida em 1946, veio para Portugal fixando-se já no Bairro Estrela d’África. Ao
longo da vida tem trabalhado nas limpezas como a maioria das mulheres cabo-
verdianas. Viveram neste bairro até 2001, ano em que compraram um andar e foram
viver para o Cacém.
Como vimos, David Pina trabalhou nas obras quando chegou a Portugal mas
rapidamente conseguiu um emprego diferente da maioria dos cabo-verdianos:
empregou-se nos CTT onde ainda hoje é funcionário. Numa entrevista feita em 1999,
no início do trabalho de campo no Estrela d’África, David Pina refere-se à sua chegada
ao bairro da seguinte forma:
19
Quando cheguei cá só estava uma casinha...isto aqui era uma lagoa, era uma ribeira
que ainda hoje passa por baixo das nossas casas; fizemos um canal e a água passa por
baixo...havia uma ribanceira perto da casa da Alcinda (Ego)... era uma guarita do tipo
militar, uma observação militar e ainda está lá por detrás de algumas casas’ [David
Pina]
Quando lhe perguntámos se trabalha nas obras respondeu: ‘Não, por acaso tive
sorte, depois de três meses de patrão, entrei nos Correios... cheguei cá com 16 anos de
idade...nasci na freguesia Nossa Senhora do Monte mas registaram-me em S. João
Baptista...éramos da Ilha Brava... por isso a Associação de Moradores deu estes nomes às ruas
e ao largo do bairro’ [David Pina]
Com efeito, em 11 de Fevereiro de 1977 nasce em Lisboa o Nuno Miguel
Gonçalves de Pina (72) que tem nacionalidade portuguesa e vive desde o nascimento
na bairro estrela d’África; da união com Solange Varela (73) tem um filho Henrique
David Pina (96) que nasceu em 2001. Tanto o Nuno como a Solange são membros do
grupo de dança ‘Estrelas Cabo-verdianas’. Hoje vivem na Idanha, em Queluz.
Em 8 Fevereiro de 1978 nasceu o João Manuel Gonçalves de Pina (76) que
tem nacionalidade portuguesa e viveu até recentemente no Estrela d’África com
Elizabete Sofia Pinto (77) de quem tem uma filha com o nome de Iara Maria Pinto
Pina (97). Hoje vivem no Zambujal, na Buraca.
Em 17 de Fevereiro de 1980 nasceu em Lisboa o filho David Gonçalves de
Pina (74), conhecido pelo nominho de ‘Vivi’, que vive actualmente com os pais no
Cacém.
Em Dezembro de 1982 nasce o último filho, o Rui Gonçalves de Pina (75),
um dos bailarinos do grupo ‘Estrelas Cabo-verdianas’. Todos nasceram na
Maternidade Magalhães Coutinho e têm nacionalidade portuguesa. O David e João,
apesar de não serem ‘bailarinos’ acompanham todas as actividades do grupo
‘Estrelas’, dentro e fora dos ensaios semanais no bairro.
20
Desde o nascimento que estes jovens habitam no coração do bairro Estrela
d’África, numa longa rua que tem o nome da freguesia de origem dos ‘Pina’ – Rua
Nossa Senhora do Monte – numa zona conhecida também por ‘bairro dos solteiros’.
Em 1977 a mãe de Ego, Júlia barros Pina (13 ) veio juntar-se ao ‘patriarca da
família’ João de Pina (12), na companhia do filho António Barros de Pina, (40),
nascido em 10 de Dezembro de 1971, de José Barros de Pina (38) e das filhas
Elizabete Barros de Pina (47), Eugénia Barros de Pina (43) e Alcinda Barros de Pina
(41), Ego no diagrama da presente geneologia. Ainda hoje a Alcinda vive com esse
irmão na casa dos pais, uma espécie de casa-mãe, para onde confluem todos os
parentes, vizinhos e amigos.
Em 1976, Maria João Lopes de Pina (37), a irmã mais velha de Ego, nascida a
1 de Fevereiro de 1958, conhecida pelo nominho ‘Bica’, foi viver para o Estrela
d’África mas logo no ano a seguir, em 1977 transferiu-se para Campolide, para a 3ª
Rua Particular do Bairro da Serafina, onde permaneceu até 1979, data em que voltou
para o bairro.
O marido José Fortes Santos (36), nascido a 10 de Julho de 1955, conhecido
pelo nominho de ‘Djidjinho’ veio juntar-se à família já instalada no Estrela d’África e,
nos anos subsequentes, tiveram quatro filhos: Maria Teresa de Pina Santos (80), que
nasceu a 3 de Dezembro de 1978 , José Alberto de Pina Santos (78), com o nominho
de Zé Gato, ambos bailarinos com nacionalidade portuguesa, Luísa Helena Pina
Santos (79), conhecida por ‘Lena’, nascida a 5 de Abril de 1983, de nacionalidade
cabo-verdiana e Anabela de Pina Santos (81), cabo-verdiana, nascida a 14 de
Setembro de 1989 . A Teresa e o José Alberto (Zé Gato) são dois bailarinos do grupo
‘Estrelas Cabo-verdianas’ e as irmãs acompanham as actividades do grupo.
A irmã de Ego, Elisabete Barros de Pina (47), conhecida pelo nominho
‘Elisa’ nascida em 20 de Setembro de 1969, tem nacionalidade cabo-verdiana e veio
para Portugal em 1977 mas só em 1978 é que vem viver para o Estrela d’África. O
21
marido, João Augusto Garcia dos Santos (46), com o nominho de ‘Néné’, veio dois
anos mais tarde, em 1980, data em que se fixou neste bairro.
Este casal teve apenas dois filhos Ricardo Jorge Pina Garcia dos Santos (94),
que nasceu em 1 de Setembro de 1990, tem nacionalidade cabo-verdiana e Cátia
Eugénia Pina Garcia dos Santos (95), nascida a 13 de Janeiro de 1994 e com
nacionalidade cabo-verdiana . Esta família, à semelhança dos restantes grupos
domésticos, fixou-se no bairro Estrela d’África e aí vive até hoje.
A irmã de Ego, Deolinda Barros de Pina Cardoso (45), com o nominho de
‘Duca’, nasceu em 1 de Março de 1961, tem nacionalidade cabo-verdiana e vive no
bairro estrela d’África desde 1981. O marido Bartolomeu Lopes Cardoso (44),
conhecido pelo nominho de ‘Agostinho’, nasceu em 27 de Março de 1958, tem
nacionalidade cabo-verdiana e também vive no Estrela dÁfrica desde 1981. Embora a
Deolinda tivesse dois filhos do primeiro casamento (91 e 92) que já faleceram, este
casal teve duas filhas: Mónica Sofia Pina Cardoso (90) que nasceu em 15 de
Novembro de 1985, tem nacionalidade cabo-verdiana e vive desde que nasceu no
Estrela d´África; da união com Elson Casimiro Pina (89) tem uma filha (99). Maria
Joana de Pina Cardoso (93) nasceu a 9 de Fevereiro de 1983, tem nacionalidade cabo-
verdiana e vive no EA desde que nasceu, desde 1983.
José Domingos Barros de Pina (38), conhecido por ‘Zé’ , nasceu em 1 de
Dezembro de 1963, tem nacionalidade cabo-verdiana e fixou-se no bairro em 1977;
mais tarde casou-se com Domingas Lobo Delgado de Pina (39), nascida em 30 de
Dezembro de 1962, com nacionalidade cabo-verdiana, fixou-se com os dois filhos no
bairro Estrela d’África em 1990 . Desta união nasceram dois filhos: a Sílvia Filipe
Delgado Pina, nascida a 25 de Julho de 1988 (83) e Rafael José Delgado Pina (82),
com o nominho de ‘Rafa’, que nasceu em 16 de Maio de 1990. Hoje esta família vive
em Queluz.
A irmã de Ego já falecida, Eugénia Barros de Pina (43), era conhecida pelo
nominho de ‘Geninha’, fixou-se no bairro em 1977; o marido, Avelino Andrade
Tomás Delgado (42) nascido em 15 de Setembro de 1957, com nacionalidade cabo-
verdiana e residente no EA desde 1991.
22
Este casal teve quatro filhos: Domingas Adília Pina Andrade(84), com o
nominho de ‘Minguinha’, que nasceu em 26 de Abril de 1980, tem nacionalidade
portuguesa e viveu no Estrela d’África desde 1991 até 2001, data em que partiu para
os EUA; outra das filhas é Júlia Arlete Pina Andrade (86), com nacionalidade cabo-
verdiana, vive actualmente em Rio de Mouro com Gastão Cabral (85), cabo-verdiano,
que vivia anteriormente na Buraca; desta união nasceu Mauro Alexandre (98) em 31
de Agosto de 2001.
André Tomás Pina Delgado(87), nasceu a 7 de Fevereiro de 1985, tem
nacionalidade vabo-verdiana e vive no Estrela d’África desde 1991; Helder Alexandre
Pina Delgado (88) nasceu a 26 de Setembro de 1986, tem nacionalidade cabo-verdiana
e tel como o irmão vive no estrela d’África desde 1991.
António Barros de Pina (40), conhecido pelo nominho de ‘Toy’, nasceu em
10 de Dezembro de 1971, tem nacionalidade cabo-verdiana e vive no bairro desde
1977. È solteiro e vive com a Alcinda na casa dos pais.
Alcinda Barros de Pina (41), Ego, é conhecida pelo nominho de ‘Chinda’ e
nasceu em 10 de Outubro de 1973; tem nacionalidade cabo-verdiana e vive no Estrela
d’África desde 1977, como referimos anteriormente.
Pelo exposto, o número de irmãos de Ego são sete, três rapazes e quatro
raparigas, sendo o número total de sobrinhos dezoito, nove sobrinhos e nove
sobrinhas.
Uma das características mais marcantes da família ‘Pina’ é a forte coesão que
mantiveram ao longo da cadeia migratória. A entre-ajuda dos seus membros ficou bem
expressa na forma como se fixaram no bairro e como construíram as suas habitações,
tecendo uma apertada malha contínua que deu origem a ruas, becos e largo com uma
toponímia que remete para as terras e ilhas de origem. Estes ‘sampadjudos’ formaram,
assim, autênticos territórios de identidade que se reforçaram ao nível dos sítios, isto é,
os lugares onde passam os tempos de lazer; estes espaços transformam-se numa
espécie de ‘casas regionais’, se nos é permitida a analogia com o comportamento dos
migrantes internos. Como vimos, também por cá mantêm e criam os ‘nominhos’ ou
23
‘nomes de casa’, os tão curiosos hipocorísticos de que nos fala Gabriel Mariano
(1991:85-92) que mais não são do que irrupção dessa personalidade regional que
reforça o culto da vizinhança tão caracteristicamente cabo-verdiano
26
Anexo II | 7A
id nome nominho grau
parentesco resid. Bairro
1 desconhecido avô paterno
2 Maria de Pina Babuca avó paterna sim
3
4 Augusto de Barros avô materna
5 Eugénia Lopes avó materna
6 desconhecido tia paterna
7 Fortunato dos Santos tio paterno
8 desconhecido
9 Idília Pina Faria Titia tia paterna sim
10 desconhecido
11 Zulmira dos Santos Tutuca tia paterna sim
12 João de Pina pai sim
13 Júlia Lopes de Barros Pina mãe sim
14 desconhecido
15 Maria Lopes Tia Bibi tia materna
16 Viriato José Gomes tio
17 Elci Lopes de Barros Gomes tia materna
18 desconhecido
19 Berta Lopes de Silva tia materna
20 desconhecido prima
21 desconhecido prima
22 desconhecido prima
23 Joaquim Fortes Aires marido sim
24 Lucília Pina Gomes Didi prima sim
25 Alves Pina 2º marido
26 Paula Pina Gomes prima sim
27 Arlindo Soares 2º marido
28 Manuel Fortes Aires marido sim
29 Maria de Fátima Pina de Gomes prima sim
30 Maria Isabel Pina Gomes Zai prima sim
27
31 desconhecido primo
32 desconhecido primo
33 desconhecido primo
34 David Barros de Pina irmão
35 Maria Gonçalves Vieira cunhada
36 José Fortes Santos Djidjinho cunhado sim
37 Maria João Lopes de Pina Bica irmã sim
38 José Domingos Barros Pina Zé irmão sim
39 Domingas Lobo Delgado de Pina Minguinha cunhada sim
40 António Barros de Pina Toy irmão sim
41 Alcinda Barros de Pina Chinda EGO sim
42 Avelino Andrade Tomás Delgado cunhado sim
43 Eugénia Barros de Pina Geninha irmã sim
44 Bartolomeu Lopes Ribeiro Agustinho cunhado sim
45 Deolinda Barros Pina Cardoso Duca irmã sim
46 João Augusto Garcia dos Santos Néné cunhado sim
47 Elisabete Barros de Pina Elisa irmã sim
48 Júlia prima
49 Eva prima
50 Eugénia prima
51 José primo
52 Fátima Barros Gomes Fátinha prima
53 Samuel Barros Gomes primo
54 Rita Barros Gomes prima
55 Augusto Barros Gomes Guta primo sim
56 Viriato Barros Gomes Vivi primo
57 Maria Barros Gomes prima sim
58 José Barros Gomes Djey primo
59 Pedro Lopes da Silva Pépe primo
60 Augusto Lopes da Silva primo
61 Maria Lopes da Silva prima
62 Zinha prima
63 desconhecido prima
64 Bruno Pina Fortes primo sim
65 Sandra Sofia Pina Fortes prima sim
66 Alexandre Lee prima
67 Ashley Lee prima
28
68
69 Marcos Pina Soares primo
70 Cátia prima
71 Carla prima sim
72 Nuno Miguel Gonçalves de Pina sobrinho sim
73 Solange Varela mulher sim
74 David Gonçalves de Pina Vivi sobrinho sim
75 Rui Gonçalves de Pina sobrinho sim
76 João Manuel Gonçalves de Pina sobrinho sim
77 Elisabete Sofia Pinto mulher sim
78 José Alberto de Pina Soares sobrinho sim
79 Luisa Helena Pina Santos sobrinha sim
80 Maria Teresa de Pina Santos sobrinha sim
81 Anabela de Pina Santos sobrinha sim
82 Rafael José Delgado Pina Rafa sobrinho sim
83 Silvia Filipe Delgado Pina sobrinha sim
84 Domingues Adília Pina Andrade Minguinha sobrinha sim
85 Gastão Cabral marido sim
86 Júlia Arlete Pina Andrade sobrinha sim
87 André Tomás Pina Delgado sobrinho sim
88 Helder Alexandre Pina Delgado sobrinho sim
89 Elson Casimiro Pina marido sim
90 Mónica Pina Cardoso sobrinha sim
91 desconhecido sobrinho
92 desconhecido sobrinho
93 Maria Joana de Pina Cardoso sobrinha sim
94 Ricardo Jorge Pina Garcia dos Santos sobrinho sim
95 Cátia Eugénia Pina Garcia dos Santos sobrinha sim
96 Henrique David sobrinho neto
97 Yara Maria Pinto Pina sobrinha neta sim
98 Mauro Alexandre sobrinho neto
99 desconhecido
100 Denise Cardoso sobrinha neta
139
Bibliografia
Abou, Sélim, 1981, L'Identité Culturelle. Relations interethniques et problèmes d'acculturation,
Paris: Éditions Anthropos. Abramo, Helena, 1994, Cenas Juvenis, São Paulo: Scritta. Agier, Michel, 1996, «Les savoirs urbains de l'anthropologie» in Enquête, nº4, pp. 35 - 58. Agier, Michel, 1997, «Anthropologues en dangers. L’engagement sur le terrain» in Les Cahiers
de GradHiva, nº30. Agier, Michel, 1998, «Lugares e redes. As mediações da cultura urbana» in Niemeyer, Ana Maria
e Godoi, Emília de (org.), Além dos Territórios. Para um diálogo entre a Etnologia Indígena, os estudos rurais e os estudos urbanos, Rio de Janeiro: Mercado IFTDAS.
Agier, Michel, 1999, L'invention de la ville. Banlieues, towships, invasions et favelas, Paris:
Éditions de l'Aube. Albuquerque, Rosana, Ferreira, Lígia Évora, Viegas, Telma, 2000, O Fenómeno Associativo em Contexto Migratório. Duas Décadas de Associativismo de Imigrantes em Portugal, Oeiras: Celta Editora. Allan, G., 1989, Friendship, Boulder: Westview Press. Almeida, João Ferreira, 1990, «Portugal. Os próximos 20 anos.» in Valores e Representações
Sociais, VIII Vol., Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian. Almeida, João Ferreira, Capucha, Luís Antunes, Costa, António Firmino et alli, 1992, Exclusão
Social. Factores e Tipos de Pobreza em Portugal, Oeiras: Celta Editora. Alvarez, Reguillo, L. y otros 1982, Plazas et sociabilité en Europe et Amerique Latine, Paris:
Boccard. Alvito, Marcos, 1998, «Um-bicho-de-sete-cabeças» in Zaluar, Alba e Alvito, M. (org.), Um
século de favela, Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, pp. 181-208. Amit-Talai, Vered and Wulff, Helena (ed.), 1995, Youth cultures, a cross-cultural perspective,
New York and London: Routledge. Antunes, Marina 1991, Etnicidade Urbana e Marginalização. Um olhar sobre a comunidade cabo-verdiana na Amadora, Tese de Licenciatura, Lisboa:FCSH-Universidade Nova de Lisboa .
140
Antunes, Marina, 1994, «Relações Inter-étnicas. O Projecto das Minorias Étnicas da Autoridade Local da Amadora – uma experência em aberto» in Relatório do Seminário da Elaine sobre Acções de Combate ao Racismo pelas Autoridades Locais, Barcelona, pp. 51-54. Antunes, Marina, 1996, «O Município da Amadora e o Desafio Intercultural» in Notícias da
Amadora, nº 1261 de 11 de Julho. Antunes, Marina, 1997, «O Desenvolvimento Local e as Comunidades Étnicas e de Imigrantes»
in Revista Poder Local , nº 130, Abril/Julho, pp. 87-92. Antunes, Marina, 1998, «Contributo para a reflexão sobre as Questões da Segurança Humana» in
Dossier Anti Racista, nº 2, pp. 27-30. Antunes, Marina, 1999, «A Integração Social de Jovens em Meio Urbano – o contributo do Programa Urban da Amadora » in Actas do Seminário “El Medio Urbano como Marco
de Inserción Sócio-laboral”, Córdoba, pp. 63-70. Antunes, Marina, 2001, «Bairros e contextos locais. Estrela d'África, um bairro de fronteiras?» in Pinheiro, M., Baptista, L., Vaz, M.J. (org.), Cidade e Metrópole. Centralidades e Marginalidades Oeiras:Celta Editora, pp. 219-228. Antunes, Marina, 2001, «Nha grupu e nha alma (o grupo é a minha alma): amizade e pertença entre jovens do bairro Estrela d’África» in Cidade e Diversidade: Etnografias Urbanas em Diálogo (no prelo). Arcas, Manuel Moreno, 1975, «Ferdinand Tönnies: el conflicto entre comunidad y sociedade» in
Ethnica, nº10, pp. 87-98. Ariés, Phillipe, 1978, «La famille et la ville» in Esprit, vol.2, nº1, pp.2-12. Aschenbrenner, Joyce and Collins, Lloyd (eds), 1978, Processes of Urbanism, The Hague:
Mouton Publishers. Augé, Marc (dir.), 1978 (1975), Os Domínios do Parentesco, Lisboa: Edições 70. Augé, Marc, 1994, Le sens des autres. Actualité de l'anthropologie, Paris: Fayard. Augé, Marc, 1994, Não-Lugares, Introdução a uma antropologia da sobremodernidade,
Amadora: Bertrand Editora. Aymard, M., 1986, «Amitié et convivialité» in Ariés, P. et Duby, G. (eds.), Histoire de la vie
privée Tome 3, Paris: Seuil. Banks, Marcus, 1997 (1996), Ethnicity: Anthropological Constructions, London and New York:
Routledge.
141
Banton, Michael, 1968 (1965), The Relevance of Models for Social Anthropology, Tavistock Publications.
Baptista, António J. Mendes e Martinho, Maria Albina (dir.), 1996, Programas Urban e
Reabilitação Urbana. Revitalização de Áreas Urbanas em Crise, Lisboa: Direcção-Geral
do Desenvolvimento Regional (DGDR). Baron, S., 1989, «The Resistence and Its Consequences:The Street Culture of Punks» in Youth
and Society, nº 21, nº2, pp.207-237. Barth, Fredrik (comp.), 1976 (1969), Los Grupos Étnicos y sus Fronteras. La organización social de las diferencias culturales, México: Fondo de Cultura Economica (FCE). Barthes, Roland, 1981 (1967), O Sistema da Moda, Lisboa: Edições 70. Base de Dados do Gabinete do Programa Especial de Realojamento (GPER) da Câmara
Municipal da Amadora, 1994. Base de Dados do Sistema de Informação Geográfica (SIG) do Departamento de Administração
Urbanística (DAU) da Câmara Municipal da Amadora, 1997. Bates, Daniel G., 1994, «Minorities, Identity and Politics in Bulgaria» in Identities. Global
Studies in Culture and Power, Vol.1, nºs 2-3, pp. 201-221. Baumann, Gerd, 1998 (1996), Contesting Culture Discourses of Identity in Multi-ethnic London,
Cambridge: Cambridge University Press. Baumann, Gerd, 2001 (1999), El enigma multicultural, Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica,
S.A.. Baumann, Zygmunt, 1992, Intimations of Postmodernity, London: Routledge. Becker, Howard, 1970, Los extrãnos.Sociologia da la desviación, Buenos Aires: Amarrortu. Begag, Azouz, 1995, Espace et Exclusion. Mobilités dans les quartiers périphériques d' Avignon,
Paris: L'Harmattan. Benevolo, Leonardo, 1997, O Último Capítulo da Arquitectura Moderna, Lisboa: Edições 70. Benocet, Guilboté O., 1979, «Vers une analyse stratégique de la sociabilité» in Archives de
l'OCS, nº3, pp. 7-21. Berger, Peter I. e Luckmann, Thomas, 1973 (1966), A Construção Social da Realidade,
Petrópolis: Vozes. Bidart, Claire, 1997, L'amitié, un lien social, Paris: Éditions La Découverte.
142
Bloom, A., 1996, L'Amour et l'Amitié, Paris: Éditions de Fallois. Bott, Elizabeth, 1971 (1957), Family and Social Network Roles, Norms and External
Relationship in Ordinary Urban Families, New York: Free Press. Bourdieu, Pierre, 1984, La 'jeunesse' n'est qu'un mot. Questions de sociologie, Paris: Editions du
Minuit. Bourdieu, Pierre, 1993, La Misére du Monde, Paris: Éditions du Seuil. Bourdieu, Pierre, 1994 (1989), O Poder Simbólico, Lisboa: DIFEL. Bourdieu, Pierre, 1999, «Délits d'Immigration» in Actes de la Recherche en Sciences Sociales, nº
129. Brake, Edward, 1983, Comparative Youth Culture, London: Routledge. Brown, Phillips, 1987, Schooling Ordinary Kids: Class Culture and Unemployment, London:
Tavistock Publications. Buckland, Theresa J., 2001 (1999), «Dance in the Field: Theory, Methods and Issues» in Dance
Ethnography, New York: St.Martin's Press, Inc.. Buecher, Hans, 1975, «Ciclos de fiestas y sistemas de comunicación rural-urbana en altiplano boliviano» in Hardoy, Jorge E. E Richard P. Schaedel (comp), Las Ciudades de America Latina y sus areas de influencia a través de la historia. Lima: SIAP Burgess, Robert G., 1997 (1984), A Pesquisa de Terreno. Uma Introdução, Oeiras: Celta Editora. Burke, Peter, 1992, O Mundo como Teatro: Estudos de Antropologia Histórica, Lisboa: DIFEL. Buss, Franleeper, 1985, Dignity: Lower income women tell of their lives and struggles, Ann Arbor: University of Michigan Press. Cabral, João de Pina, 1991, Os Contextos da Antropologia, Lisboa: DIFEL. Cabral, João de Pina, 2000, «A difusão do limiar: margens, hegemonias e contradições» in
Análise Social, nº153, Vol.XXXIV, pp.865-892. Cabral, Manuel Villaverde e Pais, José‚ Machado (coord.), 1998, Jovens Portugueses de Hoje. Resultados do inquérito de 1997, SEJ - Estudos sobre Juventude, nº 1, Oeiras: Celta Editora. Cachada, Firmino (coord.), 1995, Imigração e Associação, Lisboa:Cadernos CEPAC/1. Cachada, Firmino (coord.), 1995, Os Números da Imigração Africana, Lisboa:Cadernos
CEPAC/2
143
Cachin, O, 1996, L'offensive rap, Paris: Gallimard-Découvertes. Callixto, Vasco, 1987, Páginas da História da Amadora, Amadora: Câmara Municipal da
Amadora. Calvo, Tomás, 1995, Crece el racismo, también la solidariedad. Las actividades de jóvenes ante
otros pueblos y cultura, Madrid: Tecnos. Camilleri, Carmel, 1996, «Stimagtisation et stratégies identitaires» in Haumont, N. (éd.) La Ville:
agrégration et ségrégation sociales, Paris: L´Harmattan, pp.85-92 Campbell, Anne, 1984, The Girls in the Gang. A Report from New York City, New York: Basil
Blackward. Camps, Victoria, 1996 (1993), Paradoxos do Individualismo, Lisboa: Relógio d'Água. Cardoso, Ana, 1993, A Outra Face da Cidade. Pobreza em Bairros Degradados de Lisboa,
Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa. Cardoso, Ruth (org.), 1997 (1986), A Aventura Antropológica. Teoria e Pesquisa, São Paulo: Paz
e Terra. Caro, Baroja J., 1966, «La ciudad y el campo o una discusion sobre viejos lugares comunes» in
La ciudad y el campo, Alfaguara, pp.11-36. Carreira, António, 1984 (1977), Cabo Verde (Aspectos Sociais. Secas e fomes do século XX),
Biblioteca Ulmeiro, nº 9, Lisboa: Ulmeiro. Carrión, Fernando y Wollrad, Dorte (comp.),1999, La Ciudad, Escenario de Comunicación,
Quito-Ecuador: FLACSO. Casal, Adolfo Yáñez, 1996, Para uma Epistemologia do Discurso e da Prática Antropológica,
Lisboa: Edições Cosmos. Casal, Adolfo Yáñez, 1997, «Suportes teóricos e epistemológicos do método biográfico» in
Ethnologia, nº 6-8, pp. 87-104. Cecchetto, Fátima, 1996, Galeras funk cariocas: entre o lúdico e o violento, Rio de Janeiro:
Instituto Medicina Social, UERJ. Centro Regional de Segurança Social de Lisboa – DSOIP, 1991, Relatório de Avaliação Final do
Projecto Amadora, Amadora : Fundação Bernard Van Leer. Chaves, Luís, 1999, Da Gandaia ao Narcotráfico, Lisboa: ICS
144
Cheema, Gsabbir, 1985, Researching the urban poor: project implementation in developing countries, Boulder: Westview Press.
Chenoune, F., Poirier, J.F., 1993, Rap et Tags: l'esthétique des banlieues sur la place publique,
Paris: Encyclopédie Universalis. Chesnais, Jean Claude, 1981, Histoire de la Violence, Paris: Pluriel. Chisholm, Lynne, 2000, «Joventut i globalizació: una entesa conjunta, una actuació conjunta» in
Feixa, Carles i Saura, Joan R. (eds.), Joves entre mons – Moviments juvenils a Europa i a Amèrica Llatina, Lleida : Universitat de Lleida. Cicéron, 1995, L'Amitié, Paris: Éditions Mille et une Nuits. Clarke, Austin, 1992, Public Enimies: Police Violence and Black Youth, Toronto: Harper Collins. Coelho, Adolfo, 1995 (1892), Os Ciganos em Portugal. Com um estudo sobre o calão, Lisboa:
D. Quixote. Coelho, António dos Santos, 1982, Subsídios para a História da Amadora, Amadora: Câmara
Municipal da Amadora. Coelho, Fátima, 1996, «Síntese das principais ideias expressas e algumas reflexões» in 1º Encontro dos Programas Urban e Reabilitação Urbana, Porto, Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional (DGDR). Coenen-Huther, Jacques, 1988, «Relations d’amitié, mobilité‚ spatiale et mobilité sociale», in
Espaces et Sociétés‚ nº2, pp.51-65. Cohen, A. K., 1955, Delinquent Boys: The Subculture of the Gang, London: Gollier-MacMillan. Cohen, Abner (ed.), 1974, Urban Ethnicity, London: Tavistock Publications. Cohen, Anthony P. and Fukui, Katsuyosiii (eds.), 1993, Humanising the City? Social Contexts of
Urban Life at the Turn of the Millennium, Edinburgh: Edinburgh University Press. Cohen, Anthony P., 2000 (1985), The Symbolic Construction of Community, London and New
York: Routledge. Cohen, Ronald, 1978, «Ethnicity: Problem and Focus in Anthropology», in Annual Review of
Anthropology, nº7, pp. 379-403. Cohen, S., 1979, Folk Devils and Moral Panics: The Creation of Mods and Rockers, London:
McGibbon and Kee.
145
Coleman, James S., 1961, The Adolescent Society.The Social Life of Teenager and its Impacts on
Education, New York: The Free Press. Coleman, James S. e Huséné, Torsten, 1990, Tornar-se Adulto numa Sociedade em Mutação,
Porto: Afrontamento. Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo (CCRLTV), 1998, Caracterização Física e do Território da Região de Lisboa e Vale do Tejo, Lisboa: Ministério do Equipamento, Planeamento e Administração do Território. Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo (CCRLVT), 2001, Plano
Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PROT-AML). Relatório e Estudos de Fundamentação Técnica, Lisboa: Ministério do Equipamento, Planeamento e Administração do Território. Comissão Técnica Intermunicipal (RCTI), 1997, Relatório, Lisboa: CCRLVT. Connerton, Paul, 1999 (1989), Como as Sociedades Recordam, Oeiras: Celta Editora. Constant, Denis, 1982, Aux Sources du Reggae, Roquevaire: Parentheses Contador, António Concorda, 1998, «Consciência de geração e etnicidade: da segunda geração
aos novos luso-africanos» in Sociologia. Problemas e Práticas, nº26, pp. 57-83. Copperman, Émile, 1961, La génération des bloussons noirs, Paris: Maspero. Copperman, Émile, 1967, Problémes de la Jeunesse, Paris: Maspero. Cordeiro, Graça Índias, 1997, Um Lugar na Cidade. Quotidiano, Memória e Representação no
Bairro da Bica, Lisboa: D. Quixote. Cordeiro, Graça Índias, 2001, «Trabalho e Profissões no Imaginário de uma Cidade: sobre os
“Tipos Populares” de Lisboa» in Etnográfica, Vol. V (1), pp.7-24,. Cordeiro, Graça Índias, e Costa, António Firmino, 1999, «Bairros: contexto e intersecção» in Velho, Gilberto (org.), 1999, Antropologia Urbana. Cultura e Sociedade no Brasil e em Portugal, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, pp. 58-79. Corrigan, P., 1979, Schooling the Smash Street Kids, London: Macmillan. Cortesão, Luiza e Pinto, Fátima (orgs.), 1995, O Povo Cigano: Cidadãos na Sombra. Processos
Explícitos e Ocultos de Exclusão, Porto: Afrontamento. Costa, Alfredo Bruto da e Pimenta, Manuel (coord.), 1991, Minorias Étnicas Pobres em Lisboa,
Lisboa: Câmara Municipal de Lisboa. Costa, António Firmino da, 1985, «Espaços urbanos e espaços rurais: um xadrez em dois
tabuleiros», Lisboa: Análise Social, vol.XXI, ( 3º-4º-5º), nº 87-88-89, pp.735-756.
146
Costa, António Firmino da, 1999, Sociedade de Bairro. Dinâmicas Sociais da Identidade
Cultural, Oeiras: Celta Editora. Costa, António Firmino da e Cordeiro, Graça Índias, 2001, «Lugares fractais no tecido social metropolitano» in Pinheiro, M., Baptista, Luís e Vaz, Maria João (org.), Cidade e Metrópole. Centralidades e Marginalidades, Oeiras: Celta Editora, pp.215-217. Costa, Elisa Maria Lopes da, 1996, O Povo Cigano em Portugal. Da História à Escola, Setúbal:
CIOE/ESE Setúbal. Costa, José Martins Barra da, 1999, Práticas Delinquentes: de uma criminologia do anormal a
uma antropologia da marginalidade, Lisboa: Edições Colibri. Cruces F. & Diaz de Rada, A., 1991, “El intruso en su cuidad. Lugar social del antropológo urbano” in Malestar cultural y conflicto en la sociedad madrileña, II Jornadas de Antropologia de Madrid. Cunha, Isabel Ferin (org.),1996, Os africanos na imprensa portuguesa:1993-1995, Lisboa:
CIDAC. Custódio, Jorge (coord.), 1996, Recenseamento e Estudo Sumário do Parque Industrial da Venda
Nova, Amadora: Câmara Municipal da Amadora. Danzioer, Sheldon and Gottschalk, Peter,1986, «Work, poverty, and the working poor: a
multifaced problem» in Social Science Review, nº60, pp.34-51. Danzioer, Sheldon and Plotnick, Robert D., 1986, «Poverty and Policy: lessons of the last two
decades» in Social Science Review, nº 60, pp.34-51. Davis, Mike, 2001, Más allá de Blade Runner. Control urbano: la ecologia del miedo, Barcelona:
Virus Editorial. De Miguel, Armando, 1979, Los narcisas.El radicalismo cultural de los jóvenes, Barcelona:
Kairós. Delamont, Sara, 1995, Introduction to Social Anthropology of Western Europe, London:
Routledge. Delgado, Manuel, 1995, Cultura e paródia. Las microculturas juveniles en Cataluña, Barcelona:
Mimeo. Desmarrais, Danielle et Grell, Paul (dir.),1986, Les Récits de Vie. Théorie, Méthode et
Trajectoires Types, Montréal (Quebec): Editions Saint-Martin.
147
Direcção-Geral do Desenvolvimento Regional (DGDR), 1996, Programas Urban e Reabilitação
Urbana. Revitalização de Áreas Urbanas em Crise, Lisboa: MEPAT Dubar, C., 1991, La Socialisation, Paris: Arman Colin. Dubet, François, 1985, La galére: jeunes en survie, Paris: Fayard. Dumont, Louis, 1985 (1983), O Individualismo. Uma perspectiva antropológica da ideologia
moderna, Rio de Janeiro: Rocco. Durham, Eunice R, 1984, «Urbanização e migração» in A caminho da cidade. A vida rural e a
migração, São Paulo: Editora Perspectiva, pp.19-42. Durham, Eunice R., 1997 (1986), «A pesquisa antropológica com populações urbanas: problemas
e perspectivas» in Cardoso, Ruth (org.), A Aventura Antropológica, Rio de Janeiro: Paz e Terra, pp. 17-37. Eames, Edwin and Goode, Judith, 1973, Urban poverty in a cross-cultural context, New York:
Free Press. Eames, Edwin and Goode, Judith, 1977, «The Culture of Poverty: A Misapplication of Anthropology to Contemporary Issues» in Eames, Edwin and Goode, Judith, Anthropology of the City. An introduction to Urban Anthropology, Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. Eames, Edwin e Goode, Judith, 1996, «Coping with Poverty. A cross-cultural view of the Poor» in Gmelch, G. and Zenner, W., Urban Life. Readings in Urban Anthropology, Illinois: Waveland Press Inc., pp.378-392. Eggleston, J. , 1976, Adolescence and Community, London: Arnold. Eidheim, Harald, 1976 (1969), «Cuando la identidad étnica es un estigma social», in Fredrick
Barth, Los grupos étnicos y sus fronteras, Mexico: Fondo de Cultura Economica (FCE). Eisenstadt, S.N., 1956, «Ritualized Personal Relations» in Man, vol.96, pp.90-95. Elias, Norbert, 1987 (1969), A Sociedade da Corte, Lisboa: Editorial Estampa Elias, Norbert, 1991, La société des individus, Paris: Fayard. Elias, Norbert and Scotson, J. L., 1994 (1965), Established and the Outsiders. A Sociological
Enquiry into Community Problems, Londres: Sage Publications. Elias, Norbert and Dunning, Eric, 1993, Quest for Excitement, Sport and Leisure in the Civilizing
148
Process, Oxford: Blackwell. Ellen, R. F. (ed.), 1984, Ethnographic Research. A Guide to General Conduct, London:
Academic Press. Emel, Y. et Paradeise, C., 1976, La Sociabilité, Paris: INSEE. Epstein, A. L., 1978, Ethos and Identity.Three Studies in Ethnicity, Londres: Tavistock. Equipa do Plano, 1986, Estudos Sumários de Planeamento, Amadora: Gabinete do Plano Director
Municipal da Câmara Municipal da Amadora. Erikson, Erik H., 1980, Identidad, Juventud y Crisis, Madrid: Taurus. Escal, F., 1979, Espaces sociaux, espaces musicaux, Paris: Payot. Espiritu, Yen de, 1994, «The Intersection of Race, Ethnicity, and Class: The Multiple Identities of Secon-Generation Filipin» in Identities. Global Studies in Culture and Power, Vol. 1 (2-3), pp. 249-273. Esteves, Maria do Céu (org.), 1991, Portugal, País de Imigração, Lisboa: IED-Instituto de
Estudos para o Desenvolvimento. Fast, Julius, 1984 (1970), A Linguagem do Corpo, Lisboa: Edições 70. Feixa, Carles, 1988, La Tribu Juvenil. Una aproximación transcultural a la juventud, Torino:
Edizioni l'Occhiello. Feixa, Carles, 1990, Culturas juvenils, hegemonia i transición social. Una história oral de la
juventut a Lleida (1936-1989), Barcelona: Universidade de Barcelona. Feixa, Carles , 1996, «Antropologia de las Idades» in Prat, Joan y Martínez, Ángel (ed.) Ensayos de Antropología Cultural. Homenaje a Claudio Esteva-Fabregat, Barcelona: Editorial Ariel, pp.319-334. Feixa, Carles, 1999 (1998), De jóvenes, bandas y tribus. Antropologia de la juventud, Barcelona:
Editorial Ariel. Feixa, Carles, 1999, «Ethnologie et Cultures des Jeunes: Des Tribus Urbaines aux Chavos
Banda» in Sociétés, Revue des Sciences Humaines et Sociales, De Boeck Université, nº1. Feixa, Carles and Roig, X., 1994, «Youth Cultures. Anthropology and the Study of European Youth» en McDonald (ed.), in European Comission. Toward and Anthropology of European Union, Brusels: EC
149
Feixa, Carles i Saura, Joan R. (eds.), 2000, «Joves entre dos mons. Moviments Juvenils a Europa i a l'América Latina» in II Forum déstudis sobre la Joventut, Lleida: Secretaria General de Joventut: Universitat de Lleida. Feixa, Carles, Costa, Carmen y Pallarés, Joan (eds.), 2002, Movimientos juveniles en la Península
Ibérica. Graffitis, griotas, okupas, Barcelona: Editorial Ariel. Feixa, Carles, Molina, Fidel y Alsinet, Carles (eds.), 2002, Movimientos juveniles en América
Latina. Pachucos, malandros, punketas, Barcelona: Editorial Ariel. Feldman-Bianco, Bela (org.), 1987, Antropologia das Sociedades Contemporâneas - Métodos,
Rio de Janeiro: Global Editora. Fernandes, Luís, 1998, O sítio das drogas, Porto: Ed. Perspectiva. Fernandes, Luís e Carvalho, Maria Carmo, 2000, «Problemas no Estudo Etnográfico de Objectos Fluidos. Os casos do sentimento de insegurança e da exclusão social» in Educação, Sociedade & Culturas, nº 14, pp.59-87. Ferragotti, Franco, 1983, Histoire et Histoire de Vie. La méthode biographique dans les sciences
sociales, Paris: Librairie des Meridiens. Ferrand, A. et Mounier, L., 1993, «L'échange de paroles sur la sexualité: une analyse des relations
de confidence» in Population, nº5, pp.1451-1476. Ferreira, António Fonseca, 1984, «Crise do alojamento e construção clandestina em Portugal» in
Sociedade e Território, nº1 / Março, pp. 29-37. Ferreira, António Fonseca, 1987, Por uma Nova Política de Habitação, Porto: Afrontamento. Ferreira, António Fonseca e Vara, Fernanda (coord.), 2001, «Relatório e Estudos de Fundamentação Técnica» in Ordenamento do Território da AML: PROT-AML, Lisboa: CCRLVT-Comissão de Coordenação da Região de Lisboa e Vale do Tejo. Ferreira, Vitor Matias e Craveiro, Maria Teresa (coord.), 1991, «Património, Ambiente e
Reabilitação Urbana» in Sociedade e Território, nºs 14 e 15 / Dezembro. Figueiredo, Alexandra Lemos, Silva, Catarina Lorga e Ferreira, Vitor Sérgio, 1999, Jovens em Portugal. Análise longitudinal de fontes estatísticas 1960-1997, SEJ - Estudos sobre Juventude nº 3, Oeiras: Celta Editora. Filho, João Lopes, 1995, Cabo Verde. Retalhos do Quotidiano, Lisboa: Editorial Caminho. Finnegan, Ruth, 1998, Tales of the City. A Study of Narrative and Urban Life, Cambridge:
Cambridge University Press.
150
Fischer, Claude S., 1975, «Toward a Subcultural Theory of Urbanism» in AJS, Volume 80, nº 6,
pp. 1319-1341. Fisher, Claude S., 1982, To Dwell among Friends .Personal Networks in Town and City,
Chicago: The University of Chicago Press. Fize, Michel, 1993, Les bandes. L'entre-soi adolescent, Paris: Desclée de Brouwer. Flores, Juan, 1986, «Rap, graffiti y break. Cultura callijera negra y portorriqueña en Nueva
York» in Cuicuilco, nº17, pp.34-40. Fonseca, Isabel, 1996 (1995), Enterrem-me em Pé. Os ciganos e a sua jornada, São Paulo:
Editora Scharcz. Fonseca, Laura Pereira da, 2001, Culturas Juvenis, Percursos Femininos. Experiências e
Subjectividades na Educação das Raparigas, Oeiras: Celta Editora. Fonseca, Maria Lucinda, 1988, «As Migrações para a Área Metropolitana de Lisboa. Dos anos sessenta aos anos oitenta», in Povos e Culturas. A Cidade em Portugal: como se vive, Lisboa: Centro de Estudos dos Povos e Culturas de Expressão Portuguesa. Fontaine, A. et Fontana, C., 1996, Raver, Paris: Anthropos. Fornäs, Johan and Bolin, Göran (eds.), 1995, Youth Culture and Late Modernity, London: Sage
Publications. Foster, George and Kemper, Robert V. (eds.), 1974, Anthropologists in cities, Boston: Little
Brown. Foster, George and Kemper, Robert V., 1996, «Anthropological Fieldwork in Cities» in Urban
Life. Readings in Urban Anthropology, Illinois: Waveland Press Inc., pp.135-150. Foucault, Michel, 1996 (1975), Vigiar e Punir. História da Violência nas Prisões, Petrópolis:
Vozes Fournier, Valérie, 1999, Les Nouvelles Tribus Urbaines. Voyage an cœur de quelques formes
contemporaines de marginalité culturelle, Chêne-Bourg, Genève: Georg Éditeur. Fox, Richard, 1977, Urban Anthropology. Cities in their cultural settings, Englewood Cliffs,
New Jersey: Prentice-Hall. Fox, W. and Wince, M., 1975, «Musical taste cultures and taste public» in Youth and Society, nº7. Freeman, Derek, 1983, Margaret Mead and Samoa. The Making and Undmaking of an
Anthropological Myth, London: Penguin Books.
151
Freitas, Ricardo Ferreira, 1996, Centres Commerciaux: îles urbaines de la post-modernité, Paris:
L'Harmattan. Friedl, John and Chrisman, Noel, 1975, City Ways. A Selective Reader in Urban Anthropology,
New York : Crowell Comp. Frith, S., 1978, The Sociology of Rock, London: Constable. Galdwin, Thomas, 1961, The anthropologists view of poverty, New York: Columbia University
Press Galland, Olivier, 1999 (1984), Les jeunes, Paris: Editions La Découverte. Galland, Olivier, 2001 (1997), Sociologie de la Jeunesse, Paris: Armand Colin. Gans, Herbert J., 1962, «Urbanism and suburbanism as ways of life : a reevaluation of definitions», in Rose, Arnold M. (ed.), Human behaviour and social process, London: Routledge and Kegan Paul, pp. 625-649. Gans, Herbert J., 1982 (1962), The Urban Villagers : Group and Class in the Life of Italian-
American, N.Y.: The Free Press. Garcia, José Luís (coord.), 2000, Estranhos. Juventude e Dinâmicas de Exclusão Social em
Lisboa, Oeiras: Celta Editora. Geertz, Clifford, 1978, A Interpretação das Culturas, Rio de Janeiro: Zahar Editores. Gelder, Ken and Thornton, Sara (eds.), 1997, The Subcultures Reader, London: Routledge. Gendrot, Sophie, 1994, Ville et Violence, Paris: Presses Universitaires de France. Giddens, Anthony, 1997 (1991), Modernidade e Identidade Pessoal, Oeiras: Celta Editora. Gil Calvo, Enrique, 1985, Los depredadores audiovisuales. Juventud urbana y cultura de massas,
Madrid: Tecnos. Gilbert, Alan, Hardoy, Jorge Enrique and Ramirez, Ronaldo, 1982, Urbanization in
contemporary Latin America: critical approaches to the analyses of urban issues, Chichester: John Wiley. Gillis, John R., 1981, Youth and History.Tradition and Change in European Age Relations, 1970-
present, New York: Academic Press. Gilmore, D., 1975, «Friendship in Fuenmayor. Patterns of integration in a atomist society» in
Ethnology, XIV (4), 311-324.
152
Gilroy, P., 1993, «Between Afro-centrism and Euro-centrism:Youth Culture and the problem of hybridity» in Young, nº 2, pp.2-12.
Giner, Josefa Cucó i, 1995, La amistad. Perspectiva antropológica, Barcelona: Icaria. Institut
Català d'Antropología. Giner, Josefa Cucó i, 1996, «Amigos y Vecinos. Hacia una antropología de la amistad», in Prat, J.
y Martínez, A. (ed.), Ensayos de Antropología Cultural. Homenaje a Claudio Esteva- Fabregat, Barcelona: Ariel, pp.167-172. Giner, Josefa Cucó i, 2000, «La sociabilité en Espagne» in Ethnologie Française, XXX, nº 2,
pp. 257-264. Giner, Josefa Cucó i, 2000, «Proximal Paradox. Friends and Relatives in the Era of
Globalization», European Journal of Social Theory, nº3, pp.313-324. Giordano, P.C., 1995, «The Wider Circle of Friends in Adolescence» in American Journal of
Sociology, vol. 101, nº3, pp. 661-697. Giudicelli, A., 1994, La Caillera. Quartiers sensibles, Paris: Seuil. Glazer, Nathan and Moyniham, D.P., 1963, Beyond the melting pot: the Negros, Puerto Ricans,
Jews, Italians, and Irish of New York City, Cambridge: M.I.T. Press and Harvard University Press. Gmelch, George and Zenner, Walter P., 1996, Urban Life. Readings in Urban Anthropology,
Illinois: Waveland Press Inc.. Goffman, Erving, 1974, Les Rites d'interaction, Paris: Éditions de Minuit. Goffman, Erving, 1982 (1963), Estigma. Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada,
Rio de Janeiro: Zahar Editores. Goffman, Erving, 1993 (1959), A Apresentação do Eu na Vida de Todos os Dias, Lisboa: Relógio
d'Água. Gomes, Isabel Brigham (coord.), 1999, Estudo de caracterização da comunidade caboverdeana
residente em Portugal, Lisboa: Embaixada de Cabo Verde. Gomes, Paulino, 2000, Amadora. Raízes e Razões duma Identidade, Matosinhos: Minha Terra. Grafmeyer, Y. et Joseph, I., 1998 (1979), L'Ecole de Chicago. Naissance de l’ecologie urbaine,
Paris: Éditions Aubier. Green, Anne-Marie, 1986, Les adolescents et la musique, Issy-les-Moulineaux: Éditions E.A.P.. Green, Anne-Marie (ed.), 1997, Des Jeunes et des Musiques. Rock, Rap, Techno..., Paris:
153
L'Harmattan. Guerra, Isabel, 1994, «As Pessoas não são Coisas que se Ponham em Gavetas» in Sociedade e
Território, nº 20 /Abril-Maio, pp.11-16. Gulick, John, 1989, The Humanity of Cities. An Introduction to Urban Societies, Massachusetts:
Bergin & Garvey Publishers, Inc.. Gulick, K., 1973, «An overview and approach to the meaning of urban though a look at minimally urban places» in Press, I. and Smith, M.E. (eds.), Urban places process, Londres - N.Y.: MacMillan, pp. 61-76. Gutwirth, Jacques et Pétonnet, Colette, 1987, Chemins de la Ville. Enquêtes Ethnologiques, Paris:
Editions du C.T.H.S.. Habermas, Jungen, 1987 (1981), Théorie de l’ Agir Communicationnel, (2 Vols.), Paris: Fayard Hager, S., 1984, Hip-Hop, New York: St.Martin's Press. Hall, Edward T., 1986 (1966), A Dimensão Oculta, Lisboa: Relógio d'Água. Hall, Edward T., 1996 (1983), A Dança da Vida. A outra dimensão do tempo, Lisboa: Relógio
d'Água. Hall, Stuart, 1977, (1969) Los hippies: una contracultura, Barcelona: Anagrama. Hall, Stuart and Jefferson, Tony (eds.), 1983 (1976), Resistence through Rituals.Youth
Subcultures in post-war Britain, London: Hutchinson. Hallman, Howard, 1984, «The many faces of neighborhoods», in Neighborhoods.Their place in
Urban Life, Beverly Hills/London/New Delhi: Sage Publications. Hannad, Judith Lynne, 1988, Dance, sex and gender: signs of identity, dominance, defiance, and
desire, Chicago and London: The University of Chicago Press. Hannerz, Ulf, 1969, Soulside inquiries into ghetto culture and community, New York: Columbia
University Press. Hannerz, Ulf, 1978, «Problems in the Analysis of Urban Cultural Organization» in Aschenbrenner, Joyce and Collins, Lloyd R. (eds), Processes of Urbanism, The Hague: Mouton. Hannerz, Ulf, 1982, «Washington and Kafanchan: a view of urban anthropology» in L'Homme,
XXII nº 4, pp.25-36. Hannerz, Ulf, 1986 (1980), Exploración de la Ciudad. Hacia una antropologia urbana, México:
Fondo de Cultura Economica (FCE). Hannerz, Ulf, 1989, «Culture Between Center and Periphery: Toward a Macro Anthropology» in
154
Ethnos, nº54, pp. 200-216. Hannerz, Ulf, 1992, Cultural Complexity. Studies in the Social Organization of Meaning, New
York: Columbia University Press. Hannerz, Ulf, 1996, Transnational connections. Culture, people, places, London and New York:
Routledge. Harrington, Michael, 1962, The other America: Poverty in the United States, New York:
Macmillan. Harrouel, J. L., 1994, Culture et contre-culture, Paris: PUF. Hastrup, Kirsten and Hervick, Peter 1989, Social Experience of Anthropological Knowledge,
London and New York. Haumont, Nicole (éd.), 1996, La Ville: Agregation et Ségrégation Sociales, Paris: L'Harmattan. Havelock, Eric A., 1996 (1988), A Musa Aprende a Escrever. Reflexões sobre a oralidade e a
literacia da Antiguidade ao presente, Lisboa: Gradiva. Hebdige, Dick, 1979, New Accents Subculture. The meaning of style, London: Muthuen &
Co.Ld.. Heisler, Barbara Schmitter, 1992, «The Future of Immigrant Incorporation: Which Models? Which Concepts?» in International Migration Review - IMR, Volume xxvi, Nº2, pp.623-645. Hewitt, Westwook, 1989, Rap, Beats of the Rhyme, London: Omnibus Press. Hicks, James F. and Vetter, David Michael, 1983, Identifying the poor in Brazil, Washington,
D.C.: World Bank Publications. Higgins, Michael James, 1983, Somos Tocayos: Anthropology of urbanism and poverty, Lanham:
University Press of America. Hillier, Bill and Hauson, Julienne, 1990 (1984), The Social Logic of Space, Cambridge:
Cambridge University Press. Hobsbawm, Eric e Ranger, Terence (orgs.), 1984 (1983), A Invenção das Tradições, Rio de
Janeiro: Editora Paz e Terra. Hobsbawm, Eric, 1992, «Whose fault-line is it anyway?»in New Statesman & Society, pp. 23-26. Holston, James, 1999, «The modernist city and the death of the street» in Low, Setha M. (ed.),
Theorizing the City. The New Urban Anthropology Reader, N.Y. and London: Rutgers University Press, pp. 245-276.
155
Homobono, José Ignacio, 2000, «Antropologia urbana: itinerarios teóricos, tradiciones nacionales y ámbitos temáticos en la exploracion de lo urbano» in Zainak. Invitacion a la Antropologia Urbana nº 19, 15-50. Homobono, José Ignacio, 2000, «Introducción: De la antropologia social a la antropologia
urbana» in Zainak. Invitacion a la Antropologia Urbana , nº 19, pp.7-12. Hubert, D. et Claudé, Y., 1991, Les skinheads et l'extrême droite, Montreal: V.L.B. Editeur. Huff, Ronald (ed.), 1990, Gangs in America, Newbury Park: Sage Publications. Hunter, David J., 1964, The slums: challenge and response, Glencoe: Free Press. Hurtado, Aida, Gurin, Patricia and Peng, Timothy, 1994, «Social Identities - A Framework for
Studying the Adaptations of Immigrants and Ethnics» in Social Problems, Vol. 41, nº 1, pp. 129 - 151. Jackson, John A., 1991 (1986), Migrações, Lisboa: Escher. Jensen, Jeffrey, 1996, Metal Heads. Heavy Metal Music and Adolescent Alienation, Boulder:
Westview Press. Juliano, Dolores, 1993, Escuela y minorias étnicas, Madrid: EUDEMA. Kandé, Sylvie (dir.), 1999, Discours sur la Métissage, Identités Métisses, Paris: L'Harmattan. Keefe, Susan Emley, 1996, «The Myth of the Declining Family: Extended Family Ties Among Urban Mexican-Americans and Anglo-Americans» in Gmelch, George and Zenner, Walter P. (eds), Urban Life. Readings in Urban Anthropology, Illinois: Waveland Press Inc., pp. 308-322. Kellerhals, Jean e McCluskey Hughette, 1988, «Uma topografia subjectiva do parentesco. Contributo para o estudo das redes de parentesco nas famílias urbanas» in Sociologia. Problemas e Práticas, nº5, 169-184. Kemper, Robert V., 1996, «Migration and Adaptation. Tzintzuntzeños in Mexico City and Beyond» in Gmelch, George and Zenner, Walter P. (eds), Urban Life. Readings in Urban Anthropology, Illinois: Waveland Press Inc., pp.196-209. Kertzer, David and Keith, Jenny (eds.), 1984, Age and Anthropological Theory, London: Ithaca. Kraemer, Hazel V. (ed.), 1974, Youth and Culture, Monterey: Brocks and Cole. Kurth, S.B., 1970, «Friendships and Friendly Relations» in McCall, G.J. (ed.) Social
Relationships, Chicago: Aldine Publ.Co.. Kurtz, Donald V., 1996, «Hegemony and Anthropology. Gramsci, exegeses, reinterpretations» in
Critique of Anthropology, Volume 16, number 2.
156
Lagrange, Hughes, 1995, La civilité a l'épreuve: crime et sentiment d'insecurité, Paris: Presses
Universitaires de France. Lagrée, Jean-Charles et Lew-Fai, Paula,1985, La Galére: Marginalisations Juvéniles et
Collectivités Locales, Paris: Éditions du CNRS. Lapassade, Georges, 1990, Rap ou la fureur de dire, Paris: Loris Talmant. Latour, Éliane de, 1999, « Les Ghettomen. Les gangs de rue à Abidjan et San Pedro» in Actes de
la Recherche en Sciences Sociales, nº 129, pp. 68-83. Lave, Jean, Duguid et alii, 1992, «Coming of Age in Birmingham: Cultural Studies and
Conceptions of Subjectivity» in Annual Review of Anthropology, nº21, pp. 257-282. Lawrence, Denise and Low, Setha, 1990, «The built environment and spatial form» in Annual
Review of Anthropology, nº19, pp. 453-505. Leeds, Anthony, 1971, «The concept of the ‘culture of poverty’: conceptual, logical and empirical problems, with perspectives from Brazil and Peru» in Leacock, E. (ed.), The Culture of Poverty: A Critique, New York: Simon & Schuster, pp. 226-283. Leeds, Anthony, 1973, «Locality power in relation to supralocal power institutions» in Southall, Aidan (ed.), Urban Anthropology. Cross-Cultural Studies of Urbanization, New York: Oxford University Press, pp. 15-41. Leeds, Anthony, 1994 (1968), «The anthropology of cities: some methodological issues» in Sanjek, Roger (ed.) Anthony Leeds. Cities, Classes, and the Social Order, Ithaca and London: Cornell University Press, pp. 233-246. Leeds, Anthony, 1975, «La sociedade urbana engloba a la rural: especializaciones, nucleamentos, campo y redes: Metateoría, teoría y método» in Hardoy, Jorge E. y Shaedel, Richard P. (comp.), Las ciudades de América Latina y sus áreas de influencia a través de la historia Lima: Ediciones SIAP. Leeds, Anthony e Leeds, Elizabeth, 1978 (1977), A Sociologia do Brasil Urbano, Rio de Janeiro:
Zahar Editores. Leith, P., 1994, « Race, Inequality and transformation» in Identities, Vol. 2-3. Lepoutre, David, 1997, Coeur de Banlieue. Codes, Rites et Langage, Paris: Editions Odile Jacob. Levi, Giovanni y Schmitt, Jean-Claude (eds.), 1996, História de los jóvenes, Madrid: Taurus. Lévi-Strauss, Claude, 1987 (1977), L'identité, Paris: Quadridge / PUF.
157
Lévi-Strauss, Claude, 1989 (1962), O Pensamento Selvagem, São Paulo: Papirus Editora. Lewis, Oscar, 1966, «The culture of poverty» in Scientific American, Vol. 215 (4), pp.19-25. Lewis, Oscar, 1979 (1961), Os Filhos de Sánchez, Lisboa: Moraes Editores. Lewis, Oscar, 1985 (1959), Antropologia de la pobreza. Cinco famílias., Mexico:Fondo de
Cultura Económica, pp. 65-118 Liebow, Elliot, 1967, Tally's corner. A study of negro streetcorner men, Boston: Little Brown. Logan, Kathleen, 1981, «Guetting by with less: economic strategies of lower income households
in Guadalajara» in Urban Anthropology, 10 (3), pp.231-46. Lomnitz, Larissa, 1978, «Survival and reciprocity: the case of urban marginality in México» in Laughlin, Charles D. and Bradly, Ivan A. (eds), Extinction and survival in human populations, New York: Columbia University Press Louis, P. et Prinaz, L., 1990, Skinheads, Taggers, Zulus & Co., Paris: La Table Ronde. Low, Setha M., 1996, «The Anthropology of Cities: Imaging and Theorizing the City», in Annual
Review of Anthropology, nº 25, pp.383-409. Low, Setha M., 1999, Theorizing the City. The New Urban Anthropology Reader, N.Y:
University Press. Machado, Fernando Luís, 1985, «As práticas de sociabilidade em Queluz Ocidental» in
Sociedade e Território, nº 3, pp.90-99. Machado, Fernando Luís, 1992, «Etnicidade em Portugal. Contrastes e politização» in Sociologia.
Problemas e Práticas, nº 12, pp. 123-136. Machado, Fernando Luís, 1993, «Etnicidade. O grau zero da politização» in Emigração e
Imigração em Portugal. Actas do Colóquio, Algés: Fragmentos, pp. 407-414. Machado, Fernando Luís, 1994, Luso-africanos em Portugal: nas margens da etnicidade in
Sociologia. Problemas e Práticas, nº 16, pp. 111-134. Machado, Fernando Luís, 1998, «Da Guiné-Bissau a Portugal: luso-guineenses e imigrantes» in
Sociologia. Problemas e Práticas, nº 26, pp. 9-56. Machado, Fernando Luís, 1999, Contrastes e Continuidades. Migração, Etnicidade e Integração
dos Guineenses em Portugal, Tese de Doutoramento em Sociologia , Lisboa: ISCTE. Maffesoli, Michel, 1990, Aux creux des apparences. Pour une ethique de l'esthetique, Paris:
Plon.
158
Maffesoli, Michel, 1990 (1988), El tiempo de las tribus, Barcelona: Icaria. Maffesoli, Michel, 1993, La contemplation du monde. Figures du style communautaire, Paris: Grasset. Maffesoli, Michel, 1995, «Le Retour des Tribus» in Sciences Humaines, nº48, mars. Maffesoli, Michel, 2001 (2000), El instante eterno. El retorno de lo trágico en las sociedades
posmodernas, Barcelona: Ediciones Paidós. Maffi, Mario, 1975, La cultura underground, Barcelona: Anagrama. Magnani, José Guilherme Cantor, 1992, «Tribos Urbanas: metáfora ou categoria?» in Cadernos
de campo. Revista dos Alunos de Pós-Graduação em Antropologia, Dep. Antropologia FFLCH/USP, São Paulo, ano 2, nº2 . Magnani, José Guilherme Cantor, 1998, Festa no pedaço. Cultura popular e lazer na cidade, São
Paulo: Editora Hucitec. Maisonneuve, J. et Lamy, L., 1993, Psycho-sociologie de l'amitié, Paris: PUF. Malheiros, Jorge Macaísta, 1996, Imigrantes na Região de Lisboa. Os anos da mudança: imigração e processo de integração da comunidade de origem indiana, Lisboa: Edições Colibri. Mangin, William (ed.), 1970, Peasants in cities, Boston: Hougton Mifflin Co.. Martin, Ben L., 1991, «From Negro to Black to African American:The Power of Names and
Naming» in Political Science Quarterly, volume 106 ,nº1, pp. 83-107. Martiniello, Marco, 1992, Leadership et Pouvoir dans les communautes d’origine immigrée,
Paris: L’Harmattan Matza, David, 1969, «The positive Delinquent» in Delinquency and Drift, New Jersey: Prentice-
Hall. Mauss, Marcel, 1974 (1908), Sociologia e Antropologia, São Paulo: EPU/EDUSP. Maxwell, Andrew H., 1988, «The anthropology of poverty in black communities: A critique and systems alternative» in Urban Anthropology and Studies of Cultural Systems and World Economic Development, Vol.17, pp.171-91. Mckenzie, Roderik, 1984, «Le voisinage» in Grafmeyer, Y. et Joseph, I., L’ École de Chicago.
Naissance de l’ Ecologie Urbaine. Paris: Aubier, pp.209-50 McRobbie, A., 1984, «Dance and social fantasy» in A. McRobbie and M.Nava (eds.), Gender
and Generation, London: Mcmillan. McRobbie, A., 1993, «Shut up and dance: youth culture and changing modes of feminity» in
159
Cultural Studies, nº7, pp. 406-426. Mead, Margaret, 1995, (1971) Adolescencia y cultura en Samoa, Barcelona, Buenos Aires y México: Ediciones Paidós. Mead, Margaret, 1997, (1970) Cultura y compromiso. Estudio sobre la ruptura generacional,
Barcelona: Editorial Gedisa. Méchin, Collette, Bianquis, Isabelle et Breton, David Le (dir.), 1998, Anthropologie du Sensoriel.
Les Sens dans tous les sens, Paris: L'Harmattan. Mignon, P. et Hennion, A., 1991, Rock, de l'histoire au mythe, Paris: Vibrations - Anthropos. Mitchell, J. Clyde, 1969, Social Networks in Urban Situations. Analyses of Personal
Relationships in Central African Towns, Manchester: Manchester University Press. Mitchell, J. Clyde, 1980 (1966) «Orientaciones Teóricas de los Estudios Urbanos en África» in Banton, M., Antropologia Social de las Sociedades Complejas, Madrid: Alianza Editorial, pp. 53-81. Mitchell, J. Clyde, 1987, «The Situational Perspective» in Cities, Society and Social Perception.
A Central African perspective, Oxford: Clarendon Press. Mitchell, J. Clyde, 1996 (1956), «La dance Kalela. Aspects des relations sociales chez les citadins
africains en Rhodésie du Nord» in Enquête, 4, pp. 213-43. Miyaji, Mieko, 1993, «Family and Social Networks in New Urban Situations. A Comparative Perspectives» in Cohen, Anthony P. and Fukui, Katsuyoshi (ed.), Humanizing the City? Social Contexts of Urban Life at the Turn of the Millennium, Edinburgh: Edinburgh University Press, pp.163-183. Molina, José Luis, 2001, El análisis de redes sociales. Una introducción, Barcelona: Ediciones
Bellaterra. Mondada, Lorenza, 2000, Décrire la Ville. La construction des savoirs urbains dans l'interaction
et dans le texte, Paris: Anthropos. Monod, Jean, 1966, «Des jeunes, leur language et leurs mythes» in Les Temps modernes, juillet,
pp. 74-87. Monod, Jean, 2002, (1968) Los Barjots. Etnología de bandas juveniles, Barcelona: Editorial
Ariel. Monteiro, Vladimir Nobre, 1995, Portugal Crioulo, Praia: Instituto Caboverdeano do Livro e do
Disco.
160
Moscovici, Serge. and Farr, R. M. (eds.), 1984, Social Representations, Cambridge: Cambridge University Press.
Mullings, Leith, 1987, Cities in United States, New York: Columbia University Press. Mullings, Leith, 1997, On our own terms. Race, Class and Gender in the Lives of African
American Women, New York and London: Routledge. Munhgam, G. and Pearson, G. (eds.), 1976, Working Class Youth Culture, London: Routledge
and Kegan Paul. Musgrove, F., 1964, Youth and the Social Order, London: Routledge and Kegan Paul. Nagel, Joane, 1994, «Constructing ethnicity: creating and recreating ethnic identity and culture»
in Social Problems, vol. 41, pp.152-176. Nash, Mary y Marre, Diana (eds.), 2001, Multiculturalismos y género. Un estudio
interdisciplinar, Barcelona: Ediciones Bellaterra. Nava, M., 1992, Changing Cultures, London: Sage Publications. Neves, António Oliveira, 1996, «Reestruturação económica em meios urbano-metropolitanos: o
caso da Amadora» in Sociedade e Território, nº 23 / Outubro, pp. 75-94. Neyrand, G. et Guillot, C.,1989, Entre clips et looks - Les pratiques de consommation des
adolescents, Paris: L'Harmattan. Niemeyer, Ana Maria de e Godoi, Emília Pietrafesa de (orgs.), 1998, Além dos Territórios: Para um Diálogo entre a Etnologia Indígena, os Estudos Rurais e os Estudos Urbanos, R.J.: Mercado de IFTDAS. Nieto, José A., 1996, «Antropología de la Sexualidad» in Prat, J. y Martínez, A., Ensayos de Antropología Cultural. Homenaje a Claudio Esteva-Fabregat, Barcelona: Ariel, pp. 357-368. Nisbet, Robert 1979 (1976), «Paisages sociológicos» in La sociologia como forma de arte,
Madrid: Espasa-Calpe, pp. 69-104. Nunes, Olímpio, 1996, O Povo Cigano, Lisboa: Edição do Autor. Oficina de Arquitectura (coord.), 1997, Plano de Urbanização da Damaia/Venda Nova. Estudos de Caracterização, Lisboa: OA-Oficina de Arquitectura. Oliven, Ruben G., 1980, «Por uma antropologia das cidades brasileiras» in Velho, Gilberto (org.),
O desafio da cidade, Rio de Janeiro: Editora Campus, pp. 23-36. Oliver-Smith, Anthony, «Economic crisis and the informal street system of Spain» in Estellie
Smith (ed), Perspectives on the informal economy, pp. 207-233.
161
Osmont, Annick, 1981, «Strategies familiales, strategies residentielles en milieu urbain» in Cahiers d’Études Africaines, XXI-1-3 (81-83), pp.175-195.
Ostrowestsky, Sylvia (coord.), 2001, «De la ségregation à la dispersion. Le territoire comme
mode d’expression identitaire» in Espaces et Sociétés, nº 104. Paine, R., 1969, «In search of friendship:an explanatory analysis in 'middle-class' culture» in
Man, nº 4, pp.505-524. Pais, José‚ Machado, 1989, Juventude Portuguesa: Situações, Problemas, Aspirações - Usos do
Tempo e Espaços de Lazer,Tomo V, Lisboa: Instituto da Juventude e ICS. Pais, José Machado, 1995, «Sociabilités juvéniles dans des espaces urbains: cultures urbaines,
cultures juvéniles ou cultures» in Espaces et Sociétés, nº79, pp. 79-91. Pais, José Machado, 1996, Culturas juvenis, Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda. Pais, José Machado e Chisholm, Lynne (coord.), 1997, «Jovens em mudança» in Actas do Congresso Internacional: Growing up between centre and periphery, Lisboa, Maio 96. Colecção Estudos e Investigações, nº 10 Pallida, Salvatore, 1999, «La criminalisation des migrants» in Bourdieu, P. (dir.), Actes de la
Recherches en Sciences Sociales, Paris: Seuil, pp. 39-49. Pàmpols, Carles Feixa, 2001, «Generació @. La joventut al segle XXI» in Secretaria General de
Joventut, Barcelona: Generalitat de Catalunya. Park, Robert Ezra, 1987 (1916), « A Cidade: Sugestões para a Investigação do Comportamento Humano no Meio Urbano» in Velho, Otávio Guilherme, O Fenómeno Urbano, Rio de Janeiro: Editora Guanabara, pp.26-67. Park, Robert Ezra, 1999, La Ciudad y otros ensayos de ecología urbana, Barcelona: Ediciones
del Serbal. Parsons, Talcott, 1963, «Youth in the context of American Society» in Erikson, E.H. (ed.),
Change and Challenge, London: Basic BooksYouth. Peattie, Lisa Redfield, 1991 (1968), The View from the Barrio, Ann Arbor: Paperbacks. Peattie, Lisa Redfield and Robbins, Edward, 1984, «Anthropological Approaches to the City» in Rodwin, Lloyd and Hollister, Robert, Cities of the Mind. Images and Themas of the City in the Social Sciences, New York and London: Plenum Press. Peek, Peter, 1980, Urban poverty, migration and land reform in Ecuador, The Hague:
Netherlands Institute of Social Sciences. Penafria, Manuela, 1999, O Filme Documentário. História, Identidade, Tecnologia, Lisboa:
Edição da Autora.
162
Peristiany, J.G., 1971 (1965), Honra e Vergonha: Valores das Sociedades Mediterrâneas, Lisboa:
Fundação Calouste Gulbenkian. Perlam, Janice E., 1986, The myth of marginality: Urban poverty and politics in Rio de Janeiro,
Berkeley: University of California Press. Petonnet, Colette, 1985, Oú est tous dans le brouillard, Paris: Éditions Galilée. Pinheiro, Magda, Baptista, Luís V. e Vaz, Maria João (org.), 2001, Cidade e Metrópole.
Centralidades e Marginalidades, Oeiras: Celta Editora. Pinto, José Madureira, 1997, «A sociedade urbana» in A Política das Cidades, Lisboa: Conselho
Económico e Social, pp. 365-406. Pires, Rui Pena e Saint-Maurice, Ana, 1989, «Descolonização e migrações. Os Imigrantes dos PALOPS em Portugal» in Revista Internacional de Estudos Africanos, nºs 10 e 11,Jan.-Dez., pp.203-226. Pitrov, A., 1978, Vivre sans famille? Les solidarités familiales dans le monde d'aujourd'hui,
Toulouse: Privat. Plotnicov, Leonard, 1973, «Anthropological fieldwork in modern and local urban contexts» in
Urban Anthropology, nº2, pp.248-264. Poirier, Jean, Clapier-Valladon, Simone e Raybaut, Paul, 1995 (1983), Histórias de Vida. Teoria
e Prática, Oeiras: Celta Editora. Porter, J. R. and Washington, R.E., 1993, «Minority Identity and Self-Esteem» in Annual Review
of Sociology, nº19, pp. 379-403. Poutignat, Philippe et Streiff-Fenart, Jocelyne, 1995, Théories de l'ethnicité, Paris: PUF. Prat, Joan y Martínez, Ángel (ed.), 1996, Ensayos de Antropología Cultural. Homenaje a
Claudio Esteva-Fabregat, Barcelona: Ariel. Proença, Raul, 1983 (1924), Guia de Portugal – Lisboa e Arredores, Lisboa: Biblioteca Nacional. Pujadas, Joan Josep, 1993, Etnicidad. Identidade cultural de los pueblos, Madrid: Eudema. Pujadas, Joan Josep, 1996, «Antropología Urbana» in Prat, Joan y Martinez, Angel (ed.), Ensayos de Antropología Cultural. Homenaje a Claudio Esteva-Fabregat, Barcelona: Editorial Ariel, pp.241-255. Pujadas, Joan Josep e Bardají, F., 1987, Los Barrios de Tarragona. Una Aproximación
Antropológica, Tarragona: Ajuntament de Terragona.
163
Quintino, Celeste, 1994, «Topologia da Diferença» in Dossier Anti-Racista, Frente Anti-Racista,
nº 1, pp. 36-38. Radcliffe-Brown, A. R., 1974 (1952), Estructura y Función en la Sociedad Primitiva, Barcelona:
Ediciones Península. Ragi, Tariq (dir.), 1999, Les Territoires de L'Identité, Paris: L'Harmattan. Rapp, Rayna, 1987, «Urban kinship in contemporary America: families, classes and ideology» in
Mullings, Leith (ed.), Cities in United States, New York: Columbia University Press. Raulin, Anne, 2001, Anthropologie urbaine, Paris : Armand Colin. Reohr, J. R., 1991, Friendship. An Exploration of Structure and Process, London: Garland
Publications. Rex, John, 1988, Raça e Etnia, Lisboa: Editorial Estampa. Ribeiro, Manuel João, 1991, «Reabilitação Urbana: estratégia e organização» in Sociedade e
Território, nº 14-15, pp. 56-61. Rinaudo, Christian, 1999, L' Ethnicité dans la Cité. Jeux et enjeux de la catégorisation ethnique,
Paris: L'Harmattan. Robbie, Angela (ed.), 1991, Feminism and Youth Culture, London: McMillan. Robert, Philippe et Lascoumes, Pierre, 1970, Les Bandes d'Adolescents, Paris: Éditions
Ouvriéres. Roberts, K., 1983, Youth and Leisure, London: George Allen and Unwin. Rocha-Trindade, Maria Beatriz, 1995, Sociologia das Migrações, Lisboa: Universidade Aberta. Roché, S., 1993, Le Sentiment d'insécurité, Paris: PUF. Rodwin, Lloyd and Hollister, Robert M. (eds), 1984, Cities of the Mind. Images and Themes of
City in the Social Sciences, New York and London: Plenum Press. Rogers, Alisdair and Vertovec, Steven (eds), 1995, The Urban Context. Ethnicity, Social
Networks and Situational Analysis, Oxford / Washington D.C: Berg Publishers. Romani, Oriol, 1982, Droga i subcultura. Una história cultural del "haix" a Barcelona,
Barcelona: Universidade de Barcelona. Romani, Oriol, 1983, La tumba abierta. Autobiografia de um grifota, Barcelona: Anagrama. Romani, Oriol 1996, «Antropología de la marginación» in Prat, Joan y Martínez, Angel (eds.),
164
Ensayos de antropologia cultural.Homenaje a Claudio Esteva-Fabregat, Barcelona: Ariel, pp. 303-314. Rosa, Maria João Valente, 2000, «Notas sobre a população - Lisboa: Área Metropolitana e
cidade» in Análise Social, nº153, vol. XXXIV, pp.1045-1055. Rosenfeld, Gerry, 1987, Shut those thick lips: A study in slum school failure, Prostect Heights:
Waveland Press Inc.. Ross, Jeffrey A., 1982, «Urban development and the politics of ethnicity:a conceptual approach»
in Ethnic and Racial Studies, Vol.5, nº 4 October, pp. 440-456. Roszak, Theodore, 1973, El nacimiento de una contracultura, Barcelona: Kairós. Royce, Anya Peterson, 1977, The Anthropology of Dance, Bloomington & London: Indiana
University Press. Rynkiewich, Michael A. and Spradley, James P., 1976, Ethics and Anthropology Dilemmas in
Fieldwork, Canada: Macalester College. John Wiley & Sons. Saint-Maurice, Ana de, 1997, Identidades Reconstruídas. Cabo-verdianos em Portugal, Oeiras: Celta Editora. Saint-Pierre, Caroline de, 1991, Mode de sociabilité d'une population de jeunes dans un quartier
de Ville Nouvelle, Paris: DEAÉEHESS. Salgueiro, Teresa Barata, 1992, A Cidade em Portugal. Uma Geografia Urbana, Porto:
Afrontamento. San Roman, Teresa, 1986, «Comentários sobre un proyecto de investigacion socioantropologica de la marginación social» in Perspectiva Social, nº 22, pp. 141-151. Sanjek, Roger (ed.), 1990, Fieldnotes. The Makings of Anthropology, Ithaca and London: Cornell
University Press. Sanjek, Roger, 1990, «Urban anthropology in the 1980's: a world view» in Annual Review of
Anthropology, nº19, pp.151-186. Schoerske, C. E. and Fava, S. F. (ed.), 1968, The idea of the city in european though: Voltaire to
Spengler, New York: Thomas y Crowellin. Schutz, A., 1979, Fenomenologia e relações sociais, Rio de Janeiro: Zahar Editores. Sebastião, João, 1998, Crianças da Rua. Modos de vida marginais na cidade de Lisboa, Oeiras:
Celta Editora. Segalen, Martine, 1990, Nanterriens. Les Familles dans la Ville. Une Ethnologie de L'identité,
Toulouse: Presses Universitaires du Mirail.
165
Segalen, Martine, 1998, Rites et Rituels Contemporains, Paris: Éditions Nathan. Selby, Henry A., Murphy, Authur D., Fernandez, Ignacio C. and Castaneda, R. C. Aida, 1987, «Battling urban poverty from below: a profile of the poor in two Mexican cities», in American Anthropologist, nº 89 (2), pp.419-423. Shephers, J., 1993, «Difference and power in music» in Solie, R.A., (ed.) Music Scholarship Berkeley, Musicology and Difference. Gender and Sexuality, CA: University of California Press. Signorelli, Amalia, 1999, Antropología urbana, Barcelona: Anthropos Editorial. Silva, José Carlos Gomes da, 1994 (1989), «A Identidade Roubada» in Ensaios de Antropologia Social, Lisboa: Gradiva. Silva, Manuela e Costa, Alfredo Bruto (coord.), 1989, Pobreza Urbana em Portugal, Lisboa:
Centro de Reflexão Cristã-DPS da Cáritas Portuguesa. Silva, Maria Cardeira da (org.), 1997, «Trabalho de Campo» in Ethnologia. Nova Série, nº 6-8. Silva, Maria Cardeira da, 1999, Um Islão Prático. O Quotidiano Feminino em Meio Popular
Muçulmano, Oeiras: Celta Editora. Silvano, Filomena, 1997, Territórios da Identidade, Oeiras: Celta Editora. Simmel, Georg, 1971, On Individuality and Social Form, Chicago: The University of Chicago
Press. Simmel, Georg, 1983, «Conflito» in Simmel, São Paulo: Ática Simmel, Georg, 1990, (1979), «Métropoles et mentalité» in Grafmayer, Y. et Joseph, I., L’École
de Chicago, Paris: Éditions Aubier, pp. 61-77. Simões, A. Martinho, 1982, O Concelho da Amadora. Pequena História de uma longa
caminhada que chega ao fim, Amadora: Câmara Municipal da Amadora. Soares, Bruno, Ferreira, António Fonseca e Guerra, Isabel Pimentel, 1985, «Metrópoles e
Micrópoles. Urbanização clandestina na Área Metropolitana de Lisboa» in Sociedade e Território, nº 3, pp.67-77. Soares, Luís Bruno, 1984, «Clandestinos e outros destinos. Urbanização clandestina e política
urbana» in Sociedade e Território, nº 1, pp.18-28. Soczka, Luís; Machado, Paulo; Freitas, Maria João e Moura, Marta, 1988, «Bairros Degradados
da Cidade de Lisboa» in A cidade em Portugal: como se vive, nº 3, pp.299-332. Sollors, Werner (ed.), 1989, The Invention of Ethnicity, New York / Oxford: Oxford University
Press.
166
Southal, Aidan (ed.), 1973, Urban Anthropology. Cross-Cultural Studies of Urbanization, New York: Oxford University Press.
Spencer, Paul (ed.), 1985, Society and the Dance. The social anthropology of process and
performance, Cambridge: Cambridge University Press. Sperber, Dan, 1989, «L'etude anthropologique des representations:problémes et perspectives» in
Jodelet, D. (ed.), Les Représentations sociales, Paris: PUF. Sperber, Dan, 1992, O saber dos Antropólogos, Lisboa: Edições 70. Spradley, James P., 1980, Participant Observation, London: Harcourt Brace College Publishers. Stocking Jr., George W. (ed.), 1985 (1983), Observers Observed. Essays on Ethnographic
Fieldwork, Wisconsin: The University of Wisconsin Press. Stolcke, Verena, 1995, «Talking Culture. New Boundaries, New Rhetorics of Exclusion in
Europe» in Current Anthropology, vol.36, number I, pp.1-13. Suttles, Gerald D., 1968, The Social Order of the Slum. Ethnicity and territory in the inner city,
Chicago: The University of Chicago Press. Suttles, Gerald D., 1970, «Friendship as a Social Institution» in McCall, G. J. (ed.), Social
Relationship, Chicago: Aldine Publ.Co.. Suttles, Gerald D., 1984, «Cumulative texture of local urban culture» in American Journal of
Society, nº 90 (2) Sep: 283-304. Sutton, C. R., 1975, «Comments» in Safa, H. I. and Du Toit, B. M. (comps.), Migration and
Development, Haia: Mouton Swidler, Ann, 1996, «Culture as action: symbols and strategies» in American Sociological
Review, nº 51: 273-286. Tabouret-Keller, Andrée, 1994, «De la culture idéale aux cultures de contact» in Labat, C. et
Vermes, G. (eds.) Cultures ouvertes, societés interculturelles. Du contact à l’interaction, Paris: L'Harmattan. Tessier, Stéphane (dir.), 1998, A la recherche des enfants des rues, Paris: Éditions Karthala. Thornton, Sara, 1995, Club Cultures. Music, Media and subcultural Capital, Cambridge:
Wesleyan University Press. Thrasher, Federic M., 1963 (1927), The Gang. A Study of 1,313 Gangs in Chicago, Chicago &
London: The University of Chicago Press. Tomás, Maria Cátedra, 1994, «Tecnicas cualitativas en la antropologia urbana», in Malestar cultural y conflicto en la sociedad madrileña, II Jornadas de Antropología, Madrid, pp.81-99.
167
Tonkin, Elizabeth; McDonald, Maryon and Chapman, Malcolm (eds.), 1989, History and
Ethnicity, London and New York: Routledge. Travassos, Sónia Duarte, 1998, «Capoeira e alteridade; sobre mediações, trânsitos e fronteiras» in Zaluar, Alba e Alvito, Marcos (org.), Um Século de Favela, Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas Turner, Victor, 1990 (1969), Le phénomène rituel. Structure et contra-structure, Paris: PUF. UNESCO, 1983, La Juventud en la década de los 80, Salamanca: Sígue-me. V.V.A.A., 1992, La jeunesse et ses mouvements, Paris: CNRS. Valentine, Charles A., 1968, Culture and Poverty. Critique and Counter-proposals, Chicago:
The University of Chicago Press. Velho, Gilberto, 1975, Nobres e Anjos:um estudo de tóxicos e hierarquia, São Paulo: USP. Velho, Gilberto (org.), 1985, Desvio e Divergência. Uma crítica da Patologia Social, Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editor. Velho, Gilberto, 1987 (1981), Individualismo e Cultura. Notas para uma antropologia da
sociedade contemporânea, Rio de Janeiro: Zahar Editores. Velho, Gilberto, 1989, (1973) A Utopia Urbana. Um estudo de antropologia social, Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editor. Velho, Gilberto, 1994, Projecto e Metamorfose. Antropologia das sociedades complexas, Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Editor. Velho, Gilberto (org.), 1999, Antropologia Urbana. Cultura e Sociedade no Brasil e em Portugal,
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. Velho, Gilberto e Alvito, Marcos (orgs.), 1996, Cidadania e violência, Rio de Janeiro: Editora
UFRJ /Editora FGV Velho, Otávio Guilherme (org.), 1987, O Fenómeno Urbano, Rio de Janeiro: Editora Guanabara. Verkuyten, Maykel, 1991, «Self-Definition and Ingroup Formation among Ethnic Minorities in
the Netherlands» in The Journal of Social Psychology, vol. 54, nº 3, pp. 280-286. Verkuyten, Maykel 1992, «Ethnic Group Preferences and the Evaluation of Ethnic Identity Among Adolescents in the Netherlands» in The Journal of Social Psychology, nº 132 (6), pp.741-750.
168
Veyne, P.; Vernant, J. P.; Dumont, Luis et alli, 1987, Indivíduo e Poder, Lisboa: Edições 70. Vianna, Hermano, 1988, O mundo funk carioca, Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor. Vianna, Hermano (org.) 1997, Galeras Cariocas. Territórios de conflitos e encontros culturais,
Rio de Janeiro: Editora UFRJ. Vieillard-Baron, Hervé‚ 1994, Banlieue, Ghetto Impossible?, Saint-Étienne: Éditions de l'Aube. Vieira, Lopes, 1989, Delfim Guimarães. O Poeta da Amadora, Amadora: Câmara Municipal da
Amadora. Vincent-Buffault, A., 1995, L' Exercice de l'amitié : pour une histoire des pratiques amicales aux
XVIII et XIX siécles, Paris: Seuil. Wacquant, Loic J.D.,1993, «De l' Amérique comme utopie à l' envers» in Bourdieu, Pierre, La
Misére du Monde, Paris: Éditions du Seuil, pp. 263-278. Wallet, Jean-William, 1999, «La communication interculturelle: dialogue de malentendants sans
malantendus» in Tariq, Tagi (dir.) Les Territoires de L’identité, Paris: L’Harmattan. Wateau, Fabienne (org.), 2001, «La Ville Sensible. Recherches en Anthropologie au Portugal» in
Revue de l'association 1901, nº7. Waters, Mary C.,1994, «Ethnic and Racial Identities of Second-Generation Black Immigrants in
New York City», in IMR, Vol. XXVIII, nº 4, pp.795-820. Weber, Max, 1958 (1921), The City, New York & London: The Free Press. Wellman, B., 1992, «Men in networks. Private communities, domestic friendships», in Nardi,
P.M. (ed.), Men’s friendships, Newbury Park-Londres:Sage Publications, pp.74-114. Wendel, Helena, 1994, Cenas Juvenis. Punks e darks no espectáculo urbano, São Paulo: Scritta. Wenden, Catherine Withol de, 1999, L’Immigration en Europe, IIAP, Paris: Bibliothéque sur
Communauté Européene. Whyte, William Foote, 1981 (1943), Street Corner Society: The Social Structure of na Italian
Slum, Chicago: The University of Chicago Press. Whyte, William Foote, 1984, Learning From the Field: A Guide From Experience, Beverly Hills:
Sage Publications Willis, Paul, 1977, Learning to Labour: How Working-Class Kids Get Working-Class Jobs,
London: Saxon House. Willis, Paul, 1978, Profane Culture, London: Routledge and Kegan Paul.
169
Willis, Paul, 1990, Common Culture: Symbolic Work at Play in the Everyday Cultures of the
Young, Boulder: Westview Press. Willmott, P., 1987, Friendship Networks and Social Support, Londres: Policy Studies Institute. Wilson, Richard, 1993, «Anchored Commmunities: Identity and History of the MAYA-
QÉEQCHI» in Man, nº28, pp. 121-138. Wirth, Louis, 1928, The Ghetto, Chicago: The University of Chicago Press Wirth, Louis, 1987 (1938), «O urbanismo como modo de vida», in Velho, Otávio (org.), O
Fenómeno Urbano, Rio de Janeiro: Editora Guanabara, pp. 90-113. Wolf, Daniel R., 1991, The Rebels. A Brotherhood of outlaw Bikers, Toronto: University of
Toronto Press. Wolf, Eric R., 1999 (1966), «Relaciones de parentesco, de amistad y de patronazo en las
sociedades complejas» in Banton, Michael (comp.), Antropología Social de las Sociedades Complejas, Madrid: Alianza Editorial.
Wolff, Éliane,1991, Quartiers de Vie. Approches ethnologique des populations défavorisées de
l’île de la Réunion, Paris: Meridiens Klincksieck. Wulff, Helena, 1988, «Twenty Girls. Growing-up, Ethnicity and Excitement in a South London
Microculture» in Social Anthropology, Estocolmo: Stockholm Studies. Wulff, Helena, 1992, «New mix, new meanings» in Palmgren, C., K.L. and Bolin, G. (eds.),
Youth Culture, Stockholm: Youth Culture at Stockholm University Ethnicity. Zaluar, Alba, 1984, «Teoria e Prática do Trabalho de Campo: alguns problemas» in Série
Antropológica, Fundação Universidade de Brasília. Zaluar, Alba, 1997, «Gangues, Galeras e Quadrilhas: globalização, juventude e violência» in
Vianna, Hermano (org.), Galeras Cariocas. Territórios de conflitos e encontros culturais, Rio de Janeiro: UFRJ, pp.17-57. Zaluar, Alba e Alvito, Marcos (org.), 1998, Um Século de Favela, Rio de Janeiro: Fundação
Getúlio Vargas. Zorbough, Harvey W., 1983 (1929), The Gold Cost and the Slum, Chicago: University of
Chicago Press.
171
Índice das Figuras
Figura 1 | Pontos de Referência do Bairro Estrela d’África ------------------------------------ 167 Figura 2 | Pirâmide Etária da População Residente no Bairro Estrela d’África ---------- 170 Figura 3 | População Activa (Homens/Mulheres, por Nacionalidade) do Bairro Estrela
d’África ---------------------------------------------------------------------------------- 171 Figura 4 | População Não Activa (Homens/Mulheres, por Nacionalidade) do Bairro Estrela d’África ------------------------------------------------------------------------------------- 172 Figura 5 | As primeiras casas em madeira ------------------------------------------------------ 175 Figura 6 | Transformação das casas para alvenaria --------------------------------------------- 175 Figura 7 | Ano de Instalação no Bairro Estrela d’África por Nacionalidades / Homens -- 182 Figura 8 | Ano de Instalação no Bairro Estrela d’África por Nacionalidades / Mulheres -- 183 Figura 9 | João Pina e Maria de Pina ---------------------------------------------------------------- 185 Figura 10 | Bilhete de Embarque de um Membro da Família Pina ----------------------------- 185 Figura 11 | A Família Pina no (futuro) Bairro Estrela d’África --------------------------------- 192 Figura 12 | Localização da Família Pina no Bairro Estrela d’África ---------------------------- 193 Figura 13 | Fachada da casa - mãe da Família Pina ------------------------------------------------- 194 Figura 14 | Alcinda Pina no páteo da sua casa ------------------------------------------------------- 194 Figura 15 | Diagrama Geneológico dos Membros da Família Pina Residentes em, 1999, no
Bairro Estrela d’África ------------------------------------------------------------------- 195 Figura 16 | Bilhete de Identidade da Mãe de Alcinda Pina --------------------------------------- 198 Figura 17 | Autorização de Saída de Cabo Verde de Júlia de Barros Pina, Alcinda Pina e
Irmãos --------------------------------------------------------------------------------------- 199 Figura 18 | Ruas do Bairro Estrela d’África -------------------------------------------------------- 209 Figura 19 | Regresso ao Bairro depois de um dia de trabalho ----------------------------------- 225
172
Figura 20 | Crianças a brincarem no Largo Ilha Brava -------------------------------------------- 230 Figura 21 | Placa toponímica --------------------------------------------------------------------------- 265 Figura 22 | Distribuição da População Residente no Bairro Estrela d’África Segundo a sua Origem Étnico-cultural e Regional ---------------------------------------------------- 266 Figura 23 | O Grupo de Jovens em Mira, 2001 ----------------------------------------------------- 309 Figura 24 | Assembleia de Jovens para a Constituição da Associação ‘Nós’ ----------------- 311 Figura 25 | Os Fundadores da Associação ‘Nós’ no local de realização da Escritura ------- 313 Figura 26 | Ensaio do Grupo ‘Estrelas Cabo-Verdianas’ no Bairro ----------------------------- 345 Figura 27 | Esposende, 2000 – Jovens do Grupo jogando à bola -------------------------------- 364 Figura 28 | Esposende, 2000 – Jovens preparando o almoço, turno das raparigas ----------- 365 Figura 29 | Esposende, 2000 – Jovens preparando o almoço, turno dos rapazes ------------- 366 Figura 30 | Mira 2001, o Baptismo dos Membros recém-chegados ao Grupo ---------------- 370
173
Índice de Anexos
Anexo II – 1: Bairro Estrela d’África: Ano de instalação dos habitantes entre 1950 e 1993 por nacionalidade / sexo (Fonte: Base de Dados do Gabinete do Programa Especial de Realojamento da Câmara Municipal da Amadora (B.D.GPER/CMA,1994) (Refª pág.169) -------------------------------------------------------------------------------------------- 59
Anexo II – 2: Bairro Estrela d’África: População - estrutura etária (H/M) em % Fonte: B.D.GPER/CMA, 1994) (Refª pág.170) -------------------------------------------------------------------------------------------- 61
Anexo II – 2 A: Bairro Estrela d’África: Estrutura etária – Homens / Nacionalidade; Fonte: B.D.GPER/CMA, 1994) (Refª pág.170) -------------------------------------------------------------------------------------------- 63
Anexo II – 2 B: Bairro Estrela d’África: estrutura etária – Mulheres / Nacionalidade; Fonte: B.D.GPER/CMA, 1994) (Refª pág.170) -------------------------------------------------------------------------------------------- 65
Anexo II – 3: Bairro Estrela d’África: População não activa e activa (H/M); Fonte: B.D.GPER/CMA, 1994) (Refª pág.172) -------------------------------------------------------------------------------------------- 67
Anexo II – 4: Levantamento Funcional do Bairro Estrela d’África (Núcleo 21); Fonte: Departamento de Administração Urbanística / Divisão dos Serviços de Habitação e Recuperação de Áreas Degradadas (1993) (Refª pág.173) -------------------------------------------------------------------------------------------- 69
Anexo II – 5: Bairro Estrela d’África: Ano de Instalação por Nacionalidades /Homens (de 9 em 9 anos) Fonte: Base de Dados do Gabinete do Programa Especial de Realojamento (GPER)/CMA, 1994 (Refª pág. 182) -------------------------------------------------------------------------------------------- 74
Anexo II – 5 A: Bairro Estrela d’África: Ano de Instalação por Nacionalidades/Mulheres (de 9 em 9 anos) Fonte: B.D.GPER/CMA, 1994 (Refª pág.183) -------------------------------------------------------------------------------------------- 76
174
Anexo II – 6: Geneologia da Familia Pina, 2001 Fonte: Alcinda Pina (Refª pág.191) -------------------------------------------------------------------------------------------- 78
Anexo II – 6 A: Fotografia recente de alguns membros da família Pina, 2001 Fonte: Alcinda Pina (Refª pág. 191) -------------------------------------------------------------------------------------------- 87
Anexo II – 7: Diagrama geneológico da Família Pina, 2002 Fonte: Alcinda Pina (Refª pág. 191) -------------------------------------------------------------------------------------------- 89
Anexo II – 7 A: Descrição do mapa geneológico da família Pina: nome, nominho, grau de parentesco e indicação de residência no bairro Fonte: Alcinda Pina (Refª pág.191) -------------------------------------------------------------------------------------------- 91
Anexo II – 8: Lista candidata às eleições para a Comissão de Moradores do bairro Estrela d’África; Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág.204) -------------------------------------------------------------------------------------------- 95
Anexo II – 8 A: Aviso à população do bairro Estrela d’África sobre listas candidatas à eleição da Comissão de Moradores, 12 Junho 1983; Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág. 204) -------------------------------------------------------------------------------------------- 97
Anexo II – 8 B: Aviso à população do bairro Estrela d’África sobre datas da eleição da Comissão de Moradores; Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refº pág. 204) -------------------------------------------------------------------------------------------- 99
Anexo II – 9: Ofício enviado ao Partido Comunista Português da Amadora, 11.6.83; Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág. 204) -------------------------------------------------------------------------------------------- 101
Anexo II – 9 A: Ofício à Associação Unidos de Cabo Verde, 4.6.83; Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág.204) -------------------------------------------------------------------------------------------- 103
Anexo II – 9 B: Ofício ao Presidente da Junta de Freguesia da Falagueira /Venda Nova, 4.6.83; Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág.204) -------------------------------------------------------------------------------------------- 105
175
Anexo II – 10: Ofício ao Presidente da Câmara Municipal da Amadora, 7.7.84; Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág.207) -------------------------------------------------------------------------------------------- 108
Anexo II – 10 A: Ofício ao Presidente da Junta de Freguesia da Falagueira Venda Nova, 3.7.83; Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág.207) -------------------------------------------------------------------------------------------- 111
Anexo II – 11: Ofício ao Serviço de Organização de Correios, 7.7.84; Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág.210) -------------------------------------------------------------------------------------------- 115
Anexo II – 11 A Ofício dos Correios e Telecomunicações de Portugal, 23.8.84; Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág.210) -------------------------------------------------------------------------------------------- 118
Anexo II – 11 B: Ofício ao Director Regional de Correios de Lisboa, 29.4.85; Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág. 210) -------------------------------------------------------------------------------------------- 120
Anexo II – 11C: Ofício à Junta de Freguesia da Falagueira Venda Nova, 29.4.85; Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág.210) -------------------------------------------------------------------------------------------- 122
Anexo II – 12: Primeiras folhas do ‘Livro de entrada e saída de correspondência’; Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág.210) -------------------------------------------------------------------------------------------- 124
Anexo II – 13: Ofício ao Presidente da Junta de Freguesia da Falagueira/Venda Nova, 15.4.83); Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág.210) -------------------------------------------------------------------------------------------- 128
Anexo II – 14: Ofício ao Presidente da Junta de Freguesia da Falagueira/Venda Nova, 22.5.84; Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág.211) -------------------------------------------------------------------------------------------- 132
Anexo II – 15:Ofício à Direcção do Jardim Zoológico, 30.5.83; Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág. 211) -------------------------------------------------------------------------------------------- 134
Anexo II – 15 A: Ofício ao Presidente da Junta de Freguesia da Falagueira/Venda Nova, 31.5.83; Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág.211) -------------------------------------------------------------------------------------------- 136
176
Anexo II – 16: Ofício ao Presidente da Junta de Freguesia da Falagueira/Venda Nova, 10.5.83); Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág.212) ----------------------------------------------------------------------------------------- 138
Anexo II – 17:Ofício ao Presidente da Câmara Municipal da Amadora, 16.1.85; Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág.212) ------------------------------------------------------------------------------------------ 141
Anexo II – 18: Ofício ao Presidente da Junta de Freguesia da Falagueira/Venda Nova, 21.2.85; Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág.212) ------------------------------------------------------------------------------------------- 143 Anexo II – 18 A: Ofício da Câmara Municipal da Amadora à Associação Unidos de Cabo Verde, 25.5.87; Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág.212) ------------------------------------------------------------------------------------------- 145
Anexo II – 19: Oficio ao Presidente da Junta de Freguesia da Falagueira/Venda Nova, 29.4.85; Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág.214) ------------------------------------------------------------------------------------------- 147
Anexo II – 19 A: Ofício ao Presidente da Junta de Freguesia da Falagueira/Venda Nova, 27.6.85; Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág.214) ------------------------------------------------------------------------------------------- 150
Anexo II – 20: Ofício ao Presidente da Junta de Freguesia da Falagueira/Venda Nova, 22.5.84); Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág. 214) --------------------------------------------------------------------------------------------152
Anexo II – 21: Ofício ao Presidente da Junta de Freguesia da Falagueira/Venda Nova, 22.5.84; Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág. 215) -------------------------------------------------------------------------------------------- 155
Anexo II – 22: Ofício à EDP – Centro de Distribuição de Lisboa, 14.5.85; Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág.215) -------------------------------------------------------------------------------------------- 159
Anexo II – 23: Ofício ao Presidente da Junta de Freguesia da Falagueira/Venda Nova, 7.7.84; Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág. 216) -------------------------------------------------------------------------------------------- 161
Anexo II – 24: Ofício ao Presidente da Junta de Freguesia da Falagueira/Venda Nova, 22.5.84; Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág.216) -------------------------------------------------------------------------------------------- 163
177
Anexo II – 25: Ofício da Junta de Freguesia da Falagueira/Venda Nova à Comissão de Moradores, 4.1.83; Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág.217) -------------------------------------------------------------------------------------------- 167
Anexo II – 26: Ofício das Missionárias Dominicanas ao Presidente da Câmara Municipal da Amadora, 5.3.84; Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág.217) -------------------------------------------------------------------------------------------- 170
Anexo II – 27: Primeiras folhas do ‘Livro de Actas’ da Comissão de Moradores; Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág. 218) -------------------------------------------------------------------------------------------- 172
Anexo II – 28: Primeiras folhas do ‘Livro de Contas’ da Comissão de Moradores; Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª pág. 218) -------------------------------------------------------------------------------------------- 178
Anexo II – 29: Programa eleitoral da Comissão de moradores (1988-1991); Fonte: Comissão de Moradores do Bairro Estrela d’África (Refª Pág. 220) ------------------------------------------------------------------------------------------- 183
Anexo III – 1: Recorte do Jornal ‘África Notícias’ de 1987, pp.36-37; Fonte Grupo de Jovens ‘Estrelas Cabo-verdianas (Refª pág. 298) -------------------------------------------------------------------------------------------- 185
Anexo III – 2: Propaganda Espectáculo do Grupo ‘Estrelas Cabo-verdianas’,Setembro 1994; Fonte: Grupo de Jovens ‘Estrelas Cabo-verdianas’ (Refª pág.304) -------------------------------------------------------------------------------------------- 188
Anexo III – 2 A: Propaganda Espectáculo do Grupo ‘Estrelas Cabo-verdianas’,Setembro 1994; Fonte: Grupo de Jovens ‘Estrelas Cabo-verdianas’ (Refª pág. 304) -------------------------------------------------------------------------------------------- 190
Anexo III – 3: Projecto ‘Lusocrioulo’ Programa Urban Amadora em parceria com Associação ‘Morna’, Junho 1997; Fonte: Sub-Programa Urban da Venda Nova / Damaia de Baixo (Refª pág. 306) -------------------------------------------------------------------------------------------- 192
Anexo III- 3 A: Informação sobre o grupo de dança ‘Os Bronzes’, 1997; Fonte: Grupo de Jovens ‘Estrelas Cabo-verdianas’ (Refª pág. 306) -------------------------------------------------------------------------------------------- 195
178
Anexo III – 4: Estatutos da Associação ‘NÓS – Associação de Jovens para o Desenvolvimento’, 2001; Fonte: Associação de jovens ‘NÓS’ do Bairro Estrela d’África (Refª pag. 312) -------------------------------------------------------------------------------------------- 198
Anexo III – 5: Publicação, em Diário da República nº 147, III Série, 28 de Junho de 2002, dos Estatutos da Associação ‘NÓS – Associação de Jovens para o Desenvolvimento’ Fontes: Associação ‘NÓS’ do Bairro Estrela d’África (Refª pág.314) -------------------------------------------------------------------------------------------- 205
Anexo III – 6: Carta de apresentação do Grupo de Jovens ‘Estrelas Cabo-verdianas’, 2000; Fonte: Grupo de Jovens ‘Estrelas Cabo-verdianas’ (Refª pág.320) -------------------------------------------------------------------------------------------- 208
Anexo III – 6 A: Cartão de membro do Grupo de Jovens ‘Estrelas Cabo-verdianas; Fonte: Grupo de Jovens ‘Estrelas Cabo-verdianas’ (Refª pág.320) -------------------------------------------------------------------------------------------- 212
Anexo III – 7: Foto do Espectáculo do Grupo ‘Estrelas Cabo-verdianas, Coimbra, 1989; Fonte: Portfólio do Grupo ‘Estrelas Cabo-verdianas’. (Refª pág.349) -------------------------------------------------------------------------------------------- 214
Anexo III – 7 A: Panfleto de propaganda de espectáculo no ISCTE, Novembro 1995; Fonte: Portfólio do Grupo ‘Estrelas Cabo-verdianas’ (Refª pág.349) ------------------------------------------------------------------------------------------- 216
Anexo III – 7 B: Panfleto de propaganda de espectáculo no Museu da Ciência, Fevereiro 1996; Fonte: Portfólio do Grupo ‘Estrelas Cabo-verdianas’ (Refª pág. 349) ------------------------------------------------------------------------------------------- 220
Anexo III – 7 C: Fotos do Grupo de Dança ‘Estrelas Cabo-verdianas’, na Semana da Juventude, 1997; Fonte: Portfólio do Grupo ‘estrelas Cabo-verdianas (Refª pág. 349) ------------------------------------------------------------------------------------------- 222
Anexo III – 7 D: Foto do Grupo ‘Estrelas Cabo-verdianas’ no espectáculo comemorativo do 25 de Abril de 1998, no Porto; Fonte: Portfólio do Grupo estrelas Cabo-verdianas’ (Refª pág. 349) --------------------------------------------------------------------------------------------224
Anexo III – 7 E: Fotos dos espectáculos do Grupo ‘Estrelas Cabo-verdianas’:FIL, 1998 e D. João V, Amadora, 1998; Fonte: Portfólio do Grupo Estrelas Cabo-verdianas (Refª pág.349) -------------------------------------------------------------------------------------------- 226
179
Anexo III – 7 F: Fotos do Grupo ‘Estrelas Cabo-verdianas’: espectáculo do Encontro ‘Continentes em Movimento’, Oeiras, 1998; Fonte: Portfólio do grupo Estrelas Cabo-verdianas (Refª pág.349) -------------------------------------------------------------------------------------------- 228
Anexo III – 7 G: Fotos do Grupo Estrelas Cabo-verdianas: Animação de Rua no centro Amadora, 1998; Fonte: Potfólio do Grupo ‘Estrelas Cabo-verdianas’ (Refª pág. 349) ------------------------------------------------------------------------------------------- 232
Anexo III – 7 H: Certificado da Afro-Dance passado ao Grupo ‘Estrelas Cabo-verdianas’, 30 Maio 1998; Fonte: Grupo de Jovens ‘estrelas Cabo-verdianas (Refª pág. 349) --------------------------------------------------------------------------------------------234
Anexo III – 7 I: Fotos dos espectáculos do Grupo ‘Estrelas Cabo-verdianas:Bairro da Fontaínhas, Maio de 1999 e Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNL, 1999; Fonte: Portfólio do Grupo ‘Estrelas Cabo-verdianas’ (Refª pág.349) ------------------------------------------------------------------------------------------- 236
Anexo III – 7J: Foto de jovens do Grupo Estrelas Cabo-verdianas:espectáculo Holanda, 1999; Fonte: Portfólio do Grupo ‘estrelas Cabo-verdianas’ (Refª Pág. 349) ------------------------------------------------------------------------------------------ 238
Anexo III – 7 K: Foto do Grupo Estrelas ‘Cabo-verdianas’, Monforte, Julho 1999; Fonte: Portfólio do Grupo estrelas Cabo-verdianas (Refª pág. 349) ------------------------------------------------------------------------------------------ 240
Anexo III – 7L: Foto do Grupo ‘estrelas Cabo-verdianas: convívio em Monforte, 1999; Fonte: Portfólio do Grupo estrelas Cabo-verdianas (Refª pág. 349) ------------------------------------------------------------------------------------------- 242
Anexo III - 7 M: Panfleto do Seminário Saúde e Comunidade, Portela, Lisboa, 1999; Fonte: Grupo de Jovens ‘Estrelas Cabo-verdianas’ (Refª pág. 349) ------------------------------------------------------------------------------------------- 244
Anexo III – 7 N: Panfleto espectáculo de apoio à candidatura à presidência de Jorge Sampaio, Lisboa. Fonte: Grupo de Jovens ‘Estrelas Cabo-verdianas’ (Refª pág.349) -------------------------------------------------------------------------------------------- 246
Anexo III – 8: Relatório da actuação do Grupo ‘Estrelas Cabo-verdianas’ em Loures, Abril de 1999; Fonte: Grupo de Jovens ‘Estrelas Cabo-verdianas (Refª pág. 350) --------------------------------------------------------------------------------------------248
180
Anexo III – 9: Foto de aniversário, Setembro 2000; Fonte: Registos fotográficos do trabalho de campo (Refª pág. 358) ------------------------------------------------------------------------------------------- 251
Anexo III – 10: Foto do grupo de jovens na Pousada da Juventude de Esposende, Abril 2000; Fonte: Registos fotográficos do trabalho de campo (Refª pág. 362) ------------------------------------------------------------------------------------------- 253
Anexo III – 10 A: Fotos do grupo de jovens na Pousada da Juventude de Esposende, Abril 2000; Fonte: Registos fotográficos do trabalho de campo (Refª pág.362) -------------------------------------------------------------------------------------------- 255
Anexo III – 10 B: Fotos do grupo de jovens na Pousada da Juventude Esposende, Abril 2000: um jogo de futebol e uma ‘partida’ de bilhares; Fonte: Registos fotográficos do trabalho de campo (Refª Pág.362) -------------------------------------------------------------------------------------------- 257
Anexo III – 11: Fotos do grupo de jovens na Pousada da Juventude em Mira, Abril 2001: diferentes cosméticas. Fonte: Registos fotográficos do trabalho de campo (Refª pág. 368) -------------------------------------------------------------------------------------------- 259
Anexo III – 11 A: Fotos de Jovens na Pousada da Juventude em Mira, Abril 2001:turno de rapazes e turno das raparigas na cozinha; Fonte: Registos fotográficos do trabalho de campo (Refª pág.368) -------------------------------------------------------------------------------------------- 262
Anexo III – 11 B: Fotos do grupo de jovens em Mira: convivendo e dando um ‘show’ no Clube Náutico da Praia de Mira, Abril, 2001; Fonte: Registos fotográficos do trabalho de campo (Refª pág.368) -------------------------------------------------------------------------------------------- 264
Anexo III – 11 C: Despedida da Praia de Mira com ‘palheiro’ ao fundo, Abril 2001; Fonte: Registos fotográficos do trabalho de campo (Refª pág.368) -------------------------------------------------------------------------------------------- 266
Anexo III – 12: Momentos do trabalho de campo: no bairro Estrela d´África, em Vale do Gueiro e no Dafundo, entre 1999 – 2002; Momentos da vida do Grupo Estrelas Cabo-verdianas: um dia de ensaio no bairro Estrela d’África, 2000; a ‘assembleia’ de jovens a decidir a constituição de uma associação juvenil, Mira 2001; com a Notária após a escritura da Associação ‘NÓS, Associação de Jovens para o Desenvolvimento’, Vila Nova de Poiares, Maio 2002; decidindo o logotipo da Associação, Dafundo, Setembro 2002;
Fonte:Registos fotográficos do trabalho de campo ---------- 268