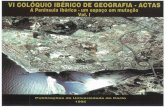DESIGUALDADES NO ESPAÇO URBANO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS – O EXEMPLO DO...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of DESIGUALDADES NO ESPAÇO URBANO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS – O EXEMPLO DO...
I Congresso Brasileiro de Organização do Espaço e
X Seminário de Pós-Graduação em Geografia da UNESP Rio Claro ISBN: 978-85-88454-20-0 05 a 07 de outubro de 2010 – Rio Claro/SP
5556
DESIGUALDADES NO ESPAÇO URBANO: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS – O EXEMPLO DO BAIRRO DE CAMPO
GRANDE - RJ
Vânia Regina Jorge da SILVA Mestre pela PUC – Rio
[email protected] Resumo
O presente artigo se desenvolve através da reflexão teórico-conceitual tendo por objetivo examinar processos aparentemente díspares como: segregação sócio-espacial e centralização/descentralização das atividades comerciais e de serviços que são gerados no mesmo contexto, no processo de acumulação do capital que, através de várias estratégias engendradas por agentes e classes sociais, com os seus interesses econômicos e políticos, são espacializadas na forma de diferenciações, ou melhor, desigualdades. Não só propõe a mesma origem para estes processos mencionados como também a possibilidade de trabalhar com eles de forma dialética a fim de promover o entendimento de recortes espaciais, tendo como exemplo Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, bairro que se encontra segregado e, ao mesmo tempo, figura como um dos importantes subcentros da cidade carioca. Para tal utiliza o arcabouço teórico conceitual ligado à idéia de produção social do espaço ao ressaltar o espaço relacional como um resultado da dialética das diversas dimensões, aspectos, escalas de interações redundando numa produção impregnada de intencionalidades, conflitos, interesses, contradições e política. Palavras-chave: Segregação, descentralização, espaço, desenvolvimento geográfico desigual, Campo Grande – Rio de Janeiro. Abstract
INEQUALITIES IN URBAN SPACE: SOME THEORETICAL-METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS - THE EXAMPLE OF THE
NEIGHBORHOOD CAMPO GRANDE - RJ
The present article is developed through theoretical-concepcional reflections, aiming to examine apparently disparate processes such as: social-spatial segregation and centralization/decentralization of commercial activities and services, generated in the same context, namely: in the process of capital accumulation that, by divers engendered strategies by agents and social classes with their economical and political interests, are spaciously divided by differentiations or better by inequalities. The aim of this study is not only to demonstrate the same origin of the above-mentioned processes, but to show the possibility to work with them in a dialectic form, promoting the understanding of spatial outlines as it is the example of the neighborhood Campo Grande in Rio de Janeiro, the part of the city which finds itself segregated and at the same time is figuring as one of the important Sub-centers of the carioca city. For this, it uses the theoretical and conceptual framework of social space production emphasizing the related space as a dialectical result of divers dimension, aspects, and interaction scales, resulting in a
I Congresso Brasileiro de Organização do Espaço e
X Seminário de Pós-Graduação em Geografia da UNESP Rio Claro ISBN: 978-85-88454-20-0 05 a 07 de outubro de 2010 – Rio Claro/SP
5557
production deeply influenced by intentionally acting, conflicts, interests, contradictions and politics. Keywords: Social-spatial segregation, decentralization, space, uneven geographical development, Campo Grande-Rio Janeiro.
CONSIDERAÇÕES INICIAIS
O presente artigo representa uma busca por embasamento teórico e
metodológico no qual seja possível trabalhar os processos de segregação sócio-espacial
e descentralização de comércio e serviços tendo como exemplo Campo Grande – RJ. A
relevância deste ocorre ao se trabalhar estes dois processos aparentemente díspares de
uma forma dialética.
A empiria que foi trabalhada ocorreu pela observação e coleta de dados a
respeito deste proeminente bairro localizado na Zona Oeste do município do Rio de
Janeiro. Embora se trabalhe com o bairro, existe a necessidade, de considerar a relação
deste com a cidade carioca e a Região Metropolitana do Rio de Janeiro visto que estão
sendo avaliados os processos mencionados. O recorte temporal ocorre desde a década
de 1990 até a presente data (2010) visto que, aborda alguns movimentos que foram
espacializados, percebidos como condicionantes e participantes de sucessivas dinâmicas
até a presente consideração.
A necessidade de trabalhar com estes dois processos já mencionados veio diante
da constatação de contradições ao examinar o recorte espacial suscitando as seguintes
questões: como trabalhar, no mesmo contexto, a percepção da segregação sócio-espacial
e a existência de um importante subcentro comercial neste bairro? E, como estes
interagem promovendo a realidade espacial observada? Que padrões de segregação
podem ser destacados? O que nos revela o processo de descentralização com respeito à
cidade carioca?
Para exemplificar os processos de segregação e descentralização foi considerado
o serviço de transporte público como um dos elementos estruturadores do espaço
urbano. Assim, o artigo acha-se organizado da seguinte forma: na primeira parte, sob o
título: “A busca teórica metodológica e conceitual”, se faz um embasamento com o qual
o trabalho foi construído destacando o conceito de espaço. Na segunda parte, são feitas
considerações sobre segregação sócio-espacial e descentralização exemplificadas em
Campo Grande tendo o transporte público como um elemento estruturador que ressalta
os processos. As considerações finais têm por objetivo justamente demonstrar a
I Congresso Brasileiro de Organização do Espaço e
X Seminário de Pós-Graduação em Geografia da UNESP Rio Claro ISBN: 978-85-88454-20-0 05 a 07 de outubro de 2010 – Rio Claro/SP
5558
pesquisa como algo em aberto porque considera processos dinâmicos que, com novos
movimentos requerem novas investigações.
A BUSCA TEÓRICA METODOLÓGICA E CONCEITUAL
Quanto ao embasamento teórico conceitual, foi trabalhado com o espaço
geográfico desde a perspectiva do espaço absoluto, destacando as de espaço relativo e
espaço relacional nas considerações de Harvey (2006). Ainda de acordo com o mesmo
autor (1980, p.5) é através das práticas sociais que se pode apreender “a natureza do
espaço e as relações entre processo social e formas espaciais”, entre estas práticas
sociais, podemos citar a seletividade. Na atualidade, esta se acha “governada pela lógica
de mercado, (...) cada vez mais especializada e fragmentária do espaço (...)”, existindo
em função de uma divisão territorial do trabalho (MOREIRA, 2007, p. 86). Ao passo
que a cidade do Rio de Janeiro se inseriu na lógica capitalista, houve vários momentos
de seletividade de acordo com os interesses dos diversos agentes sociais do espaço, em
especial, dos especuladores imobiliários, configurando no decorrer do tempo, um
espaço segregado e fragmentado. Isto pode ser observado tanto na escala da cidade
como ao examinar o espaço interno de Campo Grande.
Na busca por uma teoria social crítica que desse conta da totalidade do espaço,
ou seja, que relacionasse sua parte física, social e mental, Lefebvre (1994) destaca o
espaço como uma produção social. Sendo assim, este contém as relações sociais:
produção, reprodução e reprodução das relações de produção, estes três aspectos
estando imbricados. As relações sociais de produção referem-se às necessidades
materiais sendo satisfeitas através do trabalho social. As relações de reprodução, de
acordo com o autor, correspondem à reprodução biológica que dá continuidade a
sociedade. E, no caso da sociedade capitalista, as relações de reprodução da produção
referem-se a toda reprodução de materialidades e simbolismos que possam dar
continuidade a esta sociedade enquanto uma sociedade de classes. Nosso interesse é
demonstrar esta reprodução da produção em classes espacializadas de forma desigual,
ao mesmo tempo segregada e homogeneizada e com suas contradições e conflitos.
Na produção social do espaço, há uma influência mútua num processo contínuo
e dialético entre sociedade e espaço através das relações sociais. Corroborando este
pensamento, nota-se que o espaço é ativo e condicionante das ações, conforme Gomes
acrescenta: “O espaço geográfico é simultaneamente, o terreno onde as práticas sociais
I Congresso Brasileiro de Organização do Espaço e
X Seminário de Pós-Graduação em Geografia da UNESP Rio Claro ISBN: 978-85-88454-20-0 05 a 07 de outubro de 2010 – Rio Claro/SP
5559
se exercem, a condição necessária para que elas existam e o quadro que as delimita e
lhes dá sentido” (2002, p 172). Ainda, Santos (1997) aborda sobre o espaço como co-
produtor, isto é, interfere no devir. Não que este seja um ser autônomo, mas, através da
prática social, com suas intencionalidades, simbolismo, políticas que o espaço interfere
na sua produção. Um espaço segregado, como será exemplificado com a cidade do Rio
de Janeiro em especial, o bairro de Campo Grande, condiciona a sociedade na
reprodução desta realidade e de outras, como as centralidades. Este texto propõe a
apreensão das contradições e conflitos que emergem no espaço como reflexão para se
galgar mudanças.
Através das práticas sociais que percebemos a produção do espaço, sendo assim,
podemos considerar o espaço urbano, neste encontram-se atores que através de suas
ações (ou práticas) promovem processos sócio-espaciais que o remodelam. Corrêa
(2001, 146) identificou estes como “(...) agentes que produzem e consomem (o) espaço
urbano: proprietários dos meios de produção, sobretudo os grandes industriais,
proprietários fundiários, promotores imobiliários, Estado e grupos sociais excluídos”. A
inter-relação destes agentes resulta para o espaço em aspectos como os apresentados a
seguir: o espaço urbano é fragmentado e articulado, reflexo e condição social, campo
simbólico e de lutas (op. cit. p. 145). Como o autor salienta, a cidade capitalista se
apresenta como um “mosaico urbano” exemplificado pelas partes funcionais de uma
dada área metropolitana. Porém, estes fragmentos estão articulados através de fluxos
como deslocamentos de consumidores, jornada de trabalho, interações interindustriais
etc. (p. 148), campo de interesse do planejamento urbano, visto que, estes
deslocamentos demandam oferta de transporte que viabilize estas interrelações1.
Ainda, justificando trabalhar com o transporte público relacionado aos processos
de segregação sócio-espacial e descentralização do comércio e de serviços, Harvey
(1994, 202) considera a “fricção da distância” como barreira a interações impondo
custos nas transações do sistema de produção e reprodução. Visto que o sistema de
transporte é um requisito para a mobilidade espacial e acessibilidade este elemento
torna-se relevante ao estudarmos o desenvolvimento desigual do espaço. Percebemos
então, no caso da cidade do Rio de Janeiro que, dentro do processo de acumulação
capitalista, novos investimentos em transportes públicos tendem a se concentrar onde já
1 São feitas considerações extensas quanto à importância do transporte público e do planejamento urbano deste elemento estruturador do espaço urbano em Silva (2009).
I Congresso Brasileiro de Organização do Espaço e
X Seminário de Pós-Graduação em Geografia da UNESP Rio Claro ISBN: 978-85-88454-20-0 05 a 07 de outubro de 2010 – Rio Claro/SP
5560
existem infra-estruturas, formando assim, uma concentração destas e de capitais,
reproduzindo a diferenciação espacial.
Ressaltando a influência desta infra-estrutura e sua relação com a produção e
reprodução de uma espacialidade segregada bem como de centralidades, Lago (2007a,
p. 286) considera que a intensidade de circulação diária
“(...) resulta da articulação entre a hierarquia espacial de centros e subcentros econômicos, as condições de transportes coletivos (os itinerários, a periodicidade e as tarifas) e a dinâmica imobiliária, responsável pela localização dos diferentes setores sociais no território.”
O embasamento teórico metodológico da pesquisa ocorre de acordo com a teoria
do desenvolvimento geográfico desigual e suas tendências contraditórias para
diferenciação e equalização, ou igualização (SMITH, 1998). Esta se tornou necessária
em virtude das diferenciações sócio-espaciais observadas no bairro em estudo e na
cidade do Rio de Janeiro engendradas no decorrer do tempo. Concomitante ao processo
de segregação sócio-espacial engendrado principalmente pela especulação imobiliária –
não somente por esta, visto que se requer todo um contexto político e econômico para
tal e a ação dos vários agentes espaciais – houve os processos de centralização e
descentralização do comércio e de serviços por causa dos interesses de acumulação do
capital nos seus diversos setores. Assim, Smith (1998), discorre que existe momento em
que a equalização predomina sobre a diferenciação. Quanto à primeira, existe no bojo
do desenvolvimento do capital a necessidade de expandir constantemente seu mercado,
seus produtos em escalas geográficas cada vez maiores, ou seja, este processo pode ser
observado em várias escalas, inclusive na intra-urbana. Segundo o autor, esta
igualização é na verdade a generalização de determinado modo capitalista. Podemos
afirmar que quando houve a descentralização do comércio e de serviços, processo
observado também na urbe carioca, provocando a emergência do que Kossmann e
Ribeiro (1984) observaram como subcentros, na verdade houve novos momentos de
processos inseridos na acumulação progressiva do capital e consequentemente na
produção social do espaço, criando novas centralidades ou subcentros.
Diante do processo contraditório de centralização e dispersão da produção
capitalista, que compõe o desenvolvimento geográfico desigual no contínuo processo de
acumulação em curso, pode-se destacar não somente a produção de mercadoria terra
enquanto valor de troca, mas também a descentralização do setor terciário percebido em
I Congresso Brasileiro de Organização do Espaço e
X Seminário de Pós-Graduação em Geografia da UNESP Rio Claro ISBN: 978-85-88454-20-0 05 a 07 de outubro de 2010 – Rio Claro/SP
5561
cidades como o Rio de Janeiro, constituindo Campo Grande um dos importantes
subcentros carioca. Portanto, a seguir, é feita uma comparação entre o bairro de Campo
Grande com outros que, configuram também importantes subcentros carioca, com o
intuito de confirmar a importância da sua centralidade e a segregação urbana como um
fato sócio-espacial vigente.
SEGREGAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO: PROCESSOS DÍSPARES?
Os processos de segregação sócio-espacial e o de descentralização das atividades
de comércio e serviço não são desenvolvidos em dinâmicas totalmente independentes.
São na verdade, processos que ocorrem dentro de uma dinâmicas mais abrangente, qual
seja, a acumulação contínua do capital que tende, de acordo com seus intentos, ora
diferenciar, ora, igualizar, e estas dinâmicas são espacializadas, portanto, processos
sociais espacializados.
Ao reconsiderar as postulações de Smith (1998), se nota através da expansão do
espaço urbano carioca e as relações intraurbanas de suas partes funcionais “as
tendências contraditórias para a diferenciação e para igualização que determinam a
produção capitalista do espaço” que surge no “âmago da produção capitalista” e
inscreve-se na paisagem como um “padrão de desenvolvimento desigual” (p.149). Em
suas postulações, o autor abordou quanto a causa da diferenciação espacializada ser a
divisão do trabalho em suas variadas escalas mas também a divisão do capital em seus
diversos setores. Diante disto, podemos apreender sobre as diferenciações produzidas
diante da especulação imobiliária que, com a participação de vários agentes que
interferem na produção do espaço (Estado, especulador imobiliário, proprietário de
terras) foram criando, de acordo com interesses de acumulação do capital, meios para
diferenciar áreas destinadas às camadas sociais de acordo com as suas possibilidades de
aquisição de uma mercadoria chamada terra, seja para especulação ou moradia.
Entendem-se estas áreas diferenciadas como mosaicos (HARVEY, 2004, p.111) que
expressam diferenças geográficas como legados históricos e geográficos reproduzidos,
sustentados e reconfigurados por processos políticos e econômicos.
Com este intento, primeiro cabem algumas considerações de cada processo com
exemplificações e depois, relacioná-los. Ao considerar a segregação em seus variados
aspectos, suas causas e conseqüências, agentes sociais, percebemos diversas postulações
sobre este conceito. Entre estes, destacaremos alguns autores, por exemplo, Villaça
(2001) argumenta que o padrão mais conhecido de segregação metropolitana brasileira é
I Congresso Brasileiro de Organização do Espaço e
X Seminário de Pós-Graduação em Geografia da UNESP Rio Claro ISBN: 978-85-88454-20-0 05 a 07 de outubro de 2010 – Rio Claro/SP
5562
o de centro x periferia. Importante destacar em suas postulações que, estudar a
segregação como um processo é “fundamental para compreender a estrutura espacial
intra-urbana”. Processo este em que as classes sociais tendem a se concentrar cada vez
mais em diferentes regiões gerais ou conjunto de bairros na metrópole [grifo do autor]
(p. 141, 142).
Quanto ao padrão de segregação que a cidade do Rio de Janeiro apresenta, cabe
destacar ainda outras afirmações do referido autor no qual considera que o fato de não
haver a “presença exclusiva de camadas da mais alta renda em nenhuma região geral na
metrópole” não invalida o padrão núcleo – periferia ou, centro-periferia. Villaça (2001,
p. 143) a respeito do assunto postula:
“Nada disso altera a tendência à concentração das camadas de mais alta renda naquelas regiões. (...) O que determina, em uma região a segregação de uma classe é a concentração significativa dessa classe mais do que em qualquer outra região geral da metrópole.”
A importante contribuição das postulações de Villaça (2001) está no fato deste
discorrer da segregação como um processo e tendência, e que esta é necessária “à
dominação social, econômica e política por meio do espaço” (p. 143).
Contrapondo com o autor acima, Lago (2000) apresenta o outro padrão de
segregação urbana apontando este como conseqüência da crise e reestruturação
econômica e estatal que o país perpassa desde a década de 1980. A autora aborda a
localização das classes sociais opondo o padrão desigual integrado centro-periferia ao
novo padrão fragmentado/excludente. Quanto ao primeiro, argumenta que este padrão
imperou até os anos 80 numa configuração espacial em que havia concentração de
emprego e moradia das classes médias e superiores e dos equipamentos urbanos de
serviços nas áreas centrais em detrimento dos espaços periféricos carentes de forma
geral. Nas décadas de 1980 e 1990, se amplia a mesma lógica segregadora ao se
expandir o mercado empresarial e de serviços para a classe média em áreas periféricas,
destacando-se que, primeiro a ação empresarial e depois a ação pública de regulação e
regularização fundiária ia a reboque do capital. Assim, nesta fase já se apresenta uma
configuração espacial que irá se reforçar após a crise, ou seja, a proximidade espacial de
pobres e ricos na periferia dando um novo aspecto ao tema da segregação urbana.
O novo padrão de segregação urbana, conhecido como fragmentado/excludente,
reduz a escala e aproxima ricos e pobres, ao passo que diminui as interações dos grupos
sociais distintos motivados e “justificados” pelo medo da violência. Esta nova
I Congresso Brasileiro de Organização do Espaço e
X Seminário de Pós-Graduação em Geografia da UNESP Rio Claro ISBN: 978-85-88454-20-0 05 a 07 de outubro de 2010 – Rio Claro/SP
5563
configuração se viabiliza por causa do aumento das desigualdades de renda e exclusão
social diante das reestruturações econômicas e políticas. Lago (2007a) aborda que o
primeiro modelo, centro-periferia, se pautava na dimensão espacial das desigualdades
de acesso ao trabalho e a moradia, e a bens e serviços urbanos. Enquanto no outro
modelo, fragmentado/excludente, houve o foco no efeito das novas configurações
espaciais (condôminos, favelas etc.) sobre as formas de interação entre os diferentes.
Relacionando local de moradia e trabalho bem como a composição sócio-espacial da
metrópole do Rio de Janeiro, utiliza o mapa 1 a seguir mostrando uma exemplificação
do segundo padrão de segregação2. Porém, com todo o respeito às considerações da
autora, até que ponto percebemos nos processos espaciais que são dinâmicos,
continuidades e rupturas? Ou seja, até que ponto se pode observar tanto o modelo
centro-periferia como o fragmentado/excludente? Ainda se percebe, analisando esta
figura, a permanência do modelo dual? Não estariam as pautas dos dois padrões em
recorrência?
MAPA 1 – TIPOLOGIA SOCIOESPACIAL POR AED – 2000
Fonte: Observatório das Metrópoles (2000).
2 Explicitando as tipologias socioespacial utilizadas no mapa 1, Lago (2007, p. 9) observa que foram desenvolvidas baseadas em dados censitários de 1980-2000 através de uma análise fatorial entre as categorias sócio-ocupacionais pelas áreas desmembradas da metrópole do Rio de Janeiro chegando a oito tipos socioespaciais: superior, superior médio, médio, médio inferior, operário, popular operário, popular e popular agrícola. Na figura citada, a autora trabalha com quatro englobando estes oito com o objetivo de relacionar a composição sócio-ocupacional de cada área com o todo da metrópole. Ainda, estas categorias envolvem tipos de ocupação envolvendo desde grandes empresários até agricultores.
I Congresso Brasileiro de Organização do Espaço e
X Seminário de Pós-Graduação em Geografia da UNESP Rio Claro ISBN: 978-85-88454-20-0 05 a 07 de outubro de 2010 – Rio Claro/SP
5564
FIGURA 1 – MODELO NÚCLEO-PERIFERIA NA METROPOL. DO RIO DE JANEIRO
Fonte: Abreu (2006).
Considerando ainda o mapa 1, podemos notar, no caso da cidade do Rio de
Janeiro, hoje existe: a predominância da tipologia de nível superior na Zona Sul, Barra
da Tijuca e Recreio, e algumas áreas na Zona Norte; a tipologia média em amplas áreas
da Zona Norte carioca e no centro de Campo Grande; e a tipologia popular e operária se
espraiando pelo restante da Zona Oeste que abrangem as áreas desde Deodoro até Santa
Cruz e Guaratiba, incluindo a maior parte do bairro de Campo Grande. Nota-se que os
dois modelos podem ser trabalhados de acordo com o foco do trabalho, ou ainda, em
concomitância. Reafirmando as palavras de Villaça (2001), em Campo Grande, de
acordo com a tipologia exemplificada pela autora supracitada, predomina a classe
popular e operária, evidenciando assim o modelo dual explorado nesta pesquisa,
enquanto que, observa-se também a situação do outro modelo analítico através da
composição diversificada do bairro.
Conforme figura 1, Abreu (2006) trabalhou com círculos evidenciando o núcleo
e os diferentes tipos de periferia na metrópole do Rio de Janeiro de acordo com a sua
composição social: o primeiro círculo, o núcleo (ou centro) formado pela área comercial
e financeira central (o antigo core histórico da cidade) e suas expansões pela orla da
I Congresso Brasileiro de Organização do Espaço e
X Seminário de Pós-Graduação em Geografia da UNESP Rio Claro ISBN: 978-85-88454-20-0 05 a 07 de outubro de 2010 – Rio Claro/SP
5565
zona sul. O segundo círculo, a periferia imediata, composta pelos subúrbios mais
antigos da urbe carioca que se formaram ao longo das estradas de ferro e a zona norte de
Niterói. Inclui a faixa da Barra da Tijuca e Jacarepaguá, que no ano em que foi feito os
estudos pelo autor, apresentava um caráter periférico, porém, com uma ocupação
insipiente na época de classes de alta renda, indicando que esta área comporia também,
futuramente o núcleo metropolitano (p.18). O terceiro círculo, a periferia intermediária
constituída pelos municípios conurbados adjacentes à cidade do Rio de Janeiro e o
restante da Zona Oeste deste município, da qual Campo Grande faz parte. Finalmente o
quarto círculo, a periferia distante, a área mais afastada e contiguamente urbanizada da
metrópole carioca.
Avaliando o mapa 1 e a figura 1, podemos inferir que a segregação sócio-
espacial sendo um processo dinâmico, no decorrer do tempo, apresenta rupturas e
continuidades. Entre as rupturas podemos mencionar a necessidade de observar o
padrão fragmentado/excludente por este contemplar novas dinâmicas sócio-espaciais
como a proximidade espacial concomitante ao distanciamento social observado em
muitas cidades brasileiras exemplificada entre as áreas de ocupação popular ao lado de
condomínios de luxo. Quanto às continuidades, o padrão dual permanece tendo a Área
Central da cidade do Rio de Janeiro, com algumas modificações porque hoje podemos
incluir Barra da Tijuca e Recreio, além do centro e Zona Sul. Em relação com o restante
da cidade, esta expressa concentrações que ratificam o padrão centro - periferia.
Após estas últimas considerações torna-se claro que a segregação sócio-espacial
é um produto que se efetiva amplamente no espaço urbano e é consolidado através do
tempo por causa de diversos ditames sociais, político, econômico e cultural, tendo como
agentes efetivos o Estado e as diversas subdivisões do capital, em especial o imobiliário
e no caso da segregação residencial, é a expressão mais evidente da segregação sócio-
espacial. Neste contexto, ainda pode-se afirmar que os dois padrões de segregação
abordados, o padrão desigual integrado centro-periferia e o novo padrão
fragmentado/excludente são visões de segregação que não se excluem uma vez que
podem ser trabalhados simultaneamente de acordo com a escala. Neste momento da
pesquisa tem a pretensão de observar o bairro de Campo Grande principalmente com
respeito ao padrão centro-periferia pelo fato de se trabalhar com a relação entre o
recorte em estudo e a cidade do Rio de Janeiro, e a distribuição desigual de infra-
estrutura de transporte público.
Ao avaliar a segregação segundo o padrão centro-periferia fez-se uma
comparação da renda e o grau de instrução predominante entre o bairro de Campo
I Congresso Brasileiro de Organização do Espaço e
X Seminário de Pós-Graduação em Geografia da UNESP Rio Claro ISBN: 978-85-88454-20-0 05 a 07 de outubro de 2010 – Rio Claro/SP
5566
Grande, com outros bairros da urbe carioca, a saber: Centro, Copacabana, Tijuca, Méier,
Madureira, Jacarepaguá e Barra da Tijuca. O motivo de escolha destes é por estarem
espalhados por todas as zonas da cidade do Rio de Janeiro, tornando-se assim,
representantes para exemplificar a segregação sócio-espacial vigente no Rio de Janeiro.
De modo que, no que se refere à renda, o modelo centro-periferia se apresenta,
incluindo Campo Grande e Santa Cruz nesta periferia com as menores rendas per capita
dos bairros considerados. Observa-se nas tabelas 1 a seguir que, as maiores rendas per
capita ficam respectivamente com Barra da Tijuca, Copacabana e Tijuca, enquanto que,
as menores estão em Campo Grande e Santa Cruz. Corroborando a visão da segregação
espacial centro-periferia.
TABELA1 – Rendimento domiciliar per capita por bairros do Município
do Rio de Janeiro – em Reais (R$) do ano de 2000. Bairros Rendimento per capita 2000 Barra da Tijuca 2.722,13 Copacabana 1.887,34 Tijuca 1.438,51 Méier 1.091,88 Centro 734,78 Jacarepaguá 493,37 Madureira 468,53 Campo Grande 392,49 Santa Cruz 234,36
Fonte: Armazém de Dados da Pref. do Rio de Janeiro (2009).
A pesquisa de dados por grau de instrução foi feita através da média de anos de
estudo por bairros, o padrão demonstrado é o mesmo, onde a maior média de anos de
estudo se apresenta nos bairros da Área Central da cidade do Rio de Janeiro e das áreas
mais próximas a esta. Os bairros mais afastados apresentam médias inferiores à do
município que é de 8,3 anos de estudo, conforme estão indicados na tabela 2 abaixo.
TABELA 2 – Média de anos de estudo por bairros do
Município do Rio de Janeiro – 2000. Bairros Média de anos de
estudo Barra da Tijuca 13,25 Copacabana 11,76 Tijuca 11,28 Méier 11,07 Centro 8,96 Jacarepaguá 8,33 Madureira 7,92 Campo Grande 7,63 Santa Cruz 6,15
Fonte: Armazém de Dados da Pref. do Rio de Janeiro (2009)
I Congresso Brasileiro de Organização do Espaço e
X Seminário de Pós-Graduação em Geografia da UNESP Rio Claro ISBN: 978-85-88454-20-0 05 a 07 de outubro de 2010 – Rio Claro/SP
5567
Conforme evidenciado, através da renda e grau de instrução, a segregação no
padrão centro-periferia se apresenta na cidade do Rio de Janeiro, embora, como
mencionado, este processo possui tendências de maneira que, temos expressivas
concentrações de faixas de renda mais altas e maior grau de instrução em áreas como
Copacabana e Barra da Tijuca. No Centro, Jacarepaguá, Tijuca, Méier e Madureira,
temos uma situação intermediária. Ao passo que, nas áreas mais afastadas da Área
Central, ocorre a concentração maciça de renda na faixa mais baixa com menor grau de
instrução, como é o caso de Santa Cruz e Campo Grande.
Tendo por objetivo relacionar os processos de segregação sócio-espacial com o
de descentralização das atividades econômicas, percebe-se a necessidade de se ater um
pouco aos conceitos de centro, centralidade e nos processos de centralização e
descentralização no bojo do desenvolvimento da acumulação capitalista.
Kossmann e Ribeiro (1984) comentam que, no caso do Rio de Janeiro, na década
de 1930 e mais intensamente na década de 1940, o quadro de centralização começa
mudar na cidade carioca, passando para progressiva descentralização, tomando após a
década de 1950 a forma de subcentros. Alguns bairros que atraiam significativas
parcelas de estabelecimentos comerciais e de serviços que, até então, estavam limitados
ao centro da cidade. Esta segunda maneira de expressar os conceitos de centro e
centralidade ocorre a partir da noção de estruturação urbana. Este, mais dinâmico e
expressando um processo, compreende a importância dos fluxos que se encontram em
movimento no território. Considera a centralidade a partir dos fluxos que gera, seja de
pessoas, de automóveis, de capitais, de decisões, de informações e mercadorias.
Nesta conformação espacial com o processo de descentralização e dispersão,
observou-se também o espraiamento urbano. De acordo com Tourinho (2007), o centro
perdeu centralidade para novas áreas, porém, não perdeu a sua centralidade, continua
sendo Centro não apenas em sentido operativo e funcional, mas também por aspectos
simbólicos e formais, além de funcionais. Ainda, o centro, e as demais áreas
polarizadoras constituem o mesmo sistema por causa do crescimento da cidade de forma
contínua e interligada, portanto, são complementares. Neste contexto, centralidade
identifica um espaço urbano que pode conter em si condições necessárias para
existência de concentração de fluxos diversos (riquezas, decisões, pessoas, bens).
Da mesma forma, em uma pesquisa abordando a (re)produção do espaço urbano
carioca, Ferreira (2007) disserta quanto as recentes modificações no que diz respeito à
flexibilização da produção, do produto e das relações de trabalho participando na
I Congresso Brasileiro de Organização do Espaço e
X Seminário de Pós-Graduação em Geografia da UNESP Rio Claro ISBN: 978-85-88454-20-0 05 a 07 de outubro de 2010 – Rio Claro/SP
5568
reestruturação da cidade do Rio de Janeiro. O autor percebe as mudanças em andamento
entre as centralidades. Desta feita, observa que o bairro do Centro manteve a gestão
pública e do setor de serviços, também, toda forma de comércio, permanecendo o centro
financeiro e gestão da cidade. Em suas palavras: “O Centro do Rio de Janeiro perde
empresas, mas adquire novas funções” (p. 225, 227).
Novamente Kossmann e Ribeiro (1984) ao ressaltar que os bairros que se
tornaram subcentros na cidade carioca não se encontram nivelados e sim, são
hierarquizados ou especializados, observando ainda que no centro da cidade permanece
a sua hegemonia por concentrar atividades financeiras e de gestão, dos serviços públicos
etc. Sendo assim, “o centro da cidade ainda detém uma quantidade expressiva de
empresas e filiais, além dos seus escritórios centrais e administração, exercendo a
função de controle e decisão” (p. 200). Porém, exerce atualmente novas funções, como
educacional e de lazer, em virtude do processo de refuncionalização de muitos prédios
que antes se localizavam escritórios e sedes empresariais, como foi explanado
anteriormente.
Cabe ressaltar que, embora haja uma diversidade das abordagens do tema
Centralidade, neste trabalho optamos nos fundamentar na visão dialética espaço-
sociedade em que enfatiza tanto o sujeito (sujeito/atores sociais da produção do espaço)
quanto o objeto (o espaço como condição para a vida). Em conformidade com Lefebvre
(2008), o espaço é político porque envolto de estratégias e interesses das camadas
sociais, portanto, impregnados de contradições e conflitos, sendo assim, na
descentralização, o que houve foi a descentralização das produções e serviços, não da
gestão, conforme acima indicado, as camadas e classes sociais muitas vezes não
apresentam ou não lhe é permitido gerir as suas localizações ou ter o poder político para
ações de acordo com os próprios interesses. Ou seja, no caso de Campo Grande, até que
ponto a distância, a população local e adjacente, a infra-estrutura de transporte
contribuíram para, e perpetuam a sua condição de subcentro de relevância na cidade
carioca?
Em Campo Grande, devido à distância e às dificuldades de mobilidade, ao
adensamento populacional e à proximidade com uma área adjacente povoada,
motivaram a emergência de um subcentro. Após isto, houve uma diversificação social
através de uma especulação imobiliária de cunho formal atrelada à maior regulação do
uso do solo pelo poder público e sistema financeiro de habitação contribuindo para uma
maior ocupação da classe média. Se por um lado, no decorrer do tempo, a área em
estudo se encontra segregada espacialmente, por outro lado a expansão da própria
I Congresso Brasileiro de Organização do Espaço e
X Seminário de Pós-Graduação em Geografia da UNESP Rio Claro ISBN: 978-85-88454-20-0 05 a 07 de outubro de 2010 – Rio Claro/SP
5569
cidade, a quantidade populacional, a acessibilidade conferida por sua rodoviária e
estação ferroviária, e a proximidade com outras áreas habitadas, possibilitaram ao bairro
condições para a localização de um importante centro comercial e de serviços que,
pode-se buscar sua área de influência através dos fluxos de transporte diário. Isto posto,
podemos perceber o espaço urbano como produto de diferentes e desiguais apropriações
feitas pelas classes e camadas sociais no contexto da apropriação privada e no decorrer
do tempo, expressando assim diversas temporalidades.
Uma primeira apreensão que podemos fazer da centralidade do bairro em estudo
é começar compará-lo com outros na cidade do Rio de Janeiro retomando as
consecuções quanto ao espaço relacional que existe enquanto em relação com outros e
expressa intencionalidades inclusive políticas. Serão novamente comparados a Campo
Grande os seguintes bairros: Barra da Tijuca, Centro, Copacabana, Jacarepaguá,
Madureira, Méier, Santa Cruz e Tijuca. A primeira comparação a ser feita é com
respeito ao número total de habitantes em cada bairro em relação ao município,
conforme tabela 3. O que podemos depreender é que entre os bairros relacionados,
Campo Grande apresenta a maior população absoluta com um percentual de 5,08%.
Esta informação é pertinente para outras comparações que serão feitas adiante.
TABELA 3 – Percentual de população por bairro em relação ao município
do Rio de Janeiro (Censo 2000) Bairros População total Percentual em relação ao
Rio de Janeiro (%) Campo Grande 297.494 5,08 Santa Cruz 191.836 3,27 Tijuca 163.636 2,79 Copacabana 147.021 2,51 Jacarepaguá 100.822 1,7 Barra da Tijuca 92.233 1,58 Méier 51.344 0,88 Madureira 49.546 0,85 Centro 39.135 0,67 Rio de Janeiro 5.857.904 100
Fonte: Armazém de Dados da Pref. do Rio de Janeiro (2009). A partir do exposto, podemos considerar alguns aspectos que nos auxiliam
perceber a centralidade que o bairro exerce através das atividades de comércio e
serviços. Por exemplo, no setor de educação: entre as instituições de nível superior nesta
localidade temos: a Universidade Moacyr Sreder Bastos que atua na Zona Oeste desde
1969, a FEUC - Faculdades Integradas Campo-Grandenses há mais de quarenta e cinco
anos dedica-se à formação de professores em diversas áreas também com cursos de
I Congresso Brasileiro de Organização do Espaço e
X Seminário de Pós-Graduação em Geografia da UNESP Rio Claro ISBN: 978-85-88454-20-0 05 a 07 de outubro de 2010 – Rio Claro/SP
5570
graduação e pós-graduação; ainda, um campus da Estácio de Sá e da
UNIVERCIDADE.; além destas instituições privadas, há a Universidade Estadual da
Zona Oeste (UEZO) com cursos superiores de formação tecnológica e cursos à
distância. Este quadro nos remete a algumas considerações: 1º) A cidade do Rio de
Janeiro possuindo três unidades de universidade pública, duas se encontram na Zona
Norte carioca e uma na Zona Sul, demandando deslocamento de outras áreas da cidade,
como é o caso de Campo Grande – Zona Oeste; 2º) Os cursos oferecidos na UEZO
limitam as escolhas e possibilidades de muitas pessoas visto que não são oferecidos
muitos cursos e não abrangem as diversas áreas do conhecimento; 3º) A maior parte das
instituições e cursos é da rede privada, assim como no restante da cidade, porém, numa
formação continuada, os cursos de pós-graduação sem custo para o estudante e que lhe
possibilite uma inserção melhor nas atividades acadêmicas de pesquisa, são oferecidos
nas instituições públicas, ou então, em universidades privadas distantes. Todo este
quadro compromete a possibilidade de mudanças sociais internas ao bairro e demandam
transportes públicos.
As pesquisas em catálogo telefônico3 evidenciam que existe nos bairros
comparados a hierarquia e hegemonia de centralidades entre eles. Em termos totais, o
bairro de Campo Grande apresenta o maior número de unidades de educação4 , 358, o
que corresponde à 6,06% do total de unidades examinadas para a cidade do Rio de
Janeiro. Ainda, Campo Grande possui o maior número de escolas públicas, 133.
Enquanto que, o maior número de escolas particulares encontra-se em Jacarepaguá e a
maior quantidade de faculdades e universidades está no Centro do Rio de Janeiro, 41.
Porém, se relativizarmos com o total de habitantes por bairro, Campo Grande encontra-
se em sétimo lugar dentre os nove bairros analisados com um percentual de 12 unidades
a cada cem habitantes (12/100), superando apenas Copacabana e Santa Cruz no que diz
respeito à educação, respectivamente com 10/100 e 8/100. Estas informações são
pertinentes para denotar a hierarquia e hegemonia de centralidades entre os bairros,
permanecendo hegemônico o Centro do Rio de Janeiro com um percentual de 89
unidades para cada cem habitantes, seguido pelos seguintes bairros em ordem
decrescente: Jacarepaguá, Méier, Barra da Tijuca, Madureira e Tijuca conforme o
gráfico 1.
3 Foi utilizado o catálogo telefônico eletrônico: www.telelistas. net (2009). 4 Como unidades de educação foram escolhidas nos anúncios de catálogo telefônico as seguintes categorias: escolas e cursos de idiomas, creches, cursos de pós-graduação, cursos pré-vestibulares, cursos supletivos, escolas de educação infantil, escolas particulares, escolas públicas, escolas técnicas profissionalizantes, faculdades e universidades, cursos de informática.
I Congresso Brasileiro de Organização do Espaço e
X Seminário de Pós-Graduação em Geografia da UNESP Rio Claro ISBN: 978-85-88454-20-0 05 a 07 de outubro de 2010 – Rio Claro/SP
5571
GRÁFICO 1 - Percentual de unidades de educação por bairro em relação ao número total da população local (Censo 2000)
Barra da Tijuca;
0,23% Campo Grande;
0,12%
Centro; 0,89%
Copacabana;
0,10%
Jacarepaguá;
0,33%
Madureira;
0,20%
Méier; 0,31%
Santa Cruz;
0,08%
Tijuca; 0,17%
Fontes: Armazém de Dados da Pref. do Rio de Janeiro e www.telelistas.net (2009).
Outro tipo de serviço que existe no bairro e que gera fluxo demandando o
transporte público é o serviço de saúde. Campo Grande encontra-se em sétimo lugar
entre os bairros considerados, no que diz respeito ao número total de unidades de saúde5
perfazendo 3,10% do total da urbe carioca.
Em termos totais, Copacabana apresenta o maior número de unidades de saúde
percebendo 13,30 % do total da cidade do Rio de Janeiro, seguido por: Tijuca (10,48%),
Centro (9,45%), Barra da Tijuca (6,59%), Méier (4, 37%), Jacarepaguá (3,51%). Por
último, estão Madureira e Santa Cruz com, respectivamente, 2,11% e 0,58%.
Relativizando com o valor total de habitantes por bairro, conforme o gráfico 2 a seguir,
podemos perceber que, o bairro em estudo encontra-se em oitavo lugar, com 0,25%,
precedido pelos bairros comentados acima e seguido por Santa Cruz com 0,07%.
Porém, de acordo com esta proporcionalidade, o Centro demonstra o maior percentual
(5,87%) seguido por: Copacabana (2,15%), Méier (2,07%), Barra da Tijuca (1,74%),
Tijuca (1,55%), Madureira (1,03%) e Jacarepaguá (0,84%).
5 Como unidades de saúde examinadas no catálogo telefônico e que compõe a pesquisa são: clínicas de diversas especialidades, assistência médica e odontológica, dentistas de especialidades diversas, farmácias, centros e postos de saúde, hospitais particulares, hospitais públicos, laboratórios de análises clínicas, médicos de diversas especialidades.
I Congresso Brasileiro de Organização do Espaço e
X Seminário de Pós-Graduação em Geografia da UNESP Rio Claro ISBN: 978-85-88454-20-0 05 a 07 de outubro de 2010 – Rio Claro/SP
5572
GRÁFICO 2 - Percentual de unidades de saúde por bairro em relação ao número total da população local (Censo 2000)
Barra da
Tijuca; 1,74%
Campo
Grande;
0,25%
Centro; 5,87%
Copacabana;
2,15%
Jacarepaguá;
0,84%
Madureira;
1,03%
Méier; 2,07%
Santa
Cruz;
0,07%Tijuca; 1,55%
Fonte: Armazém de Dados da Pref. do Rio de Janeiro e www.telelistas.net (2009).
Com intuito de percebermos as atividades comerciais e industriais em Campo
Grande, foi utilizado o relatório de Hasenclever e Lopes (2006). Considerando a XVIII
RA de Campo Grande, em 2006, segundo a RAIS, esta área possui 3.612
estabelecimentos formais de diversos setores industriais, serviços, comércio e
construção civil, destes, 3.107 no bairro de Campo Grande. Sendo que, a atividade que
ocupa a primeira posição com um percentual de 47,8% do total é de comércio varejista.
Somado ao fato de que, das 173.437 pessoas que compõem a população
economicamente ativa na XVIII RA de Campo Grande, há a grande necessidade de
dirigir-se a outras áreas visto que, conforme demonstrado, nesta região existe 45.630
empregos formais, ou seja, 2,3% do total no Município do Rio de Janeiro, dos quais,
37.457 no bairro de Campo Grande, o que equivale a 1,9% do total para a cidade. Estas
considerações reforçam a demanda de transporte denotando saída de pessoas.
Percebemos ainda o jogo de centralidade entre os bairros comparados e a pujança da
centralidade em Campo Grande. Todas estas informações demonstram interações
espaciais, fluxos e a necessidade de transporte público.
Neste momento percebe-se que a produção e reprodução do espaço ocorrem
mediante conflito de interesses, sendo que, os usuários são demandantes, necessitam do
transporte público a um preço acessível tanto para a sua reprodução como para a
reprodução dos meios de produção no contexto capitalista, visto que este é tanto
trabalhador, ou seja, se encontra inserido no contexto da força de produção necessário
ao capital, como é consumidor do próprio transporte, do comércio e dos serviços
I Congresso Brasileiro de Organização do Espaço e
X Seminário de Pós-Graduação em Geografia da UNESP Rio Claro ISBN: 978-85-88454-20-0 05 a 07 de outubro de 2010 – Rio Claro/SP
5573
disponíveis tanto em Campo Grande como no restante da cidade do Rio de Janeiro. O
Estado deveria ser o fornecedor deste meio necessário a acumulação do capital e um
serviço público à população em geral, porém, através de leis, apresenta-se como
concessor deste ao investimento do capital privado e regulador incentivando a
concorrência. Por fim, o empresário do transporte público lida com as demais forças no
sentido de cumprir as legislações, fornecer um transporte de qualidade e regular, a um
preço acessível mesmo diante das maiores distâncias. Percebe-se novamente a “fricção
da distância” impondo custos à produção e à reprodução dos meios de produção
(HARVEY, 1994).
Sendo assim, percebemos Campo Grande como um espaço muito complexo
resultante de momentos pretéritos, ao mesmo tempo segregado em relação a outras
áreas da cidade, articulado, participando das interações municipais, intermunicipais e
interestaduais, com um importante centro de comércio e serviços demonstrando força
em alguns setores no jogo político das iterações, necessitando de novas averiguações
que dêem suporte a investigação quanto ao modo diferenciado de disponibilidade de
transporte público pela cidade.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Retomando algumas considerações, ao buscar um quadro teórico-metodológico
com o qual pudesse ler o espaço geográfico de Campo Grande em suas interações foi
satisfatório perceber que os processos aparentemente díspares, como segregação sócio-
espacial e centralização/descentralização, ocorrem no bojo de um processo mais
abrangente, qual seja o de acumulação do capital. Conforme observado pela teoria do
desenvolvimento geográfico desigual, é através de processos sociais que se
espacializam que as áreas da cidade capitalista de acordo com estratégias de
apropriação, consumo e especulação são diferenciadas quando não, equalizadas ao
passo que se tem a necessidade de ampliar as formas de produção (SMITH, 1998).
Percebeu-se com respeito ao bairro de Campo Grande que, em relação à cidade do Rio
de Janeiro, este se encontra espacialmente segregado, fato observado através dos dados
quanto à renda e grau de instrução. De modo que, as distribuições de equipamentos de
infra-estrutura de transporte são recorrentes a este quadro. Porém, esta realidade não
impossibilitou, ao invés disso, de acordo com momentos de ampliação da acumulação
do capital através da descentralização, houve a emergência de Campo Grande como
importante subcentro carioca ainda que diferenciado, hierarquizado e hegemonizado em
I Congresso Brasileiro de Organização do Espaço e
X Seminário de Pós-Graduação em Geografia da UNESP Rio Claro ISBN: 978-85-88454-20-0 05 a 07 de outubro de 2010 – Rio Claro/SP
5574
relação aos demais que foram comparados, como se tentou demonstrar através dos
dados quanto ao comércio e serviços na cidade carioca.
Foi oportuno apreender, diante de informações coletadas no Armazém de Dados
da Prefeitura do Rio de Janeiro, bem como em trabalhos acadêmicos como o de Macedo
(2002) uma estrutura da urbe carioca e do recorte espacial trabalhado no qual se percebe
a segregação sócio-espacial vigente tanto de acordo como o padrão centro-periferia
como com o padrão fragmentado/excludente. Esta segregação interfere na maneira
como são espacializadas as centralidades no Rio de Janeiro e condicionam as atuais
mudanças percebidas internas e externas ao bairro em estudo de acordo com o
incremento da construção civil visando à habitação. Sendo assim, novos estudos são
suscitados no sentido de como esta estrutura pretérita tanto de segregação como de
descentralização das atividades de comércio e serviços denotadas no município do Rio
de Janeiro e internas ao bairro de Campo Grande influenciam na reestruturação da
cidade e do referido recorte.
Sendo assim, a presente pesquisa respondeu aos questionamentos feitos
inicialmente tendo a necessidade de focar nos processos sócio-espaciais que são
dinâmicos e, portanto, já apresentam necessidade de novas averiguações, demandando
novas buscas. Entre estas podemos mencionar os projetos em andamento de construção
do Arco Rodoviário do Rio de Janeiro, remodelação do porto de Itaguaí e a construção
da Companhia Siderúrgica do Atlântico S/A.
Este quadro é mencionado finalizando o trabalho porque existem novas
perspectivas e desdobramentos a partir destes momentos que irão reconfigurar todo o
jogo político espacial dos processos de segregação e centralidades conforme
desenvolvidos nesta pesquisa, necessitando assim, de novas averiguações de suas
espacialidades e a continuidade pela busca de embasamentos teóricos e metodológicos.
Assim, o presente finda com as seguintes indagações: como este conjunto de
obras de estruturação visando à ampliação da acumulação do capital e fortalecimento do
Estado do Rio de Janeiro frente a demandas globais, já começam a influenciar os
processos estudados em relação a Campo Grande, a cidade e o estado do Rio de
Janeiro? Quais as configurações que podemos perceber no bairro indicativas de um
impacto destas novas dinâmicas? Com certeza, o próximo censo nos dará importantes
indícios.
I Congresso Brasileiro de Organização do Espaço e
X Seminário de Pós-Graduação em Geografia da UNESP Rio Claro ISBN: 978-85-88454-20-0 05 a 07 de outubro de 2010 – Rio Claro/SP
5575
REFERÊNCIAS ABREU, Maurício de Almeida. Evolução urbana do Rio de Janeiro. 4.ed. Rio de Janeiro: IPP, 2006. 156p. CORRÊA, Roberto Lobato. Trajetórias geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. p.121-179. __________. Região e organização espacial. 7.ed. São Paulo: Ática, 2002. 84p. FERREIRA, Álvaro Henrique de S. A (re)produção do espaço urbano: confrontos e conflitos a partir da construção do espaço social na cidade do Rio de Janeiro. In: RUA, João (org). Paisagem, espaço e sustentabilidade: uma perspectiva multidimensional da geografia. Rio de Janeiro: Ed. PUC - Rio, 2007. p. 195 – 236. GOMES, Paulo César da Costa. A condição Urbana: ensaios de geopolítica da cidade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. p. 129-191. HARVEY, David. A justiça social e a cidade. São Paulo: Hucitec, 1980. 290 p. __________. Condição Pós-Moderna. São Paulo, Brasil: Edições Loyola, 1994. p. 195-218. __________. Espaços da Esperança. São Paulo: Edições Loyola, 2004. p. 105-131. __________. Spaces of global capitalism. Towards theory of uneven geographical development. London: New York, 2006. p. 117 – 148. HASENCLEVER, Lia e LOPES, Rodrigo. Análise dos dados de estabelecimento e emprego segundo as Regiões Administrativas (RA) e bairros da Zona Oeste – Campo Grande. Mimeo, 2006. KOSSMANN, Hortense & RIBEIRO, Miguel Ângelo. Análise espacial das cadeias de lojas do comércio varejista no Rio de Janeiro. In: Revista brasileira de Geografia, Rio de Janeiro, 46(1): 197-219-8, jan./mar. 1984. LAGO, Luciana Corrêa do. Desigualdades e segregação na metrópole: o Rio de Janeiro em tempo de crise. Rio de Janeiro: Revan: Fase, 2000. 240 p. __________. Repensando a “periferia” metropolitana à luz da mobilidade casa-trabalho. Trabalho apresentado no XXXI Encontro Anual da ANPOCS, Caxambu, MG. 2007. __________. Trabalho, moradia e (i)mobilidade espacial na metrópole do Rio de Janeiro. Cadernos Metrópole nº 18. P 275-293, 2º semestre, 2007a. LEFEBVRE, Henri. The Production of Space. Oxford, UK: Blackwell, 1994. p. 1-67. __________. Espaço e política. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. 192 p.
I Congresso Brasileiro de Organização do Espaço e
X Seminário de Pós-Graduação em Geografia da UNESP Rio Claro ISBN: 978-85-88454-20-0 05 a 07 de outubro de 2010 – Rio Claro/SP
5576
MENEZES, Vânia Regina da Silva. A segregação espacial pela ótica do transporte urbano: o exemplo do bairro de Campo Grande – RJ. 2006. 81 p. Monografia (Especialização em Políticas Territoriais no Estado do Rio de Janeiro) – UERJ, Rio de Janeiro, 2006. MOREIRA, Ruy. Pensar e ser em Geografia: ensaios de história, epistemologia e ontologia do espaço geográfico. São Paulo: Contexto, 2007. 188p. SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado. 5.ed. São Paulo, Hucitec 1997. 116. SMITH, Neil. Desenvolvimento desigual, natureza, capital e produção do espaço. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1998. SILVA, Vânia Regina Jorge da. Examinando os processos de segregação e descentralização através do transporte público na cidade do Rio de Janeiro – o exemplo de Campo Grande – RJ, 1990-2009. 133 p. Dissertação (Mestrado em Geografia) – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2009. TOURINHO, Andreia de Oliveira. Do centro às novas centralidades: uma trajetória de permanências terminológicas e rupturas conceituais. In: GITAHY, Maria Lúcia Caira; LIRA, José Tavares Correia de (Orgs.). Cidade: impasses e perspectivas. Arquiteses vol. 2. São Paulo, FAUUSP/FUPAM/Annablume, 2007. p.11 – 28. VILLAÇA, Flávio. Espaço intra-urbano no Brasil. São Paulo: Estúdio Nobel: FAPESP: Lincoln Institute, 2001. 373 p. <http://armazemdedados.rio.rj.gov.br> <http: //portalgeo.rio.rj.gov.br/sabren/index.htm> <HTTP://telelistas.net>