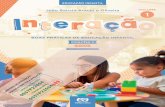A HERMENÊUTICA DE WILHEIM DILTHEY E A REFLEXÃO EPISTEMOLÓGICA NAS CIÊNCIAS HUMANAS CONTEMPORÂNEAS
em Ciências Humanas - Saber Educação
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of em Ciências Humanas - Saber Educação
MANUAL DO PROFESSOR
Área de Ciências Hum
anas e Sociais Aplicadas • E
NS
INO
MÉ
DIO
em
Ciê
nc
ias
Hu
ma
na
s
em
Ciê
nc
ias
Hu
ma
na
s
Área de Ciências Humanas e Sociais AplicadasENSINO MÉDIO
Cláudio VicentinoEduardo CamposEustáquio de Sene
Clá
ud
io V
icen
tino
• E
du
ard
o
Ca
mp
os
• E
us
táq
uio
de
Se
ne
MANUAL DO PROFESSOR
em
Ciê
nc
ias
M
ATERIAL D
E DIV
ULG
AÇÃO −
VERSÃO S
UBM
ETIDA À
AVA
LIAÇÃO
CÓD
IGO
DA C
OLEÇÃO
:
0152P21204
CÓD
IGO
DA O
BRA:
0152P21204138
CAPA_OBJ2_CH_VICENTINO_ATICA_PNLD_2021_VOL_6_MP.indd All PagesCAPA_OBJ2_CH_VICENTINO_ATICA_PNLD_2021_VOL_6_MP.indd All Pages 4/13/21 6:47 PM4/13/21 6:47 PM
MANUAL DO
PROFESSOR
Área de Ciências Humanas e Sociais AplicadasENSINO MÉDIO
Cláudio VicentinoBacharel em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (USP)
Professor de História no Ensino Médio e em cursos pré-vestibulares. Autor de obras didáticas e paradidáticas para Ensino Fundamental e Ensino Médio
Eduardo CamposBacharel e licenciado em Geografia pela Universidade de São Paulo (USP)
Mestre em Educação pela Universidade de São Paulo (USP)
Coordenador educacional e pedagógico do Ensino Fundamental (anos finais) e do Ensino Médio. Professor na Educação Básica e no Ensino Superior
Eustáquio de SeneBacharel e licenciado em Geografia pela Universidade de São Paulo (USP)
Mestre e doutor em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo (USP)
Professor de Geografia do Ensino Médio na rede pública e em escolas parti-culares. Professor de Metodologia do Ensino de Geografia na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo por 5 anos
1a edição, São Paulo, 2020
em
Ci•
nc
ias
Hu
ma
na
s
FRONTIS_OBJ2_CH_VICENTINO_ATICA_PNLD_2021_VOL_6_MP.indd 1FRONTIS_OBJ2_CH_VICENTINO_ATICA_PNLD_2021_VOL_6_MP.indd 1 9/18/20 8:12 PM9/18/20 8:12 PM
2
Presidência: Paulo Serino
Direção editorial: Lauri Cericato
Gestão de projeto editorial: Heloisa Pimentel
Gestão de área: Brunna Paulussi
Coordenação de área: Carlos Eduardo de Almeida Ogawa
Edição: Izabel Perez, Tami Buzaite e Wellington Santos
Planejamento e controle de produção: Vilma Rossi e Camila Cunha
Revisão: Rosângela Muricy (coord.), Alexandra Costa da Fonseca, Ana Paula C. Malfa, Ana Maria Herrera, Carlos Eduardo Sigrist,
Flavia S. Vênezio, Heloísa Schiavo, Hires Heglan, Kátia S. Lopes Godoi, Luciana B. Azevedo, Luís M. Boa Nova, Luiz Gustavo Bazana,
Patricia Cordeiro, Patrícia Travanca, Paula T. de Jesus, Sandra Fernandez e Sueli Bossi
Arte: Claudio Faustino (ger.), Erika Tiemi Yamauchi (coord.), Keila Grandis (edição de arte), Arte Ação (diagramação)
Iconografia e tratamento de imagens: Roberto Silva (coord.), Evelyn Torrecilla (pesquisa iconográfica), Cesar Wolf (tratamento de imagens)
Licenciamento de conteúdos de terceiros: Fernanda Carvalho (coord.), Erika Ramires e Márcio Henrique (analistas adm.)
Ilustrações: Cassiano Röda e Fórmula Produções
Cartografia: Mouses Sagiorato e Portal de Mapas
Design: Luis Vassallo (proj. gráfico, capa e Manual do Professor)
Foto de capa: moodboard/Getty Images
Todos os direitos reservados por Editora Ática S.A.Avenida Paulista, 901, 4o andar
Jardins – São Paulo – SP – CEP 01310-200
Tel.: 4003-3061
www.edocente.com.br
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
Angélica Ilacqua - CRB-8/7057
2020Código da obra CL 720008
CAE 729791 (AL) / 729792 (PR)
1a edição
1a impressãoDe acordo com a BNCC.
Envidamos nossos melhores esforços para localizar e indicar adequadamente os créditos dos textos e imagens
presentes nesta obra didática. Colocamo-nos à disposição para avaliação de eventuais irregularidades ou omissões
de créditos e consequente correção nas próximas edições. As imagens e os textos constantes nesta obra que,
eventualmente, reproduzam algum tipo de material de publicidade ou propaganda, ou a ele façam alusão,
são aplicados para fins didáticos e não representam recomendação ou incentivo ao consumo.
Impressão e acabamento
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Iniciais_002_LA.indd 2V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Iniciais_002_LA.indd 2 24/09/2020 10:4624/09/2020 10:46
3
Apresentaçã
o
Caro(a) estudante,
Neste volume foram mobilizados fatos, conceitos e procedimentos
para ajudá-lo a compreender os processos de construção e de conquista
da cidadania e da democracia ao longo da história.
Nesse levantamento, enfatizou-se a imposição de poderes sobre
populações locais durante os processos de colonização e de indepen-
dência em diversos países da América Latina. Uma construção que im-
pactou o conjunto latino-americano, especialmente o Brasil, ao longo dos
séculos XIX e XX.
Você também vai estudar as ditaduras, tanto antes da Guerra Fria
como durante esse período, e como esses regimes deixaram cicatrizes na
difícil conquista da democracia durante as últimas décadas.
O volume também discute a questão dos Direitos Humanos, resga-
tando sua gênese histórica, sobretudo na Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos de 1948, e buscando sua efetivação nas relações sociais lo-
cais, nacionais e internacionais. Isso, claro, por meio da ação dos Estados
e de organizações não governamentais (ONGs).
Ao longo do volume são propiciadas diversas oportunidades para que
você coloque em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do estudo
da realidade local, nacional e mundial, exercendo assim seu protagonismo
de jovem cidadão e, ao mesmo tempo, tornando a aprendizagem contextua-
lizada e significativa.
Bom estudo!
Os autores.
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Iniciais_003a015_LA.indd 3V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Iniciais_003a015_LA.indd 3 24/09/2020 10:4724/09/2020 10:47
4
Conheça
seu livro
Caminhos
da cidadania2
UNIDADE
Centr
al P
ress/H
ulton A
rchiv
e/G
ett
y Im
ages
Estouro
Bem-vindo ao século XXI
[...]
A ordem liberal ocidental que tem governado desde o fim da II Guerra Mundial baseou-se na hegemonia
dos EUA. Como potência verdadeiramente global, foi dominante não apenas no campo do poder militar
(além do econômico e financeiro), mas em quase todas as dimensões do soft power (cultura, língua, meios de
comunicação, tecnologia e moda).
A Pax Americana que garantiu um alto grau de estabilidade global começou a falhar (especialmente no
Oriente Médio e na Península da Coreia). Embora os Estados Unidos continuem a ser a primeira potência
planetária, já não têm a capacidade ou vontade de ser a polícia do mundo ou fazer os sacrifícios necessários
para garantir a ordem. Por sua própria natureza, um mundo globalizado evita a imposição da ordem do
século XXI.
E mesmo que o surgimento de uma nova ordem mundial seja algo inevitável, seus fundamentos ainda
não podem ser distinguidos. Parece improvável que seja liderada pela China; o país continuará voltado para
si mesmo e concentrado na estabilidade interna e no desenvolvimento, e é provável que suas ambições
sejam limitadas ao controle de sua vizinhança imediata e mares que o rodeiam. Além disso, não possui (em
quase nada) o soft power necessário para tentar se tornar uma força de ordem mundial.
[...]
FISCHER, Joschka. Bem-vindo ao século XXI. El País, 7 fev. 2016. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/02/07/opinion/1454864647_294190.html. Acesso em: 6 jun. 2020.
ContextoESSE TEMA SERÁ RETOMADO NA SEÇÃO PRÁTICA
94
A participação da sociedade nos assuntos públi-
cos ocorre por meio do exercício dos direitos políti-
cos. De todos esses direitos, o voto é o mais conhe-
cido e o mais exercido e é por ele que cada indivíduo
expressa sua vontade na escolha de representantes
políticos.
O artigo 14 (Capítulo IV - Dos direitos políticos) da
Constituição Brasileira vigente, desde 1988, estabelece
o sufrágio universal, ou seja, o exercício do voto direto e
secreto de modo obrigatório para indivíduos com mais
de 18 anos, e facultativo para os maiores de 16 e meno-
res de 18 e também para aqueles com mais de 70 anos.
Porém, para que o sufrágio universal fosse estabeleci-
do no Brasil, foi necessário um longo período de conflitos
e de reivindicação de direitos por diversos grupos sociais.
Nos últimos anos, muitas pessoas têm se manifes-
tado contra a obrigatoriedade do voto. No segundo turno
das eleições para presidente em 2018, a soma de votos
nulos, brancos e abstenções representou cerca de um
terço do total de eleitores.
Considerando essas informações, reflita sobre as ques-
tões a seguir e converse com os colegas e o professor.
1. O voto é um direito político pelo qual muitos brasilei-
ros lutaram no passado, mas atualmente boa parte
deles prefere não exercê-lo. Quais fatores podem ex-
plicar essa mudança de atitude de uma parcela da
população?
2. Além do voto, há outras formas de participação po-
lítica e de exercício da cidadania? Em caso positivo,
quais seriam elas?
Contexto
Democracia e
ditadura no Brasil e
na América Latina1
OBJETIVOS• Compreeder os conceitos de democracia e ditadura
tendo em vista sua origem na Antiguidade clássica e seu uso em contextos políticos contemporâneos.
• Conhecer os contextos de surgimento e desenvolvimento de diferentes regimes políticos na América Latina nos séculos XIX e XX.
• Relacionar as políticas populistas e desenvolvimentistas do Brasil a contextos históricos específicos.
• Identificar as motivações de elites econômicas e sociais e interesses estrangeiros no surgimento e desenvolvimento de regimes ditatoriais no Brasil.
JUSTIFICATIVAConceitos relativos a regimes e práticas políticas, tais como democracia, ditadura, populismo, paternalismo, desenvolvimentismo, entre outros, são importantes para a compreensão de situações históricas específicas. Ao mesmo tempo, essas situações exemplificam e esclarecem melhor a própria compreensão desses conceitos. Tendo foco em contextos políticos da América Latina nos séculos XIX e XX, o capítulo contribui para estimular a reflexão dos estudantes quanto à história política latino-americana contemporânea.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA BNCC• Competências gerais da Educação Básica:
CG1, CG2, CG3, CG4, CG7, CG9 e CG10.
• Competências e habilidades específicas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: Competência 1: EM13CHS103. Competência 5: EM13CHS503 e EM13CHS504. Competência 6: EM13CHS602 e EM13CHS603.
• Competências e habilidades específicas de Linguagens e suas Tecnologias: Competência 6: EM13LGG604.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS
Cidadania e civismo• Educação em direitos humanos
Multiculturalismo• Educação para a valorização do multiculturalismo nas
matrizes históricas e culturais brasileiras
CA
PÍTU
LO
CA
PÍTU
LO
NÃO ESCREVA NO LIVRO
18
CONEXÕESCIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
NÃO ESCREVA NO LIVRO
Geração e tempo geracionalPara as Ciências da natureza, “geração”, entre
outros significados, se refere à reprodução ou à
transição entre pais e filhos. Mas “geração” pode
se referir ainda ao conjunto de pessoas contem-
porâneas – uma definição muito utilizada em con-
textos sociais.
O período médio entre duas gerações consecu-
tivas é chamado “tempo de geração” e ele é variá-
vel entre diferentes espécies. Entre os humanos,
por exemplo, o tempo de geração é longo, de, em
média, 30 anos. Já entre vírus e bactérias, assim
como outros organismos patogênicos, o tempo
de geração é muito mais curto, sendo, às vezes,
de poucos minutos. E são esses organismos com
tempo de geração muito curto que são utilizados
para os estudos de Genética, uma vez que as infor-
mações genéticas são transmitidas de geração em
geração e podem ser observadas mais facilmente.
Foi observando um organismo com o tempo
geracional curto (ervilhas) que Gregor Mendel
rea lizou seus experimentos e estabeleceu as ba-
ses para o estudo da hereditariedade
Outro organismo comumente utilizado em estu-
dos genéticos são as moscas-da-fruta (Drosophila
melanogaster). Isso porque elas possuem um
tempo de geração de cerca de 10 dias.
Mas não é somente nas Ciências da Natureza
que o conceito de geração tem seus impactos. Nas
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas ele também
tem sua importância. Veja o texto a seguir.
No pensamento social contemporâneo, a
noção de geração foi desenvolvida em três mo-
mentos históricos, que correspondem a três
quadros sociopolíticos particulares: durante os
anos 1920, no período entreguerras, as bases
filosóficas são formuladas em torno da noção
de "revezamento geracional" (sucessão e coexis-
tência de gerações), existindo um consenso ge-
ral sobre este aspecto [..]. Durante os anos 1960,
na época do protesto, uma teoria em torno da
noção de "problema geracional" (e conflito gera-
cional) é fundamentada sobre a teoria do con-
flito [...]. A partir de meados dos anos 1990, com
a emergência do sociedade em rede, surge uma
nova teoria em torno da noção de "sobreposição
geracional". Isto corresponde à situação em que
os jovens são mais habilidosos do que as gera-
ções anteriores em um centro de inovação para
a sociedade: a tecnologia digital [...].
FEIXA, Carles; LECCARDI, Carmem. O conceito de geração nas
teorias sobre juventude. Soc. estado, Brasília, v. 25, n. 2, p.
185-204, Aug. 2010. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S010269922010000200003&lng=en
&nrm=iso. Acesso em: 7 set. 2020.
Considere um adulto com idade aproximada de 25 anos que viva na sua
comunidade, e responda:
• Você considera que você e esse adulto façam parte da mesma geração?
• De acordo com o pensamento social contemporâneo, qual sua relação
com esse indivíduo? Você acredita que haja um “revezamento geracio-
nal”, um “problema geracional” ou uma “sobreposição geracional”?
Raw
pix
el.co
m/S
hu
tte
rsto
ck
83
Mísseis balísticos intercontinentais com capacidade de transportar bombas nucleares, em parada
militar na Praça Vermelha, Moscou (União Soviética), em 1969.
Após ler o texto e com base em seus conhecimentos da realidade e em pesquisa na internet, reflita sobre as questões propostas:
1. Por que ainda não se pode distinguir os fundamentos de uma nova ordem internacional?
2. O que você entende por soft power? Qual é a diferença entre soft power e hard power? Dê exemplos.
3. Você acha que é importante ter soft power para liderar uma ordem internacional? Por quê? O Brasil tem hard power e soft power?
95
Democracia e ditadura como conceitos opostos
Nós, seres humanos, vivemos em culturas diferentes, e os modos de or-
ganização política variam muito de uma sociedade para outra. De maneira
geral, podemos identificar sociedades nas quais a organização é estabeleci-
da de forma autoritária, sob um governo centralizado. Em outras, as decisões
são tomadas de forma coletiva e dialogada. Essas formas de organização
são, quase sempre, associadas, respectivamente, à ditadura e à democracia.
A palavra ditadura tem origem na Antiguidade, na Roma republicana. De-
pois de se libertarem do domínio etrusco, em 509 a.C., e antes de constituí-
rem um império, a partir de 27 a.C., os romanos consideravam o Senado o
principal órgão político. Não se tratava de uma democracia, mas de uma Re-
pública aristocrática, pois os senadores eram representantes da elite, uma
minoria da população. Mas suas decisões eram tomadas a partir do diálogo
sobre a rex-publica, o respeito à coisa pública, ao publicus, coisa do povo, na
busca de entendimentos em relação ao que seria melhor para a cidade. Po-
rém, em épocas de crise, como em uma guerra, as decisões tinham de ser
tomadas rapidamente e, por isso, se instituía um ditador, do latim ditactor, o
que ditava os decretos, com amplos poderes por um período máximo de seis
meses. Em outras palavras, a ditadura era um tipo de governo provisório, ex-
traordinário, acionado em situações excepcio-
nais, com a finalidade de cuidar da administra-
ção da cidade até que a situação de crise fosse
resolvida.
Assim, essa ditadura antiga não carregava
um caráter pejorativo de ilegalidade. Situação
diferente de ditadura na modernidade em que
se tornou um sinônimo de governo autoritário,
perdendo o aspecto de transitoriedade que ti-
nha na Roma antiga. Nesse sentido, se tivés-
semos de buscar na Antiguidade um governo
com algumas similaridades com as ditaduras
contemporâneas, perceberíamos que elas se
assemelham mais ao despotismo ou à tirania.
E, nesse quadro, são exemplares as do mundo
grego e mesmo de outros povos antigos que,
em meio às tensões e conflitos internos, cer-
tas personagens assumiam o poder e se ga-
rantiam nele sobretudo pela força, reprimindo
descontentamentos e impondo suas decisões.
Cartaz da exposição Mais democracia, sim! Ditadura
nunca mais! promovida pela prefeitura de Sobral, CE, em 2014, como forma de lembrar às novas gerações
os horrores ocorridos durante a ditadura no Brasil.R
ep
rod
u•‹o
/so
bra
lon
line
.co
m.b
r
19
Retome o contexto
Bill of Rights
Diferenças e
desigualdades
Filósofos antigos
Contratualistas dos
séculos XVII e XVIII
Primeira geração: Direitos
Civis e Políticos
Segunda geração: Direitos
Econômicos, Sociais e
Culturais
Terceira geração: Direitos
Universais – fraternidade e
igualdade
A Declaração
Universal dos Direitos
Humanos – 1948
Constituição de 1787
Declaração dos
Direitos do Homem e
do Cidadão – 1789
Estados – Constituições
– Acordos Internacionais –
Sociedade Civil – ONGs
Anti-SlaveryHuman Rights WatchAnistia Internacional
Médicos Sem FronteirasOxfam
Repórteres Sem Fronteiras
Inúmeras ONGs
O que pode ser feito?
Precursores – destaques
Revolução Gloriosa – 1689
Independência dos Estados Unidos – 1776
Revolução Francesa – 1789
Crescem os desafios aos Direitos Humanos
Prática dos Direitos Humanos
Distinção
Gerações
Consolidação
Principais
• Em relação às respostas que você apresentou no início do capítulo, o que você mudaria ou
complementaria? O que precisa ser feito para diminuir a distância entre as leis e a realidade?
HISTÓRIA DOS DIREITOS HUMANOS
Mapa conceitual organizado pelos autores.
151
VOCÊ PRECISA SABERNÃO ESCREVA NO LIVRO
151
Seu livro está organizado em duas unidades, divididas em dois capítulos, que tratam de temas atuais e relevantes para a sua formação durante o Ensino Médio.
Ao longo dos capítulos e unidades, você encontrará diferentes estruturas que utilizam diversos recursos pensados para auxiliá-lo no processo de aprendizagem.
As aberturas de unidades apresentam textos e imagens que sintetizam o tema principal e vão mobilizar os seus conhecimentos sobre o assunto. Nessas aberturas, a seção Contexto traz situações concretas cuja análise exige conteúdos, conceitos e procedimentos de diferentes disciplinas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Essas situações serão retomadas ao longo dos capítulos e estão relacionadas com a seção Prática, que traz uma proposta de trabalho para que você aplique os conhecimentos que são produzidos em sala de aula na comunidade escolar e em seu entorno.
As aberturas dos capítulos trazem recursos diversos (fotografias, mapas, gráficos, entrevistas, charges) que
sintetizam o conteúdo que será trabalhado, além de propor questionamentos, por meio de uma nova ocorrência da
seção Contexto, que vão ajudá-lo a realizar o projeto proposto na seção Prática. Na abertura de cada capítulo,
você também encontrará um boxe com os objetivos, a justificativa para o trabalho com os conteúdos propostos
e as competências, habilidades e temas contemporâneos transversais mobilizados no capítulo.
Em todos os capítulos, você encontrará uma ocorrência da seção Conexões, que trabalha a interdisciplinaridade com componentes curriculares de outras áreas do conhecimento, especialmente as Ciências da Natureza e suas Tecnologias e as Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, bem como com disciplinas que não estão presentes no currículo escolar.
Seção que finaliza o trabalho do capítulo e traz propostas de retomada das questões apresentadas
na seção Contexto, na abertura do capítulo.
Momento que serve de recurso para resumo e sistematização de alguns dos conteúdos
trabalhados ao longo dos capítulos. Pode surgir na forma de mapas conceituais, esquemas,
fluxogramas ou lista de palavras e pode apresentar atividades que estabeleçam relação dos conteúdos
trabalhados com os seus lugares de vivência e as suas experiências pessoais.
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Iniciais_003a015_LA.indd 4V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Iniciais_003a015_LA.indd 4 24/09/2020 10:4724/09/2020 10:47
5
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA BNCC• Competências gerais da Educação
Básica: CG1, CG4, CG5, CG7 e CG9.
• Competências e habilidades específicas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: Competência 1: EM13CHS101, EM13CHS103 e EM13CHS104. Competência 2: EM13CHS205. Competência 5: EM13CHS502 e EM13CHS503. Competência 6: EM13CHS605.
• Competência e habilidade específicas de Linguagem e suas Tecnologias: Competência 7: EM13LGG703.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS
Cidadania e civismo• Vida Familiar e Social
• Educação em Direitos Humanos
O que acontece na praça?PRÁTICA
Para começar
Os séculos XX e XXI apresentam incontáveis transformações no estilo de vida das pessoas. Entre elas, está o acelerado processo de urbanização em todo o mundo. A Revolução Industrial, o desenvolvi-mento tecnológico e o estabelecimento do capitalismo como modo de produção levaram ao crescimento das cidades, à especialização do trabalho e a uma moderna rede de comunicações que possibilita maior eficiência na distribuição e no acesso a bens e serviços. Mas será que serviços como saúde, educação, lazer, saneamento básico e pavimen-tação de ruas são ofertados igualmente em todo o território nacional? A falta de serviços e estruturas básicas para boa parte da população brasileira mostra violações aos Direitos Humanos.
Trata-se de uma situação complexa e real. Por isso é importante que, como brasileiros e estudantes, vocês se dediquem a observar, registrar e analisar essa realidade na cidade onde vocês vivem hoje. Muitas vezes passamos, sem nos darmos conta, por locais em que vá-rias violações são cometidas. Não porque essas violências sejam es-condidas, mas porque passamos a enxergá-las como “naturais”. A na-turalização de fenômenos sociais nada mais é do que enxergar como “natural” algo que na realidade é fruto de processos históricos. Muitas vezes, esses processos são atravessados por relações desiguais de poder e violência. Por isso é importante desnaturalizar o olhar para as situações cotidianas, em especial aquelas relacionadas à violação dos Direitos Humanos.
O cenário da desigualdade é visível nas diversas paisagens das cidades, sejam gran-des, sejam médias, sejam pequenas. Essa desigualdade se apresenta em diferentes es-paços, como é o caso das praças centrais das cidades, em que é possível ver a circulação de vários tipos de pessoas, de diferentes origens e classes sociais. Nesses lugares se mistu-ram gerações (crianças, adultos e idosos), homens, mulheres, pessoas LGBTQI+, pessoas que apenas “passam” por ali, outras que traba-lham, conversam, passam o tempo, dormem
ou vivem ali, por falta de um local adequado de moradia.Essa diversidade, comum em praças, faz delas um ambiente inte-
ressante para se compreender um pouco da lógica local e analisar de que forma os diferentes grupos acessam e utilizam esses espaços pú-blicos da cidade.
Praça Dante Aligheri em Caxias do Sul, RS. Fotografia de 2019.
Ge
rso
n G
erlo
ff/P
uls
ar
Imag
en
s
152
2. (2017) Muitos países se caracterizam por te-
rem populações multiétnicas. Com frequên-
cia, evoluíram desse modo ao longo de sé-
culos. Outras sociedades se tornaram mul-
tiétnicas mais rapidamente, como resultado
de políticas incentivando a migração, ou por
conta de legados coloniais e imperiais.
GIDDENS. A. Sociologia. Porto Alegre: Penso, 2012 (adaptado).
Do ponto de vista do funcionamento das demo-cracias contemporâneas, o modelo de socieda-de descrito demanda, simultaneamente,
a) defesa do patriotismo e rejeição ao hibridismo.
b) universalização de direitos e respeito à di-versidade.
c) segregação do território e estímulo ao auto-governo.
d) políticas de compensação e homogeneiza-ção do idioma.
e) padronização da cultura e repressão aosparticularismos.
3. (2017) A participação da mulher no processo
de decisão política ainda é extremamente li-
mitada em praticamente todos os países, inde-
pendentemente do regime econômico e social e
da estrutura institucional vigente em cada um
deles. É fato público e notório, além de empiri-
camente comprovado, que as mulheres estão
em geral sub-representadas nos órgãos do po-
der, pois a proporção não corresponde jamais
ao peso relativo dessa parte da população.
TABAK, F. Mulheres públicas: participação política e poder. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2002.
No âmbito do Poder Legislativo brasileiro, a tentativa de reverter esse quadro de sub-re-presentação tem envolvido a implementação, pelo Estado, de
a) leis de combate à violência doméstica.
b) cotas de gênero nas candidaturas partidárias.
c) programas de mobilização política nas escolas.
d) propagandas de incentivo ao voto consciente.
e) apoio financeiro às lideranças femininas.
1. (2016)
Texto I
Texto II
Metade da nova equipe da NASA é composta por mulheres
Até hoje, cerca de 350 astronautas america-
nos já estiveram no espaço, enquanto as mulhe-
res não chegam a ser um terço desse número.
Após o anúncio da turma composta 50% por
mulheres, alguns internautas escreveram co-
mentários machistas e desrespeitosos sobre a
escolha nas redes sociais.
Disponível em: https://catracalivre.com.br. Acesso em: 10 mar. 2016.
A comparação entre o anúncio publicitário de 1968 e a repercussão da notícia de 2016 mos-tra a
a) elitização da carreira científica.
b) qualificação da atividade doméstica.
c) ambição de indústrias patrocinadoras.
d) manutenção de estereótipos de gênero.
e) equiparação de papéis nas relações familiares.
Re
pro
du
ção
/EN
EM
, 2
016
.
86
QUESTÕES DO ENEM NÃO ESCREVA NO LIVRO
Todavia, a urbaniza-ção ainda era um fenô-meno circunscrito a es-ses países precursores do processo de indus-trialização, e até o final do século XX o mundo era predominantemente rural. Observe o gráfico da lado.
Historicamente, a urbanização foi condi-cionada por dois fatores: os atrativos, que es-timulam as pessoas a migrar para as cidades, e os repulsivos, que as impulsionam a sair do campo. Os fatores atra-tivos estão associados às transformações pro-vocadas na cidade pela industrialização, sobre-tudo geração de empre-gos tanto no setor indus-trial quanto no de comércio e serviços, o que não necessariamente se reflete em melhoria da qualidade de vida. O crescimento desenfreado de cidades nem sempre foi acompanhado de crescimento de infraestrutura, e a maior parte dos trabalhadores que iam para a cidade em busca de emprego ganhava muito pouco e morava em cortiços. Além disso, eram frequentes doenças e epide-mias, pela falta de saneamento básico e de higiene. Só com o passar do tempo e com a luta por direitos trabalhistas, sobretudo no século XX, a elevação da renda dos trabalhadores e os investimentos governamentais em infraestrutu-ra urbana melhoraram as condições de vida nas cidades de muitos países da Europa, da América do Norte e da Ásia.
Os fatores repulsivos são típicos de alguns países em desenvolvimento, principalmente nos menos desenvolvidos. Estão associados às más condi-ções de vida na zona rural, por causa da estrutura fundiária bastante con-centrada, dos baixos salários, da falta de apoio aos pequenos agricultores, do arcaísmo das técnicas de cultivo e da falta de infraestrutura que torna a agricultura mais suscetível às intempéries; embora, em regiões que se mo-dernizaram, o processo de mecanização das atividades agrícolas também contribua para a migração rural-urbana. O resultado é o êxodo rural, que, nas grandes metrópoles, provoca o agravamento dos problemas urbanos em ra-zão do aumento abrupto da população.
Cortiço: não há uma conceituação oficial para cortiço, que pode ser informalmente definido como moradia que, embora regular, está localizada em zonas degradadas das cidades, na qual os membros de duas ou mais famílias pobres dividem os espaços coletivos da residência, como cozinha, banheiro e tanque de lavar roupa. A infraestrutura quase sempre é precária e há uma superlotação dos cômodos, com condições de higiene inadequadas.Estrutura fundiária: número, tamanho e distribuição dos imóveis rurais.
Mundo: evolução da população urbana e rural — 1950-2050
0
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
Popu
laçã
o (b
ilhõe
s)
1,0
3,0
2,0
Urbano
4,0
6,0
5,0
7,0
Rural
NÃO ESCREVA NO LIVRO
Fonte: elaborado com base em UNITED NATIONS. Department of Economic and Social Affairs. Population Division. World Urbanization Prospects 2018. Highlights. New York, 2019. p. 5.
• Analise o gráfico e responda:
a) A partir de quando o mundo se tornou predominantemente urbano? Qual é a projeção para o futuro?
b) Como se dá o processo de urbanização no município onde você mora? A cidade está crescendo ou não?
Interpretar
Fó
rmu
la P
rod
uçõ
es/A
rqu
ivo
da e
dito
ra
101
Nas leis brasileiras não existe a figura jurídica de organização não go-
vernamental, mas de organização da sociedade civil (OSC). Assim, as
ONGs, incluindo as internacionais, são classificadas no Brasil como OSC.
Segundo o Mapa das Organizações da Sociedade Civil do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea), em 2019 havia 781 921 OSCs no país.
No entanto, elas são, em sua maioria, associações locais, de atuação bas-
tante restrita, e não ONGs de atuação internacional, como algumas que se-
rão apresentadas a seguir. A grandeza do número de OSC no Brasil se deve
também ao fato de as entidades assim classificadas serem contabilizadas
por CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). Por exemplo, a organiza-
ção religiosa Igreja Universal do Reino de Deus contabiliza 7 090 OSCs por-
que cada templo religioso em território brasileiro tem um CNPJ próprio e,
consequentemente, é contabilizado separadamente. Como se vê no gráfico
abaixo, as OSCs atuam em diversas áreas, com destaque para desenvolvi-
mento e defesa de direitos.
Brasil: distribuição das OSCs por área de atuação — 2019
Assistência social
12%
47%
20%
6%
Desenvolvimento e defesa de direitos
Religião
Associações patronais,
pro�ssionais e de produtores rurais
Educação e pesquisaOutras atividades associativas
Saúde
Cultura e recreação
Meio ambiente e proteção animal,
habitação etc.
Sem informação
Fó
rmu
la P
rod
uçõ
es/A
rqu
ivo
da e
dito
ra
Fonte: elaborado com base em IPEA. Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Dados e Indicadores, 2020. Disponível em: https://mapaosc.ipea.gov.br/dados-indicadores.html. Acesso em: 7 ago. 2020.
IPEA. Mapa das
Organizações da Sociedade
Civil. Dados e Indicadores, 2020. Disponível em: https://mapaosc.ipea.gov.br/dados-indicadores.html. Acesso em: 22 jun. 2020.
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Disponível em: https://mapaosc.ipea.gov.br/resultado-consulta.html?organizacao=human_rights&tipoBusca=0. Acesso em: 22 jun. 2020.
Nesse site do Ipea é possível consultar o nome das OSCs que atuam no Brasil e visualizá-las por município, estado e região.
Saber
Re
pro
du
ção
/map
ao
sc.ip
ea.g
ov.
br
As ONGs têm um papel importante, ao lado dos Estados, na ordem mun-dial contemporânea. A seguir vamos estudar algumas das mais conhecidas e atuantes no mundo na promoção e proteção aos Direitos Humanos e alguns acontecimentos ligados à atuação de cada uma delas.
137
DIÁLOGOSNÃO ESCREVA NO LIVRO
1. Leia o texto a seguir e depois responda às questões.
O sociólogo brasileiro Ricardo Antunes afirma que “uma vida cheia de
sentido fora do trabalho supõe uma vida dotada de sentido dentro do
trabalho” e ainda que “uma vida desprovida de sentido no trabalho é in-
compatível com uma vida cheia de sentido fora do trabalho. [...] Uma vida
cheia de sentido somente poderá efetivar-se por meio da demolição das
barreiras existentes entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho,
de modo que, a partir de uma atividade vital cheia de sentido, autodeter-
minada, para além da divisão hierárquica que subordina o trabalho ao
capital hoje vigente e, portanto, sob as bases inteiramente novas, possa se
desenvolver uma nova sociabilidade [...] na qual liberdade e necessidade
se realizam mutuamente.”
ANTUNES, Ricardo. Socialismo, lutas sociais e novo modo de vida na América Latina. Revista Direito e Práxis, Rio de Janeiro, v. 8, n. 3, jul./set. 2017. Disponível em: https://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2179-89662017000302212. Acesso em: 13 ago. 2020.
• Dividam-se em grupos de quatro estudantes para debater as seguintesquestões:
a) Na opinião de vocês, por que o autorafirma que para que a vida tenha senti-do fora do trabalho ela deve ter sentido dentro do trabalho?
b) Na vida cotidiana, que trabalhos vocêsexercem? Vocês gostam de exercer es-sas funções ou as consideram exausti-vas e/ou entediantes?
c) Nas suas famílias, quais trabalhossão exercidos pelos seus familiares?Vocês consideram que todos os mem-bros da sua família trabalham o mes-mo tempo ou alguns trabalham maisdo que outros? Por que isso acontece?
d) Vocês consideram vital para a sua saúde mental uma conciliaçãoentre o tempo de trabalho e o tempo de não trabalho? O que vocêsgostam de fazer quando não estão trabalhando?
e) O que o autor quer dizer com “divisão hierárquica que subordina o tra-balho ao capital hoje vigente”? Na opinião do grupo, existem trabalhosmais valorizados do que outros? Se sim, o que faz com que isso ocorra?
• Reflitam sobre as respostas do grupo e busquem encontrar pontos emcomum entre vocês. Em quais aspectos os hábitos da sua família e
Por questões culturais, muitas vezes, algumas profissões são consideradas mais “importantes” do que outras.
Masch
a T
ace
/Sh
utt
ers
tock
84
Seção que apresenta atividades em diversos formatos pensadas para auxiliar no trabalho com diferentes competências específicas e habilidades estabelecidas pela BNCC, como identificar, analisar e comparar fontes e narrativas, elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos, que possibilitem o compartilhamento de pontos de vistas, o diálogo e a reflexão.
Uma página com atividades de edições recentes de avaliações oficiais para que você possa verificar como os temas trabalhados em sala de aula aparecem nessas provas, em especial no Enem.
Apresenta uma proposta de projeto que aborda um tema relacionado aos capítulos da unidade por meio das metodologias de pesquisa (como revisão bibliográfica, análise documental, construção e uso de amostragens ou observação participante). Os projetos propostos permitem a valorização dos conhecimentos, da ciência e da argumentação com base em fatos, além de articular os conhecimentos construídos em sala de aula com a realidade vivida.
Atividades que propõem o aprofundamento dos recursos que aparecem ao longo do capítulo, como textos em seus mais diversos gêneros, fotografias, obras de arte, mapas, gráficos, explorando suas regras de composição, significado e sentido.
Traz a indicação dos autores e obras que apresentam conceitos importantes para o
trabalho com os temas propostos nos capítulos.
Apresenta os significados de palavras destacadas no texto.
Recursos de linguagens variados (livros, filmes, podcasts, músicas, sites, obras de arte, etc.) para aprofundar temas abordados no capítulo e complementar seu repertório cultural e científico.
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Iniciais_003a015_LA.indd 5V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Iniciais_003a015_LA.indd 5 24/09/2020 10:4724/09/2020 10:47
6
Competências e habilidades da BNCC
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento oficial que define o con-
junto de aprendizagens que os estudantes precisam desenvolver ao longo da Educação
Básica, desde o início da Educação Infantil até o final do Ensino Médio. Dessa forma, a
BNCC é norteadora para a formulação dos currículos escolares no Brasil.
Esse conjunto de aprendizagens essenciais definido na BNCC corresponde a conhe-
cimentos, competências e habilidades.
Algumas dessas competências devem ser desenvolvidas durante todas as etapas
da Educação Básica; outras especificamente em cada uma das etapas. No Ensino Mé-
dio, essas competências e habilidades estão distribuídas por áreas de conhecimento.
Nas aberturas dos capítulos do seu livro, você encontrará indicações de quais com-
petências e habilidades estão sendo preferencialmente mobilizadas.
Nas páginas a seguir, você conhecerá as dez competências gerais da Educação Bá-
sica e todas as competências e habilidades específicas das áreas de Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas e as competências e habilidades de Linguagens e suas Tecnologias,
Matemática e suas Tecnologias e Ciências da Natureza e suas Tecnologias que serão
trabalhadas neste livro.
De acordo com a BNCC, competências são conhecimentos (conceitos e procedimentos)
mobilizados para resolver demandas da vida cotidiana, do exercício da cidadania e do mun-
do do trabalho. Já as habilidades são capacidades práticas, cognitivas e socioemocionais.
Ao compreender o que é esperado desenvolver com os projetos desta obra, você terá
a chance de se apropriar melhor de seus estudos, reconhecendo um sentido em tudo
aquilo que é proposto e, consequentemente, percebendo a aplicação que isso pode ter
em seu cotidiano.
Dessa forma, o seu protagonismo se manifestará também em relação à sua apren-
dizagem.
Se você tiver interesse, consulte o texto completo da BNCC no site: http://basenacional
comum.mec.gov.br/. Acesso em: 27 jan. 2020.
Composição dos códigos das habilidades
CADERNOBNCC
O primeiro número indica a competência da área e os dois últimos indicam a habilidade relativa a essa competência.
EM 13 CHS 101
Indica a etapa de Ensino Médio.
Indica que a habilidade pode ser desenvolvida
em qualquer série do Ensino Médio.
Indica a área à qual a habilidade pertence.
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Iniciais_003a015_LA.indd 6V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Iniciais_003a015_LA.indd 6 24/09/2020 10:4724/09/2020 10:47
7
Competências gerais da Educação Básica
1. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mun-
do físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática
e inclusiva.
2. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, in-
cluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade,
para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas
e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das dife-
rentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às
mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-
-cultural.
4. Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e escri-
ta), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das linguagens
artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, ex-
periências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentidos que
levem ao entendimento mútuo.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais (incluin-
do as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir
conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pes-
soal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conheci-
mentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mun-
do do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto
de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular,
negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e
promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo res-
ponsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação
ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreenden-
do-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com
autocrítica e capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazen-
do-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com
acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus
saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer
natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade,
resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos,
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Iniciais_003a015_LA.indd 7V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Iniciais_003a015_LA.indd 7 24/09/2020 10:4724/09/2020 10:47
8
Competências específicas e habilidades de
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
Competência específica 1Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos
âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da plurali-
dade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a com-
preender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes
pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza
científica.
Habilidades
EM13CHS101 – Identificar, analisar e comparar diferentes fontes e narrativas expressas em diversas linguagens, com vistas à compreensão de ideias filosóficas e de processos e eventos históricos, geográficos, políticos, econô-micos, sociais, ambientais e culturais.
EM13CHS102 – Identificar, analisar e discutir as circunstâncias históricas, geográficas, políticas, econômicas, so-ciais, ambientais e culturais de matrizes conceituais (etnocentrismo, racismo, evolução, modernidade, cooperati-vismo/desenvolvimento etc.), avaliando criticamente seu significado histórico e comparando-as a narrativas que contemplem outros agentes e discursos.
EM13CHS103 – Elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos relativos a processos políticos, eco-nômicos, sociais, ambientais, culturais e epistemológicos, com base na sistematização de dados e informações de diversas naturezas (expressões artísticas, textos filosóficos e sociológicos, documentos históricos e geográficos, gráficos, mapas, tabelas, tradições orais, entre outros).
EM13CHS104 – Analisar objetos e vestígios da cultura material e imaterial de modo a identificar conhecimentos, valores, crenças e práticas que caracterizam a identidade e a diversidade cultural de diferentes sociedades inseridas no tempo e no espaço.
EM13CHS105 – Identificar, contextualizar e criticar tipologias evolutivas (populações nômades e sedentárias, entre outras) e oposições dicotômicas (cidade/campo, cultura/natureza, civilizados/bárbaros, razão/emoção, material/virtual etc.), explicitando suas ambiguidades.
EM13CHS106 – Utilizar as linguagens cartográfica, gráfica e iconográfica, diferentes gêneros textuais e tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e difundir informações, produzir conhecimentos, resolver proble-mas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva.
Competência específica 2Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços,
mediante a compreensão das relações de poder que determinam as territorialida-
des e o papel geopolítico dos Estados-nações.
Habilidades
EM13CHS201 – Analisar e caracterizar as dinâmicas das populações, das mercadorias e do capital nos diversos con-tinentes, com destaque para a mobilidade e a fixação de pessoas, grupos humanos e povos, em função de eventos naturais, políticos, econômicos, sociais, religiosos e culturais, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a esses processos e às possíveis relações entre eles.
CADERNOBNCC
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Iniciais_003a015_LA.indd 8V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Iniciais_003a015_LA.indd 8 24/09/2020 10:4724/09/2020 10:47
9
EM13CHS202 – Analisar e avaliar os impactos das tecnologias na estruturação e nas dinâmicas de grupos, povos e sociedades contemporâneos (fluxos populacionais, financeiros, de mercadorias, de informações, de valores éticos e culturais etc.), bem como suas interferências nas decisões políticas, sociais, ambientais, econômicas e culturais.
EM13CHS203 – Comparar os significados de território, fronteiras e vazio (espacial, temporal e cultural) em diferen-tes sociedades, contextualizando e relativizando visões dualistas (civilização/barbárie, nomadismo/sedentarismo, esclarecimento/obscurantismo, cidade/campo, entre outras).
EM13CHS204 – Comparar e avaliar os processos de ocupação do espaço e a formação de territórios, territorialida-des e fronteiras, identificando o papel de diferentes agentes (como grupos sociais e culturais, impérios, Estados Na-cionais e organismos internacionais) e considerando os conflitos populacionais (internos e externos), a diversidade étnico-cultural e as características socioeconômicas, políticas e tecnológicas.
EM13CHS205 – Analisar a produção de diferentes territorialidades em suas dimensões culturais, econômicas, am-bientais, políticas e sociais, no Brasil e no mundo contemporâneo, com destaque para as culturas juvenis.
EM13CHS206 – Analisar a ocupação humana e a produção do espaço em diferentes tempos, aplicando os princípios de localização, distribuição, ordem, extensão, conexão, arranjos, casualidade, entre outros que contribuem para o raciocínio geográfico.
Competência específica 3Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e socieda-
des com a natureza (produção, distribuição e consumo) e seus impactos econômi-
cos e socioambientais, com vistas à proposição de alternativas que respeitem e pro-
movam a consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito
local, regional, nacional e global.
Habilidades
EM13CHS301 – Problematizar hábitos e práticas individuais e coletivos de produção, reaproveitamento e descarte de resíduos em metrópoles, áreas urbanas e rurais, e comunidades com diferentes características socioeconômi-cas, e elaborar e/ou selecionar propostas de ação que promovam a sustentabilidade socioambiental, o combate à poluição sistêmica e o consumo responsável.
EM13CHS302 – Analisar e avaliar criticamente os impactos econômicos e socioambientais de cadeias produtivas ligadas à exploração de recursos naturais e às atividades agropecuárias em diferentes ambientes e escalas de aná-lise, considerando o modo de vida das populações locais – entre elas as indígenas, quilombolas e demais comunida-des tradicionais –, suas práticas agroextrativistas e o compromisso com a sustentabilidade.
EM13CHS303 – Debater e avaliar o papel da indústria cultural e das culturas de massa no estímulo ao consumismo, seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à percepção crítica das necessidades criadas pelo consu-mo e à adoção de hábitos sustentáveis.
EM13CHS304 – Analisar os impactos socioambientais decorrentes de práticas de instituições governamentais, de empresas e de indivíduos, discutindo as origens dessas práticas, selecionando, incorporando e promovendo aquelas que favoreçam a consciência e a ética socioambiental e o consumo responsável.
EM13CHS305 – Analisar e discutir o papel e as competências legais dos organismos nacionais e internacionais de regulação, controle e fiscalização ambiental e dos acordos internacionais para a promoção e a garantia de práticas ambientais sustentáveis.
EM13CHS306 – Contextualizar, comparar e avaliar os impactos de diferentes modelos socioeconômicos no uso dos recursos naturais e na promoção da sustentabilidade econômica e socioambiental do planeta (como a adoção dos sistemas da agrobiodiversidade e agroflorestal por diferentes comunidades, entre outros)
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Iniciais_003a015_LA.indd 9V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Iniciais_003a015_LA.indd 9 24/09/2020 10:4724/09/2020 10:47
10
Competência específica 4Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, con-
textos e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e
transformação das sociedades.
Habilidades
EM13CHS401 – Identificar e analisar as relações entre sujeitos, grupos, classes sociais e sociedades com culturas distintas diante das transformações técnicas, tecnológicas e informacionais e das novas formas de trabalho ao longo do tempo, em diferentes espaços (urbanos e rurais) e contextos.
EM13CHS402 – Analisar e comparar indicadores de emprego, trabalho e renda em diferentes espaços, escalas e tempos, associando-os a processos de estratificação e desigualdade socioeconômica.
EM13CHS403 – Caracterizar e analisar os impactos das transformações tecnológicas nas relações sociais e de trabalho próprias da contemporaneidade, promovendo ações voltadas à superação das desigualdades sociais, da opressão e da violação dos Direitos Humanos.
EM13CHS404 – Identificar e discutir os múltiplos aspectos do trabalho em diferentes circunstâncias e contextos históricos e/ou geográficos e seus efeitos sobre as gerações, em especial, os jovens, levando em consideração, na atualidade, as transformações técnicas, tecnológicas e informacionais.
Competência específica 5Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência,
adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os
Direitos Humanos.
Habilidades
EM13CHS501 – Analisar os fundamentos da ética em diferentes culturas, tempos e espaços, identificando proces-sos que contribuem para a formação de sujeitos éticos que valorizem a liberdade, a cooperação, a autonomia, o empreendedorismo, a convivência democrática e a solidariedade.
EM13CHS502 – Analisar situações da vida cotidiana, estilos de vida, valores, condutas etc., desnaturalizando e pro-blematizando formas de desigualdade, preconceito, intolerância e discriminação, e identificar ações que promovam os Direitos Humanos, a solidariedade e o respeito às diferenças e às liberdades individuais.
EM13CHS503 – Identificar diversas formas de violência (física, simbólica, psicológica etc.), suas principais vítimas, suas causas sociais, psicológicas e afetivas, seus significados e usos políticos, sociais e culturais, discutindo e ava-liando mecanismos para combatê-las, com base em argumentos éticos.
EM13CHS504 – Analisar e avaliar os impasses ético-políticos decorrentes das transformações culturais, sociais, históricas, científicas e tecnológicas no mundo contemporâneo e seus desdobramentos nas atitudes e nos valores de indivíduos, grupos sociais, sociedades e culturas.
CADERNOBNCC
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Iniciais_003a015_LA.indd 10V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Iniciais_003a015_LA.indd 10 24/09/2020 10:4724/09/2020 10:47
11
Competência específica 6Participar do debate público de forma crítica, respeitando diferentes posições e fa-
zendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liber-
dade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
Habilidades
EM13CHS601 – Identificar e analisar as demandas e os protagonismos políticos, sociais e culturais dos povos in-dígenas e das populações afrodescendentes (incluindo as quilombolas) no Brasil contemporâneo considerando a história das Américas e o contexto de exclusão e inclusão precária desses grupos na ordem social e econômica atual, promovendo ações para a redução das desigualdades étnico-raciais no país.
EM13CHS602 – Identificar e caracterizar a presença do paternalismo, do autoritarismo e do populismo na política, na sociedade e nas culturas brasileira e latino-americana, em períodos ditatoriais e democráticos, relacionando-os com as formas de organização e de articulação das sociedades em defesa da autonomia, da liberdade, do diálogo e da promoção da democracia, da cidadania e dos direitos humanos na sociedade atual.
EM13CHS603 – Analisar a formação de diferentes países, povos e nações e de suas experiências políticas e de exercício da cidadania, aplicando conceitos políticos básicos (Estado, poder, formas, sistemas e regimes de governo, soberania etc.).
EM13CHS604 – Discutir o papel dos organismos internacionais no contexto mundial, com vistas à elaboração de uma visão crítica sobre seus limites e suas formas de atuação nos países, considerando os aspectos positivos e negativos dessa atuação para as populações locais.
EM13CHS605 – Analisar os princípios da declaração dos Direitos Humanos, recorrendo às noções de justiça, igual-dade e fraternidade, identificar os progressos e entraves à concretização desses direitos nas diversas sociedades contemporâneas e promover ações concretas diante da desigualdade e das violações desses direitos em diferentes espaços de vivência, respeitando a identidade de cada grupo e de cada indivíduo.
EM13CHS606 – Analisar as características socioeconômicas da sociedade brasileira – com base na análise de do-cumentos (dados, tabelas, mapas etc.) de diferentes fontes – e propor medidas para enfrentar os problemas identi-ficados e construir uma sociedade mais próspera, justa e inclusiva, que valorize o protagonismo de seus cidadãos e promova o autoconhecimento, a autoestima, a autoconfiança e a empatia.
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Iniciais_003a015_LA.indd 11V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Iniciais_003a015_LA.indd 11 24/09/2020 10:4724/09/2020 10:47
12
Competências específicas e habilidades de Linguagens e suas Tecnologias para o Ensino Médio
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1Compreender o funcionamento das diferentes linguagens e práticas (artísticas, corporais e verbais) e mobilizar esses conhecimentos na recepção e produção de discursos nos diferen-tes campos de atuação social e nas diversas mídias, para ampliar as formas de participação social, o entendimento e as possibilidades de explicação e interpretação crítica da realidade e para continuar aprendendo.
HABILIDADES
EM13LGG101 Compreender e analisar processos de produ-ção e circulação de discursos, nas diferentes linguagens, para fazer escolhas fundamentadas em função de interes-ses pessoais e coletivos.
EM13LGG102 Analisar visões de mundo, conflitos de inte-resse, preconceitos e ideologias presentes nos discursos veiculados nas diferentes mídias, ampliando suas possibi-lidades de explicação, interpretação e intervenção crítica da/na realidade.
EM13LGG104 Utilizar as diferentes linguagens, levando em conta seus funcionamentos, para a compreensão e produ-ção de textos e discursos em diversos campos de atuação social.
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 2Compreender os processos identitários, con-flitos e relações de poder que permeiam as práticas sociais de linguagem, respeitar as di-versidades, a pluralidade de ideias e posições e atuar socialmente com base em princípios e valores assentados na democracia, na igual-dade e nos Direitos Humanos, exercitando a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, e combatendo preconceitos de qualquer natureza.
HABILIDADES
EM13LGG201 Utilizar adequadamente as diversas lingua-gens (artísticas, corporais e verbais) em diferentes contex-tos, valorizando-as como fenômeno social, cultural, históri-co, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso.
EM13LGG202 Analisar interesses, relações de poder e pers-pectivas de mundo nos discursos das diversas práticas de linguagem (artísticas, corporais e verbais), para compreen-der o modo como circulam, constituem-se e (re)produzem significação e ideologias.
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3Utilizar diferentes linguagens (artísticas, cor-porais e verbais) para exercer, com autonomia e colaboração, protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva, de forma crítica, criativa, ética e solidária, defendendo pontos de vista que respeitem o outro e promovam os Direitos Humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável, em âmbito local, regio-nal e global.
HABILIDADES
EM13LGG301 Participar de processos de produção individual e colaborativa em diferentes linguagens (artísticas, corpo-rais e verbais), levando em conta seus funcionamentos, para produzir sentidos em diferentes contextos.
EM13LGG302 Posicionar-se criticamente diante de diversas visões de mundo presentes nos discursos em diferentes linguagens, levando em conta seus contextos de produção e de circulação.EM13LGG303 Debater questões polêmicas de relevância social, analisando diferentes argumentos e opiniões, para formular, negociar e sustentar posições, frente à análise de perspectivas distintas.EM13LGG305 Mapear e criar, por meio de práticas de lingua-gem, possibilidades de atuação social, política, artística e cultural para enfrentar desafios contemporâneos, discutin-do princípios e objetivos dessa atuação de maneira crítica, criativa, solidária e ética.
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 5Compreender os processos de produção e ne-gociação de sentidos nas práticas corporais, reconhecendo-as e vivenciando-as como for-mas de expressão de valores e identidades, em uma perspectiva democrática e de respeito à diversidade.
HABILIDADESEM13LGG502 Analisar criticamente preconceitos, estereóti-pos e relações de poder subjacentes presentes nas práticas corporais, adotando posicionamento contrário a qualquer manifestação de injustiça e desrespeito a direitos humanos e valores democráticos.
CADERNOBNCC
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Iniciais_003a015_LA.indd 12V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Iniciais_003a015_LA.indd 12 24/09/2020 10:4724/09/2020 10:47
13
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 6Apreciar esteticamente as mais diversas pro-duções artísticas e culturais, considerando suas características locais, regionais e glo-bais, e mobilizar seus conhecimentos sobre as linguagens artísticas para dar significado e (re)construir produções autorais individuais e coletivas, exercendo protagonismo de maneira crítica e criativa, com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas.
HABILIDADES
EM13LGG601 Apropriar-se do patrimônio artístico de diferentes tempos e lugares, compreendendo a sua diversidade, bem como os processos de legitimação das manifestações artísticas na sociedade, desenvolvendo visão crítica e histórica.
EM13LGG603 Expressar-se e atuar em processos de criação au-torais individuais e coletivos nas diferentes linguagens artísticas (artes visuais, audiovisual, dança, música e teatro) e nas inter-secções entre elas, recorrendo a referências estéticas e culturais, conhecimentos de naturezas diversas (artísticos, históricos, so-ciais e políticos) e experiências individuais e coletivas.EM13LGG604 Relacionar as práticas artísticas às diferentes di-mensões da vida social, cultural, política, histórica e econômica e identificar o processo de construção histórica dessas práticas.
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 7Mobilizar práticas de linguagem no universo di-gital, considerando as dimensões técnicas, crí-ticas, criativas, éticas e estéticas, para expandir as formas de produzir sentidos, de engajar-se em práticas autorais e coletivas, e de aprender a aprender nos campos da ciência, cultura, traba-lho, informação e vida pessoal e coletiva.
HABILIDADES
EM13LGG702 Avaliar o impacto das tecnologias digitais da informa-ção e comunicação (TDIC) na formação do sujeito e em suas prá-ticas sociais, para fazer uso crítico dessa mídia em práticas de se-leção, compreensão e produção de discursos em ambiente digital.
EM13LGG703 Utilizar diferentes linguagens, mídias e ferramen-tas digitais em processos de produção coletiva, colaborativa e projetos autorais em ambientes digitais.
Competências específicas e habilidades de Matemática e suas Tecnologias para o Ensino Médio
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 1Utilizar estratégias, conceitos e procedi-mentos matemáticos para interpretar situa-ções em diversos contextos, sejam ativida-des cotidianas, sejam fatos das Ciências da Natureza e Humanas, das questões socioe-conômicas ou tecnológicas, divulgados por diferentes meios, de modo a contribuir para uma formação geral.
HABILIDADES
EM13MAT101 Interpretar criticamente situações econômicas, sociais e fatos relativos às Ciências da Natureza que envolvam a variação de grandezas, pela análise dos gráficos das funções representadas e das taxas de variação, com ou sem apoio de tec-nologias digitais.EM13MAT102 Analisar tabelas, gráficos e amostras de pesqui-sas estatísticas apresentadas em relatórios divulgados por dife-rentes meios de comunicação, identificando, quando for o caso, inadequações que possam induzir a erros de interpretação, como escalas e amostras não apropriadas.
Competências específicas e habilidades de Ciências da Natureza e suas Tecnologias para o Ensino Médio
COMPETÊNCIA ESPECÍFICA 3Investigar situações-problema e avaliar apli-cações do conhecimento científico e tecnoló-gico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comuni-cação (TDIC).
HABILIDADES
EM13CNT301 Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experi-mentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfren-tamento de situações-problema sob uma perspectiva científica.
EM13CNT302 Comunicar, para públicos variados, em diversos contextos, resultados de análises, pesquisas e/ou experimen-tos, elaborando e/ou interpretando gráficos, tabelas, símbolos, códigos, sistemas de classificação e equações, por meio de dife-rentes linguagens, mídias, tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC), de modo a participar e/ou promover deba-tes em torno de temas científicos e/ou tecnológicos de relevân-cia sociocultural e ambiental.
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Iniciais_003a015_LA.indd 13V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Iniciais_003a015_LA.indd 13 24/09/2020 10:4724/09/2020 10:47
14
SUMÁRIO
Caderno BNCC 6
Capítulo 1 Democracia e ditadura no Brasil e na América Latina ................................... 18
Democracia e ditadura como conceitos opostos .............. 19
Do século XIX ao XX: América hispano-portuguesa
nos limites da independência ................................................ 22
Os limites da independência ................................................................ 22
Cenários da América hispânica: da independência ao século XXI ... 22
Destaques da América Latina depois da Independência 28
México ..................................................................................................... 28
América Central e Caribe ....................................................................... 30
Brasil: da independência ao século XXI ............................... 35
Os excluídos nessa história do Brasil: negros e indígenas ............... 37
Brasil: do século XIX à República da Era Vargas ................................. 38
Atuações governamentais no Brasil
democrático pós-Estado Novo................................................ 45
Mobilizações sociais e atuações nos governos
ditatoriais do Brasil .................................................................... 50
Atuações sociais para a democracia: as heranças
paternalistas e autoritárias no século XXI .......................................... 56
Capítulo 2 Desafios para construção da justiça social no Brasil ............................ 62
Diversidade, particularidades e igualdade ......................... 64
Emancipação das mulheres ................................................................. 65
A inclusão de negros e indígenas ....................................................... 70
Os idosos ................................................................................................ 75
Os jovens ................................................................................................. 76
• PráticaRelembrar é preciso: como foi a ditadura militar-civil no Brasil? .. 88
Dimensões
da cidadania
1
UNIDA
DE
16
Lucia
na W
hit
ake
r/P
uls
ar
Image
ns
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Iniciais_003a015_LA.indd 14V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Iniciais_003a015_LA.indd 14 24/09/2020 10:4724/09/2020 10:47
15
Capítulo 3
A cidade e a cidadania ........................... 96
A cidade e o cidadão .................................................................. 98
O processo de urbanização ..................................................... 100
Rede e hierarquia urbanas ...................................................... 104
Os problemas sociais urbanos ............................................... 112
Desigualdades e segregação socioespacial ....................................... 112
O problema da moradia .......................................................................... 114
Capítulo 4
Direitos Humanos e prática social ........... 122
Gênese dos Direitos Humanos ............................................... 123
Documentos ................................................................................ 124
Reflexões sobre os Direitos Humanos ................................. 130
Os Direitos Humanos e a atuação das ONGs ...................... 136
Principais ONGs de atuação nacional e internacional ..... 138
Anti-Slavery International ..................................................................... 138
Human Rights Watch ............................................................................. 138
Anistia Internacional .............................................................................. 140
Médicos Sem Fronteiras ........................................................................ 141
Oxfam ...................................................................................................... 142
Repórteres Sem Fronteiras ................................................................... 142
Observatório da Imprensa .................................................................... 144
Os Direitos Humanos no mundo e
os desafios em crescimento .................................................. 144
• PráticaO que acontece na praça? .................................................... 152
Caminhos
da
cidadania2
UNIDA
DE
94
Cen
tral P
ress/H
ulto
n A
rchiv
e/G
ett
y I
mag
es
Referências bibliográficas comentadas 158
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Iniciais_003a015_LA.indd 15V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Iniciais_003a015_LA.indd 15 24/09/2020 10:4724/09/2020 10:47
Dimensões
da cidadania1
UNIDA
DE
O texto abaixo, elaborado pela cientista política Mônica Sodré, pelo professor da USP e cientista político José Álvaro Moisés e pelo sociólogo Floriano Pesaro, aponta que a democracia está sob risco em vários países, incluindo o Brasil. Ao final responda às questões propostas.
Nem só de eleições vivem as democracias
Pela primeira vez neste século, a maior parte do mundo não é uma democracia. Isso não se
explica apenas pelas suas dificuldades em locais nos quais já estava consolidada — como nos
EUA e na Europa ocidental —, mas também pelo surgimento de regimes híbridos, que mantêm os
aspectos eleitorais enquanto suprimem liberdades de imprensa e de expressão, caso de Hungria e
Filipinas.
Sua retração global é sentida em disputas eleitorais enviesadas, vulnerabilidade a rupturas,
manifestações populares, desrespeito à oposição, censura à imprensa, esvaziamento dos partidos e
dos Parlamentos e perseguições.
Regimes democráticos não se realizam somente com a garantia de eleições livres, regulares
e justas. Sua realização envolve o entendimento cotidiano de seus valores, incorporados em suas
normas e comportamentos, e a existência de condições, inclusive materiais, que assegurem aos
cidadãos a capacidade de interferir nos rumos do país e da política.
Sua superioridade frente a outras formas de organização da vida coletiva se justifica por três
aspectos: é a única na qual os direitos de existência, expressão e participação das minorias são
respeitados e preservados, as decisões são consideradas vinculativas por excelência e, por fim, na
qual se pressupõe aceitação às regras do jogo.
No Brasil, nosso período democrático mais longevo completou 30 anos e nossa democracia
liberal encontra-se sob risco permanente e com gradativa morte de seu vigor.
Morre todos os dias, quando há estímulo da violência por parte de quem ocupa postos de
poder. Quando os que ocupam tais posições reivindicam para si a representação exclusiva do
povo e seus interesses. Quando os limites entre público e privado ficam quase invisíveis. Quando
há esforço para refundar o passado e brigar com a ciência. Quando a desinformação vira arma e
as instituições passam a ser orientadas por uma visão que tem como finalidade esvaziá-las
de capacidade. Quando a inserção internacional e, portanto, a capacidade de cooperação e
relacionamento externos são comprometidas. Quando não há mais imagem externa a zelar.
SODRÉ, Mônica; MOISÉS, José Álvaro; PESARO, Floriano. Nem só de eleições vivem as democracias. Folha de S.Paulo, 9 ago. 2020. Disponível em: www1.folha.uol.com.br/opiniao/2020/08/
nem-so-de-eleicoes-vivem-as-democracias.shtml. Acesso em: 10 ago. 2020.
Contexto
ESSE TEMA SERÁ RETOMADO NA SEÇÃO PRÁTICA
16
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 16V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 16 24/09/2020 10:5124/09/2020 10:51
Jovem votando nas eleições de 2014 na cidade do Rio de Janeiro, RJ.
1. Quais são os entraves e ameaças à democracia apontados no artigo?
2. Em que a democracia é o regime político superior, segundo os autores?
3. Se a democraia é um sistema no qual prevalece a vontade da maioria, por que os autores afirmam
que nesse regime os direitos das minorias são respeitados e valorizados?
4. Como podemos revigorar a atual democracia brasileira?Ver respostas e orientações no Manual do Professor.
Lucia
na W
hit
ake
r/P
uls
ar
Imagens
NÃO ESCREVA NO LIVRO
17
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 17V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 17 24/09/2020 10:5124/09/2020 10:51
A participação da sociedade nos assuntos públi-
cos ocorre por meio do exercício dos direitos políti-
cos. De todos esses direitos, o voto é o mais conhe-
cido e o mais exercido e é por ele que cada indivíduo
expressa sua vontade na escolha de representantes
políticos.
O artigo 14 (Capítulo IV - Dos direitos políticos) da
Constituição Brasileira vigente, desde 1988, estabelece
o sufrágio universal, ou seja, o exercício do voto direto e
secreto de modo obrigatório para indivíduos com mais
de 18 anos, e facultativo para os maiores de 16 e meno-
res de 18 e também para aqueles com mais de 70 anos.
Porém, para que o sufrágio universal fosse estabeleci-
do no Brasil, foi necessário um longo período de conflitos
e de reivindicação de direitos por diversos grupos sociais.
Nos últimos anos, muitas pessoas têm se manifes-
tado contra a obrigatoriedade do voto. No segundo turno
das eleições para presidente em 2018, a soma de votos
nulos, brancos e abstenções representou cerca de um
terço do total de eleitores.
Considerando essas informações, reflita sobre as ques-
tões a seguir e converse com os colegas e o professor.
1. O voto é um direito político pelo qual muitos brasilei-
ros lutaram no passado, mas atualmente boa parte
deles prefere não exercê-lo. Quais fatores podem ex-
plicar essa mudança de atitude de uma parcela da
população?
2. Além do voto, há outras formas de participação po-
lítica e de exercício da cidadania? Em caso positivo,
quais seriam elas? Veja as respostas no Manual do Professor.
Contexto
Democracia e
ditadura no Brasil e
na América Latina1
OBJETIVOS• Compreeder os conceitos de democracia e ditadura
tendo em vista sua origem na Antiguidade clássica e seu uso em contextos políticos contemporâneos.
• Conhecer os contextos de surgimento e desenvolvimento de diferentes regimes políticos na América Latina nos séculos XIX e XX.
• Relacionar as políticas populistas e desenvolvimentistas do Brasil a contextos históricos específicos.
• Identificar as motivações de elites econômicas e sociais e interesses estrangeiros no surgimento e desenvolvimento de regimes ditatoriais no Brasil.
JUSTIFICATIVAConceitos relativos a regimes e práticas políticas, tais como democracia, ditadura, populismo, paternalismo, desenvolvimentismo, entre outros, são importantes para a compreensão de situações históricas específicas. Ao mesmo tempo, essas situações exemplificam e esclarecem melhor a própria compreensão desses conceitos. Tendo foco em contextos políticos da América Latina nos séculos XIX e XX, o capítulo contribui para estimular a reflexão dos estudantes quanto à história política latino-americana contemporânea.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA BNCC• Competências gerais da Educação Básica:
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG9 e CG10.
• Competências e habilidades específicas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: Competência 1: EM13CHS103. Competência 5: EM13CHS503 e EM13CHS504. Competência 6: EM13CHS602 e EM13CHS603.
• Competências e habilidades específicas de Linguagens e suas Tecnologias: Competência 6: EM13LGG604.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS
Cidadania e civismo• Educação em direitos humanos
Multiculturalismo• Educação para a valorização do multiculturalismo nas
matrizes históricas e culturais brasileiras
CAPÍTULO
CAPÍTULO
NÃO ESCREVA NO LIVRO
18
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 18V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 18 24/09/2020 19:4324/09/2020 19:43
Democracia e ditadura como conceitos opostos
Nós, seres humanos, vivemos em culturas diferentes, e os modos de or-
ganização política variam muito de uma sociedade para outra. De maneira
geral, podemos identificar sociedades nas quais a organização é estabeleci-
da de forma autoritária, sob um governo centralizado. Em outras, as decisões
são tomadas de forma coletiva e dialogada. Essas formas de organização
são, quase sempre, associadas, respectivamente, à ditadura e à democracia.
A palavra ditadura tem origem na Antiguidade, na Roma republicana. De-
pois de se libertarem do domínio etrusco, em 509 a.C., e antes de constituí-
rem um império, a partir de 27 a.C., os romanos consideravam o Senado o
principal órgão político. Não se tratava de uma democracia, mas de uma Re-
pública aristocrática, pois os senadores eram representantes da elite, uma
minoria da população. Mas suas decisões eram tomadas a partir do diálogo
sobre a rex-publica, o respeito à coisa pública, ao publicus, coisa do povo, na
busca de entendimentos em relação ao que seria melhor para a cidade. Po-
rém, em épocas de crise, como em uma guerra, as decisões tinham de ser
tomadas rapidamente e, por isso, se instituía um ditador, do latim ditactor, o
que ditava os decretos, com amplos poderes por um período máximo de seis
meses. Em outras palavras, a ditadura era um tipo de governo provisório, ex-
traordinário, acionado em situações excepcio-
nais, com a finalidade de cuidar da administra-
ção da cidade até que a situação de crise fosse
resolvida.
Assim, essa ditadura antiga não carregava
um caráter pejorativo de ilegalidade. Situação
diferente de ditadura na modernidade em que
se tornou um sinônimo de governo autoritário,
perdendo o aspecto de transitoriedade que ti-
nha na Roma antiga. Nesse sentido, se tivés-
semos de buscar na Antiguidade um governo
com algumas similaridades com as ditaduras
contemporâneas, perceberíamos que elas se
assemelham mais ao despotismo ou à tirania.
E, nesse quadro, são exemplares as do mundo
grego e mesmo de outros povos antigos que,
em meio às tensões e conflitos internos, cer-
tas personagens assumiam o poder e se ga-
rantiam nele sobretudo pela força, reprimindo
descontentamentos e impondo suas decisões.
Cartaz da exposição Mais democracia, sim! Ditadura
nunca mais! promovida pela prefeitura de Sobral, CE,
em 2014, como forma de lembrar às novas gerações
os horrores ocorridos durante a ditadura no Brasil.
Reprodu•‹o/sobralonline.com.br
19
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 19V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 19 24/09/2020 10:5124/09/2020 10:51
As ditaduras contemporâneas geralmente são estabelecidas com base
em um golpe de Estado, ou seja, na derrubada de uma ordem constitucional
legítima. A partir de sua implementação a ditadura se firma como um gover-
no regido por um líder ou por um grupo de líderes, e se caracteriza por sua
intolerância ao pluralismo político e à participação popular. Em uma ditadura
não existe um partido de oposição de direito e de fato e, caso exista, quase
sempre é apenas como formalidade política.
As ditaduras podem ser de vários tipos. Há ditaduras militares, nas quais
o governo é exercido por membros de alta patente das Forças Armadas, repre-
sentados por um desses membros que exerça o papel de líder, ou por juntas
militares. Frequentemente as ditaduras militares integram representantes
civis das elites. Há também as ditaduras de partido único, nas quais o parti-
do no poder tem a prerrogativa de escolher todos os cargos, controlando as-
sim a política de modo completo. Há ainda as ditaduras pessoais, nas quais
o poder repousa nas mãos de um único indivíduo. Também há as ditaduras monárquicas, em que o poder é conferido a um rei em caráter hereditário.
Atualmente, as monarquias são bem menos comuns do que no passado e,
geralmente, se integram a uma ordem democrática, na qual o poder do rei é
simbólico ou partilhado com representantes do povo. Mas há situações em
que o monarca destitui esses representantes, passando a governar de forma
autoritária, ditatorial.
NÃO ESCREVA NO LIVRO
O presidente Xi Jinping no
19o Congresso do Partido
Comunista Chinês, em 2017.
Na China, a ditadura de partido
único vigora desde que o
Partido Comunista tomou o
poder, em 1949, no contexto da
Revolução Chinesa.
Na foto, a família real no
Palácio de Buckingham
durante comemoração oficial,
em 2015, em Londres. A
monarquia no Reino Unido
é integrada a um regime
parlamentarista democrático.
• Os ditadores e os
governos ditatoriais
não se caracterizam
por uma pessoa ou
um restrito grupo de
pessoas governando
contra a vontade de
todos. Quase sempre
eles contam com
apoio de uma parcela
da população. Por
que isso acontece?
Argumentem
apresentando
exemplos atuais ou
passados.
Ver respostas e orientações
no Manual do Professor.
Conversa
Jam
es D
evaney/F
ilmM
agic
/Gett
y Im
ages
Wang Z
hao/A
FP
20
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 20V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 20 24/09/2020 10:5124/09/2020 10:51
A palavra democracia também tem origem na
Antiguidade, mas na Grécia clássica. Demos eram
subdivisões territoriais da cidade de Atenas com
base nas quais eram elaboradas listas de pessoas
com direito à cidadania. Unida à palavra kratia, que
significa poder ou governo, o termo democracia fa-
zia referência a um regime político no qual as deci-
sões eram tomadas não por um indivíduo apenas
ou por um pequeno grupo, mas pelo conjunto dos
cidadãos via assembleias. Além disso, os cargos
eram rotativos, de modo que todo cidadão de uma
democracia grega, em algum momento da vida, po-
deria ocupar uma posição política de destaque.
No mundo contemporâneo a participação dos
cidadãos nas decisões do Estado passou a ocorrer
por meio da democracia representativa, na qual
os cidadãos elegem seus representantes políticos,
que, por sua vez, cuidam da administração públi-
ca. O sociólogo alemão Max Weber (1864-1920)
explica essa mudança argumentando que o Estado
nacional moderno, diferentemente da pólis grega
antiga, apresenta uma burocracia demasiadamen-
te complexa para permitir a participação direta dos
cidadãos nas decisões do Estado.
O economista austríaco Joseph Schumpeter
(1883-1950), por sua vez, associa o modelo mo-
derno de democracia ao comportamento do con-
sumidor em uma sociedade capitalista. Assim
como o consumidor tem a liberdade de escolher
o produto que vai comprar, podendo optar por
diferentes marcas e modelos, também na demo-
cracia representativa, os eleitores optam por uma
proposta de governo entre as várias que lhe são
apresentadas. Assim como as empresas avaliam
o potencial de um produto por meio de pesquisas
de marketing, os partidos políticos também po-
dem avaliar as chances de um candidato por meio
de pesquisas eleitorais.
Um dos maiores riscos de uma democracia mo-
derna é o que o pensador político francês Alexis de Tocqueville (1805-1859) chamava de “tirania
da maioria”. Imagine a promulgação de uma lei
que tenha impacto negativo para uma minoria da
população. Se a questão for colocada em votação,
essa minoria sempre teria seus interesses e ne-
cessidades submetidos pelos votos da maioria.
Por isso é que as democracias representativas do
mundo contemporâneo também são democra-cias constitucionais. O Estado tem dispositivos
legais que protegem as minorias contra possíveis
injustiças sociais.
A democracia, seja a antiga, sejam as contem-
porâneas, envolve o poder e os embates sociopolí-
ticos quanto a liberdade e direitos. Foi longa e nada
simples a trajetória histórica, como veremos a
seguir, das pressões e lutas por mudanças e con-
quistas. A democracia expõe potencialidades para
enfrentar e vencer barreiras à melhor vivência so-
cial, heranças que continuam na dependência de
cada um de nós.
Veja abaixo o sentido de utopia, apontado pelo jornalista e escritor uruguaio Eduardo Galeano (1940-2015), citado no livro Política: para não ser idiota.
“A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei. Para que serve a utopia? Serve para isso: para que eu não deixe de caminhar”.
CORTELLA, Mário Sergio; RIBEIRO, Renato Janine. Política: para não ser idiota. Campinas, SP:
Papirus: 7 Mares, 2010. p. 21.
1. Tomando o sentido de utopia de Eduardo Galeano, como você o associa com a afirmação mais acima, no parágrafo que começa com: A democracia, seja a antiga [...]
2. Considerando sua resposta à pergunta acima, a democracia se mostra como algo pronto, fechado, permanente e acabado? Por quê?
Ver respostas e orientações no Manual do Professor.
InterpretarNÃO ESCREVA NO LIVRO WEBER, Max. Economia e
sociedade. 4. ed. Brasília: Editora UnB, 2015. v. 2.
SCHUMPETER, Joseph. Capitalismo, socialismo
e democracia. São Paulo: Editora Unesp, 2017.
TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América. São Paulo: Edipro, 2019.
21
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 21V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 21 24/09/2020 10:5124/09/2020 10:51
Do século XIX ao XX: América hispano-portuguesa nos limites da independência
Os limites da independênciaDesde 2010, têm ocorrido eventos comemorativos do bicentenário da in-
dependência nas regiões americanas colonizadas pelos espanhóis e portu-
gueses. As comemorações favorecem embates em torno da memória e da
história, além de possibilitar reavaliações nas experiências latino-america-
nas. A independência política de toda a América Latina manteve fortes laços
de subordinação nas relações internacionais, em especial com a Inglaterra, a
maior potência mundial no período em que ocorreram as independências dos
países latino-americanos. Porém, quando voltamos o olhar para o interior de
cada um dos novos países independentes, é possível identificar diferentes
limites ao efetivo exercício da cidadania pela maior parte da população.
Assim, as novas nações que se formavam na América Latina no século XIX
carregavam enormes limitações: tanto no plano das relações externas dos no-
vos Estados, até mesmo com diversas intervenções de países externos à região
(Inglaterra, França, Estados Unidos), como também nas relações internas. Em
outras palavras, talvez devêssemos sempre usar aspas ao falarmos em “inde-
pendência”, seja a do Brasil, seja a dos demais países da América Latina.
Cenários da América hispânica: da independência ao século XXI
No início do século XIX, estima-se que a população total da América espa-
nhola era de aproximadamente 22 milhões de habitantes. Destes, mais de 12
milhões eram indígenas; 6 milhões, mestiços (descendentes de espanhóis
e populações locais); 800 mil, negros escravos; e 3 milhões, criollos.
Os criollos, membros das elites hispano-americanas, desejavam romper
com as metrópoles monopolistas que lhes dificultavam as transações mer-
cantis, sobretudo com a Inglaterra. Para os colonos, a Coroa espanhola res-
tringia os setores produtivos, além de limitar o acesso aos cargos administra-
Observe que as datas das rebeliões são muito próximas, sugerindo que pairavam no continente ideais libertários. Entretanto, na época não havia meios de comunicação instantâneos como temos hoje.
1. Então, como esse “espírito revolucionário” e o desejo de mudanças se espalhavam?
2. Quais eram os segmentos sociais responsáveis por isso?
3. Os segmentos sociais regionais eram unidos num só projeto para realizar as mudanças ou a independência ou havia diferenças?
NÃO ESCREVA NO LIVRO
Ver respostas e orientações no Manual do Professor.
Interpretar
22
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 22V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 22 24/09/2020 10:5124/09/2020 10:51
tivos e políticos. Para a Inglaterra, contudo, interessava a independência das
colônias, uma vez que isso eliminaria as barreiras monopolistas comerciais e
ativaria novos mercados, indispensáveis ao seu progresso industrial. Criollos
e ingleses tinham interesses convergentes na independência das colônias
espanholas na América.
Fonte: elaborado com base em
BLACK. Jeremy (Ed.). World
History Atlas. Londres: Dorling
Kindersley, 2004. p. 126 e 148.
Rebeliões latino-americanas – século XVIII
Port
al d
e M
ap
as/A
rqu
ivo
da e
ditora
Buenos Aires
Lima
Cidade do México
Rio de JaneiroVila Rica
SalvadorConjuração
Baiana (1798)Conjuração
Mineira(1789)
MovimentoComunero
(1781)
Impulsodas rebeliões
haitianas(1791)
Rebelião deTupac Amaru
(1780)OCEANOPACÍFICO
OCEANOATLÂNTICO
Equador
Trópico de Capricórnio
Trópico de Câncer
90º O
0o
VICE-REINADODO RIO DA PRATA
VICE-REINADODO PERU
VICE-REINADODE NOVA
GRANADA
VICE-REINADODA NOVAESPANHA
BRASIL
Rebeliões
Mineração
Cana-de-açúcar
0 1 338 2 676
km
Os chapetones, grupo minoritário da América espanhola (cerca de 300
mil indivíduos), composto de espanhóis nascidos na metrópole, ocupavam
os altos cargos da administração colonial, vivendo em permanente confron-
to com a elite local – e desejavam a manutenção das relações metrópole-
-colônia. Os criollos, guiados pelos ideais iluministas liberais e pelo exemplo
da independência dos Estados Unidos, eram partidários do livre-comércio e
da luta pela emancipação política, embora não cogitassem mudanças na es-
trutura socioeconômica.
As rebeliões locais, de um lado, como manifestações isoladas, sinaliza-
vam o esgotamento do sistema colonial; de outro, expressavam diversos
projetos de independência. Diversas rebeliões eclodiram na América his-
pânica contra os espanhóis e seu domínio, organizadas tanto por criollos
quanto por indígenas.
Entre estas últimas, destacou-se a rebelião em 1780, de Tupac Amaru II
(1738-1781), no Vice-Reinado do Peru. Essas rebeliões e outras manifestações
do século XVIII traziam à tona outros “projetos” de independência, diferentes
23
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 23V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 23 24/09/2020 10:5124/09/2020 10:51
daqueles que acabaram sendo realizados pelas eli-
tes coloniais, seja com os criollos na região hispâni-
ca, seja com os membros da aristocracia na Améri-
ca portuguesa.
O processo de independência da América es-
panhola foi impulsionado pelo enfraquecimento
da metrópole espanhola – com a invasão de Na-
poleão Bonaparte (1769-1821), que destituiu o
rei Carlos IV (1788-1808), da dinastia Bourbon, e
coroou José Bonaparte (1768-1844), seu irmão –,
que estimulou o movimento autonomista liderado
pelos criollos. A revolução que libertou a maioria dos países latino-americanos
ocorreu entre 1817 e 1825, tendo como líderes Simón Bolívar (1783-1830) e
José de San Martín (1778-1850), que percorreram quase toda a América do
Sul hispânica, com o apoio efetivo da Inglaterra e dos Estados Unidos.
Embora tivessem conseguido acabar com o domínio metropolitano e ob-
tido a liberdade política, os novos Estados latino-americanos continuaram
atrelados à dependência econômica externa. Atendendo aos interesses do
desenvolvimento capitalista, a América Latina, governada pela aristocracia
criolla, assumiu a função de fornecer matérias-primas e consumir produtos
industrializados ingleses.
No Congresso do Panamá (1826), quando quase toda a América Lati-
na já estava independente, Bolívar tentou concretizar seu ideal de unidade
política, defendendo alianças entre os Estados hispano-americanos, a cria-
ção de uma força militar comum e a abolição da
escravidão, entre outras medidas. Seus esforços
de solidariedade continental – ideal de pan-ameri-
canismo bolivarista –, no entanto, encontraram a
oposição dos ingleses, dos estadunidenses e das
próprias oligarquias locais e seus dirigentes, como
a monarquia brasileira de dom Pedro I, recém-ins-
talada, comprometida com as elites escravistas.
NÃO ESCREVA NO LIVRO
Para discutir em grupos, faça uma pesquisa sobre Simón Bolívar e seu ideal de pan-americanismo, considerando os seguintes aspectos:
• Em que medida o ideal de Bolívar esbarrava nos interesses estadunidenses e ingleses?
• E quanto aos interesses do Brasil independente: havia coincidência ou oposição? Em quais aspectos?
• Desde o século XIX, nossa história e a dos demais países latino-americanos correm em paralelo: vivemos quase sempre voltados à maior aproximação ou ao distanciamento deles? Por quê?
Ver respostas e orientações no Manual do Professor.
Conversa
M. S
eem
ulle
r/D
EA
/Alb
um
/Foto
are
na/M
useu B
oliv
ariano, C
ara
cas, Venezu
ela
.
Monumento representando Tupac Amaru II, sua esposa e seus filhos. Praça de Armas em Cuzco, Peru, em fotografia de 2017.
Simón Bolívar saudando a bandeira após a batalha de Carabobo, obra do pintor venezuelano Arturo Michelena. Simón Bolívar foi
um dos principais líderes na América Latina após as guerras de independência.
Cra
ig L
ove
ll/E
ag
le V
isio
ns P
ho
togra
phy/A
lam
y/F
oto
are
na
24
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 24V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 24 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
No aspecto político, chefes locais, em geral líderes oriundos das forças mi-
litares mobilizadas pelos criollos nas guerras de independência, passaram a
disputar o poder de suas respectivas regiões. Na fragmentação da América his-
pânica em vários novos Estados, os comandantes carismáticos, autoritários,
personalistas, chefes que irradiavam magnetismo pessoal na condução de
seus comandados, foram denominados caudilhos.
México: projetos de independência em confronto
Em 1810, ocorreu a primeira ten-
tativa de emancipação política no
México (na época, Vice-Reinado de
Nova Espanha), que se distinguiu dos
demais movimentos da América espa-
nhola por ter sido uma iniciativa das
massas populares e por seu caráter
predominantemente rural. Encabe-
çando a insurreição, sucederam-se
Miguel Hidalgo (1753-1811), padre
Morelos (1765-1815) e Vicente Guer-
rero (1782-1831), que deram ênfase
às reformas sociais populares, pro-
pondo o fim da escravidão e a igualda-
de de direitos e opondo-se à aristocra-
cia fundiária e aos altos funcionários.
Os ideais populares divergiam dos propósitos das elites criollas mexica-
nas, que quase sempre estiveram mais atreladas aos chapetones e contro-
lavam a maior parte das áreas rurais, sendo metade das terras mexicanas
pertencentes ao clero.
Para os mestiços e indígenas que formavam cerca de 80% dos 6 milhões
de habitantes da região, a luta pela independência do México deveria incluir
propostas para resolver a situação fundiária a favor dos camponeses diante
do então controle da aristocracia.
Enviado pelo vice-rei para lutar contra os insurretos mexicanos, Agustín
Itúrbide (1783-1824), de forma oportunista, aliou-se a Guerrero em 1821
formulando o Plano de Iguala, que proclamava a independência do Méxi-
co, a igualdade de direitos entre criollos e espanhóis, a supremacia da re-
ligião católica, o respeito à propriedade e um governo monárquico. Era a
confirmação de um projeto de independência que atendia aos interesses
das mesmas elites (criollos, chapetones laicos e o clero) que dominavam
o México na fase colonial. Em 1822, Itúrbide proclamou-se imperador, com
o título de Agustín I.
Itúrbide acabou deposto e fuzilado num levante republicano em 1824, e
o México confirmava efetivamente sua independência da Espanha e elegia
seu primeiro presidente, o general Guadalupe Vitória. A estrutura agrária e
social que mantinha a maioria da população submetida ao controle das elites
mexicanas permaneceu basicamente a mesma.
Agustín Itúrbide, pintura anônima, feita, aproximadamente, em 1821.
Luis
a R
iccia
rini/B
ridgem
an Im
ag
es/G
low
Im
ag
es/M
useu
His
tórico
Nacio
nal,
Caste
lo d
e C
hapu
ltep
ec,
Cid
ad
e d
o M
éxic
o, M
éxic
o.
Repro
dução/E
ditora
Record
O general em seu
labirinto. Gabriel García Márquez. Rio de Janeiro: Record, 2003.
O autor reconstrói o passado da América Latina, segundo a lógica de um de seus libertadores, Simón Bolívar.
Saber
25
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 25V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 25 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
CONEXÕES
ARTE
A política na obra de arteSimbologias históricas – uma obra de Diego Rivera
Neste mural, Rivera retrata alguns personagens da Guerra de Indepen-
dência [do México], iniciada em 1810, por meio da representação pictó-
rica dos líderes de maior vulto desse fato histórico: Hidalgo e Morelos,
de um lado, ocupam o centro desta cena, enquanto no canto esquerdo,
o Imperador Itúrbide aparece com um peso negativo, aliás o único a ser
representado com esta conotação. Deste grupo central, o padre Hidalgo
é o personagem principal que carrega na sua mão direita uma corrente
quebrada, simbolizando a liberdade, a ruptura, o fim do domínio colonial,
enquanto em sua mão esquerda sustenta um estandarte com a imagem
da Virgem de Guadalupe. Ao lado de Hidalgo está o padre José María Mo-
relos, o principal general e ideólogo da Guerra. Morelos aponta seu bra-
ço para a direita, em direção ao futuro, gesto este acompanhado por um
estranho personagem situado mais abaixo que se encontra vestido com
uma armadura e uma planta de milho a seus pés como símbolo da terra
e que está carregando uma espada em sua mão direita e uma espingarda
na esquerda. Da mesma forma que Morelos, este personagem indica, com
sua espada, a direção do futuro para um grupo de camponeses armados
com rifles e sabres. Seus interlocutores são os camponeses mas também
o espectador dos murais.
É importante notar neste detalhe as duas intenções de Rivera como
artista engajado politicamente. O primeiro aspecto a ser destacado é a
relação e o sentido eminentemente social que o autor empresta às lutas
pela independência, expressa na questão da demanda por terras pelos
camponeses. Esse aspecto estabelece uma relação entre passado e pre-
sente, pois na guerra pela independência está em questão o “pensamento
social mexicano”, ou uma “revolução agrária” […].
A representação da águia ocupa uma posição central, um pouco mais
abaixo da representação do padre Miguel Hidalgo. Esta imagem está ba-
seada num monumento de pedra pertencente à cultura mexicana, en-
contrado em 1926 na ala sul do Palácio Nacional, outrora o local onde
se situava o Palácio de Montezuma. O ponto principal do monumento é
a águia que sustenta em seu bico uma serpente apoiada sobre um pé de
nopales, que simboliza a fundação de Tenochtitlán. Desta maneira, Rivera
se apoia na arqueologia para reforçar o mito que funda a identidade cul-
tural mexicana e serve de vínculo tangível entre o México moderno e seu
passado remoto.
Deste modo, reforça-se sobre este achado um capital ideológico. É a
imagem do centralismo político, como reflexo de um Estado forte, con-
26
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 26V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 26 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
NÃO ESCREVA NO LIVRO
dição que, desde o século passado, se pensava como indispensável para
integrar uma nação. O discurso que este símbolo traz refere-se ao mito de
origem e a sede do poder político contemporâneo.
Este inclusive é o símbolo da atual bandeira mexicana. […] Visualmen-
te se estabelece então uma poderosa fonte de legitimidade política.
VASCONCELLOS, Camilo de Mello. As representações das lutas de independência
no México na ótica do muralismo. Diego Rivera e Juan O’Gorman. Revista de História, n. 153,
dez. 2005. p. 283-304.
O mural A Guerra de Independência
do México (1810), do pintor mexicano Diego Rivera (1886-1957), foi produzido entre 1929 e 1935. Em seus diversos murais pintados no Palácio Nacional, no México, Rivera procurou abarcar a história mexicana desde seus mitos de origem até projeções do futuro.
1. Observe a reprodução do mural A Guerra de Independência do México, de
Diego Rivera. O artista organizou as figuras da composição numa sequên-
cia cronológica. Que segmento da pintura representa a história colonial
mexicana? Que segmento representa a história mais recente?
2. Na composição, vários elementos interagem para que a história mexica-
na seja mostrada como uma história de lutas. Identifique pelo menos três
desses elementos. Veja as respostas no Manual do Professor.
Luis
a R
iccia
rini/B
ridgem
an Im
ages/K
eysto
ne
Bra
sil/
Palá
cio
Nacio
nal, C
idade
do M
éxic
o, M
éxic
o.
© B
anco d
e M
exic
o D
iego R
ivera
& F
rid
a K
ahlo
Museum
s T
rust,
Mexic
o, D
.F./A
UTV
IS,
Bra
sil,
20
20
.
27
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 27V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 27 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
Destaques da América Latina depois da Independência
MéxicoApós a instalação da República, em 1824, o México passou a viver um
perío do de instabilidade política sob a forma de ditaduras e de dependência
econômica. As condições sociais se deterioraram com a perda de quase me-
tade de seu território, após a guerra travada contra os Estados Unidos, em
1848, e as intervenções estrangeiras sucessivas, como a dos franceses, en-
tre 1861 e 1867, que tentaram instalar na região o governo Habsburgo de Ma-
ximiliano, um prolongamento do Segundo Império napoleônico na América.
Essas condições propiciaram a instalação da ditadura de Porfirio Díaz (ele
governou em dois períodos: 1877-1880, 1884-1911), sob a qual se deu inten-
sa concentração fundiária e entrada de elevadas somas de capital estran-
geiro, voltadas para a exploração e o controle dos
recursos minerais e da produção de artigos de
exportação. Dessa forma, para a população local,
em sua grande maioria concentrada nas áreas ru-
rais, aumentaram a miséria e a dependência em
relação aos grandes senhores.
No início do século XX, esse quadro levou ao
crescimento da insatisfação da população, o que
provocou greves operárias nas cidades e revoltas
na zona rural. Dessas lutas surgiram líderes popu-
lares, como Emiliano Zapata (1879-1919) e Pan-
cho Villa (1878-1923), que comandaram milhares
de camponeses nas exigências por distribuição
de terras por meio de reforma agrária, opondo-se
aos latifundiários, aos quais se juntaram a Igreja
e as elites constituídas. Parte da elite, no entanto,
sob o comando de Francisco Madero (1873-1913),
insurgia-se contra Porfirio Díaz. Essas forças uni-
ram os exércitos revolucionários e depuseram
Porfirio Díaz em maio de 1911.
As camadas populares permaneceram insatis-
feitas com as tímidas medidas sociais tomadas
por Madero, que foi assassinado em 1913. O gene-
ral Victoriano Huerta (1850-1916) reinstalou a di-
tadura, ligada aos interesses dos Estados Unidos.
Na foto, de 1915, os líderes populares Pancho Villa (no centro) e Emiliano Zapata (à direita) no palácio presidencial da Cidade do México.
Populares mexicanos seguindo Zapata. Pintura de Orozco, 1931.
Jo
seph M
art
in/A
lbum
/ZU
MA
Pre
ss/G
low
Im
ages/
Museu d
e A
rte M
odern
a, N
ova Y
ork
, E
UA
.U
niv
ers
al H
isto
ry A
rchiv
e/G
ett
y Im
ages
28
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 28V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 28 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
Pancho Villa voltou a lutar contra as forças federais, enquanto Zapata li-
derava no sul a revolução camponesa pela reforma agrária. As pressões le-
varam Huerta a renunciar em 1914 em favor de um governo constitucional
liderado por Venustiano Carranza (1859-1920).
Em 1917, foi promulgada a nova Constituição liberal do país e Carranza
foi eleito presidente. Insatisfeitos com o não atendimento de suas reivindi-
cações, sobretudo a redivisão fundiária, os movimentos populares continua-
ram em luta. Entretanto, perderam força, principalmente com o assassinato
de Zapata, em 1919, e o afastamento de Villa, em 1920, seguido de seu assas-
sinato, em 1923. Assim, institucionalizou-se o projeto liberal.
Na década de 1930, a reforma agrária, motivo da revolução de 1910, ain-
da não havia sido realizada: mais de 80% das terras mexicanas estavam em
mãos de pouco mais de 10 mil grandes proprietários. As manifestações na-
cionalistas e as reivindicações sociais encontraram no presidente Lázaro
Cárdenas (1895-1970), governante no período 1934-1940, um representan-
te que expropriou terras e companhias estrangeiras, nacionalizou o petróleo
e estimulou a formação de sindicatos camponeses e operários.
O partido do governo passou a chamar-se Partido da Revolução Mexicana,
transformado em 1948 no Partido Revolucionário Institucional (PRI), que
permaneceu hegemônico no poder, vencendo todas as eleições presiden-
ciais, até ser derrotado em 2000.
Nas últimas décadas do século XX, entretanto, o latifúndio voltou a domi-
nar a estrutura agrária do país e houve intensa subordinação aos capitais
internacionais, levando a economia a sucessivas crises. Diante da imensa
dívida externa e do grave quadro inflacionário, em 1990 o presidente Carlos
Salinas de Gortari (1948-) buscou acordos internacionais que atraíssem in-
vestimentos estrangeiros, em especial dos Estados Unidos.
A íntima vinculação ao bloco econômico norte-americano, unindo-se à
economia de dois dos gigantes do capitalismo, Estados Unidos e Canadá,
possibilitou a integração ao Nafta (Acordo Norte-Americano de Livre-Comér-
cio), oficializada em 1o de janeiro de 1994 e
comemorada como uma passagem para o
mundo desenvolvido.
Esse episódio, entretanto, foi ofuscado
pelo levante do Exército Zapatista de Liber-
tação Nacional (EZLN), que tomou várias
cidades no estado de Chiapas, uma região
empobrecida no sudeste do país.
Os zapatistas, como ficaram conhecidos,
proclamavam a exigência de “pão, saúde,
educação, autonomia e paz” para os campo-
neses da região. Liderados por um homem
mascarado, autodenominado “subcomandan-
te Marcos”, sublevavam-se contra o governo
e denunciavam o Nafta como danoso ao povo
mexicano.
Na foto, membros do Congresso Nacional Indígena, do México, prestam solidariedade ao EZLN, durante manifestações que lembram os 100 anos de morte do líder Emiliano Zapata, na cidade de San Cristóbal de las Casas, México. O levante dos zapatistas em 1994 representou um sério revés à economia de mercado da integração neoliberal mexicana, além de derrotar o exército mexicano e tomar a capital do estado de Chiapas, San Cristóbal de las Casas. Foto de 2019.
Rodrig
o P
ard
o/A
FP
29
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 29V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 29 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
A economia mexicana mergulhou na instabilidade em meio a acusações
de envolvimento do governo nos assassinatos, especialmente o irmão do
presidente, Raúl Salinas (1946-), e escândalos de corrupção. As eleições de-
ram vitória ao novo candidato do PRI, Ernesto Zedillo (1951-), que assumiu o
cargo em dezembro de 1994.
Nas eleições presidenciais de 2000, tiveram fim 71 anos seguidos de go-
verno PRI, quando Vicente Fox (1942-) venceu a eleição para a Presidência
pelo Partido de Ação Nacional (PAN).
Nas eleições de 2006, Felipe Calderón (1962-), do mesmo partido, elegeu-
-se presidente com apoio de Fox, derrotando por pouca margem de votos An-
drés Manuel López Obrador (1953-), do Partido da Revolução Democrática
(PRD), num clima de acusações de fraudes e contestações. Depois de uma
breve ausência, o PRI retornou ao poder presidencial com a vitória do seu
candidato Peña Nieto (1966-), empossado em dezembro de 2012. Em 2018
foi sucedido por Andrés Manuel López Obrador, contrário ao neoliberalismo e
defendendo políticas mais à esquerda. Suas medidas de mudanças esbarra-
ram em forte oposição e seguidas crises, essas aprofundadas em 2020 com
os efeitos da pandemia do novo coronavírus.
América Central e Caribe
Inicialmente unida ao México, a América Central proclamou sua indepen-
dência em 1823, formando as Províncias Unidas da América Central. Essa união
pouco durou em virtude de pressões inglesas e estadunidenses, fragmen-
tando-se em repúblicas autônomas a partir de 1838.
As pressões, principalmente dos Estados Unidos, desdobraram-se em
intervenções e apoio à formação de ditaduras, a exemplo da Guatemala em
1871, em prol da separação do Panamá da Colômbia em 1903 e nas décadas
seguintes em Honduras, Nicarágua, Cuba, entre outras. As lutas locais e as
guerrilhas estabelecidas diante do intervencionismo e os governos autoritá-
rios conturbaram a região no século XX.
Caso bastante singular foi o de Cuba. A independência cubana em relação
à Espanha só aconteceu em 1898, sob a liderança de José Martí. Em 1901, os
Estados Unidos oficializaram o seu domínio sobre a ilha, impondo à Consti-
tuição cubana a chamada Emenda Platt, que lhe dava o direito de intervir no
país sempre que seus interesses estivessem ameaçados, além de obrigá-lo
a ceder a baía de Guantânamo. Seguiram governos ditatoriais apoiados pelos
Estados Unidos e, em meio à Guerra Fria, em 1959, o movimento guerrilhei-
ro liderado por Fidel Castro e Che Guevara depôs o ditador Fulgêncio Batista,
assumindo o governo do país e implantando um regime de partido único: o
Partido Comunista Cubano. Diante das medidas do novo governo, cresceram
as tensões com os Estados Unidos, desdobrando-se na aproximação de Cuba
com a então União Soviética e no aprofundamento do programa socialista, o
que redundou em tentativas de intervenções por parte dos Estados Unidos
e num isolamento político que persiste até hoje, mesmo após o fim da União
Soviética e do bloco socialista.
Discuta em grupo a Revolução Mexicana de 1910 e o movimento zapatista dos anos 1990, contando com dados obtidos em pesquisas (internet, livros, etc.) que considerem as seguintes questões:
• Quais aspectos demonstram ligações entre os dois acontecimentos?
• As permanências ou mudanças continuam no México atual?
Ver respostas e orientações
no Manual do Professor.
Conversa
NÃO ESCREVA NO LIVRO
30
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 30V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 30 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
* São consideradas pobres as pessoas que sobrevivem com renda inferior a 3,20 dólares/dia e extremamente pobres as com renda inferior a 1,90 dólares/dia.
Esse duradouro estado de lutas e guerras na América Central reforçou o
quadro de empobrecimento e miséria, bastante comum em toda a América
Latina, ativando por décadas a ebulição político-ideológica e o permanente
desejo de mudanças. No início do século XXI, apesar de certo avanço eco-
nômico, sobretudo no setor de turismo, os países da América Central ainda
apresentam índices de pobreza e de pobreza extrema superiores à média da
América Latina (observe o mapa a seguir).
Juntando-se a esse quadro geral, o avanço nas lutas por direitos na Amé-
rica Latina sofreu uma forte reversão a partir de meados do século XX. Nessa
época, grupos poderosos das elites nacionais latino-americanas, apoiados
pelos Estados Unidos, respaldaram intervenções militares sob o pretexto de
conter a expansão internacional do comunismo tomando até mesmo como
justificativa os desdobramentos do governo cubano em alinhamento com a
União Soviética. Assim, seguiu-se a montagem dos diversos regimes ditato-
riais que predominaram na América Latina durante o contexto da Guerra Fria
(1947-1991). A transição para a democracia nas décadas finais do século
XX, por sua vez, reforçou inúmeros desafios que precisavam ser enfrentados.
Para citar apenas um dos mais graves: ainda são muito altos os índices de
pobreza na região. Segundo a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), em 2018 a pobreza atingia 30% da população latino-ame-
ricana, o que corresponde a 191 milhões de pessoas, e a pobreza extrema,
10,7%, ou seja, 68 milhões de pessoas ainda vivem na miséria. Observe no
mapa abaixo os índices de pobreza por países.
CEPAL. Anuario Estadístico
de América Latina y el
Caribe 2019. Santiago, 2020. p. 24.
Depois de observar o mapa, responda:
1. Que país apresenta o maior percentual da população vivendo na pobreza e na pobreza extrema? E qual apresenta o menor percentual? Em que região eles se localizam?
2. Qual é a situação do Brasil?
3. Dados mais recentes apontam reversão ou aprofundamento dessas desigualdades?
Ver respostas e orientações
no Manual do Professor.
Interpretar
NÃO ESCREVA NO LIVRO
Port
al de M
apas/A
rqu
ivo d
a e
ditora
Pobreza e pobreza extrema* na AmŽrica Latina Ð 2018
MÉXICO41,5/10,6
HONDURAS55,7/19,4
NICARÁGUA46,3/18,3
REP. DOMINICANA22,0/5,0
PANAMÁ14,5/6,2
VENEZUELA28,3/12,0
BRASIL19,4/5,4
PARAGUAI19,5/6,5
URUGUAI2,9/0,1
ARGENTINA24,4/3,6
CHILE10,7/1,4
BOLÍVIA33,2/14,7
PERU16,8/3,7
EQUADOR24,2/6,5
COLÔMBIA29,9/10,8
COSTA RICA16,1/4,0
EL SALVADOR34,5/7,6
GUATEMALA50,5/15,4
OCEANOPACÍFICO
OCEANOATLÂNTICO
Equador
Trópico de Capricórnio
Trópico de Câncer
90º O
0º
População em situação de pobreza
População em situação de pobreza extrema
0 1 490 2 980
km
Fonte: elaborado com base em CEPAL. Anuario Estadístico de
América Latina y el Caribe 2019. Santiago, 2020. p. 26.
31
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 31V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 31 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
Tomemos, como exemplo de turbulência
política da América Latina, o caso do Peru e o
da Argentina. Os governos militares no Peru
terminaram com o general Morales Bermúdez,
que governou até 1980. Porém, a democra-
tização acabou tendo baixas momentâneas,
como aconteceu na última década do século
XX, em 1992. Ali, o presidente Alberto Fujimori
(1938-) fechou o Congresso e tomou em suas
mãos todos os poderes nacionais, ignorando a
Constituição, anulando direitos e reelegendo-
-se sucessivamente por três vezes. Durante
seu longo governo, o ato mais bem-sucedido de
Fujimori foi o de ter diminuído o poder de ação do grupo terrorista Sendero Lu-
minoso, sem, contudo, ter reduzido os problemas sociais do país. O prolonga-
mento de seu mandato e as medidas intransigentes por ele impostas à socie-
dade peruana não impediram que um escândalo de compra de parlamentares
viesse a público.
Não tendo condições políticas nem apoio militar para se manter no poder,
Fujimori pediu asilo político ao Japão em novembro de 2000. Em agosto de
2001, o Congresso do Peru aprovou, por unanimidade, uma “acusação cons-
titucional” contra o ex-presidente, por homicídio, corrupção e sequestros du-
rante os anos de seu governo. De 2001 a 2018, os presidentes sucessores
também foram acusados de corrupção com desfechos de prisão. Em 2020 o
governo de Martín Vizcarra, iniciado em 2018, juntava as dificuldades políti-
cas de atritos com o Parlamento com os efeitos da pandemia do coronavírus.
A Argentina é outro exemplo latino-americano de instabilidade política
e social, mudanças e crescentes dificuldades econômicas e políticas nas
últimas décadas. Foi em meio a acirradas disputas políticas que em 1943
chegou ao poder Juan Domingo Perón (1895-1974), que logo obteve apoio
popular com suas reformas trabalhistas, bem como prestígio com a atua-
ção de sua esposa, Eva Perón (1919-1952). Após a morte de Eva em 1952,
as crescentes dificuldades econômicas e
pressões políticas desembocaram num gol-
pe que derrubou Perón em 1955, seguindo-se
eleições, golpes de Estado e o retorno de Pe-
rón. Eleito presidente em 1973, faleceu no ano
seguinte, sendo sucedido por Isabel (1931-),
sua então esposa e vice-presidente. Um novo
golpe militar depôs Isabel em 1976, dando iní-
cio a uma violenta ditadura militar repressiva,
marcada por sequestros de opositores, rapto
de filhos de jovens ativistas políticos tortura-
dos e mortos. Estima-se em cerca de 30 mil o
número de desaparecidos políticos.
Vista do palácio do governo em Lima (Peru). Foto de 2019.
Na foto, Juan Domingo Perón ao lado de sua mulher, Eva, em Buenos Aires, em 1950.
M S
elc
uk O
ner/
Sh
utt
ers
tock
Keysto
ne
-Fra
nce/G
am
ma-K
eysto
ne/G
ett
y Im
ages
32
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 32V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 32 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
Somente com o fracasso na Guerra das Malvinas, em 1982, contra a In-
glaterra, que detinha a posse desse território reivindicado pela Argentina no
Atlântico Sul e chamada pelos ingleses de Falklands, é que a ditadura militar
ruiu, devolvendo o governo aos civis. A redemocratização do país foi realizada
com a eleição de Raúl Alfonsín (1927-2009), da União Cívica Radical (UCR),
cujo governo não conseguiu conter a crescente crise financeira e inflacioná-
ria. O cenário de crises seguidas, com descontrole administrativo e financei-
ro, ampliou as manifestações de protestos nos governos seguintes no início
deste nosso século: em 2003 venceu as eleições o peronista Nestor Kirchner
(1950-2010), sucedido em 2007 por sua esposa Cristina Kirchner (1953-),
reeleita em 2011, ambos pelo Partido Justicialista (também conhecido como
Partido Peronista). Em 2015 foi eleito o empresário Mauricio Macri (Proposta
Republicana) e, em 2019, Alberto Fernández (Partido Justicialista).
Vale descatar que, em julho de 2012, as “Mães e Avós da Praça de Maio”
obtiveram êxito na Justiça ao conseguirem a condenação de várias autorida-
des argentinas a penas que variaram de 5 a 50 anos de prisão por atuações
criminosas durante a ditadura militar.
Como primeiro passo, em grupos de três a quatro colegas, façam uma pesquisa (na internet, em livros, revistas, etc.) sobre as “Mães e Avós da Praça de Maio” e registrem no caderno os dados sobre o histórico desse movimento, suas atuações e seus resultados. Em seguida, cada grupo deve apresentar aos demais os dados coletados. Por fim, discutam:
• Quem são as mães e avós que criaram esse movimento?
• Tomem os casos pesquisados sobre o que aconteceu com seus filhos e netos durante a ditadura militar: quais os desfechos dos casos tratados?
NÃO ESCREVA NO LIVRO
Ver respostas e orientações no Manual do Professor.
Conversa
As “Mães e Avós da Praça de Maio” em Buenos Aires, em 2011. Na Plaza de Mayo, em seguidas manifestações, mães e avós exigiam explicações oficiais sobre os desaparecidos durante a ditadura Argentina, movimento que obteve grande repercussão nacional e internacional.
Dan
iel G
arc
ia/A
FP
33
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 33V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 33 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
DIÁLOGOSNÃO ESCREVA NO LIVRO
1. Com suas palavras, explique a seguinte afirmação da historiadora Maria Ligia Prado:
A independência política e a formação dos Estados nacionais na América Latina se fizeram
a partir do rompimento do sistema colonial, dirigidas por setores dominantes da colônia, des-
contentes com a impossibilidade de usufruir as “novas vantagens” que o capitalismo do novo
século lhes oferecia. […] Além disso, aqui havia, antes da colonização espanhola e portuguesa,
culturas autóctones que se rebelaram e lutaram para sobreviver depois do impacto da chegada
dos europeus.
Junto a elas estavam os negros africanos que também foram incorporados a este continente.
PRADO, Maria Ligia. A formação das nações latino-americanas. São Paulo: Atual, 1985. p. 2.
2. Quando nos dedicamos a estudar ou pesquisar determinado assunto, percebemos que sempre há
algo novo a ser descoberto. Leia o trecho a seguir e responda às questões propostas.
Em época de Copa do Mundo, ressurge o estereótipo do argentino, [que] usa qualquer artima-
nha para vencer, pior adversário do Brasil. Contudo, essa rivalidade tem fundamento histórico ou
é um mito midiático restrito ao folclore do futebol? Segundo historiadores, a suposta e encarni-
çada rivalidade entre brasileiros e argentinos pode não ser apenas um folclore, mas também não
é tão grande como propagam alguns locutores e comentaristas esportivos.
A rivalidade entre brasileiros e “hermanos” é, inclusive, maior para nós do que para eles, acre-
dita a historiadora Lívia Magalhães [...]. “Na verdade, o grande rival argentino, pelo menos no
futebol, ainda é a Inglaterra, no imaginário social deles [...]”, diz. “Acho que o Brasil compra mais
isso, de que no futebol o grande inimigo é a Argentina, mas eles não nos consideram o primeiro
rival.”
[...] há muito tempo, nada nas relações político-econômicas [entre Brasil e Argentina] respalda
qualquer motivo para uma rivalidade séria. [...] [Porém], do lado brasileiro, incentivo midiático à
rivalidade e até hostilidade por parte dos brasileiros é o que não falta [...].
MARETTI, Eduardo. Rivalidade de argentinos é maior com ingleses e uruguaios do que com brasileiros.
Rede Brasil Atual, São Paulo, 13 jun. 2014. Disponível em: https://www.redebrasilatual.com.br/politica/
2014/06/rivalidade-de-argentinos-e-maior-com-ingleses-e-uruguaios-do-que-com-brasileiros-2740/.
Acesso em: 3 set. 2020.
a) O termo “estereótipo” tem origem grega: é formado pelos vocábulos stereos, “sólido”, e typos, “im-
pressão” ou “molde”, significando “impressão sólida”. O estereótipo consiste em uma ideia, concei-
to ou modelo atribuído a pessoas ou a grupos sociais, quase sempre sem nenhuma fundamentação
teórica. Esse trecho de reportagem pretende desconstruir um estereótipo. Reflita sobre o trecho e
responda: o desconhecimento sobre algo (ou alguém) pode fortalecer estereótipos? Por quê?
b) Em um exercício de desconstrução do estereótipo do “argentino”, o autor do texto nos informa
sobre quem colabora para “alimentar” esse estereótipo e cita elementos que o enfraquecem, ou
seja, que são capazes de negá-lo. Releia a reportagem e explique de que maneira o autor do texto
faz isso.
c) Neste capítulo, em sua opinião, houve algum caso de desconstrução de estereótipos? Em caso
positivo, explique qual era o estereótipo e como ele foi desconstruído.
Veja as respostas das atividades
desta seção no Manual do Professor.
34
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 34V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 34 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
Brasil: da independência ao século XXI
Coube a dom Pedro I (1798-1834), junto com a aristocracia, empreender
o processo de independência, cuja participação popular apenas ocorreu nos
enfrentamentos com as tropas portuguesas.
Essa independência do Brasil trouxe o fim da subordinação a Portugal,
mas não modificou a estrutura produtiva ou a ordenação da sociedade brasi-
leira. Significava a libertação de amarras coloniais, mas a dependência eco-
nômica permaneceu enquanto se mantiveram os privilégios ingleses.
Diferentemente do que ocorreu em
outras ex-colônias americanas, que
após longas lutas por sua independên-
cia adotaram o regime republicano, no
Brasil foi instituído o regime monár-
quico. De imediato, a ordem socioe-
conômica não sofreu alteração, nem
mesmo em suas estruturas predomi-
nantemente coloniais, como o escra-
vismo, o latifúndio e o domínio político
da aristocracia. Mas é preciso destacar
que o processo de emancipação políti-
ca e de construção do Estado Imperial
não foi pacífico e não envolveu apenas
um único projeto político.
Na estruturação do novo Estado independente, em meio às disputas políticas
prevaleceu o poder do imperador, que outorgou a primeira Constituição do Brasil.
Essa Constituição de 1824,segundo a historiadora Keila Grinberg, não apresentava
[...] critério racial que diferenciasse os descendentes de africanos de
qualquer outro cidadão brasileiro. Enquanto os libertos (alforriados que
tinham obtido a liberdade) propriamente ditos não podiam ser eleitores,
seus filhos e netos poderiam exercer os direitos de cidadania brasileira
em toda sua plenitude, caso tivessem a renda e a propriedade exigidas.
GRINBERG, Keila. Cidadania. In: Dicionário do Brasil Imperial (1822-1889). Direção Ronaldo Vainfas.
Rio de Janeiro: Objetiva, 2002. p. 139.
Assim, com tais barreiras, a Constituição restringia ou impedia a partici-
pação política dos grupos sociais menos favorecidos e mantinha a essência
elitista. Contava também com o Poder Moderador, cujo exercício era atribui-
ção exclusiva do imperador.
Ao longo do período em que vigorou a Constituição de 1824, a despeito da
afirmação da igualdade de direitos civis para todos os cidadãos, o exercício
cotidiano da cidadania quase nunca foi o mesmo entre brancos e negros, en-
tre ricos e pobres, entre senhores poderosos e demais indivíduos, em virtude
das influências, fraudes, pressões e outros recursos de favorecimento.
Coroação de dom Pedro I como primeiro imperador do Brasil, em 1822, representada em pintura de Jean-Baptiste Debret, de 1828.
Re
pro
dução
/Fundação B
iblio
teca N
acio
nal, R
io d
e J
ane
iro
, R
J.
35
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 35V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 35 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
Um exemplo contrário ao projeto vitorioso da
independência realizada por dom Pedro I foi a
Confederação do Equador, trazendo à tona “outro
projeto de país”. A imposição da Constituição de
1824 provocou protestos em várias províncias,
principalmente no nordeste. Além disso, crises
como a do açúcar e do algodão, relacionadas à
concorrência estrangeira, e os crescentes impos-
tos determinados pelo governo central geraram
descontentamento na população.
Em Pernambuco, a população rebelou-se quan-
do dom Pedro I nomeou um novo presidente para a
província. Sob o comando do governador deposto,
Manuel de Carvalho Paes de Andrade (1774-1855),
o movimento de caráter separatista, republicano e
basicamente urbano e popular, espalhou-se pelo
nordeste, obtendo a adesão do Rio Grande do Nor-
te, do Ceará, da Paraíba e depois de Alagoas e Ser-
gipe. Em outras províncias vizinhas, como Piauí e
Pará, também ocorreram manifestações de apoio.
As províncias rebeldes formaram a Confedera-ção do Equador, cujo nome faz referência à sua
localização geográfica, próximas à linha do equa-
dor. Os revoltosos decidiram extinguir o tráfico
negreiro e convocar o recrutamento geral para
enfrentar as tropas monárquicas.
Além de Paes de Andrade, os principais líde-
res do movimento foram Joaquim do Amor Divino
Rebelo (1779-1825), que ficou conhecido como
frei Caneca, divulgador dos ideais republicanos
em seu jornal, e Cipriano Barata (1762-1838),
veterano das insurreições anteriores na Bahia,
e em Pernambuco, dirigente de vários jornais do
nordeste. Um dos participantes, o major Emilia-
no Mundurucu, redigiu um manifesto por uma re-
volução de caráter radical, como a haitiana, ate-
morizando aliados e inimigos da Confederação.
Para dominar os rebelados, dom Pedro I contou
com empréstimos feitos pela Inglaterra. Os revol-
tosos foram brutalmente reprimidos, sofrendo
ataques por terra e por mar.
Os revoltosos foram julgados por um tribunal
presidido por Lima e Silva, que condenou à execu-
ção dezesseis participantes. Até a pena de enfor-
camento de frei Caneca teve de ser trocada para
a de fuzilamento, pois os responsáveis pela exe-
cução da sentença, mesmo sob ameaças, recusa-
ram-se a enforcar o padre carmelita.
O governo de dom Pedro I durou até a abdica-
ção, em 1831, embarcando para Portugal e entre-
gando o trono ao seu filho dom Pedro de Alcântara
(1825-1891), então com 5 anos de idade. Como
era menor de idade, decidiu-se que, obedecendo
à Constituição de 1824, o governo seria exercido
por uma regência. Era o início do período regen-
cial, que durou de 1831 a 1840, considerado por
alguns historiadores um dos mais agitados da
história brasileira.
NÃO ESCREVA NO LIVRO
A agitação do período regencial pode ser mais bem compreendida considerando-se as diversas rebeliões. Em grupos de seis colegas, cada um de vocês deve pesquisar uma das seguintes rebeliões regenciais, anotando os aspectos mais importantes para apresentar aos demais membros do grupo: Cabanagem (Grão-Pará – 1835-1840), Sabinada (Bahia – 1837-1838), Balaiada (Maranhão – 1838-1841), Farropilha (Rio Grande do Sul – 1835-1845), Revolta de Carrancas (Minas Gerais – 1833) e Revolta dos Malês (Bahia – 1835). Após a apresentação de cada grupo, discutam as seguintes questões:
1. Há aspectos comuns entre as rebeliões? Em que são distintas e diferentes entre si?
2. Segundo as pesquisas, como são rememoradas recentemente essas rebeliões nas regiões em que aconteceram?
Ver respostas e orientações no Manual do Professor.
Conversa
Repro
dução/F
undação B
iblio
teca N
acio
nal, R
io d
e J
aneiro, R
J.
Abdicação de dom Pedro I, pintura de Aurélio Figueiredo, do século XIX. Vê-se, sentado ao lado da mãe, o menino dom Pedro de Alcântara. O futuro imperador ficaria sob os cuidados de José Bonifácio até alcançar a maioridade.
36
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 36V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 36 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
Os excluídos nessa história do Brasil: negros e indígenas
Em muitos aspectos, a vida no Império não se distinguia muito da que pre-
dominara no período colonial. A grande mudança política representada pela
independência não implicou significativas mudanças sociais e econômicas.
Os setores da sociedade que eram subjugados não viram alterações expres-
sivas em sua condição de vida, exceto pela participação de alguns batalhões
formados por negros nas guerras de independência. Muitos escravizados
conseguiram a liberdade por terem participado daqueles conflitos.
O olhar dos indígenasO Brasil é uma invenção! E a invenção do Brasil ela nasce exatamente da
invasão. Inicialmente feita pelos portugueses e depois continuada pelos ho-
landeses, depois continuada pelos franceses, em um modo sem parar, onde
as invasões nunca se deram um fim. Nós estamos sendo invadidos agora!
[...] Quando os brancos chegaram, eles foram admitidos como mais um na
diferença. E se os brancos tivessem educação, eles poderiam ter vivido no
meio daqueles povos e vivido outro tipo de experiência. Mas eles chegaram
aqui com a má intenção de assaltar essa terra e escravizar o povo que vivia
aqui. E foi o que deu errado. [...] A descoberta do Brasil, aquela missa lá é
um mito de origem. Nós somos adultos, a gente não precisa ficar embalado
com essas histórias. A gente pode buscar entender a nossa história com as
diferentes matizes que ela têm, e ser capaz de entender que não teve um
evento fundador do Brasil. [...] Os nossos mundos estão todos em guerra.
[...]. Não tem paz em lugar nenhum [...] A guerra continua até hoje [...].
Transcrição de depoimento de Ailton Krenak. Guerras do Brasil – Episódio 1. Nossa história viva.
Disponível em: www.youtube.com/watch?v=VeMlSgnVDZ4&list=PLb-f5dAjBAFbOI_w8JRJI3PyfF5S
yafsK&index=10&t=0s. Acesso em: 6 jun. 2020.
Os povos originários estavam fora de toda a movimentação política no Rio
de Janeiro e nas capitais das províncias. Desde o período da colônia, os indí-
genas eram considerados um obstáculo para o projeto
de país almejado pelas elites, um grupo visto como “in-
ferior” que atrapalhava as atividades econômicas e que,
muitas vezes, não interessava nem como escravizado.
A atitude desses povos discriminados, contudo, não era
de passividade.
Além das fronteiras da sociedade dominante, onde
acabava o alcance do Estado ou dos proprietários, co-
meçavam terras distantes e relativamente livres para
negros, indígenas e mestiços.
Esses grupos promoviam saques, atacavam povoa-
ções e faziam emboscadas contra as expedições gover-
namentais. Os “brancos” viviam, assim, em constante
alerta diante da ameaça de que essa contínua guerra
sociorracial pudesse espalhar-se e destruir a ordem es-
tabelecida.
1. O que Krenak quer dizer com “o Brasil nasce como invenção e invasão”?
2. Por que ele aponta, em seu depoimento, que não houve um evento fundador do Brasil?
3. Você concorda com o autor de que a guerra continua? Por quê?
Ver respostas e orientações
no Manual do Professor.
Interpretar
NÃO ESCREVA NO LIVRO
Interior de uma oca de índios bororos, aquarela de Adrien Taunay (1803-1828), 1827. Após a independência, os grupos indígenas continuavam alvo de discriminação por parte da sociedade dominante, com a participação ou conivência dos órgãos estatais.
Repro
dução/A
cadem
ia d
e C
iência
s d
a R
ússia
, M
oscou,
Rússia
.
37
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 37V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 37 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
Brasil: do século XIX à República da Era Vargas
O período regencial do Império terminou com
a antecipação da maioridade de dom Pedro II,
em 1840. O Segundo Reinado (1840-1889) pode
ser considerado o apogeu da Monarquia brasilei-
ra, evidente representante dos interesses das
elites. A centralização política e administrativa
permaneceu, ao passo que as revoltas herdadas
do período anterior, além de outros movimentos
sociais que colocavam em risco a ordem monár-
quica, foram “pacificados”. No vértice do poder,
os partidos Conservador e Liberal, às vezes sozi-
nhos, às vezes juntos, como no período da “con-
ciliação” entre 1853 e 1858, integraram o gover-
no de dom Pedro II.
As elites escravistas-exportadoras, em espe-
cial a açucareira e a cafeeira, assim como seus
representantes na organização imperial, marca-
ram a feição do país durante o Segundo Reinado,
mantendo a ordem socioeconômica construída ao
longo da colonização.
A questão escravista, a abolição, a expansão
do cultivo de café e os conflitos externos foram al-
gumas das marcas do Segundo Reinado no Brasil.
Entretanto, apesar de certa continuidade, novas
forças sociais emergiram na segunda metade do
século XIX, principalmente a partir do advento de
indústrias e do processo de urbanização. A mão de
obra escravizada foi gradualmente substituída pela
assalariada, constituída basicamente de imigrantes.
Ao mesmo tempo que o caráter elitista perma-
necia na esfera política, a economia tornava-se
mais racional e produtiva. O sudeste tornou-se o
novo polo econômico do país, com grande cres-
cimento populacional e mudanças na estrutura
étnico-social.
No Brasil, periferia dos centros de desenvolvi-
mento econômico mundiais do período, ansiava-se
por mudanças e assistia-se ao colapso da monar-
quia após os anos seguintes à Guerra do Paraguai
(1864-1870) e a questão das lutas abolicionistas.
Em 15 de novembro de 1889, um golpe lide-
rado pelos militares pôs fim ao poder de dom
Pedro II e instaurou a república, forma de governo
cujos ideais estiveram presentes no Brasil em vá-
rios movimentos políticos desde a época colonial.
A Constituição de 1891, oficializando em direi-
tos o novo regime republicano, estabelecia, por
exemplo, que o voto tornava-se um direito de todos
os homens maiores de 21 anos, exceto mendigos,
padres, soldados e analfabetos. Até então, as pes-
soas tinham de ter uma renda mínima para poder
votar. Houve ainda a divisão de poderes e maior au-
tonomia das províncias, que se tornavam estados
de uma federação. A Constituição de 1891 também
trazia importantes garantias individuais, como o di-
reito de ir e vir, o direito de associação, a liberdade
de imprensa e o direito de exercício profissional.
Venda de escravos no Rio de Janeiro, RJ, ilustração de François Biard.
Repro
dução/C
ole
ção p
art
icula
r
38
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 38V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 38 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
Apesar desses méritos, as primeiras décadas após a proclamação da repú-
blica foram marcadas por fraudes eleitorais, o coronelismo via voto de cabresto,
a política do café com leite e o domínio de oligarquias rurais. Em outras pala-
vras, na prática, tratava-se de uma sociedade oligárquica e não democrática.
Café com leite
Os paulistas, responsáveis pela maior parte da produção de café, e os mineiros, responsáveis pela criação de gado leiteiro, controlavam as sucessões políticas presidenciais; quase sempre um presidente paulista era seguido de um mineiro, e vice-versa.
Coronelismo
Pessoas influentes em uma região, que chefiavam milícias formadas por civis, recebiam do governo imperial o título de coronel. A origem do título reporta à Guarda Nacional, criada em 1831 como auxiliar das Forças Armadas e do Corpo Permanente (a polícia) no combate às agitações políticas do período regencial. Mesmo após a extinção da Guarda Nacional, em 1918, os proprietários de terra continuaram gozando do prestígio e da patente de coronéis, impondo à população local a sua vontade e obrigando-a a votar em seus candidatos.
Voto de cabresto
Designa o voto que é feito para atender aos interesses dos poderosos locais; "cabresto" é o arreio de corda ou couro que serve para prender e controlar o animal.
Conceitos
Tenentismo
Jovens oficiais de baixa patente, principalmente tenentes e capitães oriundos da classe média, que lideraram vários levantes militares nos anos 1920. Acreditavam que cabia ao Exército a tarefa de moralizar a política e derrubar a República Oligárquica.
Conceitos
O final da década de 1920 foi marcado por uma crise ao mesmo tempo eco-
nômica e política. Do ponto de vista econômico, a quebra da Bolsa de Valores de
Nova York, em 1929, afetou profundamente o Brasil, já que os Estados Unidos
eram o principal comprador do café brasileiro. No âmbito político, as divergên-
cias entre Minas Gerais e São Paulo, sobre a sucessão presidencial, levaram ao
colapso da política do café com leite. Esses fatores contribuíram para que acon-
tecesse um levante revolucionário em 1930, a partir do qual o político gaúcho
Getúlio Vargas (1882-1954) assumiu a Presidência da República.
Tratava-se de uma solução provisória, até que se elaborasse uma nova
Constituição, mas Getúlio dominaria o cenário político, exercendo a Presidên-
cia entre 1930 e 1945, e, logo depois, novamente, entre 1951 e 1954. Como
o movimento que o havia levado ao poder em 1930 era composto de grupos
diversos – a oligarquia mineira, lideranças políticas do nordeste, o tenentis-
mo, as camadas médias urbanas, entre outros –, não demorariam a surgir di-
vergências. Logo no início de seu governo, Getúlio tomou medidas de caráter
autoritário, como a dissolução do Congresso e a nomeação de interventores
nos estados, que desempenhariam o papel de governadores.
39
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 39V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 39 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
O maior foco de desconten-
tamento era São Paulo, que
havia perdido a predominância
na cena política. Partindo do
pressuposto de que a promul-
gação de uma nova Constitui-
ção colocaria limites ao auto-
ritarismo de Vargas, os paulis-
tas reivindicavam a imediata
convocação de uma assem-
bleia constituinte. As tensões
levaram ao início da Revolução
Constitucionalista de 1932. Um
dos principais acontecimentos
da época foi a assassinato de
quatro estudantes que partici-
pavam de uma manifestação.
Das iniciais do nome desses estudantes (Martins, Miragaia, Dráusio e Ca-
margo) surgiu o nome do movimento revolucionário: MMDC. Apesar do signi-
ficativo apoio da população do estado de São Paulo, os revolucionários foram
derrotados pelas forças legalistas de Getúlio em pouco mais de dois meses.
De qualquer modo, Getúlio não pôde mais conter as pressões sociais e no
ano seguinte tomou posse uma Assembleia Constituinte. Em 16 de julho de
1934 foi promulgada uma nova Constituição, que limitava o poder do presi-
dente, como a garantia de habeas corpus e o mandado de segurança, além
de incluir importantes leis trabalhistas, como a instituição da Justiça do Tra-
balho, jornada de trabalho de oito horas semanais, salário mínimo, repouso
semanal remunerado, indenização por demissão sem justa causa, entre ou-
tras. O Código Eleitoral, por sua vez, instituía o voto secreto e o direito de voto
a homens e mulheres maiores de 18 anos. Antes só os homens com mais de
21 anos é que podiam votar.
Com a nova Constituição em vigor foram convocadas eleições nas quais
Getúlio saiu vitorioso. No plano econômico o governo brasileiro teve de lidar
com os efeitos da crise de 1929, que derrubou a exportação do café, principal
produto brasileiro para o mercado externo. A partir de então a agricultura de
exportação se tornou mais diversificada, estimulando a produção de frutas,
por exemplo. Ao mesmo tempo, a indústria brasileira encontrou um clima fa-
vorável para se desenvolver, pois, com a desvalorização da moeda, os produ-
tos estrangeiros se tornavam mais caros.
Em 1935 ocorreu a Intentona Comunista, um levante que se iniciou no Rio
Grande do Norte e teve desdobramentos em outros estados. Os revoltosos,
agrupados em torno da Aliança Nacional Libertadora (ANL), liderada por Luís
Carlos Prestes (1898-1990), pretendiam derrubar Getúlio Vargas e implantar
um governo comunista no Brasil. O movimento, que havia sido mal calculado,
fracassou e ocasionou uma violenta repressão não só aos comunistas, mas
a todos os opositores do governo.
Passeata no centro da cidade de São Paulo (SP) durante a Revolução Constitucionalista, em 1932.
Avelin
o G
injo
/Mu
seu
da I
mage
m e
do
So
m, S
ão
Pau
lo,
SP.
40
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 40V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 40 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
O autoritarismo de Vargas contava com o apoio
de setores do Exército e de grupos dominantes da
sociedade civil. Nesse contexto, em 1937, Vargas
deu um golpe de Estado antes que se encerrasse
seu mandato constitucional. Usando como pretex-
to a ameaça comunista, decretou estado de guer-
ra, condição que lhe permitia prender qualquer
pessoa sem ordem judicial. A ação foi baseada
na divulgação de um suposto plano comunista –
chamado Plano Cohen –, que mais tarde desco-
briu-se ter sido elaborado pela própria equipe de
Getúlio Vargas como forma de justificar o golpe.
Em 10 de novembro de 1937 Vargas apresen-
tou uma nova Constituição, que estabelecia uma
ditadura, que ficou conhecida por “Estado Novo”.
Nesse período, que se estenderia até 1945, o pre-
sidente tinha poderes para dissolver o Congresso.
Além disso, extinguiam-se os partidos políticos,
abolia-se a liberdade de imprensa e os estados
passaram a ser governados por interventores. Para
censurar a imprensa e manipular a opinião pública
o governo criou o Departamento de Imprensa e Pro-
paganda (DIP). Em muitos aspectos o Estado Novo
se assemelhava aos regimes ditatoriais na Europa,
como o nazismo alemão ou o fascismo italiano.
O nazismo alemão também encontrava eco na
Ação Integralista Brasileira (AIB), um movimento
de extrema direita fundado pelo jornalista Plínio
Sampaio. Mas, em função de desentendimentos
e tentativa de golpe contra Getúlio Vargas, os
integralistas foram perseguidos e presos ou exi-
lados ainda em 1938.
Na economia, prevaleceu o controle estatal, es-
timulando a industrialização. O início da Segunda
Guerra Mundial, em 1939, dificultou as importa-
ções de produtos industrializados, exigindo sua
produção no Brasil, o que levou o governo a esti-
mular a implantação de novas fábricas e a amplia-
ção das já existentes. Vargas também criou gran-
des empresas estatais de indústria de base, indis-
pensáveis ao desenvolvimento dos demais seto-
res industriais, surgindo, assim, a Companhia Si-
derúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda (RJ),
e a Companhia Vale do Rio Doce, em Itabira (MG),
para a extração e processamento de minérios.
Em 1938, o governo criou o Conselho Nacional
do Petróleo para controlar a exploração e o forne-
cimento do petróleo e seus derivados. O primeiro
poço petrolífero foi perfurado em 1939, em Loba-
to, no Recôncavo Baiano.
Com o desenvolvimento da Segunda Guerra
Mundial o Brasil alinhou-se aos países aliados
contra a Alemanha e a Itália. Isso gerou um para-
doxo, pois o Brasil combatia no exterior os países
cujos regimes mais se assemelhavam ao que
existia na política interna. Isso abriu espaço para
movimentos de contestação ao regime, de modo
que, em 1945, no mesmo ano em que terminava
a guerra na Europa, o Estado Novo também che-
gava ao fim.
Comício da Aliança Nacional Libertadora (ANL) na Cinelândia, Rio de Janeiro (RJ). Foto de 1935.
Ace
rvo I
con
og
rap
hia
/Re
min
isc•n
cia
s
41
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 41V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 41 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
Populismo e paternalismo na Era Vargas
A Era Vargas foi marcada por uma política populis-
ta e paternalista. Segundo o sociólogo estunidense
Allan Johnson (1946-), o populismo “é uma ideolo-
gia ou movimento social que deposita fé na sabedo-
ria do homem comum e por isso mesmo desconfia
das elites, tais como a política, a intelectual, a em-
presarial, etc.”. Na maioria das vezes, o populismo
se identifica com as lideranças carismáticas, que se
apresentam como porta-vozes da vontade do povo
e conseguem subjugar as demais forças políticas
graças ao apoio popular que recebem. O paterna-
lismo, por sua vez, pode ser definido como um con-
junto de relações sociais ou um sistema de trabalho
estabelecido com um caráter de proteção. De modo
análogo à autoridade do pai de família em uma es-
trutura patriarcal, o político paternalista se coloca
como protetor dos cidadãos e, ao mesmo tempo,
como autoridade que não admite questionamento.
De um ponto de vista filosófico, segundo o filósofo
Gerald Dworkin (1937-), o paternalismo se constitui
na “interferência de um Estado ou de um indivíduo
sobre outra pessoa, contra a vontade desta, sob a
alegação de que essa interferência a beneficia ou
a protege”. Nesse sentido, uma política paternalis-
ta é aquela em que o líder político trata os cidadãos
como crianças a serem
educadas ou incapazes
de serem autonômas
e que, por isso, devem
obedecer às determina-
ções do líder do Estado
porque supostamente
não sabem o que é me-
lhor para si mesmos.
Nos regimes populistas da América Latina, a po-
lítica era baseada em uma ampla mobilização so-
cial, que tem como preceito a integração das clas-
ses populares, rejeitando assim a noção de luta de
classes. Esses governos populistas estimulavam
a industrialização por meio da intervenção do Es-
tado, sob o manto de uma ideologia nacionalista
associada à personificação de um grande líder. De
acordo com essa ideologia, a soberania popular
JOHNSON, Allan G. Dicionário de Sociologia. Rio de Janeiro: Zahar, 1997. p. 179.
DWORKIN, Gerald. Paternalism. Stanford
Encyclopedia of Philosophy. Disponível em: https://plato.stanford.edu/entries/paternalism/#Intr. Acesso em: 3 ago. 2020.
Trabalhadores homenageiam Getúlio Vargas em 1940 no Rio de Janeiro (RJ).
encontraria sua voz nos discursos do líder caris-
mático. No populismo, a crise era frequentemente
representada como uma divisão entre os setores
modernos e tradicionais de uma sociedade, e essa
crise só poderia ser superada por meio da subordi-
nação das massas ao líder carismático.
Esse é exatamente o caso do populismo na Era
Vargas. Administrando um governo que teve ori-
gem na confluência de forças divergentes com o
fim específico de suplantar a hegemonia paulista
em âmbito federal, Getúlio Vargas adotou políticas
de caráter autoritário para manter-se no poder,
uma vez que era impossível atender aos interes-
ses de grupos diversos. Um exemplo disso foi o
modo como a instituição de uma legislação traba-
lhista, primeiramente na Constituição de 1934, e
depois na promulgação da Consolidação das Leis
do trabalho, em 1943, foi utilizada para alçar Var-
gas à imagem de “pai dos pobres”. Ao mesmo tem-
po que garantia direitos trabalhistas, e com isso
angariava apoio popular, o presidente transforma-
va os sindicatos em “colaboradores do Estado”,
proibindo que eles desenvolvessem atividades
políticas ou se filiassem a organizações sindicais
internacionais. Nesse sentido, a política de Vargas
era não só populista, mas também paternalista,
na medida em que colocava os trabalhadores sob
seus cuidados e orientação.
Acerv
o Iconog
raphia
/Re
min
isc•ncia
s
42
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 42V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 42 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
Movimentos e lutas sociais na Era Vargas
Contudo, o autoritarismo de Estado enfrenta-
va a resistência de movimentos sociais que se
faziam presentes em frentes diversas e não raro
eram bem diferentes entre si, tanto do ponto de
vista ideológico como de organização social.
Um movimento que remontava ao século XIX,
mas que ainda era atuante na Era Vargas, era o
cangaço. Mais do que grupos armados de mar-
ginais que saqueavam cidades e vilas no sertão
nordestino, os cangaceiros também representa-
vam uma espécie de banditismo social, algo que
muitos historiadores consideram uma forma pri-
mitiva de protesto social organizado. O banditis-
mo social, como fenômeno sociológico, pode ser
encontrado em diversos locais e épocas, tendo na
imagem lendária de Robin Hood um de seus prin-
cipais modelos. Sem deixar de ser um criminoso,
Robin Hood, personagem da Inglaterra medieval,
era também um herói, que supostamente repar-
tia com os pobres o que roubava dos ricos. Sem
negar que os cangaceiros agissem na maioria das
vezes também como criminosos, na imaginação
popular eles eram frequentemente vistos como
“vingadores” ou “justiceiros”.
A relação do governo de Vargas com o cangaço
era ambígua. Ao mesmo tempo que o presidente
havia concedido um indulto a Antônio Silvino, um
conhecido cangaceiro, em 1944, o cangaço não
deixava de ser um problema para as elites, em es-
pecial os latifundiários. O mais famoso dos canga-
ceiros foi Virgulino Ferreira da Silva (1898-1938),
conhecido pelo apelido de Lampião. Após um con-
flito entre oligarquias rurais, em 1919, no qual seu
pai foi morto pela polícia, Lampião chefiou um ban-
do de cangaceiros até 1938, quando foi morto em
uma emboscada armada por uma tropa policial.
O grupo de Virgínio Fortunato da Silva (ao centro), conhecido como "Moderno". Moderno era cunhado de Lampião. A foto foi feita por Benjamim Abrahão entre 1936 e 1937.
Benja
min
Abra
hão/F
undação J
oaquim
Nabuco, R
ecife, P
E.
NÃO ESCREVA NO LIVRO
1. Como o governo Vargas se integra nessa visão populista e paternalista?
2. Como vocês analisam essa tutela sobre os cidadãos?
3. Vocês conhecem exemplos recentes de populismo e paternalismo?
Conversa
Outro importante movimento na Era Vargas
foi o comunismo, representado principalmente
pelo Partido Comunista Brasileiro (PCB), no qual
o nome de Luís Carlos Prestes (1898-1990) des-
pontava como uma de suas principais lideranças.
Nos anos 1930 o PCB uniu-se à ANL, uma ampla
frente de movimentos de esquerda, que em 1935
articulou a Intentona Comunista, um plano frus-
trado de rebelião, com o objetivo de implantar o
comunismo no Brasil. A repressão do governo
Vargas ao comunismo foi intensa e Prestes fica-
ria preso até 1945, quando Vargas anistiou os
prisioneiros políticos. Ironicamente o PCB acabou
apoiando a permanência de Vargas no poder nos
anos finais da Segunda Guerra Mundial, já que
o Brasil lutava ao lado dos Aliados, que tinham
não só países capitalistas, como Estados Unidos,
França e Inglaterra, mas também a União Sovié-
tica como um de seus integrantes. A vitória dos
Aliados trouxe prestígio à União Soviética, e isso
se refletiu no fortalecimento do PCB no final do
governo Vargas.
43
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 43V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 43 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
O término do governo Vargas no Estado Novo
foi marcado por pressões de grupos que defen-
diam uma reforma constitucional e o fim da dita-
dura. Dessa forma surgiram novos partidos, doze
ao todo, sendo quatro deles os mais importantes:
Partido Social Democrata (PSD), de políticos ali-
nhados à ditadura de Vargas; Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB), que congregava os sindicalistas
associados ao presidente; a União Democrática
Nacional (UDN), formada por representantes de
banqueiros e empresários; e o Partido Comunista
Brasileiro (PCB), que havia se rearticulado após
um período de repressão. Ao final de seu governo,
Getúlio Vargas conseguiu apoio de parte da socie-
dade que defendia a instauração de uma assem-
bleia constituinte com Getúlio, um movimento que
ficou conhecido como queremismo por causa da
palavra de ordem “Queremos Getúlio!”. Contudo,
ainda assim o governo não resistiu a uma inter-
venção militar, apoiada pelos setores contrários à
permanência de Vargas na Presidência.
Pela nova Carta [a constituição de 1937], o
Presidente dispunha de plenos poderes, legis-
lativos e executivos; era-lhe permitido também
demitir e transferir funcionários, reformar e
afastar militares que representassem ameaça
aos “interesses nacionais”. Pelo artigo 186, era
declarado estado de emergência em todo o ter-
ritório nacional, o que tornava possível ordenar
prisões, exílio, invasão de domicílio; instituía-se
a prisão preventiva; tornava-se legal a censura
de todas as comunicações. [...]
Tornado constitucional o estado de emer-
gência, foram institucionalizados os instru-
mentos necessários para sua consecução: o De-
partamento de Propaganda [DIP], encarregado
também da censura [...]; o Código de Imprensa,
publicado em dezembro de 1937, tornava ilegal
qualquer referência desrespeitosa às autorida-
des públicas. Foi instituída a “Hora do Brasil”,
emissão radiofônica diária e obrigatória, através
da qual eram divulgados os programas governa-
mentais e as palavras do presidente.
Uma das medidas de efeitos políticos ime-
diatos, o decreto de 3 de dezembro, determina-
va a dissolução de todos os partidos e proibia
quaisquer símbolos, gestos e uniformes identi-
ficadores.
SOLA, Lourdes. O golpe de 37 e o Estado Novo. In: MOTA, Carlos
Guilherme (org.). Brasil em perspectiva. 16. ed. Rio de Janeiro:
Bertrand Brasil, 1987. p. 266-267.
1. Quais os principais pilares estabelecidos por Vargas na implantação da ditadura?
2. Como foram tratados os grupos e partidos oposicionistas?
3. Em que medida um programa radiofônico, como a “Hora do Brasil”, deu sustentação a um governo ditatorial? E como a censura à imprensa contribui para tal resultado?
4. E, atualmente, como se posiciona o programa “A Voz do Brasil”? Combinem um dia para todos ouvirem uma transmissão. Anotem os temas abordados e como eles foram descritos, se de forma favorável, crítica ou imparcial ao governo. Em sala de aula compartilhem suas interpretações.
Interpretar NÃO ESCREVA NO LIVRO
Comício queremista no Largo da Carioca no Rio de Janeiro (RJ), em 1945.
As medidas tomadas para a implantação do regime ditatorial do Estado Novo
Os cinco primeiros anos do regime corres-
pondem à progressiva, mas definitiva consoli-
dação do poder de Estado. [...] Os últimos grupos
oposicionistas ativos seriam definitivamente
isolados, pela violência, no ano de 1938.
Re
pro
dução
/Em
pre
sa B
rasile
ira d
e N
otícia
s, R
io d
e J
aneiro,
RJ.
Veja as respostas no Manual do Professor.
44
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 44V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 44 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
Atuações governamentais no Brasil democrático pós-Estado Novo
Com o fim do Estado Novo e a saída de Getúlio
Vargas do poder, José Linhares, o presidente do
Supremo Tribunal Federal, assumiu a Presidên-
cia da República até que se elaborasse uma nova
Constituição e se realizassem novas eleições.
A Assembleia Constituinte foi eleita em dezem-
bro de 1945 e finalizou seus trabalhos em setembro
do ano seguinte. A nova Carta Constitucional resta-
belecia a república federativa, com vinte estados e
cinco territórios, e definia as atribuições específi-
cas da federação, dos estados e dos municípios.
As eleições se fariam por meio do voto direto para
todos os níveis, e o presidente governaria por um
período de cinco anos. Apesar de excluir o voto dos
analfabetos, a nova lei estendia a obrigatoriedade
do voto feminino a todas as mulheres maiores de
18 anos, diferentemente da Constituição de 1934,
que restringia a participação política somente às
mulheres que exerciam atividade pública remu-
nerada. A legislação trabalhista manteve-se em
grande parte a mesma que havia sido definida na
Constituição de 1934. A organização sindical se
configurava como órgão colaborador do Estado e o
direito de greve, apesar de reconhecido, ficava de-
pendente de regulamentação posterior.
Nas eleições presidenciais de 1945, o general
Eurico Gaspar Dutra (1883-1974) venceu o pleito,
cujo início do governo foi marcado pelo alinha-
mento aos Estados Unidos e por uma política eco-
nômica liberal, favorecida pelo fato de que o Brasil
havia saído da Segunda Guerra com um lastro po-
sitivo de exportações.
Quando o presidente Dutra estava em via de ter-
minar o mandato, Getúlio Vargas surgia novamente
na cena política e conseguindo a vitória em 1950.
Getúlio daria continuidade ao populismo, que
confirmava o que ficou conhecido como Era Var-
gas. Seu governo, contudo, encontrava dificuldade
em conter a inflação crescente, que exigia a to-
mada de medidas impopulares. Por outro lado, ele
não poderia desconsiderar as reivindicações dos
trabalhadores, seu principal eleitorado. Enfrentan-
do uma série de greves, em 1953 o governo cedeu,
atendendo a muitas reivindicações dos grevistas.
Outra medida de impacto foi o aumento de 100%
dado ao salário mínimo, tendo à frente o Ministro
do Trabalho João Goulart (1919-1976). Essas me-
didas acirraram os ânimos da oposição, composta
principalmente por integrantes da UDN e militares
anticomunistas.
Um atentado contra Carlos Lacerda (1914-
-1977), deputado pela UDN e ferrenho porta-voz
da oposição, complicou ainda mais a situação
de Vargas. Descobriu-se que o autor do atentado,
que feriu levemente Lacerda e matou Rubens Vaz
(1922-1954), major da Aeronáutica que o acom-
panhava, era um guarda-costas de Vargas. Com
as especulações sobre a ligação de Vargas com o
atentado, o presidente era pressionado a renun-
ciar. Na manhã de 1954 Vargas se suicidou com
um tiro no peito, deixando uma carta na qual acu-
sava a aliança de seus opositores com grupos in-
ternacionais contra o regime de garantia do traba-
lho. O suicídio de Vargas trouxe grande comoção
nacional e, ao mesmo tempo, impediu que a UDN
e os militares anticomunistas tomassem o poder
por meio de um golpe de Estado.
Carlota Pereira de Queiroz, a primeira deputada brasileira, durante seu primeiro discurso em 1933. A Constituição de 1934 trouxe inovações, como a representação classista.
Acerv
o Icono
gra
phia
/Rem
inis
cência
s
45
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 45V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 45 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
DI¡LOGOSNÃO ESCREVA NO LIVRO
• Em duplas, leiam atentamente o texto abaixo, que reproduz trechos da
carta-testamento de Getúlio Vargas, e respondam às questões propostas.
Ao ódio respondo com o perdão. E aos que
pensam que me derrotaram, respondo com a
minha vitória. Era escravo do povo e hoje me li-
berto para a vida eterna. Mas esse povo de quem
fui escravo não mais será escravo de ninguém.
Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma
e meu sangue será o preço do seu resgate.
Lutei contra a espoliação do Brasil. Lutei con-
tra a espoliação do povo. Tenho lutado de peito
aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não aba-
teram o meu ânimo. Eu vos dei a minha vida.
Agora ofereço a minha morte. Nada receio. Se-
renamente dou o primeiro passo no caminho da
eternidade e saio da vida para entrar na história.
Citado em DEL PRIORE, Mary et al. Documentos de história do
Brasil: de Cabral aos anos 90. São Paulo: Scipione, 1997. p. 98-99.
a) Que interesses Getúlio Vargas acusa desar-
mar ao cometer o suicídio? Justifique sua
resposta com passagens do texto.
b) Relendo o capítulo, a quem Getúlio Vargas
se refere no trecho “Não querem que o tra-
balhador seja livre. Não querem que o povo
seja independente”?
Veja as respostas das atividades
desta seção no Manual do Professor.
Trechos da carta-testamento de Getúlio Vargas, agosto de 1954
Mais uma vez, as forças e os interesses con-
tra o povo condenaram-me novamente e se de-
sencadeiam sobre mim.
Não me acusam, insultam; não me comba-
tem, caluniam e não me dão o direito de defesa.
Precisam sufocar a minha voz e impedir a mi-
nha ação para que eu não continue a defender,
como sempre defendi, o povo e principalmente
os humildes. Sigo o destino que me é imposto.
Depois de decênios de domínio e espoliação dos
grupos econômicos e financeiros internacionais,
fiz-me chefe de uma revolução e venci. Iniciei o
trabalho de libertação e instaurei o regime de
liberdade social. Tive de renunciar. Voltei ao go-
verno nos braços do povo. A campanha subter-
rânea dos grupos internacionais aliou-se à dos
grupos nacionais revoltados contra o regime de
garantia do trabalho. A lei de lucros extraordi-
nários foi detida no Congresso. Contra a justiça
da revisão do salário mínimo se desencadea-
ram os ódios. Quis criar a liberdade nacional na
potencialização de nossas riquezas através da
Petrobras; mal começa esta a funcionar, a onda
de agitação se avoluma. A Eletrobrás foi obsta-
culada até o desespero. Não querem que o tra-
balhador seja livre. Não querem que o povo seja
independente […].
Tenho lutado mês a mês, dia a dia, hora a
hora, resistindo a uma pressão constante, in-
cessante, tudo suportando em silêncio, tudo
esquecendo, renunciando a mim mesmo, para
defender o povo que agora se queda desampa-
rado. Nada mais vos posso dar, a não ser o meu
sangue. Se as aves de rapina querem o sangue de
alguém, querem continuar sugando o povo bra-
sileiro, eu ofereço em holocausto a minha vida.
Escolho este meio de estar sempre convosco […].
Cartaz produzido pelo Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), do governo Getúlio Vargas – Estado Novo, convocando para manifestação trabalhista de 1o de maio.
Re
pro
dução
/Fu
nd
ação G
etú
lio V
arg
as/C
PD
OC
46
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 46V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 46 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
Após o suicídio de Vargas, o vice-presidente,
João Fernandes Campos Café Filho (1899-1970),
assumiu a Presidência da República. Em 1955,
realizou-se a eleição do novo presidente, na qual
saiu vitorioso Juscelino Kubitschek (1902-1976),
também conhecido como JK, candidato do PSD e
do PDT. Antes da posse de JK, Café Filho foi hospi-
talizado e substituído pelo presidente da Câmara,
Carlos Luz (1894-1961). Nesse contexto a UDN e
setores da Marinha e da Aeronáutica tentaram to-
mar o poder, mas foram impedidos por um “golpe
preventivo” dado pelo ministro da Guerra, o general
Teixeira Lott (1894-1984), que mobilizou as tropas
do exército no Rio de Janeiro para garantir que Jus-
celino Kubitschek assumisse a Presidência.
O governo de Juscelino Kubitschek foram anos
de relativa estabilidade política e econômica. Em
certo sentido dava continuidade em muitos as-
pectos à política getulista, porém evitando exces-
sos. Mesmo porque PSD e PTB, os dois partidos
que serviam de base de sustentação de Getúlio,
tinham divergências. Assim, JK evitava o conser-
vadorismo do PSD, mas ao mesmo tempo evitava
avançar em demasia nas reivindicações do opera-
riado para não ser identificado com “propostas co-
munistas”. Mesmo assim, apesar de manter boas
relações com os militares, dois levantes de seto-
res da Aeronáutica, um em Jacareacanga (PA),
em 1956, outro em Aragarças (GO), em 1959, fo-
ram isolados e facilmente sufocados.
O que mais marcou o governo de Juscelino Ku-
bitschek foi sua política econômica, definida em
seu plano de metas, que abrangia cinco grandes
áreas – energia, transportes, educação, alimen-
tação, indústrias de base – além da proposta de
transferência do distrito federal para o interior do
Brasil com a construção de Brasília. A promessa
de JK era a de desenvolver o Brasil “50 anos em 5”.
Sob seu governo ocorreu uma acelerada expansão
da indústria automobilística, das usinas hidrelétri-
cas, de rodovias, da produção de aço e da constru-
ção naval. Tratava-se de uma política nacional-de-
senvolvimentista na qual o país se abria ao capital
estrangeiro, mas o Estado mantinha o controle da
indústria de base e da produção de energia.
Juscelino (à esquerda) no dia da posse, em 1956, acompanhado de Nereu Ramos e do vice-presidente João Goulart (à direita).
Congresso Nacional em construção. Brasília, DF, em 1960.
NÃO ESCREVA NO LIVRO
A ideia de interiorização da capital remonta à época do Império. Era defendida por razões estratégicas e econômicas. Em 1946, a nova Constituição determinou estudos e, em 1956, Juscelino comprometeu-se a efetivar a transferência da capital. A primeira etapa de sua construção foi concluída em quase quatro anos. Temas para a discussão:
1. O plano da nova capital previa grandes construções e amplas vias voltadas para os automóveis, sem o mesmo planejamento para abrigar a imensa população de migrantes que chegou à região. Como foi feito o assentamento da maioria dos migrantes?
2. Considerando o aspecto geográfico, a instalação inicial da nova capital do país aproximava ou afastava o poder central de alguns dos principais núcleos de pressão social da época, como Rio de Janeiro e São Paulo?
Conversa
Fox P
ho
tos/H
ulton A
rchiv
e/G
ett
y Im
ag
es
Keysto
ne-F
ran
ce
/Gam
ma-K
eysto
ne/G
ett
y Im
ag
es
47
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 47V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 47 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
Embora o desenvolvimento econômico no governo de JK tenha alcança-
do muitos resultados positivos, isso se fez à custa do deficit do orçamento
federal. Para resolver esse problema foi proposto um plano de estabilização,
tendo à frente o engenheiro Lucas Lopes (1911-1994) como Ministro da Fa-
zenda e Roberto Campos (1917-2001) como presidente do Banco Nacional
de Desenvolvimento Econômico (BNDE). Contudo, o plano acabou não se re-
alizando, uma vez que previa acordos com o Fundo Monetário Internacional
(FMI), organização internacional ligada à Organização das Nações Unidas
(ONU). Muitos setores da sociedade brasileira viam esses acordos como con-
trários aos princípios nacionalistas do governo. Outro problema dos anos JK
foi a desigualdade regional na qual o desenvolvimento econômico ocorreu,
privilegiando a região Sudeste. A criação da Superintendência do Desenvolvi-
mento do Nordeste (Sudene) não foi suficiente para resolvê-lo.
Na campanha de sucessão presidencial despontou
Jânio Quadros (1917-1992), candidato lançado por um
partido pequeno, o Partido Trabalhista Nacional (PTN),
mas que teve o apoio da UDN. Com um discurso de crítica
à corrupção e à desordem financeira, Jânio venceu com
facilidade seus adversários, o General Lott, apoiado pelo
PSD e pelo PTB, e Adhemar de Barros (1901-1969), pelo
PSP. Mas, como vice-presidente saiu vitorioso João Gou-
lart, apelidado de Jango, da chapa do general Lott. Isso era
possível porque nas eleições de 1960 era permitido votar
em candidatos a presidente e vice de partidos diferentes.
No campo da política externa o governo de Jânio pro-
curava marcar sua independência diante da polarização
que havia na época da Guerra Fria entre Estados Unidos
e União Soviética, não aderindo a nenhum dos blocos de
forma explícita. No tocante à economia, o maior problema
era o deficit orçamentário, que foi combatido por meio da
desvalorização cambial, redução de gastos públicos e de
subsídios para importação de trigo e petróleo. Embora
isso implicasse um aumento no custo de vida para a po-
pulação, por outro lado teve repercussão positiva junto
aos credores internacionais, o que facilitou a renegocia-
ção das dívidas.
Em 25 de agosto de 1961, pouco antes de completar sete meses de gover-
no, Jânio Quadros renunciou à Presidência, em circunstâncias que, até hoje,
não são muito bem explicadas. Na época, Jânio indicava a renúncia devido
à ação de “forças terríveis”, porém sem explicitar do que se tratava. Muitos
historiadores acreditam que Jânio Quadros pretendia fazer com que seus ad-
versários se mobilizassem para evitar seu afastamento da Presidência, uma
vez que o vice, João Goulart, era conhecido por sua aproximação com os par-
tidos mais à esquerda. Mas o fato é que essa mobilização foi relativamente
pequena e a renúncia, de modo geral, foi bem aceita tanto pelo Congresso
quanto pelos militares e pela população.
Jânio Quadros durante comício na campanha eleitoral de 1960, na cidade de Igarapava, SP. Jânio tinha como uma das suas principais promessas de campanha "varrer a corrupção" para longe do Brasil. Assim, era comum que em sua campanha as pessoas comparecessem empunhando vassouras.
Arq
uiv
o d
o jorn
al O
Esta
do d
e S
. P
aulo
/Agência
Esta
do
48
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 48V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 48 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
Quando Jânio Quadros renunciou à Presidên-
cia, seu vice, João Goulart, estava em uma visita
à China, e o governo foi exercido interinamente
nesse momento de crise pelo deputado Ranie-
ri Mazzilli (1910-1975), presidente da Câmara
na época. Enquanto grupos de militares exigiam
o afastamento de João Goulart, defensores da
legalidade, como o governador Leonel Brizola
(1922-2004), do Rio Grande do Sul, reagiam com
a possibilidade de uma guerra civil. Como solução
conciliatória, os grupos conservadores aceitaram
a posse de João Goulart, mas com a adoção do
regime parlamentarista, no qual o presidente tem
seus poderes reduzidos.
Em 1963 foi realizado um plebiscito, no qual a
maioria dos votantes se manifestou contra o regi-
me parlamentarista. Com a volta do presidencialis-
mo e tendo seus poderes aumentados, João Gou-
lart pretendia dar início a uma série de reformas
de base, isto é, mudanças que permitissem a su-
peração das desigualdades sociais. As reformas de
base incluíam uma reforma agrária, para a demo-
cratização do uso da terra; uma reforma educacio-
nal, de combate ao analfabetismo e valorização do
magistério; uma reforma fiscal, que visava aumen-
tar a arrecadação e conter as remessas de lucros
ao exterior; uma reforma eleitoral, com a proposta
do direito de voto para analfabetos e militares de
baixa patente; uma reforma urbana, permitindo a
locatários a possibilidade de comprar os imóveis
em que viviam; e uma reforma bancária, visando
aumentar as linhas de crédito aos produtores.
Como as reformas de base desagradavam em
muitos aspectos certos grupos poderosos, João
Goulart percebeu que não conseguiria viabilizá-
-las por meio de acordos com o Congresso e de-
cidiu implementá-las por decreto. Em um impor-
tante comício, em 13 de março de 1964, no Rio de
Janeiro, em frente à estação Central do Brasil, o
presidente anunciava os projetos que nacionali-
zavam refinarias de petróleo e desapropriavam as
propriedades com mais de 100 hectares ao longo
de rodovias e ferrovias federais.
As reformas propostas por João Goulart tinham
o apoio do movimento estudantil, de movimentos
rurais, como as Ligas Camponesas, de setores
progressistas da Igreja católica e de entidades tra-
balhistas, como o Comando Geral dos Trabalhado-
res (CGT). Contudo, também era forte a oposição
da parte de setores conservadores, representados
por grupos, como a Frente Patriótica Civil-Militar, o
Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (Ipes),
a Sociedade Brasileira para a Defesa da Tradição,
Família e Propriedade (TFP), o Instituto Brasileiro
de Ação Democrática (Ibad). Em 19 de março de
1964 ocorreu uma grande manifestação em São
Paulo, com o nome de Marcha da Família com Deus
pela Liberdade, reunindo cerca de 500 mil pesso-
as e outra no Rio de Janeiro. O evento mostrava a
força do conservadorismo e contribuiu para a arti-
culação de um movimento que levaria à deposição
de João Goulart da Presidência.
Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em 1964, no Rio de Janeiro, RJ.
Em 31 de março, tropas de Minas Gerais deslo-
caram-se rumo ao Rio de Janeiro. Ao mesmo tem-
po, importantes autoridades políticas, como Ma-
galhães Pinto (1909-1996), governador de Minas
Gerais, Adhemar de Barros, de São Paulo, e Carlos
Lacerda, da Guanabara (hoje Rio de Janeiro) de-
ram apoio à intervenção militar. Pretendendo evi-
tar o derramamento de sangue, João Goulart via-
jou para o Rio Grande do Sul e posteriormente se
exilou no Uruguai. O governador do Rio Grande do
Sul, Leonel Brizola, pretendia organizar uma resis-
tência ao golpe de Estado que estava em curso,
mas não obteve a adesão esperada. O governo
passou a ser exercido por uma junta militar, dando
origem a um período de ditadura, que se estende-
ria por mais de vinte anos.
Arq
uiv
o d
o jorn
al O
Esta
do
de S
. P
aulo
/Agência
Esta
do
49
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 49V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 49 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
Mobilizações sociais e atuações nos governos ditatoriais do Brasil
O regime implantado no Brasil em 1964 foi uma ditadura em razão de seu
caráter autoritário e da concentração de poderes nas mãos dos chefes mili-
tares, embora com muita participação civil no governo. Havia, desde o início,
uma divergência bastante clara entre um grupo ligado à Escola Superior de
Guerra (ESG), que defendia o diálogo com grupos políticos conservadores
tradicionais, notadamente da UDN e de parcela do PSD, e outro, conhecido
como linha dura, mais radical e mais avesso à participação da sociedade civil
no governo. Mesmo assim, de modo geral havia o consenso de combater o
comunismo e garantir a ordem, seja por meio da repressão às manifestações
de oposição ao regime, seja por meio de intensa propaganda institucional.
Além disso, o país rompia com o posicionamento de autonomia em relação à
política externa, assumindo de modo mais explícito o alinhamento na Guerra
Fria ao bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos.
Do ponto de vista econômico, o regime adotava uma política com alguns
aspectos neoliberais, na qual o desenvolvimento e diversificação da econo-
mia se fazia a partir de empréstimos no exterior e da abertura da economia
brasileira ao capital internacional. Os empréstimos garantiam a construção
de obras de infraestrutura, como estradas, hidrelétricas, refinarias de petró-
leo, entre outras. Ao mesmo tempo o regime estimulava a vinda de empresas
estrangeiras, que se beneficiavam de incentivos fiscais, mão de obra barata
e abundância de recursos naturais.
Com a saída de João Goulart, o governo passou a ser exercido por
uma junta militar que, em 9 de abril de 1964, decretou o Ato Institucional
número 1 (AI-1), uma lei que fortalecia o Poder Executivo, permitindo-o go-
vernar por meio de decretos, cassar mandatos políticos em qualquer nível,
suspender direitos políticos de adversários do regime e expurgar servido-
res públicos. O Ato instituiu ainda os Inquéritos Policiais Militares que, do-
tados de poderes excepcionais, podiam prender os opositores do regime. A
prática de tortura, quando investigada, era arquivada por “insuficiência de
provas”. Depois desse ato institucional, foram promulgados vários outros,
sempre com o objetivo de fortalecer o poder do núcleo militar e reprimir
qualquer forma de oposição.
O primeiro presidente do Brasil sob o regime militar foi o general Hum-
berto de Alencar Castelo Branco (1897-1967), eleito pelo Congresso em 11
de abril de 1964. Em seu governo foram revogados os decretos de João
Goulart, que estabeleciam a nacionalização das refinarias de petróleo e a
desapropriação de terras para reforma agrária. A União Nacional dos Es-
tudantes (UNE) e as Ligas Camponesas foram colocadas na ilegalidade.
Centenas de pessoas tiveram seus direitos políticos cassados, entre elas
os ex-presidentes Juscelino, Jânio e Jango, e milhares de funcionários pú-
blicos foram demitidos.
50
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 50V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 50 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
No campo econômico foi colocado em prática o Programa de Ação Econô-
mica do Governo (Paeg), sob a responsabilidade do ministro do Planejamento,
Roberto Campos, e do ministro da Fazenda, Otávio Bulhões (1906-1990). Com
o objetivo de restabelecer as finanças públicas, o programa previa o achata-
mento dos salários, o fim dos subsídios ao trigo e ao petróleo e o aumento
da arrecadação de impostos. O Paeg conseguiu atingir o objetivo de reduzir o
deficit público, mas isso com o sacrifício dos trabalhadores, que passaram a
ganhar menos e ainda sofriam com o aumento dos preços.
Em 1965 foi decretado o Ato Institucional número 2 (AI-2), que ampliava
os poderes do presidente, regulamentava a eleição indireta para presidente
da República e extinguia os partidos políticos existentes, implementando o
sistema bipartidário. A partir de então haveria somente dois partidos, a Alian-
ça Renovadora Nacional (Arena), que representava os partidários do gover-
no, e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), no qual se agrupavam os
movimentos de oposição. Outro Ato Institucional, o AI-3, estabelecia eleições
indiretas para governadores dos estados. Em janeiro de 1967 foi aprovada
uma nova Constituição, que ampliava os poderes do Executivo.
Plenário da Câmara Federal na instalação do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), em 1966.
Posse de Humberto de Alencar Castelo Branco. Castelo Branco tornou-se presidente em 1964 e prometeu eleições para o ano seguinte, mas permaneceu no poder até 1967.
Arq
uiv
o d
o jorn
al O
Esta
do d
e S
. P
aulo
/Agência
Esta
do
Arq
uiv
o d
o jo
rnal Fo
lha d
e S
ão
Paulo
/Folh
apre
ss
51
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 51V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 51 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
Em outubro de 1966, o Congresso elegeu como presidente o general Artur
da Costa e Silva (1899-1969), tendo um civil, Pedro Aleixo (1901-1975), como
vice, que tomaram posse em março do ano seguinte. Costa e Silva era repre-
sentante da linha dura do regime e iniciava seu governo com uma nova carta
constitucional que permitia ao Poder Executivo exercer a censura prévia à im-
prensa e incluía a Lei de Segurança Nacional, pela qual se tipificavam crimes
políticos. Na prática, a manifestação de opiniões contrárias ao regime podia
ser passível de prisão com amparo da lei.
No governo Costa e Silva a oposição ao regime se tornou mais articulada
e, ao mesmo tempo, mais diversificada. Políticos conservadores tradicionais,
como Carlos Lacerda, sentindo-se à margem do cenário político, uniram-se a
outros mais progressistas, como Jango e Juscelino, formando um bloco de
oposição chamado Frente Ampla. Em junho de 1968, cerca de 100 mil ma-
nifestantes compareceram ao funeral do adolescente Edson Luís de Lima
(1950-1968), assassinado pela polícia durante um protesto contra as más
condições sanitárias de um restaurante para alunos secundaristas no Rio
de Janeiro. O próprio Congresso Nacional dava mostras de maior autonomia,
negando-se a suspender as imunidades parlamentares que permitiriam o
cerceamento da liberdade de expressão dos deputados.
NÃO ESCREVA NO LIVRO
Repressão policial na missa de sétimo dia do estudante Edson Luís, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, em 1968.
O uso da violência foi uma constante durante o regime militar e os opositores eram considerados inimigos. Os protestos e manifestações eram vistos como ameaça à segurança nacional. Na foto de 1966, polícia dispersa passeata com gás lacrimogênio nas ruas de Belo Horizonte (MG). Tema para a discussão:
• Os protestos e manifestações populares podem ser considerados ameaça à segurança nacional? Por quê?
• Citem exemplos de manifestações populares recentes, preferencialmente ocorridas no município ou estado onde vocês moram, e expliquem o que estava sendo reivindicado e, se houve, como se deu a repressão.
Ver respostas e orientações no Manual do Professor.
Conversa
Ace
rvo Iconogra
phia
/Re
min
isc•ncia
s
52
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 52V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 52 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
Paralelamente a essas movimentações, surgiram grupos que optaram por
estratégias de luta armada, como a Aliança de Libertação Nacional (ALN), o
Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8), a Vanguarda Popular Revolu-
cionária (VPR) e a Vanguarda Armada Revolucionária (VAR-Palmares), entre
outros. O objetivo desses grupos era formar um movimento guerrilheiro e,
com isso, derrubar o regime militar.
Como resposta à rearticulação da oposição, o regime militar agiu com me-
didas mais duras, entre elas a promulgação do Ato Institucional número 5
(AI-5). Por meio dele, o presidente tinha o direito de fechar o Congresso, no-
mear interventores para os estados e municípios, cassar mandatos, suspen-
der direitos políticos e demitir servidores públicos. Acusados de crimes con-
tra a segurança nacional perdiam o direito de habeas corpus.
No plano econômico, o governo Costa e Silva marcou o início do que mais
tarde seria chamado “milagre econômico” brasileiro, um crescimento signifi-
cativo do PIB brasileiro, que se estenderia até 1973. Tendo à frente o econo-
mista Delfim Netto (1928-) como ministro da Fazenda, o Brasil obteve em-
préstimos no exterior, o que permitiu o fortalecimento de empresas estatais,
como a Petrobras, Vale do Rio Doce, Eletrobrás, Companhia Siderúrgica Nacio-
nal, entre outras. Até o final dos anos 1960 produtos industrializados passa-
ram a fazer parte da pauta de exportação, e aumentou também a diversidade
de produtos agrícolas e matérias-primas para o mercado externo. Essa situ-
ação econômica favorável permaneceria até 1973, quando ocorreu uma alta
nos preços do petróleo, como consequência da Guerra do Yom Kippur, entre
árabes e israelenses. O “milagre” econômico desmoronou também por causa
da alta dos juros dos empréstimos internacionais.
Em agosto de 1969 o presidente Costa e Silva sofreu um derrame cerebral
e não pôde continuar no cargo. Seu vice, Pedro Aleixo, que havia manifesta-
do a intenção de afrouxar o regime, foi impedido pelos militares de assumir
a Presidência. Passados dois meses, o Alto Comando das Forças Armadas
indicou o general Emílio Garrastazu Médici (1905-1985), chefe do Serviço
Nacional de Informações (SNI), uma espécie de serviço de espionagem do
governo federal à época.
Durante o governo Médici a luta armada, como forma de oposição, continuou
com sequestros de diplomatas estrangeiros para trocá-los por prisioneiros po-
líticos, e operações de guerrilha, como a do Vale do Ribeira ou do Araguaia. A
luta armada, porém, não teve sucesso em mobilizar a sociedade contra a dita-
dura, e como cada grupo lutava sem articulação com os demais, os órgãos de
repressão com o tempo conseguiram desmantelar os focos de revolta e assas-
sinar muitos de seus principais líderes, denominados terroristas pelo governo.
O governo Médici estendeu-se até março de 1974, quando então tomou
posse o general Ernesto Geisel (1907-1996), com o desafio de retomar o
crescimento econômico e restabelecer a democracia. Tratava-se de uma
abertura política “lenta, segura e gradual”, nas palavras do próprio Geisel. Ou
seja, a distensão do regime não poderia escapar do controle dos grupos mi-
litares então no poder.
53
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 53V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 53 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
Em outubro de 1975 o jornalista Vladimir Herzog (1937-1975) foi morto
em uma sessão de tortura nas dependências do II Exército em São Paulo.
As prisões, torturas e mortes eram frequentes durante o regime militar, mas
esse fato em particular gerou grande comoção popular. Alguns meses depois
o mesmo ocorreu com o operário Manuel Fiel Filho (1927-1976), fato que mo-
tivou o presidente a demitir o comandante do II Exército, um sinal importante
de que a linha dura tinha ido longe demais.
Apesar de alguns avanços, como maior liberdade de imprensa e impor-
tantes vitórias do MDB nas eleições para deputados e senadores de 1974,
o governo Geisel também apresentou retrocessos. Um deles foi o chamado
“pacote de abril”, um decreto de 1976 pelo qual se fechava o Congresso, se
estendia o mandato presidencial para seis anos e se estabeleciam eleições
indiretas para um terço dos senadores.
Diante da pressão popular e de instituições civis, como a Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB), mais tarde o Congresso foi reaberto e o AI-5 foi revo-
gado. Outro importante foco de resistência eram os sindicatos de metalúrgi-
cos do ABC paulista, no qual despontava a liderança de um sindicalista, Luís
Inácio da Silva, também conhecido como Lula, que se elegeria presidente da
República décadas mais tarde, em 2003.
Repressão policial à greve dos metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, SP, em 1980.
Juca M
art
ins/O
lhar
Imagem
Em 1979, Geisel passou a faixa presidencial para o general João Batista Fi-
gueiredo (1918-1999), eleito de forma indireta. Sob o governo de Figueiredo o
processo de abertura política teve continuidade com a Lei da Anistia, que per-
mitiu a volta de exilados políticos da oposição. Ainda em 1979 o governo deu
início a uma reforma partidária que extinguiu os antigos partidos – Arena e
MDB – e fazendo retornar o pluripartidarismo. Na prática a Arena simplesmen-
te mudou de nome, passando a se chamar Partido Democrático Social (PDS),
enquanto o MDB se fragmentou, dando origem ao Partido do Movimento De-
mocrático Brasileiro (PMDB). Outros partidos surgiram, o Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB), o Partido Democrático Trabalhista (PDT) e o Partido dos Tra-
balhadores (PT). Em 1982, ocorreram eleições diretas para governador, mas
as eleições diretas para presidente só ocorreriam no final daquela década.
54
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 54V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 54 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
O processo de abertura encontrou resistência de setores da linha dura do
Exército, que passaram a executar atos de terrorismo. Um dos casos mais am-
plamente divulgados foi o atentado no Riocentro, em 1981. Dois militares pla-
nejaram colocar bombas no local onde ocorria um show de música para depois
responsabilizar grupos de oposição pelo episódio. Uma das bombas, porém,
explodiu no carro em que estavam, matando um e ferindo o outro gravemente.
Outra reação contrária à abertura efetivou-se em atentados a bancas de jornais
que vendiam publicações de oposição e a entidades civis que defendiam o fim
da ditadura, como a OAB.
As greves na região industrial do ABC, em São Paulo, seguidas de outras
manifestações violentamente reprimidas, aumentaram o desgaste do poder
autoritário do governo e, no final de 1983, os partidos de oposição encampa-
ram a campanha pela eleição direta para presidente da República.
O movimento, conhecido como Diretas Já, mobilizou o país de norte a sul
em manifestações que envolviam centenas de milhares de pessoas. O obje-
tivo era pressionar o Congresso a aprovar uma emenda constitucional que
reinstituísse as eleições diretas para presidente. A emenda, porém, foi derro-
tada por apenas 22 votos numa sessão a que vários parlamentares deixaram
de comparecer.
O novo presidente foi, mais uma vez, eleito indiretamente. Dois civis con-
correram à sucessão presidencial: Tancredo Neves (1910-1985), da Frente
Liberal, que reunia tanto opositores como colaboradores da ditadura, e Paulo
Maluf (1931-), do Partido Democrático Social (PDS, antigo Arena). A vitória
coube a Tancredo Neves, que tinha como vice na chapa presidencial José
Sarney (1930-).
Na ocasião de tomar posse, contudo, Tancredo ficou gravemente doente,
vindo a falecer, e Sarney foi quem assumiu a Presidência da República em
1985. Ironicamente a ditadura militar tinha fim com o início do governo de um
político que, no passado, era um dos apoiadores daquele regime.
Manifestação pelas eleições diretas presidenciais na Praça da Sé, em São Paulo, SP, em janeiro de 1984.
Ro
lan
do
de F
reit
as/A
gê
ncia
Esta
do
55
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 55V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 55 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
Atuações sociais para a democracia: as heranças paternalistas e autoritárias no século XXI
A democracia, com todas as inúmeras limi-
tações que encontra no Brasil, assim como no
restante da América Latina, não é resultado de
uma concessão feita pelo Estado ou por grupos
poderosos ligados ao Estado e atuantes sobre a
sociedade. Ela foi conquistada duramente pela
luta dos movimentos populares contra as forças
autoritárias que dominaram a vida política desde
o Brasil colônia. A consolidação da democracia,
estendendo-a e integrando a ela a justiça social,
também não decorrerá de uma concessão: terá
que ser buscada e conquistada.
Essa busca é árdua, mas tem que continuar,
sob pena de o Brasil ser sempre uma potência de
relativa grandeza, mas na qual a imensa maioria
continuará excluída dos direitos básicos da cida-
dania, sem condições dignas de vida, vegetando à
margem da riqueza de uns poucos.
Seriam necessários muitos livros para estu-
dar os inúmeros e graves problemas que afligem
a população brasileira de hoje: altos índices de
analfabetismo e evasão escolar; grande mortali-
dade infantil, causada pela subnutrição e falta de
saneamento; deficiência dos serviços públicos
de educação e de saúde prestados à população;
deterioração dos salários, entre os mais baixos
do mundo; permanência de trabalho escravo em
vários pontos do país; imensa taxa de desempre-
go; favelização crescente na periferia das cidades;
grande número de mendigos e crianças aban-
donadas nas ruas; elevados índices de violência
urbana e no campo, diretamente relacionada ao
crescimento da miséria; as chacinas nas prisões,
no campo e nas periferias das grandes cidades,
pela polícia ou grupos armados; a questão do
meio ambiente, entre outros.
A independência do Brasil já completa dois sé-
culos e ainda apresenta muitas contradições. Por
um lado, é uma sociedade que se informatiza e se
moderniza em muitos setores, podendo ser com-
parada às dos países mais desenvolvidos e ricos
do chamado mundo desenvolvido. Por outro, é um
país ainda com altos índices de pobreza e miséria.
Fazer com que esses dois “Brasis” se encon-
trem, diminuindo as desigualdades sociais e as
injustiças, será o principal desafio das novas
gerações. Esse desafio só será vitorioso com o
fortalecimento dos movimentos sociais compro-
metidos com avanços progressistas e populares.
Essa luta tem muitas frentes: as organizações
sindicais, estudantis, de bairros; o movimento
dos sem-terra, dos sem-teto; os movimentos eco-
lógicos, que lutam contra a degradação do meio
ambiente; os movimentos de todos aqueles consi-
derados “minorias políticas”: os índios, os negros,
as mulheres, as pessoas LGBTQI+.
Só assim se conseguirá consolidar a demo-
cracia política e transformá-la numa democracia
completa, onde todos na sociedade tenham direi-
to a condições dignas de vida.
Passeata pelas Diretas
Já, movimento pelo
restabelecimento da eleição
direta, em São Paulo, SP, 1984.
Alfre
do R
izzu
tti/A
gência
Esta
do
56
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 56V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 56 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
O texto a seguir satiriza o ambiente político do Brasil nos últimos anos da
ditadura militar. Era uma época em que o povo havia perdido a confiança no
governo e principalmente nos políticos.
A velhinha de Taubaté
Não se sabe, exatamente, o seu endereço, mas tudo indica que seja em
Taubaté. Outros detalhes – nome, estado civil, CIC – são desconhecidos.
Sabe-se apenas que é uma velhinha que mora em Taubaté e que passa
boa parte de seu tempo numa cadeira de balanço assistindo ao Brasil
pela televisão.
A velhinha de Taubaté é o último bastião da credulidade nacional.
Ninguém acredita mais em nada nem em ninguém no país, mas a ve-
lhinha de Taubaté acredita. Se não fosse pela velhinha de Taubaté o país
já teria caído, não no abismo, mas na gandaia final, sem disfarces. Tudo
que acontece de aparentemente sério no país é, na verdade, uma grande
encenação para a velhinha de Taubaté. [...]
Há alguns anos existiam milhares de brasileiros que acreditavam como
a velhinha de Taubaté. Com o tempo este número foi diminuindo até que
em 1981 só havia dezessete. Por coincidência, todas velhinhas. Algumas
morreram, outras foram se desencantando aos poucos. A penúltima ve-
lhinha ficou muito traumatizada com o episódio da apuração dos votos
no Rio de Janeiro e decidiu que, se não podia confiar nem na Globo, não
confiaria em mais nada. Sobrou a velhinha de Taubaté.[...]
Só a existência da velhinha explica o ar circunspecto com que os mi-
nistros anunciam as novas medidas econômicas, exatamente as que eles
tinham desmentido na semana passada. Na verdade eles estão torcendo
para não rir. Mas precisam pensar na velhinha de Taubaté.
– Te controla.
– Não posso. Eu vou ter um troço.
– Olha a velhinha, olha a velhinha!
De vez em quando acontece alguma coisa que faz a velhinha de Tau-
baté ficar tesa na sua cadeira de balanço e dizer: “Epa”. Outro atentado
da direita, por exemplo. Mas logo uma autoridade anuncia que haverá
um “rigoroso inquérito” e a velhinha de Taubaté descansa. Tudo se escla-
recerá. A velhinha de Taubaté pensa que “rigoroso inquérito” quer dizer
inquérito rigoroso, e não o contrário.
VERÍSSIMO, Luís Fernando. A velhinha de Taubaté. Porto Alegre: L&PM, 1983. p. 10-12.
NÃO ESCREVA NO LIVRO
Bastião: fachada.
Circunspecto: sério.
Gandaia: vadiagem, farra.
1. Atualmente, existe mais confiança no governo por parte da população?
2. Você poderia citar exemplos de desonestidade na política hoje em dia?
3. O que você acha do estereótipo do político como sendo um homem desonesto?
A desconfiança do povo com relação ao governo serve para melhorar ou piorar
o país? Veja as respostas no Manual do Professor.
Conversa
57
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 57V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 57 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
NÃO ESCREVA NO LIVRO
DIÁLOGOS
1. Leia o trecho a seguir e realize as atividades.
[...] nem os intelectuais hispano-americanos e brasileiros, nem os governos
hispano-americanos e brasileiros consideravam o Brasil parte da “América
Latina” — expressão que se referia somente à América Espanhola — pelo
menos até a segunda metade do século XX, quando os Estados Unidos e o
resto do mundo exterior começaram a pensar o Brasil como parte integran-
te de uma região chamada “Latin America”. Mesmo agora, os governos bra-
sileiros e os intelectuais brasileiros, exceto talvez da esquerda, continuam
sem convicção profunda de que o Brasil é parte da América Latina.
BETHELL, Leslie. O Brasil e a ideia de “América Latina” em perspectiva histórica. Estudos
Históricos, Rio de Janeiro, 2009. Disponível em: www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0103-21862009000200001. Acesso em: 4 ago. 2020.
a) Considerando o que você aprendeu neste capítulo, aponte uma diferen-
ça marcante entre o processo de independência da América portugue-
sa e o processo de independência das colônias da América espanhola.
Depois, explique como se desenvolveu essa diferença.
b) Você concorda com a opinião de Leslie Bethell, que diz que “Mesmo
agora, os governos brasileiros e os intelectuais brasileiros [...] conti-
nuam sem convicção profunda de que o Brasil é parte da América La-
tina”? Por quê? Procure identificar em seu cotidiano alguns elementos
que servem para justificar sua resposta.
2. Leia o texto abaixo, do historiador brasileiro Paulo Vizentini, e responda às
questões.
Três meses após a derrubada de Vargas, o general Eurico Gaspar Du-
tra tomava posse como presidente eleito. O condestável do Estado Novo e
simpatizante do Eixo era agora um fiel aliado de Washington. Essa seria a
marca de seu governo. Uma mudança dessa magnitude resultava tanto de
uma nova relação de forças internas como, sobretudo, externas. Prenuncia-
vam-se os anos da Guerra Fria e uma nova ordem mundial, o que alterava
profundamente as possibilidades de inserção internacional do Brasil. […]
A diplomacia brasileira não apenas alinhava-se automaticamente com
as posições americanas nas organizações internacionais, como às vezes
chegava a exceder-se em seu apoio. Em outubro de 1947 o Brasil rompeu
relações diplomáticas com a União Soviética a partir de um incidente sem
maior importância. Na verdade, essa ruptura fazia parte de uma política
mais ampla, e fora longamente preparada pelo governo.
VIZENTINI, Paulo. Do nacional-desenvolvimentismo à PEI. In: FERREIRA, J. et al. (org.). O Brasil
republicano. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 198-200.
a) De acordo com o texto, que mudanças o governo de Dutra impôs à polí-
tica externa brasileira quando comparado ao governo do Estado Novo?
Veja as respostas das atividades desta
seção no Manual do Professor.
58
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 58V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 58 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
b) Que fatores do cenário internacional, implementados após a Segunda
Guerra, foram responsáveis por essa mudança? Explique.
c) Para o autor, que reais motivos levaram o Brasil a romper relações di-
plomáticas com a União Soviética em 1947?
3. A figura ao lado é a reprodução de um cartaz do Movimento Feminino pela
Anistia no Brasil, divulgado em 1975.
a) Preste atenção à imagem. Que mudanças
você nota nos desenhos das persona-
gens femininas da primeira fileira supe-
rior até a fileira inferior do cartaz?
b) O que acontecia no cenário político nacio-
nal em 1975, quando o cartaz foi divulga-
do?
c) Por que o cartaz convoca o leitor para
“sair da sombra”?
d) Em sua opinião, a divulgação de movi-
mentos como o que vemos no cartaz foi
importante para mudar o cenário político
brasileiro? Explique.
4. Leia o texto abaixo do historiador brasileiro
Marcos Napolitano. Em seguida, responda
às questões.
A partir dos eventos ocorridos no “ciclo
grevista” de 1978/1980, os sujeitos coletivos
puderam definir suas identidades e articular
suas reivindicações frente ao Estado. Neste
processo, a “questão democrática” foi ree-
laborada historicamente, deixando de ser
apenas um tema que inspirava a resistência
contra a ditadura, para nortear diversos projetos de sociedade.
A “questão operária” consolidou, no espaço público, uma outra formu-
lação da “questão democrática”, que se exercitava desde o início dos anos
70: não mais se tratava de criar a produção do consenso mas, sobretudo,
aprimorar a equação do conflito.
NAPOLITANO, Marcos. As greves do ABC: a questão social encontra a questão democrática.
In: NAPOLITANO, Marcos.Cultura e poder no Brasil republicano. Curitiba: Juruá, 2002. p. 104.
a) Releia o texto didático e identifique quem eram os participantes do que
o autor chama “ciclo grevista” e por que eles estavam insatisfeitos.
b) De acordo com o autor, por que as greves dos metalúrgicos redefiniram
o movimento pela volta da democracia e introduziram novas questões
entre os opositores da ditadura militar? Justifique.
Cartaz do Movimento Feminino pela Anistia no Brasil, de 1975.
Re
pro
dução/A
rquiv
o P
úb
lico
do
Esta
do d
e S
ão P
au
lo, S
ão
Pau
lo,
SP.
59
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 59V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 59 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
1. (2016)
A Operação Condor está diretamente vincu-
lada às experiências históricas das ditaduras
civil-militares que se disseminaram pelo Cone
Sul entre as décadas de 1960 e 1980. Depois do
Brasil (e do Paraguai de Stroessner), foi a vez
da Argentina (1966), Bolívia (1966 e 1971), Uru-
guai e Chile (1973) e Argentina (novamente, em
1976). Em todos os casos se instalaram ditadu-
ras civil-militares (em menor ou maior medi-
da) com base na Doutrina de Segurança Nacio-
nal e tendo como principais características um
anticomunismo militante, a identificação do
inimigo interno, a imposição do papel político
das Forças Armadas e a definição de fronteiras
ideológicas.
PADRÓS, E. et al. Ditadura de Segurança Nacional no
Rio Grande do Sul (1964-1985): história e memória. Porto Alegre: Corag, 2000 (adaptado).
Levando-se em conta o contexto em que foi
criada, a referida operação tinha como objetivo
a) coordenar a modificação de limites territoriais.
b) sobrevivência de oficiais exilados.
c) interferência de potências mundiais.
d) repressão de ativistas oposicionistas.
e) implantação de governos nacionalistas.
2. (2014)
Texto I
O presidente do jornal de maior circulação
do país destacava também os avanços econô-
micos obtidos naqueles vinte anos, mas, ao
justificar sua adesão aos militares em 1964,
deixava clara sua crença de que a intervenção
fora imprescindível para a manutenção da de-
mocracia.
Disponivel em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 1 set. 2013 (adaptado).
Texto II
Nada pode ser colocado em compensação
à perda das liberdades individuais. Não exis-
te nada de bom quando se aceita uma solução
autoritária.
FICO, C. A educação e o golpe de 1964. Disponível em: www.brasilrecente.com. Acesso em: 4 abr. 2014 (adaptado).
Embora enfatizem a defesa da democracia, as
visões do movimento político-militar de 1964
divergem ao focarem, respectivamente:
a) Razões de Estado – Soberania popular.
b) Ordenação da Nação – Prerrogativas reli-
giosas.
c) Imposição das Forças Armadas – Deveres
sociais.
d) Normatização do Poder Judiciário – Regras
morais.
e) Contestação do sistema de governo – Tradi-
ções culturais.
3. (2010)
Ato Institucional nº 5
Art. 10 – Fica suspensa a garantia de habeas
corpus, nos casos de crimes políticos, contra a
segurança nacional, a ordem econômica e so-
cial e a economia popular.
Art. 11 – Excluem-se de qualquer apreciação
judicial todos os atos praticados de acordo com
este Ato Institucional e seus Atos Complemen-
tares, bem como os respectivos efeitos.
Disponível em: http://www.senado.gov.br. Acesso em: 29 jul. 2010.
Nos artigos do AI-5 selecionados, o governo
militar procurou limitar a atuação do Poder
Judiciário, porque isso significava
a) a substituição da Constituição de 1967.
b) o início do processo de distensão política.
c) a garantia legal para o autoritarismo dos juízes.
d) a ampliação dos poderes nas mãos do Exe-
cutivo.
e) a revogação dos instrumentos jurídicos im-
plantados durante o regime militar de 1964.
X
X
X
Ver respostas e orientações
no Manual do Professor.
60
QUESTÕES DO ENEM NÃO ESCREVA NO LIVRO
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 60V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 60 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
• Com base em todo o conteúdo trabalhado ao longo do capítulo, retome as perguntas da situa-
ção-problema inicial e reveja suas respostas:
a) Você mudaria sua resposta em relação aos fatores que podem explicar o voto de uma parce-
la da população (nulos, brancos e abstenções)? Se sim, em que mudaria?
b) E sobre as outras formas de participação política, você manteria, mudaria ou complementa-
ria a resposta que foi dada? Veja as respostas no Manual do Professor
Retome o contexto
Esquema elaborado pelos autores.
Ditadura Democracia
Caudilhismo na
América Latina
Período democrático
após o Estado Novo
Estado NovoMovimentos sociais
na América Latina
Ditaduras militares
na segunda metade
do século XX
Redemocratização
após o fim da
ditadura
61
VOCÊ PRECISA SABERNÃO ESCREVA NO LIVRO
61
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 61V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap1_016a061.indd 61 24/09/2020 10:5224/09/2020 10:52
OBJETIVOS• Reconhecer a renda média do trabalho como indicador
de inserção social e dado que revela a desigualdade social.
• Compreender a particularidade dos desafios da mulher na inserção e valorização no mercado de trabalho.
• Reconhecer o papel do preconceito e do racismo como mecanismos que dificultam a ascensão social e econômica de grupos minoritários.
• Refletir sobre as diferentes formas de exclusão e opressão às quais estão submetidos as mulheres, os afrodescendentes, os indígenas, os idosos e os jovens.
JUSTIFICATIVAA cidadania é desigualmente exercida pela população brasileira em variados contextos, tanto espacial quanto etário, de sexo ou gênero e ainda de cor, raça ou etnia. Apesar das grandes conquistas e dos avanços em nosso sistema legal para a promoção do reconhecimento das diferenças e necessidades dos variados segmentos sociais no país, a vida cotidiana das denominadas minorias sociais (categoria sociológica), que não correspondem necessariamente às minorias numéricas, ainda está muito distante dos segmentos privilegiados, como grupos de brancos, sobretudo homens adultos. E isso se manifesta de forma explícita em como essas minorias são vistas e (des)valorizadas socialmente e materializadas em diferentes indicadores sociais, como trabalho, renda e violência.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA BNCC• Competências gerais da Educação Básica:
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9 e CG10.
• Competências e habilidades específicas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: Competência 1: EM13CHS101 e EM13CHS102. Competência 4: EM13CHS402 e EM13CHS403. Competência 5: EM13CHS502 e EM13CHS503. Competência 6: EM13CHS601 e EM13CHS606.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS
Economia• Trabalho
Cidadania e Civismo• Processo de envelhecimento, respeito e valorização
do idoso
Multiculturalismo• Diversidade cultural
Saúde• Saúde
É bastante comum naturalizarmos comportamen-
tos e valores construídos historicamente e deixarmos
de identificar alguns traços, características e mesmo
contradições de hábitos em nosso cotidiano e em nos-
sa cultura. Isso pode ser percebido no encontro com
pessoas de outras culturas, no olhar estrangeiro sobre
nós, que nos ajudam a enxergar aquilo que muitas ve-
zes está diante de nossos olhos, mas que não nos cha-
ma atenção.
O jornal Folha de S.Paulo realizou um projeto de di-
vulgação de entrevistas escritas e gravadas com imi-
grantes que vivem em São Paulo (SP) e contam suas
impressões sobre a cidade e o povo brasileiro.
Leia a seguir recortes das entrevistas de alguns de-
les, concedidas em 2019 e 2020. Em seguida, faça o
que é pedido.
“A Noruega precisa de um pouco do jeitinho bra-
sileiro” Guru Amundsen Nygaard, Noruega (sexo fe-
minino).
“Por que vocês não se tratam tão bem quanto tra-
tam os estrangeiros?” Carles Cansino, Espanha (sexo
masculino).
“No meu país mulheres negras ocupam cargos
bons” Renéé Rossa Londja, Guiana (sexo feminino).
“A vida aqui é mais fácil para as mulheres” Ayesha
Saeed, Paquistão (sexo feminino).
“Casei com uma brasileira. Ela é evangélica; eu
muçulmano. Não dá problema nenhum” Mour Seck,
Senegal (sexo masculino).
Contexto
Desafios para
construção da justiça
social no Brasil2
CAPÍTULO
CAPÍTULO
NÃO ESCREVA NO LIVRO
62
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 62V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 62 24/09/2020 19:4624/09/2020 19:46
“No meu segundo dia no Brasil, entrei num bloco de Carnaval sem sa-
ber o que era. Dei meu primeiro beijo” Hajam Elyoussef, Síria (sexo mas-
culino).
“O Brasil é bom para velhos. Tem muita coisa grátis pro idoso. No Japão
não é igual aqui” Sumio Takai, Japão (sexo masculino).
“Vim pro Brasil, sozinha, com 15 anos. Trabalhei o primeiro ano inteiro
sem receber” Jenny, Pamela e Abigail Llanque, Bolívia (sexo feminino).
MANTOVANI, Flávia; SANTOS, Bruno; ALMEIDA, Thiago. Imigrantes de sp.
Folha de S.Paulo. São Paulo, 2019-2020. Disponível em: https://arte.folha.uol.com.br/
mundo/2019/imigrantes-sp/. Acesso em: 30 jul. 2020.
1. Em grupo, comentem a fala dos imigrantes, considerando:
a) Quais relatos são experiências positivas e quais são negativas?
b) Quais experiências podem ter sido individualmente positivas, mas que
não são necessariamente positivas para os brasileiros?
c) Os depoimentos reforçam imagens estereotipadas do país ou são real-
mente representativas do que acontece por aqui?
d) O país de origem e o sexo de cada autor do relato podem interferir na
avaliação da experiência que tiveram no Brasil? Expliquem.
2. Elabore um registro pessoal sobre suas impressões e revelações a res-
peito das características da sociedade brasileira, especialmente aquilo
que distingue o tratamento e as oportunidades dadas às minorias sociais
(mulheres, afrodescendentes, indígenas, idosos e jovens).Veja as respostas no Manual do Professor.
Em razão do processo de formação do povo brasileiro, no país, convivem pessoas com traços físicos e até hábitos culturais diferentes. Mas as oportunidades de vida não são as mesmas para todos.
Ang
elin
a B
am
bin
a/S
hutt
ers
tock
63
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 63V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 63 24/09/2020 10:5424/09/2020 10:54
Diversidade, particularidades e igualdade
A efetivação da cidadania deve se manifestar na vida cotidiana das pesso-
as. A inserção desse valor no conjunto de leis e normas que regem as mais
variadas instituições é um dos passos essenciais para que todos tenham seus
direitos garantidos. Princípios que devem ser incorporados pela nossa cultura
e a partir dos quais conduzimos todas as nossas ações no mundo público.
O desafio que vivemos atualmente é fazer valer na prática os direitos con-
quistados e que estão registrados em nossas leis, como na Constituição Fe-
deral de 1988, chamada Constituição Cidadã. Ao lançarmos um olhar mais
atento aos vários segmentos sociais, que historicamente nunca desfrutaram
de reconhecimento, oportunidades e direitos em sua totalidade, percebemos
o quanto, na prática, a cidadania plena ainda está distante para muitos e que
novas conquistas e mudanças de comportamento são necessárias.
Uma boa forma para avaliar o quanto a cidadania é vivida plenamente pe-
las pessoas é examinar os lugares sociais que os diferentes segmentos da
sociedade ocupam. Nesse aspecto, destaca-se a inserção no mundo do tra-
balho em razão de sua importância simbólica, o status que aufere e também
a condição material que ele proporciona por meio do salário, da renda.
Os tipos de profissão, emprego, jornada e remuneração são muito variados.
A reunião de dados estatísticos nos possibilita afirmar que essas diferenças
não se dão apenas em razão do mérito e da competência de cada indivíduo.
Eles revelam padrões que diferenciam homens, mulheres, brancos, negros, in-
dígenas, jovens e idosos, entre outros, e, portanto, têm razões históricas.
Fonte: elaborado
com base em
IBGE. Pnad, 2017.
Brasil: médias salariais – 2017
0
500
1.000
Brasil
2.178
1.868
2.410
Mulheres Homens Brancos Pretos Pardos
1.500
2.500
2.000
3.000
(em
re
ais
)
2.814
1.570 1.606
Fórm
ula
Pro
duções/A
rquiv
o d
a e
ditora
1. Qual é o percentual da diferença de média salarial entre o grupo social de
média mais elevada e o grupo social de média mais baixa?
2. Que inferência pode ser feita sobre a média salarial ao se associar dois indicadores
de distinção social, a cor e o sexo? Ou seja, qual grupo provavelmente tem maior
e menor média salarial ao considerar homens brancos, homens pretos, homens
pardos, mulheres brancas, mulheres pretas, mulheres pardas?
NÃO ESCREVA NO LIVRO
Veja as respostas no
Manual do Professor.
Interpretar
64
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 64V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 64 24/09/2020 10:5424/09/2020 10:54
Emancipação das mulheres
As mulheres e os homens, historicamente, possuem funções diferentes
na realização do trabalho. Isso é o que chamamos de divisão sexual do tra-
balho. Nos primórdios da história, essa divisão não era hierárquica (ou seja,
uma função não era considerada mais importante do que outra), e sim, com-
plementar. Se pensarmos, por exemplo, nas sociedades em que os homens
eram responsáveis por caçar animais selvagens e as mulheres, pela colhei-
ta, ambos os trabalhos eram considerados igualmente importantes para a
sobrevivência da comunidade. Assim, a divisão sexual do trabalho não foi
desde sempre (nem é em nenhuma sociedade, mesmo nos dias de hoje...)
indício de desigualdade.
Atualmente, é grande o número de mulheres que também trabalham fora
de casa em busca do sustento de sua família ou para complementar a renda
familiar. O aumento do trabalho assalariado feminino representa, sem dúvi-
da, um aspecto fundamental no processo de emancipação da mulher em so-
ciedades ocidentais capitalistas. Mas será que isso a coloca em posição de
igualdade em relação ao homem na nossa sociedade? Diversos estudiosos
afirmam que sobre a força de trabalho feminina existe, em maior intensida-
de, precarização e exploração. Vamos tentar entender, agora, o que isso quer
dizer, como e por que isso acontece.
Em maio de 1955, a revista Housekeeping Monthly publicou o artigo “O guia da boa esposa”, no qual ditava o que a mulher deveria fazer para ser prestativa com seu marido e filhos.
SS
PL/S
cie
nce M
useum
/Gett
y I
mage
s
65
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 65V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 65 24/09/2020 10:5424/09/2020 10:54
Trabalho não é a mesma coisa que em-
prego. Há diversas formas de trabalho que
não são necessariamente remuneradas.
O trabalho doméstico, por exemplo, é uma
delas. Não estamos falando do trabalho
realizado por diaristas ou empregadas do-
mésticas, mas aquele que as pessoas rea-
lizam em sua própria casa.
Você já reparou que as pessoas que
têm um trabalho que gera riqueza são con-
sideradas bem-sucedidas e aquelas que
recebem pouco (ou nada) pelo trabalho
que produzem são vistas de forma inferio-
rizada pela sociedade? Quando perguntamos a uma criança “o que você quer
ser quando crescer?”, referimo-nos à qual profissão ela vai escolher para
exercer no futuro. Em outras palavras, seria quase a mesma coisa que per-
guntar: “qual profissão você quer ter para ganhar dinheiro quando crescer?”.
Você percebe que comumente partimos do pressuposto de que a criança
deve ter ambições, que essas ambições devem estar relacionadas a quanto
prestígio social ela vai ter e que esse prestígio está diretamente relacionado
a quanto dinheiro vai ganhar?
Recentemente os meios de comunicação de massa passaram a veicular mais imagens de homens e mulheres dividindo os afazeres domésticos. Entretanto, não é incomum essa atividade ser considerada de responsabilidade da mulher, atribuindo ao homem o papel de ajudante.
Para muitas mulheres, trabalhar fora de casa representa uma busca por liber-
dade, pois, só assim, elas não dependerão economicamente do marido nem de
familiares e vão alcançar, de fato, sua autonomia. O problema é que nem todas
as mulheres conseguem alcançar o mercado de trabalho e grande parte delas,
quando consegue, recebe salários menores do que os recebidos pelos homens
e, até mesmo, em alguns casos, exercendo a mesma função. Além disso, traba-
lhar fora de casa não garante, necessariamente, a autossuficiência econômica.
Peanuts
, C
harles S
chulz
© 1
960 P
eanuts
Worldw
ide L
LC
./D
ist.
by A
ndre
ws M
cM
eel S
yn
dic
ation
Pro
sto
ck-s
tud
io/S
hutt
ers
tock
66
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 66V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 66 24/09/2020 10:5424/09/2020 10:54
Grupamentos ocupacionais
Rendimento médio habitual do trabalho
principal (R$)
Participação de mulheres
na população ocupada (%)
Percentual de horas trabalhadas na semana
de referência pelas mulheres em relação ao
de homens (%)
Razão do rendimento médio habitual* de
mulheres em relação ao de homens (%)Homem Mulher
Total 2 491 1 978 45,6 88,4 79,4
Diretores e gerentes 6 216 4 435 41,8 95,5 71,3
Profissionais das ciências e intelectuais
5 890 3 819 63,0 90,3 64,8
Técnicos e profissionais de nível médio
3 320 2 386 45,2 95,4 71,9
Trabalhadores de apoio administrativo
2 071 1 785 64,5 97,2 86,2
Trabalhadores dos serviços, vendedores dos comércios e mercados
1 958 1 295 59,0 88,0 66,2
Trabalhadores qualificados da agropecuária, florestais, da caça e da pesca
1 397 999 21,1 82,6 71,5
Trabalhadores qualificados, operários e artesãos da construção, das artes mecânicas e outros ofícios
1 752 1 150 16,2 83,0 65,7
Operadores de instalações de máquinas e montadores
1 895 1 303 13,8 92,3 68,8
Ocupações elementares 1 060 951 55,3 86,1 89,8
Membros das Forças Armadas, policiais e bombeiros civil-militares
5 301 5 338 13,2 89,8 100,7
* Rendimento médio habitual do trabalho principal da população de 25 a 49 anos de idade ocupada na semana de referência, por sexo, segundo os grupamentos ocupacionais, participação de mulheres na ocupação e razão (%) do rendimento de mulheres em relação ao de homens – Brasil – 4º trimestre – 2018.
Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua. Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/
23923-em-2018-mulher-recebia-79-5-do-rendimento-do-homem. Acesso em: 30 jul. 2020.
1. As maiores desigualdades de remuneração entre homens e mulheres são observadas em que tipos de ocupação? Que hipóteses podem explicar esse fato?
2. Dos grupos ocupacionais listados na tabela, em quais a participação das mulheres é inferior? O que poderia explicar isso?
3. É possível relacionar gênero e formação escolar? Explique dando exemplos da tabela.Ver respostas e orientações
no Manual do Professor.
Interpretar
Apesar da crescente participação da mulher no mercado de trabalho, seu percentual de remuneração é bem menor do que o auferido pelo tra-balho masculino, assim como seus direitos e suas condições laborais. Ao trabalho feminino, no geral, têm sido reservadas áreas de trabalho intensi-vo. As áreas de maior desenvolvimento tecnológico ainda são destinadas majoritariamente ao trabalhador masculino. Assim, a expansão do trabalho feminino tem se verificado, especialmente, em atividades mais precariza-das ou informais e, ainda, com jornadas mais prolongadas.
NÃO ESCREVA NO LIVRO
67
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 67V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 67 24/09/2020 10:5424/09/2020 10:54
A mulher trabalhadora, em geral, pos-
sui dupla ou tripla jornada porque, além de
trabalhar fora, “deve” também cuidar das
tarefas da casa e dos filhos. Mesmo em fa-
mílias que buscam dividir igualitariamente
as funções domésticas, é comum ouvirmos:
“ele é um ótimo marido, ajuda a esposa em
suas tarefas”. O trabalho doméstico ainda é
visto como função exclusiva da mulher. Por
mais emancipadas que as mulheres de hoje
sejam em relação às mulheres de gerações
mais antigas, essa emancipação é apenas
parcial, porque o seu trabalho ainda não é
valorizado igualitariamente ao dos homens
ou, ainda, muitas vezes, nem é percebido
como trabalho quando é do tipo doméstico.
Há ainda outro problema: não raras vezes, o trabalho feminino está mais di-
retamente ligado à autopreservação do que à autorrealização, principalmen-
te em se tratando de mulheres de classes de baixa renda. Com dupla ou tripla
jornada de trabalho, sem tempo para o lazer, sem independência econômica e,
geralmente, empregada em um trabalho alienante, será possível a mulher se
sentir realizada? Vivemos em uma sociedade de consumo e, portanto, acre-
ditamos que o trabalho só é importante se der conta de nossas necessidades
materiais, daí a desvalorização do trabalho feminino quando enquadrado na
condição de trabalho doméstico. Receber um salário pequeno ou não receber
nenhum salário é sinônimo de fracasso pessoal, de insucesso.
E se considerássemos o trabalho como uma forma de contribuir para a so-
ciedade, como um exercício de criatividade? E se pudéssemos experimentar a
satisfação de desempenhar tarefas que nos beneficiam e aos demais, será que
encararíamos o trabalho como
algo estressante, depressivo ou
degradante? Os trabalhadores do
lar são inferiorizados em relação
aos outros, como se fosse um
trabalho menor, e acabam, por
isso, se sentindo menos impor-
tantes. Se, em vez de valorizar-
mos apenas a riqueza material,
pudéssemos valorizar a impor-
tância que o trabalho tem para a
comunidade como um todo, se o
trabalho que exercemos pudesse
funcionar como forma de afirma-
ção (e não de negação) da nossa
identidade, será que sofreríamos
da mesma forma?
O trabalho doméstico no Brasil é historicamente exercido pelas mulheres negras. Faxineiras e diaristas são majoritariamente mulheres negras. Apenas em 2015 foi promulgada a lei garantindo direitos trabalhistas às pessoas que exercem essa profissão. Desde o período colonial, mulheres negras são responsáveis pelas atividades mais fundamentais, desde a organização da casa até a amamentação das crianças, mesmo que não fossem seus filhos. Na imagem Mãe preta do pintor Lucílio de Albuquerque (1877-1939).
Apesar de vivermos em uma sociedade declaradamente competitiva, nem sempre os termos dessa competição são justos com as pessoas envolvidas, como ocorre na competição entre homens e mulheres no mercado de trabalho.
Repro
dução/M
useu d
e A
rte M
odern
a
©2
02
0 C
arlín
/La R
ep
úb
lica
68
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 68V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 68 24/09/2020 10:5424/09/2020 10:54
Leia a seguir a opinião de duas ativistas pela conquista de direitos civis
sobre a remuneração do trabalho doméstico:
Texto I
O Movimento pela Remuneração das Tarefas Domésticas desencora-
java as mulheres de procurar empregos fora de casa, argumentando que
“a escravidão a uma linha de montagem não é libertação da escravidão
de uma pia de cozinha”. Entretanto, as porta-vozes da campanha insis-
tem que não defendem o aprisionamento contínuo das mulheres no am-
biente isolado da sua casa. Elas alegam que, embora se recusem a tra-
balhar no mercado capitalista em si, não desejam atribuir às mulheres
a responsabilidade permanente pelas tarefas domésticas. [...] Assim que
as mulheres conquistarem o direito de serem pagas por seu trabalho,
elas poderão levantar reivindicações por salários mais altos, obrigando,
assim, os capitalistas a promover a industrialização das tarefas domés-
ticas. Seria essa uma estratégia concreta para a libertação feminina ou
um sonho irrealizável?
DAVIS, Angela. Mulheres, raça e classe. São Paulo: Boitempo, 2016.
Texto II
Muitas mulheres realizam atividades de serviço no mercado de tra-
balho, sendo mal remuneradas ou não tendo nenhum tipo de remu-
neração (como no trabalho doméstico). O trabalho doméstico e outros
tipos de atividade de serviço são especialmente desvalorizados no capi-
talismo patriarcal. As ativistas feministas que defendem o pagamento
de salário às donas de casa viram nisso uma forma de dar à mulher
algum poder econômico e de atribuir valor ao seu trabalho. Mas parece
improvável que remunerar o trabalho doméstico possa levar a socieda-
de a atribuir valor a esse tipo de tarefa, uma vez que, em geral, as ati-
vidades de serviço não são valorizadas, independentemente de serem
remuneradas ou não. E quando há remuneração, as pessoas que fazem
esse tipo de trabalho continuam sendo exploradas psicologicamente.
Assim como o trabalho doméstico, as atividades que desempenham são
estigmatizadas como degradantes. [...] Se as mulheres recebessem salá-
rios pelo trabalho doméstico, é improvável que um dia ele deixasse de
ser designado como “trabalho de mulher” e passasse a ser reconhecido
como uma atividade importante.
HOOKS, Bell. Teoria feminista: da margem ao centro. São Paulo: Perspectiva, 2019.
1. Por que algumas
ativistas
feministas viram
na remuneração do
trabalho doméstico
uma forma de
emancipação
feminina? Quais
argumentos são
defendidos por
elas?
2. Por que a autora
do texto II acredita
ser “improvável
que remunerar
o trabalho
doméstico possa
levar a sociedade
a atribuir valor
a esse tipo de
tarefa”? Que
argumentos ela
defende?
3. Em sua opinião, a
remuneração do
trabalho doméstico
pode ser uma
alternativa para a
desigualdade de
gênero? Explique?
Veja as respostas no
Manual do Professor.
Interpretar
NÃO ESCREVA NO LIVRO
Vida Maria. Direção: Márcio Ramos. Brasil, 2007.
O curta-metragem de animação conta a história de uma menina
de 5 anos de idade que se diverte aprendendo a escrever o próprio
nome. Como as mulheres das gerações mais antigas de sua família,
Maria se vê obrigada a abandonar os estudos para cuidar dos
afazeres domésticos e trabalhar na roça.
Saber
Repro
dução/T
rio F
ilmes
69
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 69V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 69 24/09/2020 10:5424/09/2020 10:54
A inclusão de negros e indígenas
Negros
Assim como as mulheres em relação aos homens, a população negra bra-
sileira também tem menos acesso ao mercado de trabalho do que a popula-
ção branca. Negros vivem, estudam e ganham menos do que os brancos. O
Brasil possui, segundo dados do IBGE (Pnad 2019), mais da metade da sua
população formada por pretos (9,4%) e pardos (46,8%), na terminologia des-
te órgão para a autodeclaração dos entrevistados.
Como vimos no início deste capítulo, os negros são ainda o segmento
social mais inferiorizado considerando a média de remuneração, segundo o
critério raça ou cor. Em 2017, segundo dados do IBGE (Pnad 2017), o registro
da renda média do trabalho apontava grande desigualdade: R$ 1.570,00 para
pretos, R$ 1.606,00 para pardos e R$ 2.814,00 para brancos. Ainda nesse
mesmo período, pesquisas apontavam que, dos 13 milhões de desemprega-
dos no Brasil, 64% eram negros. No terceiro trimestre de 2018, o número de
desemprego era mais alto entre os pardos (13,8%) e pretos (14,6%) do que
entre os brancos (11,9%). Veja no gráfico a seguir como essa desigualdade
varia de acordo com a escolaridade.
1. Qual é o percentual de diferença de renda média, aferido por hora, entre brancos e pretos e pardos?
2. Em qual nível de escolaridade a diferença de rendimento é maior? Qual é a sua hipótese para explicar essa situação?
Veja as respostas no
Manual do Professor.
Interpretar
NÃO ESCREVA NO LIVRO
IBGE. Conheça o Brasil
– População e raça. Disponível em: https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/18319-cor-ou-raca.html. Acesso em: 4 set. 2020.
Políticas foram implementadas no Brasil, nas últimas décadas, para dimi-
nuir essa diferença gritante, como as cotas “raciais” para o ingresso em uni-
versidades públicas. Ainda assim, apesar da relevância desse tipo de medida
para aumentar a participação do negro nesses espaços de aprendizagem,
ele não consegue romper por si só, de fato, os obstáculos e desafios profis-
sionais enfrentados pelos afrodescendentes.
Brasil: rendimento por hora – média real do trabalho principal – 2019
0
5
20
Total
Branca
Sem instrução
ou fundamental
completo
Fundamental
completo ou
médio
incompleto
Médio
completo
ou superior
incompleto
superior
completo
25
35
(R$/hora)
Por raça ou cor
30
10
15
Preta ou parda
Fonte: elaborado com base em Desigualdades sociais por cor ou raça no Brasil: Pretos ou pardos recebem menos do que
os brancos independentemente do nível de instrução. EcoDebate, 14 nov. 2019. Disponível em: www.ecodebate.com.br/
2019/11/14/desigualdades-sociais-por-cor-ou-raca-no-brasil-pretos-ou-pardos-recebem-menos-do-que-os-brancos-
independentemente-do-nivel-de-instrucao/. Acesso em: 30 jul. 2020.
Fórm
ula
Pro
duções/A
rquiv
o d
a e
dito
ra
70
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 70V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 70 24/09/2020 10:5424/09/2020 10:54
Mesmo quando conseguem ingressar
na faculdade, os negros têm mais difi-
culdade de acesso à formação comple-
mentar e de encontrar estágios voltados
à área de sua formação acadêmica. E,
quando conseguem concluir o curso, di-
versas barreiras dificultam o ingresso no
mercado de trabalho. No setor bancário,
apenas 20% dos trabalhadores são ne-
gros e raramente participam de cargos
de diretoria, exercendo quase sempre
funções de produção.
Essa desigualdade, mesmo após
mais de 130 anos da abolição da escravi-
dão, é resultado do racismo estrutural da
sociedade brasileira. Veja o que diz sobre
isso o filósofo e advogado negro Silvio Al-
meida (1976-):
Em resumo: o racismo é uma de-
corrência da própria estrutura social,
ou seja, do modo “normal” com que se
constituem as relações políticas, eco-
nômicas, jurídicas e até familiares, não
sendo uma patologia social e nem um
desarranjo institucional. [...]
O que queremos enfatizar do ponto
de vista teórico é que o racismo, como
processo histórico e político, cria as con-
dições sociais para que, direta ou indire-
tamente, grupos racialmente identificados sejam discriminados de forma
sistemática. Ainda que os indivíduos que cometam atos racistas sejam res-
ponsabilizados, o olhar estrutural sobre as relações sociais nos leva a con-
cluir que a responsabilização jurídica não é suficiente para que a sociedade
deixe de ser uma máquina produtora de desigualdade racial.
ALMEIDA, Silvio. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2018. p. 38-39.
Além de todas essas dificuldades, os pretos e pardos ainda precisam
enfrentar outra: a violência. Dados do Mapa da Violência de 2018, estudo
realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o Fórum
Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) evidenciam o nosso racismo estru-
tural: em 2017, 75,5% das vítimas de homicídios eram indivíduos negros.
Em dez anos (2007 a 2017), a taxa de mortes de negros cresceu 33,1%
comparada à de não negros, que cresceu 3,3%.
Em decorrência do racismo estrutural e institucional que existe em nosso
país, a cor da pele, muitas vezes, é fator de exclusão para o ingresso no mer-
cado de trabalho.
1. Defina, com suas palavras, o que é racismo estrutural.
2. Dê exemplos do cotidiano (pelos olhares, gestos, palavras e comportamentos) que estão associados ao racismo estrutural.
Veja as respostas no
Manual do Professor.
Interpretar
NÃO ESCREVA NO LIVRO
Alo
isio
Mauricio
/Foto
are
na
Alic
e V
erg
ueiro/F
utu
ra P
ress
Alunos da Universidade de São Paulo (USP) em 2017, ano anterior à adoção do sistema de cotas sociais e raciais.
Preparativos para assembleia de alunos da Faculdade de Direito da USP, em 2015, em apoio à adoção de cotas sociais e raciais pela universidade.
71
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 71V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 71 24/09/2020 10:5424/09/2020 10:54
O ingresso no mercado de trabalho para a mulher negra é ainda mais di-
fícil. Diferentemente das brancas, as mulheres negras sabiam, pela própria
experiência, que o trabalho não necessariamente as libertava ou era indício
de realização pessoal porque, na maioria dos casos, elas foram, ao longo de
séculos, exploradas ou desumanizadas. Além disso, o crescente ingresso
das mulheres na força de trabalho nunca significou, de fato, que as mulheres
como um todo estavam adquirindo poder econômico. Se, na nossa socieda-
de, como vimos, há desvantagem em ser mulher e há desvantagem em ser
negro, a mulher negra encontra-se numa posição duplamente vulnerável.
IndígenasAo falarmos das populações indígenas, paira no imaginário social uma
ideia generalizante, como se elas fossem um único povo. Os equívocos mais
frequentes sobre os povos originários são:
• apenas uma representação de índio, genérico, desconsiderando a diversi-
dade de povos, culturas e línguas dos indígenas que vivem no Brasil;
• a ideia de que possuem “culturas atrasadas”, que estão em “estágio civili-
zatório” inferior ou anterior ao da cultura branca ocidental;
• a concepção de que têm “culturas congeladas”, ou seja, que vivem e pen-
sam hoje como viviam e pensavam há 500 anos;
• que os índios pertencem apenas ao passado e hoje não protagonizam
ações constituintes da sociedade brasileira em toda sua complexidade, até
mesmo produtiva (mundo intelectual e mundo do trabalho, por exemplo);
• que os índios não são brasileiros e que a população brasileira não é resul-
tado da contribuição dos variados povos originários.
Segundo dados do IBGE, a partir dos censos realizados entre 1991 e
2010, há 305 etnias e 274 línguas indígenas reconhecidas no Brasil. As
diversas tradições e estruturas sociais contribuem para a diversidade e a
riqueza cultural do país.
Garis em greve na cidade do Rio de Janeiro, em 2014, onde cerca de metade da população é composta de negros. Porém, observe que na foto quase não há brancos fazendo esse tipo de trabalho, de grande relevância pública, mas pouco valorizado socialmente.
Estrelas além do
tempo. Direção: Theodore Melfi. Estados Unidos, 2016.
História do protagonismo e relevância de três cientistas negras da Nasa durante a Guerra Fria para o êxito dos Estados Unidos no embate com a então União Soviética.
Saber
Re
pro
dução
/Fox F
ilm d
o B
rasil
Arq
uiv
o/M
idia
NIN
JA
72
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 72V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 72 24/09/2020 10:5524/09/2020 10:55
Além disso, há muitos povos originários brasileiros inseridos em ambien-
tes urbanos, como evidencia o gráfico a seguir.
Fonte: elaborado com base em NASCIMENTO, Adir Casaro; VIEIRA, Carlos Magno Naglis. O índio e o espaço urbano: breves
considerações sobre o contexto indígena na cidade. Cordis. História: Cidade, Esporte e Lazer, São Paulo, n. 14,
p. 118-136, jan./jun. 2015. Disponível em: https://revistas.pucsp.br/index.php/cordis/article/viewFile/26141/18771.
Acesso em: 30 jul. 2020.
* Pessoas que declararam ser de cor ou raça indígena. ** Havia no estado do Amazonas 168 680 indígenas.
Fonte: elaborado com base em IBGE
Educa. Conheça o Brasil. População –
Indígenas. Disponível em: https://educa.
ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/
populacao/20506-indigenas.html.
Acesso em: 30 jul. 2020.
1. Segundo o mapa, quais estados brasileiros apresentam maior número de indígenas? O que poderia explicar isso?
2. Descreva a evolução da distribuição espacial do indígena entre a área urbana e a rural de acordo com o gráfico. Levante hipóteses para explicar a grande diferença de números entre os dados de 1991 e de 2010.
3. Segundo o mapa, qual é a quantidade de indígenas que vivem no estado onde você vive? Comparando com a população do Brasil, esse número é alto ou baixo? E comparando com o total da população do estado em que você mora?
Veja as respostas e orientações
no Manual do Professor.
InterpretarNÃO ESCREVA NO LIVRO
Brasil: distribuição da população indígena* — 2010
PE
São Gabriel
da Cachoeira
29017
São Paulo
de Olivença
14947
Tabatinga
14855
PA
TO
MG
RJ
GO
DF
SP
MA
PI
CE RN
PB
ALSE
BA
ES
MT
MS
PR
RS
SC
AM
RO
AC
APRR
55° O
0°
OCEANOATLÂNTICO
OCEANOPACÍFICO
Trópico de
Equador
Capricórnio
0°
De 2000 a 9999
Quantidade de indígenas por unidade da federação
De 10000 a 19999
De 20000 a 39999
De 40000 a 79999
Mais de 79999*
* Havia no estado do Amazonas
168680 indígenas.
Municípios com a maior
quantidade de indígenas0 625 1250
km
Port
al d
e M
ap
as/A
rqu
ivo
da e
ditora
Brasil: população indígena — 1991-2010
0
100 000
200 000
Terra indígena
300 000
500 000
400 000
600 000
1991 2000 2010
Área urbana
A inserção das populações indígenas urbanas no mercado de trabalho, ape-
sar das políticas afirmativas que ao longo do tempo foram sendo implemen-
tadas (como cotas para populações indígenas em algumas universidades e
cargos públicos), ainda é precária. Os estereótipos em torno da representa-
ção dos povos originários brasileiros não são condizentes com a realidade
– corpo nu, pintado, com cocar e adereços, muitas vezes idêntico à de nativos
estadunidenses dos filmes de Hollywood, ou mesmo a ideia, que gerações
mais antigas de brasileiros aprenderam na escola, do “índio” como preguiço-
so, infantilizado ou incapaz – e em nada contribuem para a sua inclusão.
Fórm
ula
Pro
duções/A
rquiv
o d
a e
dito
ra
73
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 73V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 73 24/09/2020 10:5524/09/2020 10:55
A desigualdade em relação às populações não indígenas, quando o assun-
to é a inserção no mercado de trabalho, é evidente. Para conseguir emprego,
muitos chegam a camuflar as suas origens e conseguem apenas vagas mal
remuneradas.
• Segundo o antropólogo brasileiro Darcy Ribeiro (1922-1997), autor do livro O povo
brasileiro, para que haja a democracia racial é necessário, antes de tudo, que haja uma democracia social. A partir do estudo que fizemos até agora sobre a inclusão das mulheres, dos negros e das populações indígenas no Brasil, podemos afirmar que somos bem-sucedidos como sociedade? Conseguimos alcançar, de fato, uma democracia social? Veja a resposta no Manual do Professor.
Conversa
Há uma considerável demanda por parte de indígenas pela integração no mercado de trabalho. Isso é também consequência das condições precarizadas de vida (e de trabalho) em que muitas pessoas dessas populações se encontram. Na primeira foto, radialista indígena da etnia terena apresentando programa de rádio na Aldeia Córrego do Meio, em Sidrolândia, 2015. Na segunda, indígena trabalhando em seu atelier. em Garopaba, SC, 2020.
Em Barra do Garças (MT), por exemplo, os Xavante não estão inseridos
em organizações, comércio, indústria; a predominância da população econo-
micamente ativa indígena está em serviços públicos, como Funai e Funasa,
e nas próprias aldeias. Simão Tsesó ódi Tsórópsé, em entrevista à Revista
Panorâmica On-Line, de 2017, afirma:
[...] deixamos currículos nas empresas de Barra das Garças, e percebe-
mos que mesmo que nossos conhecimentos sejam de igual formação e
experiência, sempre são escolhidos os currículos do homem branco, não
conseguimos entender por que a sociedade e o mercado de trabalho faz
essa distinção com o índio.
MEDINA, Alessandro; FERREIRA, Camila Rodrigues Viana. O índio urbano: a perspectiva
do índio xavante junto ao mercado de trabalho em Barra do Garças/MT.
Revista Panorâmica On-Line. Barra do Garças, MT, v. 23, p. 245-254, jul./dez. 2017.
NÃO ESCREVA NO LIVRO
Ed
uard
o Z
app
ia/P
uls
ar
Imag
en
s
Cassand
ra C
ury
/Puls
ar
Imag
en
s
74
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 74V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 74 24/09/2020 10:5524/09/2020 10:55
Os idosos
A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera idosa a pessoa com
60 anos ou mais. Ter um elevado número de pessoas nessa faixa etária é
hoje, para o Brasil, um grande desafio, que tende a aumentar ao longo das
próximas décadas, porque está ocorrendo, segundo o IBGE, uma elevação
no índice de envelhecimento da população. Segundo a pesquisa Projeção da
População, atualizada pelo IBGE em 2018, em 2043 um quarto da população
brasileira será de idosos. Atualmente, os idosos contabilizam cerca de 28 mi-
lhões de pessoas, 13% do total da população brasileira.
Brasil: número de jovens e de idosos e índice de envelhecimento (IE) – 2010-2060
0
Núm
ero
de p
esso
as
Índi
ce d
e En
velh
ecim
ento
s (I
E)
0
10 000 000
30 000 000
20 000 000
20
10
20
12
20
14
20
16
20
18
20
20
20
22
20
24
20
26
20
28
20
30
20
32
20
34
20
36
20
38
20
40
20
42
20
44
20
46
20
48
20
50
20
52
20
54
20
56
20
58
20
60
IE 0-14 anos
50 000 000
40 000 000
70 000 000
60 000 000
80 000 000 250
200
150
100
50
Números de jovens (0-14 anos) e de idosos(60 anos e mais) e Índice de Envelhecimento (IE)
Brasil: 2010-2060
60 anos e mais
Fonte: IBGE, Projeções de população
(revisão 2018). In: ALVES, José
Eustáquio Diniz. O envelhecimento
populacional segundo as novas
projeções do IBGE. EcoDebate, 31 ago.
2018. Disponível em: www.ecodebate.
com.br/2018/08/31/o-envelhecimento-
populacional-segundo-as-novas-
projecoes-do-ibge-artigo-de-jose-
eustaquio-diniz-alves/.
Acesso em: 13 ago. 2020.
Em 2019, 7,9% das vagas do mercado de trabalho eram ocupadas por ido-
sos. Com a elevação no índice de envelhecimento e de novas regras para
aposentadoria, espera-se, majoritariamente, a permanência desse trabalha-
dor na atividade laboral. Assim, uma adequação, tanto dos idosos quanto das
organizações contratantes, faz-se necessária para evitar a exclusão social
dessa parcela da população.
O problema das relações de trabalho envolvendo trabalhadores idosos deve ser amplamente discutido, com o intuito de evitar a discriminação, a vulnerabilidade e a exclusão social às quais tais indivíduos estão expostos, bem como de facilitar sua permanência ou reinserção no mercado. Na imagem um mecânico trabalhando em sua oficina.
kurh
an/S
hutt
ers
tock
Fórm
ula
Pro
duções/A
rquiv
o d
a e
dito
ra
75
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 75V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 75 24/09/2020 10:5524/09/2020 10:55
Se encararmos o trabalho como for-ma de integração com o mundo, como possibilidade de adquirir conhecimento, como parte constituinte da nossa iden-tidade e, também, como possibilidade de se ter maior autonomia no sentido socioeconômico (no caso do trabalho remunerado), é fácil entender por que tantos idosos relutam em se aposentar. É importante que o indivíduo que está prestes a se aposentar crie condições de fortalecer antigos vínculos ou de es-tabelecer novos vínculos sociais, mes-mo que a partir de atividades que não lhe tragam, necessariamente, vínculos empregatícios. Estimular as pessoas mais velhas a terem diversas formas de participação efetiva na sociedade, seja trabalhando, seja investindo na área social, dedicando-se a trabalhos volun-tários ou a atividades prazerosas (sendo elas religiosas, culturais ou voltadas para a própria família) é uma possibilidade de enfrentarmos essa questão.
Com maior experiência de vida, os idosos têm muito a acrescentar à sociedade como um todo e ao mercado de trabalho, no qual as trocas de experiência são enriquecedoras tanto para as empresas quanto para os trabalhadores. Assim, o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para essa faixa etária é necessário para possibilitar que os idosos sejam encarados como cidadãos ativos, com direitos protegidos por lei. Talvez, com isso, essa fase da vida possa ser vivenciada de forma digna, humana e gratificante.
Os jovens
A partir do século XX, sobretudo no mundo ocidental, a juventude foi sen-do constituída como uma fase da vida bastante particular. Em um primeiro momento, o reconhecimento de sua existência se limitou ao entendimento dessa fase da vida como uma transição entre a infância e a maturidade; e, de-pendendo do contexto sociocultural, também como um período preparatório, de educação e aquisição de habilidades profissionais, anterior à entrada do indivíduo no mercado de trabalho ou à constituição de uma família.
A partir do fim da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), mas, sobretudo, durante a década de 1960, os jovens começaram a assumir cada vez mais o protagonismo nas sociedades ocidentais, identificando-se como um grupo social específico. Além de questionarem valores vigentes do “mundo adulto”, passaram a adotar atitudes que os diferenciavam de seus pais e avós, des-de posição política a corte de cabelo, visando exteriorizar suas ideias e seus projetos de vida para o mundo.
Fonte: elaborado com base em PINTO, Ana Estela de Sousa. Para mais de 90%, existe preconceito contra os idosos no Brasil. Folha de S.Paulo. 26 nov. 2017. Disponível em:
www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2017/11/1938235-para-mais-de-90-existe-preconceito- contra-os-idosos-no-brasil.shtml. Acesso em: 30 jul. 2020.
Quem s‹o os idosos no nosso tempo
56%são mulheres
44%são homens
Mulheres são a maioria
Mas renda média do homem idoso é maior (em R$)
26% dos idosos é ativo economicamente
Individual1.846,29 2.703,09
Familia 4.271,222.804,83
19% 34%
Fórm
ula
Pro
du
çõe
s/A
rquiv
o d
a e
dito
ra
76
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 76V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 76 24/09/2020 10:5524/09/2020 10:55
Entretanto, como bem explicitou o sociólogo Karl Mannheim (1893-1947), as gerações devem ser analisadas como problema sociológico, encaradas como um fenômeno sócio-histórico. Logo, sob essa ótica, todo comporta-mento juvenil deve ser analisado de modo a evitar naturalizações que asso-ciam o comportamento contestatório a uma fase da vida.
Na história recente, por exemplo, é possível encontrar jovens alinhados a ideais mais conservadores, como é o caso dos yuppies. Essa expressão, que data dos anos de 1980, designa o jovem profissional urbano, que incorpora os valores competitivos da sociedade e busca se destacar profissionalmente para alcançar o sucesso financeiro. Hoje em dia, tais valores podem ser vin-culados ao empreendedorismo, que consiste no processo associado à cria-ção de algo inovador que pode resultar na criação de novos produtos e em novas oportunidades de negócios.
Leia a seguir um trecho que problematiza as políticas públicas direciona-das aos jovens brasileiros:
No que diz respeito às políticas públicas, percebe-se como os jovens há
muito têm constado como seu alvo privilegiado. Isso se deve em grande
medida à ideia de pensá-los, principalmente se pobres, como um problema.
O equívoco maior de muitas políticas públicas de trabalho e formação pro-
fissional para a juventude é justamente pautar-se por, ou tomar como pres-
suposto, um caminho apenas utilitário de garantir ou oferecer subsídios
para a inserção no mercado de trabalho, seja ela qual e como for. Quando
se preparam os jovens apenas segundo essa concepção, sem considerar a
importância de uma ampliação de repertório que lhes possibilite a constru-
ção de um projeto por si e para si, a formação é reduzida a uma dimensão
meramente instrumental, que pode inclusive gerar culpas individuais e so-
frimentos por eventuais fracassos, não garantindo a necessária autonomia.
PEREIRA, Alexandre Barbosa. Jovens, qual será o futuro? Le Monde Diplomatique Brasil (ed. 99),
1o out. 2015. Disponível em: https://diplomatique.org.br/jovens-qual-sera-o-futuro/.
Acesso em: 31 mar. 2020.
Jovens participam do festival de Woodstock em 1969, nos Estados Unidos.
NÃO ESCREVA NO LIVRO
MANNHEIM, Karl. O problema sociológico das gerações. In: FORACCHI, Marialice M. (org.) Karl
Mannheim: Sociologia. São Paulo: Ática, 1982. p. 67-95.
Ric
hard
Friem
an
-Ph
elp
s/G
am
ma-R
aph
o/G
ett
y Im
ag
es
Leia o texto ao lado e debata com os colegas os seguintes aspectos:
1. Qual é a crítica central presente no texto?
2. Vocês concordam com a tese do autor do texto? Justifiquem a posição de vocês, preferencialmente, com exemplos concretos.
3. Que políticas públicas voltadas aos jovens são de conhecimento de vocês? O que é preciso fazer para se beneficiar delas? Elas atendem bem às necessidades dos jovens? Por quê?
Veja as respostas no
Manual do Professor.
Conversa
77
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 77V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 77 24/09/2020 10:5524/09/2020 10:55
DIÁLOGOSNÃO ESCREVA NO LIVRO
1. Leia os trechos abaixo e realize as atividades.
Mesmo enfrentando um enorme preconcei-
to, alguns trabalhadores negros conseguiram se
incluir no competitivo mercado de trabalho das
principais cidades brasileiras, em fábricas ou em
empregos informais. Alguns deles conseguiram
se destacar, o que possibilitou a formação de al-
gumas poucas famílias de classe média. Para dis-
cutir a discriminação e pensar alternativas para
melhorar as condições de vida dos afro-brasilei-
ros, trabalhadores e intelectuais negros criaram
associações, grêmios, clubes e jornais. Em 1931, a
Frente Negra Brasileira foi criada com o objetivo
de integrar a população negra em pé de igualda-
de com o restante da sociedade. Rapidamente, a
ela se associaram cerca de cem mil integrantes
pelo País. Foi assim até 1938, quando a Frente
Negra e todas as publicações da imprensa negra
foram fechadas durante a ditadura Vargas.
HOMERO, Vilma. O avesso da história: da África ao Brasil afrodescendente. Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo
à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj). Disponível em: www.faperj.br/?id=3557.2.0. Acesso em: 4 ago. 2020.
Ainda hoje sabemos muito pouco sobre os cri-
mes cometidos pela ditadura contra as popula-
ções indígenas. O mais importante documento de
denúncia sobre esses crimes – o “Relatório Figuei-
redo” [...] fez um trabalho de apuração impres-
sionante: incluiu relatos de dezenas de testemu-
nhas, apresentou documentos e identificou cada
uma das violações que encontrou – assassinatos
de índios, prostituição de índias, sevícias, traba-
lho escravo, apropriação e desvio de recursos do
patrimônio indígena. Ele também apurou as de-
núncias sobre a existência de caçadas humanas
de indígenas feitas com metralhadoras e dinami-
te atiradas de aviões, as inoculações propositais
de varíola em populações indígenas isoladas e as
doações de açúcar misturado a estricnina.
STARLING, Heloisa. Ditadura militar e populações indígenas. Brasil. Doc. Projeto República – Universidade Federal de Minas Gerais. Disponível em: www.ufmg.br/brasildoc/
temas/5-ditadura-militar-e-populacoes-indigenas/. Acesso em: 4 ago. 2020.
a) Descreva as violações de direitos de popu-
lações afrodescendentes e indígenas nos
textos apresentados.
b) Organizem um grupo de no máximo seis
pessoas e façam uma pesquisa em institui-
ções que trabalham com causas indígenas
ou afrodescendentes. Escolham um projeto
ou causa com que o grupo se identifique e
façam contato com a instituição para que
ela responda a um questionário.
c) Preparem um questionário com no máximo
quatro perguntas. A ideia é que vocês conhe-
çam um pouco mais o trabalho das pessoas
que lutam em favor das minorias étnicas.
Pensem no que gostariam de saber sobre
motivações, angústias, dificuldades e recom-
pensas do trabalho que elas desenvolvem.
d) Com base nas informações levantadas no
questionário, o grupo deve pensar em inter-
venções a serem feitas na própria escola.
Elas podem ser: colagens, desenhos, pintu-
ras, poemas, letras de música, maquetes,
bonecos ou qualquer outro tipo de interven-
ção artística que possa ser exposto.
2. Leia os textos a seguir, observe as imagens e
realize as atividades.
Texto I
Entrevista dada pela professora Ynaê
A efervescência dos anos 1960 trouxe à tona
os diferentes movimentos libertários, entre eles
o Black Power americano, o reggae jamaicano e
as lutas anticolonialistas na África. Os reflexos
no Brasil se fizeram sentir nas décadas seguin-
tes, com o surgimento de várias organizações
de Movimento Negro pelo País, ao longo dos
anos 1970 e 1980. “Embora seja inegável que
inúmeras conquistas tenham sido alcançadas,
como a configuração do racismo como crime
inafiançável ou a lei de cotas para o ingresso de
Veja as respostas das atividades
desta seção no Manual do Professor.
78
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 78V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 78 24/09/2020 10:5524/09/2020 10:55
negros na universidade – também alvo de enor-
me polêmica –, essa luta ainda está longe de
acabar”, conclui.
HOMERO, Vilma. O avesso da história: da África ao Brasil afrodescendente. Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo
à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj). Disponível em: www.faperj.br/?id=3557.2.0. Acesso em: 4 ago. 2020.
Texto II
Fala do Cacique Raoni
Você tem que, desde a juventude, entender
que a política é construída na ocupação de es-
paços. Temos que ter indígenas na esquerda, na
direita, no centro. Temos que ocupar e levar as
nossas pautas. A juventude, que hoje vai para
a universidade e tem uma formação melhor do
que a geração de 40 anos atrás, tem que ocupar
e aceitar essa responsabilidade [...] Antes, a es-
cola veio para ensinar os indígenas a ler e a es-
crever, a se “civilizar”, era a tal da civilização. Eu
abordo a importância da formação dos profes-
sores indígenas. Agora é a hora em que nós, po-
vos indígenas, podemos escrever nossa história,
podemos colocar em pauta dentro da universi-
dade os nossos saberes, os nossos conhecimen-
tos para serem, não só divulgados, mas também
ser respeitado o nosso conhecimento.
ALMEIDA, Tamíris. Povos indígenas: Nós vamos ocupar espaços e vamos continuar lutando porque nós resistimos há 520 anos e não é agora que vamos desistir. Futura. [s.l.] Disponível em: https://www.futura.org.br/direitos-povos-
indigenas-2020/. Acesso em: 4 ago. 2020.
Mulher negra com criança branca presa às costas. Fotógrafo não identificado, Bahia, cerca de 1870.
Representação de Padre Antonio Vieira, em obra anônima do século XVIII.
Faça uma relação entre as imagens e os tex-
tos considerando que as imagens são repre-
sentações de situações vividas por indígenas
e africanos no século XVI e os textos são de
2018 e de 2020.
a) O que eles estão representando enquanto
estrutura social e visão de mundo? Aponte
de que forma cada grupo (afrodescendentes
e indígenas) relaciona organização coletiva,
estudo (formal ou não formal) e visibilidade
política em busca de respeito e condições de
igualdade na sociedade atual.
b) A partir da relação entre as imagens histó-
ricas e as falas reproduzidas nos textos, fa-
çam uma discussão sobre o termo “vitimiza-
ção” utilizado por aqueles que acham que as
lutas e pautas dos grupos minoritários são
“exageradas” ou que não condizem com a
realidade dos dias atuais.
Re
pro
dução
/Arq
uiv
o U
ltra
marin
o,
Lis
bo
a, Po
rtug
al.
Auto
r desconhecid
o/Institu
to M
ore
ira S
alle
s, R
io d
e J
aneiro, R
J.
79
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 79V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 79 24/09/2020 10:5524/09/2020 10:55
Inadequação juvenil?São variadas as interpretações sobre os jovens e as juventudes. Atual-
mente há uma classificação do comportamento juvenil, mais especificamen-
te dos anos iniciais da juventude, o que se convencionou chamar de adoles-
cência, que é ambivalente. Há todo um conjunto de associações negativas e
positivas a esse momento da vida, que, assim como a juventude, é histórico
e definido pela dimensão biológica, psicológica e cultural.
A percepção negativa da adolescência se expressa, sobretudo, nas pre-
ocupações dos adultos quanto aos riscos a que os mais jovens estão sub-
metidos e a que se submetem. E também nos
sentimentos vividos pelos próprios adolescentes,
quase todos envoltos na dificuldade de se autorre-
conhecerem dotados de um novo corpo e com ca-
pacidades cognitivas mais complexas e ainda na
percepção da interdição que recebem do mundo
adulto para usufruir daquilo a que sentem já esta-
rem preparados para tal.
As necessidades e interesses dos jovens en-
tram em choque com os valores sistematizados na
sociedade da qual fazem parte. Potencialmente ap-
tos a atuar no mundo, encontram regras, normas
e interdições impostas pelas gerações anteriores,
que não os autorizam a viver a vida como poderiam ou gostariam. Sentem um
desconforto com algumas regras e proibições por não entenderem o sentido
delas e não encontrarem muitos marcos concretos de quando, enfim, con-
quistarão o reconhecimento e respeito dos adultos quanto à sua individuali-
dade e autonomia. Ou ainda por discordarem de alguns deles: ter 18 anos, ga-
nhar dinheiro, ser famoso, morar sozinho, constituir família, fazer faculdade.
A adolescência é identificada com a imaturidade, a impetuosidade, a ne-
cessidade de pertencimento e, consequentemente, mais sujeita à influência
do grupo, o que potencialmente aumenta o comportamento de risco de quem
está vivendo essa condição. Isso se traduziria em experimentações das mais
variadas, como a iniciação sexual sem os devidos cuidados para preservação
física e emocional, ficando mais sujeitos a doenças sexualmente transmissí-
veis, gravidez indesejada, abortos clandestinos e risco de vida; uso precoce
e abusivo de cigarro, álcool, drogas lícitas e ilícitas; flerte com pequenos e
grandes delitos que podem levar à delinquência crônica.
O filme Kids, lançado em
1995, chocou muitos
telespectadores por
representar nas telas
dos cinemas um grupo
de adolescentes de Nova
York de ambos os sexos,
alienados e apáticos,
distante dos olhares dos
pais, numa época
pré-popularização da
internet e ainda distante
dos smartphones, que
passava a maior parte do
tempo consumindo álcool
e drogas, cometendo
pequenos delitos, praticando
sexo de forma não segura e
assumindo comportamentos
suicidas, caracterizando
uma “geração perdida”.
Evere
tt C
olle
ction/F
oto
are
na/S
hin
ing
Excailb
ur
Pic
ture
s
© J
oão M
on
tan
aro
/Acerv
o d
o c
art
un
ista
80
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 80V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 80 24/09/2020 10:5524/09/2020 10:55
Um aspecto demográfico da população bra-
sileira que se torna cada vez mais preocupante
é o aumento das mortes de adolescentes e adul-
tos jovens do sexo masculino por causas violen-
tas, como assassinatos e acidentes automobi-
lísticos, decorrentes de excesso de velocidade,
de imprudência ou uso de álcool ou drogas. Isso
provoca impactos na distribuição etária da po-
pulação e na proporção entre os sexos, além de
trazer implicações socioeconômicas, com a di-
minuição da qualidade de vida da população em
geral (em decorrência da insegurança generali-
zada) e o aumento de gastos com prevenção e
coibição da violência, vigilância à venda de drogas, entre outros. Além, é claro,
das perdas para as famílias e amigos e seus desdobramentos emocionais.
Entretanto, sabe-se que esses comportamentos não acometem todos
os jovens e tampouco são despertados por mudanças hormonais e não são
características genéticas, impressas no DNA. Eles têm explicações multifa-
toriais. Uma delas é o limbo no qual a sociedade colocou as pessoas dessa
faixa etária ao consolidar a adolescência e ampliar o período de transição
entre a infância e o mundo adulto, instituindo uma moratória maior para a
conquista da autonomia. Não saber ao certo o que fazer e como se comportar,
a quem recorrer, onde e como buscar apoio e ajuda gera muita insegurança.
E se abandonados à própria sorte, buscam apenas acolhida em seus pares,
pelos quais são mais facilmente reconhecidos como iguais.
Muitos pesquisadores do comportamento humano, como sociólogos,
antropólogos, psicólogos e psicanalistas, apontam que a ausência de mar-
cos simbólicos e ritos de passagem mais claros e definitivos na sociedade
Apesar de alguns números sobre comportamento de risco juvenil serem elevados, como indicam pesquisas realizadas pelo IBGE, os percentuais são bem menores do que aqueles que povoam o imaginário popular, até mesmo dos próprios adolescentes, muitos com a percepção de que “todo mundo” está fazendo ou já fez algo, exceto ele.
Alunos do 9O ano de escolas públicas e privadas — 2015
10% 20% 30% 40% 50% 60%0%
já experimentaram ao menosuma vez na vida bebida alcóolica
já experimentaram ao menosuma vez na vida cigarro (tabaco)
já experimentaram ao menosuma vez na vida algum tipo de droga ilícita
já haviam iniciado vida sexual,sendo que 39% deles não haviam utilizado
preservativo na primeira relação sexual
Fonte: elaborado com base em IBGE-MEC. Pesquisa Nacional de Saúde Escolar: 2015. Disponível em:
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv97870.pdf. Acesso em: 14 jul. 2020.
Crianças de comunidade quilombola jogam capoeira durante Festa de Cultura Afro em homenagem ao Dia da Consciência Negra em Araruama, RJ, em 2015.
Cesar
Din
iz/P
uls
ar
Imagens
so
lars
even
/Shu
tters
tock
Grá
fico
: Fórm
ula
Pro
du
çõe
s/A
rquiv
o d
a e
dito
ra
81
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 81V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 81 24/09/2020 10:5524/09/2020 10:55
moderna ocidental é a causa do desconforto e da inadequação sentida pelos
adolescentes e que se desdobra nos variados comportamentos com os quais
convivemos hoje.
O trecho a seguir foi retirado de um artigo da antropóloga Lucia Helena
Rangel. Nele, ela discute os rituais de passagem entre a infância e o mun-
do adulto em diferentes sociedades, destacando e comparando o comporta-
mento da sociedade ocidental com o dos povos indígenas brasileiros.
[...] Cada sociedade elege o modo e o momento de transformar uma
criança em um ser adulto. Em nossa sociedade construímos um padrão
de sociabilidade que passou a incluir, em tempos recentes, uma fase in-
termediária chamada adolescência. Essa etapa da vida não corresponde,
necessariamente, a uma fase biológica definida; criamos, na verdade,
uma fase psicológica cuja finalidade é adiar a transformação da criança
em adulto. Os avós das pessoas adultas de hoje casavam-se com idade
entre 13 e 18 anos; muito comum era o casamento entre uma moça de 15
e um rapaz de 18 anos.
A adolescência tem sido cada vez mais ampliada para certas camadas
sociais, em nossa sociedade. O retardamento do início das funções produ-
tivas é um dos fatores mais importantes que explicam o fenômeno; quer
seja pela falta de empregos, quer pelas exigências de formação profis-
sional cada vez mais especializada, as camadas mais altas da hierarquia
social dependem da instituição escolar para alongar a adolescência de
seus filhos, deixando-os no limbo da indefinição juvenil, às vezes por mais
de dez anos. Por outro lado, nas camadas sociais mais baixas o fenômeno
inverte-se, exigindo de crianças de 7, 10 ou 12 anos que abandonem a
escola para trabalhar, porque precisam contribuir para o orçamento fa-
miliar, mesmo que seja em troca de salários irrisórios. [...]
Nas sociedades indígenas, a adolescência não é uma fase nem social
nem psicológica, porque não é necessária. O corpo dos jovens está apto
para a procriação e em seu processo educativo já treinou a aquisição das
habilidades práticas pertinentes ao seu gênero sexual; portanto, cabe à
sociedade promover sua transformação em adulto. Neste sentido, para
completar sua socialização, essa passagem é realizada através de um ri-
tual de iniciação que é um dos mais importantes no ciclo cerimonial. As
marcas corporais femininas, a primeira menstruação especialmente, são
o indicativo do momento que o ritual deve acontecer. Os rapazes, cujas
marcas corporais são menos nítidas, mas que regulam em idade com as
meninas que nasceram em período próximo a eles, são identificados por
sua estatura, produção de esperma e, muitas vezes, entram em processo
ritual muito cedo a partir de nove ou 10 anos. Os rituais de iniciação dos
jovens podem durar de um a cinco anos, dependendo de como cada socie-
dade elabora o processo. [...]
RANGEL, Lucia Helena. Da infância ao amadurecimento: uma reflexão sobre rituais de
iniciação. Interface, Botucatu, SP, v. 3, n. 5, ago. 1999. Disponível em: www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32831999000200019.
Acesso em: 28 mar. 2020.
1. Segundo a autora,
o que tem levado
à ampliação
do período da
adolescência para
as sociedades
ocidentais? E esse
fenômeno se aplica
amplamente na
sociedade?
2. Por que a
adolescência
não é uma fase
necessária entre
as sociedades
indígenas, ainda
segundo a autora?
3. Você avalia que
se tornará adulto
quando? Que
conquistas precisa
realizar para ter
esse novo status?
E você quer ser
reconhecido como
adulto?Veja as respostas no
Manual do Professor.
Interpretar
NÃO ESCREVA NO LIVRO
Os incompreendidos.
Direção de François
Truffaut. França, 1959.
Narra a história de um
garoto francês cercado
por adultos que não se
ocupam efetivamente
de sua educação. Na
busca de identificação
com seus colegas
ele passa a cometer
pequenos delitos, até
ser pego.
Saber
Repro
dução/F
ilmes d
o E
sta
ção
82
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 82V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 82 24/09/2020 10:5524/09/2020 10:55
CONEXÕESCIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
NÃO ESCREVA NO LIVRO
Geração e tempo geracional
Veja as respostas das
atividades desta seção no
Manual do Professor.
Para as Ciências da natureza, “geração”, entre
outros significados, se refere à reprodução ou à
transição entre pais e filhos. Mas “geração” pode
se referir ainda ao conjunto de pessoas contem-
porâneas – uma definição muito utilizada em con-
textos sociais.
O período médio entre duas gerações consecu-
tivas é chamado “tempo de geração” e ele é variá-
vel entre diferentes espécies. Entre os humanos,
por exemplo, o tempo de geração é longo, de, em
média, 30 anos. Já entre vírus e bactérias, assim
como outros organismos patogênicos, o tempo
de geração é muito mais curto, sendo, às vezes,
de poucos minutos. E são esses organismos com
tempo de geração muito curto que são utilizados
para os estudos de Genética, uma vez que as infor-
mações genéticas são transmitidas de geração em
geração e podem ser observadas mais facilmente.
Foi observando um organismo com o tempo
geracional curto (ervilhas) que Gregor Mendel
rea lizou seus experimentos e estabeleceu as ba-
ses para o estudo da hereditariedade
Outro organismo comumente utilizado em estu-
dos genéticos são as moscas-da-fruta (Drosophila
melanogaster). Isso porque elas possuem um
tempo de geração de cerca de 10 dias.
Mas não é somente nas Ciências da Natureza
que o conceito de geração tem seus impactos. Nas
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas ele também
tem sua importância. Veja o texto a seguir.
No pensamento social contemporâneo, a
noção de geração foi desenvolvida em três mo-
mentos históricos, que correspondem a três
quadros sociopolíticos particulares: durante os
anos 1920, no período entreguerras, as bases
filosóficas são formuladas em torno da noção
de "revezamento geracional" (sucessão e coexis-
tência de gerações), existindo um consenso ge-
ral sobre este aspecto [..]. Durante os anos 1960,
na época do protesto, uma teoria em torno da
noção de "problema geracional" (e conflito gera-
cional) é fundamentada sobre a teoria do con-
flito [...]. A partir de meados dos anos 1990, com
a emergência do sociedade em rede, surge uma
nova teoria em torno da noção de "sobreposição
geracional". Isto corresponde à situação em que
os jovens são mais habilidosos do que as gera-
ções anteriores em um centro de inovação para
a sociedade: a tecnologia digital [...].
FEIXA, Carles; LECCARDI, Carmem. O conceito de geração nas
teorias sobre juventude. Soc. estado, Brasília, v. 25, n. 2, p.
185-204, Aug. 2010. Disponível em http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S010269922010000200003&lng=en
&nrm=iso. Acesso em: 7 set. 2020.
Considere um adulto com idade aproximada de 25 anos que viva na sua
comunidade, e responda:
• Você considera que você e esse adulto façam parte da mesma geração?
• De acordo com o pensamento social contemporâneo, qual sua relação
com esse indivíduo? Você acredita que haja um “revezamento geracio-
nal”, um “problema geracional” ou uma “sobreposição geracional”?
Rawpixel.com/Shutterstock
83
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 83V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 83 24/09/2020 10:5524/09/2020 10:55
DI¡LOGOSNÃO ESCREVA NO LIVRO
1. Leia o texto a seguir e depois responda às questões.
O sociólogo brasileiro Ricardo Antunes afirma que “uma vida cheia de
sentido fora do trabalho supõe uma vida dotada de sentido dentro do
trabalho” e ainda que “uma vida desprovida de sentido no trabalho é in-
compatível com uma vida cheia de sentido fora do trabalho. [...] Uma vida
cheia de sentido somente poderá efetivar-se por meio da demolição das
barreiras existentes entre tempo de trabalho e tempo de não trabalho,
de modo que, a partir de uma atividade vital cheia de sentido, autodeter-
minada, para além da divisão hierárquica que subordina o trabalho ao
capital hoje vigente e, portanto, sob as bases inteiramente novas, possa se
desenvolver uma nova sociabilidade [...] na qual liberdade e necessidade
se realizam mutuamente.”
ANTUNES, Ricardo. Socialismo, lutas sociais e novo modo de vida na América Latina.
Revista Direito e Pr‡xis, Rio de Janeiro, v. 8, n. 3, jul./set. 2017. Disponível em: https://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2179-89662017000302212.
Acesso em: 13 ago. 2020.
• Dividam-se em grupos de quatro estudantes para debater as seguintes
questões:
a) Na opinião de vocês, por que o autor
afirma que para que a vida tenha senti-
do fora do trabalho ela deve ter sentido
dentro do trabalho?
b) Na vida cotidiana, que trabalhos vocês
exercem? Vocês gostam de exercer es-
sas funções ou as consideram exausti-
vas e/ou entediantes?
c) Nas suas famílias, quais trabalhos
são exercidos pelos seus familiares?
Vocês consideram que todos os mem-
bros da sua família trabalham o mes-
mo tempo ou alguns trabalham mais
do que outros? Por que isso acontece?
d) Vocês consideram vital para a sua saúde mental uma conciliação
entre o tempo de trabalho e o tempo de não trabalho? O que vocês
gostam de fazer quando não estão trabalhando?
e) O que o autor quer dizer com “divisão hierárquica que subordina o tra-
balho ao capital hoje vigente”? Na opinião do grupo, existem trabalhos
mais valorizados do que outros? Se sim, o que faz com que isso ocorra?
• Reflitam sobre as respostas do grupo e busquem encontrar pontos em
comum entre vocês. Em quais aspectos os hábitos da sua família e
Veja as respostas das atividades
desta seção no Manual do Professor.
Por questões culturais, muitas vezes, algumas profissões são
consideradas mais “importantes” do que outras.
Mascha T
ace/S
hutt
ers
tock
84
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 84V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 84 24/09/2020 10:5524/09/2020 10:55
suas ambições pessoais se aproximam e em quais se distanciam da família de seus colegas? Listem, no caderno, as semelhanças e as di-vergências.
a) Utilizando como base o que há em comum entre você e os colegas de grupo, reflitam sobre o que é padrão na maioria das famílias.
b) Ao final da atividade, cada grupo deve, oralmente, socializar com a turma as conclusões às quais chegaram.
2. Leia o texto a seguir e responda às questões.
Seguramente você se reconhece como uma pessoa jovem. Estando cur-sando o Ensino Médio, não importa o ano nem se você foi retido em anos an-teriores, você deve mesmo se reconhe-cer como um jovem. Talvez alguns estu-dantes do Ensino Médio na modalidade EJA (Educação para Jovens e Adultos) não tenham essa mesma segurança para se autodeterminar jovem. Não nos referimos àqueles com 50 ou 60 anos de idade. Mas àqueles com menos de 40 anos. Ou ainda, quem sabe, àqueles com 33 anos, ou 29 anos. E será que mesmo quem tem mais de 40 ou 50 anos não pode se sentir jovem e assim ser visto pela sociedade? Ser jovem tem relação com o sentimento singular de cada um, com suas atitudes e também com o modo como os outros nos enxer-gam? Quando então alguém deixa de ser jovem? E quando começa a ser? Você se lembra do dia em que deixou de ser criança e se tornou um jovem? E o adolescente: é uma criança ou um jovem?
Reflita sobre as perguntas propostas a seguir, anote, no caderno, suas res-postas ou algumas palavras-chave que encontrou para respondê-las para, então, dialogar com os colegas de sala, com a mediação do professor.
a) Em sua opinião, à qual faixa etária pertence o jovem?
b) Em que momento da vida você avalia que se tornou jovem?
c) Quais gostos e hábitos que mantinha quando criança você abandonou? E quais novos valores e comportamentos você passou a adotar?
d) E os outros, sobretudo os adultos, como eles olhavam para você quan-do era criança e como o enxergam agora?
e) Quais são seus projetos depois que finalizar o Ensino Médio? As possi-bilidades de vida futura do jovem são as mesmas para todos?
É comum que as pessoas alterem hábitos e comportamentos de acordo com uma nova etapa da vida.
Ro
be
rt A
drian H
illm
an/S
hutt
ers
tock
85
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 85V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 85 24/09/2020 10:5524/09/2020 10:55
2. (2017) Muitos países se caracterizam por te-
rem populações multiétnicas. Com frequên-
cia, evoluíram desse modo ao longo de sé-
culos. Outras sociedades se tornaram mul-
tiétnicas mais rapidamente, como resultado
de políticas incentivando a migração, ou por
conta de legados coloniais e imperiais.
GIDDENS. A. Sociologia. Porto Alegre: Penso, 2012 (adaptado).
Do ponto de vista do funcionamento das demo-
cracias contemporâneas, o modelo de socieda-
de descrito demanda, simultaneamente,
a) defesa do patriotismo e rejeição ao hibridismo.
b) universalização de direitos e respeito à di-
versidade.
c) segregação do território e estímulo ao auto-
governo.
d) políticas de compensação e homogeneiza-
ção do idioma.
e) padronização da cultura e repressão aos
particularismos.
3. (2017) A participação da mulher no processo
de decisão política ainda é extremamente li-
mitada em praticamente todos os países, inde-
pendentemente do regime econômico e social e
da estrutura institucional vigente em cada um
deles. É fato público e notório, além de empiri-
camente comprovado, que as mulheres estão
em geral sub-representadas nos órgãos do po-
der, pois a proporção não corresponde jamais
ao peso relativo dessa parte da população.
TABAK, F. Mulheres pœblicas: participação política e poder. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2002.
No âmbito do Poder Legislativo brasileiro, a
tentativa de reverter esse quadro de sub-re-
presentação tem envolvido a implementação,
pelo Estado, de
a) leis de combate à violência doméstica.
b) cotas de gênero nas candidaturas partidárias.
c) programas de mobilização política nas escolas.
d) propagandas de incentivo ao voto consciente.
e) apoio financeiro às lideranças femininas.
X
X
1. (2016)
Texto I
Texto II
Metade da nova equipe da NASA é composta por mulheres
Até hoje, cerca de 350 astronautas america-
nos já estiveram no espaço, enquanto as mulhe-
res não chegam a ser um terço desse número.
Após o anúncio da turma composta 50% por
mulheres, alguns internautas escreveram co-
mentários machistas e desrespeitosos sobre a
escolha nas redes sociais.
Disponível em: https://catracalivre.com.br. Acesso em: 10 mar. 2016.
A comparação entre o anúncio publicitário de
1968 e a repercussão da notícia de 2016 mos-
tra a
a) elitização da carreira científica.
b) qualificação da atividade doméstica.
c) ambição de indústrias patrocinadoras.
d) manutenção de estereótipos de gênero.
e) equiparação de papéis nas relações familiares.
X
Re
pro
dução
/EN
EM
, 2
016
.
Veja as respostas das atividades
desta seção no Manual do Professor.
86
QUESTÕES DO ENEM NÃO ESCREVA NO LIVRO
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 86V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 86 24/09/2020 10:5524/09/2020 10:55
1. Na seção Contexto no início deste capítulo, você refletiu sobre as falas de alguns imigrantes
acerca do que lhes chamou atenção quando chegaram ao Brasil. Agora, depois de estudar as
especificidades de alguns segmentos sociais no país, como das mulheres, afrodescendentes,
indígenas, idosos e jovens, alteraria as respostas que deu naquela ocasião?
2. O que é necessário fazer para reduzir a desigualdade social em nosso país e também os varia-
dos preconceitos e racismos?
3. E você, tem vontade de morar em outro país? Já pensou em estudar “fora”? Isso poderia fazer
parte do seu projeto de vida? Essa pode ser uma experiência enriquecedora. Apesar de não
ser uma opção fácil para todos, em razão dos desafios econômicos, esse problema pode ser
driblado com a obtenção de uma bolsa de estudo. Há algumas instituições nacionais e inter-
nacionais que oferecem auxílio aos estudantes brasileiros para arcar com transporte, moradia,
alimentação e estudo. E muitas faculdades e universidades dispõem de convênios com insti-
tuições de ensino de outros países, o que pode ser um caminho para você, caso seja do seu
interesse. Faça uma pesquisa sobre formas para obter bolsas para estudar no exterior, liste as
exigências solicitadas e avalie se essa pode ser uma opção para você.Veja as respostas no Manual do Professor.
Retome o contexto
A seguir estão listados conceitos, temas e expressões que foram centrais na abordagem dos conteúdos
neste capítulo. Elabore uma representação gráfica, do tipo esquema ou mapa conceitual, para sistematizar
as suas principais aprendizagens. Se necessário, acrescente outros termos na sua representação.
trabalho remuneradotrabalho não remunerado idosos cultural
desigualdadeMinorias sociais renda discriminação cor/raça
idadegênero/sexo juventudes jovem adolescência
modelo ocidentaldireitos mulheres indígenasracismo estrutural
exclusãooportunidades dupla ou tripla jornada de trabalho
87
VOCÊ PRECISA SABERNÃO ESCREVA NO LIVRO
87
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 87V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 87 24/09/2020 10:5524/09/2020 10:55
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA BNCC• Competências gerais da
Educação Básica: CG1, CG2, CG4, CG5, CG7 e CG10.
• Competências e habilidades específicas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: Competência 1: EM13CHS106. Competência 6: EM13CHS602, EM13CHS605 e EM13CHS606.
• Competências específicas de Linguagem e suas Tecnologias: Competência 1: EM13LGG105. Competência 2: EM13LGG204. Competência 3: EM13LGG303.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS
Cidadania e Civismo• Vida Social e Familiar
• Educação em Direitos Humanos
Entrevista semiestruturada PRÁTICA
Relembrar é preciso: como foi a ditadura militar-civil no Brasil?
Para começar
Nesta unidade, conhecemos o conceito de democracia, que, do gre-
go demokratia, significa poder do povo. Vimos que os brasileiros, assim
como muitos cidadãos de países latino-americanos, nem sempre vive-
ram em um Estado Democrático de Direito.
Em três momentos de sua história, o Brasil viveu sob ditadura, isto
é, sob uma forma de governo autoritária na qual não há espaço para a
expressão livre da vontade popular: com o fim da Monarquia e a instau-
ração da República, na chamada República da Espada, que se deu entre
1889 e 1894; entre 1937 e 1945, no período conhecido como Estado
Novo; e durante a ditadura militar-civil, entre 1964 e 1985.
Ocorrido no contexto da Guerra Fria, o golpe de 1964, que destituiu
da Presidência João Goulart, foi o mais longo período de ditadura no
Brasil, que contou com o apoio da elite e de parte da classe média brasi-
leira, que, temendo a ocorrência de reformas sociais que significassem
a perda de seus privilégios, aliaram-se aos militares sob a justificativa
de livrar o Brasil da ameaça comunista.
Entretanto, diferentemente do que certos políticos acreditavam, a
instauração da ditadura não significou sua ascensão ao poder. Dessa
forma, muitos daqueles que apoiavam o golpe voltaram-se contra o re-
gime militar, passando, assim, a lutar contra ele. Entre os políticos mais
Veja as orientações de como trabalhar
esta seção no Manual do Professor.
Apesar dos riscos de
serem presas e torturadas,
muitas pessoas, entre as
quais jovens estudantes,
não se calaram perante
a ditadura, que vigorou
por mais de vinte anos
no Brasil. Na imagem,
jovem picha a fachada do
Teatro Municipal do Rio de
Janeiro, em junho de 1968.Acerv
o Iconog
raphia
/Rem
inis
cência
s
88
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 88V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 88 24/09/2020 20:0224/09/2020 20:02
conhecidos, encontra-se Carlos Lacerda, da antiga
União Democrática Nacional (UDN), que acabou
se aliando aos seus antigos opositores, Jusceli-
no Kubitschek e João Goulart, na organização da
Frente Ampla, que buscava, entre outros objeti-
vos, o restabelecimento de eleições livres.
Com o recrudescimento do regime militar, o
sonho de muitos daqueles que haviam lutado e
morrido pela restauração de seus direitos políti-
cos, isto é, de participar das eleições, fosse como
candidatos, fosse como eleitores, apenas seria
concretizado no final da década de 1980, com a
Constituição de 1988, que estendeu o direito ao
voto direto e secreto aos analfabetos – os quais,
nas constituições anteriores, estavam excluídos
da vida política –, e com o retorno das eleições di-
retas para presidente, ocorridas no ano seguinte
à promulgação da chamada Constituição Cidadã.
Entrevistar para investigar
Você já participou de alguma entrevista, como a
de emprego? Se não, você provavelmente já deve ter
assistido pela televisão ou acompanhado por rádio
uma entrevista, certo? Assim, já percebeu que en-
trevista – do francês entrevue – envolve pelo menos
dois sujeitos e pode ter vários objetivos, que variam
conforme a finalidade para a qual ela é realizada.
Entre os objetivos de uma entrevista, podemos
indicar a necessidade de conhecer uma pessoa e
suas experiências ou de saber a opinião dela acer-
ca de determinado assunto. Para isso, as entre-
vistas baseiam-se em diálogos alimentados por
uma sequência de perguntas e respostas, sendo
o “entrevistador” quem faz as perguntas e o “en-
trevistado” quem as responde.
Durante as eleições, por exemplo, alguns ins-
titutos promovem entrevistas com o eleitorado
de diversas regiões do Brasil para conhecer a
opinião deles sobre os representantes elegíveis
e, assim, verificar quais candidatos têm maiores
chances de vencer nas urnas. Além disso, nesse
mesmo período, canais de televisão buscam en-
trevistar os candidatos aos cargos de prefeito das
grandes cidades brasileiras, de governadores e de
presidente, a fim de apresentar aos espectadores
seus projetos políticos.
O movimento Diretas Já ocorreu entre 1983 e 1984 e envolveu diversos segmentos da sociedade. Seu objetivo era, por meio de grandes comícios, lutar pelo retorno do direito popular ao voto para presidente da República. Na foto, comício realizado na praça da Sé, em São Paulo (SP), em 1984.
Em boa parte dos programas de televisão e de
rádio, há entrevistas que ora são baseadas em
questionários preestabelecidos, ora o entrevista-
dor conduz a conversa de forma mais espontâ-
nea. Há, ainda, aquelas entrevistas em que o en-
trevistador, embora tenha um questionário como
base, também elabora suas questões de acordo
com a resposta do entrevistado. A esse tipo deno-
minamos entrevista semiestruturada.
Na disciplina de História, há um campo chama-
do História Oral, em que os historiadores realizam
entrevistas com pessoas que presenciaram cer-
tos acontecimentos ou viveram em determinadas
conjunturas, recolhendo, além das informações
pessoais ou gerais sobre o período, também o
ponto de vista e as emoções das pessoas entre-
vistadas. No entanto, o uso das entrevistas na His-
tória Oral não diminui o papel das fontes escritas
para a investigação do passado. Na realidade, es-
ses dois tipos de fonte são complementares, cada
qual com sua importância e especificidade.
O desenvolvimento da tecnologia teve um pa-
pel importante para a História Oral, uma vez que
as entrevistas podem ser tanto gravadas quanto
filmadas, sendo que os arquivos produzidos são,
normalmente, armazenados em arquivos vir tuais,
ocupando, assim, pouco espaço físico.
Marc
ia Z
oet/
Fo
lhapre
ss
89
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 89V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 89 24/09/2020 10:5524/09/2020 10:55
Atualmente, diversas universidades públicas possuem laboratórios ou centros de estudos nos quais equipes de pesquisadores desenvolvem pesquisas no âmbito da História Oral. Na Universi-dade de São Paulo (USP), o Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação (LEER--USP) dedica-se, entre outras atividades, a colher depoimentos de sobreviventes e de filhos de so-breviventes do Holocausto que vivem no Brasil.
No caso desse laboratório, após o depoimento dessas pessoas, que geralmente são gravados e/ou filmados, é feito um trabalho de transcrição lite-ral das entrevistas, isto é, a passagem para texto escrito da entrevista gravada em áudio. A transcri-ção da entrevista nada mais é do que a produção de um texto biográfico com base no conteúdo apre-sentado no depoimento. Por fim, no caso dos depoi-mentos de sobreviventes e filhos de sobreviventes do Holocausto, houve a publicação de volumes com as histórias coletadas denomi-nados Vozes do
Holocausto.
Volumes de Vozes do
Holocausto, publicados em 2018, obras com
os depoimentos de sobreviventes e de filhos
de sobreviventes do Holocausto.
Para fazer
Agora é a vez de vocês realizarem uma entrevis-
ta semiestruturada, isto é, que conta com um ques-
tionário preestabelecido, mas que permanece livre
para fazer perguntas com base nas respostas dos
entrevistados e no desenrolar da entrevista.
O objetivo desta proposta é que vocês exerci-
tem tanto a capacidade de ouvir e aprender com
a experiência de outras pessoas quanto de argu-
mentar e formular questões com base em deter-
minado assunto.
A entrevista terá como objetivo colher o depoi-
mento de pessoas que assistiram ao processo
de redemocratização no Brasil, em meados da década de 1980. Portanto, é necessário escolher pessoas acima de 50 anos de idade e que tenham lembranças sobre a ditadura e sobre o processo democrático dos anos 1980. Para isso, sigam as orientações.
1. Dividam-se em grupos de até cinco integrantes.
2. Tenham domínio tanto sobre o tema da dita-dura no Brasil quanto em relação aos aconte-cimentos que culminaram em seu fim e que marcaram o processo de redemocratização. Dessa forma, façam a leitura do conteúdo do livro e, se necessário, complementem a leitura com pesquisas em sites confiáveis e livros da biblioteca da escola.
3. Cada grupo deverá produzir três entre-vistas e realizar, como atividade final, um podcast, que será arma zenado em um site de hospedagem de arquivo de áudio e ficará disponível publicamente.
Etapa 1 – Levantamento de informações sobre o tema
1. Releiam os capítulos do livro referentes à dita-dura e ao fim da ditadura militar-civil no Brasil.
2. Pesquisem em livros, artigos de revista e sites acadêmicos e/ou institucionais mais informa-ções sobre o fim da ditadura no Brasil se jul-garem necessário. É importante compreender bem o movimento Diretas Já, isto é, quando ocorreu esse movimento, como foi organizado, quem foram os participantes, etc.
3. Façam fichamentos dos textos lidos, procu-rando destacar os principais acontecimentos que marcaram o período da ditadura no Bra-sil e o movimento Diretas Já. Em seguida, fa-çam cópias (manuscritas ou xerocadas) dos fichamentos produzidos, de modo que cada
Computador com acesso à internet; programa de processamento de texto; papel e impressora; gravador; programa de edição de áudio.
Materiais necessários
Re
pro
dução/E
dito
ra M
aayanot
NÃO ESCREVA
NO LIVRO
90
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 90V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 90 24/09/2020 10:5524/09/2020 10:55
integrante tenha em mãos o fichamento de
cada texto selecionado pelo grupo.
4. Marquem reunião com todos os integrantes
do grupo para um bate-papo sobre a ditadu-
ra no Brasil. Todos deverão ter compreendido
bem o que foi esse regime político e como ele
foi derrubado pela sociedade brasileira.
Etapa 2 – Escolha dos entrevistados e elaboração do questionário
1. Escolham três pessoas conhecidas do grupo
(como parentes e familiares) que tenham entre
50 e 70 anos para serem entrevistadas. As pes-
soas escolhidas não necessariamente devem
ter participado diretamente do movimento Dire-
tas Já, mas é importante que tenham lembran-
ça sobre o período que marcou o fim da ditadura
e sobre o processo de redemocratização brasi-
leiro. Se possível, escolham pessoas com perfis
distintos em relação a idade, sexo, profissão,
escolaridade, entre outros.
2. Marquem com os entrevistados o dia, o horário
e o local para a realização das entrevistas. Não
é necessário que todos os membros do grupo
estejam presentes, mas sim que haja pelo me-
nos um entrevistador e um integrante do grupo
para fazer a gravação e auxiliar na entrevista.
3. Elaborem um questionário a ser aplicado a
cada um dos entrevistados. Façam perguntas
pessoais e sobre os anos que marcaram o fim
da ditadura no Brasil e o movimento Diretas Já.
O questionário servirá para dar início à conver-
sa e nortear o tema da entrevista. Entretanto, a
entrevista não deve ser resumida à aplicação
do questionário. Dessa forma, fiquem aten-
tos às respostas dos entrevistados para, com
base nelas, realizar perguntas que considera-
rem relevantes.
4. Elaborem questões tendo em vista o tempo
da entrevista, que deverá ser de três minutos
para cada entrevistado. Veja, a seguir, um mo-
delo de questionário.
Entrevistado
1. Nome completo:
2. Idade:
3. Sexo:
4. Escolaridade:
5. Estado civil:
Informações sobre a ditadura
1. Quantos anos você tinha quando foi instaurada a ditadura no Brasil, em 1964?
2. Na sua opinião, o que foi a ditadura no Brasil?
3. Do que você se lembra sobre esse período?
4. Qual é a sua opinião sobre esse período?
5. Você assistiu a algum movimento de contestação da ditadura? Onde você assistiu? Qual era o movimento? Onde ele ocorreu? Quem eram os participantes?
6. Você participou do movimento Diretas Já? Se sim, como foi?
7. Se não participou do movimento Diretas Já, acompanhou esse movimento por jornais impressos, rádios ou televisão?
Entrevista sobre o fim da ditadura militar-civil no Brasil
91
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 91V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 91 24/09/2020 10:5524/09/2020 10:55
Informações sobre a ditadura civil-militar (continuação)
8. Qual era sua opinião sobre o movimento Diretas Já na época em que ele ocorreu?
9. Qual é a sua opinião hoje sobre o movimento Diretas Já?
10. Acha que ele foi importante para o fim da ditadura? Se sim, por quê?
11. Qual foi o principal fator que, na sua opinião, trouxe o fim da ditadura no Brasil?
12. Esse período afetou sua vida pessoal? De que forma?
Etapa 3 – Aplicação da entrevista
1. Escolham um local tranquilo e silencioso para gravar a entrevista e veri-
fiquem, antes de dar início à atividade, se o som do gravador está funcio-
nando corretamente.
2. Façam previamente termos de autorização para a gravação da entrevista
em áudio e peçam aos entrevistados que assinem os termos. Expliquem
a eles que o conteúdo da entrevista será utilizado unicamente para fins
escolares, assim, não haverá comercialização dos áudios produzidos. No
entanto, trechos das entrevistas poderão entrar nos podcasts, que ficarão
armazenados em programas que hospedam arquivos em áudio. Caso os
entrevistados não se sintam confortáveis em apresentar seu nome com-
pleto, utilizem somente o primeiro nome ou pseudônimos, tanto durante
as entrevistas quanto posteriormente, na gravação dos podcasts.
3. Conversem com os entrevistados sobre assuntos corriqueiros antes de
dar início às entrevistas. Dessa forma, eles poderão ficar mais à vontade
para responder às questões.
4. Fiquem atentos às respostas dos entrevista-
dos para cada questão. O questionário pode ser
aplicado, mas é importante que sejam feitas
questões baseadas nas informações que os
entrevistados fornecerem.
5. Observem se os entrevistados desviam a aten-
ção para outros assuntos. Caso isso aconteça,
procurem redirecionar a entrevista para o as-
sunto proposto.
6. Procurem não ultrapassar o tempo da entrevis-
ta, mas não a encerrem de forma brusca. Lem-
brem-se de agradecer aos entrevistados pela
participação.
Etapa 4 – Transcrição da entrevista
1. Façam a transcrição da entrevista. Para isso, ouçam um trecho do áudio
e, em seguida, transcrevam, em um programa de texto, o que foi ouvido.
Realizem esse procedimento até completar todo o tempo da entrevista.
Foto de estudante realizando trabalho de entrevista.
Dm
ytr
o Z
inkevych
/Shutt
ers
tock
92
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 92V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 92 24/09/2020 10:5524/09/2020 10:55
2. Ouçam novamente a entrevista, fazendo, ao mesmo tempo, a leitura do
texto transcrito. Certifiquem-se de que nenhum trecho foi suprimido.
3. Marquem o tempo em que as questões são feitas para facilitar a edição do
arquivo em áudio.
4. Salvem as transcrições no computador e, se possível, façam a impressão
da entrevista transcrita.
Algum dos entrevistados pode
ter bastante conhecimento
acerca do assunto, por isso é
importante que ele compartilhe
a experiência que teve.
Para compartilhar
1. Criem um podcast com o conteúdo da entrevista, isto é, um arquivo em
áudio com conteúdo informativo. Para isso, escrevam um texto, que será
posteriormente narrado, relatando as causas que levaram ao fim da ditadu-
ra no Brasil. Mencionem os movimentos de contestação da ditadura, entre
os quais as Diretas Já, e selecionem trechos da fala dos entrevistados que
julgarem importantes para compor o conteúdo do podcast.
2. Releiam o texto, corrigindo eventuais erros de gramática e de vocabulário.
Além disso, atentem-se para que não tenha faltado nenhuma informação
relevante.
3. Selecionem um integrante do grupo para fazer a leitura do texto. Antes de
iniciar a gravação, ele deve treinar um pouco em voz alta para que a leitura
seja fluida.
4. Façam a gravação do áudio e salvem o arquivo em uma pasta, com a gra-
vação dos outros grupos.
5. Pesquisem sites que hospedem podcasts gratuitamente e façam a inscri-
ção em um deles. Atentem-se para o formato do áudio exigido na gravação.
6. Façam o upload dos podcasts gravados, deixando o arquivo público para
que outras pessoas possam acessar o conteúdo.
7. Marquem uma data para divulgar o podcast para as demais turmas da es-
cola e aproveitem para compartilhar a experiência de entrevistar diferen-
tes pessoas.
Victorpr/Shutterstock
93
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 93V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap2_062a093.indd 93 24/09/2020 10:5524/09/2020 10:55
Caminhos
da cidadania2
UNIDA
DE
Centr
al P
ress/H
ulton A
rchiv
e/G
ett
y Im
ages
Estouro
Bem-vindo ao século XXI
[...]
A ordem liberal ocidental que tem governado desde o fim da II Guerra Mundial baseou-se na hegemonia
dos EUA. Como potência verdadeiramente global, foi dominante não apenas no campo do poder militar
(além do econômico e financeiro), mas em quase todas as dimensões do soft power (cultura, língua, meios de
comunicação, tecnologia e moda).
A Pax Americana que garantiu um alto grau de estabilidade global começou a falhar (especialmente no
Oriente Médio e na Península da Coreia). Embora os Estados Unidos continuem a ser a primeira potência
planetária, já não têm a capacidade ou vontade de ser a polícia do mundo ou fazer os sacrifícios necessários
para garantir a ordem. Por sua própria natureza, um mundo globalizado evita a imposição da ordem do
século XXI.
E mesmo que o surgimento de uma nova ordem mundial seja algo inevitável, seus fundamentos ainda
não podem ser distinguidos. Parece improvável que seja liderada pela China; o país continuará voltado para
si mesmo e concentrado na estabilidade interna e no desenvolvimento, e é provável que suas ambições
sejam limitadas ao controle de sua vizinhança imediata e mares que o rodeiam. Além disso, não possui (em
quase nada) o soft power necessário para tentar se tornar uma força de ordem mundial.
[...]
FISCHER, Joschka. Bem-vindo ao século XXI. El Pa’s, 7 fev. 2016. Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2016/02/07/opinion/1454864647_294190.html. Acesso em: 6 jun. 2020.
Contexto
ESSE TEMA SERÁ RETOMADO NA SEÇÃO PRÁTICA
94
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 94V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 94 24/09/2020 10:5824/09/2020 10:58
Mísseis balísticos intercontinentais com capacidade de transportar bombas nucleares, em parada
militar na Praça Vermelha, Moscou (União Soviética), em 1969.
Após ler o texto e com base em seus conhecimentos da realidade e em pesquisa na internet, reflita sobre as questões propostas:
1. Por que ainda não se pode distinguir os fundamentos de uma nova ordem internacional?
2. O que você entende por soft power? Qual é a diferença entre soft power e hard power? Dê exemplos.
3. Você acha que é importante ter soft power para liderar uma ordem internacional? Por quê? O Brasil tem hard power e soft power? Ver respostas e orientações no Manual do Professor.
95
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 95V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 95 24/09/2020 10:5824/09/2020 10:58
OBJETIVOS• Relacionar o conceito de cidade na civitas romana e na pólis
grega aos conceitos de cidadão e política.
• Identificar a desigualdade socioespacial urbana na vida cotidiana dos indivíduos segundo suas classes sociais.
• Associar a localização dos indivíduos no espaço urbano ao maior ou menor acesso à cidadania.
• Compreender o processo de urbanização, diferenciando suas especificidades nacionais e regionais.
• Aplicar os conceitos de cidade, metrópole, megalópole e urbanização para compreensão da vida urbana e suas relações socioespaciais.
• Aplicar os conceitos de hierarquia e rede urbana para compreensão das relações entre as cidades no território.
• Reconhecer os principais problemas urbanos, com destaque para a moradia, pensando em formas de atuação cidadã.
• Identificar as dificuldades de acesso à moradia no mundo e no Brasil e refletir sobre as possíveis soluções.
JUSTIFICATIVAO conceito de cidade surgiu associado ao conceito de cidadão. Ambos têm uma origem comum tanto na Grécia quanto na Roma da Antiguidade. Hoje em dia, esses conceitos estão imbricados na prática urbana de milhões de cidadãos que têm protestado em diversas cidades do mundo contra o racismo e a injustiça e em defesa da democracia. Por isso, estudar a cidade e sua complexidade ajuda a compreender a relação do exercício da cidadania com o espaço urbano. Se por um lado o avanço da urbanização em todo o mundo trouxe uma série de conquistas, por outro gerou diversos problemas relacionados às desigualdades socioeconômicas, que precisam ser conhecidos em suas causas e consequências para serem adequadamente enfrentados e solucionados. É necessário que os cidadãos tenham consciência de seu direito à cidade.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA BNCC• Competências gerais da Educação Básica: CG1, CG2, CG3,
CG4, CG5, CG7, CG9 e CG10.
• Competências e habilidades específicas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: Competência 1: EM13CHS105 e EM13CHS106. Competência 2: EM13CHS204 e EM13CHS206. Competência 6: EM13CHS605 e EM13CHS606.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS
Cidadania e civismo• Vida familiar e social
• Educação em Direitos Humanos
Meio ambiente• Educação ambiental
O mundo está repleto de cidades de todos os tamanhos, desde vilas pequenas até gigantescas aglomerações urbanas de milhões de habitantes. No entanto, tornou-se predominantemente urbano apenas neste século.
Os países desenvolvidos completaram seu processo de urbanização, mas em diversos paí-ses em desenvolvimento o crescimento urbano tem sido acelerado, provocando grandes trans-formações socioeconômicas e nas paisagens das principais cidades. Por um lado, essa tendência
Contexto
A cidade e
a cidadania3CAPÍTULO
CAPÍTULO
NÃO ESCREVA NO LIVRO
Arranha-céus em Shenzhen, província de Guangdong (China), em foto de 2016. Até os anos 1970, a cidade era um pequeno vilarejo, mas, a partir de 1979, ao tornar-se uma Zona Econômica Especial (ZEE), sua população cresceu em média 11,9% ao ano, a mais alta taxa do mundo. Naquele ano, a cidade contava com 52 mil moradores; em 2016, sua população chegou aos 10,8 milhões de habitantes.
Jack S
keens/S
hutt
ers
tock
96
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 96V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 96 24/09/2020 20:0724/09/2020 20:07
oferece novas formas de acesso aos serviços
públicos e à cidadania, com mais oportunidades
de negócios, empregos, formação profissional e
opções de lazer, mas, por outro, gera problemas
urbanos, como assentamentos humanos precá-
rios e violência.
Para começarmos a estudar esse assunto, leia
os trechos a seguir.
Segregação socioespacial e precariedade habitacional
Associado ao desequilíbrio no aproveitamen-
to do solo urbano e à contraposição entre es-
vaziamento do centro expandido e crescimen-
to periférico, há outro desequilíbrio importan-
te na cidade, que estabelece, grosso modo, uma
distribuição bem definida das distintas classes
sociais: os mais pobres vivendo predominante-
mente nas áreas periféricas e seus assentamen-
tos precários e os de maior renda, no centro ex-
pandido e seu entorno, onde existe maior oferta
de infraestrutura e empregos. Tal distribuição
representa, para os mais pobres, maior distân-
cia das oportunidades, maior tempo gasto no
deslocamento casa-trabalho-casa e maior pre-
cariedade habitacional e urbana. Trata-se, por-
tanto, de uma condição estrutural que favorece
a reprodução da pobreza ao longo das gerações
e impede uma redução mais acelerada das desi-
gualdades de renda. [...]
SÃO PAULO (Município). Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano. SP 2040: a cidade que queremos.
São Paulo: SMDU, 2012. p. 32.
Território e cidadania
Morar na periferia é se condenar duas vezes
à pobreza. À pobreza gerada pelo modelo eco-
nômico, segmentador do mercado de trabalho e
das classes sociais, superpõe-se a pobreza gera-
da pelo modelo territorial. Este, afinal, determi-
na quem deve ser mais ou menos pobre somen-
te por morar neste ou naquele lugar. Onde os
bens sociais existem apenas na forma mercan-
til, reduz-se o número dos que potencialmente
lhes têm acesso, os quais se tornam ainda mais
pobres por terem de pagar o que, em condições
democráticas normais, teria de lhes ser entre-
gue gratuitamente pelo poder público. [...]
SANTOS, Milton. O espaço do cidadão. 3. ed. São Paulo: Nobel, 1996. p. 115.
O direito à cidade
Saber que tipo de cidade queremos é uma
questão que não pode ser dissociada de saber
que tipo de vínculos sociais, relacionamentos
com a natureza, estilos de vida, tecnologias e
valores estéticos nós desejamos. O direito à ci-
dade é muito mais que a liberdade individual de
ter acesso aos recursos urbanos: é um direito de
mudar a nós mesmos, mudando a cidade. Além
disso, é um direito coletivo e não individual, já
que essa transformação depende do exercício de
um poder coletivo para remodelar os processos
de urbanização. A liberdade de fazer e refazer as
nossas cidades, e a nós mesmos, é, a meu ver,
um dos nossos direitos humanos mais preciosos
e ao mesmo tempo mais negligenciados. [...]
HARVEY, David. O direito à cidade. piauí, ed. 82, jul. 2013. Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/
materia/o-direito-a-cidade/. Acesso em: 15 jun. 2020.
1. O que significa dizer que “morar na periferia é
se condenar duas vezes à pobreza” ou que isso
é uma “condição estrutural que favorece a re-
produção da pobreza ao longo das gerações”?
Pode-se dizer que o grau de cidadania de uma
pessoa varia conforme sua posição no territó-
rio da cidade?
2. Como as pessoas podem contribuir para rom-
per esse círculo vicioso, transformando essa
“condição estrutural” e modificando as condi-
ções do lugar onde vivem? Como podem exer-
cer seus direitos de cidadãs, independente-
mente de sua localização no território?
3. Com base em sua experiência e na observa-
ção da realidade, você acredita que no Brasil
o direito à cidade, como propõe David Harvey,
é assegurado para todos? Você conhece, em
seu município, algum movimento organizado
para assegurar os direitos da cidadania, entre
os quais o direito à cidade?Veja as respostas no Manual do Professor.
97
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 97V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 97 24/09/2020 10:5824/09/2020 10:58
A cidade e o cidadão
Pesquisas arqueológicas indicam que a origem das primeiras cidades remonta a aproximadamente 3000 a.C. Elas co-meçaram a se desenvolver a partir do momento em que algumas sociedades tiveram condições de produzir alimentos suficientes para garantir a subsistência dos agricultores e abastecer os mora-dores urbanos, que, assim, puderam se dedicar a outras atividades. Dessa for-ma, ocorreu uma gradativa divisão do trabalho entre o campo e a cidade. Foi na cidade que se desenvolveram o comér-cio e o artesanato, e, principalmente, ela passou a ser o centro de poder.
Ur e Babilônia, duas das primeiras ci-dades do mundo, foram construídas na Mesopotâmia, no vale dos rios Tigre e Eufrates (no atual Iraque). De acordo com parâmetros atuais, seriam cidades pequenas, mas, para a época, eram grandes aglomerações. Outras cidades também foram erguidas associadas a vales fluviais: Mênfis e Tebas, no vale do Nilo; Pequim e Hang-chou, no vale do rio Amarelo, entre outras. Ainda na Antiguidade, as cidades foram se tornando cada vez maiores. Atenas, a mais importante cidade-Estado grega, em seu auge, por volta do século V a.C., che-gou a ter aproximadamente 400 mil habitantes.
Portanto, desde sua origem, as cidades que mais cresceram em geral eram centros de poder, isto é, as capitais dos impérios na Antiguidade e, mais recentemente, dos Estados nacionais. Roma é um bom exemplo: a ci-dade, hoje capital da Itália, foi também a capital do Império Romano e che-gou a abrigar, em seu apogeu, no início da era cristã, entre 700 mil e 1 mi-lhão de habitantes, o que, mesmo por parâmetros atuais, seria uma cidade grande. Aliás, a própria palavra capital é derivada do latim caput, que signi-fica “cabeça”. Roma foi a cabeça do Império Romano e comandou um vasto território sob seu controle.
A palavra cidade deriva do latim civitas (“cidade, reunião de cidadãos”), ci-dadão vem do latim civis (“moradores da cidade”), e o termo civil vem do latim civilis (“pertencente ao cidadão, de cidade”). A civitas romana era entendida
Estima-se que, por volta de 2500 a.C., Ur chegou a ter cerca de 50 mil habitantes e Babilônia, a maior cidade da época, 80 mil moradores.
Fon te: elaborado com base em DUBY, Georges. Atlas Histórico Mundial. Barcelona: Larousse, 2007. p. 16.
Port
al d
e M
ap
as/A
rqu
ivo
da e
ditora
40º L
40º N
Rio Danúbio
Rio
Tig
re
Rio
Nilo
Rio
Eu
fratesIlha deChipre
Ilha deCreta
Mar Mediterrâneo
Mar NegroMar
Cáspio
Mar V
erm
elh
o
Golfo
Pérsico
ÁsiaMenor Assíria
Egito
Arábia
PalestinaSuméria
Babilônia
Mesopotâmia
Grécia
Sídon
Mên�s
Jerusalém
Ur
Babilônia
Nínive
Tiro
Beirute
Biblos
Tebas
Cáspio
0 620 1 240
km
Antiguidade: as primeiras cidades
Gladiador. Diretor: Ridley Scott. Estados Unidos, 2000. (2 h 51 min)
O filme conta a história de Maximus (Russell Crowe), general do Exército romano que se torna escravo e então gladiador. Embora o enredo não seja estritamente fiel aos eventos históricos, o filme mostra como o Império Romano se estendia amplamente por áreas como sudoeste da Espanha e norte da África, além de trazer uma bela reconstituição da capital, Roma.
Saber
Repro
dução/C
olu
mbia
P
ictu
res d
o B
rasil
98
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 98V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 98 24/09/2020 10:5824/09/2020 10:58
como um lugar de reunião de pessoas com objetivos comuns, submetidas à
mesma lei, e girava em torno da participação dos cidadãos romanos na vida
pública. No entanto, apenas homens livres nascidos em Roma eram considera-
dos cidadãos: mulheres, estrangeiros e escravos não tinham cidadania roma-
na e, portanto, não podiam votar nem se candidatar às eleições.
A etimologia da palavra cidade também pode ser encontrada no contexto
grego da pólis, que era como os helenos chamavam suas cidades-Estados,
dentre as quais se destacava Atenas. Segundo o filósofo político italiano
Norberto Bobbio (1909-2004): “O significado clássico e moderno de política,
derivado do adjetivo originado de pólis (politikós), que significa tudo o que se
refere à cidade e, consequentemente, o que é urbano, civil, público [...]”. Ou
seja, a pólis grega era o local de exercício da política, da cidadania. No entan-
to, era uma concepção de cidadania diferente da que temos atualmente. No
século V a.C., época do apogeu de Atenas, cidadãos eram apenas os homens
livres nascidos nessa pólis, filhos de pai e mãe atenienses; as mulheres, os
estrangeiros e os escravos não eram considerados cidadãos e, portanto, não
exerciam a cidadania, não praticavam a política.
Assim, desde sua concepção greco-romana, a cidade está associada ao
exercício da cidadania, da política, hoje em dia estendidas a todos, sem exce-
ção, ao menos nos países onde vigora o Estado democrático de direito. Se-
gundo o Dicionário de Filosofia de Gérard Durozoi e André Roussel, em sua
origem “do latim civitas, a cidade é uma comunidade política organizada,
que possui um mínimo de autonomia” e “o cidadão é aquele que usufrui os
direitos e cumpre os deveres definidos pelas leis e costumes da cidade”.
Durozoi e Roussel ainda acrescentam: “a cidadania é, antes de mais nada, o
resultado de uma integração social, de modo que ‘civilizar’ significa em pri-
meiro lugar ‘tornar cidadão’”.
Isso ajuda a compreender por que, quando cidadãos querem protestar
contra alguma arbitrariedade do Estado, contra alguma violência ou injustiça,
em geral organizam uma manifestação política na cidade (em ruas centrais,
importantes), pois é ela o espaço do exercício da cidadania por excelência.
BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfrancesco. Dicionário de Política. 7. ed. Brasília: Editora UnB, v. 2, 1995. p. 954.
DUROZOI, Gérard; ROUSSEL, André. Dicionário de
Filosofia. 2. ed. Campinas: Papirus, 1995. p. 79.
NÃO ESCREVA NO LIVRO
Embora em um contexto bastante diferente, tivemos e ainda temos no Brasil situações de exclusão social semelhantes às expostas no texto ao lado. Fomos o último país da América a acatar a abolição formal da escravidão da era moderna, o que ocorreu apenas em 1888, e o direito de voto das mulheres só foi conquistado em 1932, com a publicação do primeiro Código Eleitoral (Decreto n. 21.076).
• Converse com os colegas sobre que impactos e consequências a falta de cidadania e a desigualdade de direitos têm no desenvolvimento de uma sociedade.
Veja a resposta no
Manual do Professor.
Conversa
A 1a Marcha das Mulheres Indígenas, realizada em 2019 com o tema “Território: nosso corpo, nosso espírito”, levou 2 500 representantes de 130 povos a Brasília não só para protestar contra projetos do governo Jair Bolsonaro que pretendem liberar a mineração em territórios indígenas, prejudicando o modo de vida e a sobrevivência das populações originais, bem como para pressionar o Governo Federal pela preservação e demarcação das Terras Indígenas.
Math
eus W
Alv
es/F
utu
ra P
ress
99
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 99V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 99 24/09/2020 10:5824/09/2020 10:58
O processo de urbanizaçãoComo vimos, ao longo da história, as cidades
foram se constituindo como centros de poder e de
negócios, e, em virtude da combinação de fatores
naturais, econômicos, culturais e políticos, mui-
tas se especializaram em determinadas funções
– político-administrativas, industriais, portuárias,
turísticas, religiosas, etc. –, enquanto outras são
multifuncionais.
Na Alta Idade Média europeia, durante o feuda-
lismo, as cidades perderam importância em razão
da descentralização político-econômica carac-
terística desse sistema de produção e da conse-
quente fragmentação do poder e da redução das
trocas comerciais. Durante a Baixa Idade Média e
nos primórdios do capitalismo, com o aumento das atividades comerciais, as
cidades ganharam impulso e passaram a adquirir cada vez mais importância
porque voltaram a ser o centro dos negócios. Com a formação dos Estados
modernos, as capitais voltaram a ganhar importância, porém foi somente a
partir do capitalismo industrial que se iniciou um processo de urbanização
contínuo, que se estende até os dias de hoje.
Urbanização
É um processo socioeconômico complexo que transforma o espaço geográ-fico, convertendo áreas anteriormente rurais em assentamentos urbanos, além de mudar a distribuição espacial da população do campo para a cidade. Inclui mudanças nas ocupações dominantes, estilo de vida, cultura e comportamento e, portanto, altera a estrutura demográfica e social tanto das áreas urbanas quanto das rurais. A principal consequência da urbanização é o aumento do número e da área ocupada pelos assentamentos urbanos, assim como dos residentes urbanos em comparação com os rurais. [...]
A taxa de urbanização é expressa como a porcentagem da população residente em áreas urbanas, definidas de acordo com os critérios utilizados pelos governos nacionais para distingui-las das áreas rurais. Na prática, a urbanização se refere ao aumento da porcentagem da população residente em áreas urbanas e ao cres-cimento associado ao número de moradores urbanos, ao tamanho das cidades e à área total ocupada por assentamentos urbanos.
UNITED NATIONS. Department of Economic and Social Affairs. Population Division. World Urbanization Prospects 2018. Highlights. New York, 2019. p. iii. [Tradução dos autores]
Conceitos
Entre os séculos XVIII e XIX, durante as duas primeiras Revoluções In-
dustriais, as principais cidades dos atuais países desenvolvidos europeus
tiveram um crescimento muito rápido, decorrente do processo de industriali-
zação, que gerou vários postos de trabalho, atraindo um grande contingente de
pessoas do campo.
As grandes metrópoles, especialmente as que são cidades globais e têm muitas conexões com o mundo, como Paris (França), são multifuncionais. Na foto, de 2015, vista panorâmica da capital francesa.
DaLiu/Shutterstock
100
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 100V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 100 24/09/2020 10:5824/09/2020 10:58
Todavia, a urbaniza-ção ainda era um fenô-meno circunscrito a es-ses países precursores do processo de indus-trialização, e até o final do século XX o mundo era predominantemente rural. Observe o gráfico da lado.
Historicamente, a urbanização foi condi-cionada por dois fatores: os atrativos, que es-timulam as pessoas a migrar para as cidades, e os repulsivos, que as impulsionam a sair do campo. Os fatores atra-tivos estão associados às transformações pro-vocadas na cidade pela industrialização, sobre-tudo geração de empre-gos tanto no setor indus-trial quanto no de comércio e serviços, o que não necessariamente se reflete em melhoria da qualidade de vida. O crescimento desenfreado de cidades nem sempre foi acompanhado de crescimento de infraestrutura, e a maior parte dos trabalhadores que iam para a cidade em busca de emprego ganhava muito pouco e morava em cortiços. Além disso, eram frequentes doenças e epide-mias, pela falta de saneamento básico e de higiene. Só com o passar do tempo e com a luta por direitos trabalhistas, sobretudo no século XX, a elevação da renda dos trabalhadores e os investimentos governamentais em infraestrutu-ra urbana melhoraram as condições de vida nas cidades de muitos países da Europa, da América do Norte e da Ásia.
Os fatores repulsivos são típicos de alguns países em desenvolvimento, principalmente nos menos desenvolvidos. Estão associados às más condi-ções de vida na zona rural, por causa da estrutura fundiária bastante con-centrada, dos baixos salários, da falta de apoio aos pequenos agricultores, do arcaísmo das técnicas de cultivo e da falta de infraestrutura que torna a agricultura mais suscetível às intempéries; embora, em regiões que se mo-dernizaram, o processo de mecanização das atividades agrícolas também contribua para a migração rural-urbana. O resultado é o êxodo rural, que, nas grandes metrópoles, provoca o agravamento dos problemas urbanos em ra-zão do aumento abrupto da população.
Cortiço: não há uma conceituação oficial para cortiço, que pode ser informalmente definido como moradia que, embora regular, está localizada em zonas degradadas das cidades, na qual os membros de duas ou mais famílias pobres dividem os espaços coletivos da residência, como cozinha, banheiro e tanque de lavar roupa. A infraestrutura quase sempre é precária e há uma superlotação dos cômodos, com condições de higiene inadequadas.Estrutura fundiária: número, tamanho e distribuição dos imóveis rurais.
Mundo: evolução da população urbana e rural — 1950-2050
0
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
Pop
ula
•‹o
(bilh
›es)
1,0
3,0
2,0
Urbano
4,0
6,0
5,0
7,0
Rural
NÃO ESCREVA NO LIVRO
Fonte: elaborado com base em UNITED NATIONS. Department of Economic and Social Affairs. Population Division. World Urbanization Prospects 2018. Highlights. New York, 2019. p. 5.
• Analise o gráfico e responda:
a) A partir de quando o mundo se tornou predominantemente urbano? Qual é a projeção para o futuro?
b) Como se dá o processo de urbanização no município onde você mora? A cidade está crescendo ou não? Veja as respostas no Manual do Professor.
Interpretar
Fórm
ula
Pro
du
çõe
s/A
rquiv
o d
a e
dito
ra
101
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 101V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 101 24/09/2020 10:5824/09/2020 10:58
Após a Segunda Guerra, a urbanização se acelerou em muitos países em desenvolvimento que ainda eram agrícolas, mas estavam em proces-so de industrialização, principalmente na América Latina. Em contrapar-tida, a Ásia e sobretudo a África, apesar da aceleração recente, ainda são continentes pouco urbanizados. Ou seja, suas maiores cidades ainda vão crescer muito, com todas as vantagens e todos os problemas decorrentes disso. O continente africano em especial é um caso que tem chamado a atenção. Após um passado de colonização e de exploração humana e de re-cursos naturais por potências imperialistas europeias, que não investiram em desenvolvimento urbano nem de instituições, o continente africano tem protagonizado, desde os anos 2000, altos índices de crescimento econô-mico e de urbanização. Isso porque a China vem investindo muito dinheiro em projetos, sobretudo de infraestrutura e telecomunicações, em vários países africanos, em especial da África subsaariana, que, historicamente, sempre apresentou os menores índices de desenvolvimento. Alguns críti-cos alegam que se trata de um neocolonialismo, outros afirmam que se trata de uma relação de soft power (poder brando) na qual a China busca estabelecer uma área de influência em um grande continente, geralmente negligenciado por outras potências e que, ao mesmo tempo, representa um potencial mercado consumidor para produtos chineses.
Taxa de urbanização por regiões (porcentagem da população total)
Regiões 1950 2018
América do Norte 63,9 82,2
América Latina e Caribe 41,3 80,7
Europa 51,7 74,5
Oceania 62,5 68,2
Ásia 17,5 49,9
África 14,3 42,5
Mundo 29,6 55,3
Fonte: UNITED NATIONS. Department of Economic and Social Affairs. Population Division. World Urbanization Prospects 2018. Highlights. New York, 2019. p. 6.
Embora as áreas urbanizadas concentrem percentual cada vez maior da população mundial, a proporção de pessoas que vivem nas grandes aglome-rações urbanas continua pequena. Como mostra o gráfico na página a seguir, embora as aglomerações de mais de 10 milhões de habitantes, designadas pela Organização das Nações Unidas (ONU) de megacidades, venham cres-cendo, metade dos moradores urbanos ainda se concentra em pequenas e médias cidades, situadas na faixa de menos de 500 mil habitantes. Em 2018, segundo a Divisão de População da ONU, a população urbana correspondia a 55% do total mundial, e estima-se que chegue a 68% em 2050. A tendência no futuro é que cada vez mais pessoas se concentrem nas maiores cidades – acima de 500 mil habitantes.
ABC do
desenvolvimento
urbano. Marcelo Lopes de Souza. Bertrand Brasil, 2003.
Livro de divulgação científica voltado às pessoas leigas com o intuito de qualificá-las para o debate sobre a cidade e os problemas urbanos.
Saber
Re
pro
dução
/Editora
Bert
ran
d B
rasil
O menino que
descobriu o vento. Chiwetel Ejiofor. Reino Unido, Malauí, 2019. (1 h 53 min)
O filme conta a história real de William Kamkwamba, um garoto que, inspirado num livro de ciências, desenvolveu um moinho de vento elétrico e salvou a vila em que morava, no Malauí, da fome devastadora provocada pela seca. O filme mostra o êxodo que acontecia na vila em decorrência da falta de infraestrutura para lidar com as intempéries.
Re
pro
dução/N
etf
lix
102
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 102V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 102 24/09/2020 10:5824/09/2020 10:58
Mundo: distribuição da população urbana, segundo o tamanho das cidades — 1990-2030
0
1
1990
Megacidades de10 milhões ou mais
Pop
ula
ção
tota
l (bi
lhõe
s)
2018 2030
2
4
5
3
Grandes cidadesde até 10 milhões
Cidades de tamanhomédio de 1 a 5 milhões
Cidades de500.000 a 1 milhão
Assentamentos urbanoscom menos de 500.000
Grá
fico
s: Fórm
ula
Pro
du
çõe
s/A
rquiv
o d
a e
dito
ra
Taxa de urbanização em países desenvolvidos e emergentes — 2018
100
80
60
40
20
0
100,091,9 91,6
86,6 83,4 82,3 80,2 77,3
66,459,2
34,0
98,0
Cingapura
Bélgica
Argentina
Japão
Brasil
Reino Unido
Estados UnidosMéxico
Alemanha
África do Sul
ChinaÍndia
(%)
Taxa de urbanização em países em desenvolvimento não industrializados — 2018
100
80
60
40
20
0
95,389,4
80,8 77,9
55,350,3
36,6
25,520,8 19,6
13,0
88,6
Uruguai
Líbano
Gabão
Colôm
biaPeru
Haiti
Nigéria
Bangladesh
Afeganis
tão
Etiópia
Sudão do S
ul
Burundi
(%)
Fonte: elaborado com base em UNITED NATIONS. Department of Economic and Social Affairs. Population Division.
World Urbanization Prospects: the 2018 Revision. New York, 2019. p. 58.
Fonte: elaborado com base em UNITED NATIONS. Department of Economic and Social Affairs.
Population Division. World Urbanization Prospects: the 2018 Revision, Online Edition. New York,
2018. Disponível em: https://esa.un.org/unpd/wup/. Acesso em: 12 jun. 2020.
Fonte: elaborado com base em UNITED NATIONS. Department of Economic and Social Affairs.
Population Division. World Urbanization Prospects: the 2018 Revision, Online Edition. New York,
2018. Disponível em: https://esa.un.org/unpd/wup/. Acesso em: 12 jun. 2020.
• Analise os gráficos e responda:
a) Quais são as faixas de cidades que ganharam mais população no período 1990--2018? Qual é a projeção para o futuro?
b) O que você percebe ao analisar as taxas de urbanização nos dois grupos de países? Há homogeneidade?
Interpretar
NÃO ESCREVA NO LIVRO
Veja as respostas no
Manual do Professor.
Saber
Divisão de População das Nações Unidas. Disponível em:
www.un.org/en/development/desa/population. Acesso em: 5 ago. 2020.
Site (em inglês) com informações sobre população e urbanização mundiais, incluindo as megacidades.
Re
pro
dução
/ww
w.u
n.o
rg
103
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 103V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 103 24/09/2020 10:5824/09/2020 10:58
Rede e hierarquia urbanas
As cidades são muito diferentes entre si. Extensão territorial, número de
habitantes e diversidade de serviços e funções proporcionam experiências
de vida distintas em cada uma delas. A urbanização, no entanto, transforma
o modo de vida das pessoas. Estamos mais distantes da natureza e menos
sujeitos aos seus ritmos na organização de nossa vida. O ritmo urbano tende
a se sobrepor ao ritmo rural e a submetê-lo.
As cidades se relacionam com outras cidades. Assim, um aspecto impor-
tante que também deve ser considerado no estudo da Geografia urbana é a
posição e a função que cada uma delas ocupa na rede urbana, conceito que
indica o conjunto de cidades – de um mesmo país ou de países vizinhos –
que se interligam umas às outras por meio dos sistemas de transporte e de
telecomunicação, através dos quais se dão os fluxos de pessoas, mercado-
rias, serviços, informações e capitais. Essa noção foi desenvolvida a partir
da “teoria das localidades centrais”, proposta pelo geógrafo alemão Walter
Christaller (1893-1969) num livro lançado em 1933 e traduzido para o inglês
em 1966. A partir daí passou-se a utilizar o conceito de rede urbana para se
referir à crescente articulação e hierarquização entre as cidades, resultante
da expansão do processo de industrialização-urbanização.
Em muitos países em desenvolvimento, particularmente naqueles de
baixo índice de industrialização e urbanização, as redes são bastante de-
sarticuladas, e as cidades estão dispersas no território. Já nos países de-
senvolvidos, elas são mais densas e articuladas por causa dos altos índices
de industrialização e de urbanização, da economia diversificada e dinâmica,
dos mercados internos com alta capacidade de consumo e dos grandes in-
vestimentos em transportes e telecomunicações. Em geral, são regiões do
planeta onde se desenvolveram as metrópoles e, sobretudo, as megalópo-
les, como Boswash (observe o mapa na página a seguir).
Vista aérea do complexo viário na proximidade de Shanghai, China, em 2018.
CHRISTALLER, Walter. Central places in Southern
Germany. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1966.
Capta
in W
ang
/Shu
tte
rsto
ck
104
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 104V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 104 24/09/2020 10:5824/09/2020 10:58
Macrometrópole Paulista: nome que a Emplasa usa para definir a megalópole estadual formada pelas regiões metropolitanas de São Paulo, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte; pelas aglomerações urbanas de Jundiaí e Piracicaba; mais a unidade regional de Bragantina. Ela abrange 174 municípios (50% da área urbana do estado) e, em 2018, abrigava 33,7 milhões de habitantes (74,6% da população estadual) e gerava 82% do PIB do estado de São Paulo.
Fonte: elaborado com base em CHARLIER, Jacques (dir.). Atlas du 21e siècle édition 2012. Groningen: Wolters-Noordhoff; Paris: Éditions Nathan, 2014. p. 144. (Original sem data.)
A megalópole de Boswash, nos Estados Unidos
OCEANO
ATLÂNTICO
40° N
70° O
Washington
Baltimore
Filadél�a
Paterson
Newark
New Brunswick
Long Branch
Nova York
Long Island
Hartford
Providence
Boston
5 milhões ou mais
Quantidade de habitantes
1 milhão a 4,9 milhões
500 mil a 999 mil
250 mil a 499 mil
100 mil a 249 mil
Limite da megalópole0 106 212
km
Aglomerações urbanas, metrópoles e megalópoles
Segundo a Divisão de População da ONU, aglomeração urbana “refere-se à população contida no interior de um território contíguo, habitado em níveis variáveis de densidade, sem levar em conta os limites administrativos das cidades”. Em outras palavras, é um conjunto de cidades em grande parte conurbadas, isto é, interligadas pela expansão periférica da malha urbana de cada uma delas ou pela integração socioeconômica historicamente comandada pelo processo de industrialização e atualmente, cada vez mais, pelo desenvolvimento do comércio e dos serviços.
No Brasil, as maiores aglomerações urbanas têm sido legalmente reconhecidas como regiões metropolitanas, que também costumam ser chamadas de metrópoles (do grego metrópolis, “cidade mãe” ou “cidade matriz”). Nelas, há sempre um município-núcleo, com maior capacidade polarizadora e que lhe dá nome, como São Paulo, Salvador, Curitiba, Belém, etc. As regiões metropolitanas foram criadas por lei para facilitar o planejamento urbano de seus municípios. Isso é executado por órgãos especialmente criados para esse fim, como a Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. (Emplasa), encarregada de planejar as regiões metropolitanas que formam a Macrometrópole Paulista.
Uma megalópole é formada quando os fluxos de pessoas, capitais, informações, mercadorias e serviços entre duas ou mais metrópoles estão fortemente integrados por modernas redes de transporte e telecomunicação.
A primeira megalópole a se estruturar no mundo, denominada informalmente Boswash, abrange um cordão de cidades, no nordeste dos Estados Unidos, que se estende de Boston até Washington, tendo Nova York como a metrópole mais importante.
Ainda nos Estados Unidos, há San-San, que se estende de San Francisco a San Diego, passando por Los Angeles, na Califórnia, e Chipitts (também conhecida como megalópole dos Grandes Lagos), que vai de Chicago a Pittsburgh e se estende até o Canadá, por cidades como Toronto, a maior desse país.
A megalópole japonesa situa-se no sudeste da ilha de Honshu, no eixo que se estende de Tóquio até o norte da ilha de Kyushu, passando por Osaka e Kobe.
Na Europa, a megalópole se desenvolveu no noroeste do continente, englobando as aglomerações do Reno-Ruhr, na Alemanha, as áreas metropolitanas de Paris, na França, e de Londres, no Reino Unido; portanto, é transnacional.
No Brasil, a megalópole nacional em formação é composta pelas regiões metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo, estendendo-se pelas outras que compõem a Macrometrópole Paulista.
Conceitos
Port
al de M
apas/A
rquiv
o d
a e
ditora
105
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 105V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 105 24/09/2020 10:5824/09/2020 10:58
Dentro da rede urbana, as cidades são os nós dos sistemas de produção e
distribuição de mercadorias e da prestação de serviços diversos, que se orga-
nizam segundo níveis hierárquicos distribuídos de forma desigual pelo terri-
tório. Por exemplo, o Centro-Sul do Brasil possui uma rede urbana com grande
número de metrópoles, capitais regionais e centros sub-regionais bastante ar-
ticulados entre si. Já na Amazônia, as cidades são esparsas e bem menos arti-
culadas, o que leva centros menores a exercerem o mesmo nível de importân-
cia na hierarquia urbana regional que outros maiores localizados no Centro-Sul.
Outro fator importante que devemos considerar ao analisar os fluxos no inte-
rior de uma rede urbana é a condição de acesso proporcionada pelos diferentes
níveis de renda da população. Um morador de maior renda de uma cidade peque-
na muitas vezes consegue estabelecer mais conexões econômicas e culturais
que um morador de pouca renda de uma grande metrópole. A mobilidade das
pessoas entre as cidades da rede urbana depende de seu nível de renda.
Segundo o IBGE, as regiões de influência das cidades brasileiras são de-
limitadas principalmente pelo fluxo de consumidores que utilizam o comér-
cio e os serviços públicos e privados no interior da rede urbana. Ao realizar
o levantamento para a elaboração do mapa da rede urbana, investigou-se
a organização dos meios de transporte entre os municípios e os principais
destinos das pessoas que buscam produtos e serviços. São Paulo, a grande
metrópole nacional, mais Rio de Janeiro e Brasília, metrópoles nacionais, es-
tendem suas influências por praticamente todo o território brasileiro. Obser-
ve o mapa da hierarquia urbana no Brasil.
Brasil: rede urbana, segundo o IBGE — 2007
Equador
50º O
0º
Trópico de Capricórnio
OCEANOATLÂNTICO
São Paulo
Brasília
Rio de Janeiro
Belém
Recife
Manaus
BoaVista
Rio Branco
Porto Velho
Macapá
Palmas
Goiânia
Salvador
Curitiba
Fortaleza
Porto Alegre
BeloHorizonte
Natal
Maceió
Cuiabá
Aracaju
Vitória
Teresina
São Luís
JoãoPessoa
Campo Grande
Florianópolis
Grande Metrópole Nacional
Hierarquia dos centros urbanos
Metrópole
Metrópole Nacional
Capital Regional A
Capital Regional B
Capital Regional C
Centro sub-regional B
Centro sub-regional A
Centro de Zona A
Centro de Zona B
São Luís
0 455 910
km
Fonte: elaborado com base em IBGE. Regiões de influência das cidades 2007. Rio de Janeiro, 2008.
Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv40677.pdf. Acesso em: 14 jun. 2020.
¥ Observe o mapa e
responda:
a) Quais são as
cidades mais
influentes do
Brasil? Por quê?
b) Qual é a posição
que a cidade
em que vocês
vivem ocupa
na rede urbana
brasileira?
Ela aparece na
classificação
do IBGE?
Veja as respostas no
Manual do Professor.
Interpretar
NÃO ESCREVA NO LIVRO
Port
al de M
apas/A
rquiv
o d
a e
ditora
106
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 106V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 106 24/09/2020 10:5824/09/2020 10:58
Como vimos, o conceito de hierarquia urbana surge na mesma época do
conceito de rede urbana e indica o ordenamento das cidades nas relações
que estabelecem no território segundo seu poder e influência. Por exemplo,
como mostra o mapa da página anterior, a metrópole nacional é o nível má-
ximo de poder e influência econômica na rede urbana de um país, e a vila, o
nível mais baixo, por isso sofre influência de todas as outras. Todavia, essa
concepção tradicional de hierarquia urbana já não oferece uma boa descri-
ção das relações estabelecidas entre as cidades no interior da rede urbana.
Com os avanços da revolução técnico-científica, a acelerada modernização
dos sistemas de transporte e de telecomunicação, o barateamento e a maior
facilidade de obtenção de energia, a disseminação de aviões, trens e auto-
móveis mais velozes, enfim, com a redução do tempo de deslocamento, as
relações entre as cidades já não seguem mais essa dinâmica. No atual está-
gio informacional do capitalismo, estruturou-se uma nova hierarquia urbana,
na qual a relação da vila ou da cidade local pode se dar com o centro regional,
com a metrópole regional ou até mesmo diretamente com a metrópole nacio-
nal. Compare os esquemas a seguir.
Fonte: elaborado com base em SANTOS, Milton. Metamorfoses do espaço habitado. 5. ed. São Paulo: Hucitec, 1997. p. 55.
Esquema clássico de relações entre as cidades em uma rede urbana
Metrópole nacional
Metrópole regional
Centro regional
Cidade local
Vila
Esquema atual de relações entre as cidades em uma rede urbana
Metrópole regional
Centro
regional
Cidade
local
Vila
Metrópole
nacional
Ilustr
ações: C
assia
no R
öda/A
rquiv
o d
a e
ditora
Re
pro
dução
/ww
w.
em
pla
sa.s
p.g
ov.
br
Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. (Emplasa). Disponível em: www.emplasa.sp.gov.br. Acesso em: 5 ago. 2020.
O site contém dados sobre as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas do estado de São Paulo (a Macrometrópole Paulista) e do Brasil.
Saber
107
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 107V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 107 24/09/2020 10:5824/09/2020 10:58
O capitalismo, em sua atual etapa informacional, com o avanço da globa-
lização e a consequente aceleração de fluxos no espaço geográfico planetá-
rio, criou uma rede urbana mundial cujos principais nós ou pontos de interco-
nexão são as chamadas cidades globais.
No mundo há várias hierarquizações de cidades, das quais a mais co-
nhecida é a produzida pelo grupo de pesquisa Globalization and World Cities
(GaWC), ligado à Universidade de Loughborough, no Reino Unido, que classifi-
ca as cidades globais em alfa, beta e gama, de acordo com o grau de conexão
com outras cidades da rede urbana mundial e com a capacidade de polari-
zação que exercem. Observe o mapa a seguir e perceba que nem sempre as
maiores cidades são as mais conectadas. O grau de conexão não tem a ver
apenas com o tamanho da população, mas sobretudo com a infraestrutura
que a cidade possui e com sua capacidade de oferecer bens e serviços varia-
dos, o que gera diversos fluxos de entrada e saída.
Cidades globais alfa, segundo GaWC — 2018
OCEANOATLÂNTICOOCEANO
PACÍFICO
OCEANOPACÍFICO
OCEANOÍNDICO
OCEANO GLACIAL ÁRTICO
Equador
Trópico de Câncer
Trópico de Capricórnio
Círculo Polar Ártico
0º
0º
Mer
idia
no
de
Gre
enw
ich
Nova York
Londres
Dublin
Amsterdã
Bruxelas
MoscouVarsóvia
IstambulViena
Frankfurt
Paris
Madri Zurique
Dubai
Nova Délhi
Riad
Lisboa
Mumbai
Kuala Lumpur
SydneyMelbourne
Cingapura
Jacarta
Hong Kong
Taipé
Guangzhou
Shenzhen
Manila
Xangai
TóquioSeulPequim
Milão
Roma
Barcelona
Luxemburgo
Washington, D.C.
Chicago
Toronto Montreal
Miami
São Francisco
SantiagoBuenos Aires
Los Angeles
Cidade do México
São Paulo Johannesburgo
Bogotá
Praga Budapeste
Munique
Estocolmo
Houston
Bangcoc
Alfa ++
Alfa +
Alfa
Alfa –
Cidades globais
0 2075 4150
km
Fonte: elaborado com base em GaWC. O mundo de acordo com GaWC 2018.
Disponível em: https://www.lboro.ac.uk/gawc/world2018t.html. Acesso em: 8 set. 2020.
• Há dois conceitos fundamentais para compreender as cidades e suas relações no espaço geográfico – rede urbana e hierarquia urbana.
a) Conceitue-os, mostrando suas diferenças.
b) Explique as diferenças fundamentais entre o esquema clássico e o esquema atual de hierarquia urbana. Veja as respostas no Manual do Professor.
Interpretar NÃO ESCREVA NO LIVRO
Port
al de M
apas/A
rqu
ivo d
a e
ditora
108
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 108V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 108 24/09/2020 10:5824/09/2020 10:58
CONEXÕES
CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
NÃO ESCREVA NO LIVRO
O papel das cidades globais
A questão internacional mais ventilada nos
últimos anos foi o ressurgimento do naciona-
lismo [...] porém, [essa] não é a principal das
várias tendências que estão moldando nos-
so futuro. Pode muito bem ser um “momento”
e não um movimento de longo prazo. Esta é a
tese de um importante texto postado poucas
semanas atrás por Ivo Daalder, presidente do
Chicago Council on Global Affairs. Ele escreveu:
“A tendência mais importante de nossa época
é a urbanização. Pela primeira vez na história,
a população é mais urbana que rural. E o ritmo
da urbanização está aumentando a olhos vis-
tos. Só este ano as cidades ganharão 80 milhões
de pessoas. São 200 mil por dia. A maioria de-
las está se mudando para cidades com 500 mil
habitantes ou mais. As grandes cidades respon-
dem por três quartos da oferta mundial de bens,
serviços e empregos. [...]”.
Obviamente, nem tudo são flores. As dificul-
dades com que as megalópoles se deparam são
o reverso da moeda. [...]
Mudanças climáticas têm um impacto, ao
que tudo indica, crescente na vida urbana. [...]
Tais áreas são grandes poluidoras da água e da
atmosfera, respondendo por setenta por cento
das emissões de CO2. Devido à falta de dinheiro
e de vontade política ou competência por parte
das autoridades, a poluição dos cursos d’água
é uma dolorosa cena que os residentes de São
Paulo são obrigados a contemplar diariamente.
LAMOUNIER, Bolívar. O papel das cidades globais. Istoƒ, 13 jun.
2019. Disponível em: https://istoe.com.br/o-papel-das-cidades-
globais/. Acesso em: 12 ago. 2020.
NÃO ESCREVA NO LIVROVeja as respostas das atividades
desta seção no Manual do Professor.
Fonte: elaborado com
base em THE MORI
MEMORIAL FOUNDATION.
Institute for Urbans
Strategies. Global Power
City Index 2018. Tokyo,
2018. Disponível em:
http://mori-m-foundation.
or.jp/pdf/GPCI2018_
summary.pdf. Acesso em:
30 mar. 2020.
• Leia o texto e em seguida compare a classificação das cidades globais alfa feita pelo grupo de estu-
dos GaWC (página anterior) com a do Instituto de Pesquisas The Mori Memorial Foundation.
Equador
Círculo Polar Ártico
Trópico de Câncer
Trópico de Capricórnio
0°
180°
OCEANOPACÍFICO
OCEANOÍNDICO
OCEANO GLACIAL ÁRTICO
OCEANOATLÂNTICO
OCEANOATLÂNTICO
2o Nova York3o Tóquio
7o Seul
1o Londres
6o Amsterdã
8o Berlim
17o Viena4o Paris
9o Hong Kong
5o Cingapura
35o Taipé
20o Boston
14o Toronto
19o Chicago
12o Los Angeles
39o Cidade do México
40o São Paulo
38o Buenos Aires
10o Sydney
41o Jacarta
32o Kuala Lumpur
42o Johannesburgo
36o Bangcoc43o Mumbai
13o São Francisco
21o Vancouver
27o Washington, D.C.
26o Xangai
23o Pequim
11o Estocolmo
33o Moscou
18o Copenhague
25o Bruxelas
30o Genebra
31o Milão
24o Barcelona
22o Madri
34o Istambul
44o Cairo
29o Dubai
15o Frankfurt
16o Zurique
37o Fukuoka28o Osaka
Economia
P&D
Interação cultural
Moradia
Meio ambiente
Facilidade de acesso
As 10 principais cidades globais
1310,6
1265,9
1237,5
1232,2
1204,9
1200,7
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1700
1692,3
1565,3
1462,0
1393,9
0 2 700 5400
km 10o
9o
8o
7o
6o
5o
4o
3o
2o
1o
Cidades globais, segundo The Mori Memorial Foundation — 2018
Port
al de M
apas/A
rquiv
o d
a e
ditora
a) Quais cidades estão entre as dez principais
nas duas classificações?
b) Há alguma cidade brasileira nas duas clas-
sificações? Qual é a posição dela nos dois
rankings de cidades globais? O que se pode
concluir disso?
c) Aponte as semelhanças e as diferenças nas
projeções cartográficas de ambos os mapas.
d) O que significa dizer que “a tendência mais
importante de nossa época é a urbaniza-
ção”? Qual é o papel das cidades globais?
Que problemas elas enfrentam?
109
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 109V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 109 24/09/2020 10:5824/09/2020 10:58
DIÁLOGOSNÃO ESCREVA NO LIVRO
1. O professor, arquiteto e urbanista Candido Malta Campos Filho (1936-)
propõe que as pessoas avaliem em três níveis a organização de sua vida
em relação ao acesso ao comércio e serviços:
• apoio imediato à moradia, utilizado diária ou semanalmente, como qui-
tanda, açougue, bar, padaria, cabeleireiro, mercadinho, etc.;
• apoio imediato à moradia, mas com menor demanda, como lojas de rou-
pas e eletrodomésticos, grandes supermercados;
Veja as respostas das atividades desta
seção no Manual do Professor.
• apoio a outras atividades urbanas, com frequência bem menor que as
duas anteriores, como relojoaria, loja de automóveis, equipamentos in-
dustriais, entre outros.
A diferença de demanda implica a distância a que cada estabelecimen-
to deveria estar do local de moradia para garantir boa qualidade de vida,
determinando aquilo a que se pode ter acesso a pé ou não. Campos Filho
diz ainda que as escolas para crianças e jovens deveriam ser acessíveis a
pé, e o trajeto, seguro o suficiente para eles irem sozinhos, assim como a
distância de nossa casa até o acesso ao ponto ou entrada do sistema de
transporte coletivo. Observe o croqui da malha urbana que ele apresenta
e elabore um similar para retratar a sua realidade espacial.
Embora a urbanização seja fenômeno global, ainda é difícil encontrar serviços básicos em todas as partes de uma cidade.
tele52/Shutterstock
110
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 110V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 110 24/09/2020 10:5824/09/2020 10:58
2. Elabore dois croquis cartográficos do bairro em que você mora, um deles
para representar a realidade atual, localizando e nomeando os principais
problemas urbanos presentes, e o segundo representando como deveria
ser organizado o espaço urbano do bairro para favorecer a justiça social e
a qualidade ambiental. Ver respostas e orientações
no Manual do Professor.
Fonte: elaborado com base em CAMPOS FILHO, C. M. Reinvente seu bairro. São Paulo: Editora 34, 2010. p. 18.
Ir a pé para a escola é uma
possibilidade para poucas
pessoas nos grandes centros
urbanos.
Lógica da localização da moradia em relação ao comércio e serviços locais
Sua casa
Condução é exigida
2
3
1
Ban
co d
e im
agens/A
rqu
ivo d
a e
ditora
Legenda:
1 Sua casa
2 Distância confortável a pé
3 Distância que exige condução
Raw
pix
el.co
m/S
hu
tte
rsto
ck
111
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 111V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 111 24/09/2020 10:5824/09/2020 10:58
Os problemas sociais urbanosDesigualdades e segregação socioespacial
O medo da violência urbana e a busca por mais segurança e tranquilidade vêm impulsionando a criação de condomínios fecha-dos, sobretudo nas metrópoles. Para isso, muitas pessoas de alto e médio poder aquisitivo mudam-se para esse tipo de conjunto residencial. Esse fenômeno acentua a segregação socioespacial e reduz os espaços urbanos públicos, uma vez que promove o cres-cimento de espaços privados e de circulação restrita. Além disso, muitos bairros, ao perderem habitantes, sofrem um processo de deterioração urbana, caso de algumas áreas do centro de gran-des cidades, como São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Recife (PE), São Luís (MA), entre outras. Muitas prefeituras procuram revitalizar as áreas degradadas das cidades por meio de
As duas fotos são da cidade do Rio de Janeiro (RJ). À esquerda, praia de Ipanema, na zona sul, com o morro Dois Irmãos ao fundo, em 2017. À direita, Vicente de Carvalho, bairro da zona norte, com o morro do Juramento ao fundo, em 2015. É possível que muitas pessoas vivam na zona sul sem conhecer bairros mais distantes do centro da cidade, do mesmo modo que muitos moradores da periferia pouco frequentam os bairros centrais.
Pelourinho, em Salvador (BA), em 2020, após o projeto de revitalização urbana.
Em qualquer grande cidade do mundo, o espa-ço urbano é fragmentado, apresentando funções comerciais, financeiras, industriais, residenciais e de lazer. É comum que funções diferentes coexis-tam não apenas no centro, mas também em bair-ros que, assim, polarizam seus vizinhos. Por isso, essas cidades são policêntricas.
Essa fragmentação, quase sempre associa-da a um intenso crescimento urbano, impede que os habitantes vivenciem a cidade como um todo, pois se atêm apenas aos fragmentos que fazem parte do seu dia a dia. O lugar de moradia, trabalho, estudo ou lazer é onde se estabelecem as relações pessoais e sociais. Entretanto, em uma metrópole, tais lugares tendem a não ser
coincidentes, o que provoca deslocamentos e aumento de congestionamentos. Pode-se dizer, então, que a grande cidade não é um lugar, mas um conjunto de lugares, e que os cidadãos a vi-venciam parcialmente. As desigualdades sociais se materializam na paisagem urbana. Quanto mais acentuadas as disparidades de renda en-tre a população, maiores são as desigualdades de moradia, de acesso aos serviços públicos e, portanto, de oportunidades culturais e profissio-nais. Consequentemente, a segregação socioes-pacial, isto é, a separação das classes sociais em bairros diferentes em virtude do poder aquisitivo desigual, e os problemas urbanos são maiores também. Observe as fotos.
Joao C
arlos G
om
es/S
hutt
ers
tock
Luiz
Souza/F
utu
ra P
ress
Galina S
avin
a/S
hutt
ers
tock
112
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 112V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 112 24/09/2020 10:5824/09/2020 10:58
incentivos fiscais para atrair comerciantes e pres-
tadores de serviços, o que acaba gerando outros
problemas como resultado da gentrificação.
Gentrificação é um conceito criado pela soció-
loga britânica Ruth Glass (1912-1990), derivado da
palavra inglesa gentrification (gentry, “pequena
nobreza”), para descrever transformações obser-
vadas em alguns bairros operários da cidade de
Londres que se tornaram bairros nobres. Em linhas
gerais, a gentrificação é a valorização de determi-
nado espaço urbano combinada com a especula-
ção imobiliária e tem ocorrido em muitas grandes
cidades, sobretudo em áreas centrais que antes
eram desvalorizadas e que, por terem custo de vida
mais baixo, abrigavam população de baixa renda.
Quando empresas do setor imobiliário adqui-
rem imóveis nessas áreas com a intenção de
reformá-los ou derrubá-los para a construção de
novos empreendimentos, começam a pressionar
o poder público a fazer reformas “modernizantes”,
como abertura de avenidas, instalação de museus
e equipamentos culturais, comércios elitistas, até
que se torne impossível para moradores de renda
mais baixa continuar arcando com os custos de
vida na região. O problema não é a revitalização
de uma área antes degradada, mas a especulação
imobiliária e financeira, que eleva os preços de
aluguéis e de serviços e que, na prática, efetua a
substituição de uma classe social de menor poder
aquisitivo por outra com mais recursos financei-
ros, perpetuando a segregação socioespacial ao
marginalizar pessoas mais pobres em regiões pe-
riféricas e dificultando-lhes o acesso aos serviços
centrais da cidade.
NÃO ESCREVA NO LIVRO
• Como quase tudo que diz respeito às ações humanas, há diferentes leituras e interpretações para um mesmo fato ou fenômeno. Converse com os colegas sobre o assunto. Há algum caso de gentrificação na cidade ou na região em que vocês moram? O que vocês pensam sobre isso?
Veja a resposta no
Manual do Professor.
Conversa
Para alguns pesquisadores, as ações de revitalização urbana executadas
no Pelourinho, em Salvador, no Recife Antigo, em Recife, no bairro da Luz, em
São Paulo, no centro histórico de São Luís, e o projeto Porto Maravilha, no
centro do Rio de Janeiro, entre outros exemplos, em alguma medida caracte-
rizam processos “gentrificadores”.
[...] Além dos dissensos sobre as causas e agentes responsáveis pelos
processos de gentrificação, intelectuais e ativistas de diferentes espectros
políticos divergem quanto aos seus efeitos, havendo quem denuncie as
expulsões e o aumento da desigualdade e da segregação nas cidades, e
quem defenda o processo como sendo benéfico por atrair investimentos e
promover melhorias em regiões tidas como degradadas. [...]
ALCÂNTARA, Maurício Fernandes de. Gentrificação. In: Enciclopédia de Antropologia. São Paulo: Universidade de São Paulo, Departamento de Antropologia. 2018. Disponível em: http://ea.fflch.
usp.br/conceito/gentrificação. Acesso em: 16 jun. 2020.
A gentrificação pode se dar pela chegada de novos investidores e moradores a um bairro degradado ou por pressão para obras de revitalização urbana e consequente aumento do preço dos imóveis e do custo de vida, impossibilitando que moradores que sempre viveram na região tenham condições de arcar com o aumento de preços.
Aleutie/Shutterstock
113
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 113V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 113 24/09/2020 10:5824/09/2020 10:58
O problema da moradia
A cidadania também se expressa nas condições materiais de vida das pes-
soas. E morar, ter uma casa, um lar, é um direito humano fundamental para
que todos tenham segurança física e emocional. Moradia porém é um proble-
ma crônico das grandes cidades. Uma de suas causas é o êxodo populacional,
pois muitas cidades de países em desenvolvimento não tiveram condições
econômicas de absorver a grande quantidade de pessoas que em pouco tem-
po migraram da zona rural e das cidades menores, aumentando o número de
desempregados. Para sobreviver, muitas pessoas se submetem ao subempre-
go e à economia informal. Como os rendimentos, mesmo para trabalhadores
da economia formal, em geral são baixos, muitos não têm condições de arcar
com os altos custos de aquisição de um imóvel ou do aluguel de residências
confortáveis e bem localizadas no território municipal, áreas que justamente
são as mais valorizadas e, portanto, mais caras. A saída que encontram é partir
em busca de imóveis com preços mais baixos na periferia distante, onde a rede
comercial e de serviços públicos, como escolas, postos de saúde, equipamen-
tos de lazer e cultura, tende a ser menor ou até ausente, e menos servida pelo
sistema de transporte, o que impacta a vida pessoal cotidiana com a perda de
horas no ir e vir do trabalho. Ou se veem impelidos a habitar imóveis em con-
dições inadequadas, como os cortiços, ou a formar favelas ou outros tipos de
aglomerado subnormal, porém em áreas centrais. Essa é a face mais visível
do crescimento desordenado das cidades e da segregação socioespacial.
De acordo com o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Hu-
manos (agência da ONU sediada em Nairóbi, Quênia, mais conhecida como
UN-Habitat), uma ou mais das seguintes características definem um assen-
tamento urbano precário, que o IBGE denomina aglomerado subnormal:
• Ocupação irregular: as pessoas ocupam terrenos dos quais não possuem
título de propriedade.
• Condições inseguras de habitação.
• Baixa qualidade estrutural das construções e moradias apertadas e su-
perlotadas.
• Acesso inadequado a saneamento básico – água potável e tratamento de
esgoto – e a demais infraestruturas.
Aglomerado subnormal
De acordo com o IBGE, aglomerado subnormal é um tipo de ocupação irregular de terrenos públicos ou privados para a habitação em áreas urbanas. Geralmente, o aglomerado subnormal possui um padrão irregular, está localizado em áreas que não deveriam ser ocupadas e, na maioria das vezes, sem a oferta de serviços públicos essenciais. Esses aglomerados recebem várias nomeações, como favelas, invasões, grotas, baixadas, comunidades, vilas, ressacas, loteamentos irregulares, mocambos e palafitas, entre outras.
Conceitos
As moradias precárias foram erguidas nos interstícios da cidade formal, geralmente onde havia terrenos disponíveis, muitas vezes em áreas inadequadas para ocupação, como morros, sujeitos a desmoronamentos e deslizamentos, e margens de rios e córregos, sujeitas a alagamento, e, por isso, menos valorizadas. Na foto, Beco do Sururu, assentamento precário à beira do rio Capibaribe, em Recife (PE), em 2015.
Chic
o F
err
eira/P
uls
ar
Imagens
114
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 114V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 114 24/09/2020 10:5824/09/2020 10:58
• Como é a questão da moradia no lugar em que vocês vivem? As moradias em geral são adequadas ou apresentam problemas? Caso apresentem problemas, o que vocês acham que é possível fazer para melhorar essa situação? O que vocês pensam da possibilidade de as pessoas, em vez de terem a propriedade da moradia, pagarem aluguel social, ou seja, um aluguel subvencionado pelo Estado? Observe a foto e pesquisem outros exemplos de aluguel social no mundo.
Conversa
Deficit habitacional atinge maior marca em 10 anos; solução pode vir da academia. Ed Wanderley e Lorena Barros. Último Segundo, 31 ago. 2019. Disponível em: https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2019-08-31/deficit-habitacional-atinge-maior-marca-em-10-anos-solucao-pode-vir-da-academia.html. Acesso em: 16 jun. 2020.
Infográfico animado sobre deficit habitacional e diferenciações e definições conceituais a respeito das diferentes categorias de habitação precária.
Parasita. Diretor: Bong Joon-ho. Coreia do Sul, 2019. (2 h 12 min)
O filme, ganhador de quatro Oscars, conta a história da família de Ki-taek, que vive em um cortiço e tenta ascender socialmente ao enganar uma família rica. Também mostra que mesmo em países ricos há pessoas vivendo em moradias precárias e como até mesmo coisas simples, como áreas verdes e acesso a áreas ensolaradas, são negadas àqueles que vivem nas periferias.
Saber
Edifícios residenciais construídos pelo Estado no distrito de Toa Payoh, Cingapura (os prédios mais
baixos, em primeiro plano), em 2017. Segundo o Housing & Development Board (HDB), órgão
governamental que constrói e administra os prédios, cerca de 80% da população vive em moradias como
essas, os chamados HDB flats, pelos quais pagam aluguel social.
Os governos têm grande parcela de responsa-
bilidade nesse processo, pois não implantaram
políticas públicas adequadas, sobretudo no setor
habitacional, para enfrentar o problema. Nos paí-
ses em que políticas públicas foram adequadas,
paralelamente ao aumento da oferta de empregos
e à elevação da renda e da qualidade de vida, as
moradias precárias foram bastante reduzidas ou
até mesmo erradicadas.
Um dos melhores exemplos é Cingapura. De
acordo com o Banco Mundial, em 1965, quando o
país se tornou independente, 70% de sua popula-
ção vivia em condições muito precárias: a renda
per capita era de 2 700 dólares ao ano, e o desem-
prego atingia 14% da População Economicamente
Ativa (PEA). Após cinco décadas de elevados inves-
timentos públicos em habitação, em infraestrutura
urbana e em serviços públicos de qualidade, hou-
ve crescimento econômico sustentado, elevação
e melhor distribuição da renda, erradicação das
submoradias e, consequentemente, melhoria da
qualidade de vida da população. Em 2018, segun-
do o Banco Mundial, Cingapura tinha uma renda per capita de 58 770 dólares, e o desemprego atingia
3,8% da PEA masculina e 4,3% da feminina.
A carência de habitações seguras e confortá-
veis é um problema mundial, mas principalmente
nos países em desenvolvimento. Segundo a UN-
-Habitat, o percentual de pessoas que vivem em as-
sentamentos precários caiu de 46% da população
Kua C
he
e S
iong
/Sin
gap
ore
Pre
ss H
old
ing
s/A
FP
Re
pro
dução/P
andora
Film
es
Re
pro
dução/u
ltim
oseg
un
do
.ig
.co
m.b
r
Veja respostas no
Manual do Professor.
115
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 115V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 115 24/09/2020 10:5824/09/2020 10:58
urbana mundial em 1990 para 23% da população urbana mundial em 2014. Ainda é um número muito alto, uma vez que corresponde a quase 1 bilhão de pessoas (exatamente 996,8 milhões). O Leste da Ásia é a região com maior número absoluto de submoradias. Embora a China e a Índia tenham reduzido significativamente a quantidade de pessoas que vivem em moradias precárias, ainda são os países que apresentam os maiores números absolutos. É preciso lembrar que, juntos, eles detêm cerca de 36% da população mundial. O Brasil é o quarto país com maior contingente de moradores em aglomerados subnor-mais. O maior número relativo de moradores em assentamentos precários apa-rece na África subsaariana. Na Nigéria, país com o maior número de habitantes em submoradias nessa região, o percentual de pessoas que vivem em habita-ções precárias chega à metade da população urbana. Nesse subcontinente no entanto há países com percentuais bem mais altos, como a República Centro--Africana, onde 93% da população urbana vive em favelas.
Número de moradores em assentamentos urbanos precários por região — 2014
OCEANOPACÍFICO
OCEANOPACÍFICO
OCEANOATLÂNTICO
OCEANO GLACIAL ÁRTICO
OCEANOÍNDICO
0,8M
69M
228M
589M
0,007M
110M
Equador
Trópico de Câncer
Círculo Polar Ártico
Trópico de Capricórnio
0º
0º
Mer
idia
no
de
Gre
enw
ich
0 5 800 11 600
km
Fonte: elaborado com base em UNITED NATIONS Human Settlements Programme (UN-Habitat). Urban Indicators
Database. Population (per region) living in slums and informal settlements, 2014. Disponível em: https://urban-data-guo-un-habitat.hub.arcgis.com/pages/global-monitoring-of-slums. Acesso em: 14 jun. 2020.
* A UN-Habitat usa o termo slum (do inglês), no entanto, reconhece que essa palavra é utilizada para definir uma grande variedade de tipos de assentamento urbano precário espalhados por diferentes países. No Brasil, como vimos, o IBGE utiliza o termo técnico aglomerado subnormal para definir diversos tipos de moradia precária, porém a maioria das pessoas chama essas habitações precárias de favelas.
Países com maior número de moradores em assentamentos urbanos precários* — 2014
PaísTotal de moradores
(em milhões)% do total da população
urbana
China 191,1 25,2
Índia 98,4 24,0
Nigéria 42,1 50,2
Brasil 38,5 22,3
Paquistão 32,3 45,5
Bangladesh 29,3 55,1
Indonésia 29,2 21,8
Fonte: UNITED NATIONS Human Settlements Programme (UN-Habitat). World Cities Report. Nairóbi, 2016. Disponível em: http://wcr.unhabitat.org/main-report. Acesso em: 14 jun. 2020.
Port
al de M
apas/A
rqu
ivo d
a e
ditora
116
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 116V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 116 24/09/2020 10:5924/09/2020 10:59
Na foto, vista parcial de Orangi Town, em Karachi (Paquistão), em 2017. Nessa favela, a maior do mundo, vivem cerca de 2,4 milhões de pessoas. Em São Paulo (SP), cidade brasileira com o maior número de moradores em assentamentos precários, são cerca de 1,5 milhão de pessoas vivendo nessas condições, mas espalhadas por mais de 1 500 favelas.
Teto (Techo). Disponível em: www.techo.org/brasil/. Acesso em: 14 jun. 2020.
Essa ONG busca juntar voluntariado e comunidade para um trabalho em conjunto na busca de soluções para melhorar as condições de vida das pessoas excluídas e sem moradia. Para saber mais sobre sua atuação, acesse o site da organização em português.
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Disponível em: www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=34784&Itemid=432. Acesso em: 13 jun. 2020.
Acessando o site do Ipea pode-se consultar o Atlas de Violência
2019, com dados para todos os estados brasileiros. Há também publicações sobre o Estado, as instituições e a democracia no Brasil.
Saber
Na tentativa de encaminhar soluções para diversos problemas urbanos,
entre os quais os assentamentos precários, foi realizada em Istambul, na
Turquia, em 1996, a Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos
Humanos – Habitat II. A primeira reunião, Habitat I, aconteceu em Vancouver,
Canadá, em 1976; e a Habitat III ocorreu em Quito, Equador, em 2016.
A Habitat II reuniu representantes dos países-membros da ONU e de diver-
sas ONGs. Nesse encontro, ficou decidido que os governos deveriam criar con-
dições para que o acesso à moradia segura, habitável, salubre e sustentável
fosse universalizado. Diversos governos, porém, entre os quais o dos Estados
Unidos e o do Brasil, foram contra a proposta de que a habitação fosse consi-
derada um direito universal do cidadão e, portanto, garantida pelo Estado, para
não serem cobrados judicialmente pela não garantia desse direito.
Em diversas cidades do mundo, tanto nos países em desenvolvimento
quanto nos desenvolvidos, pessoas sem-teto se organizam para lutar pelo di-
reito à moradia urbana adequada e por melhores condições de vida. Uma ou
outra dessas organizações tem atuação nacional, mas a maioria delas atua lo-
calmente. Há também organizações com atuação internacional, como a TETO
(ou TECHO, em espanhol), organização não governamental (ONG) criada em
1997, no Chile, que atua em quase toda a América Latina, até mesmo no Brasil.
• Com base na observação das fotos ao longo do capítulo e no conhecimento da realidade brasileira e mundial, responda:
a) De que forma as desigualdades sociais se materializam nas paisagens urbanas?
b) Essa realidade é visível na paisagem do lugar em que você vive?
Veja as respostas no Manual do Professor.
Interpretar NÃO ESCREVA NO LIVRO
Asim
Hafe
ez/
Blo
om
be
rg/G
ett
y Im
ag
es
Re
pro
dução/w
ww
.ipea.g
ov.
br
Re
pro
dução
/ww
w.t
ech
o.o
rg
117
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 117V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 117 24/09/2020 10:5924/09/2020 10:59
DI¡LOGOSNÃO ESCREVA NO LIVRO
1. Os trechos a seguir são recortes de entrevistas e opiniões de diferentes
atores sociais (advogados, pesquisadores, empresários, professores uni-
versitários) sobre casos distintos, mas todos dialogando com a questão
da moradia. Leia e em seguida faça as atividades.
Texto A
“Chegamos ao recorde da série histórica de déficit habitacional. Hoje,
ele ocorre, sobretudo, pela inadequação da moradia – famílias que divi-
dem a mesma casa, moram em cortiços, favelas – e pelo peso excessivo
que o aluguel passou a ter no orçamento das famílias nos últimos anos”,
afirma Robson Gonçalves, da FGV. [...]
“É uma oportunidade para o mercado, são poucos os países do mundo
que têm uma demanda tão expressiva”, diz Alexandre Frankel, presidente
da Vitacon. “Vemos um novo ciclo se formando no setor e, se tudo correr
bem na economia, os próximos dois anos podem ser de retorno a um mo-
mento melhor do mercado imobiliário.”
“Temos de olhar com otimismo para o mercado, que é saudável e tem
uma forte demanda, não só dos consumidores de baixa renda. A demanda
é grande entre os que dependem de financiamento com recursos da pou-
pança também”, avalia o presidente da MRV, Eduardo Fischer. Ele lembra
que os juros básicos estão em um patamar baixo, a 6,5% ao ano, o que
alivia na hora de contratar um financiamento imobiliário. [...]
GAVRAS, Douglas. Déficit habitacional é recorde no país. Estadão. São Paulo, 7 jan. 2019. Disponível em: https://economia.uol.com.br/noticias/estadao-conteudo/2019/01/07/deficit-
habitacional-e-recorde-no-pais.htm. Acesso em: 15 jun. 2020.
Texto B
[...] “O emprego tem relação direta com a moradia. Por causa do alto
índice de desemprego, as pessoas passam a morar em situações precárias
porque não têm acesso ao trabalho nem condições de pagar um aluguel”,
diz o advogado Benedito Barbosa, 59.
Barbosa trabalha com ações de despejo pelo Centro Gaspar Garcia de
Direitos Humanos, uma ONG para inclusão social de moradores de habi-
tações precárias, desde 2006.
Estima-se que em São Paulo, com seu 1,8 milhão de desempregados,
existam 391 mil domicílios em espaços precários (como favelas e corti-
ços), somando 2 milhões de pessoas — ou 11% da população. [...]
Para Aluízio Marino, 32, doutorando em Planejamento e Gestão do Territó-
rio pela Universidade Federal do ABC, o termo “déficit habitacional” é incorreto.
“A moradia é vista como mercadoria, não como direito. Então, não é que fal-
tam moradias. O que falta é uma política habitacional adequada”, afirma. [...]
SILVA, Eduardo. São Paulo tem déficit de 474 mil moradias, diz estudo. Folha de S.Paulo. São Paulo, 7 set. 2019. Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/09/sao-
paulo-tem-deficit-de-474-mil-moradias-diz-estudo.shtml. Acesso: 15 jun. 2020.
Veja as respostas das atividades
desta seção no Manual do Professor.
118
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 118V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 118 24/09/2020 10:5924/09/2020 10:59
Texto C
A juíza federal substituta da 3a Vara da Justiça Federal no Amazonas,
Raffaela Cássia de Sousa, determinou, em sentença assinada no último
dia 09 de novembro, a reintegração de posse do terreno onde está loca-
lizada desde 2014 a comunidade indígena Parque das Tribos, no bairro
Tarumã, na zona oeste de Manaus. No local vivem cerca de mil famílias.
Elas são originárias de 35 etnias, entre elas, Apurinã, Baré, Mura, Kokama,
Tikuna, Wanano, Sateré-Mawé e Tukano.
Na decisão judicial, que atendeu ação movida pelo empresário do ramo
imobiliário Hélio Carlos de Carli, a juíza determina o uso da força policial
para expulsar os indígenas do imóvel. [...]
“Ela [juíza] afirma que não encontrou informações sobre a consolida-
ção, mas há investimentos públicos no Parque das Tribos. As ruas estão
asfaltadas com dinheiro público. Existe terraplanagem, eletrificação das
ruas, energia legalizada pela Eletrobras, escola indígena com dois profes-
sores pagos pela prefeitura de Manaus. Do ponto que ela toma como pre-
cedente na decisão do STF, o Parque das Tribos está consolidado e, portan-
to, está inviável a desocupação”, disse o advogado Isael Munduruku, que
defende a comunidade Parque das Tribos. [...]
FARIAS, Elaíze. Juíza manda expulsar indígenas do Parque das Tribos... Amazônia Real. Manaus, 26 nov. 2018. Disponível em: https://amazoniareal.com.br/
juiza-manda-expulsar-indigenas-do-parque-das-tribos-comunidade-que-recebeu-infraestrutura-da-prefeitura-de-manaus%E2%80%AF/. Acesso em: 15 jun. 2020.
Texto D
[...] Uma política habitacional de abrangência nacional, em um país de
dimensões continentais, não pode ter como único programa a constru-
ção e a transferência de propriedade de novas unidades habitacionais. É
preciso associar programas de urbanização de favelas e assentamentos
precários, melhorias habitacionais, regularização fundiária, ocupação de
áreas vazias e subutilizadas, recuperação de imóveis em áreas centrais
para moradia social e, ainda, um programa de locação social para as fa-
mílias de menor renda, que não têm condição de arcar com os custos
decorrentes da propriedade individual. [...]
ROLNIK, Raquel. Programa Minha Casa Minha Vida precisa ser avaliado... Blog da Raquel Rolnik, 10 nov. 2014. Disponível em: https://raquelrolnik.wordpress.com/2014/11/10/
programa-minha-casa-minha-vida-precisa-ser-avaliado-nota-publica-da-rede-cidade- e-moradia/. Acesso em: 15 jun. 2020.
a) Identifique as opiniões expressadas sobre o tema, agrupando-as de acordo com afinidade ou não
de seus pontos de vista, e, em seguida, elabore um breve texto relacionando os fatos apresentados
nesses diferentes trechos.
b) Por fim, escreva um artigo dissertativo-argumentativo sobre a causa e a solução para o problema
da moradia no Brasil (ou na sua cidade, se preferir). Informe-se com seus professores sobre as
características desse gênero textual ou consulte a internet: há muitos blogs, vídeos e sites que
ensinam como escrevê-lo. Converse com eles também sobre a possibilidade de publicar seu artigo
no site da escola, no jornal do bairro ou em algum outro meio de divulgação.
119
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 119V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 119 24/09/2020 10:5924/09/2020 10:59
1. (PPL-2012) a) aumento da geração de riquezas nas pro-
priedades agrícolas.
b) crescimento da oferta de empregos nas
áreas cultiváveis.
c) integração dos diferentes lugares nas ca-
deias produtivas.
d) redução das desigualdades sociais nas re-
giões agrárias.
e) ocorrência de crises financeiras nos gran-
des centros.
3. (2013)
Trata-se de um gigantesco movimento de
construção de cidades, necessário para o as-
sentamento residencial dessa população, bem
como de suas necessidades de trabalho, abaste-
cimento, transportes, saúde, energia, água etc.
Ainda que o rumo tomado pelo crescimento ur-
bano não tenha respondido satisfatoriamente a
todas essas necessidades, o território foi ocupa-
do e foram construídas as condições para viver
nesse espaço.
MARICATO, E. Brasil, cidades: alternativas para a crise
urbana. Petrópolis: Vozes, 2001.
A dinâmica de transformação das cidades ten-
de a apresentar como consequência a expan-
são das áreas periféricas pelo(a)
a) crescimento da população urbana e aumen-
to da especulação imobiliária.
b) direcionamento maior do fluxo de pessoas,
devido à existência de um grande número
de serviços.
c) delimitação de áreas para uma ocupação
organizada do espaço físico, melhorando a
qualidade de vida.
d) implantação de políticas públicas que pro-
movem a moradia e o direito à cidade aos
seus moradores.
e) reurbanização de moradias nas áreas cen-
trais, mantendo o trabalhador próximo ao
seu emprego, diminuindo os deslocamentos
para a periferia.
X
X
RIBEIRO, L. C. Q.; SANTOS, JUNIOR, O. A. Desafios da
questão urbana. Le Monde Diplomatique Brasil. Ano 4, n. 45,
abr. 2010. Disponível em: http://diplomatique.uol.com.br.
Acesso em: 22 ago. 2011.
A imagem registra uma especificidade do con-
texto urbano em que a ausência ou ineficiência
das políticas públicas resultou em
a) garantia dos direitos humanos.
b) superação do déficit habitacional.
c) controle da especulação imobiliária.
d) mediação dos conflitos entre classes.
e) aumento da segregação socioespacial.
2. (PPL-2017)
Está cada vez mais difícil delimitar o que é
rural e o que é urbano. Pode-se dizer que o rural
hoje só pode ser entendido como um continuum
do urbano do ponto de vista espacial; e do ponto
de vista da organização da atividade econômi-
ca, as cidades não podem mais ser identificadas
apenas com a atividade industrial, nem os cam-
pos com a agricultura e a pecuária.
SILVA, J. G. O novo rural brasileiro.
Nova Economia, n. 7, maio 1997.
As articulações espaciais tratadas no texto re-
sultam do(a)
X
Tale
s A
zzi/P
uls
ar
Imag
en
s
Ver respostas e orientações no
Manual do Professor.
120
QUESTÕES DO ENEM NÃO ESCREVA NO LIVRO
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 120V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 120 24/09/2020 10:5924/09/2020 10:59
1. Após o estudo do capítulo, retome a atividade de abertura e reveja suas respostas. Você muda-
ria algo?
2. Elabore um texto dissertativo-argumentativo relacionando a segregação socioespacial exis-
tente no Brasil, a falta de direitos da cidadania, como o direito à cidade, em sentido mais amplo,
e à moradia, em sentido mais restrito; a falta de oportunidades de estudo, trabalho e lazer, e as
consequências disso tudo na vida de muitos jovens.Veja as respostas no Manual do Professor.
Retome o contexto
Mapa conceitual organizado pelos autores.
Revoluções
industriais
Nacional
Regional
Mundial
Cidades
globais
Metrópoles Megalópoles
1950
30%
1780
3%
2018
55%
Processo de
Urbanização
Problemas
urbanos
Segregação
socioespacial
Moradia Violência
Redes e
hierarquias
urbanas
acelerou
após
em escala
taxa de
urbanização
mundial
deu origem
a grandes
aglomerações
urbanas
muitas estão
entre as
principais
comandadas
pelas
criou
principalmente
dos países em
desenvolvimento
tais como
acelerado
gerou
cresceram
rapidamente
como resultado
Mesopotâmia
Roma
Babilônia Ur
Civitas romana
Cidade
as primeiras
foram erguidas
por volta de 3 mil
anos a.C.
como conceito atual
tem origem em
associada à ideia
de exercício destaque
destaque
Cidadãos
Atenas
Pólis grega
Cidadania Política
no entanto,
poucos eram
associada à ideia
de exercício
destaque
121
VOCÊ PRECISA SABERNÃO ESCREVA NO LIVRO
121
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 121V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap3_094a121.indd 121 24/09/2020 10:5924/09/2020 10:59
OBJETIVOS• Reconhecer os Direitos Humanos como uma construção social ao
longo da história.
• Conhecer a História dos Direitos Civis e a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.
• Distinguir os conceitos de diferenças e desigualdades mobilizados na elaboração dos Direitos Humanos.
• Aplicar os conceitos de multiculturalismo, universalismo e relativismo para a compreensão dos Direitos Humanos.
• Relacionar o Bill of Rights (Inglaterra), a Declaração dos Direitos (Estados Unidos) e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (França) aos princípios edificantes dos Direitos Humanos.
• Diferenciar direitos de primeira, segunda e terceira geração e relacioná-los a seus contextos e aos Direitos Humanos.
• Conhecer os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
• Reconhecer o papel das principais organizações não governamentais (ONGs) internacionais e suas áreas de atuação.
• Mobilizar os princípios estruturantes dos Direitos Humanos para a compreensão e o engajamento em atuações locais, nacionais e internacionais.
JUSTIFICATIVAA origem dos Direitos Humanos, elencados na Declaração Universal de 1948, remonta ao século XVIII e teve desdobramentos em pactos internacionais e em leis nacionais após a Segunda Guerra Mundial. Trata-se de um marco civilizacional muito importante para a noção de pertencimento à humanidade. Nesse sentido, é interessante conhecer o embate entre universalismo e relativismo na questão dos Direitos Humanos buscando um ponto de equilíbrio que contemple o respeito às diferenças culturais e, ao mesmo tempo, o respeito aos Direitos Humanos. É fundamental que cada indivíduo conheça os direitos inerentes à condição humana para que possamos exercê-los plenamente na construção e manutenção da cidadania e para que possamos cobrá-los, caso estejam sendo negligenciados ou violados.
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA BNCC• Competências gerais da Educação Básica: CG1, CG2, CG4, CG5,
CG6, CG7, CG8, CG9 e CG10.
• Competências e habilidades específicas das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: Competência 1: EM13CHS101; Competência 5: EM13CHS502 e EM13CHS503; Competência 6: EM13CHS604 e EM13CHS605.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS
Cidadania e Civismo• Vida Familiar e Social
• Educação em Direitos Humanos
Multiculturalismo• Educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes
históricas e culturais brasileiras
Conhecer o significado dos Direitos Huma-nos, sua gênese, os pactos internacionais que os sustentam e de que forma se inserem no or-denamento jurídico brasileiro é fundamental para o reconhecimento de sua relevância para a huma-nidade e sua perpetuação, em escala local, nacio-nal ou internacional. Para começar, responda às questões propostas a seguir.
1. De acordo com o que você aprendeu nos capí-tulos anteriores, responda com suas palavras: O que são Direitos Humanos? Quando eles se tornaram universais?
2. Como você observa a compreensão e a aplica-ção dos Direitos Humanos em seu cotidiano? Trata-se de um valor universal ou há críticas aos seus princípios? O que você pensa sobre isso?
3. A Organização das Nações Unidas (ONU) regis-tra 193 países-membros e em cada um deles há povos com diferentes histórias, valores e culturas. A definição de valores universais, como os prescritos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, pode ameaçar práticas tradicionais de alguns desses países? Isso se-ria adequado ou justificado? Explique.
Contexto
Direitos Humanos
e prática social4CAPÍTULO
CAPÍTULO
NÃO ESCREVA NO LIVRO
Veja as respostas no
Manual do Professor.
122
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 122V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 122 24/09/2020 11:0124/09/2020 11:01
Gênese dos Direitos Humanos
Os Direitos Humanos como construção política
e social decorrem de uma longa história. São mui-
tas as divergências sobre o início dessa constru-
ção, mas nela estão as lutas, as revoluções, os mo-
vimentos sociais, bem como a história das ideias,
além das concepções filosóficas, éticas, políticas
e religiosas que atuaram sobre os acontecimentos
e foram por eles influenciadas. Foi com base nas
reflexões desses fatos, processos e experiências
que se construíram ou se reconstruíram conceitos
acerca da sociedade e do ser humano, assim como
sobre os direitos fundamentais de cada indivíduo.
Formar um conjunto de regras para os seres
humanos viverem em grupos e se constituírem
como clãs, povos e sociedades é uma prática mui-
to antiga. Entretanto, dificilmente essas regras
eram pautadas em princípios que assegurassem
o respeito a todos de forma igualitária ou justa.
A distinção entre os indivíduos, seja por meio de
força, gênero, etnia, cor, religião, seja por qualquer
outro marcador de diferença, foi utilizada em dife-
rentes lugares e épocas para constituir e “legiti-
mar” situações de privilégios e ameaças.
Essa distinção e as regras de organização so-
cial são muito antigas e podem ser identificadas
em sítios arqueológicos e registros rupestres e
também em registros escritos, como aqueles ela-
borados por Platão (428/427 a.C.-348/347 a.C.)
e Aristóteles (384 a.C.-322 a.C.), pensadores
gregos que reconhecidamente se debruçaram
sobre as concepções filosóficas desses temas
na Antiguidade e refletiram sobre ética e moral,
como muitos outros pensadores depois deles até
a atualidade. Já na Modernidade, destacaram-se
os pensadores ingleses Thomas Hobbes (1588-
-1679), John Locke (1632-1704) e o franco-suíço
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).
Foram esses últimos que desenvolveram teo-
rias de governos assentados no contratualismo.
Locke, por exemplo, sustentava que os seres
humanos, ao viverem em sociedade sob um po-
der político, o fariam mediante um contrato social.
Por meio desse contrato, recebiam a garantia do
Estado a determinados direitos inalienáveis da
dignidade humana, como o direito à vida, à liber-
dade e à propriedade. Assim, o contrato social é
um pacto civilizatório pelo qual os seres humanos
se afastam de seu estado natural para preservar
o essencial de seus direitos.
Entre os avanços civilizatórios dos últimos
séculos, três documentos, comentados a seguir,
sistematizaram concepções sobre os direitos
individuais, como resultados de embates, lutas
e conquistas de diferentes contextos históricos.
Tais documentos tratam de questões comuns e
foram os precursores dos Direitos Humanos que
conhecemos atualmente:
• os direitos individuais proclamados no Bill of
Rights (Declaração de Direitos) inglês da Re-
volução Gloriosa de 1689;
• a Declaração dos Direitos de 1791, as primei-
ras 10 emendas à Constituição dos Estados
Unidos (redigida em 1787);
• a Declaração dos Direitos do Homem e do Cida-
dão da Revolução Francesa de 1789.
Leia partes desses documentos nas páginas
seguintes.
Calv
in &
Hob
be
s, B
ill W
att
ers
on ©
19
89 W
att
ers
on/
Dis
t. b
y A
nd
rew
s M
cM
ee
l S
yn
dic
atio
n
WATTERSON, B. Calvin
e Haroldo. O Progresso
Científico deu "Tilt". São
Paulo: Best News, 1991.
123
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 123V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 123 24/09/2020 11:0124/09/2020 11:01
Documentos
A Declaração Inglesa de Direitos – 1689
E portanto os ditos lordes espirituais e tempo-
rais, e os comuns, respeitando suas respectivas car-
tas e eleições, estando agora reunidos como plenos
e livres representantes desta nação, consideran-
do mui seriamente os melhores meios de atingir
os fins acima ditos, declaram, em primeiro lugar
(como seus antepassados fizeram comumente em
caso semelhante), para reivindicar e garantir seus
antigos direitos e liberdades:
1. Que é ilegal o pretendido poder de suspender
leis, ou a execução de leis, pela autoridade real,
sem o consentimento do Parlamento.
2. Que é ilegal o pretendido poder de revogar leis,
ou a execução de leis, por autoridade real, como foi
assumido e praticado em tempos passados.
[...]
8. Que devem ser livres as eleições dos mem-
bros do Parlamento.
9. Que a liberdade de expressão, e debates ou
procedimentos no Parlamento, não devem ser im-
pedidos ou questionados por qualquer tribunal ou
local fora do Parlamento.
[...]
13. E que os Parlamentos devem reunir-se com
frequência para reparar todos os agravos, e para
corrigir, reforçar e preservar as leis.
E reclamam, pedem e insistem que todas es-
sas premissas constituem seus direitos e liberda-
des inquestionáveis; e que nenhumas declarações,
julgamentos, atos ou procedimentos, para prejuí-
zo do povo em alguma das ditas premissas, devem
ser, de alguma maneira, tomadas no futuro como
precedente ou exemplo.
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Biblioteca Virtual
de Direitos Humanos. Disponível em: http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-
%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/a-declaracao-inglesa-
de-direitos-1689.html. Acesso em: 26 jun. 2020.
A Declaração Americana dos Direitos – 1791
Porque muitos cidadãos temiam que o novo go-
verno central estabelecido pela Constituição dos Es-
tados Unidos se tornasse demasiado poderoso foram
propostas emendas para proteger a liberdade de ex-
pressão, de imprensa, de religião e de outros direitos
básicos. Foram aprovadas dez que hoje são conheci-
das como a Declaração dos Direitos.
Emenda I (Ratificada em 15 de Dezembro de
1791)
O Congresso não legislará no sentido de esta-
belecer uma religião, nem proibir o livre exercício
de uma; nem cerceando a liberdade de expressão,
ou de imprensa; ou o direito de o povo se reunir
pacificamente e dirigir petições ao Governo para
reparação de injustiças.
Emenda III (Ratificada em 15 de Dezembro de
1791)
Nenhum soldado deve, em tempo de paz, ficar
alojado em qualquer casa sem o consentimento
do proprietário, nem em tempo de guerra, a não
ser da forma prescrita pela lei.
Emenda IV (Ratificada em 15 de Dezembro de
1791)
O direito do povo à inviolabilidade de pessoas, ca-
sas, documentos e propriedade pessoal contra bus-
cas e apreensões não razoáveis não deve ser violado,
e não devem ser emitidos mandatos a não ser com
causa provável apoiada por juramento ou declara-
ção e descrevendo especificamente o local da busca
e as pessoas ou coisas a serem apreendidas.
Emenda V (Ratificada em 15 de Dezembro de
1791)
Nenhuma pessoa será detida para responder
por um crime capital, ou outro crime infame, sal-
vo por denúncia ou acusação perante um Grande
Júri [...]; nem pode qualquer pessoa ser julgada
duas vezes pelo mesmo crime cuja condenação
possa levar à pena capital ou ao encarceramen-
to; nem ser obrigada a servir de testemunha em
qualquer processo criminal contra si mesma,
nem ser privada de vida, liberdade ou bens sem o
devido processo legal; nem a propriedade privada
poderá ser expropriada para uso público sem jus-
ta indenização.
Emenda VI (Ratificada em 15 de Dezembro de
1791)
Em todos os processos penais o acusado terá
direito a um julgamento rápido e público por um
júri imparcial do Estado e distrito onde o crime te-
124
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 124V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 124 24/09/2020 11:0124/09/2020 11:01
nha sido cometido, distrito esse que será previa-
mente estabelecido por lei, e a ser informado da
natureza e causa da acusação; a ser confrontado
com as testemunhas de acusação; a ter um pro-
cesso obrigatório para obtenção de testemunhas
a seu favor e a ter a assistência de um advogado
para sua defesa.
[...]
Emenda IX (Ratificada em 15 de Dezembro de
1791)
A enumeração de certos direitos na Constitui-
ção não deverá ser interpretada como negação ou
coibição de outros direitos inerentes ao povo.
Emenda X (Ratificada em 15 de Dezembro de
1791)
Os poderes não delegados aos Estados Unidos
pela Constituição, nem por ela negados aos Esta-
dos, são reservados aos Estados ou ao povo, res-
pectivamente.EMBAIXADA DOS ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA.
A Declaração dos Direitos. Disponível em: https://photos.state.gov/libraries/adana/30145/publications-other-lang/
PORTUGUESE-CONTINENTAL.pdf. Acesso em: 26 jun. 2020.
A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão – 1789
Os representantes do povo francês, reunidos em Assembleia Nacional, tendo em vista que a ignorância, o esquecimento ou o desprezo dos di-reitos do homem são as únicas causas dos males públicos e da corrupção dos Governos, resolve-ram declarar solenemente os direitos naturais, inalienáveis e sagrados do homem, a fim de que esta declaração, sempre presente em todos os membros do corpo social, lhes lembre perma-nentemente seus direitos e seus deveres [...].
Em razão disto, a Assembleia Nacional reco-nhece e declara, na presença e sob a égide do Ser Supremo, os seguintes direitos do homem e do cidadão:
Art.1o Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. As distinções sociais só po-dem fundamentar-se na utilidade comum.
Art. 2o A finalidade de toda associação po-lítica é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade a segurança e a resis-tência à opressão.
[...]Art. 4o A liberdade consiste em poder fazer
tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem por limites senão aqueles que assegu-ram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes limites apenas po-dem ser determinados pela lei.
[...]Art. 6o A lei é a expressão da vontade geral. [...]
Ela deve ser a mesma para todos, seja para prote-ger, seja para punir. Todos os cidadãos são iguais a seus olhos e igualmente admissíveis a todas as dignidades, lugares e empregos públicos, segun-do a sua capacidade e sem outra distinção que não seja a das suas virtudes e dos seus talentos.
[...]Art. 9o Todo acusado é considerado inocen-
te até ser declarado culpado e, se julgar indis-pensável prendê-lo, todo o rigor desnecessário à guarda da sua pessoa deverá ser severamente reprimido pela lei.
Art. 10o Ninguém pode ser molestado por suas opiniões, incluindo opiniões religiosas, desde que sua manifestação não perturbe a or-dem pública estabelecida pela lei.
[...]UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. Biblioteca Virtual de Direitos
Humanos. Disponível em: www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Documentos-anteriores-%C3%A0-cria%C3%A7%C3%A3o-
da-Sociedade-das-Na%C3%A7%C3%B5es-at%C3%A9-1919/declaracao-de-direitos-do-homem-e-do-cidadao-1789.html.
Acesso em: 26 jun. 2020.
1. Comparem os documentos acima e discutam as semelhanças e as diferenças que vocês identificaram entre eles.
2. Considerando a realidade de vocês, elaborem conjuntamente, com a ajuda de ferramentas que permitam editar
documentos on-line, um texto em formato semelhante aos que acabaram de ler relacionando os direitos e deveres
dos estudantes da escola em que vocês estudam.
NÃO ESCREVA NO LIVRO
Veja as respostas e orientações no Manual do Professor.
Conversa
125
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 125V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 125 24/09/2020 11:0124/09/2020 11:01
Os desdobramentos das revoluções burguesas
dos séculos XVII ao XVIII, destacadamente a da
Inglaterra de 1689 e a da França de 1789, impul-
sionaram a adoção de leis de direitos por muitos
países no século XIX. Eram as ideias e os aconte-
cimentos contra o Antigo Regime, uma sociedade
baseada na posse de determinados privilégios
e poderes, fomentando a luta por direitos funda-
mentais das liberdades individuais, como os di-
reitos civis e políticos. Esses direitos são também
conhecidos como direitos de primeira geração,
segundo denominação criada em 1979 pelo jurista
tcheco-francês Karel Vasak (1929-2015). Vasak
tomou como referência os lemas da Revolução
Francesa liberté, égalité et fraternité (liberdade,
igualdade e fraternidade), formando três gerações
de direitos. Como veremos, a Declaração Universal
de 1948 tornou esses direitos indivisíveis.
Os direitos da primeira geração firmaram os
marcos jurídicos básicos que garantiriam aos go-
vernados as defesas contra o absolutismo, o que
exigiria novas atuações para superar a ordem so-
cial fundada na perspectiva de sujeitos que pas-
sariam de súditos a cidadãos, com base na ideia
de liberdade.
Os desdobramentos da Revolução Industrial e
as lutas trabalhistas por melhores condições de
vida resultaram no reconhecimento de direitos
econômicos, sociais e culturais conhecidos como
direitos de segunda geração. Predominante no
contexto histórico dos séculos XIX e XX, a noção
sobre esses direitos estava atrelada aos ideais
de igualdade, visando superar o âmbito nacional
para alcançar o mundial. Buscando condições
dignas para todas as pessoas, tais direitos econô-
micos e sociais foram incluídos nas Constituições
de vários países e nas convenções internacionais,
como a Carta das Nações Unidas de 1945 e subse-
quentes, em que os países-membros da ONU, que
na ocasião eram apenas cinquenta, assumiam o
compromisso de respeitar as liberdades funda-
mentais e os direitos socioeconômicos.
Nas últimas décadas do século XX, ganha-
ram impulso os direitos coletivos de diferentes
povos e comunidades. São direitos centrados na
fraternidade e na igualdade universais, suprana-
cionais, tidos como direitos de terceira geração,
como o direito de ter acesso a bens culturais, o
direito de grupos sociais vulneráveis contarem
com a proteção dos órgãos públicos, ou, no caso
dos povos originários, o direito de desfrutar de
um meio ambiente saudável. Os direitos de mi-
grantes, refugiados e povos originários, assim
como o direito à democracia, à informação e ao
pluralismo, são considerados por muitos como
direitos de quarta geração, misturando-se com
a geração anterior.
Como vimos, a construção dos Direitos Huma-
nos foi produto de uma longa história ocorrida
predominantemente nos países da Europa e em
outros países ocidentais. Após a formação da ONU
e a publicação da Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos, em 1948, a proposta era a de que
Na organização das guardas nacionais em luta contra os invasores absolutistas contrários à Revolução, em 1790, Robespierre defendia em seus discursos, entre tantas outras, as palavras “liberdade, igualdade, fraternidade”. Como outros lemas revolucionários, esse também acabou caindo em desuso nos anos seguintes à Revolução Francesa. Contudo, ressurgiu nas jornadas revolucionárias no final dos anos 1840 e foi inscrito na Constituição francesa como fundamento da República criada na Revolução de 1848.
Re
pro
dução
/Bib
liote
ca N
acio
nal, P
aris, Fra
nça.
126
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 126V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 126 24/09/2020 11:0124/09/2020 11:01
os direitos universais atingissem todas as pessoas em todo o mundo, como
pressupõe o próprio título do documento.
A internacionalização dos Direitos Humanos ganhou reforço após a apro-
vação do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que contempla
os direitos de primeira geração, e do Pacto Internacional sobre Direitos Eco-
nômicos, Sociais e Culturais, que contempla os direitos de segunda geração.
Ambos foram aprovados pela Assembleia Geral da ONU, em 1966. Diversa-
mente da Declaração de 1948, que era uma declaração de princípios e va-
lores, esses documentos obrigam os países signatários a incorporar esses
direitos em seus respectivos ordenamentos jurídicos, ou seja, os dois pactos
têm força de lei.
No Brasil, esses pactos foram incorporados às leis por meio do Decreto
n. 591, de 6 de julho de 1992, que em seu artigo 1o decreta: “O Pacto Inter-
nacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, apenso por cópia ao
presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como nele se
contém.”; e do Decreto n. 592, de 6 de julho de 1992, que em seu artigo 1o
decreta: “O Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, apenso por có-
pia ao presente decreto, será executado e cumprido tão inteiramente como
nele se contém”.
Manifestação estudantil contra a repressão do governo sobre setores da sociedade que lutavam pela democracia em 1977, em São Paulo, SP.
A
cerv
o Ú
ltim
a H
ora/
Folh
apre
ss
BRASIL. Decreto n. 591,
de 6 de julho de 1992. Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Promulgação. Brasília, DF: Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/d0591.htm. Acesso em: 6 ago. 2020.
BRASIL. Decreto n. 592,
de 6 de julho de 1992. Atos Internacionais. Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Promulgação. Brasília, DF: Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0592.htm. Acesso em: 6 ago. 2020.
NÃO ESCREVA NO LIVRO
Leia a seguir os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Declaração Universal dos Direitos Humanos
Artigo 1.
Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos.
São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros
com espírito de fraternidade.
Artigo 2.
Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades es-
tabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça,
cor, sexo, idioma, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacio-
nal ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.
[...]
Quinze anos antes dos decretos acima (591 e 592), vivíamos os tempos sombrios da ditadura. Em grupos, pesquisem dados sobre esses dois contextos distintos, a ditadura e a incorporação dos decretos, e pautem a discussão a partir dos Pactos por Direitos com base nos tópicos a seguir.
1. Como se realizou a transição que pôs fim à ditadura.
2. A Constituição de 1988 e os Direitos Políticos e Econômicos.
Veja as respostas no
Manual do Professor.
Conversa
127
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 127V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 127 24/09/2020 11:0124/09/2020 11:01
Artigo 3.
Todo ser humano tem direito à vida, à liberda-
de e à segurança pessoal.
Artigo 4.
Ninguém será mantido em escravidão ou ser-
vidão; a escravidão e o tráfico de escravos serão
proibidos em todas as suas formas.
Artigo 5.
Ninguém será submetido à tortura nem a trata-
mento ou castigo cruel, desumano ou degradante.
Artigo 6.
Todo ser humano tem o direito de ser, em todos
os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei.
Artigo 7.
Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem
qualquer distinção, a igual proteção da lei. Todos
têm direito a igual proteção contra qualquer dis-
criminação que viole a presente Declaração e con-
tra qualquer incitamento a tal discriminação.
Artigo 8.
Todo ser humano tem direito a receber dos tri-
bunais nacionais competentes remédio efetivo para
os atos que violem os direitos fundamentais que lhe
sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei.
Artigo 9.
Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou
exilado.
Artigo 10.
Todo ser humano tem direito, em plena igual-
dade, a uma audiência justa e pública por parte de
um tribunal independente e imparcial, para decidir
sobre seus direitos e deveres ou do fundamento de
qualquer acusação criminal contra ele.
Artigo 11.
Todo ser humano acusado de um ato delituoso
tem o direito de ser presumido inocente até que
a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo
com a lei, em julgamento público no qual lhe te-
nham sido asseguradas todas as garantias neces-
sárias à sua defesa.
[...]
Artigo 12.
Ninguém será sujeito a interferências em sua
vida privada, em sua família, em seu lar ou em
sua correspondência, nem a ataques à sua honra e
reputação. Todo ser humano tem direito à proteção
da lei contra tais interferências ou ataques.
Artigo 13.
Todo ser humano tem direito à liberdade de
locomoção e residência dentro das fronteiras de
cada Estado.
Todo ser humano tem o direito de deixar qual-
quer país, inclusive o próprio, e a este regressar.
Artigo 14.
Toda pessoa, vítima de perseguição, tem o direito
de procurar e de gozar asilo em outros países.
[...]
Artigo 15.
Todo ser humano tem direito a uma naciona-
lidade.
Ninguém será arbitrariamente privado de sua
nacionalidade, nem do direito de mudar de nacio-
nalidade.
Artigo 16.
Os homens e mulheres de maior idade, sem
qualquer restrição de raça, nacionalidade ou reli-
gião, têm o direito de contrair matrimônio e fun-
dar uma família. Gozam de iguais direitos em re-
lação ao casamento, sua duração e sua dissolução.
[...]
Artigo 17.
Todo ser humano tem direito à propriedade, só
ou em sociedade com outros.
Ninguém será arbitrariamente privado de sua
propriedade.
Artigo 18.
Todo ser humano tem direito à liberdade de
pensamento, consciência e religião [...].
Artigo 19.
Todo ser humano tem direito à liberdade de
opinião e expressão [...].
Artigo 20.
Todo ser humano tem direito à liberdade de
reunião e associação pacífica.
Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de
uma associação.
Artigo 21.
Todo ser humano tem o direito de tomar parte
no governo de seu país diretamente ou por inter-
médio de representantes livremente escolhidos.
128
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 128V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 128 24/09/2020 11:0124/09/2020 11:01
Todo ser humano tem igual direito de acesso ao
serviço público do seu país.
A vontade do povo será a base da autoridade do
governo; esta vontade será expressa em eleições
periódicas e legítimas, por sufrágio universal, por
voto secreto ou processo equivalente que assegure
a liberdade de voto.
Artigo 22.
Todo ser humano, como membro da sociedade,
tem direito à segurança social e à realização [...]
dos direitos econômicos, sociais e culturais indis-
pensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvi-
mento da sua personalidade.
Artigo 23.
Todo ser humano tem direito ao trabalho, à li-
vre escolha de emprego, a condições justas e fa-
voráveis de trabalho e à proteção contra o desem-
prego.
[...]
Artigo 24.
Todo ser humano tem direito a repouso e lazer,
inclusive à limitação razoável das horas de traba-
lho e férias periódicas remuneradas.
Artigo 25.
Todo ser humano tem direito a um padrão de
vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde
e bem-estar [...].
A maternidade e a infância têm direito a cui-
dados e assistência especiais. Todas as crianças,
nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão
da mesma proteção social.
Artigo 26.
Todo ser humano tem direito à instrução. A
instrução será gratuita, pelo menos nos graus ele-
mentares e fundamentais. A instrução elementar
será obrigatória. A instrução técnico-profissional
será acessível a todos, bem como a instrução su-
perior, está baseada no mérito.
[...]
Artigo 27.
Todo ser humano tem o direito de participar li-
vremente da vida cultural da comunidade, de fruir
as artes e de participar do processo científico e de
seus benefícios.
Todo ser humano tem direito à proteção dos
interesses morais e materiais decorrentes de qual-
quer produção científica, literária ou artística da
qual seja autor.
Artigo 28.
Todo ser humano tem direito a uma ordem so-
cial e internacional em que os direitos e liberdades
estabelecidos na presente Declaração possam ser
plenamente realizados.
Artigo 29.
Todo ser humano tem deveres para com a co-
munidade, na qual o livre e pleno desenvolvimen-
to de sua personalidade é possível.
No exercício de seus direitos e liberdades, todo
ser humano estará sujeito apenas às limitações
determinadas pela lei, exclusivamente com o fim
de assegurar o devido reconhecimento e respeito
dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer
as justas exigências da moral, da ordem pública e
do bem-estar de uma sociedade democrática.
Esses direitos e liberdades não podem, em hi-
pótese alguma, ser exercidos contrariamente aos
objetivos e princípios das Nações Unidas.
Artigo 30.
Nenhuma disposição da presente Declaração
pode ser interpretada como o reconhecimento a
qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de
exercer qualquer atividade ou praticar qualquer
ato destinado à destruição de quaisquer dos direi-
tos e liberdades aqui estabelecidos.
NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso em: 20 jun. 2020.
NÃO ESCREVA NO LIVRO
1. Comparem a Declaração Universal dos Direitos Humanos com os três documentos vistos anteriormente. O
que esse documento tem em comum com esses outros?
2. Busquem a gênese dos Direitos Humanos ou elementos que indiquem a preocupação com eles.
3. Elaborem um quadro para classificar a efetivação dos direitos discriminados nos artigos na comunidade,
no bairro ou município onde vocês vivem. Estipulem níveis de efetivação, variando entre não efetivado, em
efetivação e plenamente efetivado. Veja as respostas no Manual do Professor.
Interpretar
129
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 129V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 129 24/09/2020 11:0124/09/2020 11:01
Ref lexões sobre os Direitos Humanos
Em maio de 2017, uma manifestação em solidariedade ao povo Guarani-Kaiowá, com a presença do cacique Ládio
Verono, foi realizada em Paris, França.
© 2
020
Kin
g F
eatu
res S
ynd
icate
/Ip
ress
Críticas aos Direitos
Humanos como valor
universal apontam uma
possível oposição em
relação ao relativismo
cultural ao embutir a no-
ção de homogeneização
cultural promovida pelo
Ocidente cristão sobre
outras tradições cultu-
rais e religiosas, criando um nivelamento que, de alguma forma, eliminaria as
diferenças culturais. Além disso, poderiam ser vistos como uma nova investida
eurocêntrica contra as sociedades que querem preservar sua alteridade, a exem-
plo das culturas tradicionais originárias, orientais e as islâmicas, entre tantas.
Como aponta a socióloga brasileira Maria Victoria Benevides: “O relativismo
cultural representa uma faca de dois gumes: pode significar proteção às mino-
rias como também a complacência com costumes que atentam contra a digni-
dade do ser humano (mutilações rituais, ou castigos degradantes, por exemplo)
ou, no outro extremo, a escalada de conflitos étnicos. [...] Muitos estudiosos
consideram que a oposição universalidade e direito à cultura encerra um dile-
ma. Considero, no entanto, que a única saída é defender, em todas as situações,
a hierarquia dos princípios e das normas, o respeito primordial aos direitos hu-
manos e às liberdades fundamentais já universalmente reconhecidos”.
Da mesma forma, porém, é preciso defender a diversidade cultural (multi-
culturalismo) contra uma imposição destruidora de um lado e, de outro, tam-
bém os Direitos Humanos, em busca de uma combinação possível. Enfim,
um diálogo intercultural, tomando diferentes valores, princípios, tradições
para se complementar e garantir o respeito efetivo
aos direitos fundamentais.
O texto a seguir, de Renata Carvalho Derzié Luz,
servidora do Superior Tribunal de Justiça, reforça
essa reflexão.
Não há dúvidas de que, com a globalização
e o desenvolvimento tecnológico ocorridos nas
últimas décadas, se deu um intercâmbio cultural
entre os países, possibilitando, de alguma forma,
a unificação de alguns direitos fundamentais do
ser humano. Mas isso não pode ser visto de for-
ma absoluta e engessada, pois, da mesma forma
que o intercâmbio cultural permitiu a unificação
BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. Os direitos humanos como valor Universal. Lua Nova, n. 34. São Paulo, dez. 1994. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script= sci_arttext&pid=S0102-644 519940003 00011. Acesso em: 11 ago. 2020.
Geoff
roy v
an d
er
Hasselt/A
FP
130
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 130V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 130 24/09/2020 11:0124/09/2020 11:01
e uma maior isonomia, ele também acentuou as diferenças, que devem
ser respeitadas e analisadas individualmente, de acordo com o arcabouço
histórico e cultural de cada nação.
A almejada igualdade entre os povos somente existirá no momento em
que houver respeito às suas diferenças, sejam elas culturais, consuetudi-
nárias, valorativas etc.
Dessa forma, o diálogo intercultural, apesar de ter nuances de utopia, se
apresenta como a melhor alternativa para a efetiva proteção dos Direitos
Humanos, na medida em que coaduna e harmoniza ideologias distintas,
adequando os Direitos Humanos às diferenças existentes entre os povos.
Obviamente, não podem os valores culturais de determinada nação
servirem de véu para encobrir atrocidades praticadas em detrimento do
ser humano. Contudo, é preciso, antes de se fazer qualquer tipo de julga-
mento, proceder à contextualização cultural de qualquer ato para então,
a partir daí, elencar os direitos fundamentais a serem protegidos.
A ideia é compatibilizar visões isoladas de mundo à ordem global cal-
cada na proteção incondicional à dignidade da pessoa humana, ainda que
esta não seja absoluta para todos os povos e nações.
LUZ, Renata Carvalho Derzié. Direitos Humanos, o confronto entre o universalismo e o
relativismo cultural. Revista Âmbito Jurídico, n. 160, ano XX, maio 2017. Disponível em: https://
ambitojuridico.com.br/cadernos/direitos-humanos/direitos-humanos-o-confronto-entre-o-
universalismo-e-o-relativismo-cultural/. Acesso em: 23 jun. 2020.
Em relação a esses debates, é preciso também ter clareza sobre os con-
ceitos de diferença e desigualdade, que, muitas vezes, são tomados erronea-
mente como sinônimos.
No contexto dessas reflexões, a palavra diferença refere-se à ideia da
diversidade de culturas e, portanto, de pluralismo cultural. Numa convi-
vência fundada no reconhecimento das diferenças, elas não expressam
superioridade ou inferioridade, mas reforçam o respeito à identidade de
cada povo, ou seja, suas crenças, seus costumes e seus valores. A pala-
vra “desigualdade”, por sua vez, tem a ver com condições socioeconômi-
cas e políticas e, consequentemente, com acessos distintos de pessoas e
de grupos de pessoas aos direitos, bens e serviços públicos, como saúde,
educação, saneamento básico, entre outros. A desigualdade expressa, de
algum modo, vantagens ou desvantagens de uma pessoa ou de um grupo
em relação a um conjunto de direitos que deveriam ser garantidos a todos,
mas não o são. Por isso, desigualdade geralmente implica situações de vul-
nerabilidade e de exclusão sociais.
Para reforçar essas distinções, é possível recorrer à afirmação do sociólo-
go português Boaventura de Souza Santos (1940-):
[...] temos o direito a ser iguais quando a diferença nos inferioriza; e temos
o direito a ser diferentes quando a igualdade nos descaracteriza. Daí a neces-
sidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença
que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitanismo
multicultural. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 56.
• Uma vez identificado um hábito, uma prática ou uma tradição cultural de algum povo que seja contrário aos Diretos Humanos, que ações a comunidade mundial poderia adotar para promover sua adequação?
Veja as respostas no
Manual do Professor.
Conversa
NÃO ESCREVA NO LIVRO
131
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 131V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 131 24/09/2020 11:0124/09/2020 11:01
Nesse embate entre o respeito às diversas culturas e a universalidade
dos Direitos Humanos, o filósofo e professor brasileiro Giuseppe Tosi (1951-),
da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), destaca:
Afirmar, portanto, que os Direitos Humanos são uma “ideologia” que
surgiu num determinado momento histórico, vinculada aos interesses de
uma determinada classe social na sua luta contra o Antigo Regime, não
significa negar que eles possam vir a ter uma validade que supere aquelas
determinações históricas e alcance um valor mais permanente e univer-
sal. De fato, apesar de ter surgido no Ocidente, a doutrina dos Direitos
Humanos está se espalhando a nível planetário. [...]
[...] Acredito, porém, olhando o mundo com o otimismo da vontade e o
pessimismo da razão [...], que os direitos da pessoa humana constituem
um terreno não simplesmente tático, mas estratégico para a luta política
de transformação da sociedade. Existe um movimento real, concreto, his-
tórico, amplo, quase-universal de luta pelos Direitos Humanos, no mundo
inteiro. É um movimento pluralista, polissêmico, vário, polêmico, diver-
gente, mas é um movimento histórico concreto com uma linguagem, uma
abrangência, uma articulação, uma organização que supera as fronteiras
nacionais, tanto horizontalmente, através das redes, quanto verticalmen-
te: do bairro às Nações Unidas.
A questão dos Direitos Humanos, entendida em toda a sua complexi-
dade aponta para um espaço de u-topia (ou melhor de eutopia, de bom-
-lugar) e funciona como uma ideia ou ideal regulador, como diria Kant,
um horizonte que nunca poderá ser alcançado porque está sempre mais
além, mas sem o qual não saberíamos nem sequer para onde ir.
TOSI, Giuseppe. Os direitos humanos: reflexões iniciais. In: TOSI, Giuseppe (org.). Direitos humanos: história, teoria e prática. João Pessoa: Editora UFPB, 2004. p. 33-34.
Disponível em: www.cchla.ufpb.br/ncdh/wp-content/uploads/2015/08/Direitos-Humanos-Historia-Teoria-e-Pratica.pdf. Acesso em: 22 jun. 2020.
A Declaração de 1948 foi corroborada pela Declaração de Direitos Huma-
nos de Viena, documento assinado por 171 países reunidos na capital da Áus-
tria em 1993 durante a realização da Conferência Mundial sobre os Direitos
Humanos. O parágrafo 5o do item I reforça que:
5. Todos os Direitos Humanos são universais, indivisíveis, interdepen-
dentes e inter-relacionados. A comunidade internacional deve tratar os Di-
reitos Humanos, globalmente, de maneira justa e equânime, com os mes-
mos critérios e a mesma ênfase. Embora se deva ter em mente o significado
das particularidades nacionais e regionais e os diversos antecedentes histó-
ricos, culturais e religiosos, compete aos Estados, independentemente dos
seus sistemas políticos, econômicos e culturais, promover e proteger todos
os Direitos Humanos e as liberdades fundamentais.
UNITED NATIONS. Human Rights Office of the High Commissioner. Vienna Declaration and Programme of Action. Adopted by the World Conference on Human
Rights in Vienna on 25 june 1993. Tradução dos autores. Disponível em: www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/Vienna.aspx. Acesso em: 20 jun. 2020.
1. Como o autor interpreta os Direitos Humanos no mundo atual?
2. No texto, de que forma o autor demonstra o que chama de “otimismo da vontade” e “pessimismo da razão”?
3. Você concorda com o autor ou discorda dele? Justifique.
Veja as respostas no
Manual do Professor.
Interpretar
NÃO ESCREVA NO LIVRO
132
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 132V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 132 24/09/2020 11:0124/09/2020 11:01
Os termos desse documento, sobretudo no trecho transcrito acima, e a assinatura por um número elevado de países reforçam a crescente aceitação da comunidade internacional acerca do caráter universal dos Direitos Humanos, respei-tando as especificidades nacionais e regionais e as diferenças históricas, culturais e religiosas, mas tendo como referência a proteção desses di-reitos e das liberdades fundamentais.
Nesse encontro foi recomendada à Assem-bleia Geral da ONU a criação do Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), escritório ligado ao Secre-tariado da ONU e sediado em Genebra (Suíça). O ACNUDH é o principal órgão de Direitos Humanos da ONU e responsável pela sua promoção e prote-ção no mundo, e para isso mantém a cooperação com governos, ONGs e outras agências da ONU.
O Conselho de Direitos Humanos também faz parte do sistema das Nações Unidas em defesa dos direitos fundamentais dos indivíduos. Esse Conselho foi criado em 2006 (e substituiu a Comis-são sobre Direitos Humanos da ONU, que funcionou por sessenta anos) como um órgão subsidiário da Assembleia Geral, a quem responde diretamente. É composto por 47 países-membros eleitos para um período de três anos e foi criado para fortalecer a promoção e a proteção dos Direitos Humanos. Para tanto, avalia permanentemente a situação dos Direitos Humanos em todos os países-membros da ONU, buscando solucionar situações de violação dos direitos fundamentais, fazendo reco-mendações à Assembleia Geral e pro-pondo, conforme o caso, respostas emergenciais. O Conselho de Direitos Humanos está situado na sede do ACNUDH, em Genebra, órgão com o qual trabalha em estreita sintonia.
Esse entendimento de compa-tibilizar o respeito à diversidade cultural com o respeito aos Direitos Humanos, apoiados um no outro, foi corroborado também pela Declara-
Sessão especial do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas sobre a Síria, realizada em Genebra (Suíça), em 2014.
Fabrice Coffrini/AFP
ção Universal sobre a Diversidade Cultural. Esse documento, adotado pela Organização das Na-ções Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), foi aprovado por 185 países-membros da ONU na 31a Conferência Geral da Unesco rea-lizada em 2001, em Paris (França). Ele reforça a ideia de que a proteção aos Direitos Humanos é o pressuposto básico, o ponto de partida, para o respeito à diversidade cultural. Portanto, o res-peito à diversidade não pode ser invocado para justificar eventuais violações aos princípios mais amplos da dignidade da vida humana. Veja o que diz o documento em seu artigo 4o:
A defesa da diversidade cultural é um im-
perativo ético, inseparável do respeito pela
dignidade da pessoa humana. Implica o com-
promisso de respeitar os Direitos Humanos e
as liberdades fundamentais, em particular os
direitos das pessoas que pertencem a minorias
e os dos povos autóctones. Ninguém pode invo-
car a diversidade cultural para violar os Direitos
Humanos garantidos pelo direito internacional,
nem para limitar seu alcance.
UNESCO. Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural.
Disponível em: www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/
HQ/CLT/diversity/pdf/declaration_cultural_diversity_pt.pdf.
Acesso em: 21 jun. 2020.
133
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 133V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 133 24/09/2020 11:0124/09/2020 11:01
DIÁLOGOSNÃO ESCREVA NO LIVRO
1. Reúna-se com quatro colegas. Leiam o trecho a seguir da Constituição
Brasileira de 1988 para realizar a atividade.
Constituição Brasileira de 1988
Art. 3º: Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades
sociais e regionais;
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidência da República.
Casa Civil. Disponível em: www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.
Acesso em: 26 jun. 2020.
a) Considerem a Declaração dos Direitos Humanos e os conceitos de dife-
rença e desigualdade. Analisem se as normas estabelecidas pela Consti-
tuição de 1988 respeitam as diferenças e se as igualdades estão estabe-
lecidas. Registrem no caderno esses trechos.
b) Em seguida, investiguem se o que está previsto na Constituição pode
ser comprovado na realidade brasileira. Para isso, procurem e regis-
trem situações de desigualdades:
• no lugar onde fica a comunidade escolar ou em sua região;
• no país;
• no mundo.
c) Ao final, listem os dados levantados e descrevam as principais dificuldades
e necessidades observadas na comunidade escolar ou em seu entorno, em
sua região, no Brasil e no mundo em relação aos Direitos Humanos.
2. Com base nos dados levantados e nas conversas do grupo, reflitam e ela-
borem propostas de ações sociais alternativas, plurais, que contribuam
para a redução das desigualdades. Aproveitem para descobrir se já exis-
tem ações sociais similares sendo realizadas:
a) em escala local ou regional;
b) em escala nacional;
3. Selecionem argumentos, propostas e ações para aprofundar, principal-
mente, situações como: violência contra a mulher, o direito à educação,
preconceitos e discriminação, violência escolar, violência contra os ani-
mais, entre outras que considerarem significativas no contexto de vocês.
a) Apresentem um questionário sobre os principais temas, atitudes e
transformações necessárias para a construção de um ambiente em
que todos percebam suas diferenças, particularidades, identidades e
Veja as respostas das atividades desta
seção no Manual do Professor.
134
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 134V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 134 24/09/2020 11:0124/09/2020 11:01
ambições. Lembrando que o respeito mútuo à diversidade é o caminho inicial da colaboração.
b) Levantem junto aos colegas propostas que contribuam para o escla-recimento, apontando o contexto e o histórico dos Direitos Humanos como uma conquista social, definindo metas e objetivos a serem alcan-çados na construção de uma sociedade cada vez mais próxima da pro-moção e proteção dos Direitos Humanos.
4. Anotem as principais dificuldades enfrentadas e, se necessário, revejam os procedimentos a fim de buscarem sempre o diálogo, esclarecimento de dúvidas e colocações que podem ou devem ser superadas na socieda-de, bem como aquelas que mostram as conquistas a serem mantidas.
5. O texto a seguir discute as críticas realizadas pela filósofa alemã Hannah Arendt (1906-1975) sobre a visão dos contratualistas a respeito da natu-reza dos Direitos Humanos. Leia o texto e responda à questão.
As críticas de Hannah Arendt aos Direitos Humanos, conforme eles se
apresentam nas declarações de 1776 e 1789, podem ser estendidas aos
contratualistas nos quais os atos revolucionários, em boa parte, se inspi-
raram. A fundamentação no direito natural, a identificação dos direitos
dos cidadãos como o direito daqueles subordinados às leis dos Estados
nacionais e, consequentemente, a transformação dos Direitos Humanos
em direitos civis são próprias da filosofia dos contratualistas.
Segundo Arendt, o confronto com a tradição dos Direitos Humanos tor-
na-se evidente com a desintegração de diversos Estados-nação europeus
entre as duas Grandes Guerras e no período imediatamente após a Segun-
da, quando do grande deslocamento espacial da população emergiram
dois grandes atores fundamentais: os apátridas e as minorias.
[...]
A crítica de Arendt aos Direitos Humanos, na concepção dos contratualis-
tas e nas afirmações das declarações revolucionárias, não se reduz somente
à sua fundamentação na “natureza humana”, mas se estende a sua relação
com a soberania nacional. O ser humano, na sua individualidade abstrata, só
assumia seu rosto de cidadão por intermédio do povo ao qual pertencia. Os
Direitos Humanos, portanto, só se definiam com a emancipação de um povo
ou, em outras palavras, com a constituição de um Estado nacional soberano.
[...]
A proposta da filosofia política de Hannah Arendt para a reconstru-
ção dos Direitos Humanos apoia-se no reconhecimento do direito a ter
direitos. Ela vai buscar na moral universalista e cosmopolita kantiana o
fundamento para se construir um espaço público internacional, em que a
política e o direito se efetivem além das fronteiras dos Estados nacionais.
BRITO, Fausto. A ruptura dos Direitos Humanos na filosofia política de Hannah
Arendt. Kriterion, Belo Horizonte, v. 54, n. 127, p. 177-196, jun. 2013. Disponível em: www.scielo.br/
pdf/kr/v54n127/n127a10.pdf. Acesso em: 28 jul. 2020.
• Com base na leitura do texto e do conteúdo discutido ao longo do capítulo, analise de que forma o ponto de vista de Hannah Arendt se contrapõe à visão dos contratualistas a respeito da natureza dos Direitos Humanos.
135
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 135V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 135 24/09/2020 11:0124/09/2020 11:01
Os Direitos Humanos e a atuação das ONGs
Não há dúvida de que os Direitos Humanos continuam sendo desrespei-
tados em quase todo o mundo e, para serem efetivados, para cumprirem sua
missão de justiça, precisam ultrapassar a soberania dos Estados nacionais
e serem assumidos por todas as instituições da sociedade e, no limite, por
todas as pessoas. Atualmente, como se depreende do trecho a seguir escrito
pelo filósofo italiano Norberto Bobbio (1909-2004), a questão não é mais de
leis, que já são bem abrangentes tanto em nível internacional como em nível
nacional (salvo exceções), mas de sua aplicação na prática.
Com efeito, o problema que temos diante de nós não é filosófico, mas
jurídico e, num sentido mais amplo, político. Não se trata de saber quais e
quantos são esses direitos, qual é sua natureza e seu fundamento, se são
direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o
modo mais seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes
declarações, eles sejam continuamente violados. [...]
Quando digo “contém em germe”, quero chamar a atenção para o fato
de que a Declaração Universal é apenas o início de um longo processo,
cuja realização final ainda não somos capazes de ver.
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 17-19.
Assim, a Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos, tomada como uma síntese do
passado e motivação para o futuro, como
vimos, foi contemplada nos pactos interna-
cionais e incorporada no ordenamento jurí-
dico da maioria dos países com a definição
clara dos direitos a serem respeitados. O
dia 10 de dezembro, dia de sua criação, tem
sido apontado como a data de celebração
do Dia Internacional dos Direitos Humanos.
Além dos Estados e seus ordenamentos
jurídicos constitucionais e infraconstitucio-
nais (leis ordinárias, leis complementares, decretos, etc.), dos organismos
intergovernamentais e dos tratados internacionais, existem inúmeras ONGs
que atuam na promoção e proteção dos Direitos Humanos. Mas o que são
ONGs?
As ONGs são associações da sociedade civil, de iniciativa privada, sem fins
lucrativos e que prestam algum serviço de caráter público, mas não estatal.
Compõem o terceiro setor, sendo o Estado o primeiro setor, e as empresas pri-
vadas com fins lucrativos o segundo setor. Em geral, as ONGs são mantidas
por meio de doações de pessoas e empresas, mas uma parte delas também
recebe dinheiro do Estado para suas ações solidárias. Há milhares de ONGs
no mundo todo e elas podem ter uma atuação local, nacional ou mundial.
Criados em 1948, os Direitos Humanos se tornaram leis nas décadas seguintes, mas ainda são bastante desrespeitados. Na imagem, Eleanor Roosevelt, ex- -primeira-dama dos Estados Unidos, observa uma impressão da Declaração dos Direitos Humanos, em 1949.
Granger/Fotoarena
136
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 136V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 136 24/09/2020 11:0124/09/2020 11:01
Nas leis brasileiras não existe a figura jurídica de organização não go-
vernamental, mas de organização da sociedade civil (OSC). Assim, as
ONGs, incluindo as internacionais, são classificadas no Brasil como OSC.
Segundo o Mapa das Organizações da Sociedade Civil do Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplicada (Ipea), em 2019 havia 781 921 OSCs no país.
No entanto, elas são, em sua maioria, associações locais, de atuação bas-
tante restrita, e não ONGs de atuação internacional, como algumas que se-
rão apresentadas a seguir. A grandeza do número de OSC no Brasil se deve
também ao fato de as entidades assim classificadas serem contabilizadas
por CNPJ (Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica). Por exemplo, a organiza-
ção religiosa Igreja Universal do Reino de Deus contabiliza 7 090 OSCs por-
que cada templo religioso em território brasileiro tem um CNPJ próprio e,
consequentemente, é contabilizado separadamente. Como se vê no gráfico
abaixo, as OSCs atuam em diversas áreas, com destaque para desenvolvi-
mento e defesa de direitos.
Brasil: distribuição das OSCs por área de atuação — 2019
Assistência social
12%
47%
20%
6%
Desenvolvimento e defesa de direitos
Religião
Associações patronais,
pro�ssionais e de produtores rurais
Educação e pesquisaOutras atividades associativas
Saúde
Cultura e recreação
Meio ambiente e proteção animal,
habitação etc.
Sem informação
Fórm
ula
Pro
duções/A
rquiv
o d
a e
ditora
Fonte: elaborado com base em IPEA. Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Dados e Indicadores, 2020.
Disponível em: https://mapaosc.ipea.gov.br/dados-indicadores.html. Acesso em: 7 ago. 2020.
IPEA. Mapa das
Organizações da Sociedade
Civil. Dados e Indicadores, 2020. Disponível em: https://mapaosc.ipea.gov.br/dados-indicadores.html. Acesso em: 22 jun. 2020.
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). Mapa das Organizações da Sociedade Civil. Disponível em: https://mapaosc.ipea.gov.br/resultado-consulta.html?organizacao=human_rights&tipoBusca=0. Acesso em: 22 jun. 2020.
Nesse site do Ipea é possível consultar o nome das OSCs que atuam no Brasil e visualizá-las por município, estado e região.
Saber
Repro
dução/m
apaosc.ipea.g
ov.
br
As ONGs têm um papel importante, ao lado dos Estados, na ordem mun-
dial contemporânea. A seguir vamos estudar algumas das mais conhecidas e
atuantes no mundo na promoção e proteção aos Direitos Humanos e alguns
acontecimentos ligados à atuação de cada uma delas.
137
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 137V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 137 24/09/2020 11:0124/09/2020 11:01
Principais ONGs de atuação nacional e internacional
Anti-Slavery InternationalA ONG mais antiga do mundo é a Anti-Slavery Inter-
national (Antiescravidão Internacional), fundada em 1839 no Reino Unido. No início, ela contribuía com o Império Britânico no movimento de abolição que pôs fim ao comércio transatlântico de escravizados. Atual-mente ela trabalha para acabar com formas remanescentes de escravidão buscando influir em diversos agentes da sociedade, desde governos, pas-sando por instituições internacionais e empregadores até os cidadãos em geral. Observe o esquema a seguir.
Logotipo da Anti-Slavery International.
ANTI-SLAVERY. Slavery Today. Disponível em: www.antislavery.org/. Acesso em: 20 jun. 2020.
No esquema apresentado lê-se: Escravidão hoje – A escravidão contemporânea assume diversas formas e afeta pessoas de todas as idades, gênero e raças: escravidão infantil; tráfico de seres humanos; trabalho forçado; escravidão por dívida; casamento forçado; escravidão por descendência.
A proposta da Anti-Slavery International é atuar em locais em que a es-cravidão ainda está presente, executando as seguintes ações: averiguar e expor situações de escravidão; identificar formas cabíveis de eliminar abu-sos relacionados a tais situações; dar suporte às vítimas de escravidão em sua luta pela liberdade; qualificar pessoas e grupos vulneráveis à escravidão para a exigência de respeito aos direitos e para conseguir proteção; atuar com representantes políticos para tomar medidas adequadas e implementar leis eficazes; e trabalhar com empresas privadas para identificar e abordar a escravidão em cadeias produtivas globais.
Human Rights WatchOutra organização importante é a ONG internacional Human Rights Watch
(HRW), fundada em 1978 e com sede em Nova York (Estados Unidos). Tem importante atuação nas investigações sobre violações de Direitos Humanos, elaborando relatórios divulgados nos meios de comunicação. É apoiada por organizações locais em todo o mundo e conta com o suporte de especialistas
Re
pro
dução
/An
ti-S
lavery
In
tern
ation
al
Re
pro
dução
/ww
w.a
ntisla
very
.org
138
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 138V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 138 24/09/2020 11:0124/09/2020 11:01
em Direitos Humanos, como advogados, jornalistas e pesquisadores
acadêmicos de diversas origens e nacionalidades. Entre os temas de
sua atuação estão o combate ao comércio de armas, a luta pelos di-
reitos LGBTQI+, das pessoas com deficiência, das crianças, das mu-
lheres e dos migrantes, a defesa do direito à liberdade de expressão e
o combate ao terrorismo e à tortura.
Quanto ao Brasil, destacamos o posicionamento da Human Rights
Watch sobre a Comissão Nacional da Verdade, instaurada para apu-
rar violações aos Direitos Humanos durante a Ditadura Civil-Militar
(1964-1985), cujo relatório final foi apresentado em 2014.
O relatório final identifica 377 indivíduos, dos quais quase 200 ainda
estão vivos, como responsáveis por violações dos Direitos Humanos con-
sideradas pelo documento como crimes contra a humanidade, incluindo
tortura, execuções e desaparecimentos forçados. A Comissão considerou
que os abusos constituíram “uma ação generalizada e sistemática”, con-
duzida como parte de uma “política de Estado” concebida e implementa-
da a partir de decisões emanadas do mais alto escalão do governo.
“A Comissão traz uma fundamental contribuição ao oferecer um relato
categórico e por muito tempo aguardado sobre os mais graves crimes co-
metidos durante a ditadura”, disse Maria Laura Canineu, Diretora da Hu-
man Rights Watch no Brasil. “De igual importância está a indicação pela
Comissão do caminho para uma próxima e crucial medida para o Brasil:
garantir que aqueles que cometeram atrocidades sejam levados à justiça.”
A Comissão da Verdade identificou 434 pessoas mortas ou desapare-
cidas durante o regime ditatorial, um aumento em relação ao número
oficial anterior, que registrava 362 pessoas. O novo número inclui 192
pessoas mortas, 210 desaparecidas e 33 que desapareceram e cujos cor-
pos foram encontrados mais tarde. A Comissão apenas incluiu casos
cuja comprovação foi possível em função do trabalho realizado e con-
cluiu que o número real poderia ser ainda maior se tivesse obtido aces-
so a documentos produzidos pelas Forças Armadas, oficialmente dados
como destruídos.
O relatório contém relatos dramáticos do sofrimento de centenas de
brasileiros que foram detidos e torturados por membros das Forças Arma-
das e da polícia, muitos dos quais jamais foram encontrados.
HUMAN RIGHTS WATCH. Brasil: Comissão da Verdade expõe atrocidades da Ditadura. São Paulo,
14 dez. 2014. Disponível em: www.hrw.org/pt/news/2014/12/10/265291. Acesso em: 21 jun. 2020.
Logotipo da Human Rights Watch.
Human Right Watch. Disponível em: https://www.hrw.org/pt. Acesso em: 10 set. 2020.
Para conhecer a atuação dessa ONG na defesa dos Direitos Humanos no Brasil e em diversos países onde ela atua, acesse seu site.
Saber
Re
pro
dução
/Hum
an
Rig
hts
Watc
h
Repro
dução/w
ww
.hrw
.org
LGBTQI+: sigla que se refere
a pessoas lésbicas, gays,
bissexuais, transexuais,
travestis, transgêneros,
queer, intersexuais, e o
símbolo + procura englobar
outras identidades de
gênero e sexualidade como
as de pessoas assexuais,
pansexuais, etc.
139
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 139V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 139 24/09/2020 11:0124/09/2020 11:01
Anistia Internacional
A Anistia Internacional (Amnesty Interna-tional) foi criada a partir da iniciativa de intelec-
tuais britânicos sob a liderança do advogado e
ativista político britânico Peter Benenson (1921-
-2005). Em 28 de maio de 1961, ele publicou o
artigo “Os prisioneiros esquecidos” no jornal lon-
drino The Guardian chamando a atenção para o
fato de que todo dia se leem notícias de que al-
guém em algum lugar do mundo foi preso, torturado ou executado por causa
de sua opinião ou religião, consideradas inaceitáveis por governantes. Ele
denunciou que à época havia milhões de pessoas presas em todo o mun-
do apenas por expressar seu pensamento, sua opinião, sua religião ou suas
crenças. Após essas considerações, escreveu:
Foi por isso que começamos a Apelação para a Anistia, 1961. A campa-
nha, aberta hoje, é resultado de uma iniciativa de um grupo de advogados,
escritores e editores em Londres, que compartilham a convicção subja-
cente expressa por Voltaire: “Detesto seus pontos de vista, mas estou pre-
parado para morrer pelo seu direito de expressá-los”. Estabelecemos um
escritório em Londres para coletar informações sobre os nomes, números
e condições dos que decidimos chamar de Prisioneiros de Consciência, e
assim os definimos: “Qualquer pessoa que seja fisicamente impedida (por
prisão ou outro constrangimento) de expressar (em forma de palavras ou
símbolos) uma opinião que ele honestamente defende e que não advoga
ou tolera a violência pessoal”.
BENENSON, Peter. The forgotten prisoners. The Guardian. Londres, 28 maio 1961. Tradução dos
autores. Disponível em: www.theguardian.com/uk/1961/may/28/fromthearchive.theguardian.
Acesso em: 24 jun. 2020.
A Anistia Internacional, cuja sede fica em Londres (Reino Unido), conta
com mais de 7 milhões de apoiadores em mais de 150 países. Como um mo-
vimento global, realiza ações e campanhas para que os Direitos Humanos
sejam respeitados e protegidos. Em 1977, recebeu o prêmio Nobel da Paz.
São várias denúncias de violações de direitos e represálias violentas contra
defensores de Direitos Humanos em diversos países, incluindo o Brasil. O
sistema prisional, os direitos indígenas e o direito à terra e à moradia estão
entre suas tantas outras atuações.
Veja no site https://anistia.org.br/campanhas/o-que-sao-direitos-humanos/ a discussão sobre Direitos Humanos (o que são, como surgiram, para que servem) e em “publicações” consulte o Informe anual que relata as atividades da Anistia Internacional na defesa dos Direitos Humanos no Brasil (em 2020 estava disponível o Informe 2018).
Saber
Logotipo da Anistia Internacional no Brasil.
Em grupos de quatro a cinco estudantes, acessem os sites indicados e selecionem algumas das atuações mais recentes para discussão, considerando os itens a seguir.
1. Qual é a importância das atuações escolhidas?
2. Há concordâncias ou divergências no grupo sobre essas atuações? Por quê?
3. Quais medidas podem ser tomadas quanto aos casos escolhidos?
Veja as respostas e orientações no Manual do Professor.
Conversa
Re
pro
dução
/An
istia I
nte
rnacio
nal
Re
pro
dução
/Anis
tia Inte
rnacio
nal
NÃO ESCREVA NO LIVRO
140
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 140V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 140 24/09/2020 11:0124/09/2020 11:01
Médicos Sem Fronteiras
A ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF), criada em 1971 em Paris (França),
é uma organização humanitária internacional que leva cuidados médicos a
pessoas afetadas em graves crises humanitárias. Sua
atuação recebeu o prêmio Nobel da Paz em 1999,
com sua ajuda médica a pacientes em situação de
guerras, epidemias, pandemias, independen-
temente do país, trazendo visibilidade a
situações emergenciais em diversas re-
giões do mundo.
Em seu site, são destacadas suas
diversas ações e, também, um resumo
delas, indicadas a seguir.Logotipo da Médicos Sem Fronteiras.
Médicos da MSF cuidam de pacientes em Juba, capital do Sudão do Sul, em 2016.
Re
pro
dução
/Méd
ico
s
Se
m F
ron
teiras
Said
u B
ah/A
FP
11 218 700Consultas
ambulatoriais realizadas
1 479 800Pessoas vacinadas contra sarampo em resposta a surtos
176 200Pessoas em tratamento
antirretroviral de primeira e
segunda linhas
2 396 200Casos de malária
tratados
758 200Internações
(pessoas hospitalizadas)
74 200Crianças com
desnutrição grave recebidas em programas de
nutrição
Ban
co d
e im
agens/
Arq
uiv
o d
a e
ditora
141
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 141V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 141 24/09/2020 11:0124/09/2020 11:01
Oxfam
O nome Oxfam, ONG fundada no Reino Unido em 1942, vem da contra-ção de Oxford Committee for Famine Relief (Comi-tê de Oxford para o alívio da fome). Foi criada com o objetivo de fazer uma campanha para levar comida a mulheres e crianças famintas na Grécia ocu-pada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, a Oxfam continuou seu trabalho de ajuda a pessoas pobres na Europa. À medi-da que as condições de vida dos europeus foram melhorando, passou a aju-dar pessoas pobres nos países em desenvolvimento.
A Oxfam International foi criada em 1995, também no Reino Unido, por um grupo de organizações não governamentais independentes, formando uma confederação de ONGs. Elas se juntaram para ter maior capacidade de ação no combate à pobreza e às injustiças sociais no mundo. Atualmente, a Oxfam International está presente em mais de noventa países e seu secretariado fica em Nairóbi (Quênia).
A Oxfam Brasil foi criada em 2014 com o objetivo de atenuar as causas da pobreza, das injustiças sociais e das desigualdades em território brasileiro. A Oxfam Brasil faz parte da confederação Oxfam International. No Brasil, ela atua em três áreas temáticas:
• Justiça social e econômica;
• Juventudes, raça e gênero;
• Setor privado e Direitos Humanos.Em seu site, é possível conhecer os projetos para cada uma dessas áreas,
consultar dados e informações a respeito da realidade socioeconômica do país e assistir a vídeos curtos, tudo com a intenção de dar respostas a uma questão crucial que se coloca no contexto brasileiro atual: “Por que enfrentar as desigualdades?”. Verifique as ações propostas pela ONG para combater as profundas desigualdades sociais brasileiras.
Repórteres Sem Fronteiras
Atualmente com sede em Paris (França), a Repórteres Sem Fronteiras (RSF) é uma organização independente fun-dada em 1985, em Mont pellier (França), por quatro jornalis-tas. A organização defende que a liberdade de expressão é uma das liber-dades primordiais do ser humano e o alicerce de qualquer democracia. O propósito da liberdade de imprensa no sistema democrático é denunciar
Logotipo da Oxfam Brasil.
Logotipo da ONG Repórteres Sem Fronteiras.
Re
pro
dução
/O
XFA
M B
rasil
NÃO ESCREVA NO LIVRO
• Formem grupos de três a quatro estudantes. Cada grupo deve escolher uma das ONGs estudadas e levantar suas atuações mais recentes. Depois da conversa em grupo sobre as ações coletadas, os grupos deverão fazer uma breve apresentação das atuações da ONG que escolheram. O passo seguinte é debater o conjunto dessas atuações, avaliando e ressaltando a importância do papel das ONGs pesquisadas. Alguma delas atua no lugar ou na região em que vocês vivem?
Veja as respostas e orientações
no Manual do Professor.
Conversa
Repro
dução/R
epórt
ere
s
Se
m F
ron
teiras
142
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 142V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 142 24/09/2020 11:0124/09/2020 11:01
práticas ilícitas ou abusivas de autoridades governamentais. Em suas atuações, a ONG tem publicado relatórios diários em diversos idiomas sobre a liberdade de expressão e informações sobre os ataques que ela recebe. O dia 3 de maio, adotado pela RSF como o Dia Internacional da Li-berdade de Imprensa, foi reconhecido oficialmente pela Assembleia Geral da ONU em 1992.
A publicação da Classificação Mundial da Liberdade de Imprensa feita pela ONG tem grande repercussão internacional, já que é um instrumento de me-dida para pressionar diversos países a zelarem por um ambiente de maior liberdade de imprensa.
1. Quais são os países mais bem posicionados em termos de liberdade de imprensa entre os 180 pesquisados? Em que região do mundo eles se localizam? Em qual dos países pesquisados há mais restrições à liberdade de imprensa?
2. Qual é a posição do Brasil? Vocês acham que nosso país está bem situado no ranking global de liberdade de imprensa?
3. Pesquisem no site https://rsf.org/pt/brasil e discutam em grupo sobre o ambiente de trabalho dos jornalistas no Brasil. Verifiquem se tem havido restrição ao trabalho desses profissionais, como violência e intimidações, e se houve campanhas para desacreditar a imprensa. Por fim, discutam ainda: como se insere a importância desses profissionais na preservação de um ambiente democrático? Qual é o papel deles em um mundo repleto de fake news?
Veja as respostas e orientações no Manual do Professor.
Interpretar
Fonte: elaborado com base em REPÓRTERES SEM FRONTEIRAS. Classificação mundial da liberdade de
imprensa 2020. Disponível em: https://rsf.org/pt/classificacao_dados. Acesso em: 13 ago. 2020.
* O grau de liberdade dos jornalistas é sintetizado num índice que avalia: pluralismo, independência dos meios de comunicação, ambiente midiático e autocensura, leis que regem o setor, transparência e qualidade da infraestrutura de informação.
1. Noruega 7,84
7,93
8,13
9,25
12,16
15,79
22,92
22,41
23,85
28,78
28,86
30,20
34,05
48,92
78,48
85,82
2. Finlândia
3. Dinamarca
Pa
ís
Pontuação global*
4. Suécia
11. Alemanha
19. Uruguai
34. França
31. África do Sul
45. Estados Unidos
64. Argentina
66. Japão
83. Haiti
107. Brasil
149. Rússia
177. China
180. Coreia do Norte
0 20 40 60 80 100
Classificação da liberdade de imprensa 2020: os quatro pa’ses mais bem posicionados e outros selecionados
NÃO ESCREVA NO LIVRO
Fórm
ula
Pro
duções/A
rqu
ivo d
a e
ditora
143
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 143V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 143 24/09/2020 11:0124/09/2020 11:01
Observatório da Imprensa
Sobre a imprensa no Brasil, vale destacar também o trabalho realizado
pelo grupo Observatório da Imprensa, criado por iniciativa do Projor (Instituto
para o Desenvolvimento do Jornalismo) com o Labjor (Laboratório de Estudos
Avançados em Jornalismo), da Universidade de Campinas (Unicamp). Nasceu
como site na internet (www.observatoriodaimprensa.com.br/; acesso em: 12
ago. 2020) em 1998 e depois teve versão televisiva em redes públicas de
televisão, como a TVE, no Rio de Janeiro, e a TV Cultura, em São Paulo. Como
instituição apartidária e pluralista, mostra-se como entidade civil, porém não
governamental, acompanhando o desempenho da mídia brasileira.
Em agosto de 2020, o site do Observatório destacava a divulgação jornalística do caso da primeira morte relacionada à covid-19, no Rio de Janeiro, da empregada doméstica Cleonice Gonçalves, 63 anos, que teve sua vida interrompida sem ao menos ter sido avisada sobre essa doença pela sua patroa, que retornara de uma viagem à Itália, que então passava pelo crescimento da pandemia. Para mais detalhes sobre a questão, acessar o site indicado acima.
Logotipo do Observatório da Imprensa.
Os Direitos Humanos no mundo e os desafios em crescimento
Em fevereiro de 2020, o então secretário-geral da ONU, o português Antó-
nio Guterres (1949-), mostrou-se alarmado com o crescimento do número
de violações aos Direitos Humanos em todo o mundo. Durante sua apresen-
tação na abertura da sessão anual do Conselho de Direitos Humanos da ONU,
em Genebra, alertou que “os Direitos Humanos enfrentam desafios cres-
centes” e acrescentou que “nenhum país está a salvo”. Disse ainda que “os
medos estão a aumentar” e “os direitos humanos estão sob ataque em todo
lado”. Conclamou a comunidade internacional para a urgência de ações para
a reversão dessa tendência.
Em seu discurso também fez referência à situação dos imigrantes que
buscam entrar na Europa: ressaltou o caso “de civis presos em regiões de-
Re
pro
dução
/O
bse
rvató
rio
da
Impre
nsa
Re
pro
dução
/ww
w.o
bserv
ato
riodaim
pre
nsa.c
om
.br
144
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 144V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 144 24/09/2020 11:0124/09/2020 11:01
vastadas pela guerra, famintos e bombardeados à revelia do direito interna-cional” e ressaltou a preocupação com o “tráfico de seres humanos, que afe-ta todas as regiões do mundo”.
Outras indicações de violências apontadas pelo secretário-geral da
ONU foram quanto ao crescimento da violência contra meninas e mulhe-
res, aos ataques aos defensores dos direitos das mulheres e à manutenção de leis de submissão e exclusão feminina por parte de governos. Também enfatizou veementemente a preocupação com o aumento de leis repressivas e as restrições crescentes à liberdade de expressão, de religião, de reunião e de associação. Ainda se referiu de forma crítica ao crescimento do populis-mo, que tem dividido populações e minado o Estado democrático de direito.
Na mesma sessão, a Alta Comissária da ONU para os Direitos Humanos, a ex-presidente do Chile Michelle Bachelet (1951-), reforçou o pedido de urgência em ações para não deixar “os jovens e os seus filhos num incêndio gigantesco e incontrolável de crises de Direitos Humanos que se misturam e se agravam”.
Nesse tal “incêndio” de crises, alguns governantes, historicamente, têm es-colhido políticas públicas para cuidar da vida de sua população, ou, no seu inver-so, eleger os que podem viver melhor e os que devem sofrer ou mesmo morrer.
A primeira tendência está inclusa, como vimos, no contratualismo teórico dos filósofos modernos, como John Locke, e nas Constituições e Tratados Internacionais, a exemplo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Também, claro, nas inúmeras atuações da sociedade civil organizada por conquistas e transformações, sobretudo as ONGs.
No lado oposto, encontra-se a necropolítica, conceito criado em 2003 pelo filósofo e historiador camaronense, atual professor da Universidade de Joa-nesburgo (África do Sul), Achille Mbembe (1957-). Esse conceito pode ser exemplificado historicamente por eventos, como o colonialismo, o escravis-mo, os campos de concentração nazistas, e em diferentes casos do passado. Em escala local, pode ser identificado em diretrizes políticas de governantes que privilegiam o ataque a “inimigos” internos, como dissidentes políticos e religiosos, minorias sociais, pobres, etc. O confronto, a perseguição e a elimi-nação de determinados grupos são eixos que caracterizam a necropolítica.
Na necropolítica, o Estado extrapola o uso legítimo da força e formula uma sociedade dividida entre “grupos amigos” e “grupos inimigos”. Essa divisão dos grupos sociais leva também à categorização de lugares que passam a ser considerados “protegidos” e lugares que passam a ser vistos como subal-ternos, sob “licença” de matar, como é o caso de comunidades e favelas, áreas de densidade populacional de negros e pobres, em geral. A necropolítica ge-ralmente está associada a um caráter xenofóbico e racista.
O racismo contemporâneo, apesar de presente no mundo todo e atingir di-ferentes povos e grupos sociais, é mais marcado e violento contra os negros. A despeito das diferenças da forma como ocorre em cada país, como Estados Unidos, Brasil ou África do Sul, o racismo molda a organização social, econô-mica e política de várias sociedades e se traduz em desigualdade e violência vividas de forma mais aguda pela população negra.
LUSA. ONU alarmada com aumento das violações dos direitos humanos no mundo. Expresso, 24 fev. 2020. Disponível em: https://expresso.pt/internacional/2020-02-24-ONU-alarmada-com-aumento-das-violacoes-dos-direitos-humanos-no-mundo. Acesso em: 13 ago. 2020.
MBEMBE, Achille. Necropolítica. São Paulo: N-1 Edições, 2018.
145
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 145V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 145 24/09/2020 11:0124/09/2020 11:01
A ciência já comprovou que, geneticamente, há apenas uma raça, a huma-na, independentemente dos traços físicos e da cor da pele das pessoas, e que tais características nada têm a ver com inteligência, habilidades específicas ou qualquer predisposição comportamental, ética ou moral. O pensamento funda-do em raças tem origem na Idade Moderna, no contexto da formação dos Esta-dos europeus, mas foi no século XVIII, na França, que o conceito de raça passou a ser utilizado como um sistema de classificação humana. A formação do con-ceito racialista reforçou os propósitos colonialistas, tanto para a subjugação de povos originários não europeus, a escravização de negros na África levados à força para a América, como para a expansão imperialista no século XIX.
Porém, apesar de a Biologia e a Antropologia afirmarem que não há dife-renças biológicas ou culturais que justifiquem o tratamento desigual entre os seres humanos, a discriminação, com base em uma noção cultural de raça construída historicamente, permanece como um fator político que, se-gundo o jurista brasileiro Silvio Almeida (1977-), é “utilizado para naturalizar desigualdades, justificar a segregação e o genocídio de grupos sociologica-mente considerados minoritários”. Por meio dessa naturalização, o racismo é estabelecido de forma estrutural, pois está na base da organização social. Ou seja, o racismo, que engendra preconceito e discriminação negativa pra-ticados de forma direta ou indireta, leva à estratificação social caracterizada pela desvantagem que todo um grupo social tem no mercado de trabalho e em todas as instâncias sociais ao longo do tempo.
A compreensão de que o racismo é institucional e estrutural nos ajuda a explicar por que os piores indicadores sociais estão sempre associados à po-pulação negra. Além disso, as vítimas de homicídio por armas de fogo são em sua maioria negras, a população carcerária é formada predominantemente por negros, os negros têm as menores rendas mensais, as profissões menos valorizadas socialmente e de remuneração menor são exercidas em maior número por negros, há pouca participação de negros em cargos gerenciais e de chefia, etc. Essa constatação ajuda a explicar também a quantidade de ba-las “perdidas” que matam os jovens negros pobres das periferias das cidades brasileiras e o assassinato do cidadão negro George Floyd em Minneapolis, Estados Unidos, em 2020, por um policial branco, mais um entre tantos ou-tros, que desta vez resultou em fortes manifestações populares em boa par-te do mundo e colocou em pauta a herança escravagista na constituição das sociedades ocidentais e a urgência em reparar as atrocidades do passado de forma a impedir sua perpetuação no presente e no futuro.
É esse o quadro que vivenciamos na atualidade e que deixa muitas ques-tões para reflexão.
ALMEIDA, Silvio. O que é
racismo estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2018.
Re
pro
dução
/Pó
len
Liv
ros
Racismo estrutural. Silvio Almeida. São Paulo: Pólen, 2019.
O filósofo e jurista Silvio Almeida apresenta dados estatísticos e discute como o racismo está na estrutura social, política e econômica da sociedade brasileira. O autor analisa, portanto, como o problema não se restringe à ação de indivíduos com motivações pessoais, já que o racismo está infiltrado nas instituições e na cultura brasileiras.
Saber
146
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 146V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 146 24/09/2020 11:0124/09/2020 11:01
CONEXÕESCIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
NÃO ESCREVA NO LIVRO
A garantia dos Direitos Humanos e seus impactos na saúde
Criar mecanismos para que as populações possam usufruir dos seus direi-
tos fundamentais não é somente uma forma de permitir o exercício da cidadania,
mas também de levar às populações mais carentes o acesso a infraestruturas e
serviços que garantem um vida mais saudável. Leia a seguir um texto do Centro
Brasileiro de Estudos da Saúde sobre o tema e responda à questão proposta.
As violações de direitos humanos são condições que, explícita ou im-
plicitamente, levam a resultados adversos para a saúde das pessoas e po-
pulações vulneráveis em todo o mundo.
Nos dias atuais, no provocante e complexo campo que une a Saúde
Pública e os Direitos Humanos, encontramos ferramentas de investigação
para avaliar a supressão de direitos na saúde das populações, seja por
meio de leis repressivas, do dissenso social, das violências, em especial
destaque as de gênero, raça e etnia, de violações em áreas de conflito
ambiental e pela posse da terra, ou da desigual determinação social das
enfermidades, entre tantas outras formas de supressão. A abordagem
contemporânea da Saúde Pública, alicerçada nos direitos humanos, pode
auxiliar na compreensão e prevenção de violações, ofertando recomenda-
ções para futuros programas e estratégias das políticas de saúde [...].
As políticas e programas de saúde têm a capacidade de promover ou
violar os direitos humanos, incluindo o direito à saúde, dependendo da
forma como são concebidos ou executados. Medidas que os respeitem e
os protejam mantêm a responsabilidade do setor da saúde em lidar com
a saúde de todos, sempre na perspectiva da dignidade da pessoa humana.
A omissão das políticas de Saúde Pública em relação às populações mais
pobres caracteriza também uma violação dos direitos humanos, na medi-
da em que todos deveriam ter igual acesso à saúde. As violações ou a falta
de atenção aos direitos humanos podem ter sérias consequências para
a saúde. A discriminação visível ou implícita na prestação de serviços
de saúde viola os direitos humanos fundamentais. Muitas pessoas com
transtornos mentais ainda são internadas contra sua vontade, apesar de
serem capazes de tomar decisões sobre o seu futuro.
Portanto, precisamos avaliar o impacto das políticas de Saúde Públi-
ca, na tentativa de promover a melhoria, tanto da competência da Saúde
Pública quanto da sensibilidade desta em relação aos direitos humanos.
Adotar medidas para respeitar e proteger os direitos humanos mantém a
responsabilidade do setor da saúde em lidar com a saúde de todos.
CEBES. Direitos Humanos e Saúde: construindo caminhos, viabilizando rumos. Centro Brasileiro de
Estudos de Saúde, 20 maio 2017. Disponível em: http://cebes.org.br/2017/05/direitos-humanos-e-
saude-construindo-caminhos-viabilizando-rumos/. Acesso em: 12 set. 2020.
• Elabore um texto explicando se no lugar em que você vive os direitos huma-
nos são garantidos e como isso afeta ou não a saúde da população.Veja as respostas e orientações no Manual do Professor.
147
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 147V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 147 24/09/2020 11:0124/09/2020 11:01
DI¡LOGOSNÃO ESCREVA NO LIVRO
1. Leia a notícia e responda à questão proposta.
Metrô do Rio vai retirar propaganda de estação após acusações de racismo
Uma peça publicitária do Metrô Rio insta-
lada na estação Antero de Quental, no Leblon,
vem gerando polêmica dentro e fora dos vagões.
Criada para promover a Linha 4, que liga a Zona
Norte da cidade à Barra da Tijuca, passando por
bairros nobres da Zona Sul, a propaganda mos-
tra dois casais isolados – um formado por ne-
gros, outro formado por brancos – com a legen-
da: “Linha 4, conectando de ponta a ponta”. Nas
redes sociais, choveram críticas à publicidade
que, na opinião de internautas, carrega um pre-
conceito subliminar.
• Analise a situação apresentada na notícia
acima, relacionando-a com a visão sobre ra-
cismo estrutural proposta pelo jurista Silvio
Almeida. Em seguida, reflita sobre alguma
ação que poderia ser realizada por você, caso
se deparasse com esse tipo de situação.
2. O trabalho análogo à escravidão ainda persiste
em diversas regiões do mundo e representa um
dos mais graves problemas de ordem moral a
serem combatidos, por ferir a dignidade da pes-
soa humana e violar os Direitos Humanos. Leia a
notícia a seguir, publicada no ano de 2020.
Sem máscaras e endividados: 24 indígenas guarani são resgatados de trabalho escravo em fazenda do MS
Em poucos dias de colheita, trabalhadores
perceberam que a promessa de pagamento de
R$ 100 diários para colher mandioca em uma
fazenda em Itaquiraí, no Mato Grosso do Sul,
terminaria com dívidas, exposição à covid-19,
jornadas de 11h e condições humilhantes. Os
trabalhadores – indígenas da etnia guarani –
fotogra faram os alojamentos onde estavam
morando durante a colheita e pediram socorro
a uma liderança da aldeia.
Veja as respostas das atividades desta
seção no Manual do Professor.
Na foto, cômodos pequenos, sem camas.
Colchões velhos sem lençóis estavam no chão,
junto às roupas e pertences dos trabalhadores.
No banheiro, mais lama e sujeira. Na cozinha,
panelas velhas em cima de um fogão imundo.
Sem máscaras ou equipamentos de proteção
à covid-19, os trabalhadores também não ti-
nham cobertores suficientes. Dormiam no frio.
SUAREZ, Joana. Sem máscaras e endividados: 24 indígenas guarani são resgatados de trabalho escravo em fazenda do MS. Repórter Brasil, 9 jul. 2020. Disponível em: https://reporterbrasil.
org.br/2020/07/sem-mascaras-e-endividados-24-indigenas-guarani-sao-resgatados-de-trabalho-escravo-em-fazenda-do-
ms/. Acesso em: 13 ago. 2020.
• Reúnam-se em grupo e discutam de que
forma a notícia acima retrata uma situa-
ção de violência e de violação dos Direitos
Humanos. Em seguida, pesquisem situa-
ções similares ocorridas recentemente
na unidade da Federação em que vocês
vivem, por meio de notícias, reportagens
e demais publicações de jornais e revistas
impressos ou digitais. Por fim, selecio-
ne as principais informações levantadas
e elabore um podcast com o objetivo de
sensibilizar a comunidade escolar sobre o
tema. Considere inserir no podcast alguns
mecanismos avaliados pelo grupo que po-
dem contribuir para o combate a esse tipo
de problema.
3. Leia a notícia a seguir e faça o que se pede.
ONU Direitos Humanos, UNIC Rio e Observatório de Favelas reúnem jo-vens fotógrafos no Dia dos Direitos Humanos
O Centro de Informação das Nações Unidas
(UNIC Rio) e o Escritório Regional para a Amé-
rica do Sul do Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH),
em parceria com o Observatório de Favelas,
comemoram o Dia Internacional dos Direitos
Humanos, celebrado em 10 de dezembro, com
148
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 148V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 148 24/09/2020 11:0124/09/2020 11:01
uma exposição fotográfica e roda de conver-
sa com jovens fotógrafos de comunidades ca-
riocas. As atividades acontecem no Museu do
Amanhã e no Palácio Itamaraty, no centro do
Rio de Janeiro. Neste ano, o tema da data ado-
tada pela Assembleia Geral da ONU em 1948 é
como jovens podem atuar na defesa dos Direi-
tos Humanos.
A partir das 15h30 do dia 10 de dezembro
[de 2019], nove fotógrafos da Maré – bairro ca-
rioca da região norte do Rio que, não obstante
as disputas e conflitos que atravessam o seu
território, é solo fértil para projetos, redes e
espaços que promovem os Direitos Humanos
por meio de atividades culturais, ativismo e
participação – discutem como é possível pro-
mover os Direitos Humanos por meio de ati-
vidades culturais e ativismo. Durante uma
semana, estes jovens participaram de oficinas
do projeto Imagens do Povo, ação do Observa-
tório de Favelas que desde 2004 alia a técnica
fotográfica à formação crítica em relação a
questões sociais e Direitos Humanos.
NAÇÕES UNIDAS. Brasil. ONU Direitos Humanos, UNIC Rio e Observatório de Favelas reúnem jovens fotógrafos no Dia
dos Direitos Humanos. UNIC Rio, 9 dez. 2019. Disponível em: https://nacoesunidas.org/onu-direitos-humanos-unic-rio-e-
observatorio-de-favelas-reunem-jovens-fotografos-no-dia-dos-direitos-humanos/. Acesso em: 13 ago. 2020.
a) Você já presenciou alguma situação na
sua comunidade escolar ou no bairro em
que vive em que os princípios da Decla-
ração Universal dos Direitos Humanos fo-
ram violados? Compartilhe sua experiên-
cia com os colegas.
b) Agora, reúnam-se em grupo e reflitam sobre
essas situações. Planejem uma data para
que possam se reunir fora do ambiente es-
colar e fotografar tais circunstâncias de vio-
lação dos Direitos Humanos nos diferentes
espaços de vivência do cotidiano de vocês.
c) Reúnam o material registrado e o apresen-
tem para os demais colegas.
0 3925 7850
km
Equador
Trópico de Câncer
Círculo Polar Ártico
Trópico de Capricórnio
0º
0º
Mer
idia
no
de
Gre
enw
ich
OCEANOPACÍFICO
OCEANOPACÍFICO OCEANO
ATLÂNTICO
OCEANO GLACIAL ÁRTICO
OCEANOÍNDICO
−4
−3
−2
−1
0
1
2
3
>4
Sem dados
Fonte: elaborado com base em HUMAN RIGHTS. Our World in Data. Disponível em: https://ourworldindata.org/
human-rights. Acesso em: 20 ago. 2020.
Mundo: viola•‹o de direitos humanos Ð 2014-2015Port
al de M
apas/A
rquiv
o d
a e
ditora
4. Observe as informações fornecidas pelo mapa e responda às questões.
a) Analise a situação do Brasil com base nas informações fornecidas
pelo mapa.
b) Pesquise o papel da ONU na promoção dos Direitos Humanos no mun-
do. Em seguida, avalie a atuação da organização ao longo das últimas
décadas, considerando as informações apresentadas pelo mapa.
149
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 149V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 149 24/09/2020 11:0124/09/2020 11:01
1. (2019)
A Declaração Universal dos Direitos Huma-
nos, adotada e proclamada pela Assembleia
Geral da ONU na Resolução 217-A, de 10 de de-
zembro de 1948, foi um acontecimento histórico
de grande relevância. Ao afirmar, pela primeira
vez em escala planetária, o papel dos Direitos
Humanos na convivência coletiva, pode ser
considerada um evento inaugural de uma nova
concepção de vida internacional.
LAFER, C. Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948). In: MAGNOLI, D. (org.). História da paz. São Paulo: Contexto,
2008.
A declaração citada no texto introduziu uma nova concepção nas relações internacionais ao possibilitar a
a) superação da soberania estatal.
b) defesa dos grupos vulneráveis.
c) redução da truculência belicista.
d) impunidade dos atos criminosos.
e) inibição dos choques civilizacionais.
2. (2017)
A participação da mulher no processo de
decisão política ainda é extremamente limita-
da em praticamente todos os países, indepen-
dentemente do regime econômico e social e da
estrutura institucional vigente em cada um de-
les. É fato público e notório, além de empirica-
mente comprovado, que as mulheres estão em
geral sub-representadas nos órgãos do poder,
pois a proporção não corresponde jamais ao
peso relativo dessa parte da população.
TABAK, F. Mulheres públicas: participação políticas e poder. Rio de Janeiro: Letra Capital, 2002.
No âmbito do Poder Legislativo brasileiro, a tentativa de reverter esse quadro de sub-re-presentação tem envolvido a implementação, pelo Estado, de
a) leis de combate à violência doméstica.
X
b) cotas de gênero nas candidaturas partidárias.
c) programas de mobilização política nas escolas.
d) propagandas de incentivo ao voto consciente.
e) apoio financeiro às lideranças femininas.
3. (2010)
Em nosso país queremos substituir o egoís-
mo pela moral, a honra pela probidade, os usos
pelos princípios, as conveniências pelos deve-
res, a tirania da moda pelo império da razão, o
desprezo à desgraça pelo desprezo ao vício, a in-
solência pelo orgulho, a vaidade pela grandeza
de alma, o amor ao dinheiro pelo amor à glória,
a boa companhia pelas boas pessoas, a intriga
pelo mérito, o espirituoso pelo gênio, o brilho
pela verdade, o tédio da volúpia pelo encanto
da felicidade, a mesquinharia dos grandes pela
grandeza do homem.
HUNT, L. Revolução Francesa e Vida Privada. In: PERROT, M. (org.). “História da Vida Privada: da Revolução
Francesa à Primeira Guerra”. Vol. 4. São Paulo: Companhia das Letras, 1991 (adaptado).
O discurso de Robespierre, de 5 de fevereiro de 1794, do qual o trecho transcrito é parte, relaciona-se a qual dos grupos político-sociais envolvidos na Revolução Francesa?
a) À alta burguesia, que desejava participar do poder legislativo francês como força política dominante.
b) Ao clero francês, que desejava justiça social e era ligado à alta burguesia.
c) A militares oriundos da pequena e média bur-guesia, que derrotaram as potências rivais e queriam reorganizar a França internamente.
d) À nobreza esclarecida, que, em função do seu contato com os intelectuais iluministas, desejava extinguir o absolutismo francês.
e) Aos representantes da pequena e média burguesia e das camadas populares, que desejavam justiça social e direitos políticos.
X
X
150
QUESTÕES DO ENEM NÃO ESCREVA NO LIVRO
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 150V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 150 24/09/2020 11:0224/09/2020 11:02
• Em relação às respostas que você apresentou no início do capítulo, o que você mudaria ou
complementaria? O que precisa ser feito para diminuir a distância entre as leis e a realidade?
Retome o contexto
Bill of Rights
Diferenças e
desigualdades
Filósofos antigos
Contratualistas dos
séculos XVII e XVIII
Primeira geração: Direitos
Civis e Políticos
Segunda geração: Direitos
Econômicos, Sociais e
Culturais
Terceira geração: Direitos
Universais – fraternidade e
igualdade
A Declaração
Universal dos Direitos
Humanos – 1948
Constituição de 1787
Declaração dos
Direitos do Homem e
do Cidadão – 1789
Estados – Constituições
– Acordos Internacionais –
Sociedade Civil – ONGs
Anti-Slavery
Human Rights Watch
Anistia Internacional
Médicos Sem Fronteiras
Oxfam
Repórteres Sem Fronteiras
Inúmeras ONGs
O que pode ser feito?
Precursores –
destaques
Revolução
Gloriosa – 1689
Independência dos
Estados Unidos – 1776
Revolução
Francesa – 1789
Crescem os desafios aos
Direitos Humanos
Prática dos Direitos
Humanos
Distinção
Gerações
Consolidação
Principais
Veja as respostas e orientações no Manual do Professor.
HISTÓRIA DOS DIREITOS HUMANOS
Mapa conceitual organizado pelos autores.
151
VOCÊ PRECISA SABERNÃO ESCREVA NO LIVRO
151
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 151V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 151 24/09/2020 11:0224/09/2020 11:02
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA BNCC• Competências gerais da Educação
Básica: CG1, CG4, CG5, CG7 e CG9.
• Competências e habilidades específicas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: Competência 1: EM13CHS101, EM13CHS103 e EM13CHS104. Competência 2: EM13CHS205. Competência 5: EM13CHS502 e EM13CHS503. Competência 6: EM13CHS605.
• Competência e habilidade específicas de Linguagem e suas Tecnologias: Competência 7: EM13LGG703.
TEMAS CONTEMPORÂNEOS TRANSVERSAIS
Cidadania e civismo• Vida Familiar e Social
• Educação em Direitos Humanos
O que acontece na praça?PRÁTICA
Para começar
Os séculos XX e XXI apresentam incontáveis transformações no
estilo de vida das pessoas. Entre elas, está o acelerado processo de
urbanização em todo o mundo. A Revolução Industrial, o desenvolvi-
mento tecnológico e o estabelecimento do capitalismo como modo de
produção levaram ao crescimento das cidades, à especialização do
trabalho e a uma moderna rede de comunicações que possibilita maior
eficiência na distribuição e no acesso a bens e serviços. Mas será que
serviços como saúde, educação, lazer, saneamento básico e pavimen-
tação de ruas são ofertados igualmente em todo o território nacional?
A falta de serviços e estruturas básicas para boa parte da população
brasileira mostra violações aos Direitos Humanos.
Trata-se de uma situação complexa e real. Por isso é importante
que, como brasileiros e estudantes, vocês se dediquem a observar,
registrar e analisar essa realidade na cidade onde vocês vivem hoje.
Muitas vezes passamos, sem nos darmos conta, por locais em que vá-
rias violações são cometidas. Não porque essas violências sejam es-
condidas, mas porque passamos a enxergá-las como “naturais”. A na-
turalização de fenômenos sociais nada mais é do que enxergar como
“natural” algo que na realidade é fruto de processos históricos. Muitas
vezes, esses processos são atravessados por relações desiguais de
poder e violência. Por isso é importante desnaturalizar o olhar para as
situações cotidianas, em especial aquelas relacionadas à violação dos
Direitos Humanos.
O cenário da desigualdade é visível nas
diversas paisagens das cidades, sejam gran-
des, sejam médias, sejam pequenas. Essa
desigualdade se apresenta em diferentes es-
paços, como é o caso das praças centrais das
cidades, em que é possível ver a circulação de
vários tipos de pessoas, de diferentes origens
e classes sociais. Nesses lugares se mistu-
ram gerações (crianças, adultos e idosos),
homens, mulheres, pessoas LGBTQI+, pessoas
que apenas “passam” por ali, outras que traba-
lham, conversam, passam o tempo, dormem
ou vivem ali, por falta de um local adequado de moradia.
Essa diversidade, comum em praças, faz delas um ambiente inte-
ressante para se compreender um pouco da lógica local e analisar de
que forma os diferentes grupos acessam e utilizam esses espaços pú-
blicos da cidade.
Praça Dante Aligheri em Caxias do Sul, RS. Fotografia de 2019.
Gers
on G
erloff
/Puls
ar
Imagens
152
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 152V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 152 24/09/2020 11:0224/09/2020 11:02
Para fazer esse exercício, vamos empregar o
método de observação participante. Ele permite
treinar um olhar desnaturalizado, ajudando a perce-
ber situa ções cotidianas com base em perspectivas
menos preconceituosas. Também ajudará a desen-
volver uma nova postura de observação. A partir
desses olhares será possível encontrar padrões e
significados importantes em situações que passam
despercebidas e que, muitas vezes, parecem não
ter sentido algum. Prontos para novos olhares?
Observar para desnaturalizar
A observação participante surgiu na disciplina de
Antropologia para compreender a lógica de pensa-
mento e das estruturas de determinada sociedade.
Inicialmente, no final do século XIX e início do XX, era
utilizada no contato com não ocidentais, geralmente
indígenas, africanos e asiáticos. Atualmente, trata-
-se de um método extremamente utilizado em pes-
quisas que procuram entender a própria sociedade e
as dinâmicas e lógicas locais, pois permite enxergar
a estrutura da cidade, os diferentes níveis de sociabi-
lidade e os usos do espaço geográfico.
Por exemplo, pode-se perceber os fluxos, os tra-
jetos e pontos de encontro de diferentes grupos
sociais na cidade (punks, surdos, motociclistas,
ciclistas, esqueitistas, veganos, entre outros).
Mas também é possível perceber relações
mais específicas, como os motivos, os significa-
dos e as negociações da ocupação dos espaços.
Os grupos compartilham os mesmos lugares?
Como as relações de compartilhamento ou “domí-
nio” do espaço são feitas e por quê?
Pode-se entender ainda a estrutura física da
cidade e como a presença ou ausência de insti-
tuições impacta na paisagem, na circulação, no
acesso e no tipo de uso dos espaços.
A proposta deste projeto é treinar um olhar ins-
pirado na observação participante e buscar lógi-
cas mais simples em uma praça da cidade, por ser
um local bem delimitado onde é possível perceber
padrões em poucas saídas de campo.
A(s) praça(s) de seu bairro ou cidade é (são)
realmente um espaço aberto e democrático ou
existe algum sinal de controle ou repressão? O
que os equipamentos ali instalados e a circulação
de pessoas podem revelar sobre trabalho, lazer,
desigualdades e políticas públicas? O que cada
grupo ali pode revelar
sobre divisão do tra-
balho e hierarquias so-
ciais? Essas são algu-
mas perguntas que esta
atividade, inspirada na
observação participan-
te, pretende responder.
Vamos lá?
Para fazer
Etapa 1 – Definindo o grupo de trabalho, tema da pesquisa e objetivos
1. Formem um grupo de trabalho com seis estu-
dantes.
2. O tema da pesquisa é “Observação participan-
te na praça: direitos humanos e desigualda-
des”. O objetivo é observar o espaço, como as
pessoas circulam, o que fazem, quais relações
constroem, de modo a revelar se a praça é um
local onde há ou não o acesso a Direitos Huma-
nos e o direito à cidade. Para isso, é necessário
definir o objetivo geral, que é “compreender a
estrutura e as dinâmicas sociais da praça com
base na ideia de Direitos Humanos”, sobretudo
em relação aos artigos a seguir.
• Artigo 1 – O direito de igualdade;
• Artigo 22 – O direito à proteção social;
• Artigo 23 – O direito ao trabalho;
• Artigo 24 – O direito ao repouso e lazer;
• Artigo 25 – O direito a um padrão de vida
adequado.
3. Dentro do objetivo geral, temos os objetivos
específicos, que nada mais são do que pontos
essenciais de observação nas praças, confor-
me apresentado a seguir.
• A estrutura física da praça.
Caderno de campo, água, lanche, lápis ou caneta, guarda-chuva, computador com acesso à internet e programa de processamento de textos.
Materiais necessários
NÃO ESCREVA NO LIVRO
153
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 153V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 153 24/09/2020 11:0224/09/2020 11:02
• Instituições presentes.
• Grupos no local.
Etapa 2 – Campo de observação e agenda de trabalho
1. Escolham uma praça movimentada que vocês conhecem e que seja usada por pessoas de vá-rias idades e grupos.
2. Conversem com o professor sobre o tempo que terão para realizar os campos de observação e preparem uma agenda de trabalho consideran-do as seguintes etapas:
a) Três saídas em campo: é o momento em que vocês vão fazer a observação da praça. As saídas devem acontecer em dias diferentes e durar no máximo três horas para não ficar muito cansativo.
b) Registros dos relatos de campo: trata-se do momento em que vocês vão descrever o que aconteceu em campo.
c) Organização de categorias: momento de or-ganizar os dados de campo (descritos nos relatos de campo) de acordo com cada obje-tivo específico.
d) Elaboração de relatório: aqui os dados de campo devem ser analisados de acordo com a teoria sobre Direitos Humanos e a biblio-grafia sobre o tema.
e) Produção final para a apresentação do tra-balho: hora de mostrar os resultados do tra-balho de forma criativa na internet ou para a comunidade escolar.
Etapa 3 – Planejando a pesquisa de campo
1. Cada espaço público tem horários e regras próprios, por isso a primeira saída deve ter o intuito de observar a estrutura física do local, conhecer as instituições, os possíveis horá-rios de atividades coletivas na praça (se hou-ver), entre outras informações gerais. Essas informações podem ser levantadas com pes-soas que trabalham no local, em instituições
próximas ou na internet. Por exemplo, se hou-ver uma igreja, será necessário conversar com algum responsável e perguntar quais são os horários de missa, quais são as mais cheias e se há trabalhos assistenciais, etc. As ativi-dades não precisam ser organizadas por uma instituição, podem acontecer na própria praça pela organização dos frequentadores, como aula de ioga pela manhã, presença de grupos de dança depois do horário de aula, grupos de artesanato, jogos de tabuleiro, etc. De acordo com a agenda de atividades que vocês conse-guirem, o grupo deve organizar o segundo e o terceiro campos, sempre considerando as ati-vidades e os horários que vão permitir maior contato com as pessoas.
2. É aconselhável que o grupo todo vá junto para o campo e que, chegando ao local, façam a observação em pequenos grupos ou indivi-dualmente. Isso porque um grupo grande cos-tuma chamar a atenção e pode fazer com que os frequentadores da praça se sintam descon-fortáveis ou desconfiados. Além disso, nesse tipo de grupo a interação geralmente fica sob a responsabilidade de uma ou duas pessoas. A ideia é que todos trabalhem habilidades de co-municação, façam perguntas e sejam ativos.
3. A frequência das saídas de campo também é importante. Uma vez por semana é o ideal, pois permite o tempo necessário para a escrita do relato de campo e para absorver e pensar a experiência antes de fazer outra saída. Além disso, o período de uma semana não é muito longo e mantém a continuidade do trabalho.
Organizem o material para ir a campo:
• Caderno de campo: pequeno bloco de notas ou caderno que seja de fácil manuseio. No caderno de campo vocês devem anotar bre-vemente situações, frases ou mesmo pala-vras-chave sobre o campo. Essas anotações vão servir para ativar a memória no momen-to de escrever o relato de campo (item a ser explicado na etapa 5).
• Água, lanche, lápis ou caneta.
154
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 154V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 154 24/09/2020 11:0224/09/2020 11:02
• Guarda-chuva, casaco, a depender da região onde vocês vivem. O clima é outro ponto sutil, mas importante do trabalho. Consulte a previsão do tempo antes de confirmar o campo. Se houver probabilidade de chuva, valerá a pena remarcar.
• Quem quiser pode usar câmera fotográfica ou celular para ajudar no registro de campo. Nesse caso, é preciso preparar um termo de consentimento para uso de imagem, que deve ser assinado pelas pessoas eventual-mente fotografadas. Esse termo deve con-ter: o nome da pessoa, o número do RG, um breve texto informando que a pessoa autori-za o uso da imagem para o projeto a ser rea-lizado, a data, o local e a assinatura.
Etapa 4 – Indo a campo
1. Procurem ser neutros: um pesquisador sem-pre deve observar o objeto de análise da forma mais imparcial possível. A ideia de neutralidade é silenciar os julgamentos, sejam positivos, se-jam negativos. O que cada pessoa, situação e o próprio espaço têm a revelar é importante para percebermos a estrutura social da qual fazemos parte, e, para ouvir essas revelações, é preciso estar aberto e assumir uma postura humilde em relação ao outro. Por isso, um pesquisador em campo não julga. Esse posicionamento vai per-mitir a abertura necessária para compreender o outro a partir do ponto de vista dele, o que é extremamente importante nessa metodologia.
2. Estranhem o que vocês costumam considerar normal, ou seja, percebam a diferença do outro mas não a julguem. O estranhamento geralmen-te acontece no contato entre culturas diferen-tes. Mas como “estranhar” a própria cultura? Imaginem um estrangeiro que passou toda a vida em uma comunidade afastada no Alasca. Agora imaginem que essa pessoa faz parte do grupo de observação participante na praça com vocês. Certamente ela ficará surpresa e curiosa com tudo o que observar, não é? Tentem re-produzir esse estranhamento e curiosidade do
estrangeiro no seu olhar sobre a praça. É impor-tante frisar que, nesse caso, estranhar significa assumir uma postura de desconhecimento ou ignorância sobre o ambiente.
3. Usem todos os sentidos: estamos acostuma-dos a supervalorizar a visão e acabamos não dando atenção ao olfato, ao tato e à audição. Olhem para locais para os quais vocês não olhariam (andares de cima dos prédios, deta-lhes das fachadas, organização dos fios de ele-tricidade), prestem atenção nos cheiros, nas conversas, nos sotaques ou em outras línguas, percebam as diferenças de temperatura, lumi-nosidade e ruído entre um ambiente e outro. Somente com essa percepção do ambiente já é possível ter uma série de informações sobre as regras, os cuidados e as finalidades do local.
4. Usem o caderno de campo: anotem tudo o que lhes chamar a atenção. Pode ser uma frase ou até uma palavra que faça vocês se lembrarem daquele momento. Lembrem-se de que a ideia do campo é captar o ponto de vista e a expe-riência das pessoas com quem vocês vão inte-ragir. Se quiserem, podem utilizar a fotografia como recurso.
5. Interajam com as pessoas na praça. Tenham iniciativa e puxem assunto. Não é obrigatório vocês se identificarem como pesquisadores, mas se perceberem que a outra pessoa está desconfiada ou se vocês mesmos não esti-verem à vontade, podem se identificar como pesquisadores que estão fazendo um trabalho para a escola. Às vezes essa informação que-bra a desconfiança e a conversa fica mais solta.
6. Os pontos de observação deverão ser os se-guintes.
a) A estrutura física da praça: tamanho, cuidados gerais com a estrutura do local, como limpe-za, arborização, presença de brinquedos para crianças, iluminação, acessibilidade, etc.
• Este objetivo específico vai mostrar de que forma a estrutura da praça está mais ou menos adequada ao lazer e à sociabi-
155
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 155V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 155 24/09/2020 11:0224/09/2020 11:02
lidade. Prestem atenção na estrutura, na
limpeza e na segurança. A praça tem ram-
pas para cadeira de rodas? O terreno está
bem asfaltado ou há buracos no pavimen-
to? A iluminação da praça é boa e oferece
mais segurança à noite? Ela está limpa?
Há áreas para brinquedos ou academias
ao ar livre, bancos, mesas, etc.?
pos que frequentam o local? Aquelas insti-
tuições tornam a praça um local privilegia-
do na cidade? Prestem atenção nos agen-
tes institucionais. Policiais, assistentes so-
ciais, pessoas que fazem trabalhos ligados
à igreja, etc. mostram de forma clara quais
são as demandas sociais do local.
c) Grupos no local: grupos de idosos, jovens,
crianças, trabalhadores, pessoas em situa-
ção de rua, etc.
Equipamento de lazer para crianças na Praça da Estação em Quixada, CE. Fotografia de 2018.
Igreja na praça da cidade de Pinto Bandeira, RS. Fotografia de 2020.
Artista apresenta espetáculo de bonecos em praça no centro de Garopaba, SC, em 2019.
• A presença de instituições pode valorizar
muito a região onde a praça está localiza-
da. Escolas, faculdades, igrejas, museus,
entre outras, valorizam e movimentam o
local. Por isso é importante que percebam
que tipos de instituição há nos arredores
da praça. De que forma essas instituições
influenciam a presença de pessoas e gru-
• As praças são ocupadas por diferentes
grupos sociais. Muitas vezes, o motivo
da presença desses grupos parece óbvio
(trabalho, escola, igreja, lazer ou algum
serviço oferecido), mas o ponto de vista
dos frequentadores pode aprofundar muito
nossas percepções. A ideia principal desse
contato é justamente entender os usos e
significados daquele espaço público para
as pessoas presentes. Por exemplo, quem
tem casa e comida farta provavelmente
vai à praça para lazer. Por outro lado, pode
haver grupos que literalmente moram na
praça, neste caso ela pode ser vista como
lar; já outro grupo pode considerar a praça
local onde se estabelecem amizades ou
se praticam atividades físicas ou algum
esporte. As respostas são diversas e co-
nhecê-las requer entrar em contato com o
outro, ouvir, apreender seu ponto de vista,
suas queixas e suas motivações.
Eduard
o Z
app
ia/P
uls
ar
Imag
en
s
Cle
mild
o S
ilva/S
hutt
ers
tock
De
lfim
Mart
ins/P
uls
ar
Imag
en
s
b) Instituições presentes: igreja, museus, ca-
sas de acolhida, posto policial, escolas, fa-
culdades, comércio, entre outras.
156
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 156V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 156 24/09/2020 11:0224/09/2020 11:02
Jogo de baralho reúne idosos em praça no centro da cidade de Santa Bárbara do Oeste, SP, em 2019.
Morador de rua dormindo em praça no centro de Belo Horizonte, MG, em 2019.
d) Com base nesse contato e nos “significados
da praça”, pode-se perceber desigualdades
sociais, a praça como lugar de acesso e/ou
violação do direito à cidade e aos Direitos
Humanos e constitucionais.
3. Juntem todos os relatos de campo e discutam
em grupo cada um desses objetivos. O que o
campo revelou sobre esses pontos?
Etapa 6 – Escrita do relatório e divulgação dos resultados
• A estrutura do relatório deve conter:
a) Introdução: apresentem brevemente o tema,
os objetivos e o método utilizado no projeto.
b) Desenvolvimento: relacionem os dados de
campo com a discussão teórica dos capí-
tulos. Neste momento é importante fazer
uma análise articulando a subjetividade
dos frequentadores com conceito de praça
e a função delas nas cidades, além da iden-
tificação do cumprimento ou violação dos
Direitos Humanos.
c) Campo: descrevam a experiência de vocês.
Como vocês se sentiram, quais foram as di-
ficuldades e as surpresas? A percepção de
vocês sobre a praça mudou ou continuou
igual?
d) Conclusão: retomem brevemente os pontos
principais finalizando com uma opinião ge-
ral do trabalho e o que poderia ser melhora-
do em futuros campos.
Para compartilhar
1. Façam a difusão do relatório construindo uma
página nas redes sociais. Neste caso, cada gru-
po deve criar stories e postagens sobre um as-
pecto que tenha lhe chamado mais a atenção no
campo. Devem ser usados os dados do caderno
de campo e relatos, bem como fotografias, des-
de que não exponham nenhuma pessoa com
quem tenham tido contato (a menos que as
pessoas fotografadas tenham assinado o termo
de consentimento para uso de imagem).
2. Divulguem a página para as outras turmas da
escola, colegas e familiares. Provavelmente,
muitas pessoas vão olhar essa praça com ou-
tros olhos!
Etapa 5 – Relato de campo e sistematização dos dados
1. Depois de cada campo, vocês devem fazer um
relato de campo. Utilizem o caderno de campo
como base e desenvolvam os detalhes daqui-
lo que ouviram: queixas, elogios, motivações
e pontos de vista das pessoas sobre o local.
Lembrem-se de registrar também as percep-
ções que vocês tiveram sobre o ambiente.
2. Façam uma categorização das informações
nos objetivos específicos usando marca-tex-
tos de cores diferentes para cada um dos obje-
tivos. Por exemplo:
• Estrutura da praça: caneta verde
• Instituições: caneta azul
• Grupos sociais: caneta marca-texto amarela
Luis
War/
Shutt
ers
tock
João
Pru
den
te/P
uls
ar
Image
ns
157
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 157V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_Cap4_122a157.indd 157 24/09/2020 11:0224/09/2020 11:02
Referências bibliográficas comentadasABBAGNANO, Nicola. Diccionario de Filosofía. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1998. Edição mexicana do dicionário do filóso-fo italiano Nicola Abbagnano. Condensa 2 500 verbetes da Filoso-fia, sendo importante referência na disciplina.
ABREU, A. A. de (org.). Caminhos da cidadania. Rio de Janeiro: Ed. da FGV, 2009. Reunião de artigos de vários especialistas que analisam a Constituição, o Estado, a Federação, os sindicatos, os partidos políticos e outros agentes e instituições que participam da construção da cidadania.
ALMEIDA, C. A. Cultura e sociedade no Brasil: 1940-1968. São Pau-lo: Atual, 1996. A obra traz um painel da história social e cultural do Brasil entre as décadas de 1940 e 1960 a partir da análise de mú-sicas, peças teatrais e filmes brasileiros desse contexto histórico.
ALMEIDA, Silvio. O que é racismo estrutural? Belo Horizonte: Letra-mento, 2018. Neste livro, o autor explica em detalhe o que é o ra-cismo estrutural no contexto da sociedade brasileira, defendendo que o racismo é um elemento que organiza a economia e a política da sociedade, sobretudo a brasileira, mas não apenas.
ALVES, Maria Zenaide; OLIVEIRA, Igor. Juventudes e territórios: o campo e a cidade. In: CORREA, Licinia Maria; ALVES, Maria Zenaide; LINHARES, Carla (org.). Cadernos temáticos: juventude brasileira e Ensino Médio. Belo Horizonte: Ed. da UFMG, 2014. p. 26. Disponível em: http://observatoriodajuventude.ufmg.br/publication/view/cole cao-cadernos-tematicos-juventudes-e-territorios-o-campo-e-a-cidade/. Acesso em: 25 jun. 2020. Conjunto de textos que abordam a relação entre juventudes, escolas e territórios e ampliam a reflexão do indivíduo sobre o lugar onde vive e suas relações cotidianas com a comunidade e o espaço.
ARAUJO, M. P.; FERREIRA, M. M.; FICO, C.; QUADRAT, S. Ditadura e
democracia na América Latina. Rio de Janeiro: Ed. da FGV, 2008. O livro reúne trabalhos de diversos autores que analisam a his-tória da América Latina contemporânea, percorrendo temas rela-cionados aos golpes, às ditaduras militares e aos processos de democratização latino-americanos, a saber, a memória histórica, a violência, a repressão e resistência aos regimes, bem como os impasses da redemocratização, os direitos humanos e as comis-sões de justiça e verdade.
BASCHET, J. A civilização feudal: do ano mil à colonização da Amé-rica. São Paulo: Globo, 2006. Síntese crítica que visa rever a visão tradicional sobre a Idade Média e a colonização da América, sob a lógica expansionista medieval.
BENEVIDES, Maria Vitória. A cidadania ativa. São Paulo: Ática, 1998. A professora da Faculdade de Educação da USP desenvolve, nes-te livro, o conceito de cidadania ativa e a importância de a escola promover ensinamentos que promovam a efetiva participação po-lítica das pessoas na democracia participativa e consolidação de seus direitos e deveres.
BENEVOLO, L. História da cidade. São Paulo: Perspectiva, 2007. Im-portante referência para os estudos das cidades e do urbanismo, esta obra, repleta de belas imagens, descreve como as cidades surgiram nas diferentes cidades e aponta a singularidade dessa parcela do espaço.
BOBBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicio-
nário de Política. 7. ed. Brasília, DF: Editora UnB, 1995. v. 1 e 2. Este
dicionário de Norberto Bobbio e coautores aborda os principais conceitos que fazem parte do universo do discurso político; é uma referência na área de Ciência Política.
BOTELHO, A.; SCHWARCZ, L. M. (org.). Agenda brasileira: temas de uma sociedade em mudança. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. O livro reúne textos de diferentes autores que analisam uma pluralidade de temáticas relacionadas à agenda política, so-cial, cultural e intelectual da sociedade brasileira contemporânea.
BUCKINGHAM, Will et al. O livro da filosofia. Tradução de Douglas Kim. São Paulo: Globo, 2011. Livro de divulgação científica que re-úne a síntese das principais ideias e conceitos defendidos pelos grandes filósofos de todo o mundo. Texto de fácil leitura e compre-ensão e que serve como primeira aproximação aos temas comple-xos abordados por grandes pensadores ao longo da história.
BULL, Hedley. A sociedade anárquica: um estudo da ordem na polí-tica mundial. Brasília, DF: Editora Universidade de Brasília/Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais; São Paulo: Imprensa Ofi-cial do Estado, 2002. Explica o conceito de ordem e, em seguida, discute diversos aspectos da ordem internacional contemporâ-nea, como equilíbrio de poder, diplomacia e guerra.
BUORO, A. et al. Violência urbana. Dilemas e desafios. São Paulo: Atual, 2010. Analisa a violência nas sociedades ocidentais, o histó-rico da violência no Brasil, os fatores envolvidos com a questão e alguns números e casos, como o do crime organizado.
CAMPOS FILHO, C. M. Reinvente seu bairro: caminhos para você participar do planejamento da sua cidade. São Paulo: Editora 34, 2003. Neste livro, ricamente ilustrado por croquis, o autor, urba-nista, explica as diversas lógicas que devem orientar o processo de urbanização das cidades, enfocando sobretudo a escala de vida dos moradores, o bairro.
CAPEL, H. La Cosmópolis y la ciudad. Barcelona: Ediciones del Ser-bal, 2003. Em cada um dos seis capítulos, o autor analisa um as-pecto urbano. Por exemplo, no capítulo 1 discute a relação entre o escritor Jorge Luis Borges e a Cosmópolis; no capítulo 5 analisa o desenvolvimento científico e a inovação na cidade contemporânea.
CASTELLS, M. A sociedade em rede. 7. ed. Rio de Janeiro: Paz e Ter-ra, 2003. (A era da informação: economia, sociedade e cultura, 1). Analisa as transformações sociais, econômicas e culturais que estão ocorrendo como consequência da Revolução Informacional. Elucida o conceito de economia informacional/global, importante para entender a atual fase da expansão capitalista e a presente revolução tecnológica.
CASTELLS, M. Fim de milênio. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1999. (A era da informação: economia, sociedade e cultura, 3). Analisa as transformações socioeconômicas e geopolíticas que estão ocor-rendo no mundo com o advento da era informacional e da globa-lização no final do século XX. Faz estudos de caso, como sobre o colapso da União Soviética e a crise na Rússia, a pobreza e a exclu-são social na África, etc.
CASTELLS, M. O poder da identidade. 2. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1999. (A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura, 2). Analisa alguns problemas suscitados pelo advento da era informa-cional e da globalização, como a desagregação étnica, os funda-mentalismos e os movimentos de resistência.
158
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_158a160.indd 158V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_158a160.indd 158 24/09/2020 10:4524/09/2020 10:45
CASTELLS, Manuel; HALL, Peter. Technopoles of the world: the making of 21st industrial complexes. London, New York: Routledge, 1994. Extensa pesquisa sobre os principais tecnopolos do mun-do, desde o pioneiro – Vale do Silício – até os mais recentes. Os autores situam essa nova organização territorial da pesquisa e da produção no atual período informacional do capitalismo.
CHOMSKY, Noam. Quem manda no mundo? São Paulo: Planeta, 2017. Interessantes discussões e análises sobre os poderes e as medidas iniciais do governo Trump, assim como sobre o futuro do planeta.
COSTA, Antônio Carlos Gomes. Protagonismo juvenil: adolescência, educação e participação democrática. Salvador: Fundação Ode-brecht, 2000. Discussão acerca do conceito de protagonismo na sociedade brasileira. Propõe a ideia do protagonismo como exercí-cio e prática da autonomia e reflete sobre as visões que atribuem aos jovens a responsabilidade de promover mudanças em nossa sociedade.
DAVIS, M. Planeta favela. São Paulo: Boitempo, 2006. Aborda as causas e consequências da favelização de grande parte da popu-lação das grandes metrópoles, sobretudo dos países em desen-volvimento, a partir dos anos 1980. Repleto de dados e descrições das condições de vida e origem das principais favelas no mundo.
DE DECCA, E. 1930: o silêncio dos vencidos. 3. ed. São Paulo: Bra-siliense, 1986. O livro apresenta uma análise acerca da memória histórica da Revolução de 1930, examinando os meios pelos quais os discursos políticos construíram tal fato histórico a fim de se le-gitimarem.
DIAS, L. A. (org.). Cidade e História: uma análise de processos de urbanização e construção de cidadania. Curitiba: CRV, 2010. Os sete artigos dessa coletânea discutem o processo de urbanização em escala nacional e a importância do conhecimento do espaço urbano para o pleno exercício da cidadania.
ESCHRIQUI, Jorge. Cidadania e ensino de história. Brasília, DF: Thesaurus, 2018. Análise da questão da cidadania e seus aspectos relacionados às práticas inclusivas que influenciam os fundamen-tos do ensino de História.
FAUSTO, Boris. Getúlio Vargas: o poder e o sorriso. São Paulo: Com-panhia das Letras, 2006. O livro expõe uma análise dos percursos tomados por Getúlio Vargas, bem como dos impasses e contradi-ções da formação nacional brasileira, delineando um quadro sobre esse personagem e seu contexto histórico.
FERREIRA, J. S. W. O mito da cidade-global: o papel da ideologia na produção do espaço urbano. Petrópolis: Vozes; São Paulo: Ed. da Unesp; Salvador: Anpur, 2007. Discute a origem do conceito de cidade global e, com base no estudo de São Paulo, analisa a mani-pulação ideológica que reduz o mundo a fluxos e mascara as desi-gualdades sociais e os problemas urbanos.
FERRY, Luc. Aprender a viver: filosofia para os novos tempos. Rio de Janeiro: Objetiva, 2006. Livro do conceituado filósofo contemporâ-neo francês no qual são abordados os principais temas e conceitos da filosofia em linguagem bastante acessível, sem as típicas refe-rências e citações bibliográficas e a outros conceitos mais comple-xos como são feitas nas obras acadêmicas. É uma iniciação à filoso-fia sem abrir mão da densidade e do rigor teórico necessário.
FONTANA, Josep. História dos homens. Bauru: Edusc, 2004. Um estudo que mostra as falácias que se encontram atrás da con-
cepção de um único modelo de evolução humana, com sua ideia de progressão ininterrupta da época das cavernas, a denominada pós-modernidade.
GAGGERO, Horacio. História de América em los siglos XIX y XX. Bue-nos Aires: Alique Grupo Editor, 2011. Trata desde a ruptura do pacto colonial com ênfase na América Latina, passando pelo quadro políti-co e econômico do século XIX, avançando sobre o século XX, sobre a crise dos anos 1930, passando pelo impacto da Guerra Fria na re-gião e as perspectivas no pós-Guerra Fria.
GIDDENS, A. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2005. O autor apre-senta, de forma clara e didática, os grandes temas da Sociologia: cultura e sociedade, gênero, famílias, crime, raça, migração, pobre-za, religião e outros.
GOMES, A. C.; D’ARAÚJO, M. C. Getulismo e trabalhismo. São Paulo: Ática, 1989. A obra aborda a história do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), desde sua criação, em 1945, até o ano de 1954, e nesse sen-tido analisa as relações do trabalhismo com o getulismo, temática central na construção e organização do partido nesse contexto.
GOMES, P. C. da C. A condição urbana: ensaios de geopolítica da cidade. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2012. Trata da re-lação entre o poder (ou poderes) e o território (ou territórios) urbano(s), por isso tem o subtítulo “geopolítica da cidade”, e, con-sequentemente, da relação entre cidadania e espaço público.
HOBSBAWM, E. Era dos extremos: o breve século XX, 1914 -1991. 2. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2014. A obra apresenta uma abordagem panorâmica sobre a história do século XX, desde a Primeira Guerra Mundial até o colapso da URSS, dividindo esse período em três recortes: a era da catástrofe, marcada pelo colap-so da civilização ocidental do século XIX e por duas grandes guer-ras; a era do ouro, caracterizada por transformação social e cres-cimento econômico; e a fase do Desmoronamento, entre a década de 1970 e a de 1990, marcada por incertezas e crises.
HOBSBAWM, E. Globalizações, democracia e terrorismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2007. A obra apresenta uma análise sobre a conjuntura mundial e a política internacional do começo do sé-culo XXI, percorrendo uma pluralidade de temáticas como imperia-lismo, hegemonia, democracia, o poder da mídia, conflitos bélicos, nacionalismo e terrorismo.
HOBSBAWM, E. J. Nações e nacionalismo desde 1870: programa, mito e realidade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1990. Este livro é uma referência para o entendimento do significado das nações e do na-cionalismo desde o fim do século XVIII até os dias de hoje.
JACOBS, J. Morte e vida de grandes cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2014. Clássico livro da jornalista e ativista estadunidense que enfren-tou grandes interesses imobiliários na cidade de Nova York, no qual ela questiona o modelo de planejamento urbano que expulsa os mo-radores mais pobres e ignora a escala humana na vida nas cidades.
KRENAK, Ailton. "Não é a primeira vez que profetizam nosso fim; enterramos todos os profetas”, diz Ailton Krenak. [Entrevista cedida a] Elaíze Farias. Amazônia.org, 12 fev. 2020. Disponível em: https://amazonia.org.br/2020/02/nao-e-a-primeira-vez-que-profetizam-nosso-fim-enterramos-todos-os-profetas-diz-ailton-krenak/. Acesso em: 4 jun. 2020. Nesta entrevista, o filósofo e líder indígena comenta seu livro Ideias para adiar o fim do mundo e também aborda o problema da demarcação das terras indígenas e o acirramento da violência sofrida pelos povos indígenas recentemente.
159
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_158a160.indd 159V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_158a160.indd 159 24/09/2020 10:4524/09/2020 10:45
KUCINSKI, B. A síndrome da antena parabólica: ética no jornalis-mo brasileiro. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 1998. A obra apresenta um conjunto de ensaios que abordam múltiplos temas relacionados ao jornalismo brasileiro, como a ética jornalística e o papel dos meios de comunicação de massa nos caminhos da his-tória recente do Brasil.
LEVINE, Robert. Pai dos pobres? O Brasil e a era Vargas. São Paulo: Companhia das Letras, 2001. O livro apresenta uma análise sobre a Era Vargas, examinando as trajetórias políticas do governo Getú-lio Vargas, o seu legado e sentido na história do Brasil.
MORENO, J. O futuro das cidades. São Paulo: Senac, 2002. Traz uma análise do histórico do desenvolvimento urbano, do impacto das no-vas tecnologias no ambiente urbano e da reforma urbana no Brasil.
MUNFORD, L. A cidade na história. Belo Horizonte: Itatiaia, 1965. Nesta importante referência nos estudos sobre cidades e urbanis-mo, seu autor faz uma abordagem histórica, filosófica e sociológi-ca sobre as formas e funções das cidades ao longo do tempo.
NAPOLITANO, Marcos. 1964: história do regime militar brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014. Analisa o quadro histórico da época da ditadura de 1964 a 1985.
NOVAIS, F. (dir.); SCHWARCZ, L. M. (org.). Contrastes da intimidade
contemporânea. São Paulo: Companhia das Letras, 1999. (Histó-ria da vida privada no Brasil, 4). O quarto volume da História da vida privada no Brasil apresenta uma série de ensaios que abor-dam algumas experiências históricas e a vida cotidiana brasilei-ra a partir de meados do século XX, percorrendo temas como a imigração, o preconceito e a desigualdade racial, a violência e os arranjos familiares.
OZOUF, Mona. Varennes: a morte da realeza, 21 de junho de 1791. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. A Revolução Francesa com foco na fuga do rei Luis XVI e seus desdobramentos.
PRADO, Maria Ligia; PELEGRINO, Gabriela. História da América Lati-
na. São Paulo: Contexto, 2014. Um amplo apanhado da história da América Latina desde a crise dos domínios coloniais até as ditadu-ras militares recentes.
REIS, Daniel Aarão (coord.). Modernização, ditadura e democracia: 1964-2010. Rio de Janeiro: Objetiva, 2014. Apresenta textos de vá-rios autores analisando o quadro histórico brasileiro da ditadura aos anos de 2010.
SANTOS, M. A urbanização brasileira. 3. ed. São Paulo: Hucitec, 1996. Analisa a evolução da população urbana, agrícola e rural, as alterações provocadas no período técnico-científico, a metropoli-zação, a descentralização atual e as tendências da urbanização brasileira no fim do século XX.
SANTOS, M. O espaço do cidadão. São Paulo: Nobel, 1987. A obra analisa questões fundamentais da cidadania: impostos, consumo e alienação, rede urbana, cultura, classe social, Estado e outros.
SANTOS, M. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência universal. Rio de Janeiro: Record, 2000. O autor reto-ma algumas questões levantadas no livro A natureza do espaço e avança sua análise, sobretudo na crítica à globalização e nas propostas de caminhos alternativos à tirania do dinheiro e da in-formação inerentes ao processo.
SANTOS, Milton. Técnica, espaço, tempo: globalização e meio téc-nico-científico-informacional. São Paulo: Hucitec, 1994. Analisa o processo de globalização e o meio técnico-científico-informacio-nal que lhe dá suporte e facilita o que o autor chama de aceleração contemporânea.
SARTRE, Jean-Paul. O existencialismo é um humanismo. Rio de Janeiro: Vozes, 2012. Um dos principais livros do falecido filósofo francês no qual estão reunidos os principais argumentos e defe-sas da corrente existencialista, entre eles a condenação à liberda-de de escolha de todo ser humano.
SASSEN, S. As cidades na economia global. São Paulo: Studio Nobel, 1998. Apresenta uma análise do impacto urbano da glo-balização, da nova economia urbana e das desigualdades nas cidades.
SAVATER, Fernando. Ética para meu filho. São Paulo: Martins Fon-tes, 1993. Neste livro, escrito para adolescentes, o filósofo espa-nhol reuniu um conjunto de reflexões pessoais sobre a relação entre pai e filho, analisadas pela perspectiva de dois conceitos estruturais da filosofia – ética e moral – com o intuito do desen-volvimento de livres-pensadores.
SCHWARCZ, Lilia Moritz; STARLING, Heloisa Murgel. Brasil: uma bio-grafia. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. História Geral do Brasil, tomando a formação da cidadania, a construção do Estado--nação, o impacto da escravidão, a questão indígena, a violência, o patrimonialismo e o nosso tempo.
SPÓSITO, E. S. Redes e cidades. São Paulo: Ed. da Unesp, 2008. Análise teórica de temas atuais, envolvendo o papel da internet sobre as cidades, as redes, as redes de cidades e as cidades em redes.
TOSI, Giuseppe (org.). Direitos humanos: história, teoria e prática. João Pessoa: Editora UFPB, 2004. Reunião de textos multidiscipli-nares no campo das humanidades que abordam diferentes aspec-tos da construção da ideia de direitos humanos, discutindo inclu-são e exclusão social, o papel da educação e teorias do Direito e da Filosofia sobre o tema.
VEIGA, J. E. da. Cidades imaginárias: o Brasil é menos urbano do que se calcula. Campinas: Autores Associados, 2002. Composto de 60 artigos publicados no jornal O Estado de S. Paulo, nos quais o autor discute as características do urbano e do rural, a delimitação dessas duas realidades socioespaciais e a inadequação dos crité-rios para a definição de cidade no Brasil.
VIGEVANI, T.; OLIVEIRA, M. F.; LIMA, T. Diversidade étnica, conflitos
regionais e direitos humanos. São Paulo: Ed. da Unesp, 2008. Livro dividido em quatro capítulos que analisam os seguintes temas: et-nia, nação e Estado; direitos humanos; conflitos étnicos e direitos humanos; conflitos étnicos.
VOVELLE, Michel. A Revolução Francesa: 1789-1799. São Paulo: Unesp, 2012. Análise da Revolução Francesa, desde o Antigo Regi-me e suas memórias e heranças até hoje.
VOVELLE, Michel. Jacobinos e jacobinismo. Bauru (SP): Edusc, 2000. Ampla análise da Revolução Francesa, apresenta o jacobi-nismo como responsável pela experimentação real de formas de democracia.
160
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_158a160.indd 160V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_158a160.indd 160 24/09/2020 10:4524/09/2020 10:45
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 161V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 161 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
Caro professor,
Este Manual tem como objetivo dar suporte ao seu trabalho docente neste momento em
que o Ensino Médio passa por tantas mudanças diante da necessidade de colocar em prática
a reforma curricular orientada pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e pelo Novo
Ensino Médio. As mudanças não passam somente pela nova abordagem interdisciplinar por
áreas do conhecimento, como é o caso da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, que
nos toca diretamente como professores formados em Filosofia, Geografia, História ou Socio-
logia. Passam também por novas abordagens que buscam valorizar os conhecimentos prévios
dos estudantes como ponto de partida para aprendizagens significativas. Passam ainda pela
valorização da formação integral, pelo protagonismo dos jovens estudantes e pela ligação das
aprendizagens com seu cotidiano, contextualizando os conhecimentos escolares e relacionan-
do-os com a vida real, sem os quais os estudantes não terão interesse em aprender os conhe-
cimentos que lhes são ensinados. Como todo professor bem sabe, sem interesse ninguém
aprende. Este, aliás, é o grande desafio da escola atual, despertar o interesse dos estudantes e
contribuir para a realização de seus projetos de vida, ancorados no respeito aos direitos hu-
manos e na sustentabilidade ambiental. E isso só é possível se os estudantes virem sentido no
que estão aprendendo, o que passa necessariamente por perceberem a relação entre esses
conhecimentos escolares e sua vida cotidiana.
Para tanto, tornam-se necessários a redução do peso da dimensão conceitual do conhe-
cimento e o aumento da dimensão procedimental, assim como também da atitudinal, o que
contempla toda uma gama de abordagens socioemocionais. Por isso, o Livro do Estudante
privilegia atividades diversas, com destaque para a pesquisa como prática pedagógica, todas
elas visando contribuir para o desenvolvimento das dez competências gerais da BNCC e das
seis competências específicas da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, assim como
de suas respectivas habilidades.
Esse debate já está superado, mas é importante mencionar que não é possível o desenvol-
vimento de competências e habilidades sem o domínio dos conhecimentos específicos das
quatro disciplinas que compõem a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Em outras
palavras, não existiria a dimensão procedimental e atitudinal do conhecimento sem sua di-
mensão conceitual. O desenvolvimento de competências e habilidades não se dá num vácuo
de conhecimentos disciplinares. Estes são primordiais. O que muda é sua articulação de for-
ma interdisciplinar, o que exige prescindir do excessivo conteudismo que caracterizava o En-
sino Médio (e provocava desinteresse em muitos jovens) e considerar que muitos desses co-
nhecimentos os estudantes já trazem dos Anos Finais do Ensino Fundamental e de suas
experiências de vida. No Ensino Médio, em linha com o fato de que os estudantes desse ciclo
apresentam estruturas cognitivas mais bem organizadas e maior capacidade de abstração,
devem ser propostas análises mais integradoras de uma realidade da qual os estudantes fa-
zem parte e, mais do que isso, em que devem atuar como protagonistas.
Esperamos que este Manual auxilie seu trabalho no cotidiano da sala de aula e contribua
para o desenvolvimento do protagonismo docente, tão necessário para encarar os desafios
deste mundo complexo em que vivemos. O trabalho docente nunca foi tão importante quan-
to agora e não há estudantes protagonistas sem professores protagonistas.
Bom trabalho!
Os autores
Apresentação
162
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 162V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 162 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
Sumário
Orientações gerais........................................................................................................................................................................................... 164
Novo Ensino Médio............................................................................................................................................................................................................ 164
Base Nacional Comum Curricular .................................................................................................................................................................... 165
Educação integral............................................................................................................................................................................................................... 167
Integração e interdisciplinaridade................................................................................................................................................................... 170
A área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e seus componentes curriculares................................ 174
Conhecimento como ferramenta para intervir no mundo .................................................................................................... 179
Temas Contemporâneos Transversais.......................................................................................................................................................... 183
Investigação científica em Ciências Humanas.................................................................................................................................... 183
Diagnósticos e avaliações.......................................................................................................................................................................................... 185
Propostas de trabalho com a coleção.......................................................................................................................................................... 189
Sumário de todos os capítulos.............................................................................................................................................................................. 193
Organização e estrutura da coleção.............................................................................................................................................................. 194
Referências bibliográficas comentadas...................................................................................................................................................... 196
Orientações específicas..................................................................................................................................................................... 198
Sobre este volume.............................................................................................................................................................................................................. 198
Unidade 1 Dimensões da cidadania............................................................................................................................................................... 199
Capítulo 1 Democracia e ditadura no Brasil e na América Latina.................................................................... 200
Capítulo 2 Desafios para construção da justiça social no Brasil......................................................................... 213
Prática – Entrevista semiestruturada................................................................................................................................................... 225
Unidade 2 Caminhos da cidadania.................................................................................................................................................................. 228
Capítulo 3 A cidade e a cidadania................................................................................................................................................................ 229
Capítulo 4 Direitos humanos e prática social .............................................................................................................................. 239
Prática – O que acontece na praça?...................................................................................................................................................... 252
Referências bibliográficas comentadas........................................................................................................................................... 255
ORIENTAÇÕES GERAIS | 163
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 163V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 163 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
Novo Ensino Médio
O conjunto de leis, diretrizes, normas e orientações
para a reformulação do Ensino Médio possibilita com-
preender o currículo de forma mais ampla e complexa
e criar uma organização curricular desse segmento de
ensino. Essa nova configuração impõe impactos signi-
ficativos sobre o tempo e o espaço de aprendizagem
dos estudantes, bem como nos programas curriculares.
A reforma do Ensino Médio criou mecanismos pa-
ra os sistemas de ensino e unidades escolares adequa-
rem seus projetos observando as competências gerais
da Educação Básica e as competências específicas, de-
finidas por área do conhecimento e suas respectivas
habilidades, considerando a realidade do estudante do
Ensino Médio. Assim, a definição daquilo que deve ser
ensinado pressupõe as seguintes reflexões: Por que pri-
vilegiar determinados objetos de ensino em detrimen-
to de outros? Para quem eles serão ensinados?
Livro
• PERRENOUD, Philippe. Construir as competências desde a escola. Porto Alegre: Artmed, 1999.
Perrenoud discute o conceito de competências e sua
utilização na educação, bem como as competências a
serem desenvolvidas para o mundo contemporâneo.
SUGESTÕES DE LEITURAS, VÍDEOS E SITES
Em relação à duração, ocorreu a ampliação da car-
ga horária para, no mínimo, mil horas anuais, totalizan-
do 3 mil horas para todo o segmento. Desse total,
1 800 horas devem ser dedicadas à parte comum, de-
finida pelas competências gerais, específicas e habili-
dades da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e,
no mínimo, 1 200 horas destinadas à parte diversifica-
da do currículo, denominada Itinerário Formativo. Es-
pera-se que os sistemas de ensino e as unidades esco-
lares definam essa parte diversificada com base na
análise das potencialidades e necessidades locais, ali-
nhadas aos desejos da comunidade, que compreende
o corpo discente, os familiares e os demais atores so-
ciais envolvidos, de forma direta e indireta, com a
escola e o ensino-aprendizagem. Trata-se de uma con-
textualização efetiva do currículo.
Além disso, foi estabelecida grande flexibilidade na
oferta dos conteúdos compreendidos na parte comum.
As 1 800 horas podem ser organizadas de diferentes
formas ao longo dos três anos do novo Ensino Médio,
de acordo com o projeto definido pelas unidades es-
colares. Com exceção de Língua Portuguesa e Mate-
mática, que devem ser oferecidas em todos os anos, as
demais disciplinas organizadas em áreas do conheci-
mento, como é o caso deste material, da área de Ciên-
cias Humanas e Sociais Aplicadas, podem ser distribuí-
das de formas variadas. Cada unidade escolar também
poderá propor mais de um percurso formativo para os
estudantes, o que permite a convivência de diferentes
arranjos curriculares.
Na prática, os seis volumes desta coleção, que não
são sequenciais e, portanto, não apresentam hierarquia,
de acordo com a complexidade conceitual, podem ser
trabalhados de modo bastante flexível, a exemplo do
apresentado a seguir.
Exemplo/
Ano1o 2o 3o
A 2 volumes 2 volumes 2 volumes
B 3 volumes 2 volumes 1 volume
C 4 volumes 1 volume 1 volume
Nos termos das leis e normas vigentes, não há im-
peditivo para que os conteúdos previstos pela Base Na-
cional Comum Curricular para a área de Ciências Hu-
manas e Sociais Aplicadas deixem de ser formalmente
inseridos na grade curricular de algum ano. Entretanto,
essa escolha exige atenção e planejamento, pois, caso
contrário, pode contradizer a prerrogativa estruturante
do Novo Ensino Médio, que é a integração entre as áreas
do conhecimento e a interdisciplinaridade.
Os conteúdos das áreas do conhecimento não es-
tão limitados ao material didático específico previsto
para cada uma delas, mais especificamente às coleções
de seis volumes (obras didáticas por área do
Orientações gerais
164
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 164V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 164 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
conhecimento). O Programa Nacional do Livro Didá-
tico (PNLD) também previu a aquisição de outras
obras, como aquelas discriminadas como Obras Didá-
ticas de Projetos Integradores da área de Ciências Hu-
manas e Sociais Aplicadas e as obras de Projeto de Vi-
da, que eventualmente podem compreender
conteúdos da área e, ainda, a obra específica de Ciên-
cias Humanas e Sociais Aplicadas e Matemática.
Portanto, o uso combinado das diferentes obras
previstas no PNLD ficará a critério das escolas, de
acordo com seu projeto pedagógico, com a disponi-
bilidade de recursos humanos locais e, também, de
eventuais parcerias com outras unidades de ensino
ou mesmo em formatos não presenciais, fazendo uso
das tecnologias da informação e comunicação. Vale
lembrar que 20% da carga horária do Ensino Médio
poderá ser desenvolvida a distância, aumentando pa-
ra 30% para aqueles que cursam o Ensino Médio no
período noturno.
Eventualmente os conteúdos de Ciências Humanas
também poderão estar presentes nos Itinerários For-
mativos (parte diversificada do currículo) oferecidos
pelos sistemas de ensino. Portanto, o planejamento so-
bre o uso específico desses seis volumes da área de Ciên-
cias Humanas e Sociais Aplicadas deve ser realizado sob
a perspectiva dos objetivos gerais previstos pelo Novo
Ensino Médio que são: protagonismo juvenil, educação
integral do estudante, abordagem interdisciplinar, de-
senvolvimento de projetos de vida, respeito aos direitos
humanos, sustentabilidade ambiental, pesquisa como
prática pedagógica, contextualização do processo de
ensino e aprendizagem e indissociabilidade entre edu-
cação e prática social e da teoria e prática. Vale ressaltar
que essas prerrogativas não desfazem nem concorrem
com os objetivos gerais previstos para o Ensino Médio
na Lei de Diretrizes e Bases (LDB), que sinteticamente
preconizam a consolidação das aprendizagens realiza-
das no Ensino Fundamental, preparação básica para o
mundo do trabalho, a cidadania e a continuidade dos
estudos, compreendendo a formação amparada em
princípios éticos, autonomia intelectual, criticidade, pen-
samento cientificamente embasado, entre outros.
Por fim, considerando os estudos sobre o desem-
penho e a evasão escolar dos estudantes do Ensino
Médio, chama a atenção a grande prevalência de
retenções e o abandono no primeiro ano desse seg-
mento. Trata-se de um dado bastante relevante e que
deve ser considerado no planejamento do programa
e na definição das expectativas de aprendizagem para
o ano inicial. Essas aprendizagens devem ser mais sig-
nificativas para os estudantes e claramente articuladas
com seus projetos de vida, com mecanismos de acom-
panhamento regular e particular de cada um deles na
perspectiva de diagnosticar suas dificuldades e ofere-
cer-lhes apoio para superá-las. Ou seja, construir uma
escola que acolha as necessidades, os interesses e as
dificuldades dos estudantes contribui para a redução
da evasão escolar.
Base Nacional Comum Curricular
A BNCC é o documento que apresenta a funda-
mentação teórica, e a parte geral do currículo, em seu
aspecto programático e assim previsto na LDB, estabe-
lece o que os sistemas de ensino e as unidades escola-
res devem ofertar aos estudantes da Educação Básica.
Trata-se da definição dos direitos e objetivos de apren-
dizagem que todo estudante matriculado na Educação
Básica deve obrigatoriamente desenvolver, seja no sis-
tema público, seja no privado.
Na BNCC estão previstas dez competências gerais
que devem ser as grandes diretrizes para o estabeleci-
mento dos currículos municipais e estaduais e dos pro-
jetos pedagógicos de cada unidade escolar e nortear
os planos de aula e sequências didáticas elaborados e
executados pelos professores. Além delas, também fo-
ram estipuladas competências e habilidades específicas
para cada área do conhecimento, agregando compo-
nentes curriculares que compartilham categorias, con-
ceitos estruturantes, processos e procedimentos, como
é o caso da área de Ciências Humanas e Sociais Apli-
cadas que, no Ensino Médio, compreende Filosofia,
Geografia, História e Sociologia.
A elaboração da BNCC cumpre a determinação da-
da pela Constituição Federal de 1988 de estabelecer
conteúdos básicos mínimos para o Ensino Fundamen-
tal com o objetivo de assegurar uma formação básica
comum aos educandos. Foi estendida ao Ensino Mé-
dio pela Lei de Diretrizes de Bases (LDB 9 394) de 1996,
ORIENTAÇÕES GERAIS | 165
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 165V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 165 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
que atribuiu à União a responsabilidade por estabele-
cer as competências e as diretrizes estruturantes dos
currículos e seus conteúdos mínimos de todas as eta-
pas da Educação Básica, assegurando, assim, a forma-
ção mínima e comum a todo estudante matriculado
nas escolas do país. Especificamente ao que se refere
ao Ensino Médio, a BNCC foi homologada em dezem-
bro de 2018, cerca de um mês após o Conselho Nacio-
nal de Educação atualizar as Diretrizes Nacionais para
o Ensino Médio (Parecer CNE/CEB n. 3, de 8 de novem-
bro de 2018, homologado pela Portaria MEC n. 1 210,
de 20 de novembro de 2018, publicada no DOU de 21
de novembro de 2018), dando, assim, seguimento à
consolidação da BNCC, que já havia tido a homologa-
ção do Ensino Infantil e do Ensino Fundamental em
2017, complementando toda a documentação refe-
rente à Educação Básica.
Diferentemente das etapas anteriores, a Base Cur-
ricular prevista para o Ensino Médio é mais flexível,
permitindo diversos arranjos de organização da traje-
tória dos estudantes, com possibilidade de planejar
uma formação que atenda às necessidades e possibili-
dades de cada unidade escolar, do corpo discente e da
comunidade. Ou seja, o currículo efetivamente desen-
volvido por cada estudante do Ensino Médio no Brasil
ou numa mesma escola é bastante singular, porém, ao
final do segmento, é esperado que todos tenham de-
senvolvido um conjunto mínimo e comum de com-
petências e habilidades (aquilo que está compreendido
nas 1 800 horas das 3 mil previstas).
Como dissemos, além das dez competências ge-
rais previstas para a Educação Básica, foram definidas
competências específicas para cada uma das quatro
áreas do conhecimento que estruturam o Ensino Mé-
dio. Para essas áreas, também diferente do que foi
prescrito para o Ensino Fundamental, foram definidas
habilidades comuns às áreas, e não às disciplinas ou
aos componentes curriculares, desvinculadas dos anos
escolares. Ou seja, as habilidades podem ser desen-
volvidas em qualquer ano do Ensino Médio, ou mes-
mo estarem presentes em mais de um ou em todos
os anos dessa etapa escolar.
Especificamente para a área de Ciências Humanas
e Sociais Aplicadas foram estabelecidas seis compe-
tências específicas e um conjunto de habilidades
vinculado a cada uma delas, perfazendo o total de 32
habilidades.
Mais adiante, no trecho específico do Manual do
Professor elaborado para orientar o trabalho em sala
de aula, está indicado para cada capítulo de que forma
as competências gerais, específicas e habilidades estão
articuladas no desenvolvimento dos conteúdos, temas
e atividades propostas. Já no Livro do Estudante, em
todos os volumes, há uma seção intitulada Caderno da
BNCC na qual a Base é apresentada em linguagem sim-
ples, com explicação do que são as competências ge-
rais, as específicas e as habilidades. Com isso, espera-se
que cada estudante reconheça as aprendizagens que
deve desenvolver, assim como o que é esperado dele.
Portanto, faz-se necessário explicar os princípios gerais
que nortearam o currículo do Ensino Médio, bem co-
mo da área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
e cada volume da coleção para que o estudante com-
preenda o sentido do seu processo de aprendizagem,
da sua condição de protagonista, e nele se engaje de
forma ativa, consciente, reflexiva e metacognitiva.
Um currículo estruturado para o desenvolvimento
de competências e habilidades considera os conteúdos
tradicionais das diversas disciplinas um meio para apren-
dizagens mais amplas e favorece a autonomia intelectual
do educando, a construção de saberes interdisciplinares
que possibilitam ao sujeito mobilizar conhecimentos e
histórias de vida para interpretar variados fatos e situa-
ções, bem como agir de acordo com a diversidade de
contextos. Isso significa que o conjunto de conhecimen-
tos historicamente construídos e acumulados social-
mente passa a ser ressignificado no currículo escolar de
forma interdisciplinar, já que foi por causa dele que se
tornou possível desenvolver competências e habilidades
cientificamente embasadas e socialmente valorizadas.
O ensino por competências e habilidades privilegia e re-
força também a fruição intelectual, a apreciação estética
e o exercício do autoconhecimento. Aprender compe-
tências e habilidades significa reconhecer a relevância
dos variados conteúdos, sejam eles factuais, conceituais,
procedimentais, sejam atitudinais, para os variados sa-
beres necessários à vida social.
Nesta coleção, os conteúdos, desenvolvidos por
meio de textos autorais e de terceiros de variados gê-
neros, como imagens, gráficos, mapas, tabelas, mapas
166
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 166V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 166 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
conceituais e atividades diversas, propostas estrategi-
camente para serem desenvolvidas em diferentes mo-
mentos das sequências didáticas, foram selecionados
e organizados observando a centralidade das compe-
tências e habilidades prescritas pela BNCC. Para além
de sua identificação em cada volume e capítulo, isso
se explicita pela diversidade temática de cada volume
e também pela constante convocação do estudante
para mobilizar conhecimentos prévios, problematizar
saberes construídos, assim como o senso comum, acio-
nar suas experiências de vida, pesquisar, interpretar tex-
tos e discursos, dialogar e debater com os colegas, com
a comunidade e também com esferas sociais mais am-
plas. Ou seja, os conteúdos de ensino de Ciências Hu-
manas e Sociais Aplicadas mobilizam o estudante, de
forma procedimental e intelectual, para que ele com-
preenda o passado e o presente, além de perceber a si
mesmo como um participante ativo na construção do
futuro, tanto do seu próprio quanto do da sociedade
à qual pertence.
Por isso, uma mesma competência geral, específica
e habilidade pode estar presente em momentos dife-
rentes em um mesmo volume e, também, em volumes
diferentes, apesar da centralidade de algumas delas em
volumes específicos, em virtude dos recortes temáti-
cos propostos para cada um deles. Essa abordagem
também pode ser aplicada a alguns conteúdos, que
são reapresentados em contextos distintos. Tudo isso
confere aspecto circular e dinâmico à coleção, o que é
consonante ao ensino e à aprendizagem por meio de
habilidades e competências e adequado às definições
dispostas para a etapa do Ensino Médio da BNCC.
Educação integral
O Ensino Médio, para grande parte dos estudantes,
significa tanto para si próprio quanto para a sociedade,
já que representa a fase de abandono da infância e en-
trada na juventude, momento marcado de forma bio-
lógica e cultural nas sociedades modernas ocidentais.
É uma etapa de conquista de maior autonomia e res-
ponsabilidade, de ampliação de referenciais compor-
tamentais e da reafirmação ou de adequação de valo-
res. Agora, a família tende a perder espaço como
referencial moral e ideológico, que passará a ser
associado ou confrontado pelos valores e ideias dos
grupos aos quais o jovem pertence ou gostaria de per-
tencer, sejam eles apreendidos ou não no espaço esco-
lar. À maturidade biológica associa-se o desenvolvi-
mento intelectual, que proporciona aos jovens maior
capacidade de pensamento abstrato e, portanto, cons-
truções intelectuais mais complexas.
Considerando a trajetória de estímulos e aprendi-
zagens intencionais aos quais esse estudante foi sub-
metido ao longo do Ensino Fundamental, ele chega a
essa nova etapa da Educação Básica com um repertó-
rio significativo de saberes construídos na escola e fora
dela. Entretanto, os estudantes não são constituídos
apenas pelas dimensões física e intelectual. Sua totali-
dade também compreende as dimensões psíquica e
cultural, fundamentais para a construção de habilida-
des socioemocionais.
Nesse aspecto, é essencial que a escola seja vista
pelo estudante como um espaço acolhedor e de diá-
logo, onde ele encontra adultos dispostos a ouvi-lo e
a orientá-lo. Professores, coordenadores e diretores
atentos à saúde mental dos jovens, que observam
com interesse suas mudanças de comportamento e
avaliam se elas podem ser sintomas de alguma difi-
culdade ou problema emocional que o estudante es-
teja vivendo e que precise de atenção e cuidado. Es-
tudantes totalmente desinteressados, que não se
vinculam a nenhum projeto e não têm expectativas
e desejos, que apresentam mudanças bruscas de com-
portamento, ou ainda que passam a se esconder em
roupas largas e que cobrem todo o corpo mesmo em
dias quentes merecem um olhar mais cuidadoso dos
profissionais da escola.
Por sua vez, o professor, pelo convívio frequente
com o estudante, é o sujeito privilegiado para pri-
meiro identificar essas e outras alterações de com-
portamento. Assim como é o professor o responsá-
vel por construir um ambiente de convívio
democrático, seguro e inclusivo na sala de aula, não
apenas reagindo a qualquer prática de perseguição
ou intolerância, mas construindo intencionalmente
um ambiente e um discurso que valorize a diferen-
ça, inibindo práticas identificadas como bullying,
por exemplo, muitas vezes disfarçadas de brincadei-
ras e piadas.
ORIENTAÇÕES GERAIS | 167
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 167V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 167 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
Portanto, a concomitância das mudanças biológicas,
cognitivas e emocionais dos jovens com os novos desa-
fios de formação propostos pelo Ensino Médio é um mo-
mento vivido por eles de distintas formas, em razão de
seus contextos individuais, familiares, territoriais e socioe-
conômicos. Assim, as escolas e os currículos, vistos como
os caminhos de formação que os estudantes vão percor-
rer, devem ser pensados para atender singularidades e
A campanha “Acabar com o bullying #édaminhaconta”,
promovida pela SaferNet e pelo Unicef foi lançada no Dia
Nacional de Combate ao Bullying, 7 de abril de 2019.
Sites
• Camila Tuchlinski. Unicef e SaferNet lançam, com apoio do Facebook e Instagram, campanha contra bullying. O Estado de S. Paulo, 5 abr. 2019. Disponível em: https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,unicef-e-safernet-lancam-com-apoio-do-facebook-e-instagram-campanha-contra-bullying,70002780337. Acesso em: 21 ago. 2020.
Nessa notícia são apresentados alguns dados sobre
bullying e as iniciativas do Unicef e da Safernet, em
conjunto com as redes sociais, para evitá-lo.
• Hegle Zalewska. Bullying vai muito além dos autores e das vítimas. Revista Nova Escola. Disponível em: https://novaescola.org.br/conteudo/12454/bullying-vai-muito-alem- dos-autores-e-das-vitimas. Acesso em: 21 ago. 2020.
Nessa matéria são comentadas as dificuldades de
aplicação das leis contra a intimidação sistemática
e de instaurar a cultura de paz nas escolas.
SUGESTÕES DE LEITURAS, VÍDEOS E SITES
Reprodução/Unicef
pluralidades, de forma simultânea, sob uma perspectiva
relacional.
Os referenciais legais para a definição da organi-
zação, do funcionamento e dos objetivos dos currí-
culos da Educação Básica foram elaborados em con-
sonância com essa visão integral do estudante. Essa
concepção é expressa nos textos legais quando nor-
matizam a promoção da educação integral, que con-
ceitualmente orienta a escola a organizar objetivos e
processos de ensino e aprendizagem para desenvol-
ver, de forma indissociável, as dimensões intelectual,
física, social, cultural e emocional dos estudantes.
Também se manifesta na flexibilidade para organizar
tempos e espaços de ensino-aprendizagem com a fi-
nalidade de acolher as necessidades dos estudantes
e da comunidade e, dessa forma, dialogando com to-
dos os integrantes da sociedade local para a constru-
ção da escola. As parcerias com outras instituições da
comunidade também ampliam as possibilidades de
formação dos jovens e favorecem o atendimento a
diferentes perfis de estudantes, assim como a defini-
ção e a construção de projetos de vida relevantes e
significativos, como também implicam a responsabi-
lização de diferentes entidades para a educação e for-
mação dos estudantes, o que corrobora para educa-
ção integral.
Assim como a educação integral, outro importan-
te referencial para planejar as aprendizagens dos estu-
dantes do Ensino Médio é o conceito de protagonis-
mo juvenil que, além de colocá-los em uma posição
central em relação ao que ocorre no ambiente escolar,
os convoca a construir a escola e assumir responsabi-
lidades ao fazer escolhas que vão apresentar resultados
concretos na trajetória de sua formação, que também
se evidencia na oferta e seleção de distintos itinerários
formativos.
Nos momentos de aprendizagem proporcionados
pelas áreas do conhecimento, no tempo escolar defi-
nido como a parte curricular comum, o protagonismo
do estudante pode ser trabalhado no acolhimento de
suas experiências, interesses e desejos e na proposição
de situações didáticas nas quais ele é convidado a par-
ticipar ativamente. Além dos momentos de resposta
aos estímulos do professor, o estudante deve ter espa-
ço de proposição. Essa centralidade nos estudantes
168
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 168V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 168 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
implica compreendê-lo como elo principal do binômio
ensino-aprendizagem.
Cabe à área de Ciências Humanas e Sociais Aplica-
das especificamente apresentar o conhecimento acu-
mulado e valorizado histórica e socialmente dentro
dos distintos campos do saber que a compõem por
meio dos conteúdos e procedimentos específicos que
favorecem a compreensão do ser humano em sua di-
mensão individual e coletiva, ou seja, na relação con-
sigo mesmo, com o outro e com a natureza. Para isso,
em consonância com as experiências, saberes, interes-
ses e desejos dos estudantes, são criadas situações pro-
blematizadoras para que eles reflitam, elaborem hipó-
teses, pesquisem, dialoguem, analisem e construam
sínteses que lhes ampliem a autonomia e a capacidade
de crítica para avaliar o mundo e a si mesmos para fa-
zer escolhas e agir de acordo com princípios alinhados
à construção de sociedades justas, plurais e sustentá-
veis ambientalmente. Tais situações problematizadoras
são propostas e possibilitadas no Livro do Estudante,
mas sua efetivação em sala de aula apenas ocorre me-
diante a ação do professor, pois é ele que conhece a
realidade dos estudantes e pode promover a contex-
tualização do ensino.
Os saberes construídos e acumulados pelas Ciências
Humanas possibilitam que os estudantes interpretem
sua comunidade, sua origem e analisem o passado e o
presente com a perspectiva de projeção do futuro, tan-
to o próprio quanto o de sua comunidade e, no limite,
do país e do mundo. Entender os mecanismos de aces-
so e perpetuação do poder, as formas de exclusão social,
a criação artificial de constantes necessidades e sua re-
lação com consumismo e os problemas socioambien-
tais, as transformações no mundo do trabalho e os de-
safios inerentes ao avanço das ciências e da tecnologia
é essencial para qualquer indivíduo formar opiniões e
tomar decisões cientificamente amparadas. No Ensino
Médio, o entendimento desses aspectos pelos estudan-
tes é fundamental para que eles construam projetos de
vida com potencial de realização.
� Culturas juvenis
Sabemos que a origem dos jovens que frequentam
a escola pública é bastante variada em relação ao as-
pecto étnico, socioeconômico e cultural. Nossa
juventude é diversa, por isso, é mais apropriado cha-
má-la de juventudes, e suas diferenças são marcadas
por desigualdades.
Ainda que o Ensino Médio seja oferecido, majorita-
riamente, aos jovens de 15 a 17 anos, a juventude não
se reduz a essa faixa etária, e também não se restringe
à adolescência. O que chamamos de juventude, na rea-
lidade, é uma construção social e histórica. Afinal, ser
jovem no Brasil atual, por exemplo, difere do que se po-
deria definir como jovem em outras épocas e lugares.
Por isso, é preciso reconhecer que o conceito de juven-
tude pode ganhar diferentes contornos conforme o
contexto geográfico, histórico, social e cultural. Existem
diferenças territoriais, de etnia e cor/raça, de gênero, de
condição social e econômica. Portanto, há diferentes
modos de vivenciar a juventude. Mas podemos dizer
que os jovens são sujeitos potencialmente em forma-
ção em busca de direitos, sonhos e realizações.
É preciso considerar que as juventudes que hoje
chegam ao Ensino Médio são, na maioria, provenientes
das camadas populares: são também jovens trabalha-
dores que buscam conciliar trabalho e educação, as-
sumem múltiplas responsabilidades e possuem traje-
tórias diversas.
Trata-se de identificar ainda a existência de uma am-
pla variedade de culturas juvenis que reflete a diversida-
de socioeconômica e as especificidades regionais e locais
do país. No entanto, é possível reconhecer que a expan-
são da vida urbana e o crescimento da indústria cultural
e da sociedade da informação têm produzido formas
relativamente generalizadas de cultura juvenil, como as
chamadas “culturas urbanas”: o hip-hop, os bailes funk,
as raves eletrônicas, os grafites e as pichações, as orga-
nizações em coletivos juvenis, os encontros das diferen-
tes “tribos urbanas” em pontos específicos da cidade,
entre outras.
Essas culturas juvenis são profundamente dinâmi-
cas e voláteis, mobilizam múltiplas forças, integram-se
e interagem com a realidade local e, simultaneamente,
em redes virtuais de alcance global. Surgem novas ten-
dências, estilos, expressões, que marcam indelevelmen-
te o corpo dos jovens: suas roupas, seu cabelo, sua pe-
le – ressignificada com adereços, piercings e tatuagens.
Essas culturas mobilizam valores de contestação e for-
mas de resistência ao que se entende por “vida adulta”
ORIENTAÇÕES GERAIS | 169
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 169V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 169 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
(regrada pela tradição e pelo conformismo); também
produzem sua própria linguagem, seu vocabulário, em
geral, elaborado em oposição ao que se considera a
linguagem “adulta”, por meio de abreviações, gírias, e
palavras em inglês que são ressignificadas.
importante no momento de tomar decisões. A per-
manência de uma cultura escolar conservadora e cen-
tralizada nas decisões administrativas impede o exer-
cício da cidadania e da participação política desses
jovens, desmobilizando a energia criativa e o desejo
de colaboração que possuem e que alimentam diver-
sas práticas culturais juvenis.
Por isso, a escola de Ensino Médio precisa repensar
suas práticas e seus modos de funcionamento se quiser
integrar efetivamente a juventude a um processo de
formação educacional significativo. As novas diretrizes
curriculares têm apontado sistematicamente a impor-
tância de construir os currículos escolares do Ensino
Médio em torno das questões do trabalho, da conti-
nuidade dos estudos, da cultura e da ciência e tecno-
logia, como eixos articuladores dos conteúdos especí-
ficos de cada área. Também orientam a necessidade de
levar em conta as experiências e os valores que os jovens
trazem para o ambiente escolar, como resultado não
apenas da vida cotidiana, mas também da própria cons-
trução da identidade, em fase de amadurecimento. Seus
anseios, seus desejos, suas potencialidades, suas frustra-
ções, seus saberes e suas perspectivas precisam ser re-
conhecidos e debatidos pelo currículo escolar.
Integração e interdisciplinaridade
A BNCC reforçou a organização dos tradicionais
componentes curriculares sob os quais o ensino esco-
lar se apoia, também denominados “disciplinas” ou
“matérias”, em áreas do conhecimento, como as últi-
mas legislações, diretrizes, normas e parâmetros edu-
cacionais nacionais vêm indicando desde o final do
século XX. Assim, especificamente para a área de Ciên-
cias Humanas e Sociais Aplicadas, às disciplinas de Geo-
grafia e História, previstas no programa do ensino fun-
damental, são acrescidas as disciplinas de Filosofia e
Sociologia no programa do Ensino Médio.
Nessa etapa final da Educação Básica, essa pers-
pectiva de integração disciplinar se mostra mais in-
tensa ao optar por estabelecer objetivos de aprendi-
zagem específicos pautados em habilidades por área
e não por disciplinas, como na etapa anterior, o Ensino
Fundamental. Outra diferença marcante entre as duas
Nesse amálgama de experiências diversas e con-
traditórias, em que o efêmero e a vivência do tempo
presente se misturam com as projeções de um futu-
ro incerto, forja-se um caldo de cultura que, quase
sempre, a educação formal ignora, deslegitima e ten-
ta desconstruir.
Nesse sentido, é preciso fazer uma reflexão profun-
da sobre o papel que a própria escola de Ensino Médio
tem assumido. Que escola é essa? Que experiências,
saberes, vivências de ensino e aprendizagem ela pro-
porciona aos estudantes? Qual currículo é oferecido e
realizado na escola? Quais são as referências, conceitos
e valores que organizam os saberes curriculares nela
praticados? Essas indagações abrem caminho para uma
série de ponderações sobre as práticas escolares e a
formulação de seus conteúdos curriculares.
Geralmente, aponta-se que as escolas estão distan-
tes dos jovens, reforçando representações sociais pau-
tadas em preconceitos e estigmas que circulam pela
sociedade e são veiculados pela mídia, segundo os
quais a juventude é vista como um período proble-
mático da vida, e o jovem um “problema” em si. Algu-
mas escolas não consideram o jovem parte da solução
das questões que ele levanta, nem interlocutor
O slam é uma manifestação pela qual os jovens podem se expressar politicamente e assumir seu protagonismo na sociedade. Slam das Minas, para mulheres da periferia, realizado em 2020, no Rio de Janeiro (RJ).
Lucia
na W
hit
aker/
Pu
lsar
Imag
en
s
170
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 170V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 170 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
etapas da Educação Básica é a não seriação na defini-
ção, hierarquização e alocação das habilidades. Ou
seja, enquanto no Ensino Fundamental as habilidades
são definidas por disciplina e estão compreendidas
em dois conjuntos, também hierarquizados, os “obje-
tos de conhecimento” que pertencem a uma “unida-
de temática”, claramente estabelecida para cada ano
escolar, no Ensino Médio foram estabelecidas apenas
as competências específicas da área e um conjunto de
habilidades a elas associadas, sem nenhum tipo de
hierarquização ou proposta temporal, compreenden-
do os conceitos e conteúdos centrais das quatro dis-
ciplinas que as constituem.
Portanto, é no Ensino Médio que o caráter flexível
proposto pela BNCC tem maior potencial. Nas obras
didáticas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, es-
sa flexibilidade se materializa na oferta de seis volumes,
que não são interdependentes nem sequenciais, o que
possibilita aos professores da área a personalização de
um planejamento de uso que melhor atenda ao pro-
jeto pedagógico de cada escola.
Além disso, essas particularidades do Ensino Médio
consubstanciam-se na proposição de um processo de
ensino-aprendizagem que efetive, de forma aprofun-
dada, a integração e a interdisciplinaridade entre os
campos do conhecimento.
Já temos acumulado um vasto conjunto de pes-
quisas, publicações e práticas que comprovam a ne-
cessidade e as vantagens do rompimento das frontei-
ras disciplinares que caracterizam a organização da
ciência na modernidade para a explicação de concei-
tos complexos.
Livro
• SANTOME, Jurjo Torres. Globalizacao e interdisciplinaridade: o currículo integrado. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.
Santomé analisa as bases da organização e da prática
curricular por disciplinas para propor como
alternativa um currículo integrado, ancorado na
globalização do conhecimento e na
interdisciplinaridade.
SUGESTÕES DE LEITURAS, VÍDEOS E SITES
Na esfera acadêmica, a proposta de romper as fron-
teiras disciplinares ganhou força em meados do sécu-
lo XX. Foi o caso, por exemplo, da agremiação de inte-
lectuais de diferentes campos do conhecimento na
Escola de Frankfurt, que colaboraram com diferentes
perspectivas de forma concomitante sobre determi-
nados temas. Internacionalmente, a proposta ganha
relevância em 1961, quando o filósofo francês Georges
Gusdorf (1912-2000) apresenta um projeto à Organi-
zação das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura (Unesco) cujo objetivo era reunir especialis-
tas de diferentes campos das Ciências Humanas para
integrarem um grupo de pesquisa que fosse capaz de
avançar no estudo e na interpretação de fenômenos
mais complexos e, até então, não explicados, de forma
isolada, pelas disciplinas.
Em 1971, em um seminário organizado pela Organi-
zação para a Cooperação e o Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE), foi publicado um importante estudo que,
pela primeira vez, conceituou o termo interdisciplina-
ridade e, desde então, muitos pesquisadores passaram
a se debruçar sobre ele, incluindo nomes importantes
no campo do Ensino e da Educação, como Jean Piaget
(1896-1980) e Edgar Morin (1921-). Foram feitas tenta-
tivas de distinção e hierarquização entre termos, como
multidisciplinaridade, pluridisciplinaridade, interdiscipli-
naridade e transdisciplinaridade, além de averiguarem a
importância da disciplina para a construção de campos
mais complexos, numa relação dialética entre a parte e
o todo. Para Jean Piaget (1979), por exemplo, a interdis-
ciplinaridade seria o segundo nível de associação entre
disciplinas, em que a cooperação entre elas levaria a re-
visões de métodos e objetos, intercâmbios com favore-
cimento mútuos, porém seriam mantidas as fronteiras
entre elas, o que não seria o caso na transdisciplinarida-
de, um estágio posterior de integração.
Livro
• ZABALA, Antonio; SANTOS, Akiko (org.). Educacao na era do conhecimento em rede e transdisciplinaridade. Campinas: Alínea, 2005.
Essa coletânea de textos realiza uma revisão crítica
das teorias pedagógicas e uma tentativa de
agrupamento das principais correntes pedagógicas
contemporâneas.
SUGESTÕES DE LEITURAS, VÍDEOS E SITES
O parágrafo 2o do artigo 11 das novas Diretrizes Cur-
riculares Nacionais para o Ensino Médio (BRASIL, 2018)
define que: “O currículo por área de conhecimento de-
ver ser organizado e planejado dentro das áreas de
ORIENTAÇÕES GERAIS | 171
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 171V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 171 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
forma interdisciplinar e transdisciplinar.”. Essa mudança
de paradigma na organização curricular, materializada
também na BNCC, implica cada vez mais um trabalho
conjunto e cooperativo dos professores, como fica ex-
plícito no parágrafo 1o do artigo 11:
A organização por áreas do conhecimento
implica o fortalecimento das relações entre os
saberes e a sua contextualização para apreen-
são e intervenção na realidade, requerendo pla-
nejamento e execução conjugados e coopera-
tivos dos seus professores.
(BRASIL, 2018)
No Brasil, um dos primeiros intelectuais a se enga-
jarem nesse debate e dar sua contribuição com a pu-
blicação de estudos e reflexões sobre o tema foi o filó-
sofo Hilton Japiassú (1934-2015), inicialmente com o
livro Interdisciplinaridade e patologia do saber, publica-
do originalmente em 1976. Também tem singular re-
levância, sobretudo considerando sua contribuição pa-
ra o aporte teórico e conceitual nas recentes reformas
da Educação Básica brasileira, a pedagoga Ivani Fazen-
da (1941-), com destaque inicial para a publicação de
seu livro Integração e interdisciplinaridade no ensino bra-
sileiro: efetividade ou ideologia, em 1979, que, desde en-
tão, vem se dedicando à investigação das propostas
curriculares nacionais e práticas docentes.
Na Educação Básica, esse debate está a serviço da
proposição de conteúdos e procedimentos socialmen-
te relevantes para o mundo atual e para os estudantes
e, também, é importante pelo seu impacto para a pro-
moção da aprendizagem, fazendo par com outros im-
portantes conceitos para a Educação nessa mesma
perspectiva teórica: a contextualização do ensino e a
aprendizagem significativa. Além disso, a abordagem
interdisciplinar exige a discussão coletiva do planeja-
mento, ou seja, ela ocorre primeiramente entre os pro-
fessores da área, e não é depositada apenas como es-
perança de realização pelos estudantes, em suas
capacidades de relacionar e sintetizar o que aprendem
nas diferentes aulas.
As possibilidades de abordagens integradas e inter-
disciplinares na escola são bastante amplas. Na BNCC
do Ensino Médio, ela ocorre sobretudo pela definição
de competências gerais, específicas e habilidades, bem
como pelo estabelecimento do currículo organizado
em áreas. Nesta coleção, a seleção de temas em cada
volume, unidade e capítulo compartilha dessa perspec-
tiva e favorece o desenvolvimento de sequências didá-
ticas que articulam as diferentes disciplinas da área, mas
sem a pretensão de que ocorra de forma equânime.
Essa perspectiva é mais ampla e inclui as demais
formas de promoção da interdisciplinaridade, como a
articulação por meio de temas, procedimentos, práti-
cas, linguagem, gêneros textuais e, também, por meio
de operações cognitivas, todas elas compreendidas
nesta coleção.
O alinhamento temático pode decorrer pela mo-
bilização das especificidades de cada disciplina no es-
tudo de alguma situação-problema identificada na rea-
lidade local, ou da eleição de determinado fato ou
fenômeno, por exemplo. A articulação por procedi-
mentos decorre da seleção intencional e coerente pa-
ra a realização de aprendizagens de pesquisa, apresen-
tações, seminários, debates, técnicas de campo e
laboratório, estudos do meio, entre outros. A interdis-
ciplinaridade também ocorre na mobilização de dife-
rentes linguagens, seja na sua aprendizagem, seja como
recurso didático, por exemplo cinema, dramatização,
música, dança, fotografia, cartografia, entre outras. A
leitura e criação de diferentes gêneros textuais, classi-
camente objetos de ensino de Língua Portuguesa, co-
labora para o desenvolvimento da proficiência leitora
e escritora do estudante e para a compreensão dos te-
mas e conceitos da área de Ciências Humanas. Sobre
as operações cognitivas, vamos discorrer mais adiante
em razão de sua maior complexidade.
Entretanto, apesar dessa concepção de interdisci-
plinaridade e sua consequente materialização na cole-
ção didática promover a articulação interna das disci-
plinas da área de Ciências Humanas e também destas
com as demais áreas nas quais as disciplinas escolares
se organizam, em cada capítulo há uma seção, intitu-
lada Conexões, na qual ao menos outro campo do co-
nhecimento é mobilizado na articulação temática com
o conteúdo trabalhado. Para além da seção Conexões,
essa integração é favorecida nos textos e nas propostas
de atividades que tratam de temas sobre a juventude,
por exemplo, as dimensões biológicas implicadas nas
transformações do corpo humano e na definição das
172
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 172V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 172 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
faixas etárias, o entendimento de questões sanitárias,
a disseminação de doenças, a educação e as transfor-
mações socioespaciais ao longo do tempo, os proble-
mas socioambientais urbanos e agrários decorrentes
de associações químicas, ecossistêmicas ou de fenô-
menos físicos, entre outros conteúdos.
Mas, sem dúvida, a completude da abordagem in-
terdisciplinar se dá, de fato, apenas pelo trabalho dos
professores, na adoção de uma atitude interdisciplinar.
A opção por uma organização curricular a partir de
uma concepção de conhecimento interdisciplinar fa-
vorece a construção de relações significativas entre o
conhecimento escolar e a realidade vivida, assim como
a superação de uma abordagem curricular em que as
relações entre as disciplinas e os conteúdos de cada uma
delas sejam burocraticamente preestabelecidas. As
abordagens interdisciplinares de conteúdos escolares
permitem romper com as barreiras curriculares e as for-
mas fragmentadas de organização do trabalho escolar.
Juares Thiesen afirma que a interdisciplinaridade,
[...] compreendida como formulação teorica
e assumida enquanto atitude, tem a potencia-
lidade de auxiliar os educadores e as escolas
na ressignificação do trabalho pedagogico em
termos de curriculo, de metodos, de conteudos,
de avaliação e nas formas de organização dos
ambientes para a aprendizagem.
(THIESEN, 2008, p. 553)
Uma abordagem interdisciplinar instaura uma no-
va relação entre as disciplinas que compõem o currí-
culo e a realidade. Os conteúdos serão selecionados e
desenvolvidos numa concepção em que se pressupõe
que as áreas de conhecimento devam interagir para o
conhecimento da realidade e em que o currículo se
construa em diálogo com a realidade próxima e com
as demandas dos estudantes.
Mas será que essa mudança de postura ante o co-
nhecimento escolar exige também uma completa
ruptura na organização curricular? Seria preciso, por
exemplo, romper com um currículo baseado em dis-
ciplinas escolares? O obstáculo para as práticas inter-
disciplinares está relacionado à existência de discipli-
nas escolares?
O que se pretende em uma abordagem interdisci-
plinar não é anular a contribuição de cada disciplina
escolar e sua ciência de referência, em detrimento de
outras, nem mesmo criar uma nova área de conheci-
mento ou uma nova disciplina. É importante destacar
que as contribuições e trocas entre as disciplinas per-
mitem a integração dos conteúdos das diferentes áreas
de conhecimento, mas não significam uma ruptura
completa do currículo disciplinar. Para existir interdis-
ciplinaridade, nos lembra Circe Bittencourt (2011,
p. 256), deve haver disciplinas que possam estabelecer
vínculos epistemológicos entre si. Todavia, é preciso ir
além das disciplinas e de uma abordagem fragmenta-
da do conhecimento, o que pode ser realizado com a
criação de uma abordagem comum em torno de um
mesmo objeto de conhecimento. A abordagem inter-
disciplinar exige do professor o domínio do seu campo
específico de conhecimento, da sua disciplina escolar,
para que ele possa empreender a abordagem dialógica
com os estudantes sobre um tema ou problema em
diálogo com outras disciplinas.
Segundo Paulo Freire (1921-1997):
A tarefa do educador dialogico e, trabalhan-
do em equipe interdisciplinar este universo te-
mático, recolhido na investigação, devolvê-lo,
como problema [...].
(FREIRE, 2005, p. 65)
Nessa perspectiva, a interdisciplinaridade consiste
em um trabalho comum, que integra diversas discipli-
nas, e se efetiva pela interação entre elas no desenvol-
vimento do estudo de um tema, problema ou objeto.
A pesquisadora Ivani Fazenda (1979-) afirma ser exa-
tamente a interação a condição básica para a interdis-
ciplinaridade. A interação, que resulta do diálogo entre
diferentes áreas de conhecimento, permite alcançar
uma visão integrada que não fragmenta o objeto de
estudo. Para ela, interdisciplinaridade:
Não e ciência, nem ciência das ciências,
mas e o ponto de encontro entre o movimento
de renovação da atitude diante dos problemas
de ensino e pesquisa e da aceleração do conhe-
cimento cientifico. Surge como critica a uma
educação por “migalhas”, como meio de romper
o encasulamento da Universidade e incorporá-
-la à vida, uma vez que a torna inovadora ao
inves de mantenedora de tradições.
(FAZENDA, 1979, p. 73)
ORIENTAÇÕES GERAIS | 173
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 173V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 173 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
Mais do que uma postura metodológica, a inter-
disciplinaridade constitui-se em uma atitude solidária
e dialógica. Para José Carlos Libâneo, praticar a inter-
disciplinaridade implica:
[…] não so eliminar as barreiras entre as
disciplinas, mas tambem as barreiras entre as
pessoas, de modo que os profissionais da esco-
la busquem alternativas para se conhecerem
mais e melhor, troquem conhecimentos e ex-
periências entre si, tenham humildade diante
da limitação do proprio saber, envolvam-se e
comprometam-se em projetos comuns, modi-
fiquem seus hábitos já estabelecidos em rela-
ção à busca do conhecimento, perguntando,
duvidando, dialogando consigo mesmos. Tra-
ta-se, portanto, de um modo de proceder inte-
lectualmente, de uma prática de trabalho cien-
tifico, profissional, de construção coletiva do
conhecimento.
(LIBÂNEO, 2007, p. 14)
Para Paulo Freire, num sentido epistemológico, co-
mo afirmam os professores César Augusto Costa
(UCPel) e Carlos Frederico Loureiro (UFRJ), a interdis-
ciplinaridade:
[...] e o processo metodologico de constru-
ção do conhecimento pelo sujeito com base em
sua relação com o contexto, com a realidade,
com sua cultura. Busca-se a expressão dessa
interdisciplinaridade pela caracterização de
dois movimentos dialeticos: a problematização
da situação, pela qual se desvela a realidade, e
a sistematização dos conhecimentos de forma
integrada.
(COSTA; LOUREIRO, 2017)
Na proposta freiriana, a interdisciplinaridade en-
volve um conjunto de procedimentos metodológicos
de construção do conhecimento. Procedimentos es-
ses que levam em consideração as relações de conhe-
cimento que o sujeito tem com seu contexto, sua
realidade, sua cultura. Isto é, procedimentos que va-
lorizam o conhecimento prévio dos sujeitos, suas ex-
periências e vivências sociais e culturais. A interdisci-
plinaridade pressupõe a relação ativa do sujeito na
construção do conhecimento a partir de seu contex-
to, sua realidade e sua cultura.
A área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e seus componentes curriculares
Como já exposto anteriormente, no Ensino Médio,
à Geografia e à História são somados conteúdos de Fi-
losofia e Sociologia na constituição da área de Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas e suas respectivas com-
petências e habilidades específicas. A BNCC definiu
para a área as seguintes categorias centrais: Tempo e
Espaço; Territórios e Fronteiras; Indivíduo, Natureza,
Sociedade, Cultura e Ética; e Política e Trabalho.
A centralidade dessas categorias favorece a inter-
disciplinaridade e retira o foco do ensino dos conteú-
dos programáticos que perfazem cada campo do co-
nhecimento. Entretanto, isso não anula as disciplinas;
são elas, afinal, que aportam para o currículo escolar
seus conceitos e procedimentos de pesquisa específi-
cos por meio dos quais as áreas se articulam.
Apesar das proximidades teóricas e metodológicas
dessas disciplinas que possibilitam reuni-las numa mes-
ma área do conhecimento, elas guardam suas particu-
laridades, como abordagens e compreensões diferentes
e até mesmo divergentes de alguns conceitos, ou a im-
portância que cada uma delas dá a um mesmo con-
ceito de ocupar posições distintas em suas hierarquias
interpretativas. Por exemplo, de forma bastante sim-
plificada, o conceito de natureza é operacionalizado
no campo das ideias em Filosofia, naquilo que singu-
lariza o homem e a humanidade; como espaço con-
creto em Geografia, que se interessa pelos seus proces-
sos e ritmos e as formas de apropriação dela pela
sociedade; nos tipos de relação simbólica que os povos,
comunidades e sociedades estabelecem com ela, de
acordo com a Sociologia; e, na perspectiva temporal,
em História, nas sequências de usos e interpretações
que os seres humanos fizeram de determinado rio, ve-
getação, paisagem natural, etc.
Entretanto, é justamente essa diversidade que pos-
sibilita a abordagem de temas e situações concretas na
escola de forma integrada e mais abrangente, favore-
cendo a construção de significados pelo estudante.
Por exemplo, a avaliação da construção de uma usi-
na hidrelétrica em meio a uma floresta, como a
174
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 174V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 174 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
Amazônica, exige a articulação de conhecimentos e
procedimentos dos diferentes componentes curricu-
lares. É realmente necessário o aumento da produção
de energia elétrica? Quais as vantagens e desvantagens
técnicas desse sistema em comparação com as outras
opções? E a comparação entre os impactos, positivos
e negativos, ao ambiente, aos povos e às comunidades
diretamente atingidos pela obra, e à economia? Que
problemas e benefícios foram observados em projetos
semelhantes executados anteriormente na mesma re-
gião e em outras localidades? Com o passar do tempo,
que mudanças não previstas se sucederam? É possível
evitar ou mitigar os impactos negativos? Quem se be-
neficia e quem se prejudica com o projeto? Não são
perguntas simples de serem respondidas. Elas exigem
a mobilização de variados conceitos e procedimentos
que extrapolam os aspectos técnicos. Envolvem tam-
bém uma visão de mundo, que compreende o arca-
bouço ético que orienta nossas ações, bem como o
entendimento de sociedade e da simetria no diálogo
entre os desejos da maioria e da minoria.
São muitas as contribuições de cada campo cur-
ricular que foram mobilizadas na elaboração desta
coleção para a seleção e abordagem de temas e con-
teúdos a fim de promover as competências e habili-
dades definidas na BNCC. Em linhas bastante gerais,
partimos dos seguintes pressupostos:
• Filosofia: trabalha-se a perspectiva da reflexão so-
bre o pensar e o fazer, além de problematizar e iden-
tificar consistências e inconsistências em discursos
e práticas; apresentar, analisar e apropriar-se de
ideias e pensamentos contextualizados no tempo
e no espaço; refletir permanentemente sobre con-
ceitos, como ética, estética, política e cidadania, que
amparam as ações dos seres humanos, individual-
mente e nos diferentes grupos sociais.
• Geografia: trabalha-se a análise da sociedade e de
sua relação com a natureza por meio da produção
e organização do espaço, além de estabelecer rela-
ções espaço-temporais na constituição dos sistemas
de objetos e de ações, tomados sempre em con-
junto e em múltiplas escalas geográficas (local, na-
cional, regional e global), que formam o espaço
geográfico, e estimular o raciocínio geográfico na
análise das questões socioespaciais.
• História: trabalha-se a abordagem das diversas tem-
poralidades e a reflexão sobre permanências, rup-
turas e mudanças que caracterizam os processos
históricos que compreendem as articulações entre
o singular e o geral, as ações dos indivíduos e da so-
ciedade em suas pluralidades. Também trabalha-se
a questão da apreensão do tempo no conjunto de
vivências humanas e a desnaturalização dos fenô-
menos sociais, para a compreensão de que as so-
ciedades resultam da dinâmica de diferentes
propósitos de variados grupos sociais, bem distan-
tes de ser algo determinado e imutável.
• Sociologia: trabalha-se a relação dialética entre o
indivíduo e a sociedade e os mecanismos para a
manutenção ou mudança da ordem social, além
de interpretar a realidade social contextualizada no
tempo e no espaço por meio do trabalho, da cul-
tura, das instituições e demais instâncias sociais na
mediação entre os sujeitos, nas suas socializações e
nas constituições de grupos sociais.
Espera-se que, com a mediação do trabalho dos
professores ancorado nesta coleção, ao final do Ensino
Médio, o estudante seja capaz de:
• identificar os processos de transformação dos gru-
pos humanos, situando-os no tempo e no espaço;
• compreender forças, tensões e contradições que mo-
bilizam as ações humanas e definem os rumos da
história, como a produção do espaço e da sociedade,
e das reflexões sobre o ser humano e a sociedade;
• construir os próprios temas de interesse para esco-
lher ferramentas de investigação com as quais am-
plie o entendimento de si e da experiência humana.
Essas finalidades dependem, no entanto, das prá-
ticas pedagógicas que instituem usos e apropriações
do material didático. Em outras palavras, é apenas por
meio do trabalho do professor que esta coleção po-
de ser apropriada, com o objetivo de ganhar vida e,
assim, poder, efetivamente, gerar aprendizagem entre
os estudantes.
� Operações cognitivas e componentes curriculares
“Ele olha, mas não enxerga. Ouve, mas não escuta.
Fala, mas não diz nada.” Essas frases do cotidiano são
ORIENTAÇÕES GERAIS | 175
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 175V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 175 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
utilizadas em muitos contextos. Todas apontam para
uma suposta deficiência. Mas, excetuando diagnósti-
cos médicos sobre comprometimento físico ou neural
de um suposto paciente, essas frases poderiam muito
bem servir a quase todos os indivíduos em diferentes
situações. Todos somos capazes de olhar para uma
obra de Picasso, uma planta de um edifício ou para um
exame radiológico, mas nem todos iremos enxergar
nesses objetos as mesmas informações nem seremos
acometidos pelos mesmos interesses e sentimento
diante deles. Para “enxergar”, é preciso observar com
interesse, ou seja, olhar com a intenção de descobrir
algo. Quanto maior for o repertório conceitual e pro-
cedimental de um sujeito, mais instrumentos e recur-
sos ele terá para mobilizar e mais possibilidades terá
também de ter diferentes perspectivas sobre determi-
nado assunto, informação, objeto ou obra de arte.
O ensino escolar serve também para aprendermos
a “enxergar”, a “escutar” e a “dizer”. Na sua completu-
de, entendamos também o que os outros observam,
interpretam e dizem nesse mundo social que integra-
mos, no presente e no passado. Os componentes cur-
riculares nos oferecem seus repertórios conceituais e
procedimentais que aumentam nossa capacidade de
pensar sobre a sociedade e a realidade que nos cerca,
e de tomar decisões. Trata-se da construção de sujei-
tos sociais autônomos que compartilham referenciais
cognitivos complexos e embasados no desenvolvi-
mento da sensibilidade e da racionalidade perante a
realidade existente.
Leitura inferencial
Os textos nunca dizem tudo, tampouco apresentam
informações iguais para todos os leitores. Certamente,
há gêneros discursivos variados e formas de produzi-los
que podem ser mais simples ou mais complexas e cabe
ao professor selecionar os mais adequados aos estudan-
tes e desenvolver as estratégias didáticas variadas, que
passam tanto pela leitura compartilhada quanto por
ensinar as características de cada gênero textual.
A interpretação do texto é um processo dialógico
com o leitor que não se limita à tradução dos sinais
gráficos e à compreensão lexical. Entender do que tra-
ta o texto depende das relações que o leitor consegue
estabelecer com seu conteúdo. Isso varia de acordo
com o conhecimento de mundo de cada leitor, de seus
conhecimentos prévios e da potencialidade de estabe-
lecer sentidos com o que é veiculado pelo texto escri-
to. Nesses aspectos, os conteúdos específicos da área
de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas têm muito a
contribuir para a ampliação do repertório do estudan-
te. Fatos históricos, fenômenos sociais e naturais, pen-
samentos e procedimentos filosóficos, raciocínio espa-
ço-temporal, compreensão de aspectos culturais, entre
outros conteúdos da área, servem de suporte ou esfe-
ras relacionais para o estabelecimento ou ampliação
do sentido daquilo que se lê, para verificação de sua
veracidade, coerência e consistência. Além disso, mui-
tas das aprendizagens em Ciências Humanas se dão
por meio dos processos de leitura e escrita, o que con-
sequentemente colabora com o desenvolvimento des-
sa competência.
Quanto mais conhecimento de mundo o leitor pos-
suir e mais habilidades de leitura tiver desenvolvido,
maior capacidade ele terá de realizar a denominada
leitura inferencial, ou seja, “ler” o que está nas entre-
linhas, o que não está graficamente escrito no papel
ou na tela, mas não significa apenas isso. As inferências
decorrentes da leitura decorrem das hipóteses que o
leitor estabelece com base em suas expectativas de lei-
tura fornecidas por diversos elementos, como títulos,
imagens, suporte, linguagem, autor, etc. Além disso, o
leitor analisa o conteúdo e os argumentos do autor
(concordando ou discordando), avalia sua coerência e
também sua qualidade estética, aprecia ou não o que
está escrito (conteúdo), compreende como foi escrito
(forma) e identifica sua pertinência quanto ao que se
propôs (objetivo, finalidade).
O desenvolvimento da competência leitora e do
seu aspecto inferencial é realizado por um conjunto
de estratégias que os professores mobilizam de acordo
com a complexidade do texto, dos conhecimentos que
os estudantes dispõem sobre o seu conteúdo, bem co-
mo de suas fluências com o gênero discursivo escolhi-
do. Em linhas gerais, essas estratégias são mobilizadas
em três momentos: antes, durante e depois da leitura.
As estratégias prévias à leitura englobam identificar
os conhecimentos prévios dos estudantes, suas expec-
tativas sobre o texto, de acordo com a autoria, marcas
textuais, publicação, local de circulação, o contexto da
176
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 176V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 176 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
publicação, etc. Durante a leitura, as estratégias englo-
bam a confirmação ou retificação das expectativas so-
bre o conteúdo, esclarecimento lexical, localização da
ideia principal e palavras ou argumentos centrais, bus-
ca de informações complementares com as quais o
texto dialoga ou se refere e construção de sentido glo-
bal do texto. Após a leitura, os estudantes constroem
sínteses semânticas do texto, elaboram registros escri-
tos sobre ele, fazem avaliação crítica e trocam impres-
sões com seus pares sobre seu conteúdo e sua forma.
Portanto, é interessante que o professor intencio-
nalmente planeje esses momentos variados de estra-
tégias de leitura ao propor um texto para a turma. Isso
se aplica ao texto-base do livro didático e, evidente-
mente, a qualquer outro texto complementar que se-
ja proposto.
Ao longo da coleção, são propostos momentos que
privilegiam o desenvolvimento dessa competência, co-
mo o boxe Interpretar, que compreende questões para
orientar a leitura de um texto, mapa, imagem, gráfico ou
tabela, e também atividades variadas presentes na seção
Diálogos que recorrem a variados gêneros discursivos.
Produção de análises críticas, criativas e propositivas
Desde o final do século XX, as pesquisas e análises
produzidas em Ciências Humanas ganharam forte viés
crítico, muito em razão da necessidade de transforma-
ção de realidades marcadas pela exclusão social, po-
breza, violência, autoritarismo e problemas socioam-
bientais, entre outros temas de interesse dessa área do
conhecimento. Isso também ficou evidenciado no en-
sino escolar, ocorrendo até, em alguns casos, protago-
nismo de alguns professores e escolas por estarem in-
seridos em contextos que exigiam transformações
sociais e ambientais mais urgentes, afinal, a realidade,
geralmente, é impositiva.
Portanto, a criticidade é uma atitude bastante pre-
sente na escola e desenvolvida nas aulas de Filosofia,
Geografia, História e Sociologia. Entretanto, não pode
ser confundida com denúncia simplista, com reducio-
nismo na abordagem de problemas complexos e apon-
tamento de soluções aparentemente fáceis. A análise
crítica é um procedimento científico, que exige a
aplicação de um método para a abordagem do pro-
blema e a operacionalização de um sistema argumen-
tativo teoricamente coerente.
A criticidade, de forma resumida, é uma postura
diante da realidade na qual se tem consciência de que
aquilo que está diante de nós sempre poderia ser dife-
rente e sua configuração resultou de um jogo de poder
no qual projetos vencedores conseguiram impor suas
vontades. Também implica avaliar quem ganha e quem
perde com esse fato, situação ou arranjo. Por fim, iden-
tificar as consequências disso e estabelecer as possíveis
relações de causa e efeito. Apenas com base no corre-
to diagnóstico é que se pode ter mais êxito em fazer
proposições para corrigir, remediar ou mitigar um pro-
blema. Mas, visto que cada realidade é singular, a cria-
tividade é exigida para a adequação da proposta de
solução a cada contexto social e ambiental.
Evidentemente, as análises críticas, criativas e pro-
positivas não são exclusivas das Ciências Humanas,
tampouco se aplicam apenas na solução de problemas
sociais ou ambientais. Trata-se de um procedimento
válido também para outros campos do conhecimento
e para a vida cotidiana: individual e coletiva. É um mé-
todo que exige ação, engajamento e protagonismo.
Portanto, seu ensino e aprendizagem decorrem da pro-
posição de situações-problema adequadas à capacida-
de dos estudantes, realizadas individualmente, em gru-
po e ainda com a mediação de alguém experiente,
como o professor.
Ao longo da coleção são propostas atividades, des-
de as mais simples, como aquelas por vezes inseridas
nos boxes Conversa, até as mais complexas, como al-
gumas propostas nas seções Diálogos e Prática, nas
quais, além da identificação do problema, é solicitada
a compreensão de sua origem (diagnóstico) e formas
para encaminhar uma solução, recorrendo não só às
aprendizagens promovidas pelos conteúdos propostos
no capítulo, como também aos saberes adquiridos na
vida cotidiana e ressignificados pelo conhecimento
científico. Privilegia-se a resolução de problemas con-
cretos e contextualizados à realidade do estudante, mas
também é exigida sua habilidade de abstração, de aná-
lise de outras realidades, outras culturas e mentalida-
des, outros tempos e outras organizações espaciais, pois
entendemos que a escola é também responsável por
ORIENTAÇÕES GERAIS | 177
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 177V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 177 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
apresentar o mundo – do presente e do passado – ao
estudante, a ajudá-lo a enxergar além do horizonte de
sua vivência cotidiana e projetar o futuro. Muitas vezes,
as experiências de outros contextos podem ser inspi-
radoras (e/ou denunciadoras) para observarmos a nos-
sa realidade de outros ângulos e encontrar novas so-
luções para problemas antigos ou, até mesmo, nos
revelar problemas que há muito estavam sedimenta-
dos, naturalizados no cotidiano e, assim, desconside-
rados quanto à sua relevância.
Argumentação oral e escrita
Argumentos são afirmações utilizadas para embasar
uma hipótese ou mesmo uma tese. São fatos mobiliza-
dos como provas, que atestam a veracidade ou validade
de uma afirmação. Trata-se da construção de um dis-
curso lógico, pautado na razão e nas relações de causa
e efeito. Se temos x e y, logo, podemos afirmar z. O gê-
nero discursivo do tipo dissertativo-argumentativo é um
ótimo exemplo de texto no qual a escolha e o desen-
volvimento dos argumentos são bastante valorizados e
importantes para apresentar e defender uma ideia. Para
isso, é preciso coerência entre as informações apresen-
tadas e que elas sejam de fontes confiáveis. A argumen-
tação se vale de citações de afirmações feitas por espe-
cialistas no tema do qual se trata (argumento de
autoridade), de dados produzidos por instituições res-
peitadas e legitimadas (argumento de comprovação) ou
de saberes consolidados, de ampla aceitação.
Argumentar é mobilizar fatos, dados, informações,
estudos, opiniões e ideias, em relação lógica para poder
fazer uma afirmação, uma consideração ou conclusão.
Além de sua compreensão formal, do conhecimento
de suas técnicas e seus procedimentos, há especificida-
des de cada suporte em que os argumentos serão arti-
culados e apresentados, compreendidos pelos textos
escritos e orais – ambos são ensinados e aprendidos.
Cada um deles coloca desafios diferentes segundo as
habilidades cognitivas e socioemocionais de cada estu-
dante. Alguns escrevem muito bem, porém isso não
significa que apresentam argumentos embasados e só-
lidos, o mesmo vale para aqueles que têm boa oratória,
e o contrário também se observa. Há estudantes que
possuem pensamentos lógico-formais bastante estabe-
lecidos, sabem reconhecer e selecionar fatos e dados
para a construção de bons argumentos, estabelecer as
relações entre eles, mas têm dificuldade para concate-
ná-los na linguagem formal do texto escrito ou ainda
se sentem intimidados com o interlocutor ou a expo-
sição à plateia quando têm que vocalizar sua argumen-
tação. Portanto, ensinar a argumentar também exige o
diagnóstico das dificuldades e dos desafios específicos
de cada estudante. A habilidade de argumentar é mui-
to valorizada e exigida nas reflexões propostas pelas di-
ferentes disciplinas que compõem a área de Ciências
Humanas. Essa capacidade é incentivada ao longo da
coleção em algumas atividades propostas nas seções
Diálogos e Prática, e bastante enfatizadas, sobretudo, no
boxe Conversa.
Pensamento computacional
O pensamento computacional é uma forma de orga-
nizar e estruturar o pensamento para a resolução de pro-
blemas de forma sequencial e lógica, herdada de constru-
ções de processos matemáticos e que foram apropriados
e amplamente aplicados em linguagens de programação
de computadores. Não se trata, como o nome pode su-
gerir, necessariamente do uso de computadores, mas sim
de aplicar um procedimento semelhante ao utilizado pe-
los programas de computadores para produzir um resul-
tado a partir da inserção ou coleta de dados e informa-
ções. No entanto, é diferente das máquinas. Apesar do
sequenciamento lógico-matemático, de causa e efeito,
também é exigida a capacidade crítica e criativa do sujei-
to na abordagem e resolução do desafio.
Na escola, trata-se de uma estratégia para identificar
problemas e propor soluções que podem ser desenvol-
vidas em todas as áreas do conhecimento. Os problemas
mais complexos podem exigir a articulação de saberes de
mais de uma área do conhecimento ao mesmo tempo.
Por isso, as competências e habilidades específicas de ca-
da área são muito relevantes para que os estudantes pos-
sam conseguir reconhecer o fato ou fenômeno, articular
informações, identificar o problema e os obstáculos que
precisam ser superados para sua resolução e pensar em
encaminhamentos lógicos e concatenados.
Basicamente, o pensamento computacional é orga-
nizado em quatro etapas, que se sucedem após o reco-
nhecimento ou a definição do problema, ou situação-
-problema:
178
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 178V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 178 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
• Decomposição: divisão do problema em partes
menores para facilitar sua resolução. Trata-se de
uma estratégia para abordar algo complexo com
o objetivo de simplificá-lo. Um problema muito
“grande” ou difícil pode inibir o engajamento em
sua solução ou, então, não deixar evidente por
onde começar a solucioná-lo. Essa etapa nada mais
é que a execução da ideia de “ir por partes”, que
tem sua origem no método cartesiano. Ao separar
o desafio em etapas, torna-se mais fácil e possível
resolvê-lo.
• Padronização: reconhecer no problema aspectos
semelhantes presentes em outras situações, de for-
ma a poder recorrer a encaminhamentos ou pro-
posições utilizadas anteriormente, já desenvolvidas
e consolidadas. Ou seja, utilizar aprendizagens an-
teriores ou recorrer às estratégias empregadas por
outras pessoas na resolução de problemas que apre-
sentam uma lógica similar. Essa padronização tam-
bém serve para o estudante ampliar seu repertório
de resolução de problemas, para “automatizar” uma
ação sem a necessidade de sempre ter de partir do
zero na resolução de novos problemas. Com o tem-
po, o estudante constrói um rol de padrões que
pode mobilizar de acordo com as necessidades
concretas que vivenciar.
• Abstração: trata-se de um processo de exclusão
do que não é essencial no problema com o obje-
tivo de focar no que é central, de modo a contri-
buir tanto para o seu entendimento de forma
mais simplificada como para reconhecer a padro-
nização mais adequada ao fato ou fenômeno em
questão.
• Algoritmo: conceito originalmente matemático,
refere-se à sistematização das etapas necessárias pa-
ra a efetiva resolução do problema, ao sequencia-
mento dos processos e encaminhamentos
adequados para obter o resultado esperado.
Assim, em Ciências Humanas, os estudantes apren-
dem a observar, interpretar, analisar e propor soluções
considerando a temporalidade e a espacialidade do fato
ou fenômeno, do lugar social do indivíduo ou grupo, da
avaliação sobre quem se beneficia e quem se prejudica
com determinada ação, com a vinculação da atitude com
uma linha de pensamento, crenças e valores, seu
contexto cultural e em qual matriz ética o problema a ser
resolvido se insere, por exemplo.
Conhecimento como ferramenta para intervir no mundo
O processo de ensino e aprendizagem está baseado
em um tripé de relações: o objeto de aprendizagem, o
estudante e a mediação do professor.
O objeto de aprendizagem é constituído pelos di-
ferentes conteúdos intencionalmente selecionados
pelos professores, distinguindo-se em conceituais, pro-
cedimentais e atitudinais, que estão em função da
cons trução de competências e habilidades. Essa sele-
ção é resultado da relação entre a tradição curricular
dos campos do conhecimento presentes no currículo
escolar, articulada às necessidades específicas do grupo
de estudantes, dadas pela realidade vivida. Pa rame-
trizadas pelos instrumentos legais e normativos sobre
o ensino, elaborados nas três esferas administrativas do
país, essas necessidades são delineadas de modo mais
amplo pelo conjunto de professores e agentes educa-
cionais da unidade escolar e estão traduzidas no pro-
jeto político-pedagógico e no plano escolar. Diante des-
ses instrumentos estruturadores, cada professor
elabora o planejamento das suas aulas, definindo ob-
jetivos gerais e específicos, conteúdos, estratégias de
ensino, recursos didáticos, situações-problema e formas
de avaliação em estreito diálogo com as práticas dos
colegas. Os professores são, portanto, os protagonistas
do planejamento de seus cursos.
Para esse encaminhamento, é fundamental que o
estudante tome seu papel ativo e central no processo
de aprendizagem e na construção do seu conhecimen-
to. Cabe ao professor propor encaminhamentos nos
quais as experiências dos estudantes sejam problema-
tizadas e relacionadas constantemente aos conteúdos,
com a perspectiva de construir um conhecimento cien-
tífico. Ou seja, aprender a recorrer aos saberes neces-
sários e úteis para explicar e responder aos problemas
e desafios contemporâneos. Nesse sentido, saberes co-
tidianos devem ser mobilizados e confrontados com
os conhecimentos cientificamente aceitos no atual mo-
mento histórico. Esse confronto entre senso comum,
ORIENTAÇÕES GERAIS | 179
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 179V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 179 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
conhecimentos prévios dos estudantes e conteúdos
estruturantes de diferentes áreas do conhecimento am-
plia a possibilidade de atribuição de significado pelos
estudantes sobre o objeto de aprendizagem. A finali-
dade do confronto desses elementos é a compreensão
e a criticidade, a elaboração de uma opinião cientifica-
mente embasada, para o estudante se posicionar, agir,
transformar a realidade, individual e coletiva, da esco-
la, da comunidade, do bairro, do país e do mundo.
Assim, as estratégias de ensino devem prever a ati-
vação dos conhecimentos prévios, recursos que o edu-
cando já dispõe para a aprendizagem de novos conteú-
dos, e dos desafios necessários para instigar o desejo de
aprendê-los. A problematização acerca de suas repre-
sentações, a interação com os demais colegas e os pro-
fessores, a aquisição de saberes pela mediação do edu-
cador, dos colegas e de outros profissionais, a
contextualização do objeto de ensino, o registro do pro-
cesso de aprendizagem, a reflexão sobre como faz para
aprender e a construção de novos saberes são estraté-
gias válidas e coerentes com a concepção de aprendi-
zagem considerada na elaboração desta coleção. Suge-
rimos, ainda, a constante sistematização e retomada dos
conteúdos por parte do professor e a construção de
sínteses pelo estudante, sempre tendo o educador co-
mo responsável por auxiliar o educando a estabelecer
as relações que há entre conceitos, fatos e fenômenos.
Nessa perspectiva, o Ensino Médio não se limita ao
seu caráter propedêutico, ou seja, organizado apenas
em razão da vida futura dos jovens, seja o ingresso no
mercado de trabalho, seja na universidade. Trata-se
também de fornecer recursos para a compreensão do
presente, das necessidades e urgências vividas pelos
estudantes em seus desenvolvimentos socioemocio-
nais e como atores sociais, vivendo as alegrias e os de-
safios de sua comunidade e do mundo, construindo e
zelando pelo sentimento de pertencimento e pelo
exercício de sua cidadania, que implica, obviamente,
direitos e deveres.
Os conceitos e procedimentos ensinados pelas di-
ferentes disciplinas de Ciências Humanas e Sociais Apli-
cadas na escola são essenciais para:
• construir os repertórios necessários à avaliação de
discursos e propostas políticas de candidatos ou
governantes;
• compreender distintos valores culturais e a valori-
zação da diferença, assim como a condenação da
desigualdade como mecanismo de manutenção de
privilégios;
• respeitar o “outro” e entender o valor da democra-
cia de forma sofisticada, na qual o diálogo é essen-
cial para a promoção da convivência entre a
maioria e a minoria;
• estabelecer relações entre modos de vida e impac-
tos socioambientais, bem como a análise de proje-
tos de desenvolvimento socioeconômico e seus
desdobramentos no mundo do trabalho e no meio
ambiente.
Enfim, o ensino escolar deve ter como um dos ei-
xos estruturantes o desenvolvimento de competên-
cias e habilidades necessárias ao exercício da cidada-
nia por pessoas que não apenas estão no mundo, mas
o constroem.
� Contextualizar os conteúdos para dar sentido à aprendizagem
Um dos grandes desafios dos professores na atual
era informacional é despertar o interesse dos estudan-
tes e incentivar o engajamento deles no estudo e na
aprendizagem. Isso pode ser feito trazendo o mundo
exterior para a sala de aula, por meio do livro didático
e das tecnologias da informação e comunicação, e le-
vando os estudantes para fora da escola por meio de
atividades extraclasse, como trabalhos de campo, o
estudo do meio, as visitas a museus e instituições, en-
tre outros. Entretanto, o interesse e o engajamento do
estudante no processo de aprendizagem têm maior
potencial quando o ensino é contextualizado e signi-
ficativo. Isso implica planejar estratégias de ensino e
aprendizagem que estabeleçam relações entre o co-
nhecimento escolar e a realidade do estudante, de mo-
do que as atividades propostas sejam contextualizadas
de forma que o jovem interaja com sua realidade e
atribua significado e sentido àquilo que está aprenden-
do, pois elas dialogam com seus conhecimentos pré-
vios e visões de mundo.
A aprendizagem significativa, concepção pedagógica
pensada pelo psicólogo e educador americano David
Ausubel (1918-2008), assim como pelo educador e
180
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 180V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 180 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
filósofo brasileiro Paulo Freire, embora usando outra ter-
minologia (no caso, educação problematizadora), é
aquela que atribui significado e sentido aos conhecimen-
tos aprendidos.
Para Paulo Freire, metodologicamente, a constru-
ção do conhecimento é realizada por meio de movi-
mentos dialéticos, aqui pensados em dois momentos
articulados. Inicialmente, a problematização (indaga-
ções que permitem tornar visível aquilo que se tornou
oculto por meio de uma naturalização que não é mais
questionada, como o caráter ofensivo de determinadas
relações sociais, as situações de pobreza, as desigual-
dades nas relações de gênero, os casos de racismo, os
diversos tipos de violência, a corrupção, etc.) e, em se-
guida, a sistematização dos conhecimentos de forma
integrada. Na problematização, é enfatizado o sujeito,
ou seja, a ação de problematizar ocorre a partir da rea-
lidade que envolve o sujeito, das indagações que ele
lança ao mundo vivido. Por sua vez, a busca de expli-
cação e solução para os problemas ou situações levan-
tadas visa transformar aquela realidade estudada pela
ação do próprio sujeito.
Nessa concepção, na operação cognitiva estão enla-
çados os sujeitos em determinados contexto, realidade
e cultura que buscam conhecimento; um objeto a ser
conhecido; um procedimento de abordagem específico
do sujeito em relação ao objeto (os sujeitos aprendem
entre si, mediados pelo mundo) e uma transformação
contínua, que ocorre tanto nos sujeitos que conhecem
quanto no objeto que é conhecido – sejam os objetos
do mundo propriamente ditos, sejam os conhecimen-
tos ou as representações construídas social e historica-
mente sobre ele. Na ação de problematizar, o sujeito
também se transforma e passa a perceber novos proble-
mas na sua realidade e, assim, sucessivamente.
A sistematização do conhecimento, por outro lado,
pode ser entendida como uma etapa de síntese, que
pode ser expressa por meio de várias formas de resga-
te, registro, organização, análise e interpretação da ex-
periência vivida. De acordo com Oscar Jara, a palavra
sistematizar, em geral, é empregada no sentido de
“sistematização de informação”, coincidindo com a
ideia de ordenar e classificar informações. Todavia, se-
gundo ele, quando falamos sobre o modo de sistema-
tizar uma prática de conhecimento do mundo, não
devemos apenas pensar em como ordenar e classificar
a informação, pois:
É preciso um metodo para se aprender da
experiência. Sobre a base dessa ideia central
nos elaboramos uma proposta metodologica
que tem, digamos, três momentos. Há um mo-
mento descritivo, de descrição, de ordenamen-
to e de reconstrução historica do que se passou.
Depois, interpretar criticamente e tirar conclu-
sões. E, por fim, o que eu considero o mais im-
portante, que e comunicar as aprendizagens.
A ideia e que cada um de nos discorra sobre
uma parte de sua experiência. Isso so aconte-
ce se houver sistematização, caso contrário a
experiência vai se perdendo no tempo.
(JARA, 2000, p. 37)
Nesse sentido, a sistematização resulta como um
momento de reflexão individual e coletiva sobre o
próprio processo, a prática de investigação, a cons-
trução do conhecimento sobre a realidade mediada
pelo educador. Esse é um momento que exige dis-
ponibilidade para aprender com o vivido, sensibili-
dade para falar sobre a experiência e ouvir sobre a
prática e requer habilidade para análise, interpreta-
ção e síntese.
Segundo Ausubel (2003), um dos aspectos mais
importantes da aprendizagem significativa é o que os
estudantes já sabem e isso deve ser estruturante na
proposta de ensino escolar. Quanto mais clara e or-
ganizada for a estrutura cognitiva dos estudantes,
maior será a possibilidade de eles relacionarem novos
conhecimentos com o que já sabem e, dessa forma,
ampliarem sua capacidade de cognição e de retenção
significativa de novos aprendizados, isto é, ampliarem
sua aprendizagem e compreensão do mundo. Segun-
do o filósofo espanhol José Antonio Marina (1939-),
“conhecer é compreender, quer dizer, apreender o no-
vo com o que já é conhecido” (MARINA, 1995, p. 40).
Daí a importância de levantar o conhecimento prévio
dos estudantes antes de introduzir um novo conteú-
do e ter uma noção aproximada de como está orga-
nizada a estrutura cognitiva deles, garantindo assim
uma aprendizagem significativa. Vale lembrar que as
novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino
Médio, em seu artigo 27, definem que:
ORIENTAÇÕES GERAIS | 181
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 181V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 181 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
A proposta pedagogica das unidades esco-
lares que ofertam o ensino medio deve consi-
derar: [...] III – a aprendizagem como processo
de apropriação significativa dos conhecimen-
tos, superando a aprendizagem limitada à me-
morização [...].
(BRASIL, 2018)
É importante que o professor incentive os estudan-
tes a associar o conhecimento que possuem ao conhe-
cimento a ser apreendido, que, num processo de
aproximações sucessivas, vai sendo gradativamente
construído e consolidado. No entanto, todo professor
sabe que no universo de uma sala de aula, composta
de uma diversidade de estudantes, isso sempre será
aproximado, porque a estrutura cognitiva e os conhe-
cimentos prévios de cada indivíduo são particulares,
idiossincráticos, além de dinâmicos.
Sobre essa questão, Ausubel oferece uma importan-
te contribuição quando propõe o uso de organizadores
prévios ou avançados, que podem ser uma afirmação
ou pergunta, um parágrafo descritivo ou uma experiên-
cia, um texto curto numa linguagem mais acessível, um
filme ou vídeo, uma charge ou história em quadrinhos,
a letra de uma canção, um mapa conceitual, entre ou-
tras possibilidades. Com eles é possível organizar mini-
mamente a estrutura cognitiva e os conhecimentos pré-
vios dos estudantes para que consigam apreender novos
conhecimentos de forma significativa, ancorando-os em
seus conceitos subsunçores (conceitos relevantes que
servem de âncora para novos aprendizados), que po-
tencialmente serão problematizados. Porém, antes de
tudo, é preciso que o conteúdo a ser ensinado seja po-
tencialmente significativo, isto é, organizado de forma
lógica, que faça sentido para os estudantes e seja traba-
lhado numa linguagem acessível, além de se relacionar
com a estrutura cognitiva de forma não arbitrária (plau-
sível) e não literal (lógica). Quanto mais claros e menos
ambíguos forem os conceitos e conhecimentos dispo-
níveis na estrutura cognitiva do estudante, maior será
sua capacidade de internalizar novos conceitos e conhe-
cimentos (que são construções provisórias). No Ensino
Médio, os estudantes já trazem um repertório consoli-
dado no Ensino Fundamental e uma estrutura cognitiva
mais bem organizada, o que facilita o trabalho dos pro-
fessores desse ciclo. Assim, é importante sempre propor
atividades que possam ir além do que os estudantes já
sabem e conhecem, problematizando e reconstruindo
suas estruturas cognitivas.
Livro
• MOREIRA, Marco Antonio; MASINI, Elcie F.
Salzano. Aprendizagem significativa: a teoria de
David Ausubel. São Paulo: Centauro, 2001.
Os autores fazem uma síntese detalhada e acessível da
teoria cognitivista de David Ausubel. Essa obra serve
de organizador prévio para a leitura da teoria original.
SUGESTÕES DE LEITURAS, VÍDEOS E SITES
A contextualização do ensino é um procedimento
metodológico que parte do pressuposto de que os ob-
jetos de aprendizagem devem estar relacionados ao
escopo daquilo que é do contexto do educando, ou
seja, que faz parte de sua realidade. O contexto pode
ser o ponto de partida, porém o ensino não deve ser
reduzido a ele. Espera-se que os educandos possam
estudar e intervir em suas realidades locais, mas que
não se limitem a elas, que não fiquem reféns de even-
tuais realidades socioespaciais segregadoras, e que pos-
sam superar seus contextos, se assim for desejável.
Cada volume desta coleção é organizado em duas
unidades, cada uma delas com dois capítulos. Nelas
são propostas atividades de contextualização acom-
panhadas de uma imagem que, esperamos, possam
cumprir o papel de organizador avançado do conteú-
do a ser ensinado nos dois capítulos que as compõem.
Essa introdução muitas vezes pode servir também pa-
ra: levantar os conhecimentos prévios dos estudantes,
propor algumas questões para instigar sua curiosidade,
estabelecer relações entre o objeto de ensino e o coti-
diano ou realidade local e despertar seu interesse pelo
tema a ser desenvolvido. Na abertura de cada capítulo,
há uma atividade de contextualização que serve tam-
bém para levantar conhecimentos prévios dos estu-
dantes sobre o assunto a ser tratado, para organizar
minimamente suas estruturas cognitivas e para des-
pertar-lhes o interesse pelo novo conhecimento a ser
aprendido. Teóricos da aprendizagem destacam a im-
portância de partir das experiências vividas pelos edu-
candos e de seu universo de interesse.
A existência de um referencial que permite aos estu-
dantes identificar as questões propostas, e se identificar
182
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 182V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 182 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
com elas, está no cerne da aprendizagem significativa e
do ensino contextualizado. Na prática escolar envolvida
com os temas de relevância social contemporâneos, o
protagonismo juvenil no reconhecimento e encaminha-
mento das situações-problema e na abordagem de sa-
beres de distintos campos curriculares, em suas relações
convergentes, complementares e também divergentes
se efetiva pela interdisciplinaridade.
Temas Contemporâneos Transversais
Na BNCC está previsto e definido um conjunto de
temas atuais, denominados Temas Contemporâneos
Transversais (TCT). Esses temas têm grande
relevância individual e social, abrangência espacial mul-
tiescalar e devem estar presentes nas propostas de
ensino de todas as áreas do conhecimento, articulados
aos conteúdos específicos, observando a perspectiva
teórico-metodológica que embasou a BNCC, mais ex-
plicitamente a contextualização e a interdisciplinari-
dade articuladas à construção da cidadania. Seu cará-
ter transversal exige o planejamento conjunto entre
as áreas do conhecimento para a promoção de abor-
dagens distintas e complementares, evitando repeti-
ções desnecessárias, que não se caracterizam como
retomadas ou aprofundamento. Cumprem, portanto,
papel integrador do currículo.
Veja na imagem a seguir os quinze Temas Contem-
porâneos Transversais, organizados em seis áreas.
Temas Contemporâneos Transversais na BNCC
MEIO AMBIENTEEducação Ambiental
Educação para o Consumo
CIDADANIA E CIVISMOVida Familiar e Social
Educação para o TrânsitoEducação em Direitos Humanos
Direitos da Criança e do AdolescenteProcesso de envelhecimento, respeito e
valorização do idoso
ECONOMIATrabalho
Educação FinanceiraEducação Fiscal
SAÚDESaúde
Educação Alimentar e Nutricional
CIÊNCIA E TECNOLOGIACiência e Tecnologia
MULTICULTURALISMODiversidade Cultural
Educação para valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais brasileiras
BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Básica. Temas contemporâneos transversais na BNCC: contexto histórico e pressupostos pedagógicos – 2019. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/implementacao/contextualizacao_temas_contemporaneos.pdf. Acesso em: 14 ago. 2020.
Muitos desses temas fazem parte dos conteúdos de
reflexão dos componentes curriculares que compõem
a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Eles es-
truturam a elaboração dos volumes desta coleção, co-
mo Meio Ambiente, Trabalho, Cidadania e Civismo, Di-
reitos Humanos, Multiculturalismo e Diversidade
Cultural. Foram trabalhados como eixos dos capítulos
ou em partes de diferentes capítulos. Mais adiante, ao
longo das orientações específicas para o trabalho com
os volumes e capítulos, estão explicitadas as abordagens
dos TCT, suas eventuais articulações com outras áreas
do conhecimento e propostas de atividades e interven-
ções individuais e coletivas.
Investigação científica em Ciências Humanas
A área das Ciências Humanas padece de represen-
tações sociais bastante equivocadas ou reducionistas
tanto sobre diferentes objetos de pesquisa quanto
sobre suas formas de produção de conhecimento.
Permanece no imaginário de uma parte da sociedade
ORIENTAÇÕES GERAIS | 183
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 183V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 183 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
pouco informada que produzir conhecimento na área
de Ciências Humanas resume-se a ler e escrever. Sem
dúvida ler e escrever são duas competências muito
significativas para a área e também muito presentes
nos processos de ensino e aprendizagem dos estu-
dantes do Ensino Médio. Porém, apenas essas com-
petências não dão conta da produção de todo o co-
nhecimento da área. Isso exige a adoção de diferentes
encaminhamentos e metodologias de grande rigor
processual para que as informações, considerações,
avaliações e conclusões obtidas sejam amplamente
validadas pela comunidade científica, tenham caráter
explicativo sobre aquilo que se propôs estudar e que,
portanto, sejam classificadas como conhecimento de
natureza científica. Os conhecimentos resultantes
desses processos de investigação científica intrínsecos
às Ciências Humanas devem passar por uma trans-
posição didática para a Educação Básica, o que im-
plica a adequação de sua complexidade, pois os ob-
jetivos da educação escolar são diferentes dos
objetivos da academia.
Cada campo do saber da área reúne um conjunto
de metodologias e técnicas de pesquisa e investigação
que são mobilizadas de acordo com o que está em es-
tudo e de forma coerente e justificada pela parte teó-
rica e metodológica. Algumas delas são específicas de
uma disciplina, outras compartilhadas. Há, ainda, aque-
las que também fazem parte do escopo de técnicas de
pesquisa de outras áreas do conhecimento.
O ensino de algumas delas na escola, por meio da
prática efetiva de pesquisa conduzida pelos estudan-
tes, cumpre finalidades distintas e complementares. A
realização da pesquisa coloca em evidência o protago-
nismo do estudante na investigação de um tema, fato,
fenômeno ou problema de seu interesse. Também tem
potencial para promover a contextualização do ensino
e da aprendizagem quando essas técnicas – trabalho
de campo, entrevistas, grupo focal, entre outros – são
desenvolvidas na realidade local. Servem ainda para
que os estudantes compreendam de que forma o co-
nhecimento científico é produzido e, assim, avaliar se
narrativas e informações de circulação pública têm es-
se embasamento e são válidas de fato. O trabalho com
as metodologias de pesquisa também colabora para a
promoção da interdisciplinaridade, já que muitas delas
efetivamente mobilizam conteúdos de outras discipli-
nas e por se tratar de um procedimento compartilha-
do na área de Ciências Humanas e também usado em
disciplinas de outras áreas.
Livros
• DEMO, Pedro. Educar pela pesquisa. 7. ed. Campinas: Autores Associados, 2005.
Nesse livro, o autor faz uma defesa da pesquisa como
princípio pedagógico, argumentando que ela deve
estar inserida no processo educativo.
• SEVERINO, Antonio Joaquim; SEVERINO, Estevão Santos. Ensinar e aprender com pesquisa no Ensino Médio. São Paulo: Cortez, 2012.
Os autores defendem que para o conhecimento ser
construído de forma significativa é importante que
o estudante domine fundamentos teóricos e
práticos da pesquisa, desenvolvendo assim um
espírito investigativo.
SUGESTÕES DE LEITURAS, VÍDEOS E SITES
A potencialização dessa aprendizagem, de como pro-
ceder uma investigação científica por meio de suas va-
riadas técnicas e metodologias, é que fornece ao estu-
dante a autonomia necessária para atuar ao longo do
período estudantil ou no meio social em que está inse-
rido. Com a posse desse instrumental, amplia-se a sua
capacidade de utilizá-lo em variadas situações, escolares
ou não, podendo assim encontrar respostas e soluções
para outros problemas por meio da investigação de suas
causas, e também mobilizá-los para aprender outros te-
mas de seu interesse e continuar aprendendo.
Ao longo da coleção são propostas atividades, em
diferentes momentos e níveis de dificuldade, que pro-
porcionam a aprendizagem por meio da prática das
técnicas e metodologias de pesquisa e investigação
científica. Elas estão adequadas às finalidades pedagó-
gicas desses momentos, ora mais curtas e simplificadas,
ora mais longas e complexas, mais próximas do uni-
verso acadêmico. Estão, porém, sempre contextualiza-
das ao texto da obra e à investigação da realidade local,
sobretudo quando são mais extensas.
Nesta coleção, as doze metodologias de pesquisa
estão distribuídas entre os seis volumes da coleção da
seguinte forma:
• O volume que trata de alguns conceitos fundamen-
tais, como ciência, cultura, identidade, diversidade
184
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 184V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 184 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
cultural, espaço, apresenta duas propostas de pro-
jetos que utilizam respectivamente a análise das mí-
dias tradicionais (princípios de análise de discurso
multimodal) e a revisão bibliográfica;
• O volume que aborda os conflitos da convivência
e os impasses da democracia traz o estudo de caso
e o grupo focal como as metodologias de pesquisa
propostas nos projetos;
• No volume que aborda os impasses, desafios e con-
flitos que envolvem a relação entre a sociedade e a
natureza, os projetos serão realizados com base nos
métodos de pesquisa de estudo de recepção (de
obras de arte e de produtos da indústria cultural)
e de pesquisa-ação;
• A dinâmica das populações e a ocupação das ter-
ritorialidades, assim como a formação do Estado,
o desenvolvimento do capitalismo e a globaliza-
ção são os temas principais de outro volume da
coleção que apresenta como metodologias de
pesquisa dos projetos a análise documental (prin-
cípios de análise de discurso) e a construção e uso
de amostragens;
• As relações de produção, capital e trabalho serão
abordadas no volume que utiliza as metodologias
de análise de mídias sociais e construção e uso de
questionários nos projetos propostos;
• O processo de construção e conquista da cidada-
nia é o tema principal do volume que apresenta
duas propostas de projetos que utilizam a entrevis-
ta (com destaque para a semiestruturada) e obser-
vação, tomada de notas e construção de relatórios
como metodologias de pesquisa.
Diagnósticos e avaliações
A avaliação é uma ação inerente ao ser humano,
constante e cotidiana. A avaliação nos ajuda a enten-
der o presente, a ressignificar o passado e a projetar
o futuro. As diversas situações de escolha envolvem
avaliações. A compreensão do presente implica re-
constituir e avaliar o passado. Porém, avaliar exige
selecionar informações e articulá-las, o que nem sem-
pre é fácil, seja por não sabermos de quais informa-
ções precisamos, seja por não conseguirmos
acessá-las. No primeiro caso, a definição das infor-
mações necessárias se relaciona com a finalidade da
avaliação. Ou seja, definir o que precisamos conhecer
implica saber para que se está avaliando. No segun-
do caso, a obtenção da informação depende de sua
natureza, de que tipo ela é, e dos instrumentos e es-
tratégias mais adequados para obtê-las.
Portanto, deve estar claro que até aqui não nos re-
ferimos especificamente à avaliação da aprendizagem
ou do estudante e, muito menos, a um dos seus ins-
trumentos, a prova, duas associações comuns quando
se trata de avaliar e aprender.
A avaliação é essencial para a educação e a escola,
bem como para todos os atores envolvidos direta e
indiretamente com o processo de ensino-aprendiza-
gem. De acordo com a perspectiva teórico-metodoló-
gica na qual se insere o Novo Ensino Médio, o ato de
avaliar deve ser ressignificado para que sua prática se-
ja coerente com o seu propósito.
A definição mais ampla dos objetivos da escola em
consonância com os anseios de sua comunidade e as
possibilidades oferecidas pela rede à qual pertence,
bem como os recursos no território do qual faz parte,
deve estar prevista no Projeto Pedagógico e no Plano
Escolar. Eles são os referenciais para o planejamento de
parte das avaliações que a escola, os professores e os
estudantes devem realizar.
A centralidade do estudante, o estímulo ao seu pro-
tagonismo, a maior oferta de escolhas e a ampliação
de responsabilidades, assim como a construção de pro-
jeto de vida, implicam ensinar o estudante a avaliar a
si próprio e o seu contexto, isto é, avaliar o seu univer-
so de possibilidades. Assim como também é funda-
mental identificar seus interesses e saberes prévios pa-
ra que o planejamento preveja temas e conteúdos
contextualizados e significativos.
Nessa perspectiva, a avaliação é diagnóstica, pro-
cessual e formativa, permitindo que estudantes e pro-
fessores percebam o grau de envolvimento deles nesse
processo e acompanhem sua dinâmica. É fundamental
que cada estudante compreenda de que forma está
desenvolvendo sua aprendizagem e que o professor
perceba de que modo está seu planejamento e suas
estratégias de ensino, tanto para o grupo quanto para
cada educando, especificamente.
ORIENTAÇÕES GERAIS | 185
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 185V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 185 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
Livros
• HOFFMANN, Jussara. Avaliacao: mito e desafio: uma perspectiva construtivista. Porto Alegre: Mediação, 2005.
Nesse livro são discutidos os objetivos da avaliação e
sua adequação para projetos de ensino e
aprendizagem que dialogam com a construção do
conhecimento pelo educando.
• LUCKESI, Cipriano Carlos. Avaliacao da aprendizagem escolar. 17. ed. São Paulo: Cortez, 2005.
O livro aborda a questão da avaliação da
aprendizagem na escola, em termos conceituais e
práticos, passando por abordagens filosóficas,
sociológicas, políticas, psicológicas e pedagógicas.
SUGESTÕES DE LEITURAS, VÍDEOS E SITES
É importante que a avaliação esteja prevista no Pro-
jeto Político-Pedagógico da escola e seja coerente com
a fundamentação teórico-metodológica adotada, con-
siderando os diferentes contextos em que ocorre. Por
exemplo, avaliar o estudante em um trabalho de pes-
quisa envolve valorizar sua habilidade de proceder o
levantamento e tratamento de dados e informações,
de análise, produção e elaboração de síntese pessoal,
o que pode ser expresso em forma de textos, exposi-
ção oral, mural, vídeos, etc.
A avaliação deve ser estruturada como parte do
processo pedagógico e educacional. Quando ela se res-
tringe à aplicação de uma prova mensal ou bimestral,
sua função fica reduzida a aspectos conceituais, cum-
prindo um papel certificador, e a maioria dos estudan-
tes estabelece um ritmo de acompanhamento dos con-
teúdos concentrando seus esforços para a prova.
Nesse contexto, a aprendizagem e o educando perdem
a centralidade do processo, que passa a ser ocupada
pela capacidade de responder a algumas perguntas em
uma data preestabelecida. Assim, a avaliação não deve
se limitar a um instrumento de quantificação aplicado
no final do processo, mas constituir um recurso para
acompanhar o desenvolvimento da aprendizagem. Ela
permite a revisão da programação e da abordagem do
curso: se necessário, podem ocorrer mudanças de acor-
do com as dificuldades, o desinteresse ou, ao contrário,
a motivação dos estudantes para ir mais além.
Todos os itens da avaliação, bem como seus instru-
mentos, devem ser previamente conversados com a
turma, explicitados de forma clara, para que todos os
estudantes compreendam sua finalidade, aprendam
com o processo e se comprometam com as metas tra-
çadas. Trata-se de explicitar parte do “contrato didáti-
co” que rege a relação entre docente e discentes na
promoção de suas aprendizagens, sendo, portanto, li-
vremente debatido, baseado na transparência, no diá-
logo, e na clara definição de objetivos e propostas. Es-
se é um momento fundamental para que a relação
ensino-aprendizagem possa ser desenvolvida de forma
satisfatória e dialógica.
Os estudantes devem saber o que é esperado deles,
como serão avaliados, com que frequência, em quais
momentos e de acordo com quais critérios, e devem
participar da elaboração desses critérios. Podem ainda,
caso assim se decida, elaborar estratégias variadas para
autoavaliação, algumas eventualmente comparadas
com a avaliação feita pelo professor, ou ainda feita em
parceria com outro estudante. São recursos para de-
senvolver habilidades metacognitivas do estudante e
consequentemente sua autonomia. Servem, portanto,
à promoção do engajamento dos estudantes à própria
formação e ao que acontece em sala de aula, de forma
que esses recursos os incentivem na busca por melhor
desempenho.
A avaliação permanente permite a utilização das
mais variadas ferramentas e instrumentos para diag-
nosticar o desempenho dos estudantes em relação aos
conteúdos anteriormente propostos.
Em caso de aplicação de provas mensais ou bimes-
trais, é importante que elas não se limitem a verificar
a memorização de informações pelos estudantes, mas
sua habilidade de observar, descrever, comparar, inter-
pretar, argumentar, expressar, ou seja, analisar, sintetizar
e elaborar propostas para dada situação. Isso pressu-
põe que os estudantes não apenas detenham informa-
ções, mas também desenvolvam a competência de
manipulá-las e criticá-las para, com base nesse exercí-
cio, construir seu conhecimento e solucionar situações-
-problema da realidade.
A prática da avaliação ao longo de todo o pro-
cesso de aprendizagem permite planejar um acom-
panhamento personalizado para os estudantes com
dificuldades logo que se constate alguma defasagem,
ou alterar a abordagem escolhida inicialmente
186
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 186V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 186 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
quando ela se mostrar ineficaz. Não há necessidade
de esperar o fim do bimestre, semestre ou ano leti-
vo para encaminhar esses estudantes para uma re-
cuperação.
Essa prática, além de ser mais produtiva do ponto
de vista do ensino-aprendizagem, retira dos estudantes
a pressão psicológica de ter de “tirar nota para passar
de ano”. Não acreditamos que a prova seja um mal em
si, até porque, ao longo da vida, os estudantes, em vá-
rios momentos, vão se deparar com a necessidade de
fazer provas, como a do Enem, de vestibulares, ou tes-
tes para vagas de emprego, de concurso público, etc.,
mas ela não deve ser um fim em si mesma ou o obje-
tivo central da aprendizagem.
Assim, quanto à nota, na avaliação permanente,
ela deve ser apenas a quantificação do aprendizado
e um instrumento para indicar a necessidade de
acompanhamento personalizado, e não uma punição
ao final do ano, com a repetência. Concebendo a ava-
liação como um instrumento permanente e abran-
gente, torna-se necessário iniciá-la antes mesmo da
introdução de novos conteúdos. Avaliando os conhe-
cimentos prévios dos estudantes sobre os conteúdos,
as habilidades e as competências que serão desenvol-
vidos, é possível adaptar a prática didática àquilo que
for mais adequado ao grupo.
Livro
• ARREDONDO, Santiago Castillo; DIAGO, Jesús Cabrerizo. Avaliacao educacional e promocao escolar. Curitiba: Ibpex; São Paulo: Unesp, 2009.
Ampla discussão sobre o processo de avaliação
escolar, com fundamentação teórica e vasto
repertório de modelos de fichas de avaliação e
critérios para diferentes situações. Destaque para a
discussão aprofundada sobre a importância da
autoavaliação e como realizá-la.
SUGESTÕES DE LEITURAS, VÍDEOS E SITES
Nesta coleção, cada capítulo tem início com a se-
ção Contexto, que tem por finalidade incentivar os
estudantes a se engajarem nas aprendizagens que se-
rão propostas ao longo do capítulo e para diagnosti-
car aquilo que já sabem. Isso significa tanto avaliar a
familiaridade com os temas propostos e os conheci-
mentos de conteúdos específicos quanto indicar a
fluência de algumas das habilidades e competências
priorizadas no capítulo. Ao final de cada capítulo, a
seção Retome o contexto proporciona um momento
de resgate dessas ideias e saberes iniciais, após as no-
vas reflexões realizadas por meio da leitura dos textos,
da execução de atividades e das aulas ou sequências
didáticas para refazer ou adequar a síntese que havia
produzido anteriormente. Esse momento também
serve para que os estudantes explicitem as aprendi-
zagens efetuadas e desenvolvam as habilidades me-
tacognitivas. Orientações mais específicas acerca do
trabalho com essa seção podem ser obtidas na parte
específica deste Manual.
O desenvolvimento dos conteúdos de cada capí-
tulo é intercalado pelos boxes Interpretar e Conversa,
que também constituem momentos bastante úteis
para avaliação e para a promoção da aprendizagem.
No boxe Interpretar estão propostas questões, pa-
ra serem respondidas tanto individual quanto coleti-
vamente, que promovem o desenvolvimento de ha-
bilidades de leitura e análise de gêneros textuais
variados – textos de terceiros, mapas, gráficos, tabelas
e imagens –, bem como de registros e sínteses da
aprendizagem. São momentos oportunos para o
acompanhamento e o atendimento mais individua-
lizado dos estudantes.
O boxe Conversa, por sua natureza, é destinado ao
trabalho coletivo, que pode ser desenvolvido em pe-
quenos grupos ou em grandes rodas, e privilegia a ora-
lidade. As duas situações promovem o protagonismo
da aprendizagem e sua contextualização por meio da
articulação com os saberes e as vivências dos estudan-
tes, bem como a eventual aplicação do referencial teó-
rico estudado na análise de suas realidades.
A seção Conexões favorece a avaliação da habilida-
de do estudante de estabelecer relações dos conteúdos
de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas com outras
áreas do conhecimento. Pode ser realizada individual
ou coletivamente, segundo critério do professor.
A seção Diálogos reúne um conjunto de ativida-
des variadas e mais complexas do que as apresenta-
das nos boxes Interpretar e Conversa e explora habi-
lidades e competências específicas de Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas e, eventualmente, de
outras áreas do conhecimento. Como toda atividade,
pode ser adequada a cada estudante, turma ou ao
ORIENTAÇÕES GERAIS | 187
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 187V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 187 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
contexto escolar. Por serem mais amplas e complexas
são indicadas para serem feitas em casa ou usadas
como estratégias de “aula invertida”, na qual os estu-
dantes pesquisam, analisam e registram o que apren-
deram fora da sala de aula e aproveitam o momento
de encontro com os colegas e o professor para con-
frontar suas considerações e sínteses provisórias, ou
para serem iniciadas em sala e finalizadas em momen-
to extraclasse. As atividades desta seção podem ser
selecionadas pelo professor para serem trabalhadas
ao longo do desenvolvimento dos temas e conteúdos
ou do modo como preferir.
A seção Você precisa saber traz os principais con-
teúdos abordados no capítulo em uma linguagem
visual do tipo diagrama, que pode compreender es-
quemas, listas de conceitos e mapas conceituais que
buscam organizar o conhecimento aprendido no
capítulo.
Esses recursos podem ser utilizados com três obje-
tivos principais, a critério do professor, conforme expli-
cado a seguir.
1. Ao final da aula ou da sequência didática: como
síntese do que foi aprendido, com a enumeração
dos principais conceitos (e proposições) do tema
desenvolvido ao longo do capítulo. Nesse sentido
ele tem um caráter de sistematização e rememora-
ção do que foi aprendido.
2. Antes do início da aula ou da sequência didá-
tica: como um organizador prévio ou avançado.
Os estudantes podem explorá-lo para que perce-
bam a organização geral do conhecimento que
será aprendido e a hierarquização dos conceitos
empregados.
3. Antes ou depois de iniciar um assunto: pode-
-se apresentar uma lista de conceitos aos estu-
dantes e propor que organizem um mapa
conceitual hierarquizando-os e estabelecendo as
palavras de ligação entre eles. Se essa proposta
for feita antes da introdução de um novo assun-
to, o diagrama resultante serve de organizador
do conhecimento prévio dos estudantes. Se for
feita depois, será uma possibilidade de organizar
o conhecimento aprendido e poderá ser um ins-
trumento de avaliação.
Livro
• MOREIRA, Marco Antonio. Mapas conceituais e aprendizagem significativa. São Paulo: Centauro, 2010.
Explica o que são os mapas conceituais, orienta como
elaborá-los e discute sua utilização pedagógica para
facilitar a aprendizagem significativa.
Site
• NOVAK, Joseph D.; CAÑAS, Alberto J. A teoria subjacente aos mapas conceituais e como elaborá-los e usá-los. Práxis Educativa, Ponta Grossa, v. 5, n. 1, jan.-jun. 2010, p. 9-29. Disponível em: https://cmap.ihmc.us/docs/pdf/TeoriaSubjacenteAosMapasConceituais.pdf. Acesso em: 16 jul. 2020.
Nesse artigo, traduzido e publicado na revista Práxis
Educativa, da Universidade Estadual de Ponta Grossa
(UEPG-PR), os pesquisadores Joseph Novak e Alberto
Cañas desvendam a teoria (ausubeliana) que dá
suporte à construção dos mapas conceituais e explica
como elaborá-los e utilizá-los.
SUGESTÕES DE LEITURAS, VÍDEOS E SITES
A constatação de que um estudante não apreendeu
todo o conteúdo proposto de forma homogênea com
relação ao restante da classe não deve anular o fato de
que muitas vezes ele avançou significativamente no que
se refere ao ponto em que se encontrava, e que se desen-
volveu de forma extraordinária em relação a alguns itens
trabalhados. Portanto, isso deve ser considerado.
É importante que haja instrumentos de avaliação que
possam captar outras inteligências, como as propostas pe-
lo psicólogo estadunidense Howard Gardner (1943-) no
livro Inteligências múltiplas: a teoria na prática. São elas: a
interpessoal, a intrapessoal, a espacial, a corporal-cinestési-
ca e a musical, além das duas tradicionalmente mais valo-
rizadas pela escola – a linguística e a lógico-matemática. A
avaliação não deve se restringir à dimensão conceitual do
conhecimento e captar também as dimensões procedi-
mental e atitudinal (aqui compreendidas as habilidades
socioemocionais). Enfim, sempre é necessário considerar a
formação de sujeitos éticos, reflexivos e humanizados.
� Exames de larga escala
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foi ins-
tituído pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC)
em 1998 para avaliar as competências e habilidades
desenvolvidas pelos estudantes que estão concluindo
188
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 188V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 188 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
ou já concluíram o Ensino Médio. Onze anos depois,
o exame passou a ser usado também como mecanis-
mo de seleção para o ingresso no Ensino Superior e
como instrumento para induzir a reestruturação dos
currículos do Ensino Médio. Tais mudanças justifica-
ram o estabelecimento do conjunto de habilidades e
competências a serem avaliadas, servindo-se das disci-
plinas escolares como instrumentos.
Atualmente, o Enem é o principal instrumento de
seleção ao Ensino Superior. Inúmeras universidades pú-
blicas do país têm considerado seus resultados para
compor a nota final em seus vestibulares e, mais recen-
temente, algumas, como as universidades federais, pas-
saram a considerar apenas o Enem para selecionar o in-
gresso de seus estudantes. Isso é feito pelo Sistema de
Seleção Unificada (Sisu), sistema informatizado do MEC
em que as universidades públicas oferecem vagas a can-
didatos que prestaram o Enem. O Programa Universida-
de para Todos (ProUni), do governo federal, concede
bolsas de estudo a estudantes de universidades privadas
e também utiliza o Enem como referência. Esse exame
está em processo de adequação à BNCC para que as
questões propostas sejam capazes de aferir as compe-
tências gerais, específicas e habilidades definidas nesse
documento, servindo, assim, como forma de certificação
para franquear o acesso do estudante à universidade e
como mecanismo de avaliação do sistema de educação.
Algumas importantes universidades e faculdades
estaduais e privadas mantêm seus próprios processos
seletivos, como ocorre com a Universidade de São
Paulo (USP), Universidade Estadual de Campinas
(Unicamp), Universidade Estadual do Ceará (Uece),
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj), entre
outras. Por serem instrumentos de seleção, e não de
avaliação do ensino e da aprendizagem, cada um des-
ses exames vestibulares é elaborado de acordo com
o perfil de estudante que as universidades desejam
que ingressem em seus cursos. Dependendo da clien-
tela e da localidade da escola, esses exames, em geral,
são de interesse dos vestibulandos, já que podem in-
fluenciar no currículo escolar, o que é coerente com
a compreensão de trabalhar com os interesses dos
estudantes e a realidade local, contextualizada.
Ao final de cada capítulo desta coleção, na seção
Questões do Enem, estão indicadas algumas questões
Estudantes se preparam para o último dia de provas do
Enem na cidade de São Paulo (SP), em 2019.
Bru
no R
ocha/F
oto
are
na
selecionadas do Enem que servem para os estudantes
e também para os professores conhecerem de que
forma os conteúdos desenvolvidos no capítulo têm
sido apresentados nesse processo seletivo. Servem
também para avaliar a habilidade dos estudantes em
responder às questões de múltipla escolha, que en-
volvem a interpretação de textos variados que com-
põem o enunciado, a identificação do que é pergun-
tado e a seleção da resposta que melhor atende à
pergunta. O trabalho com essas questões pode ser
diversificado, dependendo de sua intencionalidade.
Não é por ser apresentado ao final do capítulo que o
conjunto de questões precisa ser proposto ao estu-
dante apenas após o término do capítulo, tampouco
que seja trabalhado de uma só vez.
Propostas de trabalho com a coleção
� Sugestões de percursos entre os volumes
Os volumes desta coleção podem ser trabalhados
de acordo com as preferências dos professores da área
de Ciências Humanas da unidade escolar, consideran-
do o momento de vida dos estudantes e o alinhamen-
to entre os docentes, de forma que a aprendizagem se
torne mais significativa para todos.
A seguir, serão propostas duas formas de trabalho
com os volumes desta coleção.
ORIENTAÇÕES GERAIS | 189
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 189V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 189 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
Primeira proposta
Inicialmente, podem ser trabalhados os conteúdos
do volume que se referem ao estudo das dinâmicas po-
pulacionais e da relação entre Estado e capitalismo. Com
base no estudo das dinâmicas populacionais, é possível
aprofundar a questão da cultura por meio do trabalho
com o volume que aborda conceitos fundamentais pa-
ra compreender a esfera da cultura, como etnocentris-
mo, racismo, xenofobia e diversidade cultural, além de
apresentar reflexões sobre o espaço e o tempo.
O volume seguinte aborda as relações entre capital,
trabalho e produção, explorando as diversas concepções
do mundo do trabalho ao longo da história, além de
tratar a influência do trabalho na organização do espaço
geográfico. Para extrapolar a questão da organização do
espaço pelo trabalho, pode-se trabalhar o volume que
trata do uso da natureza pelas diferentes sociedades e
levar os estudantes a refletir sobre o modo de vida oci-
dental pautado no consumo e que impacta o ambiente.
Dando continuidade à reflexão sobre o modo de
vida ocidental, pode ser trabalhado o volume que tra-
ta dos processos de construção e conquista da cida-
dania e da democracia. Para finalizar, trabalha-se o vo-
lume em que são tratados os desafios da convivência
coletiva, destacando os direitos e os impasses da de-
mocracia efetiva, com o objetivo de levar os estudan-
tes a refletirem sobre os meios necessários para a cons-
trução da cidadania plena.
Segunda proposta
Nessa proposta, o volume inicial a ser trabalhado
pode ser o que apresenta reflexões acerca do tempo e
do espaço, além de conceitos fundamentais relaciona-
dos à cultura. Para empregar os conceitos aprendidos
à realidade e dar continuidade ao volume anterior, po-
de ser trabalhado o volume que trata das dinâmicas
populacionais e da relação entre Estado e capitalismo.
Com o objetivo de ampliar a compreensão dos es-
tudantes sobre o avanço do capitalismo, sugere-se o
trabalho com o volume que aborda a construção da
cidadania e da democracia ao longo da história. Dan-
do continuidade à esfera política e social, o próximo
volume a ser trabalhado pode ser o que apresenta as
consequências do capitalismo e os impasses surgidos
na sociedade democrática. Os estudantes, nesse sen-
tido, são levados a refletir sobre o que é necessário pa-
ra se desenvolver uma cidadania efetiva.
Para aprofundar o estudo de um dos eixos do ca-
pitalismo, o próximo volume que pode ser trabalhado
trata do mundo do trabalho, desde a explanação de
suas diversas concepções ao longo da história até as
relações entre capital, trabalho e produção, e de que
forma elas impactam no uso do espaço geográfico. Pa-
ra finalizar e aprofundar a relação entre trabalho, uso
do espaço e natureza, pode-se trabalhar com o volu-
me que trata do impacto do modelo de consumo das
sociedades ocidentais para a natureza e para a saúde
das pessoas, de modo geral.
� Sugestões de cronograma (bimestral e semestral)
A elaboração de um cronograma deve considerar
a realidade de cada instituição escolar, os recursos dis-
poníveis, a quantidade de aulas e o projeto pedagógi-
co proposto.
Incialmente, sugere-se que a equipe gestora, a coor-
denação e o corpo docente das áreas de Ciências Hu-
manas e Sociais Aplicadas, Matemática e suas Tecno-
logias, Ciências da Natureza e suas Tecnologias e
Linguagens e suas Tecnologias se reúnam para elaborar
de forma coletiva um cronograma que promova a par-
ticipação dos diversos professores nas respectivas au-
las, com o objetivo de concretizar a proposta interdis-
ciplinar de ensino com os estudantes.
As sugestões feitas a seguir são flexíveis e devem ser
adaptadas à realidade e ao contexto de cada unidade
escolar. Elas podem ser realizadas, considerando os per-
cursos propostos anteriormente, de forma bimestral ou
semestral. Os cronogramas a seguir foram feitos consi-
derando uma aula por semana e duas aulas por semana
– dependendo se o volume for trabalhado por um ou
mais professores. Trata-se de um modelo que pode ser
aplicado a todos os volumes, já que eles possuem a mes-
ma estrutura de dois capítulos por unidade, duas uni-
dades e dois projetos – um ao final de cada unidade.
Os projetos devem ser vistos no início de cada bi-
mestre ou semestre porque cada um apresenta uma
190
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 190V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 190 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
dinâmica própria. Eles podem ser realizados ao final de cada unidade, como previsto no Livro do Estudante, ou
de forma progressiva, em revezamento com o conteúdo dos capítulos. As sugestões de cronograma foram ela-
boradas considerando três anos letivos.
Por bimestre (uma aula por semana)
Cada volume pode ser trabalhado em um bimestre, distribuindo as aulas de acordo com o quadro a seguir. Nes-
sa sugestão, por serem poucas aulas, é necessário solicitar aos estudantes que realizem parte dos estudos de forma
autônoma, reservando as aulas para o esclarecimento de dúvidas sobre os conteúdos. As atividades também podem
ser realizadas individualmente pelos estudantes. Foram reservadas maior quantidade de aulas para a seção Prática,
de modo que você possa acompanhar os estudantes de forma mais próxima.
Parte do volume
Tempo estimado
Contexto e Capítulo 1
1 aula: oriente os estudantes a ler e a realizar as atividades previamente para que nesta aula sejam esclarecidas as
dúvidas que eles tiverem e para a correção coletiva das atividades que você considerar necessária.
Capítulo 2 1 aula: oriente os estudantes a ler e a realizar as atividades previamente para que nesta aula sejam esclarecidas as
dúvidas que eles tiverem e para a correção coletiva das atividades que você considerar necessária.
Prática 3 aulas: o projeto pode ser iniciado simultaneamente ao conteúdo do material ou ser realizado em três aulas sequenciais.
Previamente, analise o que os estudantes podem realizar de forma autônoma para que as aulas sejam direcionadas ao
esclarecimento de dúvidas ou realização de tarefas mais complexas que podem ser feitas coletivamente.
Contexto e Capítulo 3
1 aula: oriente os estudantes a ler e a realizar as atividades previamente para que nesta aula sejam esclarecidas as
dúvidas que eles tiverem e para a correção coletiva das atividades que você considerar necessária.
Capítulo 4 1 aula: oriente os estudantes a ler e a realizar as atividades previamente para que nesta aula sejam esclarecidas as
dúvidas que eles tiverem e para a correção coletiva das atividades que você considerar necessária.
Prática 3 aulas: o projeto pode ser iniciado simultaneamente ao conteúdo do material ou ser realizado em três aulas sequenciais.
Previamente, analise o que os estudantes podem realizar de forma autônoma para que as aulas sejam direcionadas ao
esclarecimento de dúvidas ou realização de tarefas mais complexas que podem ser feitas coletivamente.
Por bimestre (duas aulas por semana)
No caso de duas aulas por semana, cada volume também pode ser trabalhado em um bimestre, porém
com maior possibilidade de acompanhamento do aprendizado dos estudantes e de realização de atividades
complementares.
Parte do volume
Tempo estimado
Contexto 1 aula: trabalho com a abertura de unidade e levantamento de conhecimentos prévios com os estudantes.
Capítulo 1 2 aulas: uma aula para abordagem dos conteúdos; uma aula para correção de atividades, que deverão ser feitas em casa.
Capítulo 2 2 aulas: uma aula para abordagem dos conteúdos; uma aula para correção de atividades, que deverão ser feitas em casa.
Prática 5 aulas: o projeto pode ser iniciado simultaneamente ao conteúdo do material ou ser realizado em aulas sequenciais.
Previamente, analise o que os estudantes podem realizar de forma autônoma para que as aulas sejam direcionadas ao
esclarecimento de dúvidas ou realização de tarefas mais complexas que podem ser feitas coletivamente.
Contexto 1 aula: trabalho com a abertura de unidade e levantamento de conhecimentos prévios com os estudantes.
Capítulo 3 2 aulas: uma aula para abordagem dos conteúdos; uma aula para correção de atividades, que deverão ser feitas em casa.
Capítulo 4 2 aulas: uma aula para abordagem dos conteúdos; uma aula para correção de atividades, que deverão ser feitas em casa.
Prática 5 aulas: o projeto pode ser iniciado simultaneamente ao conteúdo do material ou ser realizado em aulas sequenciais.
Previamente, analise o que os estudantes podem realizar de forma autônoma para que as aulas sejam direcionadas ao
esclarecimento de dúvidas ou realização de tarefas mais complexas que podem ser feitas coletivamente.
ORIENTAÇÕES GERAIS | 191
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 191V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 191 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
Por semestre (uma aula por semana)
É possível trabalhar um volume por semestre. A seguir, é proposta uma possibilidade de trabalho com o mes-
mo volume, mas dependendo das escolhas dos professores de Ciências Humanas, também é possível intercalar
as unidades de diferentes volumes com o objetivo de encontrar uma narrativa que seja mais relevante para a rea-
lidade dos estudantes da escola.
Parte do volume
Tempo estimado
Contexto 1 aula: trabalho com a abertura de unidade e levantamento de conhecimentos prévios com os estudantes.
Capítulo 1 5 aulas: três aulas para abordagem dos conteúdos; duas aulas para correção coletiva de atividades.
Capítulo 2 6 aulas: três aulas para abordagem dos conteúdos; duas aulas para correção coletiva de atividades; uma aula para Questões do Enem e para sistematizar o conteúdo do capítulo por meio do trabalho com a seção Você precisa saber e Retome o contexto.
Prática 8 aulas: as aulas podem ser feitas simultaneamente ao trabalho com o conteúdo do capítulo, de forma que duas aulas por mês sejam destinadas ao projeto. Analise previamente quantas aulas serão necessárias para as atividades coletivas em sala de aula, sobretudo, as mais complexas – as demais aulas podem ser destinadas ao esclarecimento de dúvidas e também para debates ou pesquisas adicionais que podem aprofundar o assunto e/ou a metodologia do projeto.
Contexto 1 aula: trabalho com a abertura de unidade e levantamento de conhecimentos prévios com os estudantes.
Capítulo 3 5 aulas: três aulas para abordagem dos conteúdos; duas aulas para correção coletiva de atividades.
Capítulo 4 6 aulas: três aulas para abordagem dos conteúdos; duas aulas para correção coletiva de atividades; uma aula para Questões do Enem e para sistematizar o conteúdo do capítulo por meio do trabalho com a seção Você precisa saber.
Prática 8 aulas: as aulas podem ser feitas simultaneamente ao trabalho com o conteúdo do capítulo, de forma que duas aulas por mês sejam destinadas ao projeto. Analise previamente quantas aulas serão necessárias para as atividades coletivas em sala de aula, sobretudo, as mais complexas – as demais aulas podem ser destinadas ao esclarecimento de dúvidas e também para debates ou pesquisas adicionais que podem aprofundar o assunto e/ou a metodologia do projeto.
Por semestre (duas aulas por semana)
No caso de duas aulas por semana, trabalhando um volume por semestre, é possível abordar cada parte do
conteúdo de forma mais aprofundada. O boxe Conversa, por exemplo, é uma possibilidade de aprofundamento
já que possibilita a realização de debates acerca de temas que sejam mais significativos para os estudantes. As ati-
vidades propostas do Livro do Estudante podem ser feitas em sala de aula com correção coletiva, possibilitando
melhor aproveitamento dos estudantes. A seção Prática também pode ser realizada em um maior número de
aulas e permite um acompanhamento mais próximo das tarefas dos estudantes.
Parte do volume
Tempo estimado
Contexto 2 aulas: uma aula para o levantamento de conhecimentos prévios com os estudantes sobre os conteúdos do capítulo; uma aula para o trabalho com a abertura de unidade.
Capítulo 1 10 aulas: cinco aulas para abordagem dos conteúdos; cinco aulas para realização e correção coletiva das atividades.
Capítulo 2 12 aulas: cinco aulas para abordagem dos conteúdos; cinco aulas para realização e correção coletiva das atividades; uma aula para Questões do Enem; uma aula para sistematizar o conteúdo do capítulo por meio do trabalho com a seção Você precisa saber e Retome o contexto.
Prática 16 aulas: as aulas podem ser feitas simultaneamente ao trabalho com o conteúdo do capítulo, de forma que quatro aulas por mês sejam destinadas ao projeto. Analise previamente quantas aulas serão necessárias para as atividades coletivas em sala de aula, sobretudo, as mais complexas – as demais aulas podem ser destinadas ao esclarecimento de dúvidas e também para debates ou pesquisas adicionais que podem aprofundar o assunto e/ou a metodologia do projeto.
Contexto 2 aulas: uma aula para o levantamento de conhecimentos prévios com os estudantes sobre os conteúdos do capítulo; uma aula para o trabalho com a abertura de unidade.
Capítulo 3 10 aulas: cinco aulas para abordagem de conteúdo; cinco aulas para realização e correção coletiva das atividades.
192
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 192V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 192 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
Capítulo 4 12 aulas: cinco aulas para abordagem dos conteúdos; cinco aulas para realização e correção coletiva das atividades;
uma aula para Questões do Enem; uma aula para sistematizar o conteúdo do capítulo por meio do trabalho com a
seção Você precisa saber e Retome o contexto.
Prática 16 aulas: as aulas podem ser feitas simultaneamente ao trabalho com o conteúdo do capítulo, de forma que quatro
aulas por mês sejam destinadas ao projeto. Analise previamente quantas aulas serão necessárias para as atividades
coletivas em sala de aula, sobretudo, as mais complexas – as demais aulas podem ser destinadas ao esclarecimento
de dúvidas e também para debates ou pesquisas adicionais que podem aprofundar o assunto e/ou a metodologia
do projeto.
Sumário de todos os capítulos
O volume que apresenta reflexões acerca do tem-
po e do espaço e os conceitos fundamentais relacio-
nados à cultura apresenta os seguintes tópicos:
Unidade 1: Ciência, cultura e etnia
Capítulo 1: Ciência, cultura e identidade
Capítulo 2: Etnia e identidade
Prática: Lendo notícias – o trabalho com a checa-
gem de fatos
Unidade 2: Espaço e tempo
Capítulo 3: Espaço: reflexões e representações
Capítulo 4: Reflexões sobre o tempo
Prática: As dificuldades do deslocamento nas ci-
dades brasileiras
O volume que aborda as dinâmicas populacionais
e a dinâmica da relação entre Estado e capitalismo tem
os seguintes itens:
Unidade 1: População, território e territorialidade
Capítulo 1: População mundial: origem e dinâmicas
Capítulo 2: População mundial: diversidade e ter-
ritorialidades
Prática: Qual é a história do lugar em que você mora?
Unidade 2: Estado e capitalismo
Capítulo 3: O papel do Estado e a dinâmica capi-
talista
Capítulo 4: A globalização e seus fluxos
Prática: A participação dos estudantes na escola
O volume que aborda a construção da cidadania e
da democracia nos últimos séculos apresenta os se-
guintes capítulos:
Unidade 1: Dimensões da cidadania
Capítulo 1: Democracia e ditadura no Brasil e na
América Latina
Capítulo 2: Desafios para construção da justiça
social no Brasil
Prática: Entrevista semiestruturada
Unidade 2: Caminhos da cidadania
Capítulo 3: A cidade e a cidadania
Capítulo 4: Direitos Humanos e prática social
Prática: O que acontece na praça?
O volume que apresenta as consequências do ca-
pitalismo e os impasses surgidos na sociedade demo-
crática traz os seguintes capítulos:
Unidade 1: Os desafios do nosso tempo
Capítulo 1: Desigualdades socioeconômicas no
mundo contemporâneo
Capítulo 2: Sociedades e violência
Prática: A letalidade policial nas capitais brasileiras:
o perfil das vítimas
Unidade 2: Direitos e impasses
Capítulo 3: Convivendo nas cidades e nas redes
Capítulo 4: Cultura e costumes em transformação
Prática: Técnica de grupo focal para compreender
a juventude no século XXI
O volume que trata da relação entre capital, traba-
lho e produção, assim como o impacto no espaço geo-
gráfico, apresenta os seguintes tópicos:
Unidade 1: Trabalho na História
Capítulo 1: Concepções de trabalho
Capítulo 2: Capitalismo e transformações no
mundo do trabalho
Prática: Os influenciadores são as novas estrelas
Unidade 2: Produção e trabalho nos dias atuais
Capítulo 3: Produção industrial e revolução infor-
macional
Capítulo 4: Trabalho no mundo globalizado
ORIENTAÇÕES GERAIS | 193
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 193V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 193 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
Prática: Compreender o trabalho e suas tecnolo-
gias com aplicação de questionários
O volume que trata da relação entre o uso da na-
tureza e o modelo de consumo das sociedades ociden-
tais traz os seguintes itens:
Unidade 1: O ser humano e sua relação com a
natureza
Capítulo 1: Epidemias e a exploração da natureza
Capítulo 2: Cultura no mundo contemporâneo
Prática: O funk: dos bailes ao estrelato
Unidade 2: Alternativas para o desenvolvimento
Capítulo 3: Conferências, acordos e desenvolvi-
mento sustentável
Capítulo 4: Ética ambiental
Prática: Lixo na escola: transformando resíduos or-
gânicos em adubo
Organização e estrutura da coleção
A coleção é composta de seis volumes, cada um
deles organizado em duas unidades com dois capítulos
cada uma delas. Além do texto principal, cada capítulo
está organizado em seções e boxes. Não há hierarqui-
zação conceitual ou temática entre cada volume.
� Descrição das seções e dos boxes
■ Contexto
Nessa seção, presente em toda abertura de unida-
de e de capítulo, é apresentada uma situação cuja aná-
lise exija conteúdos, conceitos e procedimentos de di-
ferentes componentes curriculares, tornando evidente
a complexidade dos fenômenos sociais.
Espaço
e tempo2
UNIDA
DE
No passado distante, era comum que as pessoas passassem a vida toda sem sair de seu lugar de nascimento e tivessem o dia a dia marcado pelo ritmo da natureza. Em 1500, a esquadra comandada por Pedro Álvares Cabral demorou 45 dias para atravessar o oceano Atlântico desde Lisboa (Portugal) até o litoral brasileiro, nos arredores de onde atualmente está Porto Seguro (BA). Nos dias atuais, o mesmo percurso, de avião, é feito em cerca de oito horas.
Em 1893, o escritor Júlio Verne (1828-1905) publicou um livro com uma ideia que na época parecia absurda: dar uma volta completa no mundo em oitenta dias. Esse foi um período de inovações e mudanças profundas nas sociedades, e o mundo passou gradativamente do ritmo da natureza para o ritmo das máquinas. Pouco mais de cem anos depois, em 1995, um voo comercial levou 31 horas e 27 minutos para completar essa mesma jornada.
O desenvolvimento tecnológico permitiu que nos deslocássemos mais rapidamente pela superfície terrestre, e isso fez com que a nossa percepção do espaço e do tempo mudasse também. Lugares distantes ficaram próximos. Ao acelerarmos as máquinas, aceleramos também várias dimensões da vida.
Reúnam-se em grupo e reflitam coletivamente sobre questões espaço-temporais com base nas propostas a seguir.
1. Observem seu cotidiano e apontem possibilidades de mensurar o tempo e o espaço, assim como de situar-se neles. Que tecnologias contribuem para isso?
2. Observem um mapa-múndi político ou consultem um aplicativo de mapas por satélite e localizem as cidades de São Paulo (SP), Pau dos Ferros (RN) e Lisboa (Portugal). Qual cidade está mais perto de São Paulo: Pau dos Ferros ou Lisboa? Expliquem seu raciocínio geográfico.
3. Identifiquem alguns aspectos comportamentais ou sociais do passado que continuam presentes atualmente e outros que não estão mais presentes, pensando em mudanças e permanências.
Veja as respostas no Manual do Professor.
Contexto NÃO ESCREVA NO LIVRO ESSE TEMA SERÁ
RETOMADO NA SEÇÃO PRÁTICA
86
Para
mount/
Warn
er
Bro
thers
/Kobal/S
hutt
ers
tock
A nave espacial Endurance próxima ao buraco negro Gargântua. Cena do filme Interestelar, de 2014,
dirigido por Christopher Nolan. Gargântua seria um corpo celeste tão denso, com um campo gravitacional
tão forte, que poderia provocar distorções no espaço-tempo.
87
■ Saber +
Por meio de indicação
de sites, filmes e livros, es-
se boxe tem por objetivo
ampliar o repertório do
estudante sobre temas re-
lacionados aos conteúdos
estudados ao longo do
capítulo.
■ Conexões
Nessa seção é trabalhada a interdisciplinaridade
de determinados temas com outros componentes
curriculares, por exemplo, disciplinas que não estão
presentes no currículo escolar e de outras áreas do
conhecimento.
CONEXÕESARTE
Muitos artistas contemporâneos expõem ao público a questão dos re-fugiados e manifestam, em suas obras, críticas às políticas de restrição de imigração.
Leia o texto abaixo, que trata de um desses artistas, observe as obras e responda às questões.
Banksy critica tratamento de refugiados em grafite de Steve Jobs
[O artista] Banksy voltou a se
manifestar a favor dos refugiados
que procuram asilo na Europa e
nos Estados Unidos. Ele inaugu-
rou um grafite no campo que re-
cebe essa população em Calais, na
França, com a imagem de Steve
Jobs (1955-2011), informou o “The
Guardian”.
Na imagem, o fundador da
Apple segura um computador
Mac intosh em uma das mãos e
um saco preto na outra. A escolha
faz referência à origem de Jobs, fi-
lho de um sírio que imigrou para
os Estados Unidos após a Segun-
da Guerra Mundial.
O grafite veio acompanhado
de uma declaração de Banksy:
“Nós somos levados a acreditar
que a imigração drena os recur-
sos dos nossos países, mas Steve
Jobs era filho de um imigrante sí-
rio. A Apple é a companhia mais
rentável do mundo, paga mais de
US$ 7 bilhões ao ano em impos-
tos e só existe porque deixaram
um jovem de Homs [cidade síria]
entrar.”
Além da imagem de Jobs,
Banksy também se manifestou
nos muros do porto francês de
Calais com a adaptação para o
grafite de “A Balsa da Medusa”, de
Théodore Gericault.Grafite de Banksy, de 2015, é uma adaptação de A Balsa da Medusa, de Théodore Gericault, 1818.
Grafite de Banksy, feito em 2015 no campo de refugiados de Calais, na França, retrata Steve Jobs, fundador da Apple, como um imigrante.
Ph
ilip
pe
Hu
gu
en
/AF
Ph
em
is.f
r/A
FP
36
NÃO ESCREVA NO LIVRO
Em agosto, Dismaland, parque temático temporário de Banksy [versão
sombria da Disneylândia, funcionou em agosto e setembro de 2015 na ci-
dade de Weston-super-Mare, Inglaterra], criticou o tratamento dado aos re-
fugiados com uma instalação de barcos transportando corpos. Desde seu
fechamento, em setembro, sua infraestrutura foi doada para construir abri-
gos provisórios para os imigrantes.
Obra de Banksy em Dismaland, de 2015, que aborda a questão dos refugiados chegando à Europa. O barco, tal como um brinquedo, podia ser pilotado por controle remoto no lago do parque.
BANKSY critica tratamento de refugiados em grafite de Steve Jobs. Folha de S.Paulo, 14 dez. 2015. Ilustrada. Disponível em: https://m.folha.uol.com.br/ilustrada/2015/12/1718831-banksy-
critica-tratamento-de-refugiados-em-grafite-de-steve-jobs.shtml. Acesso em: 6 jun. 2020.
1. Cada uma das três obras reproduzidas no artigo busca estimular a refle-xão do público de diferentes maneiras. Identifique e analise a crítica con-tida na obra que:
a) faz referência a uma tela que retrata um acontecimento histórico, asso-ciando o episódio à realidade atual dos imigrantes.
b) recorre à representação de descendente de imigrantes que, contrarian-do o senso comum, ampliou a riqueza material do país que o acolheu.
c) retrata de forma realista a experiência de muitos refugiados que cru-zam o mar Mediterrâneo, com o intuito de, a partir da imagem, provocar desconforto e comoção por parte do público.
2. Esteticamente, qual das obras você prefere? E que sentimento ou emo-ção você sente ao apreciar cada uma delas? Veja as respostas no Manual do Professor.
Organização Internacional para as Migrações (IOM). Disponível em: www.iom.int. Acesso em: 14 abr. 2020.
Organização intergovernamental com mais de 120 países-membros que realiza estudos sobre migração e desenvolvimento, combate a migração forçada e incentiva meios de regulamentar a circulação de pessoas (site em inglês, espanhol e francês).
Saber
Re
pro
du
ção
/w
ww
.io
m.in
t
Co
rbis
/Ge
tty I
mag
es
37
■ Diálogos
Nessa seção são apresentadas atividades de dife-
rentes formatos, com abordagem interdisciplinar de
fixação, verificação e ampliação de conteúdo. Para isso,
são utilizados diversos recursos, por exemplo, gráficos,
obras de arte, artigos de opinião, textos de referência,
mapas e fotografias.
DIÁLOGOSNÃO ESCREVA NO LIVRO
• Atualmente, na Amazônia, há diferentes ONGs missionárias, nacionais e estrangeiras, em projetos de evangelização e também de integração cul-tural de povos indígenas à sociedade ocidental. Os métodos são tão sofis-ticados que envolvem curso de pilotagem de avião para os missionários e até a construção de réplicas de aldeias Yanomami na Pensilvânia, nos Estados Unidos, onde fazem encenações para angariar missionários e vo-luntários, que interagem com atores que se passam por índios, sensibili-zando-os para sua causa e também servindo para treiná-los sobre como realizar a aproximação com os nativos uma vez na Amazônia.
Leia a seguir o trecho de uma reportagem no qual uma liderança indígena e um líder missionário expõem seus pontos de vista sobre o tema.
[...] Para Dinaman Tuxá, o coordenador-executivo da Apib [Articu-
lação dos Povos Indígenas do Brasil], o trabalho missionário demoniza
saberes tradicionais e “tenta desaculturar nossas comunidades”.
Ele afirma que, embora indígenas brasileiros lidem com missioná-
rios desde 1500, nos últimos anos, evangelizadores têm se articulado
com outro grupo poderoso na política brasileira, o agronegócio, impon-
do riscos adicionais às comunidades.
“Eles não querem mais só evangelizar, eles querem trazer as comu-
nidades para o meio urbano e liberar nossas terras para plantar soja,
tirar minérios, criar gado.”
Para Edward Luz, presidente da Missão Novas Tribos do Brasil
(MNTB), a evangelização altera a cultura de um povo tanto quanto o
provimento de serviços de saúde e de educação. “A partir do momento
em que você dá um antibiótico, um remédio antimalária, você alterou
toda a cosmovisão de um povo. Você vai negar dar saúde para o índio?”
Veja as respostas das atividades desta
seção no Manual do Professor.
Avião da Asas de Socorro, entidade missionária fundada em 1955 e que oferece cursos para formar mecânicos e pilotos dedicados “à causa do evangelismo nas aldeias”. Foto de 2000 na Amazônia.
Asas d
e S
oco
rro
/ww
w.b
bc.c
om
30
Ele afirma que missioná-
rios deveriam ser livres para
atuar em qualquer comuni-
dade indígena, inclusive as
isoladas, e que esse trabalho
pode salvar alguns grupos da
extinção.
“Qualquer povo com me-
nos de 400 pessoas está fada-
do ao extermínio por razões
óbvias, como a consangui-
nidade. Tem que haver uma
política de aproximação des-
ses povos”, defende. [...]
FELLET, João. Missionários até aprendem a pilotar avião para evangelizar
índios na Amazônia. BBC News Brasil, 18 dez. 2018. Disponível em: www.bbc.com/
portuguese/brasil-46569827. Acesso em: 22 jul. 2020.
a) Releia os argumentos levantados no texto. Com quais argumentos você
concorda? Por quê?
b) Reflita sobre a avaliação que fez sobre os argumentos no texto e res-
ponda: Você saberia dizer se foi influenciado pelos seus próprios valo-
res para se posicionar contra ou a favor de cada um deles?
c) Agora, reúna-se com um colega de sala e debatam sobre a possibilidade
ou impossibilidade de isenção sobre o tema e se a isenção é sempre
um valor em si.
d) O texto apresenta apenas parte dos pontos de vista divergentes de
duas lideranças. Porém, inúmeras abordagens podem ser feitas sobre
essa questão. Divididos em pequenos grupos, façam uma pesquisa
para conhecer mais a fundo o posicionamento de outros atores sociais
e instituições sobre esse tema. Cada grupo deve focar a pesquisa em
uma das instituições listadas a seguir:
• Funai;
• Instituto Socioambiental;
• Testemunhas de Jeová;
• Conselho Indigenista Missionário;
• Lideranças indígenas da Amazônia contrárias à evangelização;
• Lideranças indígenas da Amazônia favoráveis à evangelização.
e) Apresentem aos colegas da sala o resultado das pesquisas, destacando
aquilo que consideraram mais importante.
f) Ao final, exponham seus pontos de vista sobre essa questão da evan-
gelização dos povos indígenas que vivem na floresta, afastados dos
modos de vida ocidentais.
Padres salesianos no Alto Rio Negro (AM), em 1914.
Dio
ce
se
de
São
Gab
rie
l d
a C
ach
oe
ira, A
M/w
ww
.bb
c.c
om
31
A paisagem é a aparência da realidade geográfica, aquilo que nossa percep-ção auditiva, olfativa, tátil e, principalmente, visual capta. Embora as paisagens materializem relações sociais, econômicas e políticas travadas entre os grupos humanos, essas nem sempre são percebidas. Por exemplo, o plano diretor de muitas cidades define em quais bairros podem ser construídos prédios altos, quais são zonas exclusivamente residenciais e quais são de uso misto: comer-cial e residencial. Ou seja, nesse caso, a organização do espaço e a paisagem que a materializa é fruto de uma lei, de uma decisão política. Por isso, desven-dar as paisagens requer observação, percepção e investigação, com isso é possível apreender o espaço produzido pela sociedade em sua essência.
Podemos dizer, então, que o espaço geográfico é formado tanto pela so-ciedade quanto pela paisagem permanentemente construída e reconstruída pelos grupos humanos. Embora a paisagem muitas vezes seja associada à natureza, ela também expressa a sociedade. Ou seja, a paisagem é composta de elementos culturais, construídos pelo trabalho humano, e de elementos naturais, resultantes da ação dos processos da natureza. O espaço geográ-fico materializa todos esses elementos mais as relações humanas que se desenvolvem na vida em sociedade. Em outras palavras, é no espaço geográ-fico que se desenrola a história humana.
Para ilustrar didaticamente essas relações e evidenciar a diferença en-tre espaço e paisagem, Milton Santos afirmou que, se por algum motivo a humanidade fosse extinta, teríamos o fim da sociedade e, consequente-mente, do espaço geográfico, mas a paisagem construída permaneceria. No entanto, se a humanidade desaparecesse, quem chamaria a paisagem de paisagem? Os seres humanos, por viverem em sociedade, desenvolvem as técnicas, criam os objetos e também os conceitos que os definem. Não é possível dissociar o trabalho, o pensamento e a linguagem, que são ca-racterísticas intrinsecamente humanas. Por isso, Lev Vigotski (1896-1934) afirmou em suas obras que a relação humana com o mundo se dá mediada pelo trabalho e pela linguagem. Além disso, caso a humanidade deixasse de existir, com o passar do tempo as formas construídas se degradariam pela ação do intemperismo e por falta de manutenção, como sugere o do-cumentário O mundo sem ninguém.
Metamorfoses do espaço habitado. Milton Santos. Hucitec, 1997.
Um dos livros de leitura mais acessível do geógrafo brasileiro. No capítulo 5, ele explica a diferença entre os conceitos de paisagem e espaço geográfico.
O mundo sem ninguém. The History Channel. Estados Unidos, 2008.
Esse documentário ficcional busca responder a uma pergunta recorrente: “O que aconteceria se o homem desaparecesse da Terra?”. Feito por computação gráfica, mostra o que poderia acontecer horas, meses e anos após o desaparecimento da humanidade.
Saber
Re
pro
du
ção
/Th
e H
isto
ry
Ch
an
ne
lR
ep
rod
ução
/Ed
ito
ra H
ucite
c
93
194
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 194V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 194 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
■ Conceitos
Esse boxe traz a siste-
matização de alguns con-
ceitos de Ciências Huma-
nas trabalhados em cada
capítulo.
■ Você precisa saber
Ao final do capítulo,
essa seção traz mapas
conceituais, listas de con-
ceitos ou diagramas para
resumir e sistematizar al-
guns dos conteúdos do
capítulo.
■ Conversa
Nos boxes, são apre-
sentadas atividades orais
que envolvam empatia,
respeito ao outro, res-
ponsabilidade e ética.
■ Interpretar
Nesse boxe, são explo-
rados textos de terceiros
em seus mais diversos gê-
neros – fotografias, obras
de arte, mapas, gráficos –,
sob a perspectiva de suas
regras de composição, sig-
nificado e sentido.
■ Retome o contexto
Nessa seção são apresentadas atividades que reto-
mam as situações vistas no boxe Contexto, na abertura
do capítulo.
■ Prática
Nessa seção, localizada ao final de cada unidade, há
uma proposta de um projeto coletivo no qual os estu-
dantes aplicam diferentes metodologias de pesquisa.
PRÁTICA
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA BNCC• Competências gerais da Educação
Básica: CG1, CG2, CG4 e CG5.
• Competência e habilidades específicas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas: Competência 1: EM13CHS101, EM13CHS102, EM13CHS103, EM13CHS104 e EM13CHS106.
• Competência e habilidade específica de Linguagens e suas Tecnologias: Competência 7: EM13LGG704.
TEMA CONTEMPORÂNEO TRANSVERSAL
Cidadania e Civismo• Vida Familiar e Social
Qual é a história do lugar em que você mora?
Para começar
Nesta unidade, estudamos os conceitos de população e territórioe as diversas relações que podem existir entre eles. Quando tratamos da população brasileira, por exemplo, referimo-nos ao conjunto de ha-bitantes do Brasil, entre os quais estamos incluídos. Como parte dessa população, vivemos em um território demarcado pelos limites fronteiri-ços do Estado da República Federativa do Brasil e compomos o que se denomina povo brasileiro, que é formado por indivíduos natos ou natu-ralizados, com direitos e deveres como cidadãos, independentemente de etnia, classe social, gênero ou religião.
O fato de sermos brasileiros e habitarmos esse território nos con-cede um sentimento de brasilidade que indica uma identificação com esse país. Isso significa que, de forma geral, nos identificamos com os demais brasileiros ao compartilharmos determinadas semelhanças culturais (língua, valores, comportamentos, hábitos, etc.), além de es-
tarmos submetidos a uma mesma legislação. A percepção e a conscientização desse sentimento de per-
tencimento a um lugar e “domínio” de um território de forma mais profunda exigem observação e reflexão. Para
isso, é necessário estudar a história desse lugar por meio da observação da pai-
sagem, da pesquisa e da análise de diferentes fontes que podem fornecer informações importantes para co-
nhecer a história e a cultura desse re-corte do espaço geográfico. Analisar es-
sas fontes, como documentos, fotografias, objetos, relatos e traços na paisagem, por exemplo, é uma tarefa comum entre os pes-
quisadores de Ciências Humanas, sobretudo entre historiadores, geógrafos e sociólogos.
Neste projeto, teremos a oportunidade de exercitar essa metodologia de pesquisa para conhe-
cermos melhor a história do lugar em que vivemos.
Análise documental (princípios de análise de discurso)Existe um conjunto de materiais que, atualmente, são conside-
rados documentos nas áreas de História e Geografia. Eles podem ser
Veja as orientações de como trabalhar
esta seção no Manual do Professor.
Falar de um país significa considerar as fronteiras, o território e os habitantes, além das relações políticas, sociais e culturais específicas de uma nação.
bgblu
e/G
ett
y Im
ages
78
Muitos desses documentos, independente-mente do suporte em que se encontram – escri-tos, visuais, sonoros, audiovisuais ou digitais –, são considerados fundamentais para algumas sociedades, pois expressam um esforço de diferentes grupos para deixar uma marca às futuras gerações. Geralmente, ela costuma ser positiva, uma vez que é uma forma de ressaltar a importância de um povo ou de registrar uma época marcante.
Os documentos históricos guardam em si muitos mistérios que precisam ser revelados pelos historiadores. Um dos segredos que mais intrigaram esses profissionais, desde o final do século XIX até meados do século XX, era o de verificar a veracidade das fontes, ou seja, dos documentos. Mas como fazer isso? Como ter certeza de que o docu-mento é verdadeiro e condiz com o que realmente aconteceu?
Vamos procurar entender alguns documentos que contam como a história do bairro em que você vive foi construída?
Mãos à obra!
O diário de Anne Frank tornou-se um livro mundialmente conhecido. As páginas manuscritas, atualmente expostas no Centro de Anne Frank, em Berlim (Alemanha), são um registro de uma garota que viveu com a família em um esconderijo durante o regime nazista na Alemanha.
O centro histórico de Ouro Preto (MG), assim como a área central de diversos municípios do país, traz muitas informações sobre a história de um lugar. Os monumentos históricos também podem ser considerados documentos, pois são elementos da paisagem que representam características de determinado período histórico. Foto de 2018.
O jornal A província de
São Paulo, atualmente denominado O Estado
de S. Paulo, noticiou a Proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Além de documentar um acontecimento histórico, o texto do jornal fornece, de modo indireto, outras informações, por exemplo, a grafia utilizada na escrita da época.
registros escritos oficiais (documentos institucionais de um município ou de um país, documentos individuais, etc. ), registros escritos extraoficiais(reportagens de jornais e revistas, panfletos, etc.) e registros informais(cartas, diários, receitas culinárias, etc.). Outros materiais que podem ser considerados documentos são mapas, monumentos, gravações (de músi-cas, de filmes, de depoimentos, etc.), obras de arte e arquitetônicas, fotogra-fias, entre outros. Observe a seguir alguns exemplos desses materiais.
Acerv
o E
sta
dão/a
cerv
o.e
sta
dao.c
om
.br
Editora
Record
/BestB
ols
o
Rodrigo G
alin
dez/
Wik
ipedia
/Wik
imedia
Com
mons
Marc
os A
mend/P
uls
ar
Imagens
79
Representações do espaço geográficoA representação cartográfica
WATTERSON, Bill. Calvin e Haroldo: Yukon ho! São Paulo: Conrad, 2008. p. 56.
©2
010
Bill
Watt
ers
on
/Dis
t. b
y A
tlan
tic
Syn
dic
atio
n/U
niv
ers
al U
clic
k
• Na tirinha, Calvin e Haroldo estão nos Estados Unidos e planejam ir a Yukon, um território localizado no noroeste do Canadá. Para ir até lá, saindo do estado de Washington (noroeste dos Estados Unidos), por exemplo, é necessário atravessar toda a província canadense da Colúmbia Britânica, ou seja, cerca de 1 500 quilômetros em linha reta, ou bem mais que isso indo de carro. Eles consultaram um globo terrestre para ter uma noção da distância e do tempo de viagem. Você considera que fizeram uma boa opção? Quais seriam as opções disponíveis atualmente?
Veja respostas e orientações
no Manual do Professor.
Interpretar
NÃO ESCREVA NO LIVRO
Em um mapa, os elementos que compõem o espaço geográfico são re-presentados por pontos, linhas, texturas e cores, ou seja, são usados sím-bolos próprios da Cartografia. Diante da complexidade do espaço geográfico, algumas informações são priorizadas em detrimento de outras. É impossível representar todos os elementos – físicos, econômicos, humanos e políticos – em um único mapa, cujo objetivo é permitir o registro e a localização dos elementos cartografados e facilitar a orientação no espaço geográfico. Por-tanto, qualquer mapa será sempre uma simplificação da realidade para aten-der ao interesse do usuário.
Cartografia
Segundo a Associação Cartográfica Internacional (ACI), em definição estabelecida em 1966 e ratificada pela Unesco no mesmo ano: “A Cartografia apresenta-se como o conjunto de estudos e operações científicas, técnicas e artísticas que, tendo por base os resultados de observações diretas ou da análise da documentação, se voltam para a elaboração de mapas, cartas e outras formas de expressão ou representação de objetos, elementos, fenômenos e ambientes físicos e socioeconômicos, bem como a sua utilização”. (IBGE. Noções básicas de Cartografia. Rio de Janeiro: IBGE, 1999. p. 12).
Conceitos
O mapa é uma das mais antigas formas gráficas de comunicação, precedendo até mesmo a escrita. Os primeiros mapas foram esculpidos em pedra ou argila.
Re
pro
du
ção
/Mu
se
u d
e B
ag
dá,
Iraq
ue
Re
pro
du
ção
/Arq
uiv
o d
o a
uto
r
O mapa de Ga-Sur, que pertence ao acervo do Museu de Bagdá, no Iraque, é um esboço rústico esculpido em um pedaço de argila de 8 cm × 7 cm e foi encontrado em 1930 nas ruínas dessa cidade, situada a cerca de 300 quilômetros ao norte da antiga Babilônia, em território do atual Iraque. Estima-se que tenha sido feito por volta de 2500 a.C., na Mesopotâmia, pelos sumérios.
Mapa de Ga-Sur: interpretação
Mapa de Ga-Sur: original
104
• Após os estudos e as reflexões sobre território e territorialidade, mais especificamente so-bre as territorialidades construídas pelos jovens, sejam elas no espaço físico ou virtual, re-tome suas respostas às duas questões iniciais deste capítulo e faça as adequações que avaliar necessárias. Veja as respostas no Manual do Professor.
Retome o contexto
Elaborado pelos autores.
pode ser
como
como conceito
como conceito
define o total de habitantes
de um
é sinônimo derepresentada por gráfico de
expressa pelo fluxo de
sobretudo nas
materializa-se no
define ohabitado por um
controlado por um
Povo
Estatal
Territorialidades urbanas
Estrutura
Movimentação
Antropológico
Crescimento
Cidades
Território
Estado
Músicas
Grafite
Esportes, etc.
Território nacional
Migrantes Refugiados
ControleOrganização das Nações
Unidas (ONU)
Culturas juvenis
Crescimento vegetativo
Pirâmides etárias
Espaço físico
Espaço virtual
POPULAÇÃO
Povo
Geográfico- -quantitativo
Territorialidades
Dinâmica
é um conceito
é diferente de
pode ser estudada
em sua
ao estabelecer estratégias de
controle social do espaço define
se manifesta por meio de
definindo
Grupal
representado por gráfico de
define habitantes
natos e naturalizados
de um
agente que exerce a
soberania sobre um
porém, como conceito político-
-territorial é sinônimo de
Nação Etnia
que habita um
sobre o qual pode não ter
Identidade cultural
Território
representados na
Jurídico- -político
define um grupo humano com
tais como
Estado nacional
77
VOCÊ PRECISA SABERNÃO ESCREVA NO LIVRO
77
1. É possível afirmar que o mundo está ficando “menor”? Vocês concordam com essa ideia?
2. Que tecnologias contribuem para esse “encolhimento” do mundo?
3. É possível dizer que o espaço geográfico também está “encolhendo”?
Retome o contexto
Mapa conceitual elaborado pelos autores.
Veja respostas e orientações no Manual do Professor.
121121
As múltiplas formas de exercitar o poderÉ preciso considerar que, ao longo do tempo,
muitas vezes determinados grupos sociais pas-saram a escrever a história por meio da constru-ção de um discurso quase uniforme da realidade social, encobrindo diversidades, conflitos, desi-gualdades e contradições. Entretanto, também existiram – e existem – outros tipos de escrita da história: aquelas que contam as memórias dos idosos, por meio dos relatos de suas vivências e seus modos de vida; os discursos criminais sob a ótica dos réus e das testemunhas; os registros materiais de intervenção no espaço geográfico; a visão das mulheres sobre determinados aconte-cimentos, entre outros. Existem muitas vozes e muitos suportes por meio dos quais elas se ma-
nifestam e podem ser estudadas. Dessa forma, se tem outras perspectivas e narrativas sobre os mesmos fatos e fenômenos históricos.
De modo geral, podemos dizer que a escrita da história é o resultado de uma série de disputas entre grupos sociais, de acordo com sua forma de compreender e explicar o mundo. Quando um grupo ocupa as instituições políticas e coloca seu projeto em prática, uma de suas primeiras atitudes é procu-rar justificar, no campo das ideias, as estratégias de sua atua ção. Para isso recorre ao passado e encon-tra uma forma que lhe pareça adequada de contar e explicar os eventos ocorridos. Às vezes até apre-sentam narrativas deturpadas, inventadas e sem conexão com fatos comprovados, documentados.
A obra 1984, último romance escrito por George Orwell (1903-1950), narra a história de Winston, prisioneiro de uma sociedade controlada por um Estado opressor, fundado exclusivamente pelo desejo do exercício do poder.
Nesse futuro sombrio, criado por Orwell em 1948, Winston enfrentará o sistema opressor ao qual está submetido, passando por diversas situações, que vão da descoberta do amor à traição e à tortura.
1. Com base no que foi visto anteriormente, forme um grupo com três ou quatro colegas e conversem sobre o significado da seguinte citação de 1984:
Quem controla o passado controla o futuro; quem controla o presente
controla o passado.ORWELL, George. 1984. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 47.
2. Anotem suas ideias no caderno e conversem sobre elas com os colegas, sob orientação do professor. Veja respostas e orientações no Manual do Professor.
Conversa
Capa do livro 1984, de George Orwell.
Estar no poder implica ter acesso à maior parte dos recursos humanos e técnicos com que a so-ciedade conta (diferentes profissionais, estrutura de segurança pública, educacional, religiosa e de comunicação) e a possibilidade de influenciar – incentivando, desestimulando e até proibindo – o que as pessoas falam, leem e escrevem.
Isso não quer dizer que os outros grupos, que não estão no poder, não possam contar o passado do seu ponto de vista. Ainda que não registrados pelo discurso oficial, esses grupos podem se ma-nifestar, atuar politicamente, registrar e escrever a
própria história, ainda que utilizando meios alter-nativos. Porém, em contextos governamentais não democráticos, esses registros não oficiais são cen-surados, adulterados, invalidados e até destruídos. Se não houver meios de se perpetuarem – seja pela possibilidade de criação de documentos escritos, orais ou visuais, seja pela sua preservação –, as memórias e os registros de certos grupos podem ser silenciados, provocando uma lacuna entre as possíveis representações do passado.
Os casos retratados nas imagens a seguir (a fotomontagem da polícia de Londres e a destrui-
Re
pro
du
ção
/Ed
. C
om
pan
hia
Das L
etr
as
NÃO ESCREVA NO LIVRO
134
1. (PPL – 2015) As figuras representam a dis-tância real (D) entre duas residências e a dis-tância proporcional (d) em uma representação cartográfica, as quais permitem estabelecer relações espaciais entre o mapa e o terreno. Para a ilustração apresentada, a escala numé-rica correta é
c)
d)
e)
3. (PPL – 2015) As diferentes representações cartográficas trazem consigo as ideologias de uma época. A representação destacada se in-sere no contexto das Cruzadas por
Re
pro
du
ção
/EN
EM
2015
Disponível em: www.unric.org. Acesso em: 9 ago. 2013
Re
pro
du
ção
/En
em
, 2
016
.
Duarte, P. A. Fundamentos de cartografia. Florianópolis: UFSC, 2002.
a) 1/50
b) 1/5 000
c) 1/50 000
d) 1/80 000
e) 1/80 000 000
2. (2016)
X
QUEIROZ FILHO, A. P.; BIASI, M. Técnicas de cartografia. In: VENTURI, L. A. B. (Org.) Geografia: práticas de campo, laboratório e sala de aula. São Paulo: Sarandi, 2011 (adaptado).
a) revelar aspectos da estrutura demográfica de um povo.
b) sinalizar a disseminação global de mitos e preceitos políticos.
c) utilizar técnicas para demonstrar a centrali-dade de algumas regiões.
d) mostrar o território para melhor administra-ção dos recursos naturais.
e) refletir a dinâmica sociocultural associada à visão de mundo eurocêntrica.
X
Imag
en
s:
Re
pro
du
ção
/En
em
, 2
016
.
Inte
rfo
to/F
oto
are
na
Veja respostas e orientações
no Manual do Professor.
Imag
en
s:
Re
pro
du
ção
/En
em
, 2
016
.
Interfoto/Fotoarena
A ONU faz referência a uma projeção cartográ-fica em seu logotipo. A figura que ilustra o mo-delo dessa projeção é:
a) X
b)
120
QUESTÕES DO ENEM NÃO ESCREVA NO LIVRO
Permanências e mudanças: tempo e história
No cotidiano, frequentemente temos a sensação de que diversas situa-ções permanecem, enquanto outras se transformam ou deixam de existir. Por exemplo: se por um lado a frequência à escola, ao longo de vários anos, ou os hábitos alimentares das famílias, principalmente nos encontros fes-tivos, como os aniversários, representam permanências, por outro, a con-clusão do Ensino Médio, o falecimento de um familiar ou um novo emprego representam mudanças na nossa vida.
Para compreendermos uma sociedade, precisamos considerar as perma-nências e mudanças ao longo do tempo. Entretanto, é preciso lembrar que atividades econômicas, práticas sociais e ideias se transformam em ritmos diferentes. Assim, um acontecimento como a chegada dos europeus à Amé-rica, em 1492, não representou uma mudança completa nos dois continen-tes, mas foi um indicativo de que determinados aspectos se transformaram, enquanto outros permaneceram inalterados. Portanto, as mudanças histó-ricas seguem ritmos diferentes: alguns fenômenos transformam-se mais lentamente, outros surgem e desaparecem com rapidez.
Vista do Theatro Municipal de São Paulo, localizado na região central de São Paulo (SP), em 1911 e em 2019.
Re
pro
du
ção
/Pre
feitu
ra M
un
icip
al d
e S
ão
Pau
loD
elfim
Mart
ins/P
uls
ar
Imag
en
s
Observe as imagens ao lado e responda ao que se pede.
1. Quais mudanças e quais permanências você observa nas paisagens?
2. De que forma as imagens se relacionam com o conceito de “rugosidade”, estudado no capítulo anterior?
3. Na sua vida pessoal, possivelmente ocorrerão muitas mudanças e permanências assim que você concluir o Ensino Médio. O que você gostaria que mudasse e permanecesse? O que você pode fazer hoje para esses seus desejos se concretizarem?
Interpretar
Veja respostas e orientações
no Manual do Professor.
124
■ Questões do Enem
Essa seção traz ativi-
dades do Enem relacio-
nadas aos temas aborda-
dos no capítulo.
ORIENTAÇÕES GERAIS | 195
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 195V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 195 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
Referências bibliográficas comentadas
AUSUBEL, David P. Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva. Lisboa: Plátano, 2003.
Para Ausubel, a aprendizagem significativa é aquela na qual é possível associar os conhecimentos novos à estrutura cog-
nitiva de forma não arbitrária e não literal, o que permite retenção por um tempo mais longo. O contrário disso é a apren-
dizagem mecânica, na qual a retenção é muito limitada.
BACICH, Lilian; NETO, Adolfo Tanzi; TREVISANI, Fernando de Mello (org.). Ensino híbrido: personalização e
tecnologia na educação. Porto Alegre: Penso, 2015.
Reunião de artigos com definições conceituais e orientações práticas para o desenvolvimento do ensino híbrido na sala
de aula na Educação Básica.
BITTENCOURT, Circe. Ensino de Historia: fundamentos e métodos. São Paulo: Cortez, 2011.
Importante contribuição para os conhecimentos significativos na prática do processo formativo e crítico-reflexivo do
ensino de História, discutindo a seleção dos conteúdos históricos e os procedimentos metodológicos.
BRASIL. Ministério da Educação. Lei n. 9 394/1996, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm. Acesso em: 21 ago. 2020.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional estabelece os objetivos da educação nacional e regulamenta a Educação
Básica brasileira.
BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CEB n. 3, de 21 de novembro de 2018. Conselho Nacional de
Educação. Câmara da Educação Básica, Brasília, 2018. Disponível em: http://novoensinomedio.mec.gov.br/
resources/downloads/pdf/dcnem.pdf. Acesso em: 15 jul. 2020.
Essa resolução apresenta a atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio.
BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. Disponível em: http://
basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal_site.pdf. Acesso em: 21 ago. 2020.
Nesse documento são apresentadas as aprendizagens fundamentais previstas nas várias etapas da Educação Básica. A
proposta é a garantia de uma formação básica para todos os educandos do país.
BRASIL. Ministério da Educação. Temas contemporâneos transversais na BNCC: contexto histórico e
pressupostos pedagógicos. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/implementacao/
contextualizacao_temas_contemporaneos.pdf. Acesso em: 21 ago. 2020.
Nesse documento, são exploradas possibilidades de trabalho com os Temas Contemporâneos Transversais com base nas
diretrizes propostas na Base Nacional Comum Curricular.
COSTA, César Augusto; LOUREIRO, Carlos Frederico. A interdisciplinaridade em Paulo Freire: aproximações
político-pedagógicas para a educação ambiental crítica. Revista Katálysis, v. 20, n. 1, Florianópolis (SC), jan./abr.,
2017. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-49802017000100111&script=sci_arttext. Acesso
em: 19 agosto 2020.
A contribuição pedagógica de Paulo Freire na questão interdisciplinar e sua convergência para a educação ambiental crí-
tica são tratadas nesse artigo, corroborando para a visão interdisciplinar da pedagogia freireana.
FAZENDA, Ivana Catarina Arantes. Interdisciplinaridade: um projeto em parceria. São Paulo: Loyola, 2002.
O livro reúne uma série de artigos sobre interdisciplinaridade e projetos desenvolvidos em parceria.
FAZENDA, Ivana Catarina Arantes. Integração e interdisciplinaridade no ensino brasileiro: efetividade ou
ideologia. São Paulo: Loyola, 1979.
Apresenta desde a gênese e formação do conceito de interdisciplinaridade, sua utilidade e questões até a formação dos
professores.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. 44. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
Para Paulo Freire, não existe educação emancipadora sem diálogo. Esse livro se desenvolve em torno desses dois eixos e
propõe uma educação dialógica e problematizadora, portanto, emancipadora.
196
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 196V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 196 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
GARDNER, Howard. Inteligências múltiplas: a teoria na prática. Porto Alegre: Artmed, 2000.Nesse livro, Gardner discute a teoria das inteligências múltiplas, fala em sete inteligências, mas abre a possibilidade de
haver outras; em 2006, o autor passou a falar em nove inteligências, incorporando a naturalista e a existencial.
JARA, Oscar. Sistematização. In: FUMAGALLI, D.; SANTOS, J. M. P.; BASUALDO, M. E. (org.). O que e
sistematizacao: uma pergunta, diversas respostas. São Paulo: CUT, 2000.Ressalta que a sistematização da informação é apenas uma de suas faces, estendendo para a sistematização da experiên-
cia vivida, empregada no aprender da experiência, que requer método e capacidade de síntese.
LIBÂNEO, José Carlos. Adeus professor, adeus professora? Novas exigências educacionais e profissão docente. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2007.
O autor analisa as novas exigências educacionais e o papel da escola e dos professores na perspectiva de um projeto eman-
cipador de educação.
MACHADO, Nílson José. Conhecimento e valor. São Paulo: Moderna, 2004.Nesse livro, o autor discute as imagens tácitas do conhecimento, o valor do conhecimento, o tecnicismo na educação,
entre outras questões ligadas ao universo escolar.
MACHADO, Nílson José. Epistemologia e didática. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2000.Aqui o autor analisa as concepções de conhecimento, inteligência, especialmente como espectro de competências, e o
processo cognitivo.
MARINA, José Antonio. Teoria da inteligência criadora. Lisboa: Caminho, 1995.O filósofo espanhol apresenta muitos insights interessantes, que podem ser aproveitados na compreensão da realidade e
na produção do conhecimento.
MORIN, Edgar. A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. 18. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010.
Em 1997 Morin foi convidado pelo ministro da Educação da França para contribuir com a reforma do Ensino Médio e
muitas de suas contribuições estão nesse livro. Ele parte da frase de Montaigne “mais vale uma cabeça bem-feita do que
uma cabeça cheia” para sistematizar sua crítica ao conhecimento fragmentado que até então era ensinado.
MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 8. ed. São Paulo: Cortez; Brasília: Unesco, 2003.Em 1999 Edgar Morin foi convidado pela Unesco a repensar a educação para o século XXI. Esse livro sintetiza suas refle-
xões e propostas para uma educação renovada que busque romper com a fragmentação disciplinar e a dicotomia ho-
mem/natureza, corpo/alma, sujeito/objeto.
THIESEN, Juares da Silva. A interdisciplinaridade como um movimento articulador no processo ensino- -aprendizagem. Revista Brasileira de Educação, v. 13, n. 39, Rio de Janeiro, set./dez. 2008. Disponível em: https://www.scielo.br/pdf/rbedu/v13n39/10.pdf. Acesso em: 20 jul. 2020.
Nesse artigo é feito todo o histórico do surgimento do movimento pela abordagem interdisciplinar para resolução de
problemas complexos do mundo atual, com foco na sua relevância para a Educação, apresentando as contribuições dos
principais intelectuais que colaboraram com essa temática.
THURLER, Monica Gather; MAUILINI, Olivier (org.). A organização do trabalho escolar: uma oportunidade para repensar a escola. Porto Alegre: Penso, 2012.
Esse livro reúne artigos nos quais são discutidos os recortes de espaço e tempo presentes na escola e sua importância pa-
ra a organização do trabalho escolar e a promoção da aprendizagem.
VYGOTSKY, Lev S. Pensamento e linguagem. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2003.Vygotsky trabalha alguns dos conceitos-chave de sua teoria sociointeracionista, como mediação simbólica, relação entre
o pensamento e a língua, aprendizagem de conceitos cotidianos e científicos, entre outros.
ZABALA, Antoni. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Penso, 2014. Nesse livro o educador espanhol oferece orientações para melhorar a prática educativa. No capítulo 3 explica o que é se-
quência didática e fornece alguns exemplos para sua organização.
ORIENTAÇÕES GERAIS | 197
V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 197V6_CIE_HUM_Claudio_g21Sa_161a197_MPG.indd 197 28/09/2020 15:2528/09/2020 15:25
198
Orientações específicas
Sobre este volume
Neste volume foram mobilizados conceitos e pro-
cedimentos dos componentes curriculares da área de
Ciências Humanas e Sociais Aplicadas para a reflexão
dos processos de construção da cidadania e da demo-
cracia ao longo da história. A consolidação da demo-
cracia continua exigindo o enfrentamento de inúmeros
desafios, especialmente o da efetivação da justiça so-
cial. Nesse aspecto, o Brasil é um caso exemplar, visto
que é fortemente marcado por profundas desigualda-
des sociais que atingem sobretudo os grupos minori-
tários. Ao longo do volume há diversas oportunidades
para que os estudantes apliquem os conhecimentos
adquiridos ao longo do estudo da realidade local, na-
cional e mundial, exercendo seu protagonismo e, ao
mesmo tempo, tornando a aprendizagem contextua-
lizada e significativa, o que favorece o desenvolvimen-
to das Competências gerais 1, 2, 6, 7 e 9.
A Unidade 1 trata das interligações socioeconômi-
cas, especialmente quanto às independências dos
atuais países latino-americanos, muito mais compro-
metidas com a continuidade dos domínios sociais as-
sociados aos interesses externos no desenvolvimento
do capitalismo. Sob o comando das elites da socieda-
de latino-americana, os grupos sociais excluídos efeti-
varam suas resistências e estabeleceram “outros” pro-
jetos de mudanças que se tornaram exemplos na
busca por direitos na contemporaneidade. Os textos
e as atividades sobre ditaduras, resistências, condições
e contextos são conteúdos que mobilizam reflexões
aos estudantes para os embates que se apresentam no
cotidiano deles, especialmente em relação à garantia
da dinâmica democrática. Os estudantes serão moti-
vados a trabalharem as Competências gerais 1, 6 e 7.
Aprofundando o trabalho dessas Competências,
serão reconhecidas as diferenças e necessidades dos
variados segmentos sociais no país, pois a vida cotidia-
na das minorias sociais ainda está muito distante dos
segmentos privilegiados. As leituras e atividades pro-
postas no capítulo evidenciam que a cidadania é desi-
gualmente exercida pela população brasileira em seus
variados contextos e proporcionam a análise e reflexão
sobre a própria condição do estudante, de sua família
e da realidade de seu entorno. O entendimento da ori-
gem dos problemas é um pressuposto para a busca de
soluções efetivas, que passa pela ação individual e co-
letiva, seja a construção de um projeto de vida, como
o engajamento em mudanças que considera necessá-
rias em sua comunidade e no país, por meio do exer-
cício pleno da cidadania para si e para todos, levando
os estudantes a valorizarem as diferenças, desenvolven-
do as Competências gerais 8, 9 e 10.
Compreender o processo de urbanização, diferen-
ciando suas especificidades nacionais e regionais tam-
bém é um dos focos deste volume. Mas para isso é
necessário que os estudantes compreendam as relações
da cidade, e entre as cidades, em escala nacional e mun-
dial. Com isso eles poderão reconhecer os principais
problemas urbanos, com destaque para a moradia e a
segregação socioespacial, identificando as dificuldades
de acesso à moradia no Brasil e no mundo, refletindo
sobre soluções e formas de atuação cidadã. Essas abor-
dagens e as atividades propostas favorecem a aprendi-
zagem significativa e o desenvolvimento das Compe-
tências gerais 1, 2, 4 e 6.
Para encerrar o volume, é proposta uma ampla dis-
cussão sobre a construção social dos Direitos Huma-
nos, reconhecendo os quadros históricos nacionais e
mundiais que possibilitaram as conquistas por valores
que buscam garantir a dignidade humana, indepen-
dentemente de sua origem, cor, gênero, crenças ou
qualquer outra forma de distinção identitária. Os tex-
tos e as atividades estão articulados sobre como os
conceitos de diferença e desigualdade foram mobiliza-
dos na Declaração Universal dos Direitos Humanos, e
aplicados na realidade atual, para compreender os con-
ceitos de multiculturalismo, universalismo e relativismo,
o que favorece o desenvolvimento das Competências
gerais 6 e 9 pelos estudantes.
Ao final da Unidade 1, na seção Prática, é proposta
em detalhe uma atividade pautada em entrevista se-
miestruturada. Além de aprenderem a utilizar essa me-
todologia de pesquisa, trabalharem em equipe e siste-
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 198V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 198 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS | 199
matizarem o resultado do trabalho, os estudantes são
mobilizados para diversos procedimentos e reflexões
que favorecem o desenvolvimento das Competências
gerais 1, 2, 4, 5, 9 e 10. Na mesma seção, ao final da Uni-
dade 2, o projeto proposto desenvolve a metodologia
de observação participante para avaliar como são efe-
tivados os Direitos Humanos em uma praça pública
próxima à escola. Esse projeto está em profundo diá-
logo com as Competências gerais 1, 4, 5, 7 e 9.
Unidade 1
Dimensões da cidadania � Contexto (p. 16 e 17)
Nesta unidade trabalha-se a construção política na
América Latina a partir de um viés histórico e socioló-
gico. Esse trabalho começa com uma discussão sobre
democracia e sua importância na construção da cida-
dania. O contraste entre os conceitos de democracia
e ditadura é apresentado historicamente, trazendo uma
perspectiva crítica e permitindo a compreensão do
desenvolvimento da política no Brasil e na América
Latina, contribuindo para o desenvolvimento das ha-
bilidades EM13CHS602 e EM13CHS603.
O viés histórico da política na América Latina, em
especial no Brasil, ajudará os estudantes a analisar cri-
ticamente os altos índices de desigualdade social, mes-
mo no Brasil que, atualmente, possui o 9o maior PIB
mundial. Outras faces da fragilidade democrática bra-
sileira são perpassadas por discussões relativas a gêne-
ro, raça/etnicidade e classe social, principalmente no
capítulo 2, em que é trabalhada a Competência 5 de
Ciências Humanas.
A unidade é finalizada com a seção Prática, na qual
as habilidades EM13CHS106 e EM13CHS602 serão de-
senvolvidas entre os estudantes por meio de entrevis-
tas com pessoas que tenham vivido o processo de re-
democratização do Brasil, na década de 1980. Para isso,
os estudantes terão que articular o conteúdo dos ca-
pítulos com a sensibilidade de escuta e de investigação
metódica – processo do qual resultará uma maior au-
tonomia para a crítica e prática cidadã.
Todo o escopo do trabalho enriquece a compreen-
são e a valorização de conceitos como liberdade, direitos
humanos e cidadania pelos estudantes que trabalham,
principalmente, com as Competências gerais 6 e 7. Além
disso, a experiência propiciada pela execução do proje-
to prepara os estudantes, por meio das análises críticas
da sociedade na qual vivem, a modificar o presente e a
construir um futuro em que não ocorram as mesmas
violências e injustiças cometidas no passado.
■ Atividades
Antes de pedir aos estudantes que respondam às
questões, proponha uma discussão perguntando o que
é democracia para eles e se acham que esse é o melhor
sistema de governo. Modere a discussão, garantindo
que todos se manifestem livremente e que ideias di-
vergentes não sejam reprimidas. Esse questionamento
serve como diagnóstico sobre o que os estudantes en-
tendem por democracia. No final das atividades, reto-
me as respostas dadas para que comparem suas pró-
prias opiniões.
1. O texto fala da violação dos direitos de liberdade
de expressão, sobretudo a criminalização de ma-
nifestações populares ou o desrespeito à oposição
política, que são formas de ameaçar a democracia.
2. Espera-se que os estudantes reafirmem os valores
da democracia, a partir do texto. Segundo os au-
tores, há três aspectos que fazem da democracia
um regime político superior: garantia do direito
à vida, à liberdade de expressão e à participação
política de grupos minoritários.
3. Neste caso, o conceito de minoria não se refere à
quantidade de pessoas, mas sim a grupos que têm
menor acesso a direitos (educação, moradia digna,
trabalho, etc.). Por isso, um regime democrático
que tem como base a igualdade de direitos deve
ter um olhar especial para esses grupos margina-
lizados, garantindo a equidade.
4. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes
percebam que a manutenção da democracia só
pode ser garantida com a própria atuação na
democracia. Ou seja, uma democracia fortalecida
acontece quando as pessoas são atuantes nos
debates, nas propostas de leis, na avaliação e no
monitoramento dos direitos conquistados.
Nessas atividades, espera-se que os estudantes de-
senvolvam as habilidades de interpretação de texto
seguidas de análise do regime político democrático no
atual contexto brasileiro, trabalhando as habilidades
EM13CHS103 e EM13CHS603.
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 199V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 199 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
200
Capítulo 1
Democracia e ditadura no Brasil e na América Latina
Diálogos com a BNCC
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA BNCC
Competências gerais da Educação Básica
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG9 e CG10.
Competências específicas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
1, 5 e 6.
Habilidades de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
EM13CHS103; EM13CHS503, EM13CHS504; EM13CHS602 e EM13CHS603.
Competências específicas de outras áreas
Linguagens e suas Tecnologias: 6.
Habilidades de outras áreas
EM13LGG604.
TCT
Cidadania e Civismo: Educação em Direitos Humanos; Multiculturalismo: Educação para a valorização do multiculturalismo nas matrizes históricas e culturais Brasileiras.
Este capítulo trata da especificidade histórica bra-
sileira, perpassada por algumas informações sobre a
América Latina, tendo regimes oligárquicos de base
econômica latifundiária e escravocrata, uma República
democrática frágil, atravessada por períodos de auto-
ritarismo e violência, especialmente nas ditaduras da
Era Vargas e militar.
São apresentados conceitos como paternalismo e
populismo, bem como suas consequências na forma-
ção das sociedades brasileira e latino-americana, pos-
sibilitando aos estudantes o trabalho com a Compe-
tência 6 de Ciências Humanas e o desenvolvimento
das habilidades EM13CHS602 e EM13CHS603, e da
Competência geral 1.
Ainda com base nesses temas são trabalhadas as
Competências 1 e 5 de Ciências Humanas, uma vez
que os estudantes são levados a analisar e debater,
de forma consciente e com embasamento teórico,
os processos políticos e econômicos, reconhecendo
de que forma esses processos resultaram em desi-
gualdade e violência na sociedade. Essa temática tam-
bém favorece o desenvolvimento das Competências
gerais 6 e 7, auxiliando os estudantes a refletir sobre
si e sobre o mundo.
O trabalho em sala de aula
� Contexto (p. 18)
Nas atividades propostas nesta seção, os estudan-
tes são levados a articular conhecimentos prévios com
a percepção crítica do cotidiano para propor hipóteses
e analisar a participação dos cidadãos na política bra-
sileira, desenvolvendo a habilidade EM13CHS103.
O texto apresentado fala sobre a importância do
voto como forma de cidadania. Explique aos estudan-
tes que ser contra a maneira como a política é condu-
zida não implica em estar fora ou alheio à política, pe-
lo contrário. Se abster de pensar sobre a esfera política
e de participar dela, ou julgar que implodir o sistema
democrático e suas instituições resolveria o problema
do Brasil, é uma percepção simplista, que só aprofunda
cada vez mais a alienação e as mazelas sociais. É essen-
cial que os estudantes compreendam que a política
acontece todos os dias, e ainda que o sistema vigente
seja insuficiente, a única maneira segura e adequada
de modificá-lo é por meio de informações confiáveis,
ação e engajamento da população em debates, plebis-
citos e outras participações populares que façam valer
sua opinião a respeito de questões importantes para a
sociedade de um modo geral.
■ Atividades
1. Resposta pessoal. É esperado que os estudantes
relacionem o grande número de votos nulos e
brancos com a deslegitimação do cenário político
e como um meio de resolução dos problemas.
Nesse sentido, a continuidade de problemas so-
ciais, a manutenção de altos níveis de desigual-
dade e pobreza, aliadas a constantes escândalos
de corrupção são fatores que desestimulam parte
da população a enxergar o voto como uma fer-
ramenta de melhoria social.
2. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes
respondam que além do voto, exercer a demo-
cracia significa fiscalizar a ação dos representan-
tes políticos, conhecer e participar das ações das
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 200V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 200 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS | 201
subprefeituras, participar de manifestações para
reivindicações de direito, utilizar a ouvidoria pú-
blica do município, consultar os portais da trans-
parência de prefeituras, câmaras de vereadores e
autarquias para examinar receitas e gastos públi-
cos, entre outras ações. Se julgar interessante, leia
para os estudantes o seguinte texto, que apresenta
uma lista com diversas ações que os jovens podem
realizar para praticar a cidadania e assim contribuir
para a construção da democracia.
• Luís Fernando Iozzi. 23 formas de exercer a cidadania
além do voto. Disponível em: https://www.politize.
com.br/cidadania-23-formas-de-exercer/. Acesso
em: 12 set. 2020.
� Democracia e ditadura como conceitos opostos (p. 19 a 21)
PROFESSOR INDICADOGeografia, História ou
Sociologia
Neste tópico, é feita uma apresentação do signifi-
cado do termo ditadura ao longo da história, desta-
cando a diferença entre a ditadura romana e as formas
de ditadura contemporâneas. Dessa forma, contrasta-
-se ditadura com democracia e são oferecidos subsí-
dios para análise crítica desses conceitos. Esse processo
leva os estudantes a problematizar a política, desen-
volvendo a habilidade EM13CHS602. Nesse momento,
é possível retomar o conteúdo visto no 9o ano dos
Anos Finais do Ensino Fundamental, em História, sobre
a ditadura civil-militar.
Inicie o estudo, propondo uma conversa com os
estudantes sobre a relação entre crise social, crise po-
lítica e econômica e a ascensão de governos autoritá-
rios. Historicamente, essa relação é comum. Em um
estado de medo e insegurança, a sociedade pode ficar
mais receptiva a discursos políticos conservadores ba-
seados na força, no uso de armas e na intolerância em
relação ao outro, seja ele representado pelo estrangei-
ro ou por grupos minoritários nacionais. Se considerar
adequado, faça um paralelo ao que aconteceu na Eu-
ropa com o nazismo e o fascismo, que se disseminaram
nas populações da Alemanha e da Itália, respectiva-
mente, por causa do sentimento de humilhação e da
crise econômica gerados após a Primeira Guerra Mun-
dial. Nesse contexto de crise, surgem líderes carismáti-
cos prometendo a retomada do orgulho da nação, por
meio de discursos de superioridade racial e difusão de
suas ideologias pelas propagandas.
Ainda há relação entre crise e ascensão de grupos de
extrema direita pelo mundo segundo Leonardo Falabel-
la, pesquisador da Universidade de São Paulo (USP):
Quando existem crises econômicas, a regra
é que partidos de extrema direita se sobres-
saiam e a exceção é que os partidos de esquer-
da radical tenham mais sucesso.
FALABELLA, Leonardo. In: NAVARRO, Thais. Crise
econômica favoreceu fortalecimento de partidos de
extrema direita na Europa, analisa pesquisador, 23 maio
2018. AUN – Agência Universitária de Notícias. Disponível em:
https://paineira.usp.br/aun/index.php/2018/05/23/
crise-economica-favoreceu-fortalecimento-de-partidos-de-
extrema-direita-na-europa-analisa-pesquisador/.
Acesso em: 7 set. 2020.
As crises econômicas não são o único motivo pe-
lo qual um governo ditatorial obtém apoio da popu-
lação e, por isso, é preciso considerar cada caso e con-
texto. Mas alguns elementos são bem importantes,
como o bom uso da propaganda ou da mídia e, hoje
em dia, da internet, das redes sociais e do fenômeno
das fake news.
Conversa (p. 20)
Nessa atividade os estudantes são convidados a or-
ganizar seus conhecimentos pessoais e históricos na
compreensão de processos políticos, trabalhando a
habilidade EM13CHS103. A resposta é individual, de
acordo com a experiência de vida do estudante e com
a discussão proposta em sala de aula, por isso pode-se
recorrer a exemplos bastante relevantes na história do
Brasil, como a ditadura da Era Vargas e a ditadura mi-
litar, ou mesmo apresentar exemplos atuais, como o
de grupos de extrema direita que saíram às ruas em
2019 e 2020 pedindo a volta da ditadura militar.
Explique aos estudantes que o regime democrático
é mais complexo e pode demorar mais tempo para
gerar resultados, já que sua natureza de igualdade en-
tre parcelas da população demanda debates que res-
peitem os interesses de cada grupo, o que resulta em
processos mais longos. Entretanto, é um regime polí-
tico que incentiva o diálogo, a alteridade, a empatia e
a justiça, de forma a buscar a melhor solução para to-
dos os envolvidos e provoca o desenvolvimento inte-
gral dos seres humanos e uma sociedade mais próxima
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 201V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 201 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
202
da ideal. Para desenvolver essa ideia com os estudantes,
realize a atividade a seguir.
■ Atividade complementar
Apresente uma questão que seja comum a todos
os estudantes, por exemplo: “Qual será a metodolo-
gia/o formato da aula daqui para frente?”. Escreva o
questionamento no quadro e mostre para eles a di-
ferença entre definir a metodologia de maneira de-
mocrática e ditatorial.
No primeiro caso, todos podem opinar, levantar
modelos de aula que acham interessantes, expor suas
ideias e ouvir a dos colegas para chegar a um acordo.
Podem surgir ideias como aula ao ar livre, aula com
as carteiras formando um círculo para que todos se
vejam, aulas interdisciplinares, com experimentos ar-
tísticos, entre outras. Os proponentes dos modelos
mais aclamados devem se organizar em grupos e
construir uma argumentação defendendo o modelo.
Se achar viável, determine um tempo para que os
grupos se organizem e outro tempo, por exemplo, 5
minutos, para que se apresentem. Logo depois, deve
ser feita uma votação, na qual será decidido o mo-
delo de aula.
Depois, apresente o modo ditatorial para a mesma
questão, em que basta você apresentar qual modelo
seria adotado dali por diante, sem considerar a vonta-
de dos estudantes.
Finalize o exercício mostrando que, no modo de-
mocrático, o tempo de escolha do novo modelo de
aula foi bem maior que o outro modelo, uma vez que
demandou que os estudantes trabalhassem seus co-
nhecimentos, fizessem pesquisas sobre modelos pe-
dagógicos, tivessem que imaginar como seria uma
“aula ideal” e organizassem argumentos para conven-
cer os outros sobre a superioridade do seu modelo
de aula. Além disso, nesse processo eles desenvolve-
ram várias habilidades, como criatividade, diálogo e
alteridade em busca de uma forma melhor de apren-
dizagem.
No modo ditatorial, a escolha do modelo foi ins-
tantânea, já que tinha sido previamente definido por
você, sem necessidade de discussão. Essa decisão não
acarretou desenvolvimento de habilidades de pesqui-
sa, análise, critica, diálogo e alteridade, também não
possibilitou o uso da imaginação, criatividade e auto-
nomia para a construção de uma vida melhor.
Interpretar (p. 21)
1. Espera-se que os estudantes associem a ideia de
democracia com a de movimento contínuo, ali-
mentada pela utopia, exposta por Eduardo Galea-
no. É interessante explicar a etimologia da palavra,
que vem do grego outopos, que significa “não lu-
gar”. Este “não lugar” não diz respeito ao impossível
ou perfeito, como o senso comum costuma clas-
sificar, mas a um lugar que não existe ainda, mas
que pode ser construído. É com esse significado
em mente que Galeano escreve sobre política e
democracia. A utopia deve ser vista como um
norte para o engajamento político da sociedade.
2. Espera-se que os estudantes consigam argumentar
de forma estruturada que o sentido político de
democracia é justamente a construção constante,
pela via do diálogo e da participação política do
povo.
As atividades desse boxe possibilitam o trabalho
com a Competência geral 1 e a habilidade EM13CHS103,
ao exigir que os estudantes realizem análises utilizando
diferentes narrativas e conhecimentos científicos.
� Do século XIX ao XX: América hispano-portuguesa nos limites da independência (p. 22 a 25)
PROFESSOR INDICADO História ou Sociologia
Neste tópico, é apresentado o cenário da América
hispânica, sua estrutura social no século XIX e os even-
tos que levaram à independência da Espanha, seus
principais líderes, como Tupac Amaru II, no Peru, bem
como tentativas de organizações latino-americanas
como o pan-americanismo. Retome os estudos feitos
em História durante o 8o ano dos Anos Finais do Ensi-
no Fundamental, em que se discutiram algumas das
experiências emancipatórias da América Latina.
É importante enfatizar as influências externas, so-
bretudo os ideais da Revolução Francesa, o contexto
das guerras napoleônicas e a influência política e eco-
nômica dos Estados Unidos e da Inglaterra. Esse des-
taque permitirá aos estudantes ter a compreensão da
complexidade das relações internacionais e do quanto
estamos expostos a eventos aparentemente desconec-
tados de nossa realidade.
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 202V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 202 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS | 203
Ao longo do texto e das atividades, é esperado que
os estudantes entendam o contexto das Américas no
século XIX e o relacionem com as organizações e re-
beliões sociais para a libertação das colônias, trabalhan-
do a habilidade EM13CHS602.
Interpretar (p. 22)
1. Espera-se que os estudantes compreendam que,
embora não houvesse comunicação instantânea
como atualmente, as regiões dentro de um país
e mesmo entre países mantinham contato por
meio de cartas, documentos e viajantes.
2. Espera-se que os estudantes recorram aos seus
conhecimentos de História e à interpretação do
texto, respondendo que, inicialmente, os criollos,
membros das elites hispano-americanas, eram os
responsáveis pela disseminação dos ideais libertá-
rios, pois tinham como interesse a independência
das colônias. É importante que fique claro para os
estudantes que quando a população explorada
dominou a organização das rebeliões, os criollos se
uniram contra o povo, com medo de perder essa
mão de obra e, consequentemente, seus privilégios
enquanto classe social dominante.
3. É importante que os estudantes demonstrem
conhecimento de que, embora tivessem alguns
objetivos em comum, como a independência, os
segmentos sociais que participavam da luta tinham
interesses específicos. Os criollos queriam inde-
pendência, mas com a manutenção de privilégios,
como o domínio sobre indígenas e escravizados.
Já a população mais pobre queria independência
da Coroa, mas também tinham ideais de reforma
agrária e melhoria da qualidade de vida, o que
contrastava com os interesses das elites.
As atividades deste boxe incentivam os estudantes
a compreenderem a estrutura, as relações e os interes-
ses de cada segmento social na América colonial, exer-
citando a habilidade EM13CHS603.
Conversa (p. 24)
• Espera-se que os estudantes, a partir da pesquisa
proposta, apontem que o pan-americanismo, ca-
so ocorresse, fortaleceria os países da América La-
tina, o que era inconveniente para os Estados
Unidos, que perderia força política na América.
Na mesma época, os Estados Unidos lançaram a
Doutrina Monroe, com o ideal de “América para
os americanos”, cujo domínio político na região
seria estadunidense. A Inglaterra também não via
o pan-americanismo com simpatia, já que ela exer-
cia enorme influência econômica e política na re-
gião e não queria colocar em risco sua força.
• Quanto ao Brasil, sua posição também não era fa-
vorável, já que o país, na época, embora fosse um
Estado independente, ainda era comandado por
uma monarquia e mantinha relações estreitas com
Portugal. Além disso, a abolição da escravidão, de-
fendida pelos ideais do pan-americanismo, era con-
trária ao posicionamento da elite brasileira.
• Espera-se que os estudantes compreendam que o
processo de vinda da Corte portuguesa para o Bra-
sil, em 1808, foi um marco importante da política
nacional. Essa presença unificou o território e deu
início a uma identidade compartilhada, que se di-
ferenciava da identidade dos países da América es-
panhola. Os acordos entre a Corte portuguesa e a
elite nacional produziram um país elitista que tam-
bém repercutiu em características e interesses dife-
rentes das elites da América espanhola.
As atividades desse boxe exigem que os estudan-
tes pesquisem e articulem seus conhecimentos pa-
ra compreender e discutir sobre a formação política
na América Latina, desenvolvendo a habilidade
EM13CHS603.
� Conexões – Arte (p. 26 e 27)
1. Espera-se que os estudantes identifiquem e indi-
quem as dimensões históricas retratadas na obra.
A parte que representa a história colonial mexi-
cana está no centro, já que é o tema da obra,
e tem como personagem principal o imperador
Itúrbide. A história mais recente é representada
em todo o entorno da parte de cima da obra,
são agricultores mestiços e indígenas em meio a
políticos que representam a República mexicana.
Se achar adequado, destaque que no entorno da
águia há a presença de indígenas pré-hispânicos.
A representação deles na parte debaixo da obra
faz referência à terra e às raízes, como símbolo da
identidade e da história mexicana.
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 203V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 203 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
204
2. Os elementos mais emblemáticos que representam
a luta presentes na obra são: na parte de cima,
Emiliano Zapata, que lutou contra o governo de
Porfírio Díaz pela reforma agrária na Revolução
Mexicana; mais abaixo, um grupo de camponeses
preparados para a luta armada junto a personagens
da Guerra de Independência; e a águia como re-
presentação do atl–talchinolli, que era usada pelos
astecas para simbolizar a guerra.
Esta seção trabalha a Competência geral 6 e a habili-
dade EM13LGG604, por levar o estudante a articular seu
conhecimento histórico com sua capacidade de interpre-
tação artística, além de estabelecer relações entre uma
obra de arte e um determinado contexto político e social.
� Destaques da América Latina depois da Independência (p. 28 a 33)
PROFESSOR INDICADO História ou Geografia
Neste tópico é apresentada a situação conturbada
do México independente, cuja instabilidade política e
econômica resultaram em regimes ditatoriais, em um
contexto de extrema pobreza que levou a cabo a Revo-
lução Mexicana (1910-1924), mas desde então a luta por
reforma agrária nunca terminou. Além disso, a presença
de um partido de aspirações populares como o Partido
Revolucionário Institucional (PRI) não resolveu questões
essenciais de desigualdade social e proteção à sociodi-
versidade indígena. A atuação de movimentos popula-
res, como o Exército Zapatista de Libertação Nacional
(EZLN), entre outros, mostra que os embates políticos
e sociais estão longe de serem resolvidos.
Nesse sentido, é possível apresentar alguns outros
movimentos importantes no México atualmente, co-
mo a Frente dos Povos em Defesa da Terra, criado em
2001 para impedir que fosse construído o maior aero-
porto da América Latina em terras de pequenos agri-
cultores. O movimento foi violentamente reprimido
por meio de graves violações dos Direitos Humanos.
Há também a organização da Assembleia Popular dos
Povos de Oaxaca, que reúne diversos setores sociais e
comunidades indígenas. Oaxaca, pela sua diversidade
étnica e organização política, já foi palco de diversas
manifestações e confrontos com a polícia local.
Peça aos estudantes que leiam a reportagem da revis-
ta Carta Maior, “Resistência e repressão em Oaxaca”, dis-
ponível em: https://www.cartamaior.com.br/?/Editoria/
Pelo-Mundo/Resistencia-e-repressao-em-Oaxaca/6/11858
(acesso em: 7 set. 2020) como tarefa de casa e, depois, em
sala de aula, discutam o movimento de Oaxaca.
Sugira a eles que pensem na organização do movi-
mento e na influência das mídias, traçando compara-
ções com os movimentos sociais no Brasil.
Conversa (p. 30)
Durante a discussão, é necessário que os estudantes
comentem que tanto a Revolução Mexicana de 1910
como o movimento zapatista dos anos 1990 possuem
como principais temas de luta a reforma agrária, os di-
reitos sociais para os camponeses e a proteção dos po-
vos indígenas. Com base nas exposições, os estudantes
terão condições de perceber que as tensões políticas
entre elite e população rural e indígena continuam. Em-
bora o atual governo tenha chegado ao poder com um
discurso sobre as demandas populares, as vozes dos po-
vos indígenas e camponeses são muitas vezes ignoradas.
Especialmente quando dizem respeito a grandes obras
de construtoras que o governo federal quer levar a cabo,
por exemplo, o trem maya, que ligará a costa do oceano
Atlântico ao oceano Pacífico, unindo várias cidades no
trajeto. A obra foi aprovada pelo governo federal sem
estudo arqueológico nem ecológico prévio e sem que
os povos afetados fossem consultados. Vários sítios ar-
queológicos e zonas de importância ecológica estão no
caminho da obra, inclusive a reserva de Calakmul, con-
siderada patrimônio mundial pela Unesco.
Esta atividade visa o debate em grupo, de modo
que os estudantes tenham autonomia de aprendiza-
gem sobre a formação política do México e consigam
analisar avanços e recuos de acordos políticos, em es-
pecial para a reforma agrária e para a proteção dos in-
dígenas. Dessa forma, os estudantes desenvolvem a
Competência geral 6 e a habilidade EM13CHS602, já
que são levados a identificar a luta pela autonomia nas
sociedades latino-americanas.
Interpretar (p. 31)
Neste boxe, os estudantes devem interpretar dados
e mapas e articulá-los com seus conhecimentos de His-
tória para formular um quadro geral da desigualdade
na América Latina, favorecendo o trabalho com a ha-
bilidade EM13CHS103.
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 204V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 204 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS | 205
1. O país em situação mais problemática é Honduras,
com índice de 55,7% de pobreza e 19,4% de extre-
ma pobreza. Já o país com melhor desempenho é
o Uruguai, com índice de 2,9% de pobreza e 0,1%
de pobreza extrema. Honduras fica na América
Central, região que apresenta os piores índices de
pobreza, enquanto o Uruguai está bem ao sul da
América, fazendo fronteira com o estado do Rio
Grande do Sul, no Brasil.
2. Espera-se que os estudantes façam uma leitura
dos índices no mapa e considere que a posição
do Brasil é comparativamente boa, com apenas
outros cinco países com índices de pobreza mais
baixos (Uruguai, Chile, Peru, Costa Rica e Panamá)
e seis países com índices de pobreza extrema mais
baixos (Uruguai, Argentina, Chile, Peru, Costa Rica
e República Dominicana).
3. Realize previamente uma pesquisa para averiguar
se há dados mais recentes e compartilhe-os com
os estudantes.
Conversa (p. 33)
A ideia é de que os estudantes entrem em contato
com este movimento liderado por mães e avós argen-
tinas, que se transformou em um dos maiores símbo-
los da luta contra a ditadura. O movimento denuncia
os crimes do regime ditatorial e convida a sociedade
a refletir e a buscar justiça contra as torturas e viola-
ções cometidas pelo Estado. A discussão deve tomar
encaminhamentos próprios a partir da leitura e da ex-
periência de vida dos participantes, mas é essencial
que os estudantes reconheçam a grave violação dos
Direitos Humanos que os regimes ditatoriais comete-
ram. Há informações na internet sobre o desfecho des-
ses casos, como os 122 netos que foram reconhecidos
por teste de DNA e que, quando crianças, haviam sido
apropriados pelo Estado e por famílias que apoiaram
a ditadura.
Esta atividade trabalha pesquisa, interpretação,
argumentação e discussão sobre as “Mães e Avós da
Praça de Maio”. Por incentivar os estudantes a desen-
volver o diálogo, a crítica à violência durante a dita-
dura e fomentar a valorização dos Direitos Humanos,
trabalha a Competência geral 7 e as habilidades
EM13CHS503 e EM13CHS602.
� Diálogos (p. 34)
1. Espera-se que os estudantes comentem sobre as
diferentes formas de cada um dos grupos que
compunham a América Latina enxergarem a
independência e o sentido de liberdade para
cada um deles.
2. Esta atividade convida os estudantes a refletir sobre
o conceito de estereótipo. Trata-se de uma dis-
cussão importante, sobretudo com estudantes do
Ensino Médio que estão em fase de formação das
suas ideias sobre o mundo e sobre o outro. Nesse
sentido, os estudantes trabalham a Competência
geral 9, estimulando o diálogo e a valorização de
outras culturas. Explique aos estudantes que, diante
do desconhecido, os seres humanos tendem a
enxergar a nova situação ou pessoa a partir de
algum ponto de referência para se sentirem mais
seguros. O problema é que geralmente esse ponto
de referência diz respeito a uma ideia construída
e amplamente difundida, mas que pode não cor-
responder à realidade. Trata-se de imagens simpli-
ficadas e distorcidas, o que pode acarretar mal-
-entendidos, preconceitos e discriminações. Note
que do ponto de vista evolutivo esse mecanismo
teve uma função importante e visava a sobrevi-
vência. Porém, em uma sociedade contemporânea,
complexa, regulada por leis e direitos, é necessário
refinar esse olhar, buscar assumir posturas mais
neutras e mais engajadas em conhecer a situação
ou o outro em si, evitando os estereótipos.
Para desenvolver essa percepção, proponha uma
discussão em sala, perguntando que tipo de estereóti-
pos um estrangeiro pode ter sobre o Brasil e seu povo.
Provavelmente eles vão responder coisas como samba,
futebol, carnaval, praia, Amazônia, indígenas, mulheres
bonitas, etc. Escreva as palavras que forem surgindo no
quadro e encaminhe uma discussão sobre como um
povo é sempre muito mais do que a imagem que se
tem dele. A ideia é que a partir desse exercício os estu-
dantes trabalhem a alteridade e percebam que o este-
reótipo pode ser uma simplificação grosseira, mesmo
que reflita uma qualidade, e ser racista, machista ou de
alguma forma, inadequada.
a) Ao analisar o texto, o estudante deve mostrar
que compreendeu que o desconhecimento so-
bre algo ou alguém reforça estereótipos.
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 205V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 205 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
206
b) A historiadora entrevistada no texto, Lívia Maga-
lhães, afirma que a mídia “alimenta” a construção
desse estereótipo de rivalidade entre brasileiros
e argentinos. Também fala que, na realidade, as
relações políticas e econômicas entre os dois
países são bastante amigáveis, e que no futebol
os argentinos consideram os ingleses como os
rivais número “um”, e não os brasileiros, como a
maioria das pessoas no Brasil imagina.
c) Sim, o artigo contribui para desconstruir o
estereótipo de rivalidade, na medida em que
traz informações confiáveis, frutos de pesquisa
científica e que mostram um outro ponto de
vista, no caso, como os argentinos enxergam o
Brasil no futebol.
� Brasil: da independência ao século XXI (p. 35 a 44)
PROFESSOR INDICADOGeografia, História ou Sociologia
A primeira parte deste tópico desenvolve uma aná-
lise crítica do governo brasileiro no período regencial
e trabalha as habilidades EM13CHS602 e EM13CHS603.
Além disso, apresenta as revoltas ocorridas nesse pe-
ríodo e suas relações com o contexto internacional,
como a Revolução Industrial na Inglaterra, e a Revolu-
ção Francesa, com seus ideais de liberdade, igualdade
e fraternidade que disseminavam a ideia de que a mu-
dança das estruturas sociais era possível. No contexto
interno do Brasil, fica claro que os abusos de impostos
do governo imperial e o descrédito do governo regen-
cial contribuíram para a eclosão das revoltas. Porém, é
preciso destacar que cada região brasileira tinha con-
textos específicos e relevantes para a compreensão des-
se período histórico e da formação política brasileira.
É um momento adequado para retomar os conteúdos
estudados em História no 8o ano dos Anos Finais do
Ensino Fundamental.
Por isso, você pode pedir aos estudantes que, ao fa-
zerem a pesquisa requerida nas atividades do boxe Con-
versa (página 36), formulem um quadro comparativo
com pontos-chave para melhor compreender cada uma
das rebeliões do período. Como norte, eles podem usar
as seguintes categorias: região ou província; principais
motivos da revolta; segmentos sociais que organizaram
a rebelião; forma como a rebelião terminou (acordo ou
repressão); especificidades de cada rebelião. Também é
interessante trabalhar a questão da memória coletiva em
torno dessas revoltas, como explicita o trecho de um ar-
tigo sobre rememoração de fatos históricos a seguir.
A esse propósito, as comemorações nacio-
nais oferecem exemplos pertinentes, uma vez
que elas são objeto de interesses em jogo (po-
líticos, ideológicos, éticos, etc.). O uso perverso
da seleção da memória coletiva encontra-se,
portanto, nesse processo de “rememoração” so-
cial, cuja função é justamente a de impedir o
próprio esquecimento. Apagam-se da lembran-
ça as situações constrangedoras (por exemplo,
nos “500 anos do Brasil”, os massacres indíge-
nas, a escravidão negra, as violências na his-
tória), e privilegiam-se os mitos fundadores e
as utopias nacionais (o “paraíso tropical” e o
“país do futuro”).
SILVA, Helenice Rodrigues da. “Rememoração”/
comemoração: as utilizações sociais da memória. Revista
Brasileira de História. São Paulo, v. 22, n. 44, 2002. p. 425-438.
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0102-01882002000200008&lng=en&nrm=iso.
Acesso em: 8 set. 2020.
Essas rememorações são comuns em todas as na-
cionalidades, por isso é necessário que se faça um exer-
cício de reflexão sobre nossa memória coletiva e, con-
sequentemente, sobre nossa identidade brasileira a
partir da forma como essas revoltas são lembradas.
Trata-se de uma discussão que complementa a ativi-
dade 3, desse boxe. Ao pesquisarem sobre a rememo-
ração das revoltas, os estudantes poderão perceber,
por exemplo, que a Farroupilha se destaca com uma
semana inteira de comemorações. Se achar adequado,
compare a “Semana da Farroupilha” com a rememo-
ração ou a ausência de memória de outras revoltas. É
interessante notar o fato de que a Farroupilha não é
chamada de revolta, como em outros casos, e sim re-
volução, termo que designa mudanças profundas ou
radicais na estrutura social, o que, de fato, não aconte-
ceu. A Farroupilha teria sido uma revolução se os re-
beldes tivessem ganhado e conseguido separar politi-
camente a região e, a partir desse fato, implementar
uma nova forma de governo. Mas, embora os revolto-
sos não tenham sido reprimidos, como aconteceu em
outras revoltas, eles perderam, e a estrutura política se
manteve. Por isso, a escolha do termo revolução é uma
estratégia de valorização da Farroupilha.
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 206V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 206 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS | 207
Por meio dessas reflexões, os estudantes devem per-
ceber que enquanto algumas partes da história brasi-
leira são apagadas ou esquecidas, outras são enalteci-
das. Pode-se dizer que essa forma de lidar com a nossa
memória é produto e produtor da identidade brasilei-
ra. O descaso com partes da História, como é o caso
da Revolta de Carrancas, pode estar ligado ao fato de
esse evento ter sido comandado por escravos e ter ti-
do um caráter violento contra a ordem escravocrata
estabelecida. Mesmo a Revolta dos Malês, que é tradi-
cionalmente trabalhada nas escolas, ainda não tem um
símbolo público e, caso tenha algum dia, será por es-
forço político da vereadora Marta Rodrigues, que faz
parte da Coordenação Nacional das Entidades Negras,
ou seja, a exclusão social de alguns grupos, como mu-
lheres, afrodescendentes e indígenas, dificulta o acesso
desses grupos a cargos políticos e, consequentemente,
a institucionalização de datas comemorativas e símbo-
los que os representem na memória coletiva do país.
Conversa (p. 36)
As atividades possibilitam o desenvolvimento da ha-
bilidade EM13CHS603, na medida em que levam os es-
tudantes a entender o contexto político vigente na épo-
ca para poderem compreender as revoltas apresentadas.
1. Sim, todas as rebeliões tinham como inspiração
comum o descontentamento com a política im-
perial, seja por causa dos impostos cobrados das
elites locais, seja pelas péssimas condições de vida
dos segmentos mais pobres e escravizados. Além
disso, a independência da região ou pelo menos
sua autonomia política e administrativa foi outro
ponto comum entre as rebeliões citadas. Apenas a
Sabinada tinha intenções de instauração provisória
de uma república baiana até que dom Pedro II
completasse a maioridade, visto que a elite local
não reconhecia o governo de uma criança de 5
anos. A rebelião de Carrancas também não visava
independência, já que foi um levante direcionado
contra os senhores de escravos. As demais rebe-
liões objetivavam a independência definitiva do
Império brasileiro. As rebeliões Sabinada e Far-
roupilha foram comandadas pela elite local e, no
caso da Sabinada, contou com participação das
camadas urbanas. O descontentamento era relativo
ao pagamento de altos impostos para o Império. Já
a revolta dos Malês e de Carrancas foram organiza-
das pelos escravos e, por isso, tinham como motivo
principal a abolição da escravatura. A Revolta dos
Malês se destaca pela característica religiosa, já
que os escravizados eram muçulmanos que que-
riam fundar uma república muçulmana na Bahia.
Já a Revolta de Carrancas se diferencia por ter
sido um levante muito violento, que atingiu duas
fazendas da família Junqueira, em Minas Gerais.
Embora não tenha conseguido muitos adeptos,
foi bastante representativa no campo simbólico,
já que apavorou os senhores de escravos da região
e apontou o desgaste do sistema escravocrata.
De modo geral, a Cabanagem foi a única que
contou com vários segmentos sociais, cada qual
com demandas próprias, mas compartilhando o
ressentimento em relação ao descaso político do
governo imperial brasileiro em relação à região
do Pará. Todas essas revoltas foram duramente
reprimidas, com exceção da Farroupilha, havendo
um acordo entre o governo e os rebeldes.
2. As formas de rememoração variam a cada caso.
Para o Memorial da Cabanagem foi feito um mo-
numento de 15 metros de altura e 20 metros de
comprimento em Belém do Pará, no aniversário
de 150 anos da revolta. A autoria da obra foi de
Oscar Niemeyer (1907-2012). No caso da Revolução
Farroupilha, há um evento de uma semana de
comemorações, entre 13 e 20 de setembro, com
desfiles e homenagens aos envolvidos na revolução.
A Balaiada tem um memorial em sua homenagem.
Trata-se de um centro cultural, composto de mu-
seu e um acervo documental. Já para a Revolta
dos Malês ainda não existe nenhuma forma de
rememoração, mas há um projeto da Coordenação
Nacional das Entidades Negras (Conen) para no-
mear uma estação de metrô na Bahia de “Campo
da Pólvora – Malê”, com esculturas ou símbolos
em homenagem à Revolta dos Malês. As duas
revoltas que não possuem elementos de reme-
moração são a Sabinada, que ocorreu na Bahia, e
Carrancas, em Minas Gerais.
No tópico “Os excluídos nessa história do Brasil:
negros e indígenas”, é apresentada a situação de mar-
ginalidade social e política em que os povos negros
e indígenas foram colocados de forma geral. Ainda
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 207V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 207 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
208
que houvesse resistência e rebeliões desses grupos
contra os europeus, eles acabaram sendo dominados
pela violência das armas de fogo e pela dizimação por
doenças até então desconhecidas nas Américas. Tra-
ta-se de um processo histórico de séculos e, obvia-
mente, difícil de reverter, especialmente quando nos-
sos mitos de fundação, que formulam parte da
identidade coletiva, passam uma imagem que não
corresponde à realidade e é seletiva em relação aos
grupos que representam a nação.
Se achar adequado, é possível trabalhar neste mo-
mento o mito ou a fantasia das três raças. Essa ideia
foi desenvolvida pelo sociólogo Darcy Ribeiro (1922-
1997) e foi depois simplificada e difundida como uma
afirmação de que a nação brasileira teria sido consti-
tuída pela influência de africanos, europeus e indíge-
nas. A questão é que esse mito de fundação não pro-
blematiza as relações de poder e a violência dos
europeus sobre indígenas e africanos durante séculos,
o que acaba levando à ideia de que a superioridade
econômica dos europeus e seus descendentes na
atualidade seria resultado da “natureza” de cada “ra-
ça” e não de um processo histórico baseado em es-
cravidão e violência.
Essa discussão também tem relação com a escrita
da História, porque o que se conhece por História,
hoje, é o que foi escrito sobre eventos passados. Ques-
tione os estudantes: “Quem escreveu essa História?”;
“Quem escreveu os documentos antigos, que hoje
são utilizados para escrever a História?”. No caso do
Brasil, esses documentos foram escritos por europeus
e, portanto, trazem o ponto de vista desse grupo, sua
percepção, seus interesses e julgamentos. Hoje em
dia, há muitos trabalhos científicos com análise des-
ses documentos em busca de outras perspectivas,
principalmente referentes a grupos de pessoas co-
muns e, por vezes, explorados. Mas trata-se de uma
produção recente e boa parte dela vem de pessoas
pertencentes a esses grupos minoritários (indígenas,
afrodescendentes, mulheres, LGBTQ+) que estão se
especializando e desenvolvendo pesquisas a partir
desses novos olhares da História.
Com a explicação sobre a escrita da História e a
problematização dos mitos de fundação e de identi-
dade da nação, os estudantes serão capazes de analisar
criticamente a fala de Ailton Krenak e responder às ati-
vidades de forma mais aprofundada.
Interpretar (p. 37)
Essas atividades exigem dos estudantes a articula-
ção de seus conhecimentos para identificar as relações
de poder e violência na constituição da História do
Brasil, nesse sentido, eles trabalham a Competência ge-
ral 6 e a habilidade EM13CHS503.
1. A invenção do Brasil na fala de Krenak pode ser
lida no sentido de fabricar, forjar, construir uma
sociedade dominada por “invasores”. O Brasil que
conhecemos hoje já era um território povoado
por diversos grupos indígenas e, portanto, existia
uma estrutura social, formas de viver e de se rela-
cionar, reprimidos quando o país foi “inventado”. A
“invenção” do Brasil também diz respeito à escrita
da História, pois quem escreveu a História do Brasil
foram os portugueses e segue, portanto, o ponto
de vista europeu sobre essa terra e seus nativos.
2. Krenak afirma que não houve um evento fun-
dador do Brasil, querendo dizer que os eventos
históricos no país foram diversos e, por isso, não
se deve acreditar em apenas um evento funda-
dor, mas conhecer várias histórias, vários eventos
fundadores, vários pontos de vista.
3. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes
percebam que a guerra continua no sentido de
que ainda há relações de poder e intenções de
dominação e exploração da terra, dos recursos
naturais e das pessoas.
No tópico “Brasil: do século XIX à República da Era
Vargas”, fica claro que o Segundo Reinado (1840-1889)
teve forte presença das elites agrárias latifundiárias de
cana-de-açúcar e café. Ainda assim, o Brasil teve gran-
des transformações sociais, em especial pela crescente
presença de imigrantes para substituir a mão de obra
escravizada nas fazendas cafeeiras.
A relação entre café e desenvolvimento de São Pau-
lo é de extrema importância para a compreensão da
configuração econômica e social do Brasil na atualida-
de. Por isso, se possível, aprofunde o tema, retomando
o que foi estudado em História no 8o ano dos Anos
Finais no Ensino Fundamental, e apresentando a im-
portância do café para a economia brasileira no início
do século XX, sendo responsável pelo estabelecimen-
to do Sudeste, em especial São Paulo, como a região
mais importante na economia e na política brasileiras.
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 208V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 208 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS | 209
A importância econômica de São Paulo lhe conferiu
maior representatividade política, ampliando o número
de cadeiras no Congresso Nacional e criando novos im-
postos para importação interestadual e nacional.
Destaque a diferença entre República Regionalista
e República Federalista. Na primeira, o poder dos es-
tados se submete ao Estado-nação em troca de pro-
teção política e econômica. Na segunda, o poder é
centralizado no Executivo, mas com grande autono-
mia dos estados em relação à legislação e às opera-
ções financeiras e fiscais. No caso do Brasil, a Repú-
blica Federalista funcionava desde a fundação. Com
o aumento das taxações das mercadorias entre esta-
dos, São Paulo conseguiu recolher de duas a três ve-
zes mais receita do que Minas Gerais e Rio Grande
do Sul, por exemplo, que eram o segundo e o tercei-
ro estados mais ricos do país. Esse favorecimento eco-
nômico possibilitava a manipulação do Congresso e
das legislações para seus interesses regionais e, por
isso, outras regiões, especialmente Norte e Nordeste,
foram esquecidas pelo governo federal, que acabou
submetendo todo seu esforço político e econômico
aos interesses dos cafeicultores.
Nesse contexto, as populações do Norte e Nordes-
te se mantiveram subdesenvolvidas e sob comando
dos coronéis locais. Ou seja, o Brasil teve suas primeiras
décadas de República sob o comando dos latifundiá-
rios paulistas, mineiros e oligarquias coronelistas do
Nordeste. Esse quadro explica parte do apoio popular
a Vargas em 1930 e a aceitação de seu regime populis-
ta e paternalista, por meio do qual ele conseguiu se
manter no poder, mesmo que estivesse implementan-
do um regime autoritário e intolerante.
Não à toa, surgiram movimentos de resistência ao
governo vigente, em especial o cangaço, no Nordeste,
e a Aliança Nacional Libertadora (ANL), que reuniu
vários movimentos de esquerda sob o comando de
Luiz Carlos Prestes. Aqui é importante ressaltar a dife-
rença entre o cangaço e a ANL. O primeiro era uma
resistência articulada em âmbito regional, que se opu-
nha mais diretamente aos coronéis locais. Já o segundo
tinha uma articulação política muito mais ampla, se
opondo ao governo federal, sua forma de condução
política e econômica, e apresentava uma ampla pauta
que, entre outras demandas, visava a reforma agrária,
a proteção dos pequenos e médios proprietários e o
aumento das liberdades democráticas.
Conversa (p. 43)
1. Vargas se apresentava como populista na medida
em que era visto como líder carismático, com boa
comunicação popular, mas também por ter con-
cedido direitos trabalhistas e ampliação dos direitos
políticos, como sufrágio universal. O paternalismo
se demonstrava pelo alto nível de controle exercido
sobre instituições voltadas para a prática da política,
como sindicatos e meios de comunicação.
2. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes
compreendam que esse tipo de tutela visa con-
trolar a opinião popular e não a proteger.
3. Resposta pessoal. É provável que os estudantes
citem personagens políticos recentes, como Luiz
Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro como exemplos
de populistas. Nesse sentido, eles compartilham
de um carisma popular, com fala simples e direta
ao povo. Já o paternalismo é uma característica
específica do presidente Jair Bolsonaro, em razão
de suas características autoritárias. É importante
que os estudantes compreendam que a presença
do populismo e do paternalismo pode acontecer
em diferentes ideologias políticas.
Essas atividades possibilitam aos estudantes desen-
volver a Competência 6 de Ciências Humanas e a ha-
bilidade EM13CHS603, na medida em que os leva a
aplicar conceitos de regimes políticos na interpretação
da política brasileira.
Interpretar (p. 44)
1. Em uma ditadura, o chefe de Estado tem poderes
absolutos sobre o governo, as instituições sociais e a
vida dos cidadãos. Em uma democracia, os cidadãos
são protegidos pela lei, que limita o campo de ação
do Poder Executivo. Por isso, para estabelecer a
ditadura, Vargas precisava primeiramente sufocar a
atuação dos outros poderes (Legislativo e Judiciário),
fechando o Congresso e estabelecendo uma nova
Constituição (1937), a do “Estado Novo”.
2. Os grupos de oposição foram extintos e seus
líderes, em geral, perseguidos, presos e exilados.
3. O programa “Hora do Brasil” era parte importan-
te da propaganda do governo, já que seria um
momento de comunicação diária e direta com
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 209V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 209 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
210
o povo, em que o presidente poderia difundir a
ideologia do Estado Novo e, com isso, ter apoio
popular. Certamente, a censura à imprensa con-
tribuiu muito para a ditadura varguista, já que
qualquer opinião contrária ao regime ditatorial
era reprimida.
4. Resposta pessoal. Seria interessante que os estu-
dantes comparassem a abordagem do programa
“A Voz do Brasil” com a de outros meios de co-
municação sobre as notícias de um mesmo dia.
Esse mesmo exercício foi realizado em 2014 por
estudantes de jornalismo, cujos resultados foram
publicados no artigo “O programa Voz do Bra-
sil e os critérios de noticiabilidade na cobertura
do ‘apagão’ elétrico”, de Renato Delmanto Barros
(disponível em: https://casperlibero.edu.br/wp-
content/uploads/2015/01/Renato-Delmanto-FCL.
pdf; acesso em: 8 set. 2020).
Esse boxe de atividades leva os estudantes a proble-
matizar o caráter autoritário da Era Vargas e perceber o
uso do rádio como forma de difusão da propaganda
ideológica do Estado, desenvolvendo entre os estudan-
tes as habilidades EM13CHS503 e EM13CHS504.
� Atuações governamentais no Brasil democrático pós-Estado Novo (p. 45 a 49)
PROFESSOR INDICADO História ou Sociologia
Neste tópico, os estudantes têm contato com a
descrição da política pós-Estado Novo, dos eventos
que levaram à morte de Vargas e de sua sucessão por
Juscelino Kubitschek. Também é apresentado o lema
desenvolvimentista “50 anos em 5” de JK a partir de
setores industriais de base, como energia e petróleo,
combinado com a abertura ao capital internacional
e a vinda de multinacionais para o país. De fato, as
condições de vida melhoraram com o desenvolvi-
mento das cidades, das indústrias e da ciência. Além
disso, o governo JK foi o responsável pela construção
de Brasília, nova capital brasileira. Apesar de a cons-
trução ter sido um grande feito e Juscelino Kubitschek
ter alcançado parte do seu plano de metas, ela pre-
cisa ser problematizada, na medida em que só foi pos-
sível graças a empréstimos internacionais, conforme
trata o texto a seguir.
[...] Através destas negociações o Brasil re-
ceberia, em 1953, empréstimos de trezentos
milhões de dólares do Export and Import Bank
(Eximbank), de 158 milhões de banqueiros lon-
drinos e de 28 milhões do Fundo Monetário In-
ternacional (FMI). Em 1954, mais duzentos mi-
lhões de dólares seriam obtidos de um grupo
de bancos norte-americanos. Ainda em 1954
seriam captados 48 milhões de dólares através
de operações swaps, inaugurando então uma
modalidade de operação financeira de curto
prazo, à qual se recorreria largamente alguns
anos mais tarde.
Este conjunto de operações foi responsável
pela duplicação da dívida externa brasileira no
curto espaço de dois anos. Aos finais de 1954,
a posição devedora do Brasil frente ao exterior
já alcançava a casa de 1,3 bilhão de dólares. E
desta feita, a reversão do processo se tornara
quase impossível.
SOUSA, Francisco Eduardo Pires de. Dívida externa: de
1945 a 1982. FGV – CPDOC. Disponível em: http://www.fgv.
br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/
divida-externa-2. Acesso em: 8 set. 2020.
É importante esclarecer aos estudantes que a rela-
ção entre desenvolvimento e aumento da dívida ex-
terna teve início no governo de Juscelino Kubitschek
e seguiu a mesma linha de negociações e empréstimos
internacionais em outros governos. O apogeu da dívi-
da externa se deu no governo de Médici, período co-
nhecido como o “Milagre brasileiro”.
No campo político, sobressaem várias tentativas de
golpe de Estado. Primeiramente no governo Vargas,
depois em 1955, com a tentativa de impedir que Jus-
celino Kubitschek assumisse o cargo de presidente, e
novamente, em 1964, no governo de João Goulart, que
tinha intenções de realizar reformas de base, como as
reformas agrária e educacional, quando a ditadura foi
implementada.
Se considerar adequado, solicite aos estudantes
que façam uma pesquisa sobre a Marcha da Família
com Deus pela Liberdade, que reuniu os setores mais
conservadores da população contra as pautas de go-
verno de João Goulart. Peça a eles que apresentem a
pesquisa em formato de quadro, com os principais
pontos do evento, e promova um momento de dis-
cussão em sala. Intermedeie a discussão, a fim de que
possam perceber quais eram as prerrogativas da Mar-
cha da Família com Deus pela Liberdade, a quem
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 210V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 210 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS | 211
essa pauta era conveniente e se essa manifestação foi
usada ou não como forma de legitimar ou dar força
ao golpe militar de 1964.
� Diálogos (p. 46)
a) Vargas se refere aos interesses do empresariado
brasileiro e aos liberais, que ficam implícitos no
trecho “A campanha subterrânea dos grupos
internacionais aliou-se à dos grupos nacionais
revoltados contra o regime de garantia do traba-
lho. A lei de lucros extraordinários foi detida no
Congresso. Contra a justiça da revisão do salário
mínimo se desencadearam os ódios. Quis criar a
liberdade nacional na potencialização de nossas
riquezas através da Petrobras; mal começa esta
a funcionar, a onda de agitação se avoluma.”.
b) Vargas se refere à oposição composta pela UDN
e militares anticomunistas, que estavam alinha-
dos com uma política econômica liberal.
Conversa (p. 47)
1. O assentamento dos nordestinos migrantes para
a construção de Brasília ficava em acampamentos
da construtora contratante, muitos dormiam em
galpões ou, na melhor das condições, em peque-
nos quartos de madeira.
2. A construção de Brasília afastou o centro de de-
cisões políticas dos maiores centros populacionais,
criando uma barreira de proteção para a política
federal, que estaria geograficamente isolada dos
centros de discussão e interesse público sobre a
política brasileira.
� Mobilizações sociais e atuações nos governos ditatoriais do Brasil (p. 50 a 57)
PROFESSOR INDICADOHistória, Geografia,
Filosofia ou Sociologia
Neste tópico, fica claro que do ponto de vista eco-
nômico o Brasil, após o golpe de 1964, assumiu uma
postura liberal, voltada aos interesses capitalistas, so-
bretudo, dos Estados Unidos. Do ponto de vista polí-
tico-ideológico havia extremo conservadorismo, com
repressão das liberdades de expressão e alto grau de
controle sobre ideias e atos políticos que não fossem
os do governo vigente.
A esta altura, o estudante já deve saber que essa
repressão militar teve reações na sociedade, que in-
cluíam desde pessoas comuns, intelectuais, artistas,
até grupos de ação mais violenta, como os que utili-
zavam estratégias de guerrilha para alcançar objetivos
de destituir o governo. A repressão sobre todas essas
pessoas e grupos foi intensa, baseada em torturas fí-
sicas e psicológicas.
Se considerar adequado, apresente o vídeo indica-
do a seguir aos estudantes que mostra o depoimento
de uma ex-presa política e denuncia as violações de
Direitos Humanos comandadas pelo Departamento
de Ordem Política e Social (Dops) na perseguição das
organizações opositoras.
• Ditadura – Depoimento #6 Crimeia Almeida. de-
froots. Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=tznv0w4s6lI. Acesso em: 8 set. 2020.
Depois de assistir, você pode pedir a eles que escre-
vam no caderno quais foram os direitos da depoente
violados.
No tópico “Atuações sociais para a democracia: as
heranças paternalistas e autoritárias no século XXI”, o
texto comenta sobre a importância do engajamento
político, mas deixe claro que isso não significa fazer par-
te de algum partido ou instituição, como é comum se
pensar. Para isso, esclareça que participação política se
refere a alguns aspectos de um cidadão, como partici-
par da vida pública. No contexto de eleições, por exem-
plo, significa escolher um candidato vinculado a um
partido; entretanto, política ultrapassa esse contexto e
sua atuação pode se dar de diferentes maneiras, como
participação em associações de bairro ou em grupos
com temas específicos, como veganismo, por exemplo.
Se for possível e considerar apropriado, aproveite o
tema para organizar uma primeira reunião com os es-
tudantes a fim de incentivá-los a ter uma participação
política ativa na comunidade escolar, que pode se dar
por meio de um grêmio estudantil. Após a criação do
grêmio, é possível propor melhorias, como reformar
uma área da escola, discutir os métodos pedagógicos
empregados, trazer especialistas para conversar sobre
problemas presentes na escola, como bullying, saúde
física e mental, etc. Dessa forma, os estudantes traba-
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 211V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 211 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
212
lhariam sua capacidade de análise, crítica, exposição
de ideias, alteridade, respeito à diversidade e aos valo-
res democráticos, além do cuidado de si e do outro, de
forma coletiva e integral, ampliando as possibilidades
de se trabalhar a Competência geral 8.
Conversa (p. 52)
É importante trabalhar com os estudantes como se
dá a repressão da liberdade de expressão atualmente.
Eles devem compreender que, mesmo em regimes de-
mocráticos, as manifestações populares podem ser vio-
lentamente reprimidas. Não são poucos os casos de gre-
ves e passeatas de trabalhadores de diferentes categorias
que sofrem forte repressão policial. Tiros de borracha e
gás lacrimogêneo são constantemente usados pela po-
lícia sob o argumento de que os manifestantes estariam
depredando o patrimônio público ou mesmo atacando
a força policial. Porém, a parcela de manifestantes que
tem esse tipo de atitude é geralmente muito pequena
e não condiz com o abuso de poder e violência nas ma-
nifestações por parte dos agentes de segurança. Se achar
adequado, proponha uma discussão sobre a violência
policial e se ela poderia ser um resquício do autoritaris-
mo e da violência da ditadura militar.
Na conversa proposta, espera-se que os estudantes
consigam reconhecer que manifestações sociais, enquan-
to parte de um regime democrático, são benéficas na
medida em que promovem análises e discussões de in-
teresse público. Em regimes ditatoriais, porém, essas ma-
nifestações podem ser vistas como ameaça nacional.
Considerando, neste caso, que nacional não se refere aos
interesses da nação em si, mas sim aos interesses daque-
les que comandam a nação. Para trazer o tema mais pró-
ximo à realidade dos estudantes, é proposto que citem
eventos ocorridos onde vivem. Peça a eles que pesqui-
sem manifestações em sua cidade ou região, analisando
a pauta do movimento social. Eles podem complemen-
tar as informações, pesquisando em jornais ou revistas
se houve ou não repressão policial e fazer uma discussão
em sala, problematizando a relação entre democracia, o
conteúdo da pauta de reivindicações do movimento e
a atitude policial no dia da manifestação.
Conversa (p. 57)
1. Resposta pessoal. Se julgar conveniente, sugira aos
estudantes que realizem uma pesquisa sobre os
índices de aprovação dos governantes atuais para
responderem à questão.
2. Para evitar que os estudantes deem respostas
vagas, como “corrupção na política”, incentive-
-os a buscar na internet ou em jornais situações
específicas de honestidade ou desonestidade nas
atuações de políticos.
3. Resposta pessoal. Incentive o debate em sala de
aula, de modo que os estudantes possam levantar
prós e contras das diferentes formas de percepção
da classe política.
� Diálogos (p. 58 e 59)
1. Esta atividade desenvolve a habilidade EM13CHS603,
já que o estudante precisa mostrar compreensão
das diferenças entre os governos brasileiro e da
América espanhola, após o processo de indepen-
dência dos países.
a) A diferença principal foi que na América espanho-
la a independência resultou no estabelecimento
de Repúblicas; já no caso brasileiro, nosso proces-
so de independência foi muito mais elitista e sem
mudança na estrutura política governamental,
pois continuamos a ser parte do Império portu-
guês. Essa diferença se deu por conta da vinda
da Coroa portuguesa ao Brasil em 1808, o que
garantiu união territorial e associações políticas
da elite brasileira com a Corte portuguesa.
b) O Brasil não compartilha elementos importantes
de identidade com o restante da América Latina,
como língua, mesma história de colonização
e processos similares de independência, entre
outros, como culinária e música.
2. Esta atividade trabalha a habilidade EM13CHS603,
solicitando do estudante compreensão das dife-
renças de estratégias políticas de governo.
a) O governo de Dutra se colocou de forma clara
e definitiva como aliado dos Estados Unidos,
o que não acontecia no governo Vargas, que
flertava tanto com os Estados Unidos como
com países do Eixo.
b) A derrota dos países do Eixo, o estabelecimento
dos Estados Unidos como principal potência
mundial e o acirramento ideológico entre ca-
pitalismo e comunismo.
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 212V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 212 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS | 213
c) A intenção de estabelecer um posicionamento
totalmente favorável aos Estados Unidos.
3. Esta atividade leva os estudantes a fazer interpreta-
ções iconográficas, desenvolvendo a Competência
6 de Linguagens e suas Tecnologias, abarcando a
habilidade EM13LGG604. Além disso, por propor
uma visão crítica ao período ditatorial, também
é desenvolvida a habilidade EM13CHS503.
a) As duas primeiras personagens estão representa-
das com a boca fechada e com uma coloração
que remete à sombra, conforme fala o texto do
cartaz. Gradativamente, as personagens apare-
cem com a boca cada vez mais aberta, como
se houvesse uma evolução de abertura, até che-
gar na fileira inferior, em que são representadas
como se gritassem a palavra liberdade.
b) Em 1975, durante o governo de Geisel, se iniciava
um relaxamento da repressão da ditadura, num
processo conhecido por “sístole e diástole”, em
que havia um período de relaxamento seguido
de outro de repressão. Durante esse processo,
movimentos sociais a favor da anistia de presos
e perseguidos políticos ganharam força.
c) A sombra faz alusão aos porões da ditadura e
à repressão da liberdade de expressão.
d) Resposta pessoal. Espera-se que os estudan-
tes tenham compreendido a importância dos
movimentos sociais e do engajamento da po-
pulação em processos sociais. Toda a repressão
do governo militar era uma estratégia para que
se mantivesse no poder. O fato de sempre ter
existido grupos, nacionais e internacionais, con-
trários a esse regime foi essencial para que ele
pudesse ser enfraquecido e superado.
4. A atividade leva os estudantes a refletir sobre a
passagem da ditadura para a democracia, levan-
do-os a trabalhar a habilidade EM13CHS602.
a) O autor se refere aos metalúrgicos do ABC, que
encabeçaram greves e deram força ao movimen-
to de redemocratização por meio do slogan
“Diretas Já”.
b) Porque o ciclo grevista rearticulou a esquerda,
possibilitando novas diretrizes de ação, muito
mais focadas nas demandas da classe trabalha-
dora do que no consenso que havia contra a
ditadura militar, claramente já desgastada. Trata-
va-se de uma nova agenda de reinvindicações,
mais complexa e aberta ao debate.
� Retome o contexto (p. 61)
Forme uma roda de conversa com os estudantes
e releia a seção Contexto da página 18, incentivando-
-os a relembrar o que responderam nas atividades.
Questione-os o que responderiam atualmente, após
terem adquirido os novos conhecimentos ao longo
do capítulo.
Livro
• MOTA, Carlos Guilherme. Viagem incompleta: a experiência brasileira. A grande transação. São Paulo: Senac, 2000.
Neste livro, o autor traça um panorama de todo o século
XX, procurando dar subsídios para o leitor compreender a
realidade brasileira atual, tanto em relação à política quanto
à cultura.
Sites
• AZEVEDO, Wagner Fernandes de. México. Comunidades indígenas condenam insistência de AMLO por obras em seus territórios, 7 jan. 2020. Instituto Humanas Unisinos. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/595391-mexico-comunidades-originarias-condenam-insistencia-de-amlo-por-obras-em-seus-territorios. Acesso em: 7 set. 2020.
A reportagem fala de como as comunidades indígenas
mexicanas estão lidando com o avanço por seus territórios
por meio das obras propostas pelo governo de Andrés
Manual López Obrador (AMLO).
• DAUER, Gabriel. A ditadura argentina e a resistência das Mães da Praça de Maio. Politize! Disponível em: http://politize.com.br/ditadura-argentina-maes-praca-maio/. Acesso em: 7 set. 2020.
O texto traz um panorama geral de como se organiza o
movimento das Mães da Praça de Maio e alguns dados
conseguidos graças a essa mobilização social.
SUGESTÕES DE LEITURAS, VÍDEOS E SITES
Capítulo 2
Desafios para construção da justiça social no BrasilDiálogos com a BNCC
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA BNCC
Competências gerais da Educação Básica
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6,
CG7, CG8, CG9 e CG10.
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 213V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 213 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
214
Competências específicas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
1, 4, 5 e 6.
Habilidades de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
EM13CHS101, EM13CHS102; EM13CHS402, EM13CHS403; EM13CHS502, EM13CHS503; EM13CHS601, EM13CHS606.
TCT
Economia: Trabalho; Cidadania e Civismo: Processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso; Multiculturalismo: Diversidade cultural; Saúde: Saúde.
Neste capítulo, são tratadas as fragilidades e desi-
gualdades da democracia brasileira. São também abor-
dados conceitos como divisão sexual do trabalho, a
forma como ela foi hierarquizada e associada ao gêne-
ro, o conceito de racismo estrutural, como uma forma
sistematizada e naturalizada de preconceito, que per-
passa diferentes segmentos da sociedade e acaba opri-
mindo parcela significativa da população. Ao refleti-
rem sobre esse aspecto da sociedade brasileira, os
estudantes têm a oportunidade de desenvolver a Com-
petência geral 9.
Durante as atividades e discussões relativas ao te-
ma, ao longo do capítulo, os estudantes são incenti-
vados a desenvolver especialmente as habilidades
EM13CHS402, EM13CHS403, EM13CHS502 e
EM13CHS503, construindo uma percepção crítica das
relações de discriminação na sociedade, especialmen-
te a racial e a de gênero. Para defenderem suas pers-
pectivas críticas irão coletar dados para embasar e
formular argumentos em defesa dos direitos huma-
nos, exercitando a Competência geral 7.
Neste capítulo, os estudantes também são levados
a pensar sobre as percepções em torno do envelhe-
cimento e sobre as possibilidades de trabalho produ-
tivo nessa faixa etária, já que na sociedade capitalista
a remuneração é uma forma importante de reconhe-
cimento social. Já a discussão sobre juventude leva os
estudantes a refletirem sobre a cobrança em relação
ao futuro, as mudanças próprias da puberdade e os
impasses da ideia de que a adolescência é um mo-
mento de “devir”, de incompletude. Destaca-se que,
por outro lado, esse período pode ser visto como de
“empoderamento” e, muitas vezes, de contestações
sobre o mundo. As atividades se debruçam sobre as
políticas de educação no Brasil e suas possibilidades
de escolha e inserção no mercado de trabalho, per-
mitindo que os estudantes desenvolvam principal-
mente as Competências gerais 6 e 10.
Por fim, o conjunto de textos e atividades contri-
bui para o desenvolvimento dos Temas Contempo-
râneos Transversais, como Cidadania e Civismo, Eco-
nomia , Saúde e Multiculturalismo. Além da
habilidade EM13CHS601, na medida em que relacio-
na a política e o contexto histórico brasileiro com as
demandas sociais de mulheres, indígenas, afrodescen-
dentes, pessoas com deficiência, LGBTQI+, entre ou-
tras minorias no Brasil.
O trabalho em sala de aula
� Contexto (p. 62 e 63)
Antes de realizar as atividades dessa seção, leia os
depoimentos dos imigrantes com os estudantes e per-
gunte a eles se alguém conhece algum imigrante. Caso
tenha algum imigrante na turma, convide-o para rela-
tar sua história. Incentive os estudantes a comentar
sobre as vivências que tiveram com imigrantes. É pro-
vável que a maioria deles tenha tido algum tipo de
contato, visto que o país recebeu muitas pessoas vin-
das de outros países nos últimos anos. Oriente-os a
imaginar quais motivos levam essas pessoas a migra-
rem, quais são as experiências pelas quais elas passam
quando chegam aos novos países, de que forma elas
gostariam de serem recebidas, quais as dificuldades que
enfrentam, entre outras questões.
As atividades dessa seção desenvolvem a habilida-
de EM13CHS101 por levar os estudantes a comparar
narrativas, o que resultará no melhor entendimento
dos processos sociais e culturais da imigração.
1. a) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes
reconheçam o principal aspecto de cada ex-
periência e avaliem de acordo com suas per-
cepções. Do ponto de vista dos entrevistados,
a maioria dos relatos é positiva, com exceção
do segundo (que, apesar de dizer que brasilei-
ro trata bem os estrangeiros, declara que não
trata bem seus conterrâneos), do terceiro (que
constata que tem poucas mulheres em cargos
altos) e do último (que fala da exploração de
trabalhadores estrangeiros).
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 214V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 214 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS | 215
Neste tópico, introduz-se a relação entre diversida-
de (gênero, raça/etnia, geração) e a desigualdade de
oportunidades e reconhecimento social.
A apresentação de dados que mostram a exis-
tência de diferentes ganhos salariais entre pessoas
com mesmo nível de escolaridade são excelentes
indicativos de discriminação. Aproveite esse mo-
mento para introduzir o conceito de marcadores
sociais da diferença, um campo de estudo que pro-
cura entender a construção de hierarquias entre di-
ferentes grupos sociais.
Peça aos estudantes que respondam à seguinte per-
gunta no caderno: “Quais são os grupos que sofrem
algum tipo de preconceito por apresentar caracterís-
ticas consideradas como marcadores sociais da dife-
rença?”. Depois de responderem, organize uma roda de
conversa a respeito do tema, realizando uma avaliação
diagnóstica do quanto os estudantes estão inteirados
no assunto.
Caso a turma aponte afrodescendentes, mulhe-
res, homossexuais, transexuais e camadas mais po-
bres da população como os grupos que sofrem pre-
conceito, aproveite para complementar a lista com
pessoas com algum tipo de deficiência, alguns gru-
pos religiosos (principalmente os de matriz africana).
Além de imigrantes, indígenas, idosos, crianças e
adolescentes, que também sofrem com preconcei-
tos ou estereótipos.
Nesses casos, o marcador social da diferença, ou
seja, o elemento que precisa ser discutido e analisado
historicamente, não é o grupo em si, mas a caracterís-
tica que marca as pessoas como parte de um grupo.
Por exemplo, no caso dos afrodescendentes e indíge-
nas é a raça/etnia; com as mulheres e pessoas LGBTQ+
se trata de gênero e orientação sexual; com as camadas
mais pobres se trabalha o marcador de classe social;
com os idosos, crianças e adolescentes o marcador so-
cial da diferença é a geração.
Pelo tempo disponível em sala de aula, é difícil tra-
balhar todas as categorias, porém é importante que os
estudantes conheçam o universo dos marcadores so-
ciais da diferença e saibam identificá-los. Afinal, esses
marcadores perpassam relações de poder e criam es-
tigmas de marginalização e/ou inferiorização social que
precisam ser conhecidos e problematizados para que
haja mudanças nas relações sociais.
b) A primeira e a segunda afirmações podem ser
lidas como algo ruim do ponto de vista do
brasileiro. O “jeitinho brasileiro” pode ser visto
como flexibilidade e criatividade, que seriam
bons, mas também pode se referir a formas de
contornar as leis ou agir de maneira inadequada.
Na segunda afirmação, o entrevistado percebe
que os brasileiros valorizam mais o estrangeiro
do que seus conterrâneos, uma marca das polí-
ticas racistas e preconceituosas da nossa história,
que supervalorizavam os imigrantes europeus
e desvalorizavam os indígenas e africanos ou
afrodescendentes que aqui viviam.
c) Espera-se que os estudantes compreendam que
essas experiências trazem informações impor-
tantes sobre o Brasil, mas se referem a um tipo
de experiência possível. Dessa forma, essas ima-
gens se tornarão estereótipos somente se forem
generalizadas sem maiores problematizações.
d) Sim. As experiências prévias, assim como o gênero,
a idade e a cultura de origem de cada entrevis-
tado fazem diferença na maneira como ele vai
interpretar suas experiências em um novo lugar.
2. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes
deduzam, por meio de suas experiências e co-
nhecimentos prévios, que os grupos minoritários
dispõem de menos oportunidades e tratamentos
menos favoráveis por motivos históricos, sociais
e culturais. Se julgar conveniente, oriente-os a
escrever esse texto de uma perspectiva individual,
em primeira pessoa, e reserve uma ou duas aulas
para que alguns ou todos os estudantes possam
ler os textos uns para os outros. O exercício de
escrever o texto em primeira pessoa é uma forma
de desenvolver o autoconhecimento e, por con-
sequência, contribui para a construção de uma
boa autoestima; a troca com os colegas também
ajuda a fortalecer os valores democráticos de
respeito ao outro e a atitude de empatia entre
os estudantes.
� Diversidade, particularidades e igualdade (p. 64 a 77)
PROFESSOR INDICADOGeografia, História ou
Sociologia
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 215V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 215 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
216
Interpretar (p. 64)
1. Com aplicação de uma regra de três da Matemá-
tica, os estudantes chegarão à conclusão de que a
diferença salarial entre brancos e pretos é de 44,3%.
2. Ao cruzar as informações do gráfico, os estudantes
perceberão que os homens brancos são o segmento
social com maior salário. Para responderem à segun-
da questão, os estudantes devem realizar uma leitura
inferencial do gráfico – relacionando as informações
do texto e do gráfico – concluindo que o grupo
com menor faixa salarial seria o de mulheres pretas.
Essas atividades incentiva os estudantes a proble-
matizarem, por meio da análise de dados, a discrimi-
nação racial e de gênero com base na faixa de renda
no Brasil, trabalhando as habilidades EM13CHS402 e
EM13CHS502.
No tópico “Emancipação das mulheres”, é apresen-
tada a divisão sexual do trabalho pelo viés histórico.
Ressalte para os estudantes que essa divisão não impli-
cava diferenciação de status e poder social e pergunte:
“Como essa divisão acabou se transformando, ao lon-
go do tempo, em uma forma de hierarquizar homens
e mulheres?”.
O trecho a seguir, de Helena Hirata (1946-) e Da-
nièle Kergoat (1942-), pode auxiliar a turma na discus-
são proposta.
A divisão sexual do trabalho é a forma de
divisão do trabalho social decorrente das rela-
ções sociais entre os sexos [...]. Essa forma é
modulada histórica e socialmente. Tem como
características a designação prioritária dos ho-
mens à esfera produtiva e das mulheres à es-
fera reprodutiva e, simultaneamente, a apro-
priação pelos homens das funções com maior
valor social adicionado (políticos, religiosos,
militares, etc.).
HIRATA, Helena; KERGOAT, Danièle. Novas configurações
da divisão sexual do trabalho. Cadernos de Pesquisa. São
Paulo, v. 37, n. 132, set.-dez. 2007. p. 595-609. Disponível
em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0100-15742007000300005&lng=en&nrm=iso.
Acesso em: 7 set. 2020.
Se julgar adequado, reproduza esse conceito no qua-
dro e explique que o caráter público das funções ditas
masculinas, em oposição ao caráter doméstico das fun-
ções ditas femininas, possibilitou aos homens maior
desenvolvimento político e econômico. Nesse proces-
so, as instituições e visões de mundo reproduziram va-
lores machistas. As diferenças de status e a ideia de pro-
dutividade passou a ser biologizada, ou seja, associadas
ao gênero e não à função, o que resultou na discrimi-
nação feminina no trabalho. Ainda hoje, homens e mu-
lheres com o mesmo grau de escolaridade, experiências
profissionais compatíveis e assumindo cargos de mes-
mo nível e mesma função são tratados de forma dife-
rente e recebem salários desiguais.
A prerrogativa biológica da questão reprodutiva no
caso das mulheres justificou a construção cultural da
imagem da mulher “do lar”, como se fosse “natural” a
ela ser mãe, cuidar dos assuntos domésticos, do mari-
do e dos filhos, sem ocupar cargos públicos ou ter des-
taque em qualquer tipo de profissão. O fato de a mu-
lher poder gerar uma criança justificou por séculos, e
para muitos grupos ainda justifica, a ideia de que ela
deve ser a única ou a principal responsável pelas tare-
fas domésticas e cuidado com os filhos. Essa imagem
é reforçada por grupos políticos, veículos de comuni-
cação e pela indústria cultural.
Certifique-se de que os estudantes compreenderam
que essa ideia biologizante, que associa capacidade
com conceitos da Biologia, ou, neste caso, com o gê-
nero, é uma falácia. É um preconceito de senso comum,
sem comprovação científica.
■ Atividade complementar
Para que os estudantes identifiquem essa situação
na realidade, convide-os a realizar uma pesquisa entre
as propagandas veiculadas na televisão. Combine o pra-
zo de uma semana e solicite a eles que observem em
quais propagandas aparecem mulheres e em quais pro-
pagandas aparecem homens e quais são os produtos
comercializados. Para finalizar, solicite a eles que escre-
vam um texto com as seguintes informações: “Que ti-
po de produto foi anunciado?”; “Quais pessoas apare-
ciam na propaganda?”; “O que elas faziam?”; “Qual era
a mensagem principal da propaganda?”.
Cada estudante deve escrever sobre três propa-
gandas. Na data combinada, forme uma roda de con-
versa para que eles comentem as propagandas. Atual-
mente, algumas marcas de produtos de limpeza já
utilizam atores para fazerem as propagandas, mas são
poucos casos, e isso foi fruto do movimento das mu-
lheres. Aproveite para comentar essa questão com os
estudantes.
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 216V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 216 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS | 217
Interpretar (p. 67)
1. As profissões que são consideradas “masculinas”,
como operador de máquinas, setor de constru-
ção e atividades intelectuais, apresentam maior
diferença de salário entre homens e mulheres.
Espera-se que os estudantes entendam que essa
disparidade se baseia na discriminação de gênero.
2. A menor participação feminina se dá nos traba-
lhos ligados à operação de máquinas, construção
e forças armadas. Essas atividades são conside-
radas pela sociedade como “masculinas”. Essa
ideia faz parte da socialização de meninos e
meninas, que vão apresentar diferenças de inte-
resse profissional com base no que é esperado
deles pela sociedade.
3. Não é possível associar a diferença salarial com o
nível de formação escolar por gênero. Fica claro
que as mulheres são a maioria (63%) da força de
trabalho intelectual, que exige alto nível de esco-
laridade, mas recebem cerca de 35% a menos do
que os homens que ocupam a mesma função.
As atividades desse boxe exigem que os estudan-
tes analisem e comparem indicadores de trabalho
e renda que expõem a discriminação e a desigual-
dade de gênero no trabalho, desenvolvendo a ha-
bilidade EM13CHS402.
Interpretar (p. 69)
1. Segundo o texto de Angela Davis, a remuneração
das atividades domésticas ficaria, com o passar do
tempo, mais cara e, em algum momento, levaria
à industrialização dessas mesmas atividades. Ou
seja, começaria a existir serviços especializados de
limpeza doméstica e o incremento de produtos
voltados para essa função.
2. Seria improvável construir valor ao trabalho do-
méstico a partir da remuneração desse trabalho,
porque a lógica é inversa: o trabalho doméstico,
mesmo que remunerado, será sempre mal pago,
justamente porque não é valorizado socialmente.
3. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes com-
preendam, com base em saberes empíricos e nos
textos, que remunerar o trabalho doméstico não
é suficiente para fazer com que ele seja valorizado
pela sociedade. A remuneração em si não é uma
má ideia, mas ela não pode ser vista como algo
que vai emancipar as mulheres na sociedade.
No tópico “A inclusão de negros e indígenas”, intro-
duz-se o conceito de racismo estrutural, como uma
forma sistematizada de preconceito. Apresente a eti-
mologia da palavra “estrutural” para que os estudantes
compreendam melhor o conceito. A palavra “estrutu-
ra” vem do latim structūra, que significa ação ou modo
de edificar ou de construir, podendo significar também
a disposição dos elementos que constituem um corpo
ou sua organização.
Partindo do significado da palavra, será mais fácil
para os estudantes compreenderem que qualquer
preconceito estrutural diz respeito a uma visão de
mundo que perpassa todos os segmentos de uma
sociedade. Reforce que, embora essa visão tenha sido
construída historicamente, ela é geralmente natura-
lizada. Explique a eles que, basicamente, naturalização
é um processo de tornar “natural” situações específi-
cas, levando as pessoas a não enxergarem de forma
crítica comportamentos, hábitos e visões de mundo
construídas histórica e socialmente.
As postagens de uma internauta a seguir podem
ser apresentadas aos estudantes para servirem como
base para a reflexão sobre a naturalização do racismo.
Projete a imagem a seguir para os estudantes ou
distribua cópias a eles para aprofundar o debate sobre
a questão da naturalização do racismo na sociedade
brasileira e de que forma essa naturalização é exposta,
sobretudo nas redes sociais. Aproveite para incentivá-
-los a compartilhar situações de racismo que já viram
ou presenciaram na vida ou nas redes sociais. Pode-se
também fazer uma pesquisa rápida na internet para
buscar publicações de redes sociais ou reportagens que
denunciam esse tipo de racismo.
Interpretar (p. 70)
1. A partir de uma regra de três, os estudantes chega-
rão à conclusão de que a diferença da renda média
por hora entre brancos e pretos e pardos é de 41%.
2. O nível de educação com maior diferença salarial
é o Ensino Superior Completo, com 31% de dife-
rença. Isso acontece porque as pessoas afrodes-
cendentes com essa escolaridade ocupam cargos
mais baixos e, portanto, com menor remuneração.
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 217V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 217 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
218
Os estudantes, ao realizarem essas atividades, são
levados a articular estratificação e desigualdade eco-
nômica e desnaturalizar formas de discriminação, tra-
balhando as habilidades EM13CHS402 e EM13CHS502.
Interpretar (p. 71)
1. Espera-se que os estudantes tenham entendido o
sentido de “estrutural” e respondam que o racismo
estrutural é uma ideia preconceituosa, construí-
da ao longo de muito tempo e que atravessa
os diferentes níveis da sociedade. Dessa forma, o
preconceito seria institucionalizado, provocando
uma discriminação sistemática e naturalizada de
grupos racializados por meio de um tratamento
diferenciado de toda a sociedade em relação à
oferta de condições e de oportunidades sobretudo
em relação à educação, à saúde e ao trabalho.
2. Resposta pessoal. Há várias formas de discrimina-
ção racial vigentes na sociedade. Os estudantes
podem apontar a ação policial, por exemplo,
que geralmente desconfia de afrodescendentes
ou age de forma agressiva em relação a eles. Se
julgar adequado, durante a correção da ativida-
de, retome o caso mundialmente conhecido do
estadunidense George Floyd, ocorrido em 2020,
sufocado até a morte por um policial branco,
ainda que a vítima estivesse avisando que não
conseguia respirar.
No tópico “Indígenas”, são apresentadas as princi-
pais ideias preconceituosas em relação a esse grupo.
Seria interessante aprofundar o conhecimento dos
estudantes, explicando que parte dessa visão surgiu
no início do estudo do evolucionismo social. No sé-
culo XIX, alguns estudiosos utilizaram a teoria de Dar-
win de evolução das espécies para aplicar às diferen-
tes sociedades. De acordo com o evolucionismo
social, todas as sociedades humanas passariam por
estágios de desenvolvimento social, começando do
mais primitivo e próximo da natureza, com organiza-
ções sociais simples e voltadas para a sobrevivência,
até o estágio mais avançado do desenvolvimento hu-
mano, em que as sociedades seriam guiadas pela com-
plexidade racional, cultural e por maior domínio da
natureza. Os representantes desse estágio mais de-
senvolvido, o que significava “mais civilizado”, seriam
os brancos da Europa ocidental.
Com base nessas teorias, os indígenas, povos com
organizações sociais mais simples do que a dos eu-
ropeus, do ponto de vista dos europeus, seriam con-
siderados inferiores. É importante reforçar para os
estudantes que essa teoria evolucionista ligada aos
primórdios da Antropologia foi descartada há dé-
cadas entre os cientistas, mas acabou sendo difun-
dida no senso comum e muitas pessoas, ainda hoje,
a utilizam como forma de classificar sociedades e
culturas ao redor do mundo. Hoje em dia, há cen-
tenas de estudos antropológicos que comprovam a
complexidade do pensamento e da organização de
povos indígenas, embora seus hábitos de vida sejam
simples do ponto de vista das pessoas que vivem
nas cidades, em uma lógica de organização ociden-
tal capitalista.
Outra concepção equivocada sobre os indígenas é
a de que eles vivem ou que deveriam viver como há
500 anos para serem considerados indígenas. Essa ideia
parte de um essencialismo ou engessamento da cultu-
ra, como se pessoas e grupos tivessem que reproduzir
determinadas características eternamente para terem
suas identidades reconhecidas. Os estudantes devem
estar cientes de que as identidades não têm que estar
obrigatoriamente ligadas às roupas, apetrechos e uso
de tecnologias. As identidades são construídas pelo
compartilhamento de elementos essenciais – muitas
vezes subjetivos – para a visão de mundo de um gru-
po. Os indígenas, portanto, não precisam usar cocares
e pinturas corporais para provar sua identidade indí-
gena. Suas vidas e organizações sociais são complexas,
eles sabem se são ou não indígenas, porque se consi-
deram assim, e devem ter a afirmação de suas identi-
dades respeitadas.
Para melhor compreensão, faça uma analogia dessa
cobrança de identidade indígena com o caso de um
brasileiro que tivesse que provar sua identidade demons-
trando alegria, dançando samba ou jogando futebol.
Interpretar (p. 73)
1. Segundo o mapa, o estado brasileiro com maior
número de indígenas é o Amazonas, com a presença
de mais de 80 mil deles. Essa realidade se deve ao
fato de esse estado concentrar a maior cobertura
florestal do planeta, de forma que muitos grupos que
ali vivem conseguirem se manter sem comunicação
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 218V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 218 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS | 219
com o não indígena. Além disso, é o estado onde
se concentra o maior número de reservas indígenas.
2. O gráfico mostra que, em 1991, o número de
indígenas vivendo em terras indígenas era mais do
que o dobro do que o que vivia na área urbana.
Esse quadro se modifica nos anos 2000, quan-
do o número da população indígena em terras
indígenas e em área urbana é praticamente o
mesmo. Na coluna do ano de 2010 ocorre outra
modificação; dessa vez, o número da população
indígena morando em terras indígenas quase do-
bra, passando de 350 mil para 502 mil, enquanto
na área urbana esse número cai de 383 mil para
315 mil. Informações adicionais que expliquem
esse aumento de habitantes indígenas em terras
indígenas ainda não foram confirmadas, mas existe
indicações de que os indígenas da área urbana
se mudaram para reservas criadas pelo governo
federal durante o período entre 2000 e 2010.
3. Resposta pessoal, de acordo com o local de mo-
radia dos estudantes. De qualquer forma, espe-
ra-se que eles consigam argumentar, a partir da
análise dos dados do mapa, que a população
indígena é pequena se comparada à totalidade
populacional do país (cerca de 0,47% de acordo
com o Censo 2010).
Os estudantes, ao analisarem os gráficos para com-
preenderem os processos sociais dos grupos indígenas nas
últimas décadas, trabalham a habilidade EM13CHS101.
Conversa (p. 74)
Essa atividade propõe aos estudantes organizar os
pontos principais da sua aprendizagem para expor uma
análise crítica sobre a estrutura social do Brasil. Espera-
-se que, no decorrer do estudo, eles tenham compreen-
dido que não há de fato uma democracia social no
Brasil. Os dados, gráficos e tabelas mostram que o ra-
cismo, o machismo e a xenofobia são estruturais, o que
dificulta o acesso dos grupos minoritários a vários di-
reitos humanos, à ascensão econômica e à valorização
de suas identidades.
No tópico “Os idosos”, os estudantes são levados a
refletir sobre o envelhecimento e as possibilidades de
os idosos se reinserirem na sociedade de maneira par-
ticipativa e, principalmente, valorizada. Além disso, é
discutido como a sociedade precisaria reformular sua
visão em relação à velhice, que coloca as pessoas des-
sa faixa etária em um lugar cujas possibilidades de vida
se restringem ao cuidado, ao descanso ou a “passar o
tempo”, como se não fosse mais possível contribuir pa-
ra a sociedade de alguma forma.
Por outro lado, é fato que o envelhecimento reforça
a discussão sobre o cuidado de cada grupo da socieda-
de. Nesse sentido, aprofunde a questão com os estudan-
tes ressaltando a falta de políticas públicas com essa par-
cela da população, que está em constante crescimento.
■ Texto complementar
Leia para os estudantes trechos do artigo “Envelhe-
cimento populacional, cuidado e cidadania: velhos di-
lemas e novos desafios”, reproduzidos a seguir, para
ampliar o assunto tratado.
No Brasil, a Constituição de 1988, a Política
Nacional (1994) do Idoso e o Estatuto do Idoso
(2003) consideram que o suporte aos idosos e
às idosas seja da responsabilidade da família,
do Estado e da sociedade. [...]
A participação do Estado brasileiro é apenas
pontual e com reduzidas responsabilidades,
quando comparadas às responsabilidades das
famílias. Por falta de recursos de ordem finan-
ceira que permitam a contratação de cuidado-
res/as especializados/as, que atendam no am-
biente familiar, os cuidados aos/às idosos/as
geralmente são realizados por um membro da
família, em sua grande maioria uma mulher
que reside no mesmo domicílio ou próximo do
domicílio do/a idoso/a.
[...] Há, pois, uma clara sobrecarga por par-
te das mulheres e essa sobrecarga influencia-
rá decisivamente sobre o trabalho que elas rea-
lizam, ou desejam realizar no mercado de
trabalho. Não nos surpreende, portanto, que,
devido aos intensivos afazeres domésticos, as
mulheres encontrem como alternativa o em-
prego em jornadas de trabalho menores que,
por conseguinte, remuneram menos. Em 2007,
41% das mulheres trabalhavam habitualmen-
te menos de 40 horas, para apenas 18,6% dos
homens (BRASIL, 2009, p. 16).
KUCHEMANN, Berlindes Astrid. Envelhecimento
populacional, cuidado e cidadania: velhos dilemas e novos
desafios. Sociedade e Estado. Brasília, v. 27, n. 1, jan.-abr. 2012.
p. 165-180, Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922012000100010&lng
=en&nrm=iso. Acesso em: 6 set. 2020.
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 219V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 219 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
220
Após a leitura do texto, proponha aos estudan-
tes uma roda de conversa cujo tema seja as mudan-
ças e ações necessárias para um envelhecimento
mais saudável e justo no sentido do cuidado com
os idosos. Procure intermediar a conversa, garantin-
do a reflexão sobre os âmbitos micro (mudança de
perspectiva pessoal em relação à velhice e produti-
vidade do idoso e à participação igualitária de todos
na família em relação ao cuidado) e macro (papel
do Estado na produção de políticas públicas para o
idoso, seja para reinserção no mercado de trabalho,
seja no âmbito do cuidado psicológico, emocional
e físico).
No tópico “Os jovens”, a juventude é apresenta-
da como fase de transição para a maturidade, mas
também como uma etapa de empoderamento, con-
testação e até oposição aos valores tradicionais. Pa-
ra trabalhar esse assunto, realize a atividade a seguir
com os estudantes em sala de aula.
■ Atividade complementar
Organize esta atividade em dois momentos. No pri-
meiro momento, apresente os trechos a seguir como
ponto de partida para uma discussão em que os estu-
dantes possam, com base em suas próprias experiên-
cias, pensar se os trechos fazem sentido, considerando
a forma como estão vivenciando esse período.
Em um segundo momento, apresente dados so-
bre deficiência no Brasil e abra uma discussão a fim
de cruzar esses dois marcadores: juventude e defi-
ciência. Embora esse último marcador social da di-
ferença não tenha sido trabalhado no capítulo, ele
é fundamental, uma vez que as pessoas com defi-
ciência sofrem discriminações e têm vários de seus
direitos violados. Além disso, pensar sobre deficiên-
cia exige alteridade, repensar a forma como as pes-
soas com deficiência são vistas (geralmente coloca-
das como vítimas ou heróis) e analisar as políticas
públicas voltadas para este grupo, contribuindo pa-
ra o aprofundamento das questões ligadas à desi-
gualdade no Brasil.
Dessa forma, o primeiro momento vai permitir que
os estudantes pensem a respeito de seu lugar na socie-
dade e de sua potencialidade de ação para seu projeto
de vida e para a cidadania. Essa reflexão será aprofun-
dada em informação e sentido durante a proposta do
segundo momento.
1o momento: Reproduza os trechos a seguir no
quadro e pergunte aos estudantes se eles concordam
com essas afirmações sobre juventude e como eles se
sentem nessa fase da vida.
“[...] a ideia de devir como algo a se realizar;
nesse sentido, localizar-se na juventude é ain-
da não ser, é estar em um período de luto pela
morte da infância e de espera pelo ser o adulto
que ainda não se fez completamente.”
“[...] a possibilidade de os sujeitos jovens
construírem uma biografia marcada pela au-
tenticidade, maior possibilidade de movimen-
to e transgressão dos limites sociais, históricos
e culturalmente estabelecidos [...].”
TRANCOSO, Alcimar Enéas Rocha; OLIVEIRA, Adélia
Augusta Souto. Aspectos do conceito de juventude
nas Ciências Humanas e Sociais: análises de teses,
dissertações e artigos produzidos de 2007 a 2011.
Pesquisas e práticas psicossociais, São João del-Rei, v. 11, n. 2
maio-ago. 2016. p. 278-294. Disponível em: http://pepsic.
bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-
89082016000200002&lng=pt&nrm=iso.
Acesso em: 7 set. 2020.
Em seguida, permita aos estudantes que expres-
sem suas ideias, dúvidas, medos e potencialidades
em relação ao futuro. Eles vão perceber que com-
partilham grande parte das inseguranças que acha-
vam ser apenas deles com os colegas. Por outro lado,
estudantes mais maduros podem fornecer dicas e
compartilhar conhecimentos e experiências, crian-
do uma atmosfera de colaboração e empatia, o que
contribui também para a construção de segurança
emocional e afeto entre os colegas de sala de aula.
Essa atividade favorece o trabalho de autoconheci-
mento pelos estudantes e da construção de empatia
entre os colegas.
2o momento: Apresente os seguintes dados aos
estudantes. Você pode reproduzi-los em papel ou pro-
jetá-los com um equipamento multimídia.
• Os tipos de deficiência podem ser: físico, mental
(problemas psíquicos), sensorial e intelectual (pro-
blemas cognitivos) e cada qual tem suas próprias
complexidades.
• No mundo, as pessoas com deficiência chegam a
600 milhões.
• 80% das pessoas com deficiência estão nos países
em desenvolvimento.
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 220V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 220 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS | 221
• No Censo de 2010, 24,6 milhões de brasileiros, ou
14,5% da população total, afirmavam ter algum ti-
po de deficiência.
Brasil: tipos de deficiência – 2010
Deficiência AUDITIVA
Deficiência MOTORA
Deficiência VISUAL
Deficiência INTELECTUAL
4%
16%
22%
58%
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Secretaria Municipal de Saúde. Estra-
tégia acompanhante de saúde da pessoa com deficiência. São Paulo, 2016. p. 12. Dis-ponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/saude/APD%20DOCUMENTO%20NORTEADOR%2017112016.pdf. Acesso em: 11 set. 2020.
É importante mostrar que o fato de 80% das pes-
soas com deficiência estarem em países em desen-
volvimento não é por acaso. Essa alta taxa é fruto
do baixo investimento em saúde pública e em tra-
tamento adequado para esse grupo. Muitas vezes,
as crianças com deficiência são diagnosticadas tar-
diamente (por falta de um sistema de saúde eficien-
te) e, quando são, têm dificuldade de acesso a tra-
tamentos e ficam em casa, por falta de estrutura e
formação adequada dos professores nas escolas, o
que aumenta ainda mais o nível de sofrimento e iso-
lamento social.
Nesse sentido, reforce o diagnóstico precoce co-
mo essencial. Os cuidados devem começar já no
acompanhamento do pré-natal. Além de prevenir e
detectar futuras deficiências, esse acompanhamento
ajuda na preparação da família para receber essa
criança e, consequentemente, em seu desenvolvimen-
to posterior e na sua qualidade de vida.
Também é importante abrir espaço e incentivar a
colaboração de um estudante com deficiência. A me-
diação precisa ser sensível, garantindo o respeito de
fala do estudante com deficiência e incentivando o
respeito à diversidade por parte dos outros colegas.
Esse momento precisa ser de reflexão para se com-
preender de maneira mais clara que a deficiência é
uma condição especial, que precisa de apoio e estru-
tura, mas que não impede a pessoa de participar da
sociedade. É necessário deixar claro que as pessoas
com deficiência não precisam ser consideradas heroí-
nas, mas pessoas em condições diferenciadas que,
muitas vezes, têm seus direitos sociais violados pela
ineficiência do Estado.
Verifique o andamento da conversa para que as
interações levem os estudantes a perceberem que a
escola também é um lugar para o treino da escuta,
de cuidado com o outro e de respeito aos valores
democráticos.
Incentive os estudantes a levar essa discussão à
frente nas aulas sobre os projetos de vida, em que ha-
verá tempo e trabalho sistematizado com orientações
sobre o presente e o futuro dos jovens.
Essa atividade possibilita que os estudantes pen-
sem suas relações com a sociedade dentro do con-
texto da adolescência e desenvolvam alteridade e crí-
tica para a construção de uma sociedade mais justa,
reforçando o trabalho com as Competências gerais 6
e 8. O desenvolvimento dessas competências reflete
também na convivência escolar, sensibilizando os es-
tudantes sobre questões como bullying e preconcei-
tos no dia a dia.
Interpretar (p. 77)
1. A crítica principal do texto se refere à forma como
as políticas públicas pensam a juventude. Segundo
o autor, essas políticas se voltam, principalmente,
para a construção do trabalhador, privilegiando a
formação técnica em detrimento de uma forma-
ção integral. Essas políticas podem gerar frustra-
ções e dificultar o autoconhecimento dos jovens
e a construção de projetos de vida mais criativos,
prejudicando a formação de cidadãos críticos e
conscientes de suas possibilidades.
2. Resposta pessoal. Espera-se que os jovens tenham
compreensão da importância de uma formação
integral para a vida. É normal que eles estejam
ansiosos e preocupados com o mercado de tra-
balho, principalmente dependendo da situação
econômica da família. Apesar disso, é preciso
reforçar que a crítica do texto vai no sentido
de denunciar que o Estado deveria ter como
princípio o desenvolvimento pleno dos jovens, e
não a produção de uma massa de trabalhadores
que sejam apenas técnicos e sem autonomia e
criticidade para exercer a cidadania.
Ban
co d
e im
agen
s/A
rqui
vo d
a ed
itora
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 221V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 221 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
222
3. Resposta pessoal, de acordo com a experiência de
vida de cada estudante. De qualquer forma, é im-
portante que eles pensem no assunto e busquem
informações sobre políticas públicas voltadas ao
jovem no município onde vivem. Para isso, peça aos
estudantes que complementem a questão com uma
pesquisa na internet e que, depois, troquem ideias
sobre os programas que tiveram conhecimento.
� Diálogos (p. 78 e 79)
1. a) No primeiro texto, houve a violação do direito
de expressão, quando o governo Vargas fechou,
entre outros, os jornais da Frente Negra. No
segundo texto, o Relatório Figueiredo mostra
que na ditadura militar houve assassinato de
indígenas, prostituição de mulheres indígenas,
trabalho forçado e apropriação de terras e re-
cursos indígenas, entre outros abusos e crimes.
b) A organização da atividade proposta vai va-
riar de acordo com a instituição escolhida, que
considera também as experiências pessoais dos
componentes de cada grupo.
c) Se necessário, organizem algumas perguntas
coletivamente para que os grupos possam se
basear ao elaborar seu próprio questionário,
que deve ser bem simples e pode ser enviado
por e-mail ou outro aplicativo de mensagem.
Caso o acesso à tecnologia seja mais restrito,
os estudantes podem trabalhar com base no
conhecimento de vida deles.
Caso optem pelo questionário, os estudantes devem
se lembrar de anotar o nome do entrevistado e pedir pa-
ra que ele/ela conceda uma declaração de uso das suas
opiniões e respostas. Mesmo que seja uma atividade sim-
ples, é necessário ter em mente que existe um código de
ética para uso de qualquer informação que seja dada em
entrevistas. Pode ser usado o modelo a seguir.
“Eu, (nome da pessoa), de RG: (número do RG),
funcionário da instituição (nome da instituição),
declaro estar de acordo com o uso das minhas de-
clarações para finalidade didática na escola (nome
da escola).
(Local e data)
(assinatura do/a entrevistado/a)”
d) Esse item tem o objetivo de articular o trabalho
escolar com trabalhos que já estão sendo desen-
volvidos de forma institucional e séria. Dessa for-
ma, o trabalho de ONGs e coletivos se conectará
à realidade escolar e vice-versa, com atuações e
significados concretos sobre as formas de pensar
e agir dos estudantes. Ao realizar a atividade, os
estudantes têm a oportunidade de trabalhar
as habilidades EM13CHS503 e EM13CHS601, já
que pensar a atuação de coletivos em busca
de justiça e respeito implica em fazer análises
históricas de exclusão social desses grupos. Ao
mesmo tempo, exige que os estudantes traba-
lhem com conceitos de democracia, cidadania,
participação política e atividades de intervenção
na comunidade escolar.
2. Essa atividade possibilita aos estudantes o de-
senvolvimento das habilidades EM13CHS601 e
EM13CHS606 ao relacionar a estrutura política e
o contexto histórico brasileiro com as demandas
políticas de indígenas e afrodescendentes no Brasil.
a) A primeira imagem mostra não apenas a hierar-
quia, mas a animalização a que os escravizados
eram submetidos. A segunda imagem retrata
a ideia do indígena “puro e natural”, um ser
subserviente (pela posição dele em relação ao
padre), pronto para ser moldado e civilizado
pela doutrina cristã. Fica claro no texto I que
os afrodescendentes se organizam em torno de
movimentos políticos que exigem discussões
profundas sobre relações de poder na socie-
dade (libertários, anticolonialistas) e que foi por
meio dessa organização coletiva e de discussões
teóricas que eles ganharam visibilidade política.
Com os indígenas acontece o mesmo, com a
diferença de que o cacique Raoni enfatiza a
importância do ensino superior e da especiali-
zação formal sobre a própria cultura, para que
esta seja preservada e difundida.
b) É importante que os estudantes trabalhem a
compreensão de documentos históricos, con-
siderando a iconografia como um documento
histórico legítimo que pode dizer muito sobre
determinado período. Neste caso, as imagens
também servem de mote para a retomada de
todo o conteúdo trabalhado nesta seção. A
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 222V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 222 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS | 223
conclusão é a de que não há vitimização por
parte dos grupos minoritários, mas sim luta por
reparações históricas. Apesar disso, a proposta
de discussão é válida para que outros pontos
de vista possam aparecer e serem mediados
em sala.
� Inadequação juvenil? (p. 80 a 82)
PROFESSOR INDICADO Filosofia ou Sociologia
Nesse tópico trabalha-se, principalmente, a cons-
trução social da adolescência como fase de impulsivi-
dades e transgressões. As dificuldades com mudanças
hormonais e transformações do corpo acabam sendo
reforçadas e associadas à ideia de que a adolescência
é uma fase de devir, um não lugar, um momento pro-
blemático na vida dos jovens, o que acarreta outros
problemas.
Na sociedade atual, os adolescentes são muito co-
brados em relação ao futuro, especialmente, sobre co-
locação no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo,
existe uma ideia de adolescência como uma fase trans-
gressora e impulsiva. Dessa forma, fica difícil para o
jovem compreender se deve se identificar com o es-
tereótipo do adolescente “impulsivo” ou se deve or-
ganizar seu comportamento para alcançar as expec-
tativas da sociedade em relação ao mercado de
trabalho, o que poderia exigir dele seriedade e méto-
do nos estudos, por exemplo.
Trata-se de um impasse que, obviamente, não será
resolvido em algumas aulas sobre a temática. De qual-
quer maneira, a função da escola é justamente a de
apontar que esta concepção de adolescência é uma
construção social e, ainda que tenha sido cientifica-
mente comprovado que essa fase é perpassada por
modificações hormonais (conhecidas como puberda-
de), não significa que essas mudanças tenham que re-
sultar em problemas, sofrimentos e desvios de condu-
ta. Para tanto, reforce que é possível passar pela
adolescência, com todas as suas transformações, de
forma mais tranquila, com auto-organização e uma boa
percepção de si. É possível também descobrir o mun-
do, novos interesses, fazer críticas políticas e aos valo-
res tradicionais de forma consciente, com escuta, e cui-
dado consigo e com os outros.
Interpretar (p. 82)
Esta atividade trabalha a habilidade EM13CHS502
por trazer a reflexão sobre diferentes estilos de vida e
valores a partir de um olhar crítico baseado na solida-
riedade e nos direitos humanos e, principalmente, nas
diferenças socioculturais.
1. Segundo a autora, a adolescência tem se ampliado
entre as camadas mais abastadas da sociedade
por conta da necessidade cada vez maior de es-
pecialização para boas colocações de trabalho.
Nesse processo, a dependência das instituições
educativas acaba se prolongando e deixando os
filhos dependentes por mais tempo.
2. Segundo a autora, nas sociedades indígenas a fase
da adolescência não é necessária, porque esses
povos entendem que o corpo estar apto para
a procriação e conhecer a divisão sexual do tra-
balho já são saberes suficientes para assumir as
responsabilidades da vida adulta. Dessa forma, cada
sociedade estabeleceria rituais de passagem para
a transformação da criança em um adulto.
3. Resposta pessoal. Esse momento de reflexão é
importante para levar os estudantes a refletir
sobre seus próprios valores e ideias sobre “ser
adulto”, que podem não corresponder, necessaria-
mente, à autonomia financeira ou a uma escolha
profissional.
� Conexões – Ciências da Natureza e suas Tecnologias (p. 83)
Leia o texto com os estudantes e antes de solicitar a
eles que realizem as atividades, questione-os sobre quais
são os sinais que indicam as diferenças entre as gerações.
Um dos sinais mais evidentes é a relação que as gerações
possuem com a tecnologia. Comente com os estudan-
tes que as gerações anteriores podem sentir dificuldade
em usar aparelhos eletrônicos mais avançados, enquan-
to as gerações mais novas apresentam maior habilidade
nesse uso, assim como a linguagem que eles utilizam é
mais alinhada com as novas tecnologias. As atividades
a seguir podem ser realizadas coletivamente.
• Resposta pessoal. Incentive os estudantes a comen-
tarem por que acreditam que um adulto de 25 anos
faça parte ou não da mesma geração que eles.
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 223V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 223 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
224
• Espera-se que os estudantes respondam que a re-
lação deles com um adulto de 25 anos seja de so-
breposição geracional, já que correspondem ao
pressuposto da teoria de 1990 da relação dos jovens
com a tecnologia digital.
� Diálogos (p. 84 e 85)
1. a) O autor defende a ideia de que não se deve
haver barreiras entre a vida dentro e fora do
trabalho – ambas as “vidas” devem ser pautadas
na realização da liberdade e da necessidade –
criando uma forma de sociabilidade. Se uma
vida fora do trabalho não tem sentido, ela tam-
bém não terá sentido dentro do trabalho – já
que são esferas interdependentes que integram
a vida de todo ser humano.
b) Respostas pessoais. Comente com os estudantes
que trabalho não se refere apenas às atividades
remuneradas – o trabalho doméstico, por exem-
plo, é um tipo de trabalho. No caso dos estu-
dantes que já exercem atividades remuneradas,
convide-os a relatar suas experiências. Incentive
os estudantes a compartilhar suas respostas e a
justificarem por que consideram determinadas
funções exaustivas e/ou entediantes.
c) Respostas pessoais. Essa atividade aborda o
status social das profissões e os motivos que
levam algumas profissões serem mais valorizadas
que outras. Pergunte aos estudantes por que
em algumas profissões as pessoas têm maio-
res jornadas de trabalho e salários menores do
que outras, em que as jornadas são menores,
mas os salários são mais altos. Esclareça para
eles que essa diferença geralmente ocorre por
causa do tipo de especialização do trabalho e
da necessidade de qualificação do profissional
para exercer determinada tarefa, porém ressalte
a importância de se respeitar todas as pessoas,
independentemente de suas profissões.
d) Respostas pessoais. A atividade pressupõe que
os estudantes tenham um trabalho remune-
rado, porém, se não for o caso de todos os
estudantes, oriente-os a responder às questões
considerando as atividades obrigatórias, como
as escolares e as responsabilidades domésticas
ou cursos livres que frequentem. Essa é uma
atividade adequada para que os estudantes tra-
balhem a Competência geral 8 porque coloca
em discussão a necessidade de equilibrar os
períodos produtivos com os períodos de lazer
como forma de cuidar do bem-estar e, por-
tanto, da saúde mental. Essa é uma fase em
que os estudantes estão sob bastante pressão
tanto social quanto familiar pela necessidade
de passar em um vestibular, ingressar em uma
universidade pública e escolher uma área para
atuar profissionalmente. Aproveite para formar
uma roda de conversa para que eles comentem
sobre como lidam com essas situações e o que
fazem para exercitarem o autocuidado.
e) Segundo o autor, o trabalho deve fazer sentido
para o indivíduo independentemente de seu
valor para a sociedade. Segundo ele, o traba-
lho está subordinado ao capital seguindo uma
divisão hierárquica, em que alguns são mais
valorizados que outros. A ideia de que um
trabalho é mais valorizado que outro é uma
herança da cultura escravocrata, sobretudo
no Brasil, que tende a desvalorizar o trabalho
braçal e supervalorizar o trabalho intelectual,
como se o último fosse superior ao primeiro.
Porém, todas as profissões são igualmente ne-
cessárias para o funcionamento da sociedade.
É esperado que os estudantes compreendam e
reconheçam que os indivíduos devem ser res-
peitados para além das funções que exercem
e das remunerações que recebem.
• Oriente a cada grupo que eleja um represen-
tante para coletar os elementos em comum
entre as famílias dos integrantes e para com-
por um breve texto. Caso não haja similari-
dade entre as famílias dos integrantes, solicite
a eles que listem as diferenças.
• Forme uma roda de conversa para que cada
grupo socialize suas conclusões, e incentive-
-os a dizer por que as similaridades ocorrem
entre as famílias. Se houver grupos com dife-
renças entre as famílias, explore-as e peça a
eles que comentem como é a relação com
o trabalho desses familiares.
2. Essas atividades podem ser feitas de forma cole-
tiva como na atividade anterior. São atividades
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 224V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 224 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS | 225
que possibilitam aos estudantes o exercício da
Competência geral 8, já que exigem a autorre-
flexão de períodos de sua vida e a percepção de
como se veem atualmente, levando ao autoco-
nhecimento. Ao longo da realização da atividade,
oriente os estudantes a assumirem uma posição
de empatia e respeito à opinião do outro com
o objetivo de estimular entre eles um convívio
democrático.
a) Resposta pessoal. É provável que os estudan-
tes respondam que a palavra jovem se refira a
pessoas com 14 a 20 anos aproximadamente.
Incentive-os a justificar o que determina essa
faixa etária jovem.
b) Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes
respondam que se tornaram jovens quando
deixaram de ser crianças ou pré-adolescentes,
ou quando deixaram de realizar determinadas
brincadeiras ou perceberam mudanças no cor-
po, entre outras possibilidades.
c) Respostas pessoais. Essas respostas podem variar
bastante, abrangendo brincadeiras, consumo de
produtos culturais, como filmes, séries, livros,
músicas, mudanças no tipo de roupas, entre
outras coisas. Incentive os estudantes a comen-
tar livremente sobre essas mudanças.
d) Respostas pessoais. Na cultura brasileira,
é bastante comum as crianças não serem
ouvidas pelas pessoas mais velhas por “não
saberem das coisas”, por precisarem “ser edu-
cadas”; enquanto na faixa etária dos 14 aos
17 anos é a fase da adolescência que, muitas
vezes, é vista de forma bastante pejorativa
pelos familiares mais próximos. É provável
que os estudantes relatem tratamentos si-
milares a esses.
e) Respostas pessoais. Espera-se que os estudantes
respondam que as possibilidades de vida não
são iguais para todos e que, por isso, as lutas
pelos direitos humanos e o exercício da cidada-
nia são tão importantes. Essa questão também
é uma oportunidade para que os estudantes
compartilhem expectativas sobre a vida futura
e para que você se aproxime deles de forma
a avaliar se algum deles necessita de cuidados
voltados para a saúde mental.
� Você precisa saber (p. 87)
Reserve uma aula com os estudantes para a reali-
zação dessa atividade com o objetivo de retomar os
conteúdos tratados ao longo do capítulo e esclarecer
possíveis dúvidas que eles ainda possam ter.
� Retome o contexto (p. 87)
1. Resposta pessoal. Se julgar necessário, volte ao início
do capítulo e releia as questões com os estudantes.
2. Resposta pessoal. Espera-se que os estudantes
respondam que é necessário fiscalizar a atuação
dos órgãos públicos, respeitar e agir de acordo
com os direitos humanos, exercer a cidadania e
lutar por melhores condições de vida por meio da
participação política, entre outras possibilidades.
3. Respostas pessoais. Se considerar interessante, reali-
ze uma aula na sala de informática para que os es-
tudantes pesquisem possibilidades de intercâmbio,
histórias de quem já estudou em outro país, quais
são os tipos de bolsas e convênios existentes e, ao
final, converse com eles para saber se consideram
uma possibilidade viável ou não e por quê.
Prática – Entrevista semiestruturada (p. 88 a 93)
O trabalho com esta seção
Esta seção propõe aos estudantes o trabalho com a
metodologia de pesquisa entrevista semiestruturada e
coloca-os diante de um assunto bastante delicado para
muitas pessoas: a ditadura civil-militar. Esse projeto é
uma oportunidade para que os estudantes exerçam o
trabalho de escuta, valorizem as vivências das pessoas
mais experientes que eles, aprendam a estimar os valo-
res democráticos e republicanos, já que poderão se de-
parar com histórias distantes da realidade deles.
Ao entrevistarem pessoas que passaram pelo pro-
cesso de redemocratização em meados da década de
1980, os estudantes irão utilizar os conhecimentos cons-
truídos e confrontar a teoria com a prática – vivencian-
do o processo de investigação nas Ciências Humanas.
Como produto final do projeto, os estudantes irão
produzir um podcast. É um momento de dividir
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 225V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 225 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
226
tarefas, planejar ações, e trabalhar de forma colabora-
tiva. É importante que durante todo o projeto os es-
tudantes sejam orientados a agir de forma cooperativa,
respeitando as opiniões uns dos outros, colocando em
prática os valores democráticos.
A metodologia de pesquisa utilizada
Nas Ciências Humanas, a principal função da entre-
vista como técnica de pesquisa é produzir conhecimen-
tos a respeito de uma realidade social ou de um fenô-
meno, por meio da coleta de depoimentos. Os
conhecimentos e as experiências das pessoas não têm,
na pesquisa acadêmica, a função de avaliá-las ou julgá-
-las, e nem sempre o escrutínio de seus relatos e memó-
rias precisa conduzir a uma verdade inconteste sobre os
fatos. Além disso, ao contrário do que ocorre no jorna-
lismo, o resultado dessa coleta nem sempre tem por fi-
nalidade ir a público e, por vezes, a condição de sua rea-
lização é justamente a não exposição do entrevistado.
A entrevista é amplamente utilizada por ser uma
técnica cuja aplicação é flexível a diferentes contextos
e sujeitos, incluídos os que possuem baixa proficiência
em leitura. Além disso, se comparada ao questionário,
apresenta maior possibilidade de captar sutilezas nas
respostas (ênfases, repetições, hesitações, etc.) e tam-
bém permite que o pesquisador peça ao entrevistado
esclarecimentos sobre suas asserções. Em contrapar-
tida, traz alguns riscos de falha metodológica tanto
em sua execução (como a influência indevida do en-
trevistador sobre as atitudes ou as respostas do entre-
vistado) quanto na interpretação dos dados obtidos
(quando, por exemplo, o pesquisador toma como ver-
dadeiras afirmações que não o são, por constituírem
versões subjetivas dos fatos).
Diálogos com a BNCC
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA BNCC
Competências gerais da Educação Básica
CG1, CG2, CG4, CG5, CG7 e CG10.
Competências específicas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
1 e 6.
Habilidades de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
EM13CHS106; EM13CHS602, EM13CHS605 e EM13CHS606.
Competências específicas de outras áreas
Linguagens e suas Tecnologias: 1, 2 e 3.
Habilidades de outras áreas
EM13LGG105; EM13LGG204; EM13LGG303.
TCTCidadania e civismo: Vida Social e Familiar, Educação em Direitos Humanos.
Esta seção visa levar os estudantes a compreender
melhor o tema da ditadura militar e da redemocrati-
zação do Brasil, na década de 1980, com base em en-
trevistas semiestruturadas com pessoas que vivencia-
ram esses processos.
O trabalho é proposto em várias etapas, tendo
como objetivo apresentar a técnica de entrevista se-
miestruturada aos estudantes, que se trata de uma
forma de captar experiências, sentidos e significados
pessoais de forma conectada com a estrutura políti-
ca e social de determinada época. Esse trabalho vai
possibilitar aos estudantes desenvolver as habilidades
EM13CHS602 e EM13CHS605 ao sensibilizar os estu-
dantes diante das trajetórias de vida no contexto da
ditadura, levando-os a perceber melhor a natureza
autoritária desse governo e a gravidade das violações
ocorridas durante o período. Neste caso, perceber o
autoritarismo da ditadura implica reconhecer o valor
da liberdade nas democracias, assunto que também
será abordado nas entrevistas, reforçando a empatia
e contribuindo para o desenvolvimento da habilida-
de EM13CHS606.
Ao propor aos estudantes a produção e a difusão de
conhecimento voltado para a valorização dos direitos
humanos com base em relatos e do uso da tecnologia,
como os podcasts, os estudantes trabalham as Compe-
tências 1 e 2 de Linguagens e suas Tecnologias, bem co-
mo as habilidades EM13LGG105 e EM13LGG204. Por
solicitar aos estudantes que reflitam sobre assuntos de
relevância social, para formular um posicionamento
diante de perspectivas distintas, também se trabalha a
habilidade EM13LGG303.
� Para começar (p. 88 a 90)
Inicie a proposta da seção, retomando os conteú-
dos já estudados sobre os períodos ditatoriais que o
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 226V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 226 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS | 227
Brasil e outros países da América Latina vivenciaram.
Em seguida, introduza o gênero entrevista, possibili-
tando aos estudantes que comentem sobre se gostam
de ler, assistir ou ouvir entrevistas e em que formato
preferem. Se considerar oportuno e necessário, apre-
sente diferentes modos de entrevistas, considerando
até mesmo diferentes temas, que possam demonstrar
conteúdos mais descontraídos versus temas mais sisu-
dos, e dê destaque para as características que marcam
uma entrevista semiestruturada e como os entrevista-
dores utilizam dados oferecidos pelo entrevistado pa-
ra articular a próxima pergunta.
Também é possível consultar as histórias de vida de
sobreviventes do Holocausto, recolhidas por meio do
projeto desenvolvido no Laboratório de Estudos sobre
Etnicidade, Racismo e Discriminação da Universidade
de São Paulo, disponível em: http://arqshoah.com
(acesso em: 5 ago. 2020). Na aba “Sobreviventes”, sele-
cione uma dessas histórias e apresente-a aos estudan-
tes, para que eles conheçam como é feito o trabalho
de transcrição das entrevistas. Se julgar adequado, apro-
veite para apresentar aos estudantes a coleção Golpe
de 64, no site do Museu da Pessoa, disponível em:
https://acervo.museudapessoa.org/pt/conteudo/
colecao/golpe-de-64-97503 (acesso em: 14 set. 2020),
em que há diferentes relatos sobre esse período.
� Para fazer (p. 90 a 93)
Em relação à “Etapa 1 – Levantamento de infor-
mações sobre o tema”, auxilie os estudantes na pes-
quisa sobre a ditadura civil-militar e as causas que
levaram ao seu fim. Para isso, peça a eles que reali-
zem a pesquisa no laboratório de informática ou na
biblioteca da escola e os auxilie, indicando alguns
sites, livros ou materiais diversos em que eles pos-
sam se basear para construir o conhecimento ne-
cessário para o encaminhamento adequado da en-
trevista. Só assim eles conseguirão produzir uma boa
entrevista semiestruturada, pois estarão com alguns
acontecimentos que podem ser trazidos pelo entre-
vistado na “ponta da língua”.
Na “Etapa 2 – Escolha dos entrevistados e elabora-
ção dos questionários”, garanta que os estudantes te-
nham compreendido que esse modo de entrevista
apresenta uma estrutura rígida, composta de pergun-
tas que abordam pontos principais do tema, e uma
mais flexível, baseada na interação espontânea duran-
te a entrevista. Essa flexibilização permite o aprofun-
damento de alguns temas no decorrer da entrevista.
Oriente os estudantes a ficar atentos para pedir escla-
recimentos e informações adicionais, caso apareça al-
gum assunto importante, capaz de enriquecer a nar-
rativa e o conhecimento sobre o tema.
Verifique o questionário a ser aplicado aos entre-
vistados, atentando para que as questões estejam de
acordo com o tema tratado e corrigindo o que for
necessário. Além disso, aconselhe os estudantes a se-
lecionarem entrevistados que sejam de seu círculo
social ou trabalhadores da escola que estiverem dis-
postos a participar da entrevista. O tempo de entre-
vista pode ser variável. Esclareça que o tempo de três
minutos se refere a cada pergunta do questionário,
mas que pode ser reduzido.
Para a realização da “Etapa 3 – Aplicação da entre-
vista”, ajude os estudantes com relação ao texto do ter-
mo de consentimento livre e esclarecido para a gravação
de som. Ainda que os entrevistados não requeiram esse
termo, os estudantes devem ter consciência de que os
termos de autorização são utilizados por pesquisadores
que fazem gravação de entrevistas tanto em áudio quan-
to em vídeo, a fim de evitar processos judiciais contra o
uso de imagens e de voz. Caso seja difícil enviar o termo
pela internet, reproduza o conteúdo a seguir no quadro
para que os estudantes possam copiá-lo, completando-
-o futuramente com as informações dos entrevistados.
Também é possível criar um arquivo em um processa-
mento de texto, imprimi-lo e tirar fotocópias.
Eu, (nome da pessoa entrevistada), declaro que
concordei em ser entrevistado/a para a finalidade
de pesquisa sobre a ditadura militar e o período
de redemocratização no Brasil, realizada por estu-
dantes da escola (nome da escola). Declaro tam-
bém que concordo com o uso das minhas afirma-
ções e da minha voz para finalidade didática por
meio de apresentação de trabalho ou produção
de podcast sobre o tema. Declaro ainda que (exijo/
não exijo) meu anonimato nos trabalhos apresen-
tados, seja na escola, no podcast ou qualquer outra
via de comunicação.
(Local e data)
(Assinatura do entrevistado)
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 227V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 227 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
228
Na “Etapa 4 – Transcrição da entrevista”, se julgar
adequado, sugira algum programa gratuito que possa
ser utilizado pelos estudantes, para auxiliá-los na trans-
crição. Sugira ainda que, se necessário, busquem por
vídeos que expliquem o uso do programa escolhido
para entenderem como essas ferramentas funcionam.
Oriente os estudantes a transcrever apenas os trechos
que consideram interessantes para a pesquisa.
� Para compartilhar (p. 93)
Para que os estudantes possam compartilhar suas
produções, sugerimos que busquem por um aplicativo
de produção de podcast gratuito. Deixe que fiquem li-
vres para escolher, de acordo com a familiaridade que
possuem com o recurso.
Se for difícil ter acesso a computadores e internet,
eles podem desenvolver uma apresentação artística
com base na entrevista, reproduzindo falas do entrevis-
tado. Pode ser uma peça de teatro com base nas histó-
rias e experiências relatadas, uma obra artística com
colagens, bonecos ou qualquer outro tipo de represen-
tação dos relatos que se identifiquem. Neste caso, a
orientação fica muito a seu critério, da sua experiência
com arte e do tempo disponível para orientar o traba-
lho. Também é possível contar com o apoio do profes-
sor de Arte, realizando um trabalho interdisciplinar.
Artigos
• KUCHEMANN, Berlindes Astrid. Envelhecimento populacional, cuidado e cidadania: velhos dilemas e novos desafios. Sociedade e Estado. Brasília, v. 27, n. 1, jan.-abr. 2012. p. 165-180. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922012000100010&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 6 set. 2020.
O artigo traz informações sobre o envelhecimento da
população brasileira e reflete sobre os desafios a serem
enfrentados diante dessa realidade, visto pela autora como
uma questão pública.
• TRANCOSO, Alcimar Enéas Rocha; OLIVEIRA, Adélia Augusta Souto. Aspectos do conceito de juventude nas Ciências Humanas e Sociais: análises de teses, dissertações e artigos produzidos de 2007 a 2011. Pesquisas e práticas psicossociais, São João del-Rei, v. 11, n. 2, maio-ago. 2016. p. 278-294. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-89082016000200002&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 7 set. 2020.
Este artigo trata do tema juventude, com base em trabalhos
acadêmicos sobre o tema, refletindo sobre o conceito, suas
rupturas, permanências e desafios.
SUGESTÕES DE LEITURAS, VÍDEOS E SITES
Unidade 2
Caminhos da cidadania � Contexto (p. 94 e 95)
Esta unidade aborda os caminhos para a constru-
ção da cidadania, por meio do estudo das relações en-
tre cidade, cidadania e direitos humanos.
A discussão tem início ao analisar as problemáticas
ligadas ao espaço urbano, retomando sua construção
em diferentes tempos históricos e aprofundando os
dilemas propostos pela contemporaneidade. Para isso,
relaciona-se o conceito de cidade utilizado na antigui-
dade clássica aos conceitos de cidadão e política. A
análise das desigualdades que atravessaram e ainda
atravessam o espaço urbano em diferentes circunstân-
cias é examinada à luz da relação entre os principais
problemas urbanos, como a moradia e a violência.
Por meio do estudo dos direitos humanos, resgata-
-se um olhar mais acurado dessas questões, viabilizan-
do a construção de iniciativas engajadas na transfor-
mação da realidade. Conhecer esses direitos e os
compreender como uma construção ao longo da His-
tória é fundamental para mobilizar o engajamento em
formas de atuação cidadã.
Ao final dessa unidade, é proposta a realização de
uma pesquisa de campo em uma praça do município
onde vivem os estudantes utilizando o método de ob-
servação participante e tomada de notas, na seção Prá-
tica. Esse trabalho deve resultar em um relatório a ser
compartilhado em um blog ou na rede social da esco-
la, de forma que os estudantes atuem como protago-
nistas na construção de um conhecimento a ser difun-
dido na comunidade escolar.
Peça aos estudantes que observem e comentem a
fotografia. Pergunte a eles o que conhecem pela expres-
são “nova ordem mundial”. A seguir, leia o texto com
eles e proponha a realização coletiva das atividades.
■ Atividades
1. Porque, no início do século XXI, os fundamentos
de uma nova ordem internacional ainda não estão
claros. Os Estados permanecem como a maior
potência mundial, mas já não têm a capacidade
nem a vontade de fazer os sacríficos necessários
para sustentar a ordem internacional que erigiu
após a Segunda Guerra Mundial. Por outro lado,
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 228V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 228 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS | 229
a China emerge como potência mundial, mas
ainda está mais preocupada com seu desenvol-
vimento e a manutenção da estabilidade política
interna. Sem contar que, como observa o autor do
texto, esse país carece de soft power para liderar
a nova ordem internacional em construção.
2. Os estudantes devem entender que soft power,
como será detalhado a seguir, define o “poder
brando” ou “suave”, advindo da capacidade de
influenciar outros países por meio da cultura e
da ideologia difundidas pela indústria cultural,
universidades, empresas, etc. Já o hard power, o
“poder duro”, é conferido pelo poder econômico
e sobretudo pelo militar.
3. Espera-se que os estudantes concluam que ne-
nhum país lidera uma ordem internacional apenas
com base no “poder duro”. Ele é necessário, mas
não suficiente. Em toda a História, o país que
liderou a ordem internacional de determinado
período o fez com base também no “poder bran-
do”. O Brasil tem pouco hard power, sobretudo
porque não é potência militar (não possui arsenal
bélico poderoso nem bomba atômica). Apesar
disso, tinha soft power por causa do futebol, da
música popular (especialmente do samba e da
bossa nova), das novelas, do carnaval, do meio
ambiente, entre outros elementos.
Capítulo 3
A cidade e a cidadania (p. 96)
Diálogos com a BNCC
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA BNCC
Competências gerais da Educação Básica
CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6,
CG7, CG9 e CG10.
Competências específicas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
1, 2 e 6.
Habilidades de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
EM13CHS105 e EM13CHS106;
EM13CHS204 e EM13CHS206;
EM13CHS605 e EM13CHS606.
TCT
Cidadania e Civismo: Vida
Familiar e Social, Educação em
Direitos Humanos; Meio
Ambiente: Educação Ambiental.
A proposta desse capítulo é fornecer aos estudan-
tes instrumental teórico para observar a paisagem
urbana e identificar as desigualdades socioespaciais
presentes na vida cotidiana segundo as classes sociais
e associar a localização dos indivíduos no espaço ur-
bano ao maior ou menor acesso à cidadania. Dessa
forma, eles irão compreender o processo de urbani-
zação, diferenciando suas especificidades nacionais e
regionais, os conceitos de cidade, metrópole, mega-
lópole e urbanização, a vida urbana e suas relações
socioespaciais, assim como aplicar os conceitos de
hierarquia e rede urbana para as relações entre as ci-
dades em escala nacional e mundial, na qual há a pre-
ponderância das cidades globais. Com isso os estu-
dantes estão capacitados a reconhecer os principais
problemas urbanos, com destaque para a moradia e
a segregação socioespacial, identificando as dificul-
dades de acesso à moradia no mundo e no Brasil, re-
fletindo sobre soluções e formas de atuação cidadã.
Essas abordagens e as atividades propostas favorecem
a aprendizagem significativa e o desenvolvimento das
Competências gerais 1, 2, 4 e 6.
O trabalho em sala de aula
� Contexto (p. 96 e 97)
Se possível, projete a ilustração de Hugh
D’Andrade, disponível no link https://piaui.folha.uol.
com.br/materia/o-direito-a-cidade/ (acesso em: 14
set. 2020), utilizada na reportagem da revista Piauí,
para estimular a reflexão dos estudantes. Peça a eles
que leiam a legenda e o texto e os relacionem à ima-
gem. Em seguida, pergunte o que ela representa, que
descrevam como é apresentado o espaço urbano e
se ele se assemelha à realidade em que vivem. Incen-
tive-os a pensar na ideia da vigilância nos espaços e a
manifestarem se já se sentiram em uma situação co-
mo a que é metaforizada pela imagem.
■ Atividades
1. Para responder a essa questão, certifique-se de
que os estudantes compreenderam os excertos
reproduzidos na seção. Segundo Milton Santos, o
modelo territorial sobrepõe o morador da periferia
à pobreza, que já lhe envolve em sua dimensão
econômica. Ou seja, as pessoas que já moram nas
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 229V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 229 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
230
periferias, além de ser pobres, ainda têm menos
acesso aos bens sociais, que só existem na forma
de mercadoria. Isso é semelhante ao que afirma o
texto da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
Urbano de São Paulo, segundo o qual os mais
pobres são prejudicados por estarem distantes das
oportunidades, levarem mais tempo para se deslo-
carem para o trabalho e morarem em regiões onde
a infraestrutura habitacional e urbana é precária.
A partir dessa interpretação, é esperado que os
estudantes reconheçam que sim, pode-se dizer que
o grau de cidadania de uma pessoa varia conforme
sua posição no território da cidade. Pessoas que
moram distantes dos centros, que costumam ser as
regiões com melhor infraestrutura, muitas vezes são
privadas de terem seus direitos garantidos, como
acesso aos serviços de saúde, educação e moradia
de boa qualidade.
2. Para responder a essa questão é esperado que os
estudantes percebam a importância de participarem
do debate público de forma crítica, fazendo esco-
lhas que contribuam para o exercício da cidadania,
recorrendo às noções de justiça, igualdade e frater-
nidade da Declaração dos Direitos Humanos, para
promover ações concretas diante da desigualdade
e das violações desses direitos, e que reflitam sobre
a possibilidade de promover ações concretas que
visem construir uma sociedade mais inclusiva. Esti-
mule-os a refletir sobre o excerto do texto “O direito
à cidade”, de David Harvey, que afirma que o direito
à cidade deve ser coletivo, para que pensem em
propostas que mobilizem diferentes grupos sociais
a lutarem para que todos tenham uma qualidade
de vida melhor na cidade em que habitam.
3. Para responder a essa questão, os estudantes de-
vem recorrer às suas experiências de vida, proble-
matizando as diversas formas de desigualdade per-
cebidas em seu cotidiano. Dessa forma, é esperado
que reconheçam que, no Brasil, o direito à cidade,
como propõe David Harvey, não é assegurado
para todos. Ou seja, nem todos podem usufruir
de uma infraestrutura urbana de qualidade, as
pessoas não têm acesso igual aos serviços públi-
cos como saúde, transporte, educação, lazer, etc.,
já que a qualidade de vida varia enormemente
de acordo com o local em que a pessoa mora.
Incentive os estudantes a pesquisarem sobre asso-
ciações de moradores, partidos políticos ou outros
movimentos sociais que lutem em seu município
pelos direitos da cidadania, por melhor qualidade
de vida e melhorias para a região.
� A cidade e o cidadão (p. 98 e 99)
PROFESSOR INDICADO História ou Geografia
Este tópico apresenta as relações entre a formação
das cidades e a construção de cidadanias muitas vezes
excludentes ao longo da história e na contemporanei-
dade. Esse estudo visa desenvolver as Competências
gerais 1 e 6 e as habilidades EM13CHS206 e
EM13CHS606.
Se achar pertinente, para iniciar a discussão, peça
aos estudantes que pensem nas palavras cidade e ci-
dadão e procurem explicitar as relações existentes en-
tre elas. Ouça as respostas e anote as principais infor-
mações por meio de palavras-chave no quadro, para
que elas possam ser retomadas depois.
Solicite aos estudantes que localizem, no mapa An-
tiguidade: as primeiras cidades, as cidades de Ur e Ba-
bilônia e os rios Tigre e Eufrates para que visualizem a
informação trazida pelo texto. Peça que localizem tam-
bém as cidades citadas nos vales do rio Nilo. Pergunte
se conhecem algo sobre essas cidades. Nesse momen-
to, é possível retomar conhecimentos do componente
curricular de História do 6o ano dos Anos Finais do En-
sino Fundamental sobre o surgimento das primeiras
cidades e suas relações com os rios.
Questione se conhecem cidades atuais que ficam
nas proximidades de rios e se eles são significativos pa-
ra essas cidades, comparando com o que os rios repre-
sentavam para as primeiras aglomerações humanas.
O conceito de pólis grega também pode ser apro-
fundado retomando conteúdos de História do ano já
citado. Proponha a comparação da cidadania na Gré-
cia antiga com a atual, especificamente no caso do Bra-
sil, ressaltando, porém, que alguns grupos não conse-
guem exercer plenamente seus direitos em razão das
graves desigualdades existentes na sociedade e da fal-
ta de mecanismos públicos para lidar com elas.
Indague os estudantes sobre o que poderia ser feito
para que a cidadania atual seja de fato inclusiva. O
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 230V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 230 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS | 231
objetivo é que eles utilizem seus conhecimentos histo-
ricamente construídos para refletir sobre a possibilida-
de de construção de uma sociedade justa, democrática
e inclusiva. É possível que eles apontem manifestações
e protestos. Sublinhe então que, de fato, essas ações são
importantes para demandar mudanças no sentido de
que todos possam de fato exercer seus direitos de ci-
dadãos. Pergunte se eles já participaram de manifesta-
ções desse tipo ou se já acompanharam nos noticiários.
Peça aos estudantes que observem a foto da 1a Mar-
cha das Mulheres Indígenas e proponha algumas per-
guntas para trabalhar a leitura de imagem como um
documento a ser discutido: o que foi registrado? Sob
qual ângulo? Por quem? Para quem? Por quê? Onde?
Quando? Que impressão causa a fotografia? Ouça aten-
tamente as respostas, dando tempo para que os estu-
dantes cheguem às suas interpretações, e depois com-
plete com o que for necessário. Se achar pertinente,
para aprofundar o debate, pergunte a eles o que expli-
caria essa primeira marcha de mulheres indígenas na-
quele momento e se esse grupo sofria exclusão social.
Incentive-os a refletirem sobre as diversas formas de
luta encontradas pelos povos indígenas, especificamen-
te as mulheres, para resistirem à opressão sofrida em
diferentes tempos históricos. Sublinhe também a gra-
vidade da situação em que essas mulheres se encon-
tram quando seus territórios são ameaçados.
Assim, portanto, será possível retomar as palavras-
-chave levantadas na discussão sobre as relações entre
cidade e cidadão, procurando articular ao que foi dito
ao longo desse percurso.
Convém ainda incentivar os estudantes a refletirem
sobre os impactos ambientais da urbanização, princi-
palmente quando o crescimento das cidades não é
previamente organizado. Tal reflexão envolve o Tema
Contemporâneo Transversal de Meio Ambiente (Edu-
cação Ambiental). Para isso, aprofunde a reflexão sobre
a importância dos rios e de outros elementos naturais
na vida dos habitantes das primeiras cidades e suscite
a comparação sobre como as cidades atuais interagem
com o ambiente natural.
■ Atividade complementar
Divida os estudantes em grupos para que pesquisem
sobre as relações entre urbanização e meio ambiente em
cidades previamente escolhidas e sorteadas entre eles,
propondo comparações com a região em que vivem.
Marque uma data para que os grupos apresentem as
pesquisas oralmente. Se possível, oriente-os a realizar
apresentações digitais incluindo imagens que facilitem
a apreensão do conteúdo por toda a turma, para que
possam desenvolver a competência de utilização de di-
ferentes linguagens – verbal, corporal, visual, sonora e
digital – para se expressar e partilhar informações.
Para realizar esse tipo de trabalho, com apresenta-
ção oral em grupo, esclareça que é fundamental a par-
ticipação de todos. Se alguém não contribui com a
pesquisa, provavelmente terá mais dificuldade no mo-
mento da apresentação e sobrecarregará o trabalho
do grupo. Peça que realizem fichamentos ou resumos
do conteúdo pesquisado e elaborem um roteiro de
apresentação, organizando bem o que cada integrante
vai falar no tempo determinado.
Conversa (p. 99)
A atividade propõe uma comparação entre a reali-
dade atual e a antiguidade clássica no que se refere à
exclusão da cidadania. Estimule os estudantes a expla-
narem sobre as formas de exclusão existentes atual-
mente e as semelhanças e diferenças em relação ao
exemplo do Império Romano. Enfatize que, naquela
sociedade, mulheres, estrangeiros e escravos não ti-
nham cidadania reconhecida legalmente. No Brasil, ho-
je, mesmo alguns grupos que são considerados cida-
dãos plenos pela legislação não conseguem exercer
plenamente seus direitos porque sofrem uma série de
discriminações, como é o caso da população negra e
indígena. Incentive-os a falarem sobre suas próprias ex-
periências, se acreditam que são ou não inclusos nessa
cidadania e por quê. Peça, ainda, que observem, como
consequência dessas exclusões, que a cidade é marca-
da por uma série de desigualdades e violências.
■ Texto complementar
O filósofo e sociólogo francês Henri Lefebvre (1901-
1991) escreveu em seu livro O direito à cidade doze te-
ses sobre a cidade, o urbano e o urbanismo. Conheça
as duas primeiras delas.
1. Dois grupos de questões ocultaram os
problemas da cidade e da sociedade urbana,
duas ordens de urgência: as questões da mo-
radia e do “habitat”, que dependem de uma po-
lítica da habitação e de técnicas arquitetônicas)
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 231V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 231 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
232
– as questões da organização industrial e da
planificação global. As primeiras por baixo, as
segundas por cima, produziram – dissimulan-
do-o à atenção – uma explosão da morfologia
tradicional das cidades, enquanto prosseguia
a urbanização da sociedade. Donde uma nova
contradição que se acrescentava às outras con-
tradições não resolvidas da sociedade existen-
te, agravando-as, dando-lhes um outro sentido.
2. Esses dois grupos de problema foram e
são colocados pelo crescimento econômico, pe-
la produção industrial. A experiência prática
mostra que pode haver crescimento sem de-
senvolvimento social (crescimento quantitati-
vo, sem desenvolvimento qualitativo). Nessas
condições, as transformações na sociedade são
mais aparentes do que reais. O fetichismo e a
ideologizada transformação (por outras pala-
vras: a ideologia da modernidade) ocultaram
a estagnação das relações sociais essenciais.
O desenvolvimento da sociedade só pode ser
concebido na vida urbana, pela realização da
sociedade urbana.
LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. São Paulo:
Editora Moraes, 1991. p. 137.
� O processo de urbanização (p. 100 a 103)
PROFESSOR INDICADO História ou Geografia
Esse tópico aborda o processo de urbanização ocor-
rido ao longo da história. Inicie a discussão perguntan-
do aos estudantes o que entendem por urbanização e
anote as palavras-chave ditas no quadro.
Realize a leitura do conceito de urbanização, reto-
mando as palavras-chave ditas pelos próprios estudan-
tes no início. Para explicar a urbanização relacionada
ao período do Renascimento na Europa, é possível re-
tomar os conteúdos de História do 7o ano dos Anos
Finais do Ensino Fundamental. Enfatize que esse fenô-
meno inclui mudanças econômicas, sociais e culturais
e pergunte se os estudantes conseguem exemplificar
essas mudanças. Estimule-os a imaginarem as diferen-
ças entre viver em uma região com poucos habitantes
e em uma grande metrópole. Para isso, incentive-os a
considerar a experiência de onde vivem e de possíveis
locais onde já viveram ou que já visitaram. Saber os co-
nhecimentos prévios dos estudantes e incorporá-los
ajuda a trazer significado ao conteúdo trabalhado. Por
fim, indague que relações podem ser estabelecidas en-
tre industrialização e urbanização, incitando-os a no-
mear fatores que podem atrair as pessoas a viverem
em uma região e fatores que podem afastá-las de mo-
rar em um determinado local.
Oriente a interpretação dos gráficos e tabela pre-
sentes no tópico. Se possível, com o professor da área
de Matemática e suas Tecnologias, ajude os estudantes
a construir um gráfico que represente sua própria ori-
gem oferecendo uma visualização em porcentagem da
sala. Para isso, é necessário fazer uma contagem inicial,
indagando quantas pessoas nasceram no meio urbano
e quantas nasceram em zona rural. Depois, discutam
e decidam que gráfico seria mais apropriado para apre-
sentar essas informações.
■ Atividade complementar
Divida os estudantes em grupos e peça a eles que
entrevistem pessoas mais velhas, anotando as datas e
os locais de nascimento (se meio urbano ou rural).
Com essas informações, eles devem montar uma ta-
bela que compara a quantidade de nascimentos em
cada meio variando em cada década, de acordo com
as respostas mencionadas. Após a execução da tabela,
é possível construir um gráfico com essas informações.
Essa atividade permite desenvolver a habilidade
EM13CHS106 e deve valorizar também o protagonis-
mo do estudante na investigação e na tomada de de-
cisões, ao refletir, por exemplo, sobre o tipo de gráfico
que pode melhor representar os dados recolhidos. Por
fim, cada grupo pode apresentar seu gráfico para a sa-
la e toda a turma pode comparar os resultados.
Interpretar (p. 101)
a) Os estudantes devem perceber que apenas no
início do século XXI, mais exatamente em 2007, as
linhas que representam a evolução da população
urbana e rural se cruzaram, o que significa que a
partir desse ano a população mundial passou a
ser predominantemente urbana. A projeção para
o futuro é que a população urbana continue a
crescer continuamente e a população rural se
estabilize e depois comece a diminuir.
b) A resposta depende do município em que vi-
vem os estudantes. Oriente-os a analisar se há
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 232V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 232 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS | 233
construções de moradias, indústrias, comércios,
pois são indicativos de crescimento urbano.
Interpretar (p. 103)
a) As faixas de cidades que estão ganhando mais
população são as maiores aglomerações urbanas,
com destaque para as megacidades (com mais
de 10 milhões de habitantes) e as cidades de
tamanho médio (de 1 a 5 milhões de habitantes);
no entanto, em 2018, embora crescendo num
ritmo mais lento, metade da população urbana
ainda se concentrava nas menores cidades (com
menos de 500 mil habitantes). A projeção para
o futuro é que as maiores cidades continuem a
concentrar cada vez mais gente, com destaque
para as megacidades e as de tamanho médio.
b) O primeiro gráfico mostra maior homogeneidade:
a maioria dos países desenvolvidos apresenta altas
taxas de urbanização; de forma geral, o mesmo
ocorre com os países emergentes, excetuando a
Índia, que ainda é um país predominantemente
rural. Já no grupo dos países em desenvolvimento
não industrializados impera a heterogeneidade,
pois há países com alta taxa de urbanização,
como o Uruguai e, no outro extremo, países
muito pouco urbanizados, como o Burundi.
� Rede e hierarquia urbanas (p. 104 a 108)
PROFESSOR INDICADO Geografia
Esse tópico aprofunda o estudo da urbanização por
meio dos conceitos de aglomerações urbanas, metró-
poles e megalópoles e do entendimento de que as ci-
dades formam redes e hierarquias que estão distribuí-
das de forma desigual pelo território.
Considerando que as cidades no mundo podem ser
muito diferentes entre si, mas também possuem pontos
em comum, peça ao estudantes que comparem a cida-
de da fotografia da página 104 com a cidade em que vi-
vem, ou com a cidade mais próxima à região onde mo-
ram ressaltando as maiores semelhanças e diferenças.
Em seguida, pergunte a eles o que entendem por rede
urbana e peça para exemplificarem considerando sua
realidade. A ideia é que nomeiem o conjunto de cidades
mais próximas e que comecem a perceber a hierarquia
e as relações que existem entre elas.
Oriente a leitura dos mapas e dos esquemas. Peça
que notem os diferentes tamanhos usados para repre-
sentar cada elemento e como são estabelecidas as re-
lações entre eles.
■ Atividade complementar
Divida os estudantes em pequenos grupos e solici-
te a eles que produzam um esquema, como o da pá-
gina 107, referente à região em que vivem. Para isso, eles
devem verificar em que item se encaixa o lugar em que
vivem (vila, cidade local, centro regional, metrópole
regional ou metrópole nacional). Depois, devem no-
mear outras regiões próximas, respeitando a hierarquia
existente na realidade. Ressalte que observem a dispo-
sição e o tamanho dos retângulos para estabelecer a
organização hierárquica entre os elementos.
Exemplo:
Metrópole
Nacional:
São Paulo
Metrópole regional:
Centro regional:
Cidade local:
Vila:
Interpretar (p. 106)
a) As cidades mais influentes do Brasil são Brasília
e Rio de Janeiro, metrópoles nacionais, e, so-
bretudo, São Paulo, grande metrópole nacional
e importante cidade global. Essas três cidades
são as mais bem equipadas em termos de in-
fraestrutura urbana e as que oferecem mais
bens e serviços do ponto de vista quantitativo
e qualitativo, por isso têm influência em todo o
território nacional. Brasília é a capital política do
país; São Paulo, a capital econômica e principal
centro financeiro; e o Rio de Janeiro, que já foi
a capital política do país, é a cidade de muitas
sedes de empresas estatais, como a Petrobras,
ou ex-estatais, como a Vale, e a cidade brasileira
de maior projeção internacional.
b) Resposta pessoal. Proponha aos estudantes que
mapeiem os vínculos que a cidade em que vi-
vem tem na rede urbana regional ou nacional.
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 233V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 233 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
234
Interpretar (p. 108)
a) Rede urbana é um conceito que indica o con-
junto de cidades – de um mesmo país ou de
países vizinhos – que se interligam umas às outras
por meio dos sistemas de transporte e de tele-
comunicação, através dos quais se dão os fluxos
de pessoas, mercadorias, serviços, informações e
capitais. Já hierarquia urbana indica o ordenamen-
to das cidades nas relações que estabelecem no
território segundo seu poder e influência.
b) No esquema clássico, havia uma hierarquia clara
entre as cidades, porém atualmente a relação
da vila ou da cidade local pode se dar com
qualquer outra cidade, até mesmo com a me-
trópole nacional.
� Conexões – Ciências da Natureza e suas Tecnologias (p. 109)
a) A lista GaWC é mais extensa e hierarquizada
(com as divisões alfa, beta e gama) do que a
The Mori Memorial Foundation (lista única). Ao
comparar as dez principais cidades globais das
duas classificações, o estudante deverá perceber
que sete delas coincidem. Em ambas as classi-
ficações, as duas cidades mais importantes são
Londres e Nova York, seguidas de Tóquio, Paris,
Cingapura, Hong Kong e Sydney. As cidades
que não coincidem são Xangai, Pequim e Du-
bai (fechando a lista das cidades alfa+ da lista
GaWC) e Amsterdã, Seul e Berlim (na lista The
Mori Memorial Foundation). É importante que
os estudantes percebam que isso ocorre com
qualquer classificação, dependendo do critério
adotado, dos elementos (no caso, as cidades
globais), assim como sua ordem, que podem
ser ligeiramente diferentes.
b) Sim, São Paulo (SP), que foi classificada como
cidade global pelas duas instituições. Na lista
GaWC, a capital paulista aparece como uma
das 23 cidades globais alfa, portanto, abaixo
das mais influentes: alfa++ e alfa+. Na lista The
Mori Memorial Foundation, a capital paulista
está entre as 44 cidades globais, ocupando a
40a posição. Ou seja, segundo os critérios ado-
tados pelas duas instituições internacionais, a
metrópole paulistana é uma importante cidade
global, embora não apareça nas primeiras posi-
ções em nenhuma das duas listas, pois se situa
em um país em desenvolvimento.
c) Ambos os mapas foram feitos com base em
uma projeção de Robinson. No entanto, o mapa
GaWC, um instituto britânico de pesquisas, é eu-
rocêntrico, centrado em Londres; já o mapa The
Mori Memorial Foundation, instituto japonês de
pesquisas, é nipocêntrico, centrado em Tóquio.
d) Significa dizer que desde 2007 o mundo se tor-
nou predominantemente urbano, com todos os
pontos positivos e negativos que isso implica.
Pela primeira vez na história a maioria da po-
pulação mundial vive em cidades, sendo uma
parte considerável dela em grandes aglomerações
urbanas, com destaque para as megacidades.
No entanto, as cidades que mais se destacam
em nossa época são as cidades globais, muitas
das quais nem estão entre as maiores do mun-
do, porque elas são os nós, os principais pontos
de interconexão, das redes globais de fluxos de
pessoas, mercadorias, capitais e informações que
cobrem todo o planeta. As cidades, sobretudo
as maiores, exibem grande dinamismo e são o
centro da vida contemporânea; no entanto, en-
frentam problemas como poluição do ar e das
águas, congestionamentos de trânsito e muitas
delas enfrentam formas de violência, como a vio-
lência urbana comum e o terrorismo. As cidades
litorâneas podem ser fortemente afetadas pelas
mudanças climáticas sobretudo se houver uma
elevação, ainda que mínima, do nível do mar.
� Diálogos (p. 110 e 111)
As atividades dessa seção abrangem os Temas Con-
temporâneos Transversais Cidadania e Civismo (Vida
Familiar e Social e Educação em Direitos Humanos) e
Meio Ambiente (Educação Ambiental). Ao propor a
utilização de linguagem cartográfica, a avaliação dos
processos de ocupação do espaço e a aplicação de
princípios de localização, a atividade colabora para que
os estudantes desenvolvam, respectivamente, as com-
petências EM13CHS106, EM13CHS204 e EM13CHS206.
Inicie com uma discussão sobre a realidade
dos estudantes, solicite a eles que avaliem quais
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 234V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 234 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS | 235
estabelecimentos podem ser acessados próximos às
suas moradias, considerando os três níveis apontados
por Candido Malta Campos Filho. Estimule-os a re-
fletir criticamente sobre como essas distâncias im-
pactam em sua qualidade de vida. Pergunte também
se conseguem ir à escola a pé e como é o acesso ao
sistema de transporte coletivo onde moram. Peça,
ainda, que descrevam como são os caminhos que
percorrem a pé, relatando se há calçamento adequa-
do e ciclovias, se se sentem seguros, se há áreas ver-
des, se há recipientes para coleta de lixo, etc. Incite-os
a pensar também o que falta nesses espaços e o que
poderia ser feito para que suas caminhadas sejam
mais seguras e agradáveis.
Por fim, solicite a eles que observem com atenção
o croqui da malha urbana apresentado para que pos-
sam produzir seus próprios croquis.
A atividade desperta a atenção dos estudantes a res-
peito do espaço geográfico de forma que relacionem e
interpretem os elementos representados no croqui com
sua realidade. Esse exercício estimula a imaginação dos
estudantes, auxiliando-os na leitura e interpretação es-
pacial, desenvolvendo o raciocínio geográfico.
É possível ainda utilizar um serviço de pesquisa e
visualização de mapas e imagens de satélite da Terra
on-line para realizar essa atividade. Para isso, oriente os
estudantes a acessar um desses serviços e fazer uma
busca pelo seu endereço. Depois, aproxime o zoom
para se certificar de que a busca foi feita no local cor-
reto. Em seguida, copie a imagem para um editor de
imagem para desenhar o trajeto desejado.
Se for possível utilizar essa tecnologia, os estudan-
tes irão trabalhar também com a habilidade de utili-
zar essa linguagem de forma significativa. Mas se não
for possível, o trabalho manual também deve fazê-lo
refletir mais sobre o espaço pelo qual ele caminha ro-
tineiramente.
Após a execução dos croquis, pode ser interessante
realizar um debate em sala de aula em que cada estu-
dante ou cada grupo exponha seu trabalho, interpre-
tando o croqui e relacionando os elementos presentes.
Nesse momento, questione quais são os fatores respon-
sáveis pela organização espacial e porque os elementos
estão distribuídos de tal forma, para que os estudantes
reflitam sobre o espaço geográfico e sobre como as re-
lações sociais influenciam na sua organização.
� Os problemas sociais urbanos (p. 112 a 117)
PROFESSOR INDICADO Geografia ou Sociologia
Este tópico trata dos problemas sociais existentes
como consequência das desigualdades nos meios ur-
banos.
Para tratar desse conteúdo, sugere-se trabalhar
com os estudantes em pequenos grupos. Solicite que
discutam sobre o meio urbano em que vivem ou so-
bre a região urbana mais próxima (caso vivam em
uma área rural). Sugira que uma pessoa de cada gru-
po anote palavras-chave para depois socializar o que
foi discutido com a turma. Apresentem alguns pon-
tos que devem ser mencionados na discussão:
• Como ocorre a fragmentação nesse espaço ur-
bano: onde se localizam as funções comerciais,
financeiras, industriais, residenciais e de lazer. Res-
salte se os locais de moradia, trabalho, estudo e
lazer coincidem e, caso a resposta seja negativa,
explane sobre as consequências dessa fragmen-
tação.
• Principais desigualdades percebidas, de moradia, de
acesso aos serviços públicos, de oportunidades cul-
turais e profissionais.
• Observação da segregação socioespacial, isto é, da
separação das classes sociais em bairros diferentes,
centrais e periféricos.
No momento de socialização da discussão, solicite
a cada grupo que exponha o que discutiram sobre um
ponto. Amarre as falas dos estudantes, com as infor-
mações do texto propondo conclusões sobre o enten-
dimento do lugar em que vivem.
Explique o conceito de gentrificação e chame a
atenção para a imagem que o ilustra. Pergunte aos
estudantes se há algum caso de revitalização urbana
no lugar em que vivem. É esperado que os estudantes
concluam que as melhorias são acompanhadas pelo
aumento do custo de vida, o que levaria os antigos
moradores a se mudarem e até ficarem sem um local
apropriado para viver.
Na página 115, chame a atenção dos estudantes
para a fotografia dos edifícios residenciais em Cinga-
pura. Incentive-os a compararem o tipo de habitação
representado nessa fotografia com as habitações
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 235V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 235 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
236
presentes no local em que vivem. Em contraposição,
apresente a fotografia das moradias em Recife na pá-
gina 114. Pergunte se os estudantes conhecem locais
semelhantes. Estimule-os a refletir sobre possíveis so-
luções para os problemas de moradia no Brasil, consi-
derando o exemplo de Cingapura.
Apresente o conceito de aglomerado subnormal, es-
timulando a reflexão crítica sobre o fato de que a ocu-
pação irregular, com moradias, em locais onde não há
oferta de serviços públicos considerados essenciais, é
considerada algo “subnormal”, mesmo sendo tão co-
mum na realidade brasileira. É possível solicitar também
que pesquisem se há alguma ocupação desse tipo no
local próximo à escola e como essa ocupação se formou.
Oriente os estudantes na interpretação do mapa
Número de moradores em assentamentos urbanos pre-
cários por região – 2014. Solicite a eles que digam, a
partir da observação, quais continentes enfrentam mais
ou menos problemas de moradia. É esperado que eles
percebam que onde há mais moradores em assenta-
mentos urbanos precários os problemas de moradia
são mais acentuados.
Esses dados também podem ser comparados
com a tabela Países com maior número de morado-
res em assentamentos urbanos precários – 2014. Pe-
ça a eles que observem, na última coluna da tabela,
a porcentagem da população que vive em moradias
precárias. Solicite a eles que destaquem os países
onde mais da metade dos habitantes vive nessa si-
tuação e peça que formulem possíveis hipóteses pa-
ra esse elevado número.
Destaque aos estudantes ainda a imagem da maior
favela do mundo no Paquistão e peça a eles que a re-
lacione com as fotografias vistas até aqui. Pergunte se
eles sabiam que em outros países há favelas ainda maio-
res que as existentes no Brasil. Incite-os a pensar quais
condições em comum podem levar à formação de fa-
velas aqui e no Paquistão.
■ Texto complementar
O texto a seguir traz uma outra situação a ser refle-
tida criticamente: a realidade das pessoas que vivem
nas ruas. É possível propor uma leitura compartilhada
com os estudantes, estimulando-os a pensar se essa
situação ocorre no município em que vivem ou na re-
gião metropolitana mais próxima e que ações podem
ser praticadas para lidar com essa situação.
Pessoas em situação de rua: a complexidade da vida nas ruas
Tanto em cidades grandes, conhecidas por
ter grande população de moradores de rua, co-
mo em cidades pequenas, a situação de vida
nas ruas da cidade é alarmante. Não um pro-
blema exclusivamente brasileiro, ele está pre-
sente no mundo todo. Vamos entender mais
sobre essa condição, os fatores que o causam
e como é o panorama brasileiro da população
em situação de rua?
O que é a “situação de rua”?
Pessoas que passam as noites dormindo nas
ruas, sob marquises, em praças, embaixo de
viadutos e pontes são consideradas pessoas em
situação de rua. Além desses espaços, também
são utilizados locais degradados, como prédios
e casas abandonados e carcaças de veículos,
que têm pouca ou nenhuma higiene.
Os “moradores de rua” são um grupo hete-
rogêneo, isto é, pessoas que vêm de diferentes
vivências e que estão nessa situação pelas mais
variadas razões. Há fatores, porém, que os
unem: a falta de uma moradia fixa, de um lu-
gar para dormir temporária ou permanente-
mente e vínculos familiares que foram inter-
rompidos ou fragilizados.
As características acima foram conceitua-
das em 2005 pelo Ministério do Desenvolvi-
mento Social como os fatores intrínsecos à con-
dição de rua e constam na Política Nacional
para a População em Situação de Rua (decreto
no 7.053 de 2009) [...].
Quais fatores levam à situação de rua?
Quando falamos sobre pessoas, sabemos
que há particularidades na condição de várias
delas e cada uma pode ter tido um motivo par-
ticular para viver nas ruas; mas há também
questões em comum entre essas pessoas, que
são repetidamente vistas em muitos casos.
Uma Pesquisa Nacional sobre a População
em Situação de Rua foi realizada pelo Ministé-
rio do Desenvolvimento Social entre os anos
de 2007 e 2008 com o objetivo de quantificar e
qualificar todos esses fatores. Quanto aos mo-
tivos que levam as pessoas a morar nas ruas,
os maiores são: alcoolismo e/ou uso de drogas
(35,5%), perda de emprego (29,8%) e conflitos
familiares (29,1%). Das pessoas entrevistadas,
71,3% citaram ao menos um dos três motivos
e muitas vezes os relatos citam motivos que se
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 236V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 236 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS | 237
correlacionam dentro da perda de emprego, uso de drogas e conflitos familiares.
Apesar de não ser muito comum, existem pessoas que escolhem por viver nas ruas, tam-bém de acordo com a pesquisa. Embora os principais motivos sejam, por vezes, violências e abusos domésticos ou desentendimentos den-tro da família, afirma-se que existe um grau de escolha própria para ir para a rua. A expli-cação obtida na pesquisa é de que “essa esco-lha está relacionada a uma noção (ainda que vaga) de liberdade proporcionada pela rua, e acaba sendo um fator fundamental para expli-car não apenas a saída de casa, mas também as razões da permanência na rua”.
Quem são os moradores de rua no Brasil?
É importante ressaltar um ponto: é bastan-te difícil quantificar o número de pessoas nes-sa situação do Brasil, pois a maioria dos censos leva em conta o local de moradia das pessoas e as que estão em condição de rua não têm es-sa constância, o que atrapalha a realização de pesquisas, contabilizações e afins.
Com a Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua, foi possível obter dados sobre essa população no país inteiro – e apesar de ser de 2008, é a pesquisa mais abrangente e completa que há até 2017, que leva em conta todo o país. Dessa forma, foi possível traçar um perfil das pessoas que vivem nas ruas: qual o seu gênero, sua idade, sua cor de pele, sua si-tuação econômica.
Perfil da população em situação de rua no Brasil
Gênero: O primeiro ponto a ser ressaltado: a imensa maioria de quem vive nas ruas são homens. Do total dessa população, 82% é mas-culina. De toda a população masculina, a maio-ria é jovem: 15,3% são homens na faixa etária dos 18 aos 25 anos. A faixa da idade com o maior número de homens em situação de rua é a dos 26 aos 35 anos, com 27,1%.
Já a população feminina representa os ou-tros 18% do total de pessoas que vivem em si-tuação de rua. A maioria das mulheres tam-bém é jovem e está nas ruas com idade menor do que a dos homens: 21,17% delas têm entre 18 e 25 anos e 31,06% têm entre 26 e 35 anos.
Cor da pele: Quanto à cor de pele de todas as pessoas que vivem nas ruas, 39,1% se auto-declararam pardos na pesquisa; 29,5% se de-clararam brancos e 27,9% se declararam
pretos. O censo do IBGE – que junta negros e pardos – contabiliza a população brasileira em 53% de negros e 46% de brancos. Levando em conta a população em situação de rua, se for-mos usar o mesmo método, a representação negra é de 67% – bem mais alta que a sua re-presentação na população brasileira.
Como é a situação de rua no Brasil?
Na pesquisa realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, só foram considera-das as cidades com mais de 300 mil habitantes no país – não foram consideradas as cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife – e o resultado foram de 31.722 pessoas em situação de rua nessas cidades.
Quanto a esses dados, há que se conside-rar: os números não elucidam a realidade bra-sileira em termos de população de rua na sua totalidade, pois em cidades com população menor de 300 mil habitantes também há mo-radores de rua, além de que a pesquisa já es-tá desatualizada por ter sido foi feita há dez anos.
Por exemplo, na pesquisa de 2007 a cidade do Rio de Janeiro aparece com 4,5 mil pessoas em situação de rua; em 2017, a estimativa é de que haja 14,2 mil pessoas dormindo nas ruas da cidade – um aumento de 150% nos últimos três anos, de acordo com a Secretaria de As-sistência Social da cidade.
A situação de rua facilmente passa de tem-porária para permanente no Brasil. Quase me-tade da população de rua, 48,5%, está há mais de dois anos dormindo nas ruas ou em alber-gues. Além disso, um terço da população total (30%) está nessa condição há 5 anos.
Ao contrário do que se pode acreditar no senso comum, a maioria dos moradores de rua são trabalhadores. Grande parte deles, 70,9%, exerce uma atividade com remuneração e 58,6% afirma ter alguma profissão, mesmo que fazendo parte da chamada “economia infor-mal”, na qual não há um trabalho fixo, contra-tação oficial e carteira assinada. As atividades mais praticadas por eles são as de: catador de materiais recicláveis (27,5%), “f lanelinha” (14,1%), trabalhos na construção civil, “pedrei-ro” (6,3%), entre outras.
MEIRELES, Carla. Pessoas em situação de rua: a complexidade da vida nas ruas. Politize, 21 set. 2017.
Disponível em: https://www.politize.com.br/pessoas-em-situacao-de-rua/. Acesso em: 18 ago. 2020.
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 237V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 237 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
238
■ Atividade complementar
Em parceria com a área de Linguagens e suas Tec-
nologias, solicite aos estudantes que produzam ima-
gens no estilo de cartão-postal para representar a
região em que vivem (bairro ou município). Nessa
representação, não necessariamente eles devem pro-
curar realizar uma propaganda do local, evidencian-
do apenas as belas paisagens; eles podem também
apontar problemas que acreditam que precisariam
de uma solução. É possível ainda utilizar a imagina-
ção para combinar elementos reais do espaço repre-
sentado com elementos que não estão presentes,
mas que acreditam que deveriam estar presentes
para garantir uma melhor qualidade de vida dos mo-
radores. Em seguida, devem apresentar e explicar
seus postais para a turma.
Essa atividade também pode ser feita utilizando as
tecnologias digitais. Nesse caso, os estudantes podem
fazer uma fotografia do bairro ou município em que
vivem e alterá-la digitalmente, problematizando ques-
tões sobre as quais refletiram ao longo das conversas
ao longo deste capítulo.
Conversa (p. 113)
Resposta pessoal. Proponha que os estudantes tra-
gam exemplos de gentrificação do lugar ou da região
em que vivem. Estimule-os a pensar em locais que
passaram por algum tipo de revitalização urbana, em
que prédios antigos foram derrubados para dar lugar
à construção de novos ou que reformas ou novida-
des trazidas para o local tornaram a região melhor
para se viver. Incite-os a pensar nas consequências
desse processo, na possível especulação imobiliária,
aumento de preços e nos impactos sobre a vida de
diferentes grupos sociais. Se eles não conhecerem
exemplos próximos, peça para que tentem conversar
com pessoas mais velhas, como parentes e vizinhos,
e que perguntem se eles já observaram algum pro-
cesso semelhante, ou mesmo se já mudaram de mo-
radia por motivos parecidos.
Conversa (p. 115)
Resposta pessoal. Essa atividade propõe uma con-
versa em que os estudantes falem da moradia no lugar
em que vivem, trabalhando o Tema Contemporâneo
Transversal de Cidadania e Civismo (Vida familiar e so-
cial e Educação em Direitos Humanos). Incentive a ex-
pressão dos estudantes para estabelecer uma conexão
entre a realidade em que vivem e o conteúdo a ser tra-
balhado. Atente-se para o fato de que o assunto é de-
licado, isto é, nem sempre eles querem expor diante
dos colegas os problemas do bairro em que vivem. Sen-
do assim, é importante estabelecer um ambiente onde
o respeito seja primordial e todos se sintam confortá-
veis para falar.
Se a turma, no geral, estiver tímida, é possível
propor que os estudantes discutam em grupos e
depois socializem o que foi dito para a sala, uma vez
que, assim, não é necessário compartilhar experiên-
cias individuais.
Interpretar (p. 117)
a) É esperado que os estudantes percebam que
as paisagens urbanas são diretamente marca-
das pelas desigualdades. É comum, em uma
mesma cidade, que bairros ricos, com ótima
infraestrutura, boa oferta de serviços e op-
ções de lazer, convivam com outros bairros,
geralmente mais periféricos, onde há graves
problemas de moradia, oferta de serviços pú-
blicos e ausência ou insuficiência de espaços
para cultura e lazer. Esses contrastes são vi-
síveis nas grandes cidades, mas também se
manifestam em algumas menores.
b) Resposta pessoal. Incentive os estudantes a
descreverem o local em que vivem destacan-
do se há áreas mais ricas e outras mais pobres,
se há desigualdades na oferta de serviços e
espaços de cultura e lazer, se há diferenças
notáveis entre o centro e a periferia do mu-
nicípio que habitam.
� Diálogos (p. 118 e 119)
a) Para responder a essa questão, os estudantes
devem identificar, primeiramente, quais opiniões
são expressas nos textos. Depois, elencá-las de
acordo com seus próprios pontos de vista. Es-
timule-os a considerarem as relações econô-
micas e políticas que são estabelecidas com o
tema da moradia. Oriente-os a fundamentar
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 238V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 238 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS | 239
seus próprios argumentos relacionando-os com
as opiniões com que concordam e apresentar
elementos para justificar porque não concordam
com as outras.
b) Para desenvolver o artigo dissertativo-argu-
mentativo, oriente os estudantes a utilizarem
o texto já produzido no item anterior e a tra-
zerem dados aprendidos ao longo do estudo
desse capítulo para fundamentar tanto seu
diagnóstico em relação ao problema da mo-
radia quanto as possíveis soluções. Se julgar
adequado, combine com a turma a elaboração
de um blog com a reunião de todos os textos
e a divulgação dele nas redes sociais.
� Retome o contexto (p. 121)
1. Respostas pessoais. Aproveite para rever os prin-
cipais conceitos estudados ao longo do capítulo
para esclarecer possíveis dúvidas que os estudan-
tes ainda tenham.
2. Aqui há a sugestão da elaboração de um texto
dissertativo-argumentativo. Para isso, retome o
trabalho da última seção Diálogos. Essa proposta
trabalha os Temas Contemporâneos Transversais
de Cidadania e Civismo (Vida Familiar e Social
e Educação em Direitos Humanos) e Meio Am-
biente (Educação Ambiental) e a Competência
geral 2.
Livros
• HARVEY, David. Cidades rebeldes: do direito à cidade à revolução urbana. São Paulo: Martins Fontes, 2014.
Nesse livro, David Harvey apresenta importantes reflexões
sobre a cidade, questionando quem controla o acesso aos
recursos urbanos, ou quem estabelece a qualidade da vida
cotidiana.
• LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. 5. ed. São Paulo: Centauro, 2009.
Esse livro tem por objetivo fazer com que os problemas da
cidade sejam postos na pauta política e que o urbanismo
seja um tema de debate público.
Site
• THE ECONOMIST. Bright lights, big cities. Disponível em: https://www.economist.com/node/21642053. Acesso em: 14 set. 2020.
Mapa interativo da urbanização do site do jornal The
Economist que mostra o crescimento das cidades desde 1930
e faz projeções para 2030, com a especificação do tamanho
das cidades.
SUGESTÕES DE LEITURAS, VÍDEOS E SITES
Capítulo 4
Direitos Humanos e prática socialDiálogos com a BNCC
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA BNCC
Competências gerais da Educação Básica
CG1, CG2, CG4, CG5, CG6, CG7,
CG8, CG9 e CG10.
Competências específicas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
1, 5 e 6.
Habilidades de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
EM13CHS101; EM13CHS502 e
EM13CHS503; EM13CHS604 e
EM13CHS605.
TCT
Cidadania e Civismo: Vida
Familiar e Social; Educação em
Direitos Humanos;
Multiculturalismo: Educação
para valorização do
multiculturalismo nas matrizes
históricas e culturais Brasileiras.
O capítulo visa ao estudo da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, a análise de seus princípios, os
progressos e entraves à concretização desses direitos
nas diversas sociedades contemporâneas e as possibi-
lidades de ações diante das violações desses direitos
em diferentes contextos, além de analisar as situações
cotidianas e a problematização das formas de desigual-
dade e discriminação. Para combatê-las, preconiza-se
o estudo de diferentes fontes e narrativas e a proposi-
ção de ações que mobilizem o respeito às diferenças e
às liberdades individuais. Dessa forma, o capítulo abor-
da os Temas Contemporâneos Transversais da Cidada-
nia e Civismo (Vida Familiar e Social e Educação em
Direitos Humanos) e Multiculturalismo (Educação pa-
ra valorização do multiculturalismo nas matrizes his-
tóricas e culturais Brasileiras); a identificação de diver-
sas formas de violência, de acordo com a habilidade
EM13CHS503; e a análise de situações da vida cotidia-
na com a problematização das formas de desigualdade,
conforme a habilidade EM13CHS502.
� Contexto (p. 122)
1. Os estudantes devem concluir que os Direitos
Humanos são um conjunto de direitos a que
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 239V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 239 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
240
todas as pessoas, sem exceção, têm acesso. Eles
devem perceber que, embora viessem sendo for-
mulados desde o final do século XVIII, se torna-
ram universais, isto é, válidos para todos, sem
exceção, ao menos como concepção filosófica,
na Declaração Universal dos Direitos Humanos,
votada na Assembleia Geral da ONU em 1948.
Essa declaração apresenta os 30 artigos de todos
os Direitos Humanos que devem ser assegurados
a cada pessoa.
2. Resposta pessoal. Oriente os estudantes a pensa-
rem em situações que de alguma forma desrespei-
tem os direitos à vida, como abuso de autoridade,
uso desmedido de violência, situações de extrema
pobreza, falta de assistência médica, entre outras
situações extremas.
3. Resposta pessoal. Essa é uma reflexão que será
retomada adiante no capítulo e que é um dos
grandes desafios a respeito do caráter universal
dos Direitos Humanos. Não há uma resposta de-
finitiva, pois é necessário o respeito à diversidade
cultural, desde que os costumes de determinado
grupo não coloquem em risco a vida humana e é
disso que a questão trata. No entanto, ainda não
há um consenso sobre o assunto.
■ Atividade complementar
Peça aos estudantes que desenvolvam uma pesqui-
sa na internet que aborde de que forma a Declaração
Universal dos Direitos Humanos e o Pacto Internacio-
nal sobre Direitos Civis e Políticos se inseriram no or-
denamento jurídico brasileiro.
O que se espera é que eles descubram que estão
inseridos em diversos artigos da Constituição Federal
de 1988: aparecem no preâmbulo e ficam mais explí-
citos no artigo 4: “A República Federativa do Brasil
rege-se nas suas relações internacionais pelos seguin-
tes princípios: [...] II – prevalência dos Direitos Huma-
nos;”. Aparecem também no capítulo I – Dos direitos
e deveres individuais e coletivos, cujo artigo 5 lista 78
direitos e deveres dos cidadãos brasileiros. Posterior-
mente, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos foi incorporado ao ordenamento jurídico
brasileiro por meio do Decreto no 592 de 6 de julho
de 1992, que decreta que esse documento “será exe-
cutado e cumprido inteiramente”.
� Gênese dos Direitos Humanos
(p. 123 a 129)
PROFESSOR INDICADO História ou Sociologia
Esse tópico traz alguns documentos que garantiram
direitos básicos aos cidadãos para tratar da questão da
gênese dos Direitos Humanos.
Para dar continuidade à contextualização do assun-
to, propomos um debate em torno de algumas imagens.
Organize a sala em um semicírculo para que os es-
tudantes se olhem e observem o comportamento de
todos. A proposta é que possam praticar o ato de falar
e questionar respeitosamente, sempre ouvindo quem
está se pronunciando ou pedindo a palavra. Para isso,
sugere-se a utilização da técnica do “bastão de fala”: um
objeto escolhido pela turma representa o guardião do
poder de fala. Ou seja, só quem estiver segurando o ob-
jeto pode falar. Cada um que quiser falar deve pedir o
bastão e aguardar a sua vez. O objeto também pode
circular: quem desejar falar, segura-o até que chegue sua
vez; quem não quiser se pronunciar, passa-o adiante. As
falas dos estudantes devem ocorrer sempre mediante
as suas indagações e seus questionamentos.
Projete ou imprima as três imagens a seguir, que
mostram, de formas distintas, como se deu o anúncio
do fim da Segunda Guerra Mundial. Questione os es-
tudantes: o que as imagens representam? Qual a rela-
ção entre elas? Qual a impressão elas nos causam?
Edição extra do jornal O Globo anuncia o fim
da Segunda Guerra Mundial em 7 de maio
de 1945, após rendição das tropas alemãs.
Repro
dução/O
Glo
bo
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 240V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 240 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS | 241
Ao saber da notícia do fim da guerra, dezenas de milhares de pessoas foram comemorar nas ruas de muitas cidades da Europa, como a multidão que invadiu a avenida Champs-Élysées, na cidade de Paris, em 8 de maio de 1945.
Vista do Portão de Brandemburgo na cidade destruída de Berlim, em 1o de junho de 1945.
Os estudantes devem perceber o sentimento de
euforia demonstrado na foto com as pessoas nas ruas
de Paris e no anúncio do jornal. Trata-se de uma cele-
bração pelo fim de uma tragédia, o fim de um período
de medo e insegurança. Por outro lado, os estudantes
podem notar que a situação da Alemanha, revelada
pela imagem de Berlim, aponta uma derrota que dei-
xaria marcas na população.
Com base nas respostas dos estudantes, introduza
mais indagações: O que é preciso fazer para que a paz
seja de fato estabelecida após uma guerra mundial?
Como garantir que nenhum grupo social oprima o ou-
tro? Que nenhum ser humano tenha seus direitos mais
básicos desrespeitados?
Se achar adequado, para consolidar essa atividade
de contextualização, propõe-se a construção conjunta
de uma manchete de jornal e um parágrafo de texto
informativo sobre a criação da Declaração Universal
dos Direitos Humanos.
Conversa (p. 125)
1. Espera-se que os estudantes reconheçam que os
documentos ressalvam o compartilhamento do
poder, principalmente a Declaração de Direitos
(1689), na qual o Parlamento limita o poder real,
e a Declaração dos Direitos do Homem e do Ci-
dadão da Revolução Francesa (1789), na qual há
a previsão de divisão de poderes.
A Declaração de Direitos (1689) não ressalva o di-
reito à propriedade como os outros dois documentos;
é também a única que limita a liberdade de expressão
no Parlamento, já que nos outros documentos ela é
estendida a todos.
Tanto a Declaração dos Direitos de 1791 quanto a
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da
Revolução Francesa (1789) garantem julgamento justo
a quem for acusado de algum crime.
Esta atividade desenvolve a habilidade EM13CHS101
ao exigir que os estudantes analisem e comparem dife-
rentes fontes, com vistas à compreensão de ideias filo-
sóficas e de processos e eventos históricos e políticos.
2. Resposta pessoal. A expectativa é que os estu-
dantes consigam projetar para a realidade escolar
a aplicabilidade de princípios e propósitos, aos
moldes dos descritos nas declarações de Direitos
Humanos, que possam contribuir para a manu-
tenção do clima de paz em seu cotidiano.
Esta atividade desenvolve a Competência geral 2
ao incitar a curiosidade intelectual dos estudantes e
solicitar que recorram à abordagem própria das ciên-
cias, incluindo a investigação, a análise crítica e a cria-
tividade, para investigar causas, elaborar e testar
hipóteses, e resolver problemas com base nos co-
nhecimentos das diferentes áreas, já que eles devem
analisar os documentos em questão para depois pro-
duzir seu próprio documento. Além disso, a ativida-
de também desenvolve a habilidade EM13CHS605
ao propor que reflitam sobre as noções de justiça
presentes em outros documentos, identificando
AG
IP/B
rid
ge
man I
mag
es/K
eysto
ne
Bra
sil
Keysto
ne/G
ett
y Im
ages
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 241V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 241 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
242
progressos e entraves à concretização desses direitos
e refletindo sobre sua própria realidade. A questão
envolve ainda o Tema Contemporâneo Transversal
da Cidadania e Civismo, propondo que os estudan-
tes relacionem legislação, questões da atualidade e
realidade escolar.
Conversa (p. 127)
1. Espera-se que os estudantes analisem as viola-
ções dos direitos humanos durante o período
da ditadura civil-militar (1964-1985) por meio de
perseguições, mortes, torturas, etc. e que reco-
nheçam que seu fim foi lento e gradual. Uma
das primeiras marcas da abertura política foi o
decreto de Anistia, que perdoou todos os crimes
políticos praticados durante a ditadura militar
(até 1979) tanto por parte das pessoas que pro-
curavam resistir ao regime como por parte dos
órgãos de repressão.
2. Consolidada após o longo período de abertura
política, a Constituição de 1988 foi denominada
de Constituição Cidadã porque estabelecia, en-
tre outros aspectos, a ampla garantia de direitos
fundamentais, que são listados logo nos primeiros
artigos; o sistema presidencialista de governo, com
voto direto; o fortalecimento do Sistema Judiciário;
o direito ao voto para analfabetos e menores entre
16 e 18 anos de idade; o reconhecimento das ter-
ras ocupadas por povos indígenas e quilombolas;
e o assistencialismo social, com a ampliação dos
direitos dos trabalhadores.
O boxe propõe o desenvolvimento das Competên-
cias gerais da Educação Básica 1, na utilização dos co-
nhecimentos historicamente construídos para enten-
der a realidade, e colaborar para a construção de uma
sociedade justa; 2, no uso da curiosidade intelectual da
abordagem própria das ciências para investigar, elabo-
rar e testar hipóteses; e 7, na argumentação com base
em informações confiáveis para defender ideias em res-
peito aos Direitos Humanos. Além disso, aborda as ha-
bilidades EM13CHS101, na comparação de diferentes
fontes e narrativas com vistas à compreensão de pro-
cessos e eventos históricos; EM13CHS502, na identifi-
cação de ações que promovem os Direitos Humanos;
EM13CHS503, na identificação de diversas formas de
violência; e EM13CHS605, na consideração dos princí-
pios da Declaração dos Direitos Humanos e das noções
de justiça.
Interpretar (p. 129)
1. Espera-se que os estudantes reconheçam que a
Declaração Universal dos Direitos Humanos traz,
dos documentos anteriores, a ideia de igualdade
e fraternidade entre os seres humanos; o direito à
propriedade, liberdade de opinião e expressão; o
direito ao julgamento justo em caso de crime; e
o direito de tomar parte no governo de seu país
diretamente ou por intermédio de representantes
livremente escolhidos, embora este não estivesse
exposto dessa mesma forma nos outros docu-
mentos, principalmente na Declaração de Direi-
tos (1689), todos se asseguram de alguma forma
contra o exercício despótico do poder. Por outro
lado, os estudantes também devem perceber as
novidades introduzidas pela Declaração Universal
dos Direitos Humanos, principalmente no que
se refere ao estabelecimento de direitos de fato
universais, ou seja, que abrangem todas as pes-
soas, que garante qualidade de vida a populações
marginalizadas e que asseguram a não distinção
de raça, cor, sexo, idioma, religião, opinião política
ou de outra natureza, origem nacional ou social,
riqueza, nascimento, ou qualquer outra condição.
Também a proibição da escravidão, da tortura e
o direito à instrução não estavam presentes nos
documentos anteriores.
2. Os estudantes devem notar que as declarações
anteriores serviram de base para a elaboração
da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Devem perceber também que a origem dos Di-
reitos Humanos deriva da própria existência e
aperfeiçoamento do próprio Direito ao longo
das transformações sociais e políticas pelas quais
passaram as sociedades. Seu principal objetivo
é assegurar a dignidade da pessoa humana, por
meio de uma série de direitos básicos, como os
direitos individuais, políticos, econômicos, sociais
e culturais.
Para responder a essas questões, os estudantes de-
vem desenvolver as habilidades EM13CHS605, na aná-
lise dos princípios da declaração dos Direitos Humanos,
e EM13CHS101, na comparação com as outras fontes.
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 242V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 242 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS | 243
3. Oriente os estudantes a comporem um quadro
em que cada linha se descreva e analise um dos
direitos humanos. Além de marcar se o direito está
ou não efetivado em sua realidade, eles podem
acrescentar detalhes, explicando, por exemplo, que
medidas seriam necessárias para sua efetivação.
Na elaboração do quadro proposto, os estudantes
desenvolvem a habilidade EM13CHS502 na análise das
situações da vida cotidiana e na problematização das
formas de desigualdade e discriminação que ocorrem
na realidade da sua comunidade, bairro ou município.
O trabalho contribui também para o desenvolvimen-
to da habilidade EM13CHS503 na identificação de di-
versas formas de violência existentes no contexto em
que os estudantes vivem.
� Reflexões sobre os Direitos Humanos (p. 130 a 133)
PROFESSOR INDICADO Sociologia ou Filosofia
Este tópico propõe algumas reflexões sobre os Di-
reitos Humanos relacionando-os à ideia de multicul-
turalismo.
Oriente a interpretação da tirinha, que desenvolve
a habilidade EM13CHS105 quanto à identificação e
crítica à oposição dicotômica entre civilizados e bár-
baros. Solicite aos estudantes que explicitem a ambi-
guidade ou ironia presente na história. Espera-se que
eles apontem que a limitação das pessoas do mundo
à classificação de bárbaras ou não bárbaras foi definida
justamente pelos que não se consideravam bárbaros,
ou seja, nada mais é do que uma interpretação que
considera o ponto de vista de apenas um grupo social.
Em parceria com a área de Linguagens e suas Tec-
nologias, é possível solicitar aos estudantes que, dividi-
dos em grupos, produzam sua própria história em qua-
drinhos a partir do tema “direitos universais e
relativismo cultural”. Ou seja, o quadrinho pode focar
em personagens de um grupo cujas tradições culturais
sejam entendidas como contrárias aos Direitos Huma-
nos, e problematizar a questão.
Para isso, pode ser necessário primeiro realizar uma
pesquisa sobre costumes que são considerados desres-
peitosos aos Direitos Humanos, por exemplo, a muti-
lação genital feminina, a morte de crianças portadoras
de alguma deficiência ou a escarificação (técnica para
marcar a pele com lâmina ou outro objeto cortante).
Enfatize que os estudantes devem considerar vários
pontos de vista sobre a questão para depois procurar
a melhor maneira de abordá-la na história em quadri-
nhos. Marque uma data para que todos apresentem
suas produções.
Essa atividade desenvolve a habilidade EM13CHS101
na análise de diferentes fontes e narrativas expressas
com vistas à compreensão de processos e eventos his-
tóricos e culturais. Aproveite as pesquisas dos próprios
estudantes para aprofundar o debate em torno da uni-
versalidade dos Direitos Humanos e da possível com-
binação com a defesa do multiculturalismo.
Oriente a observação da imagem da manifestação
em solidariedade ao povo Guarani-Kaiowá em Paris.
Pergunte aos estudantes o que está sendo representa-
do e com qual objetivo. Depois, questione qual a pos-
sível relação entre a imagem e o texto sobre os direitos
humanos e o respeito à diversidade cultural. É espera-
do que os estudantes apontem que os povos indígenas
muitas vezes não têm seus direitos respeitados. Parte
das comunidades indígenas no Brasil ainda luta pelo
reconhecimento de suas terras, por exemplo. Destaque
que esse é o caso da situação de risco do povo Guara-
ni-Kaiowá, que enfrenta casos de permanente subnu-
trição e assassinato de lideranças e membros da comu-
nidade na luta pela terra.
■ Atividade complementar
Divididos em grupos, os estudantes devem pesqui-
sar casos de violação dos Direitos Humanos envolven-
do povos indígenas que tenham ocorrido nos últimos
anos. A pesquisa deverá ser realizada em jornais, sites,
revistas, redes sociais, etc. Marque uma data para que
cada grupo apresente a notícia encontrada para a tur-
ma. Oriente-os a considerar na apresentação uma con-
textualização sobre o(s) grupo(s) indígena(s) citado(s)
e uma interpretação que relacione a notícia com os
artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos
que foram infringidos no caso.
Depois da apresentação, realize uma discussão pro-
curando levantar pontos em comum que ajudem a
pensar de forma geral proposições que envolvam a De-
claração Universal dos Direitos Humanos e a proteção
aos povos indígenas. Ressalte a luta desses povos pela
posse de suas terras, por respeito às suas culturas e
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 243V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 243 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
244
pela possibilidade de decisão das comunidades frente
aos projetos de desenvolvimento.
Por fim, solicite que cada estudante produza um
texto dissertativo sobre esse tema com argumentos
apoiados na discussão feita em sala.
Conversa (p. 131)
Explique que os Direitos Humanos devem ser enten-
didos como patrimônio comum da humanidade, como
pilares de um diálogo entre nações, culturas e comuni-
dades, capazes de estabelecer referenciais para analisar
a legitimidade do poder estatal, conformando limites
objetivos para a cidadania e a soberania nacional. O re-
conhecimento de identidades particulares não pode ser
fundado na produção de desigualdades e exclusões.
Deve-se estimular os estudantes a encontrar princí-
pios éticos universais que permitam construir ações que
respeitem o grupo em questão, ao mesmo tempo que
colaborem para a implantação dos Diretos Humanos
naquela realidade. Ressalte que para enfrentar de modo
eficiente esses desafios, a cultura dos Direitos Humanos
precisa ser fundada na moralidade que é comum a to-
dos, independentemente de tempo e lugar. Ou seja,
uma moralidade jurídica que se manifesta na substan-
cialidade das conquistas éticas de toda a sociedade.
Oriente os estudantes a refletirem sobre a necessi-
dade do convívio humano, considerando que uma cul-
tura determinada não tem direito de manter-se à mar-
gem de qualquer critério de ética, mas também que
nenhuma cultura tem o direito de impor-se sobre ou-
tra. Ou seja, deve-se procurar encontrar uma dimensão
humana, universal, que, tenha valor absoluto.
Esta atividade desenvolve as habilidades
EM13CHS101, na análise de diferentes fontes e narra-
tivas com vistas à compreensão de ideias e processos
culturais; EM13CHS503, na identificação de diversas
formas de violência e seus significados e usos políticos,
sociais e culturais; e EM13CHS605, na análise dos prin-
cípios da declaração dos Direitos Humanos, identifi-
cando os entraves à concretização desses direitos e pos-
síveis ações diante das violações, respeitando a
identidade de cada grupo.
Interpretar (p. 132)
1. Para o autor, os Direitos Humanos, mesmo conside-
rando que surgiram em um certo contexto histórico,
da luta da burguesia contra o Antigo Regime, então
como “ideologia”, não perdem validade e ganham
alcance universal. Daí serem promissores a todo o
mundo, sendo pluralistas e estratégicos para a mu-
dança da sociedade.
2. No texto o “otimismo da vontade” é demons-
trado pela aposta na utopia do movimento real
que agrega as atuações dos Direitos Humanos,
tanto pela abrangência horizontal quanto vertical
mundialmente. Quanto ao “pessimismo da razão”,
se evidencia em seguir para um horizonte sempre
mais além, como caminho permanente e constante
sem alcançar o ponto de chegada.
3. Resposta pessoal. No entanto, os estudantes devem
fundamentar, inclusive com exemplos, seus pontos
de vista. É interessante organizar uma roda de
conversa para que os estudantes possam discutir
com os colegas e confrontar os diferentes pontos
de vista.
� Diálogos (p. 134 e 135)
1. Espera-se que os estudantes mobilizem seus conhe-
cimentos prévios e também entrem em contato
com a comunidade escolar e seu entorno, numa
perspectiva investigativa, respaldados pelo reper-
tório conceitual construído ao longo dos estudos
e reflexões promovidos neste capítulo, e apontem
as necessidades locais e regionais. Sobre a questão
do Brasil, espera-se apontamentos com relação à
desigualdade, ao desemprego, à fome, à violência,
à discriminação e aos preconceitos, além de outros
que acharem mais pertinentes. Nos levantamentos
em escala mundial, são esperados que apontem
algumas fontes pesquisadas e direcionadas pelos
professores, de maneira a serem verificadas. Podem
ser acionados exemplos já antigos e duradouros de
desrespeito aos Direitos Humanos ou novas situa-
ções que venham a se explicitar no contexto desta
pesquisa, eventualmente de grande repercussão
pela mídia e que seja do interesse dos estudantes.
2. Os estudantes podem combinar as conversas,
elaboração de debates e rodas de debate, apresen-
tação e elaboração de vídeos em conjunto com
a comunidade escolar e levantar as necessidades
para tais elaborações, como materiais, organização
do tempo e produção.
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 244V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 244 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS | 245
3. Espera-se que os estudantes percebam que as
diferenças cabem no âmbito das identidades,
ressaltando que a colaboração, a solidariedade
e a participação de todos possui também suas
próprias particularidades. Cabe ressaltar que neste
momento é importante o papel de liderança em
unir e propor a diversidade entre os interesses e
ações que valorizem as capacidades e habilidades
dos estudantes.
4. O levantamento visa a ampliação do conhecimen-
to e dos saberes desenvolvidos, bem como das
práticas envolvidas para a solução de problemas
levantados. O acompanhamento do corpo docen-
te e o suporte para as pesquisas e produção da
atividade proposta são fundamentais e permitem
a viabilidade das atividades.
5. Conforme discutido ao longo do capítulo, os con-
tratualistas, representados por grandes pensadores
da modernidade, como Thomas Hobbes, John
Locke e Jean-Jacques Rousseau, consideram que
o sujeito vive em sociedade mediante a realiza-
ção de um contrato social. Em troca, recebem
do Estado a garantia aos direitos inalienáveis da
dignidade humana. Essas ideias refletem a base do
pensamento liberal, marcado pelo aprofundamento
das relações sociais capitalistas.
No entanto, essa visão é insuficiente para Hannah
Arendt, pois o contexto vivido pela filósofa alemã é
marcado pela ocorrência de guerras mundiais, que
provocaram o grande deslocamento espacial da po-
pulação. Nesse contexto, emergiram os apátridas e
as minorias, grupos sociais que não viviam mediante
um contrato social, pois não pertenciam a nenhum
povo emancipado e constituído por um Estado na-
cional soberano próprio. Para Arendt, a natureza dos
Direitos Humanos, portanto, deve ser baseada na
moral universalista e cosmopolita, cuja garantia se
efetiva além das fronteiras dos Estados nacionais, fun-
damentando-se no espaço público internacional.
Essa atividade é uma proposta para os estudantes
refletirem sobre narrativas expressas por pensadores
clássicos a respeito da natureza dos Direitos Humanos,
considerando o contexto político e social que funda-
mentou a construção das ideias e pontos de vista dis-
tintos ao longo da história. A atividade atende à habi-
lidade EM13CHS101 ao analisar e comparar diferentes
fontes e narrativas expressas em diversas linguagens,
com vistas à compreensão e à crítica de ideias filosófi-
cas e processos e eventos históricos, geográficos, polí-
ticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais.
� Os Direitos Humanos e a atuação das ONGs (p. 136 e 137)
PROFESSOR INDICADO Geografia ou Sociologia
Este tópico aborda a dificuldade de aplicação dos
Direitos Humanos e a atuação das ONGs nesse sentido.
Se achar conveniente, realize um debate questio-
nando os estudantes e pedindo para que justifiquem
suas respostas: O que é necessário para que os Direi-
tos Humanos sejam efetivos em todas as sociedades?
Precisamos de mais leis? Ou precisamos que elas se-
jam de fato aplicadas? Que ações poderiam viabilizar
essa prática?
É possível propor também que os estudantes en-
trevistem pessoas da comunidade sobre o que elas en-
tendem por Direitos Humanos e o que elas acreditam
ser necessário para que eles se efetivem.
Para isso, divida os estudantes em grupos. Peça pa-
ra que cada um selecione cinco (ou mais) entrevista-
dos e pensem se outras perguntas, além dessa princi-
pal, podem ser úteis para o estudo do tema. Se
desejarem, é possível gravar as entrevistas para depois
a ouvirem novamente.
Oriente os estudantes que, antes de ir ao encontro
dos entrevistados, organizem seus materiais (bloco para
anotações, caneta ou lápis, celular ou gravador); deci-
dam quem irá gravar e/ou tirar fotos, quem fará o papel
de entrevistador e quem anotará as respostas; se forem
usar equipamentos para gravação, testem antes para ter
certeza de que estão funcionando e escolham um am-
biente onde não haja interferências para a gravação.
Lembre aos estudantes de consultar o roteiro de
perguntas sempre que necessário, falar com calma e se
mostrarem gentis ao abordar o entrevistado. Marque
uma data para que cada grupo apresente seu trabalho.
Realize então uma discussão com a turma, consideran-
do as falas dos entrevistados, para que reflitam sobre
com o que concordam ou discordam e por quê.
Para trabalhar o conteúdo relativo às ONGs, per-
gunte aos estudantes se conhecem alguma ONG e qual
o trabalho delas. Depois indague se alguma das ONGs
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 245V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 245 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
246
mencionadas possuem atuação relativa à questão dos
Direitos Humanos.
É possível fazer algumas perguntas para certificar
que os estudantes compreenderam como realizar a
leitura do gráfico e contribuir para o desenvolvimen-
to da habilidade EM13CHS103 ao elaborar hipóteses
e a composição de argumentos relativos a processos
políticos, econômicos e sociais com base na sistema-
tização de dados gráficos. Por exemplo: quais áreas
de atuação são mais comuns nas Organizações da
Sociedade Civil (OSCs) brasileiras? E quais são menos
comuns? Quais fatores podem explicar esses dados?
É possível solicitar uma pesquisa sobre ONGs que
atuam na comunidade ou no município no qual os es-
tudantes vivem e verificar se alguma delas se relaciona
com o tema de estudo do capítulo. Trazer relações en-
tre o conteúdo e a realidade do estudante chama a
atenção do mesmo e, dessa forma, o aprendizado ten-
de a ocorrer de forma mais efetiva.
� Principais ONGs de atuação nacional e internacional (p. 138 a 146)
PROFESSOR INDICADO Geografia ou Sociologia
Este tópico aponta as principais ONGs de atuação
internacional detalhando cada uma delas.
Para trabalhar esse conteúdo, retome a pesquisa
realizada pelos estudantes sobre as ONGs que atuam
na comunidade e pergunte se alguma delas possui
atuação internacional. Indague também se eles conhe-
cem alguma ONG de atuação internacional e se sabe-
riam descrever o trabalho dessa organização.
Anti-Slavery International
Indague se os estudantes sabem quais são os lo-
cais no mundo hoje onde a escravidão ainda está
presente. Explique que, segundo a Organização Inter-
nacional do Trabalho (OIT), é considerado escravo
todo o regime de trabalho degradante que prive o
trabalhador de sua liberdade. Pergunte se os estudan-
tes já viram alguma notícia sobre trabalho escravo no
Brasil atual. É possível solicitar uma pesquisa sobre
isso para aprofundar os conhecimentos sobre o as-
sunto. Nesse caso, sugira que os estudantes deem pre-
ferências por pesquisarem notícias ocorridas no esta-
do ou município no qual vivem.
Estabeleça relações com a região em que os estu-
dantes vivem e com o tempo presente, questionando
se é um local onde atualmente foram encontrados
casos de trabalho escravo. Trabalhar com a realidade
local possibilita a compreensão do entorno do estu-
dante e traz um significado fundamental para o en-
tendimento das relações sociais que se estabelecem
em sua realidade e para seu posicionamento diante
desse conhecimento.
Human Rights Watch
Para que os estudantes conheçam os temas de
atuação da ONG, sugira que façam uma rápida bus-
ca na internet por notícias com o nome “Human
Rights Watch”. É esperado que eles observem que a
organização lida com diversos assuntos como o co-
mércio de armas, os direitos LGBTQI+, os direitos das
pessoas com deficiência, os direitos das crianças, das
mulheres, dos migrantes, direito à liberdade de ex-
pressão, terrorismo, tortura.
Se não for possível que os próprios estudantes reali-
zem essa pesquisa, leve para a aula notícias como estas:
• MACHADO, Isabel Pinto. HRW: desde 2017
torturas, violações e mortes impunes no Parque de
Virunga, na RDC. RFI, 31 jul. 2020. Disponível em:
https://www.rfi.fr/pt/%C3%A1frica/20200731-hrw-
desde-2017-torturas-viola%C3%A7%C3%B5es-e-
mortes-impunes-no-parque-de-virunga-na-rdc.
Acesso em: 25 ago. 2020.
• NOBUO, Paulo. Human Rights Watch alerta sobre
“robôs assassinos” há anos: entenda o que são eles.
VIX, 24 ago. 2020. Disponível em: https://www.vix.
com/pt/mundo/589326/human-rights-watch-
alerta-sobre-robos-assassinos-ha-anos-entenda-o-
que-sao-eles. Acesso em: 25 ago. 2020.
• RELATÓRIO da Human Rights Watch divulga abuso
de crianças atletas no Japão. Extra, 20 jul. 2020.
Disponível em: https://extra.globo.com/esporte/
relatorio-da-human-rights-watch-divulga-abuso-
de-criancas-atletas-no-japao-24541597.html.
Acesso em: 25 ago. 2020.
Pergunte se os estudantes sabem o que é a Comis-
são Nacional da Verdade e qual a sua importância. É
esperado que os estudantes percebam que o resgate e
a discussão sobre as violações dos direitos humanos são
fundamentais para que as instituições democráticas e
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 246V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 246 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS | 247
a justiça sejam fortalecidas e que essas violações não
mais se repitam.
Organize a sala em duplas procurando fazer com
que estudantes que possam se apoiar mutuamente
para a realização da atividade trabalhem juntos.
Se achar pertinente, projete ou imprima os docu-
mentos abaixo:
• BOGHOSSIAN, Bruno. Engrenagem de abusos
perseguiu, matou, torturou e saiu impune. Folha de
S.Paulo, 27 jun. 2020. Disponível em: https://www1.
folha.uol.com.br/poder/2020/06/engrenagem-de-
abusos-perseguiu-matou-torturou-e-saiu-impune.
shtml. Acesso em: 25 ago. 2020.
• O QUE são Comissões da Verdade. Memórias da
ditadura. Disponível em: http://memoriasda
ditadura.org.br/comissao-nacional-da-verdade-2/.
Acesso em: 25 ago. 2020.
Após a leitura dos documentos, solicite aos estu-
dantes que identifiquem no documento da Comissão
Nacional da Verdade e na notícia quais artigos da De-
claração Universal dos Direitos Humanos foram infrin-
gidos. Peça para que anotem as respostas no caderno.
É possível solicitar aos estudantes, nas mesmas du-
plas, que produzam folders relatando a violação aos
direitos humanos durante a ditadura civil-militar e a
importância da Comissão Nacional da Verdade. A ex-
pectativa é que demonstrem o aprendizado adquirido
na aula, mencionando artigos da Declaração Universal
dos Direitos Humanos, como esses direitos foram in-
fringidos, ou mesmo frases relacionadas à Comissão
Nacional da Verdade e ao senso de justiça diante da
ditadura civil-militar.
Por fim, solicite que apresentem suas produções
para a turma, explicando cada uma e que explanem
sobre a possibilidade de divulgá-las nas redes sociais
ou em outros meios.
Anistia Internacional
Pergunte aos estudantes se eles conhecem a ONG
Anistia Internacional; esclareça, caso eles não saibam,
o significado da palavra anistia. Para estabelecer a liga-
ção com o conteúdo anterior, indague se eles acredi-
tam que essa ONG pode ter atuado no período da
ditadura militar-civil brasileira.
É possível apresentar brevemente a seguinte
matéria:
• 50 ANOS do Golpe: relatório da Anistia foi o pri-
meiro a listar os acusados de tortura durante o re-
gime militar brasileiro. Anistia Internacional, 15 abr.
2014. Disponível em: https://anistia.org.br/noticias/
50-anos-golpe-relatorio-da-anistia-foi-o-primeiro-
-listar-os-acusados-de-tortura-durante-o-regime-
-militar-brasileiro/. Acesso em: 26 ago. 2020.
A partir da leitura desse material, os estudantes de-
vem compreender que a Anistia Internacional também
se opunha à tortura e que esse procedimento estava
ligado à violência com a qual o regime militar brasilei-
ro lidava com as pessoas investigadas, às vezes até ar-
bitrariamente.
Retome a importância do direito à liberdade de
expressão presente no excerto do texto de Peter
Benenson. Questione os estudantes se ainda hoje as pes-
soas são presas em algum lugar por manifestarem sua
opinião pessoal e em que circunstâncias isso ocorre.
Para aprofundar o debate, é possível dividir os es-
tudantes em grupos e pedir que discutam se a liberda-
de de expressão deve ser um direito absoluto ou se
deve ter seus limites. Após um tempo de discussão,
peça para que uma pessoa de cada grupo socialize o
que foi debatido com a turma.
Conversa (p. 140)
Essa atividade tem como objetivo desenvolver o pro-
tagonismo dos estudantes na pesquisa das atuações mais
recentes da Anistia Internacional, fazendo com que co-
nectem o conteúdo com a atualidade e se posicionem
diante do que está sendo aprendido, reconhecendo a im-
portância de exercerem seu papel de cidadão no mundo.
Se possível, oriente-os a pesquisarem especificamente so-
bre casos de atuação da ONG no Brasil, para que perce-
bam maior conexão entre o conteúdo e sua realidade.
Médicos sem Fronteiras
Pergunte aos estudantes se conhecem a ONG Mé-
dicos sem Fronteiras e se já souberam de alguma situa-
ção em que ela atuou no Brasil. É possível apresentar a
seguinte notícia:
• MÉDICOS sem Fronteiras começa ação contra
COVID-19 no Brasil. Médicos sem Fronteiras, 6 abr.
2020. Disponível em: https://www.msf.org.br/
noticias/medicos-sem-fronteiras-comeca-acao-
contra-covid-19-no-brasil. Acesso em: 26 ago. 2020.
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 247V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 247 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
248
A partir desse material, os estudantes devem per-
ceber que a ONG está presente no território nacional
e que atuou principalmente no cuidado com pessoas
em estado de grande vulnerabilidade durante a pan-
demia de Covid-19.
Oriente a análise dos dados presentes no site da
instituição. Peça aos estudantes que notem o trata-
mento de quais doenças são mencionadas. Em parce-
ria com a área de Ciências da Natureza e suas Tecno-
logias, é possível aprofundar o estudo sobre o impacto
dessas doenças no Brasil e sobre medidas de prevenção
e tratamento para cada uma delas.
Solicite aos estudantes que vejam a fotografia dos
médicos da organização MSF em Juba, capital do Su-
dão do Sul. Peça que observem atentamente o local,
as pessoas, seus trajes e os médicos. Pergunte se eles já
ouviram ou leram algo sobre esse país e por quais mo-
tivos a organização poderia atuar lá. Mesmo que os
estudantes desconheçam, tente instigá-los a obter al-
guma informação pela imagem.
Oxfam
Assim como sugerido com as organizações ante-
riores, estimule os estudantes a falarem se já conhecem
o trabalho da Oxfam e da Repórteres sem Fronteira.
Conversa (p. 142)
Resposta pessoal. A atividade tem por objetivo de-
senvolver a habilidade dos estudantes em utilizar os
conhecimentos historicamente construídos para en-
tender e explicar a realidade, apropriando-se também
de suas experiências para compreender o mundo e fa-
zer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao
seu projeto de vida.
Organize a apresentação dos grupos definindo pre-
viamente o tempo de cada um e reservando um espa-
ço para as conclusões gerais. Ressalve também que os
grupos se organizem internamente, para que todos par-
ticipem e saibam o que falar e em qual momento. Isso
deve trazer maior segurança aos próprios estudantes.
Interpretar (p. 143)
A atividade desenvolve a habilidade EM13CHS103
na elaboração de hipóteses com base na sistematiza-
ção de dados presentes na tabela.
1. Espera-se que os estudantes percebam que os
países mais bem posicionados em termos de li-
berdade de imprensa são os primeiros colocados
na tabela, como Noruega, Finlândia, Dinamarca e
Suécia, respectivamente. É possível apresentar um
mapa-múndi para que os estudantes localizem es-
ses países e percebam que todos estão na Europa.
Observando a última linha da tabela, eles devem
perceber que a Coreia do Norte é o país onde
há mais restrição à liberdade de imprensa, já que
é o último colocado. É possível questionar que
fatores explicariam tal classificação, estimulando os
estudantes a considerarem o desenvolvimento da
democracia relacionada à liberdade de expressão.
2. Os estudantes devem perceber que o Brasil está
em 107o lugar na tabela, mais próximo das últimas
colocações do que das primeiras; portanto, não
está bem situado no ranking global de liberdade
de imprensa. Solicite que formulem algumas hi-
póteses para isso e depois as verifiquem por meio
da pesquisa solicitada.
3. Oriente a discussão em grupo sobre a importância
dos profissionais de imprensa na preservação de
um ambiente democrático e o papel deles em
um mundo recheado de fake news. Incentive os
estudantes a refletirem criticamente sobre as fun-
ções da imprensa, sua relação com o exercício da
cidadania e com a conscientização das pessoas.
Observatório da Imprensa
Oriente os estudantes na observação da imagem
utilizada para ilustrar a atuação do grupo Observatório
da Imprensa. Estimule-os a desenvolverem hipóteses
sobre o trabalho da organização a partir da notícia vei-
culada. Se possível, peça que visitem o site da organi-
zação, disponível em: www.observatoriodaimprensa.
com.br (acesso em: 7 set. 2020). Solicite aos estudantes
que destaquem mais detalhes sobre sua atuação a par-
tir das notícias veiculadas. Peça que relacionem o tra-
balho do Observatório da Imprensa com as outras
ONGs estudadas e com a Declaração Universal dos
Direitos Humanos.
■ Atividade complementar
Para aprofundar a discussão sobre o tópico “Os
Direitos Humanos no mundo e os desafios em cres-
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 248V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 248 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS | 249
cimento”, sugere-se a atividade de produção de um
podcast. Pergunte aos estudantes se sabem o que é e
se costumam ouvir algum podcast. Aproveite para
incentivar a apreciação dessa ferramenta como ins-
trumento de informação e estudo. É possível trazer
exemplos sugeridos pela própria turma ou apresentar
algumas destas opções.
• Dá ideia. Disponível em: https://open.spotify.com/
show/6gPFCK8dGyBTJDV4Ek4qbr?si=kLvKgHuzR
9qWNBPgHCUAsw. Acesso em: 7 set. 2020.
Assuntos da atualidade para serem aplicados nas
redações do Enem.
• Transmissão Direitos Humanos. Disponível em:
https://www.transmissaodh.com.br/podcasttdh.
Acesso em: 7 set. 2020.
Histórias sobre a luta por direitos humanos.
• Durma com essa. Disponível em: https://www.
nexojornal.com.br/podcast/durma-com-essa/.
Acesso em: 26 ago. 2020.
Podcast do jornal digital Nexo com episódios rápi-
dos que resumem a principal notícia do dia.
• Escriba café. Disponível em: www.escribacafe.com.
Acesso em: 26 ago. 2020.
Temas sobre história do mundo e do Brasil, misté-
rios da humanidade e curiosidades.
• Fronteiras da Ciência. Disponível em: https://open.
spotify.com/show/3n2o8vpsRalBeU5U7kWbLX.
Acesso em: 26 ago. 2020.
Produzido com o apoio da Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS), reúne cientistas para
discussões sobre os assuntos do momento com lin-
guagem acessível.
• Braincast. Disponível em: https://podcasts.apple.
com/br/podcast/braincast/id504897783. Acesso
em: 26 ago. 2020.
Traz temas variados em torno da questão da tec-
nologia e da cultura digital.
• Filosofia pop. Disponível em: https://open.spotify.
com/show/3wNgwqFVIkdvN0qUyOCbg7. Acesso
em: 26 ago. 2020.
Contextualiza a filosofia com outras áreas do co-
nhecimento.
Para a criação do podcast, oriente cada grupo a
pesquisar notícias sobre violações dos direitos huma-
nos atualmente, concentrando-se em torno de um
grupo específico, que pode ser os imigrantes, as mu-
lheres, as pessoas negras, LGBTQI+, etc. Indique aos
estudantes que façam anotações durante as suas pes-
quisas e sempre relacionem com a Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos e o restante do conteú-
do visto no capítulo.
Para criar o podcast é possível utilizar os aplicativos
de gravação de voz dos próprios aparelhos celulares,
que permitem gravação e edição. Outra possibilidade
é utilizar o software livre e gratuito Audacity (disponí-
vel em: https://audacity.br.uptodown.com/, acesso em:
29 ago. 2020), uma ferramenta que pode ser baixada e
trabalhada no formato offline, ou seja, sem precisar de
conexão com a internet. Esse programa permite edi-
ção, cortes, mixagem de vozes e músicas, além de ser
interativo e bem intuitivo.
Após as pesquisas terem sido concluídas, oriente
os estudantes a seguirem estes passos na produção de
seu conteúdo:
• Definam quem vai falar ou mesmo se vão entrevis-
tar outras pessoas fora do grupo.
• Criem o roteiro para tratar do tema. Escrevam o
que vão gravar e em qual ordem. Isso ajuda a orga-
nizar o pensamento, evitar esquecimentos e garan-
tir segurança.
• Ensaiem antes da gravação. Nesse momento é pos-
sível perceber os possíveis problemas no roteiro,
treinar a oralidade, controlar se falam muito rápido
ou muito devagar. Considerem mostrar o ensaio
para que alguém de fora do grupo avalie se a expo-
sição do conteúdo não está confusa e cansativa.
• Escolham um ambiente tranquilo e com o mínimo
de barulho possível para a gravação. O local tam-
bém pode ser testado no ensaio. A gravação deve
ser feita em um espaço controlado, para evitar dis-
trações.
• Para a edição do material, aproveitem os programas
disponíveis ou mesmo os recursos do celular. Esse
é o momento de retirar os trechos que não ficaram
bons e adicionar efeitos sonoros.
• O podcast pode ser publicado na página da escola
na internet.
• Marque uma data para a apresentação dos conteú-
dos e proponha uma roda de conversa na sala so-
bre eles.
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 249V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 249 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
250
Proponha uma discussão em torno das seguintes
questões: O que aprenderam ouvindo os podcasts dos
colegas? Quais questões se aproximam entre os vários
temas? Em um segundo momento, proponha questões
que permitam aos próprios estudantes avaliarem seu
trabalho: O que aprenderam realizando os podcasts?
Como avaliam os trabalhos dos colegas? Quais foram
as maiores dificuldades? Quais foram os ganhos?
� Os Direitos Humanos no mundo e os desafios em crescimento (p. 144 a 146)
Leia o texto dessas páginas com os estudantes e,
para tratar o conceito de necropolítica, exiba para os
estudantes o vídeo sugerido a seguir, em que Silvio Al-
meida explica o termo de forma simples.
• Vamos falar sobre necropolítica? Fopir (Fórum
Permanente pela Igualdade Racial). Disponível em:
https ://www.youtube .com/watch?v=ZJw
HX71v9_o. Acesso em: 21 set. 2020.
Sobre o conceito de racismo estrutural, pode ser
exibido o seguinte vídeo aos estudantes.
• O que é racismo estrutural? TV Boitempo.
Disponível em: https://www.youtube.com/
watch?v=PD4Ew5DIGrU. Acesso em: 21 set. 2020.
� Conexões – Ciências da Natureza e suas Tecnologias (p. 147)
Leia o texto com os estudantes e incentive-os a re-
fletir sobre como é possível relacionar direitos huma-
nos e saúde. Solicite a eles que realizem a atividade em
casa para que seja lida para os colegas na aula seguinte.
Ao final, peça que compartilhem situações que pre-
senciaram e violavam os direitos humanos e discutam
com os colegas sobre quais seriam as atitudes que po-
deriam ter sido tomadas para resolvê-las.
� Diálogos (p. 148 e 149)
1. De acordo com o jurista Silvio Almeida, racismo
estrutural é um meio de naturalizar desigualdades
e justificar a segregação de grupos considerados mi-
noritários no Brasil, como ocorre com a população
negra. A publicidade veiculada pelo metrô do Rio
de Janeiro ilustra uma situação de racismo estrutural,
ainda que de forma subliminar, ao isolar casais for-
mados por pessoas negras e brancas, retratando-os
como moradores pertencentes a diferentes bairros
da cidade. Nesse caso, é possível notar o preconceito
e discriminação negativa atrelado à naturalização de
espaços segregados, que reforça que determinadas
regiões da cidade são ocupadas apenas por pessoas
brancas e outras por pessoas negras. Utilizar as redes
sociais para estimular o debate público a respeito
da propaganda, conversar com familiares e colegas
e acessar a ouvidoria do metrô do Rio de Janeiro
podem ser ações citadas pelos estudantes capazes
de denunciar esse tipo de situação no Brasil.
A atividade exige dos estudantes que interpretem
uma situação cotidiana, problematizando formas de
preconceito com base na visão de racismo estrutural
proposta pelo jurista brasileiro Silvio Almeida. Ao rea-
lizar a atividade, os estudantes são estimulados a ex-
plorar a habilidade EM13CHS502 ao analisar situações
da vida cotidiana (estilos de vida, valores, condutas,
etc.), desnaturalizando e problematizando formas de
desigualdade e preconceito, e propor ações que pro-
movam os Direitos Humanos, a solidariedade e o res-
peito às diferenças e às escolhas individuais.
2. Para iniciar a atividade, oriente os estudantes a
se reunirem em grupos de quatro a cinco inte-
grantes para que possam discutir, com base na
notícia apresentada no enunciado, as formas de
violência e de violação dos Direitos Humanos
expressas em situações como essa, tais como as
longas jornadas de trabalho, as dívidas criadas e
as condições insalubres nos locais de abrigo dos
trabalhadores. Em seguida, planeje uma parte da
aula para que os grupos possam pesquisar notí-
cias e reportagens publicadas recentemente que
relatam situações de trabalho escravo no lugar
em que vivem. Caso não haja equipamentos ele-
trônicos e acesso à internet na escola, essa etapa
pode ser realizada fora do período escolar.
Após o levantamento do material, os estudantes de-
vem ser orientados a elaborar um roteiro contendo as
principais informações que serão transmitidas no pod-
cast. Nesse caso, o roteiro poderá conter a situação re-
latada pela notícia, a análise sobre a forma como a dig-
nidade humana é violada e alguns mecanismos que
podem contribuir no combate a esse tipo de problema.
A proposta dessa atividade visa sensibilizar os estu-
dantes e a comunidade escolar sobre a persistência do
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 250V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 250 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS | 251
trabalho análogo à escravidão como uma forma de
violência física, simbólica, psicológica e de violação dos
Direitos Humanos na atualidade. Ao realizar a ativida-
de, os estudantes são estimulados a explorar a habili-
dade EM13CHS503 ao identificar diversas formas de
violência (física, simbólica, psicológica, etc.), suas cau-
sas, significados e usos políticos, sociais e culturais, ava-
liando e propondo mecanismos para combatê-las, com
base em argumentos éticos.
3. Para realizar essa atividade, oriente os estudantes a
se reunirem na sala de aula e realizarem a leitura
coletiva dos principais princípios da declaração dos
Direitos Humanos, a fim de embasar a reflexão
sobre situações do cotidiano passíveis de serem
consideradas como exemplo de injustiças e desi-
gualdades entre indivíduos e grupos. Em seguida,
estipule com os estudantes uma data para que
eles possam realizar visitas em diferentes espaços
de vivência frequentados por eles com o objetivo
de fotografar tais situações. Por fim, converse com
a direção e coordenação escolar a respeito da pos-
sibilidade de os estudantes exporem as fotografias
registradas a fim de sensibilizar os demais membros
da comunidade escolar sobre o tema.
Essa atividade exige dos estudantes uma análise dos
princípios da declaração dos Direitos Humanos, asso-
ciando o conteúdo abordado na sala de aula com as
práticas cotidianas vividas por eles fora do ambiente es-
colar. A atividade explora a habilidade EM13CHS605 de
modo a analisar os princípios da declaração dos Direitos
Humanos, recorrendo às noções de justiça, igualdade e
fraternidade, para fundamentar a crítica à desigualdade
entre indivíduos, grupos e sociedades e propor ações
concretas diante da desigualdade e das violações desses
direitos em diferentes espaços de vivência dos jovens.
4. a) Com base nas informações fornecidas pelo mapa,
o Brasil registrou pontuações muito baixas, isto
é, entre –1 a –2, quando comparado com os
demais países da América Latina e do mundo
considerado desenvolvido. Essa informação indica
que o governo brasileiro ainda deve percorrer um
longo caminho para colocar em prática os meios
necessários para garantir os direitos fundamentais
da população e, assim, alcançar as pontuações
máximas, registradas por exemplo pela Nova
Zelândia e pelos países da Escandinávia.
b) Espera-se que, com a pesquisa, os estudantes
possam reconhecer que a ONU foi fundamental
no processo de construção do sistema internacio-
nal de proteção aos Direitos Humanos por meio
da Declaração Universal dos Direitos Humanos,
ratificada em 1948. Atualmente, o ACNUDH tem
a responsabilidade de promover e proteger os
Direitos Humanos no mundo com a cooperação
de governos locais, ONGs e outras agências da
ONU. Apesar da grande importância e da abran-
gência internacional da ONU, o mapa revela que
os Direitos Humanos correm riscos elevados de
serem violados em determinados países, demons-
trando os limites de atuação da organização. O
atual desprestígio das organizações internacionais
por parte das grandes potências mundiais, como
os Estados Unidos, é um dos motivos que levam
outros países a desprezar os meios necessários
para garantir plenamente os direitos fundamen-
tais da população.
A atividade exige dos estudantes a interpretação
das informações fornecidas por representações carto-
gráficas, discutindo os limites da atuação da ONU e o
panorama do Brasil no cenário internacional de garan-
tia dos Direitos Humanos. Ao realizar a atividade, os
estudantes são estimulados a explorar a habilidade
EM13CHS604 de modo a conhecer e discutir o papel
dos organismos internacionais no contexto mundial,
com vistas à elaboração de uma visão crítica sobre seus
limites e suas formas de atuação.
� Retome o contexto (p. 151)
Aproveite esse momento final de discussão para
compreender os conhecimentos construídos pelos es-
tudantes ao longo do estudo do capítulo. Retome
questões que ficaram nebulosas e reflita sobre os avan-
ços a serem feitos adiante. Nessa conversa, o próprio
estudante também pode reconhecer seu desempenho,
refletir sobre suas descobertas, sobre os trabalhos rea-
lizados e sobre suas dificuldades.
Verifique se os estudantes compreenderam o sig-
nificado dos Direitos Humanos, sua gênese e os pac-
tos internacionais que lhes sustentam. Questione co-
mo esses direitos se inserem no aparato jurídico
brasileiro, em que medida são aplicados, em que me-
dida são violados.
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 251V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 251 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
252
Retome a aplicação dos Direitos Humanos no co-
tidiano dos estudantes. Agora que eles adquiriram
novas informações sobre o assunto, é possível que
modifiquem sua percepção. Retome também o de-
bate sobre a convivência entre o multiculturalismo e
a universalidade dos Direitos Humanos, questionan-
do se é possível aplicar princípios universais em so-
ciedade tão diferentes.
Finalize fazendo um balanço sobre o desempenho
da turma ao longo desse estudo e ressaltando a im-
portância da participação de todos para a aprendiza-
gem desse conteúdo.
Prática – O que acontece na praça?
O trabalho com esta seção
PROFESSOR INDICADO Geografia ou Sociologia
A atividade proposta nessa prática permite que os
estudantes possam aprofundar a discussão a respeito
dos Direitos Humanos, observando sua efetivação ou
violações em seu cotidiano e compreendendo como
diversos indivíduos e grupos sociais são diretamente
afetados nesses processos.
Para desenvolver essa atividade, propõe-se a expe-
riência da observação participante em uma praça da
cidade. A observação participante auxilia os estudan-
tes a ampliar as estratégias de análise de uma realidade
próxima e de relacionar o conteúdo escolar com seu
papel na sociedade.
Essa prática promove o exercício da interdisciplina-
ridade, articulando os componentes curriculares Geo-
grafia, História e Sociologia por meio dos conteúdos di-
dáticos trabalhados no capítulo, propondo a reflexão
sobre os Direitos Humanos e sua aplicabilidade, incitan-
do a reflexão crítica e o entendimento do estudante co-
mo um cidadão que atua sobre o mundo em que vive.
Diálogos com a BNCC
COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA BNCC
Competências gerais da Educação Básica
CG1, CG4, CG5, CG7 e CG9.
Competências específicas de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
1, 2, 5 e 6.
Habilidades de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
EM13CHS101, EM13CHS103,
EM13CHS104, EM13CHS205,
EM13CHS502, EM13CHS503 e
EM13CHS605.
Competências específicas de outras áreas
Linguagens e suas Tecnologias: 7.
Habilidades de outras áreas
EM13LGG703.
TCTCidadania e Civismo: Vida
Familiar e Social; Educação em
Direitos Humanos.
O objetivo geral dessa prática é propor que os es-
tudantes interpretem a realidade de uma praça da ci-
dade em que vivem com base no método de observa-
ção participante e na teoria sobre os Direitos Humanos
estudada ao longo do capítulo. Para isso, os estudantes
devem realizar um trabalho de campo.
Sugere-se que eles explorem conceitos relacionados
à ocupação dos espaços na cidade, à naturalização das
desigualdades sociais e à dinâmica das sociedades por
meio da circulação. Outros objetivos podem ser esta-
belecidos pelos próprios estudantes, de acordo com
suas necessidades de explorar outros pontos no de-
senvolvimento da pesquisa.
Ao cumprir o objetivo geral, os estudantes têm a
oportunidade de apropriar-se dos conhecimentos his-
toricamente construídos sobre o mundo físico, social
e cultural para explicar a realidade, bem como de uti-
lizar diferentes linguagens para se expressar e partilhar
informações e experiências, mobilizando, dessa forma,
as Competências gerais 1 e 4 da BNCC.
Os objetivos específicos predeterminados pela
prática permitem que os estudantes utilizem as tec-
nologias digitais de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva e ética para se
comunicar e produzir conhecimentos, argumentar
com base em dados e informações confiáveis, para
formular e defender ideias que promovam os direi-
tos humanos e exercitar a empatia e o diálogo, fa-
zendo-se respeitar e promovendo o respeito ao ou-
tro, com acolhimento e valorização da diversidade
de indivíduos e de grupos sociais, explorando as
Competências gerais 5, 7 e 9.
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 252V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 252 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS | 253
Também são exploradas as Competências especí-
ficas 1, 2, 5 e 6 de Ciências Humanas e Sociais Aplica-
das, ao possibilitar que os estudantes analisem proces-
sos sociais e culturais no âmbito local, de modo a
compreender e posicionar-se criticamente em relação
a eles, analisem a formação de territórios, mediante a
compreensão das relações de poder que determinam
as territorialidades, identifiquem as diversas formas de
injustiça, preconceito e violência e participem do de-
bate público de forma crítica, respeitando diferentes
posições e considerando o exercício da cidadania com
consciência crítica e responsabilidade.
Essa prática permite explorar as habilidades
EM13CHS101, EM13CHS103 e EM13CHS104 na com-
paração de diferentes fontes e narrativas para a
compreensão de processos geográficos, sociais e cul-
turais, na elaboração de hipóteses, seleção de evidên-
cias e construção de argumentos relativos a processos
políticos, econômicos, sociais e ambientais e na análise
de objetos e vestígios da cultura material e imaterial
com a identificação de conhecimentos e práticas que
caracterizam a identidade e a diversidade cultural de
diferentes sociedades.
Outras habilidades das Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas para o Ensino Médio são exploradas, tais co-
mo a EM13CHS205, já que o trabalho de campo permi-
te a análise da produção de diferentes territorialidades
em suas dimensões culturais, econômicas, ambientais,
políticas e sociais. Na relação da prática com o conteú-
do da unidade, é possível trabalhar as habilidades
EM13CHS502 na análise de situações da vida cotidiana,
desnaturalizando e problematizando formas de desigual-
dade e discriminação, EM13CHS503 na identificação de
diversas formas de violência, suas vítimas e suas causas
sociais e EM13CHS605 na consideração sobre os princí-
pios da declaração dos Direitos Humanos, recorrendo
às noções de justiça e igualdade e identificando viola-
ções desses direitos em diferentes espaços de vivência.
Por fim, com a divulgação dos resultados para a co-
munidade escolar, por meio de produções a serem pos-
tadas nas redes sociais, os estudantes têm a oportuni-
dade de explorar a Competência específica 7 de
Linguagens e suas Tecnologias e a habilidade
EM13LGG703 na utilização de linguagens e ferramen-
tas digitais em processos de produção coletiva, consi-
derando as dimensões técnicas, críticas, criativas, éticas
e estéticas, para difundir conhecimento.
A metodologia de pesquisa utilizada
Como a proposta dessa prática tem o objetivo de
compreender a dinâmica social e cultural em um es-
paço circunscrito no âmbito local, relacionando-o ao
conteúdo dos Direitos Humanos, sugere-se a aplicação
da metodologia da observação participante, uma téc-
nica de investigação social em que o observador par-
tilha, na medida em que as circunstâncias o permitam,
as atividades, as ocasiões, os interesses e os afetos de
um grupo de pessoas ou de uma comunidade.
Licia Valladares depreende dez mandamentos da ob-
servação participante do livro Sociedade de esquina: a
estrutura social de uma área urbana pobre e degradada,
de William Foote Whyte, que resumimos a seguir:
A observação participante, implica, neces-
sariamente, um processo longo.
O pesquisador não sabe de antemão onde
está “aterrissando”, caindo geralmente de “pá-
ra-quedas” no território a ser pesquisado.
A observação participante supõe a intera-
ção pesquisador/pesquisado.
O pesquisador deve mostrar-se diferente do
grupo pesquisado.
Algumas incertezas permanecem ao longo
da investigação.
O pesquisador quase sempre desconhece sua
própria imagem junto ao grupo pesquisado.
A observação participante implica saber ou-
vir, escutar, ver, fazer uso de todos os sentidos.
Desenvolver uma rotina de trabalho é fun-
damental.
O pesquisador aprende com os erros que
comete durante o trabalho de campo e deve
tirar proveito deles.
O pesquisador é, em geral, “cobrado”, sendo
esperada uma “devolução” dos resultados do
seu trabalho.
VALLADARES, Licia. “Os dez mandamentos da observação
participante”. In Rev. bras. Ci. Soc. v.22 n.63. São Paulo, fev.
2007. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0102-
69092007000100012&lng=es. Acesso em 11 set. 2020.
William Foote WHYTE. Sociedade de esquina: a estrutura
social de uma área urbana pobre e degradada. Tradução de
Maria Lucia de Oliveira. Rio de Janeiro, Jorge Zahar, 2005.
Ainda que na prática proposta o processo não
seja tão longo e existam adaptações, ao desempe-
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 253V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 253 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
254
nhar a função de pesquisador, observando, regis-
trando, analisando a realidade da cidade em que
vive e divulgando seus resultados, os estudantes são
colocados na posição de protagonistas no proces-
so de aprendizagem. A pesquisa de campo os co-
loca em contato direto com os objetos de estudo
e com os sujeitos pesquisados, possibilitando uma
interação que favorece a empatia e alteridade, na
busca pela transformação social, respeito aos direi-
tos humanos e na construção da educação para a
cidadania.
Para desenvolver a prática, oriente-os a realizar a
leitura do texto previamente para que possam se fa-
miliarizar com a proposta. Todas as etapas da prática
são fundamentais para o desenvolvimento da meto-
dologia. Por isso, é importante supervisionar os grupos,
esclarecendo as possíveis dúvidas e dificuldades que
surgirem ao longo do processo.
� Para começar (p. 152 e 153)
A prática proposta nesse capítulo permite dialo-
gar com os estudantes, conhecendo seus olhares e
apurando seus pontos de vista sobre situações co-
tidianas. A ideia é aplicar uma perspectiva crítica
que lhes permita enxergar a estrutura da cidade, os
níveis de sociabilidade e os usos do espaço geográ-
fico. A praça pode então ser analisada em seus di-
ferentes elementos constitutivos e na dinâmica de
circulação de pessoas.
� Para fazer (p. 153 a 157)
Alguns cuidados devem ser tomados para o de-
senvolvimento de cada etapa. Na “Etapa 1 – Definin-
do o grupo de trabalho, tema da pesquisa e objetivos”,
é possível retomar os artigos dos Direitos Humanos
citados, certificando-se de que os estudantes com-
preendam como eles se relacionam com a proposta
de observação das dinâmicas sociais na praça. Em re-
lação aos objetivos específicos, detalhe a importância
de cada ponto na observação da praça. Esta pode ser
local de bate-papo, de encontro, de trocas de expe-
riências, lazer, de comércio, manifestações artísticas ou
atividades religiosas.
Na “Etapa 2 – Campo e observação e agenda de
trabalho”, ao escolher a praça onde o trabalho de cam-
po será realizado, é importante considerar o acesso dos
estudantes ao local. Se a praça “ideal” estiver longe, eles
podem escolher um local próximo da casa ou da es-
cola, desde que tenha bastante circulação de pessoas.
O cronograma a ser estabelecido não deve ser fecha-
do, pois os dias de saída em campo ainda serão mais
bem organizados na Etapa 4. Ainda assim, é importan-
te ter um quadro geral das atividades dentro do tempo
estipulado pelo professor.
Três campos de observação participante foram
propostos para a “Etapa 3 – Planejando a pesquisa de
campo”, mas se houver interesse, esse número pode
ser ampliado. Se não for possível levar algum dispo-
sitivo para as fotografias, os estudantes podem reali-
zar desenhos do local e das situações observadas. Es-
sa atividade pode ser organizada em parceria com o
professor de Arte.
No preparo para a saída a campo, procure sensi-
bilizar os estudantes de sua participação social no
mundo. É esperado que eles se interessem pelo tra-
balho fora da escola e que, pelo contato direto com
o conteúdo, se motivem e sejam estimulados a pen-
sar criticamente. Dessa forma, os estudantes con-
frontam informações associando as aulas teóricas
ao vivido.
Na “Etapa 4 – Indo a campo”, oriente os estudan-
tes a estarem atentos à sua segurança e a serem gen-
tis com as pessoas que serão abordadas. É impor-
tante que considerem se a pessoa está com tempo
para responder, se entendeu bem as questões, se
aceitou participar da atividade proposta. Deve-se
evitar também fazer muitas perguntas para não can-
sar o entrevistado.
As anotações feitas no caderno de campo ou os
registros de um gravador de voz são essenciais para a
formulação do relato de campo na etapa seguinte. Po-
de ser interessante reservar um tempo das aulas para
que os grupos se reúnam e discutam os relatos de cam-
po. Nesse momento, o professor pode circular pelos
grupos e acrescentar algumas orientações conforme
for necessário.
� Para compartilhar (p. 157)
Divulgar os resultados é uma ótima oportunidade
para os estudantes reconhecerem seu trabalho e ele-
varem sua autoestima por meio do que realizaram. A
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 254V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 254 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
ORIENTAÇÕES ESPECÍFICAS | 255
proposta é utilizar as tecnologias digitais tendo em
vista possibilitar uma participação dos jovens nas di-
ferentes práticas socioculturais que envolvem o uso
das linguagens.
O professor deve ser um dos administradores da
página onde os trabalhos serão divulgados, embora
as artes dos stories e postagens devam ser feitas em
grupo. O professor também deve divulgar entre os
colegas de trabalho e a coordenação pedagógica pa-
ra que a mesma página possa ser alimentada por no-
vas turmas.
No caso de dificuldades de acesso à internet, é
possível que a difusão seja feita por meio de cartazes
na escola, com colagens de fotos do campo, artes,
desenhos, etc. Ou mesmo por meio de apresentação
de seminário em sala de aula. Nesse momento final,
é possível conversar com a turma sobre como se sen-
tiram ao realizar o trabalho, quais pontos consideram
positivos e negativos, o que gostariam de ter feito di-
ferente. Refletir sobre o próprio trabalho é mais uma
oportunidade de concretizar o processo de aprendi-
zagem e de continuar evoluindo.
Livro
• MELO, Verônica V. Direitos humanos: a proteção do direito à diversidade cultural do mundo globalizado do século XXI. Belo Horizonte: Fórum, 2015.
A obra trata da relevância do respeito à cultura para o
convívio entre os seres humanos, de acordo com o ponto de
vista dos Direitos Humanos no mundo contemporâneo.
Sites
• Universidade Federal Fluminense. Liberdade Religiosa e Direitos Humanos. Disponível em: www.uff.br/sites/default/files/paginas-internas-orgaos/cartilha_liberdade_religiosa.pdf. Acesso em: 29 de ago. 2020.
Cartilha elaborada pela Universidade Federal Fluminense
em conjunto com outros órgãos públicos com o objetivo de
esclarecer o que é intolerância religiosa de um ponto de
vista social, cultural, político e histórico.
• Memorial da democracia: Disponível em: http://memorialdademocracia.com.br. Acesso em: 24 ago. 2020.
Com diversas informações e recursos atraentes, trata-se de
um museu multimídia dedicado à luta pela democracia no
Brasil.
• Brasil Nunca Mais. Disponível em: http://bnmdigital.mpf.mp.br/pt-br/. Acesso em: 24 ago. 2020.
Site que apresenta os resultados de uma ampla pesquisa
sobre a tortura política no país durante o período da
ditadura civil-militar.
SUGESTÕES DE LEITURAS, VÍDEOS E SITES
Referências bibliográficas comentadasBOBBIO, Norberto. Liberalismo e democracia. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Edipro, 2017.
Este livro apresenta esclarecimento sobre o uso (combinado ou não) da expressão “Estado liberal-democrático”, explicando as
diversas combinações entre liberalismo e democracia.
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
Esta obra apresenta o trajeto de construção da democracia no Brasil, desde o processo da independência, passando pela Repú-
blica, até os protestos atuais de rua.
FALABELLA, Leonardo. In: NAVARRO, Thais. Crise econômica favoreceu fortalecimento de partidos de extrema
direita na Europa, analisa pesquisador, 23 maio 2018. AUN – Agência Universitária de Notícias. Disponível em: https://
paineira.usp.br/aun/index.php/2018/05/23/crise-economica-favoreceu-fortalecimento-de-partidos-de-extrema-
direita-na-europa-analisa-pesquisador/. Acesso em: 7 set. 2020.
Artigo sobre o crescimento e o fortalecimento dos partidos de extrema direita na Europa durante e após a crise econômica de
2008.
HIRATA, Helena; KERGOAT, Danièle. Novas configurações da divisão sexual do trabalho. Cadernos de Pesquisa. São
Paulo, v. 37, n. 132, set.-dez. 2007. p. 595-609. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0100-15742007000300005&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 7 set. 2020.
O artigo apresenta a gênese do conceito de divisão sexual do trabalho, além de analisar a evolução atual das modalidades da
divisão sexual do trabalho e a nova configuração das relações entre esferas doméstica e profissional.
KUCHEMANN, Berlindes Astrid. Envelhecimento populacional, cuidado e cidadania: velhos dilemas e novos desafios.
Sociedade e Estado. Brasília, v. 27, n. 1, jan.-abr., 2012. p. 165-180. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S0102-69922012000100010&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 6 set. 2020.
Artigo que trata do envelhecimento no Brasil, já que o envelhecimento acelerado vem produzindo necessidades e demandas
sociais que necessitam de políticas públicas adequadas do Estado e da sociedade.
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 255V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 255 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
256
LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo no Brasil. 7. ed. São Paulo:
Companhia das Letras, 2012.
A obra de Victor Nunes Leal é necessária para entender a peculiaridade do caráter da cidadania e da relação dos brasileiros com
o voto, sobretudo nas áreas rurais.
LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. São Paulo: Moraes, 1991.
Nesse livro são apresentadas reflexões sobre o urbanismo que ganham atenção do público geral, para ampliar sua importância
nos debates políticos e sociais.
SILVA, Helenice Rodrigues da. “Rememoração”/comemoração: as utilizações sociais da memória. Revista Brasileira de
História. São Paulo, v. 22, n. 44, 2002. p. 425-438. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0102-01882002000200008&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 8 set. 2020.
Neste artigo, é discutido de que forma as comemorações nacionais são utilizadas em momentos de “crises” de valores como
forma de legitimar o poder político e consolidar a memória coletiva.
SOUSA, Francisco Eduardo Pires de. Dívida externa: de 1945 a 1982. FGV – CPDOC. Disponível em: http://www.fgv.
br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/divida-externa-2. Acesso em: 8 set. 2020.
Explicação sobre a dívida externa do período entre 1945 e 1982.
TRANCOSO, Alcimar Enéas Rocha; OLIVEIRA, Adélia Augusta Souto. Aspectos do conceito de juventude nas
Ciências Humanas e Sociais: análises de teses, dissertações e artigos produzidos de 2007 a 2011. Pesquisas e práticas
psicossociais, São João del-Rei, v. 11, n. 2, maio-ago. 2016. p. 278-294. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.
php?script=sci_arttext&pid=S1809-89082016000200002&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 7 set. 2020.
Neste artigo, foi feita uma reflexão teórica sobre o conceito de juventude com base em pesquisas de artigos, dissertações e te-
ses da área de Ciências Humanas, divulgados entre 2007 e 2011.
VALLADARES, Licia. Os dez mandamentos da observação participante. Revista brasileira de Ciências Sociais. São
Paulo, v. 22, n. 63. fev. 2007. Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
69092007000100012&lng=es. Acesso em: 11 set. 2020.
Resenha do livro de William Foote Whyte, Sociedade de esquina: a estrutura social de uma área urbana pobre e degradada (tra-
dução de Maria Lucia de Oliveira, Jorge Zahar, 2005), um clássico dos estudos urbanos, obrigatório em todos os cursos de mé-
todos qualitativos e pesquisa social.
V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 256V6_Cie_HUM_Claudio_g21Sa_MPE_198a256.indd 256 28/09/2020 15:2628/09/2020 15:26
MANUAL DO PROFESSOR
Área de Ciências Hum
anas e Sociais Aplicadas • E
NS
INO
MÉ
DIO
em
Ciê
nc
ias
Hu
ma
na
s
em
Ciê
nc
ias
Hu
ma
na
s
Área de Ciências Humanas e Sociais AplicadasENSINO MÉDIO
Cláudio VicentinoEduardo CamposEustáquio de Sene
Clá
ud
io V
icen
tino
• E
du
ard
o
Ca
mp
os
• E
us
táq
uio
de
Se
ne
MANUAL DO PROFESSOR
em
Ciê
nc
ias
M
ATERIAL D
E DIV
ULG
AÇÃO −
VERSÃO S
UBM
ETIDA À
AVA
LIAÇÃO
CÓD
IGO
DA C
OLEÇÃO
:
0152P21204
CÓD
IGO
DA O
BRA:
0152P21204138
CAPA_OBJ2_CH_VICENTINO_ATICA_PNLD_2021_VOL_6_MP.indd All PagesCAPA_OBJ2_CH_VICENTINO_ATICA_PNLD_2021_VOL_6_MP.indd All Pages 4/13/21 6:47 PM4/13/21 6:47 PM