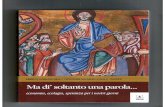Ecologia da Mídia
Transcript of Ecologia da Mídia
Título
Capa
Projeto gráfico e diagramação
Revisão Geral
© Copyright FACOS - UFSM 2013Todos os direitos reservados e protegidos pela lei 9.610/98.
É proibida a reprodução total ou parcial sem autorização por escrito da editora.
Ecologia da Mídia
Fábio Brust
Andrei Lopes
Anelise Rublescki
E19 Ecologia da mídia / Anelise Rublescki, EugeniaMariano da Rocha Barichello, (orgs.). – SantaMaria : FACOS-UFSM, 2013.176 p. : il. ; 14 x 21 cm
Texto em português, inglês e espanhol.ISBN 978-85-98031-81-1
1. Sociologia da comunicação 2. Comunicação social 3. Mídia eletrônica 4. Jornalismo 5. Relações públicas 6. Publicidade 7. Marketing I. Rublescki, Anelise II. Barichello, Eugenia Mariano da Rocha
CDU 316.774
Ficha catalográfica elaborada por Maristela Eckhardt CRB 10/37 Biblioteca Central - UFSM
Apresentação
The Ecology of the Abacus: cultural implications of the earliest digital medium Janet Sternberg
Más allá de McLuhan: Hacia una ecología de los medios Carlos A. Scolari
La metáfora ecológica en la era de la mediatización Eduardo Vizer
Helenice Carvalho
Legitimação das organizações midiáticas no ecossistema digital Luciana Menezes Carvalho Eugenia Mariano da Rocha Barichello
Ecologia das mídias nas redes sociais digitais: estendendo a Teoria Tetrádica de McLuhan ao estudo do Facebook Taís Steffenello Ghisleni Eugenia Mariano da Rocha Barichello
Misbehavior in mediated places: situational proprieties and communication environments Janet Sternberg
SUMÁRIO
7
13
33
41
61
79
99
A crise de identidade do Jornalismo na nova ecologia midiática Anelise Rublescki
Estendendo as práticas de Relações Públicas sob a perspectiva teórica da ecologia das mídias Eugenia Mariano da Rocha Barichello et alli
Webmarketing e publicidade on-line na nova ecologia midiática Anelise Rublescki Fernanda Rublescki
111
129
157
O livro Ecologia da Mídia parte de uma perspectiva da mídia como ecossistema, incluindo os novos formatos que têm como suporte as tecnologias digitais. São processos de circulação das informações caracterizados pela superação das dicotomias entre emissor/receptor, meio/mensagem, sujeito/mídia, presentes nos estudos sobre os meios de comunicação de massa, procurando compreendê-los sob a perspectiva de uma nova ambiência e do processo de midiatização da sociedade contemporânea, no qual as lógicas midiáticas parecem regular as interações sociais. Produto das atividades de pesquisa do Grupo Comunicação Institucional e Organizacional (CNPq), desenvolvido no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria, a obra conta também com a contribuição de importantes interlocutores internacionais na temática da Ecologia da Mídia. O livro pode ser dividido em duas partes. Na primeira, seis artigos buscam dar conta da discussão teórica em torno da nova ecologia midiática. Na segunda, três das principais profissões disciplinares e práticas sociais da grande área da Comunicação Social (Jornalismo, Relações Públicas e Publicidade e Propaganda) são analisadas por sua inserção na atual Ecologia da Mídia. Janet Sternberg, presidente da Media Ecology Association e professora da New York University, conduz, no primeiro capítulo, uma instigante reflexão sobre as implicações culturais do mais antigo meio digital, o ábaco. A autora demonstra que este, aparentemente, simples aparato de cálculo que agrega valores epistemológicos de representação, constitui-se no precursor do sistema binário e comportando também
APRESENTAÇÃO
implicações emocionais, como, por exemplo, tornar a informação (no caso, os números) tangível. A aplicação da metáfora ecológica no estudo dos meios de comunicação já não é nova. Para Carlos Alberto Scolari, ocorre desde os anos 1960 e representa um marco teórico integrador de grande utilidade para as Ciências Sociais. Resgatando autores plurais e, sobretudo, Mashall McLuhan, Scolari enfatiza que, em um contexto no qual proliferam novas espécies midiáticas e onde o ecossistema da comunicação vive em um estado permanente de tensão, a Media Ecology em geral e as teorias de Marshall McLuhan em particular, estendidas e revistas, têm muito a dizer. Segundo o autor, a criação da Media Ecology Association em 2000 é a institucionalização da metáfora Ecologia dos Meios, salientando que é necessário o desenvolvimento de um vocabulário próprio que lhe permita consolidar-se como discurso teórico e, paralelamente, diferenciar-se de outras abordagens teóricas da Comunicação; propiciando o desenvolvimento de novas categorias analíticas para dar conta do estudo da mídia como um ecossistema, inclusive através do intercâmbio com outros campos do saber, como, por exemplo, as teorias das redes e da complexidade. Eduardo Vizer e Helenice Carvalho, que dão seqüência à discussão, salientam que a Ecologia dos Meios é um sistema de produção, circulação e consumo no qual são os indivíduos, como consumidores e alimentadores do sistema, que conformam seu ‘entorno’. Demonstram que, em uma abordagem ecológica dos meios tradicionais - rádio, cinema e televisão -, cada ato de consumo é igualmente um ato de circulação e produção. Trata-se de um capítulo que analisa as múltiplas dimensões interligadas e interativas de poder, resistências, tempo e espaço, socialidades, linguagens e símbolos presentes nos atuais sistemas digitais. No recente ecossistema comunicacional, observa-se que a configuração sociotécnica digital demanda novas estratégias nos processos de legitimação das organizações midiáticas, a partir do paradigma da Media Ecology. Luciana Carvalho e Eugenia Mariano da Rocha Barichello resgatam uma revisão teórica sobre algumas das noções centrais para a perspectiva ecológica da mídia, correlacionando-a com uma abordagem institucional dos meios de comunicação e ao conceito de midiatização. A partir das peculiaridades do ecossistema midiático
de matriz digital, permeado pela cultura da convergência, refletem sobre o que muda nos processos de legitimação das organizações midiáticas. Entender a dinâmica das redes sociais digitais no contexto sócio-cultural-tecnológico da sociedade contemporânea em uma perspectiva ecológica da mídia é a proposta de Taís Steffenello Ghisleni e de Eugenia Mariano da Rocha Barichello. As autoras resgatam a Teoria Tetrádica de McLuhan e desenvolvem um estudo de caso na plataforma Facebook, pontuando que sua flexibilidade e adequação à ambiência digital indicam a possibilidade de sua extensão a outros objetos empíricos. Fechando a primeira parte teórica, em uma segunda preciosa contribuição para esta obra, Janet Sternberg, presidente da Media Ecology Association e professora da New York University, aborda os comportamentos inadequados em situações e em ambientes comunicacionais tecnologicamente mediados. Com significativo aporte teórico em Erving Goffman, recomenda as três lições propiciadas pelas pesquisas do autor sobre comportamento em espaços públicos, tanto para a mídia, como para os pesquisadores em Comunicação. Na segunda parte do livro, o olhar se volta para uma perspectiva ecológica da mídia nos estudos disciplinares e práticas sociais do Jornalismo, Relações Públicas e Publicidade e Propaganda; estas últimas permeadas por uma discussão também sobre o webmarketing. Anelise Rublescki repensa o Jornalismo a partir dos conceitos de poder disciplinar e campo social, e evidencia que, na nova ecologia midiática, caracterizada pela porosidade entre fontes-jornalistas-interagentes como instâncias de enunciação, há um deslocamento das atitudes epistêmicas coletivas que asseguravam aos veículos jornalísticos a exclusividade da mediação diária como instrumento de coesão social. A autora salienta que no cenário digital da nova ecologia midiática observam-se mediações multiníveis, com sucessivos reenquadramentos das notícias jornalísticas que deslocam a ênfase das notícias para a circulação, desencadeando a crise de identidade do Jornalismo, até recentemente produtor exclusivo da mediação diária e da construção da atualidade em dado recorte temporário em termos massivos.
9apresentação
É também pelo viés sociocultural que Eugenia Barichello e membros do grupo de pesquisa sob sua orientação situam a mídia como uma matriz cultural e aprofundam a compreensão do processo de midiatização da sociedade e das transformações pelas quais passam os fluxos comunicacionais em ambiências digitais. A partir de considerações sobre as práticas de Relações Públicas sob a ótica da ecologia das mídias, os autores analisam a adaptação da comunicação organizacional ao ecossistema midiático digital e o uso estratégico da convergência midiática como prática de relações públicas, especialmente em portais institucionais. Por fim, Anelise Rublescki e Fernanda Rublescki discutem as potencialidades do webmarketing na nova ecologia midiática, analisando-o tanto teoricamente, quanto verticalizando o olhar para uma de suas ferramentas, a publicidade on-line. Sustentam as autoras que a sociedade atual demanda ações coordenadas de publicidade on-line e webmarketing que visem promover uma eficiente comunicação e relacionamento com o seu público-alvo, através da escolha correta de plataformas, conteúdo e de estratégias de segmentação. Aproveitamos a oportunidade para agradecer publicamente à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior pelo apoio financeiro que viabilizou a edição deste livro, por meio do Programa Nacional de Pós-Doutorado da CAPES 2011.
Boa leitura!
Anelise RublesckiEugenia Mariano da Rocha Barichello
The Ecology of the Abacus:cultural implications of the earliest
digital medium
The only abacus many of us have ever seen is a toy with colored beads found in a baby’s playpen or crib. We push the beads back and forth, cooing to the baby, and rarely consider that for centuries the abacus was our primary medium of calculation, or that some people still take the abacus quite seriously. Those acquainted with Chinese, Japanese, or Russian culture may have encountered the abacus hard at work in the hands of merchants, accountants, farmers, and students. Though superseded long ago by written notation with Arabic numerals and more recently by the ubiquitous handheld calculator, the abacus had a long and illustrious career in the evolution of computing. That handheld calculators and, indeed, all digital computers would not have been possible without their humble antecedent is well acknowledged in the study of computers. But the role of the abacus in the development of sophisticated tools for computing is only its most obvious cultural legacy. There are other more subtle yet equally significant ways in which the abacus has touched societies throughout the ages.
In this paper, I explore the ecology of the abacus by considering its relationships to several aspects of human information environments. First, I trace the history of the abacus and offer a description of the two basic abacus genres. Next, I survey the predecessors of the abacus and computing environments from which it arose, followed by a review of its successors and computing environments to which the abacus gave rise. Finally, I examine the cultural impact of the abacus, involving on the one hand, characteristics of its physical form which have political, social, and economic implications; and on the other, features of its symbolic form which have intellectual, emotional, and epistemological implications.
Janet Sternberg
HISTORY OF THE ABACUS
What image does the word abacus usually evoke? Probably that of a rectangular frame holding a series of parallel wires or rods on which beads are strung, much like the baby’s toy. But this is just one of kind of abacus, the bead abacus, which has endured up to the present, primarily in Asia. Other branches of the abacus family disappeared over time, leaving traces only in our customs, our art, our literature, and our languages. Even the relatively familiar bead abacus comes in several varieties besides the toy version.
Though there have been many incarnations at different times and in different places, all forms of the abacus share a common operating principle: Small, identical units called counters are assigned numerical value based on their position or arrangement, with calculations being performed by physically manipulating the counters. The counters might be pebbles, shells, metal pieces or beads; they might be loosely arranged on sand, dust, boards, cloths, or tables; or they might be attached to rods or wires in a frame (Kojima, 1954, pp. 22-25; Menninger, 1958/1969, pp. 299-303, 307-315; Moon, 1971, pp. 21-24, 30-32). The bead abacus is typically self-contained, portable, and inexpensive; the counting table or line abacus of the late Middle Ages was elaborate enough to warrant a room all its own with an abundant supply of elegantly embossed counters.
The origins of the abacus are rather murky. It may have been invented as far back as 3500 B.C.E. by Semitic races, adopted in India, and carried west to Europe and east to China and Japan (Aiken, 1975, p. 191; Aiken & Hopper, 1975, p. 199); it may have been used in the Mediterranean before the Greeks by the Phoenicians and the Egyptians (Moon, 1971, p. 21). Its eastern roots are especially obscure. Perhaps traveling merchants brought the abacus to China from Rome through central or western Asia in the early Christian era around 500 C.E., an explanation supported by the resemblance between Roman and Asian forms of the abacus (Kojima, 1954, p. 24; Menninger, 1958/1969, pp. 306-307; Moon, 1971, p. 30). Perhaps, instead, the Chinese abacus was an independent, indigenous development as old as 1100 B.C.E. (Shu T’ien Li cited in Randell, 1975, p. 425).
Whatever the actual origins of the abacus, evidence of its existence dates back only to ancient Greece. There is archeological, pictorial, and linguistic evidence of the abacus in Greek civilization, but it is unfortunately sparse. The Salamis Tablet, a counting board or line abacus dated around 400 B.C.E. from an island near Athens, is the sole surviving Greek specimen (Menninger, 1958/1969, pp. 299-303; Moon, 1971, pp. 21-24). That only one Greek abacus has been
14 Janet Sternberg
preserved is understandable because they were often made of perishable or nondescript materials like wood or pebbles. The single graphic illustration of abacus use remaining from this period is the Darius Vase, a ceremonial urn from the fourth century B.C.E. commemorating the Persian Wars, which depicts a treasurer at his counting or reckoning table (Menninger, 1958/1969, pp. 303-304). Greek vocabulary offers some linguistic testimony, though no references to the abacus have been found in Greek literature. The Greek word abax meant a flat board or table and may be related to the Semitic abq meaning dust or a reckoning table covered with dust (Kojima, 1954, p. 23), though the latter etymology has been disputed (Menninger, 1958/1969, p. 301). Abakion meant counting board or table; psephoi were pebbles or counters; psephizein meant to count with pebbles or compute; and psephophoria stood for pebble-placing or computing (Menninger, 1958/1969, p. 301). It is no surprise that written mention or graphic representations of the abacus from the Greek period are rare because the abacus was a tool of slaves or petty tradesmen and the activities of these lower echelons were not deemed worthy of recording in classic Greek literary and artistic traditions (Moon, 1971, p. 21).
In Roman times, the abacus was in wider circulation, particularly handheld models, no doubt because of the rising importance of fiscal calculations in the Empire’s bureaucracy and in the commercial activity of daily life. Even so, only two specimens of the Roman abacus remain (Menninger, 1958/1969, p. 305). As for images, a carved cameo of Etruscan provenance shows a reckoner working with a counting tablet (Menninger, 1958/969, p. 304). There is also an invaluable portrayal from the first century C.E. sculpted into the gravestone of a Roman merchant: the master lounging on a couch, dictating amounts to be computed by his calculator (the Latin word for reckoner), a servant who perches attentively alongside with an abacus (Menninger, 1958/1969, p. 306). Latin vocabulary related to the abacus is reflected in other modern words referring to calculation: Calculi meant little stones or pebbles used as abacus counters; calculos ponere literally signified to place stones or, as we say now, to calculate (Menninger, 1958/1969, p. 301). The Latin name calculus for the subject often dreaded in school pays homage to the close relationship between the abacus and mathematics. Furthermore, addere and subtrahere meaning, respectively, to place or put down (counters on an abacus, presumably) and to take or draw away, gave rise to our words for the two most basic operations in arithmetic. Reckoning, calculating, and computing on the abacus clearly enjoyed much greater popularity in the Roman era. The prominence of the abacus during this period may well explain the mystery of
15The Ecology of the Abacus
16 Janet Sternberg
how calculations could have been accomplished using written Roman numerals alone: they weren’t. Rather, Roman numerals were used merely as an accessory for recording calculations performed on the abacus (Menninger, 1958/1969, pp. 298, 362, 368).
After the fall of Rome, there is no information about the abacus until around the tenth century C.E., when it surfaces in the writings of the monk Gerbert, better known as Pope Sylvester II (Menninger, 1958/1969, p. 322). Gerbert and then others authored arithmetic manuals based on the monastic line abacus or counting board, including complex methods for multiplication and division (Menninger, 1958/1969, pp. 322 331). However, the abacus was apparently absent from business life, with abacus study undertaken mostly in monasteries as a scholarly or learned pursuit rather than for practical purposes (Menninger, 1958/1969, p. 322). As commerce and trade burgeoned across Europe in the later Middle Ages, the abacus emerged once again, but exclusively as the line abacus with loose counters, either on a board, a cloth, or a table (Menninger, 1958/1969, p. 341). The bead abacus of Roman days has almost disappeared in the West with nary a trace but the baby’s toy, though it lingers on in the East even until now. By the end of the medieval era, it was the line abacus that gained favor in Europe and began to take a distinctive turn towards complexity and bulk, with interesting social repercussions.
From the Renaissance onward, the amount of concrete evidence about the abacus increases substantially. Various sets of counters have been preserved but few reckoning boards, maybe because wooden boards were often burned for fuel when they wore out whereas counters were typically made of metal and could be reused (Menninger, 1958/1969, pp. 332 333). Several counting tables still exist: two from Switzerland (sixteenth and seventeenth centuries), three from Germany (sixteenth century), and another from France (also sixteenth century), as well as a Bavarian reckoning cloth of the kind carried around by inspectors checking computations in the provinces (Menninger, 1958/1969, pp. 342 345). Far more enlightening than these actual specimens, though, is the abundant information available about how this sort of abacus was used.
References to the counting board or line abacus are plentiful following the advent of the printing press in the fifteenth century (Menninger, 1958/1969, pp. 333 334). Many of the first books to be printed were arithmetic primers for instruction in reckoning “on the lines” as an introduction to the new written calculations “with ciphers” (Menninger, 1958/1969, pp. 334 339). Particularly revealing are the numerous illustrations which accompanied such explanations, but there were also
17The Ecology of the Abacus
pictures in books on other topics in which the abacus was included coincidentally. Aside from etchings or engravings in print, counters themselves were sometimes decorated with images of counting boards or tables (Menninger, 1958/1969, p. 339). Counters, counting boards, and counting tables were frequently mentioned in historical documents like diaries, wills, and inventories, and even in a list of gifts to the queen of England in 1556 (Menninger, 1958/1969, p. 333). Literary luminaries, of course, did not fail to allude to the abacus, with counters and counting boards serving as metaphors for no less than Shakespeare, Martin Luther, and Goethe (Menninger, 1958/1969, pp. 365 367; Moon, 1971, p. 25).
In the form of counting boards and tables, the abacus attained widespread legitimacy and even prestige all over Europe after the Renaissance, although it was soon to be eclipsed altogether by the written calculations with which it coexisted for a time (Menninger, 1958/1969, pp. 340 367, 375 388; Moon, 1971, p. 24). For several centuries, the ability to reckon “on the lines” was considered an important component of an educated background, and the reckoning board or table found ample employment in monasteries, government treasuries, merchants’ counting rooms, and ordinary households (Menninger, 1958/1969, pp. 333, 362). Often ponderous and expensive but able to accommodate complicated transactions required by large amounts (notably currency conversions), the counting table had quite different cultural effects than its handheld Roman cousin, which had a narrower range of computing possibilities but was singularly easy to operate and transportable to boot. Yet oddly enough, rather than the counting board or table, that is, the line abacus, it is instead the handheld bead abacus which endures until today.
In our own era, the abacus is only at home in the East. There are long traditions of relying on the bead abacus for calculation in China, Japan, and Russia, for example. Though increasingly subject to competition from electronic calculators, the abacus has been so popular in Japan that the elementary school curriculum incorporates training in its use, abacus operators are licensed in several grades of expertise through examinations, and abacus aficionados participate in national competitions (Kojima, 1954, pp. 16 20; Menninger, 1958/1969, p. 307; Moon, 1971, p. 4). Much of the literature concerning the abacus in modern times is devoted to two questions. First, there has been debate over the merits of the abacus relative to modern electronic calculators. This debate even led to contests held in Japan just after World War II between native abacus operators and Americans using electric calculators — with the abacus coming out the winner (Kojima, 1954, pp. 12 18; Menninger, 1958/1969, p. 309; Moon, 1971, p. 4). Second, there have
18 Janet Sternberg
been sporadic efforts to promote the abacus as an instructional aid for learning mathematics or as an inexpensive calculating tool for the masses (Kojima, 1954, pp. 18 22; Moon, 1971, p. 5). (With the decreasing cost of handheld calculators nowadays in many parts of the world, this last argument is not so persuasive.) But in the West, overall, the abacus has died out almost completely, its only vestiges to be found buried deep in our culture or among our children’s toys.
DESCRIPTION OF THE ABACUS
Operating principles rather than physical similarities are what unite members of the abacus family. Every abacus involves the manipulation of identical counters in place-value arrangements. That is, the value assigned to each counter is determined not by its appearance but by its position. A counter on a particular line or rod has the value of 1; two together have the value of 2. A counter on the next line or rod, however, might have the value of 10, and on the next, the value of 100. For example, three properly placed counters — two with values of 1 and one with the value of 10 — could signify 12, and the addition of a fourth counter with the value of 100 could signify 112, using a place-value system of multiples of ten. In this way, relatively few counters are required to depict large numbers. The counters take on numerical value when they are shifted in one direction on a rod or placed in groups on a board, and their values are erased when they are shifted in the opposite direction or withdrawn from the board. Computations are accomplished by moving the counters around in conjunction with a fair amount of mental calculation. Thus, the abacus itself does not calculate automatically — it depends entirely on the skills of its human operator.
There have been so many variations on the abacus theme in terms of material composition and structural organization that it would be impossible here to detail them all in full, let alone how each would be used. After all, there are entire manuals on abacus operation (each devoted to a single abacus genre), and expert competence traditionally demands years of training. And as far as grouping the different kinds into categories, the scholarly literature is so fraught with inconsistencies that no standard terminology or classification scheme can be discerned. Nevertheless, the different physical manifestations of the general abacus principle can be divided into two basic types: first, the closed or bead abacus; and second, the open or line abacus.
The closed or bead abacus is one in which the set of counters is limited because the counters are fixed or bound in a frame. All the components are
19The Ecology of the Abacus
integrated and consolidated into a compact, self-contained unit. Known as the suan-pan in China, the soroban in Japan, and the scet in Russia, this type of abacus is made of wood or wire, with beads strung on parallel rods enclosed in a flat, oblong, rectangular frame or pan (Kojima, 1954, pp. 24 25; Menninger, 1958/1969, pp. 307 315; Moon, 1971, pp. 30 32). The Roman hand abacus was probably of this sort as well (Kojima, 1954, pp. 23 24; Menninger, 1958/1969, pp. 305 306; Moon, 1971, pp. 29 30).
The advantages of the closed or bead abacus are that it is small, light, portable, cheap, easy to make, and fairly straightforward to use (Kojima, 1954, pp. 18 19; Menninger, 1958/1969, p. 313). The simplest versions like the Russian scet can be used by those without much education, such as illiterates and children. Even so, abacus proficiency does require practice to acquire manual dexterity, mastery of its fundamental operating principles, and command of the basic mental arithmetic on which it relies (Kojima, 1954, pp. 19, 21; Menninger, 1958/1969, pp. 308 309). A closed abacus can be operated with astonishing speed, as the operator merely holds the abacus in one hand and flicks the beads around with a few fingers of the other (Menninger, 1958/1969, p. 313; Moon, 1971, p. 30). The disadvantages of the closed abacus involve its predetermined, finite number of counters and locations to place them, which restrict its level of complexity. The closed abacus works best for rudimentary calculations like addition and subtraction. On a closed abacus, usually only a few numbers can be rendered at a time, and the numbers get transformed during the process of calculation (Kojima, 1954, p. 19; Menninger, 1958/1969, p. 306). Therefore, a great deal of the computing effort is up to the mind and memory of the abacus operator. The simplicity and low cost of the closed abacus make it extremely well suited to the average person (Menninger, 1958/1969, p. 313). And it is the closed or bead abacus, with its bias toward the individual, that has survived up to the present.
An open or line abacus, on the other hand, has two separate components: the surface on which counters are placed and the loose, unattached counters, which are often stored separately. Lines or grooves on the abacus surface indicate the potential locations for placing counters. In the earliest and longest extinct incarnation of the open abacus, dust or sand was spread out on the floor or on a board or table, lines were drawn on the surface with a finger or a stylus, and little objects like pebbles or shells were used as counters (Kojima, 1954, p. 22). Such flimsy systems were vulnerable to wind and rain, one imagines, and hardly portable unless users were willing to carry along extra materials or find new ones, and redraw the lines for each session. Both Greeks and Romans had more mature
20 Janet Sternberg
(and more convenient) versions of the same concept: tablets or boards made of slate, stone, wood, or metal, marked with painted or carved lines, and pebbles or shells as counters or, later, beads or disks made of wood, metal, pottery, glass, ivory, or bone (Kojima, 1954, p. 23; Menninger, 1958/1969, pp. 299 303, 375; Moon, 1971, pp. 21 24). Even the Japanese used match-like sticks on counting boards known as sangi or san ju which they borrowed from the Chinese around 600 C.E., though this Asian version has apparently vanished completely (Kojima, 1954, p. 24; Menninger, 1958/1969, pp. 368 369, 444). In the West, first as counting boards and then as sizeable and elaborate counting tables, some with drawers for keeping intricately embellished counters, the open or line abacus reigned supreme from the Middle Ages until it faded from view at the end of the sixteenth century (Menninger, 1958/1969, pp. 340 367, 375 388; Moon, 1971, p. 24).
The open or line abacus offers two principal advantages: a theoretically unlimited stock of counters as well as extra space in which to lay them out (Moon, 1971, p. 30). This results in greater flexibility and scope: More numbers can be represented simultaneously on the abacus surface (Menninger, 1958/1969, pp. 350 351). Thus, more complex calculations are allowed as well as more separate calculations at the same time, and further, it becomes possible both to draw additional lines on the surface, and to leave a number laid out somewhere on the side for reference purposes, away from the main calculation. The most obvious disadvantage of some variants of the open abacus is lack of portability. While modest counting boards or cloths and small bags of counters can be carted around with relative ease, tables with drawers full of counters certainly cannot. Massive counting tables with multiple sets of minted counters also call for other kinds of investments: in materials and workmanship, in the physical space or territory needed to house the apparatus, and in the number of people and amount of time involved in abacus production, training, operation, and maintenance. Investments such as these made the open abacus especially compatible with commercial organizations and bureaucratic institutions and far less suited to individual users. Another disadvantage of the open abacus is slower operation: It takes longer to pick up and place counters, particularly in executing large computations spread over a wide surface area, than to quickly shift a few beads around on a short rod (Moon, 1971, p. 76). By the time written computations of the highest order were firmly entrenched in seventeenth-century Europe, with paper and ink both plentiful, drawbacks like these may have hastened the demise of the open or line abacus (Menninger, 1958/1969, p. 340; Moon, 1971, p. 24).
21The Ecology of the Abacus
Beyond the distinction between open and closed types of abacus, there are various ways in which an abacus can be organized or arranged. How many lines, rods, or columns does it have? Are the lines oriented horizontally or vertically? Do counters go on the lines themselves or in the spaces between the lines? Are the rods divided into sections, one for beads valued at a single unit each, and another for beads with some other value? Are there any marks or labels indicating the values of each rod or line (e.g., ones, tens, hundreds, etc. or monetary values such as the equivalents of pennies, nickels, dimes, and quarters)? Exactly how are computations carried out? Questions like these about abacus organization and arrangement are taken up in greater depth in discussions which examine structural characteristics of different abacus systems (e.g., Kojima, 1954; Moon, 1971).
PREDECESSORS: COMPUTING ENVIRONMENTS BEFORE THE ABACUS
According to the principle that media arise to answer problems of information, the abacus must have come about in response to heartfelt human needs. Clearly, these needs had something to do with computing. To speculate about what these needs might have been, it helps to consider the predecessors of the abacus which also aided humans in their calculations. On the one hand, the predecessors of the abacus did not adequately address certain problems of information. On the other, the predecessors themselves presented new problems. What media were used for computing before the abacus, and what problems did the abacus tackle in existing computing environments?
Before human beings computed, we counted, and we counted as soon as we could talk, differentiating at least between singular and plural, one and many, the self and the rest of the universe. The evolution of counting proceeded at different rates in different civilizations, but surely among the first media for counting were number words, that is, language. Throughout the world, counting was accomplished in other ways too: using fingers and toes (a practice from which derive our metaphors of mathematical digits and digital computers), and by grouping physical objects (a harbinger of both the function and name of counters, that is, things to count with). Such methods functioned mostly as mnemonic mechanisms to extend our natural counting abilities. And in the case of tally sticks with notches, strings with knots, and little sacks of pebbles, the tools not only assisted in counting, but preserved the resulting totals as well. Furthermore, the totals could be written down in alphabetic numerals like the Greeks and Romans possessed, though these numerals were useless for actually
22 Janet Sternberg
performing computations. An extensive and thorough discussion of all these methods of counting is contained in the marvelous volume by the German scholar Karl Menninger, Number Words and Number Symbols (1958/1969). This is an incomparable cultural history of numbers, and it would be futile here to attempt a summary of Menninger’s fascinating research in this area. However, the main point about the development of counting is this: As humans began to count higher and higher, they faced problems imagining large numbers, grasping complex numbers, making such abstract numbers concrete. Thus, to help them count, people increasingly came to rely on objects outside their minds. But although these precursors of the abacus allowed humans to count with visible, tangible, and even durable numbers, there were limits to the complexity of the numbers that could be handled.
The problem of representing large numbers with a small set of elements occurs in many, if not most, languages of the world. In some cases, lexical roots are modified with suffixes and prefixes (e.g., six, sixteen, and sixty). In others, vocabulary items are moved around to reflect different numerical value. For instance, word order makes a difference in the phrases three hundred and seven versus seven hundred and three. To put it another way, in all natural human languages, we use the same words over and over to count to a million — not a million different words. Likewise, both Roman and Arabic numerals address this issue on a written basis quite successfully. Spoken and written number systems such as these demonstrate the place-value principle at work: Limited sets of elements are assigned value based on their positions. The place-value principle is not unlike the phonetic principle in speech or the alphabetic principle in writing or the movable type principle in printing, whereby a restricted set of sounds or symbols can express a multiplicity of meanings. The abacus maximizes the place-value principle by discarding any differences between individual elements: All counters of a given abacus may look the same yet stand for a multitude of numbers.
Once humans could imagine and grapple with complex numbers, we wanted to do things with them as well, to control and exploit numbers: to calculate. Counting is itself the most primitive form of calculation. (To add up the money in a wallet, we count it; to divide a bunch of things in half, we simply count them into two groups.) The precursors of the abacus dealt with the problem of calculation to some extent. Running accounts were kept on tally sticks and knotted strings: Notches and knots could be added, and pieces of marked wood or string could be cut off and subtracted. Finger reckoning was also used in many cultures, including medieval and Renaissance Europe, and even today, despite the built-in limitation
23The Ecology of the Abacus
of only having ten fingers each (and ten somewhat less nimble toes), people still resort to their fingers for counting and calculation.
But none of these methods that preceded the abacus proved truly satisfactory for calculation. Overall, the abacus can be considered the streamlining and culmination of the strategies used with its predecessors to solve problems of calculation. The abacus provided humans with a medium expressly designed both for the purpose of conceptualizing abstract quantities and for manipulating them in computations, allowing us to put existing techniques of calculation to more sophisticated and effective use.
SUCCESSORS: COMPUTING ENVIRONMENTS AFTER THE ABACUS
Besides solving some problem of information, every medium engenders another set of problems, to be conquered perhaps by subsequent media. According to this principle, despite its success in helping humans to calculate, the abacus altered computing environments, and consequently brought forth new challenges to be addressed. To get a feeling for the issues raised by the abacus, it is illuminating to consider its successors.
The most obvious medium of calculation to succeed the abacus was written place-value notation with so-called Arabic numerals (originally from India), which became dominant in the West (Menninger, 1958/1969, pp. 393-442). Written calculations in turn facilitated the development of mathematics. The inventor of logarithms, John Napier, also concocted a system of numbering rods or “bones” in 1617 and devised an adding machine around 1620 (Aiken, 1975, p. 191; Menninger, 1958/1969, pp. 443 444; Moon, 1971, p. 58; Mumford, 1934, p. 440). From this period on, a plethora of new computing devices began to appear, first mechanical, then electronic. Between 1641 and 1650, Blaise Pascal created a series of calculating machines, later adapted for multiplication by Samuel Moreland in 1666 (Aiken, 1975, p. 191; Aiken & Hopper, 1975, pp. 199 200; Bolter, 1984, p. 32; Mumford, 1934, p. 441). In 1671, Gottfried Leibniz designed a machine that carried out all four arithmetic operations (Aiken, 1975, p. 191; Aiken & Hopper, 1975, p. 200; Bolter, 1984, p. 32). The slide rule was known in England as early as 1700 (Aiken, 1975, p. 191). From 1822 to 1824, Charles Babbage worked on the calculating machines he termed “analytic difference engines” (Aiken, 1975, pp. 191-192; Aiken & Hopper, 1975, p. 200; Bolter, 1984, pp. 32-33; Hyman, 1982; Mumford, 1934, p. 443). Building on Babbage’s ideas, Georg Scheutz constructed a printing calculator in 1834 (Aiken, 1975, p. 192; Merzbach, 1977). There were even attempts
24 Janet Sternberg
to make calculating machines with punch cards similar to those used on Jacquard textile looms (Aiken, 1975, p. 192; Aiken & Hopper, 1975, p. 200; Bolter, 1984, p. 161). William Burroughs produced a recording adding machine in 1888, and by the twentieth century, a company named International Business Machines was manufacturing commercial electronic calculators and computers (Aiken, 1975, p. 192; Bolter, 1984, p. 162; Mumford, 1934, p. 445; Randell, 1975, p. 442). The scale of electronic calculators diminished as enormous mainframe computers the size of a room (reminiscent of large medieval counting establishments) eventually gave way to the handheld calculators and microcomputers we know today.
Many of these technologies tried to solve the problem of recording the results of calculations. The abacus, though effective at making numbers visible and tangible, did not make them long-lasting. For the most part, numbers on the abacus were evanescent — limited to the here and now. While the abacus contributed greater efficiency to calculation than any previous method, it never really had the capacity to keep track of various computations or to preserve much information at all (Kojima, 1954, p. 19). The great value of the abacus was in manipulating numbers, not in saving them, and because of this, the results of abacus computations frequently had to be written down. So when the abacus replaced the likes of tally sticks and knotted strings, humans lost the ability to have the calculating apparatus simultaneously keep durable records. Yet because the abacus allowed humans to make many more computations (and more complex ones at that), it paradoxically encouraged recordkeeping, a task it was not equipped to accomplish. The quest to unite the two functions of computing and recording in a single technology was made more urgent by the volume of calculations which the abacus stimulated, and this quest was passed on through the ages to its successors. In written place-value notation, in the calculating machines of Babbage and Scheutz which aimed to print mathematical tables, in early twentieth-century punch-card and paper-tape calculators, and in computers with disk-based storage generating endless printouts, we find evidence of our incessant urge to save numbers and calculations for future reference, preferably in readable form (Aiken, 1975, p. 192; Aiken & Hopper, 1975, p. 200; Bolter, 1984, p. 161; Hyman, 1982; Merzbach, 1977).
A second problem addressed by the mechanical and electronic offspring of the abacus is the desire to automate computing in order to speed up the process and decrease the potential for error. As a manual calculator, the abacus depended on human skill and energy, and humans make mistakes and get tired. Additionally, since the amounts to be computed as well as the results were often called out or
25The Ecology of the Abacus
written down by somebody else, there were more people than just the operator to err and tire. The abacus, then, suggested to future generations that calculation could be vastly improved through automation to reduce human intervention in computing as much as possible, alleviating mental burdens and eliminating errors.
By examining issues raised by the predecessors and successors of the abacus, we gain a sense of human needs with respect to computing. However, the connection between the abacus and our ability to calculate is readily apparent. Less obvious but equally interesting are the indirect or inadvertent effects a medium can produce. Against the historical and descriptive background provided above, the wider cultural influences of the abacus stand out more clearly.
CULTURAL IMPACT OF THE ABACUS
Both the physical and the symbolic forms of the abacus have diverse cultural consequences. On the one hand, several characteristics of the physical form of the abacus have political, social, and economic implications. On the other, certain features of the symbolic form in which the abacus codes information have intellectual, emotional, and epistemological implications.
Whether closed or open, bead-based or line-based, the physical form of the abacus has political implications. The abacus appeals to our sense of sight, but more importantly, to our sense of touch. The abacus is a manual tool with which people literally handle numbers, and this concept of manipulation should not be underestimated (Bolter, 1984, p. 235). Lurking beneath the physical form of the abacus is the idea that the ability to touch and manipulate information brings control over it. And control over information means power, as the alphabet, the printing press, and electronic technologies all demonstrate in the realm of communication. Even musical instruments, media which also involve touch, allow us to manipulate melody and rhythm to obtain powerful sounds. The striking resemblance between notes on a musical staff and counters on a line abacus may be more than coincidental (Menninger, 1958/1969, p. 341). By fostering our ability to manipulate numbers in particular, the abacus helped stimulate our desire to manipulate information in general, in both cases for the purpose of gaining power.
But on whom did the abacus bestow power, and what kind of power was it? Due to differences in physical form, the two main types of abacus, closed and open, brought power to opposite ends of the spectrum: to individuals on the other hand, and to institutions on the other. The closed or bead abacus was highly suited to the individual because of its simple composition, easy operation, and
26 Janet Sternberg
wonderful portability. It was quite democratic, a tool for the masses, for the poor as well as the rich, for the illiterate peasant as well as the itinerant merchant. The open or line abacus, however, was not so egalitarian (except in the case of small counting boards or cloths). The elaborate counting tables of post-Renaissance Europe dictated investments well beyond the scope of average individuals, and could only be managed by wealthy aristocrats or by institutions. In fact, the close association between the line abacus and bureaucracy is revealed in the etymology of the very term bureaucracy. The French word bureau first meant the cloth for covering a reckoning table, then the table itself, then the room in which the table was kept, and finally, the office and staff that ran the whole counting room or house (Menninger, 1958/1969, pp. 346-347). This notion of large abacus-based organizations devoted to calculation is also reflected in our modern terms bank, banker, and banking, which come from the German Rechenbank meaning reckoning board or table (Menninger, 1958/1969, p. 349). For a long time, the line abacus favored the institution over the individual, particularly in commercial and financial transactions, but even so, there remained an undercurrent of computing by private individuals. This tension between corporate computing and personal computing is still alive today, though the advent of affordable microcomputers is surely helping to balance the score.
No matter who uses what kind of abacus, the issue of skill inevitably arises, and it is here that the physical form of the abacus has social implications. While the abacus extends our ability to perform complex calculations more quickly and more accurately than we could without it, it does not calculate automatically. The effectiveness of the abacus depends entirely on the mental and manual skills of its human operator. And these skills are considerable, involving a command of the basic mental arithmetic on which the abacus relies, as well as practice to master its fundamental operating principles and to acquire manual dexterity (Kojima, 1954, pp. 19, 21; Menninger, 1958/1969, pp. 308 309). In short, an abacus is no good at all without someone who knows how to use it. This is why proficient abacus operators are often held in high esteem, with abacus expertise conferring social prestige.
The abacus, then, advances the view that computation, indeed all manipulation of information, demands specialized training and practical experience. As the first manual tool for computing to require a trained operator, the abacus contributed to the drive towards professional specialization also heralded by orators, scribes, printers, and even musicians. Without the prior example of the skilled abacus operator, perhaps there would be no accountants
27The Ecology of the Abacus
or computer programmers today, a claim minimally justified by the existence of at least two periodicals called Abacus, one subtitled “The Journal of Accounting and Business” and the other “The Journal for the Computer Professional.” The abacus shows us that calculating machines do not work by themselves: Someone must judge which numbers to combine and how, and what to do with the results. One might say that the abacus supplied an early hint of the maxim, “Garbage in, garbage out.” In other words, sheer possession of a technology alone does not guarantee its effective use, because human competence is not built into the technology itself. Our ambivalence towards this state of affairs is reflected in the twin usage of the term calculator both for the tool and for the operator. The abacus clearly illustrates that human participation is intrinsic to computing. Despite all attempts to automate processing in order to reduce both labor and error, the need for humans to program, operate, and supervise computers endures up to the present.
The physical form of the abacus also has economic implications associated with quantity and time. Because the abacus made possible a greater volume of calculations, and because these calculations were fundamentally ephemeral, people increasingly needed to keep records of their abacus computations. There simply was a lot more information to save, and the abacus couldn’t save any of it (Kojima, 1954, p. 19). Two essential ingredients of our economic system, bookkeeping in particular and recordkeeping in general, are ideas promoted by the abacus. The abacus urges us to save numbers and calculations for future reference, a suggestion which was taken up by its many successors, doing their best to combine computing and recording into one medium. Present-day computer networks with gigantic storage devices that house massive databases are the culmination of this quest. If the abacus had not so blatantly emphasized the need to store information as well as manipulate it, perhaps the two functions of computing and recording would have remained independent until now.
In addition to these political, social, and economic ramifications of the physical form of the abacus, its symbolic form has equally provocative cultural consequences. The symbolic form in which information is coded on the abacus has intellectual, emotional, and epistemological implications.
On an intellectual level, the abacus teaches us to express information by assigning meaning to simple, even identical elements primarily on the basis of their position. The abacus thus embodies the notion that infinitely large and infinitely many numbers can be represented in a place-value system with a limited array of counters. Furthermore, by illustrating how the order and arrangement of elements can be more relevant to their interpretation than the identity of the
28 Janet Sternberg
elements themselves, the abacus goes the alphabet one better, paving the way for the eventual success first of written place-value notation and later of binary electronic computers. The counters and columns of the abacus are echoed today by the binary word, made up of linear sequences of zeros and ones. The binary word, a landmark intellectual development and the key to digital computing, is undoubtedly a descendant of the abacus.
Modern digital computers use electronic technology to mimic the abacus. The counters with which they represent all of their data are pulses of electric current, with two extremely simple values — on or off. Like the counters of an abacus, these same values are used over and over again to form binary words ad infinitum, exemplifying a truly conserving and recycling mentality (Bolter, 1984, pp. 226 227). Nonetheless, we pay a price for such efficiency. Binary code is so abstract a medium that most people require intervening layers of more comprehensible symbols to insulate them from the starkness of digitally-coded information. This kind of symbolic insulation is provided by computer languages such as Assembler, Fortran, or Pascal, and also by the software applications programmed in these languages (Bolter, 1984, pp. 124 150). But artificial languages have radically different properties than natural languages, and we are still trying desperately to improve the interface between the two. Meanwhile, our intellectual craving to communicate with the technologies we create remains unsatisfied. This continues a trend initiated by the abacus, that is, close interaction between humans and their computing machines.
The symbolic form of the abacus also has emotional implications. They stem from the fact that the abacus makes numbers tangible: It transforms them into concrete entities that can be touched and felt. In short, the abacus reifies numbers, and this leads in two opposite directions. On the one hand, the abacus trivializes numbers; on the other, it elevates their status in our eyes. Though at first glance these effects may seem incompatible or contradictory, they are actually interrelated.
Many ancient civilizations traditionally revered numbers, which were held in awe and were often linked to magic and religion. Indian Buddhists, for instance, built pyramid-shaped number towers which served as sacred temples, a perfect example of humans counting higher and higher, coming into closer contact with the unknowable, the domain of the gods (Menninger, 1958/1969, pp. 62, 136 137). But once the abacus put numbers under our thumbs on a daily basis, they began to lose their aura of mystery. We lost our reverence and respect for their special abstract qualities. We started to take numbers for granted and to think of them as
29The Ecology of the Abacus
lowly servants to do our bidding. In the process, we also surrendered some of our wonder, our sense of the infinite, of the inconceivable.
However, at the same time, we started to attribute great value to numbers, perhaps because they became so useful. We began to believe in the power of numbers, though the numbers themselves no longer seemed so amazing. Although much of their power has been transferred to the people and machines that manipulate them, we continue to impart mystical properties to numbers. This might explain why many Westerners think that everything can be understood in terms of numbers, venerating statistics in particular and quantification in general.
Moreover, the lack of differentiation between individual counters on the abacus quite possibly helped to support the worship of standardization and to undermine the pertinence of qualitative thinking in recent times. Though numbers are now secular rather than sacred, they still hold paramount importance. Witness the sovereign authority of numbers in contemporary life: The transactions involved in electronic finance rely primarily on numerical information with minimal redundancy or text used for verification, creating an immense potential for fraud, to say nothing of unintended mix ups. When all data is conveyed through numbers, transposition of one digit can throw a transaction totally astray. Lest we forget that numbers mean nothing without human involvement, the abacus stands ready to remind us that numbers are, in fact, subordinate to the humans who control them and subject to the quality of their interpretations.
The last points to be made about the symbolic form of the abacus concern its epistemological implications. Just as writing can be said to contain speech, and printing to contain writing, the abacus contains numbers. By reducing numbers to ordered arrangements of identical elements, the abacus is able to represent the entire numerical universe. This concept of representing things through place-value coding encouraged two further developments. First, it seems fair to suggest that the development of Morse code relied at least in part on the example furnished by the abacus. By using a place-value system with three simple values — short, long, and neither (that is, dots, dashes, and silence) — Morse code can represent almost all verbal discourse, a noteworthy accomplishment.
Second, and much more significant, is the development of binary computer code. Binary code strips the set of coding elements down to the bare minimum, absolutely the simplest imaginable: a single bead or no bead, presence or absence, something or nothing, one or zero. With this binary technique, digital computers are now on the verge of representing more of reality than we ever dreamed. By this I mean that modern computers are capable of condensing all kinds of information
30 Janet Sternberg
into digital code, not just numbers (like the abacus) and language (like writing, printing, and Morse code), but even images (like photography, film, and video), as well as sound (like speech and music).
This capacity to express practically anything and everything in binary digits, in electronic “super-beads” so to speak, is only beginning to be explored. Proponents of what is often called “virtual reality” believe that someday digital media will use binary code to approximate and even duplicate entire chunks of reality, including human thought and behavior. Perhaps we will come to know our world and ourselves through simulation rather than through direct participation, through symbol systems instead of actual experience. It remains to be seen where this path will lead and what kinds of cultural effects will follow. But whatever the outcome, the journey will have begun with the humble ancestor of such extraordinary possibilities, the earliest digital medium, the abacus.
REFERENCES
Aiken, H. (1975). Proposed automatic calculating machine. In B. Randell, The origins of digital computers: Selected papers (pp. 191 197). New York: Springer-Verlag.
Aiken, H., & Hopper, G. M. (1975). The automatic sequence controlled calculator – I. In B. Randell, The origins of digital computers: Selected papers (pp. 199-206). New York: Springer-Verlag.
Bolter, J. D. (1984). Turing’s man: Western culture in the computer age. Chapel Hill: University of North Carolina Press.
Hyman, A. (1982). Charles Babbage: Pioneer of the computer. Princeton, NJ: Princeton University Press.
Kojima, T. (1954). The Japanese abacus: Its use and theory. Rutland, VT: Charles E. Tuttle.
Menninger, K. (1969). Number words and number symbols: A cultural history of numbers (P. Broneer, Trans.). Cambridge, MA: MIT. Press. (Original work published 1958)
Merzbach, U. C. (1977). Georg Scheutz and the first printing calculator. Washington, DC: Smithsonian Institution Press.
31The Ecology of the Abacus
Moon, P. (1971). The abacus: Its history; its design; its possibilities in the modern world. New York: Gordon and Breach Science Publishers.
Mumford, L. (1934). Technics and civilization. New York: Harcourt, Brace.Randell, B. (Ed.). (1975). The origins of digital computers: Selected papers. New York: Springer-Verlag.
AUTORA
Janet Sternberg: Doutora (Doctor of Philosophy, Ph.D.) em Media Ecology (Ecologia da Mídia). New York University, 2001. Professora Assistente no Departamento de Comunicação e Estudos Midiáticos e no Instituto de Estudos Latinos e Latino-Americanos da Fordham University em New York desde 2002. É membro do Conselho de Administração New York Society for General Semantics e no Conselho da Media Ecology Association (MEA), da qual é Presidente há três anos. [email protected]
La aplicación de la metáfora ecológica al estudio de los medios se produjo en los años 1960, cuando la ecología se presentaba como un novedoso marco teórico integrador de gran utilidad para las ciencias sociales. En pocos años surgieron la Ecological Anthropology, la Political Ecology y … la Media Ecology. Según dicen los que lo conocieron personalmente, Marshall McLuhan empleó por esa época el concepto de media ecology en algunas conversaciones privadas; sin embargo fue Neil Postman quien en 1968 lo utilizó por primera vez en público en una conferencia en el National Council of Teachers of English. Tres años más tarde Postman inauguraba el programa en Media Ecology en la Universidad de Nueva York.
Si miramos hacia el pasado podríamos decir que la visión ecológica de la comunicación ya estaba presente en algunos investigadores como Harold Innis, uno de los grandes maestros de Marshall McLuhan. Innis nos dejó en sus obras – sobre todo Empire and Communications (1950) y The Bias of Communication (1951)- una visión integrada de los medios en el seno de la sociedad. Si Marx consideraba al choque de las fuerzas sociales como el motor de la historia, Innis ponía a los medios en el centro de su relato. En otras palabras, Innis nos cuenta la historia desde los sistemas de comunicación. Si, en cambio, nuestra mirada se dirige al futuro, nos encontramos con Neil Postman haciendo el discurso inaugural de la recientemente creada Media Ecology Association en el año 2000. La institucionalización de una metáfora.
Mucha agua corrió bajo los puentes en esas tres décadas. Por un lado Marshall McLuhan pasó al olvido después de su muerte en 1980. Este ostracismo académico fue consecuencia de varios factores, desde la ausencia del mismo
Carlos A. Scolari
Más allá de McLuhan: Hacia una ecología de los medios1
34 Carlos Scolari
McLuhan – que alimentaba sus teorías con frecuentes polémicas e intervenciones televisivas- hasta la envidia del establishment científico estadounidense y canadiense. Sí, he escrito envidia: en la década de 1960 McLuhan era un ícono de la cultura pop y se encontraba a la misma altura de Andy Warhol, Bob Dylan o Cassius Clay. Ni aún desarrollando las mejores teorías sobre los medios masivos los científicos “serios” hubieran podido aspirar a tal grado de fama mediática.
Si bien la World Wide Web todavía no había nacido, por entonces los grandes paradigmas de la comunicación de masas ya estaban en crisis. Tanto los Cultural Studies como el enfoque cultural latinoamericano fueron la respuesta a la impotencia de las teorías tradicionales que se debatían entre el crítico-reproductivismo y el funcionalismo. ¿Cómo entender los procesos de hibridación cultural desde Adorno o Schramm? ¿Cómo comprender el rol activo de los receptores y los procesos de resignificación y reapropiación cultural desde la teoría del espiral del silencio (donde el receptor no habla) o la concepción althusseriana del aparato ideológico de Estado (en la cual el receptor repite lo que se le dice)? El enfoque cultural, ya sea británico o latinoamericano, comenzó a buscar las respuestas a estas preguntas.
Finalmente, a comienzos de los años 1990, pasó lo que tenía que pasar: la difusión de la World Wide Web inició una mutación de las lógicas de la comunicación que, entre muchos efectos colaterales, trajo aparejada la reivindicación de Marshal McLuhan de la mano de la revista Wired. Algunos autores –como Roger Fidler en Mediamorphosis: Understanding New Media (1997) y Paul Levinson en Digital McLuhan: A Guide to the Information Millennium (1999)- comenzaron a desarrollar esta relectura en clave digital de la obra del canadiense, un proceso que aún hoy continúa con el recientemente publicado Understanding New Media de Robert K. Logan (2010).
En un contexto donde proliferan las nuevas especies mediáticas (cada semana aparece un new media que amenaza con producir la extinción del resto de sus colegas), nacen interfaces que extienden cada vez más nuestro sistema cognitivo y el ecosistema de la comunicación vive en un estado permanente de tensión, la Media Ecology en general y las teorías de Marshall McLuhan en particular tienen mucho para decir.
Siempre recomiendo hacer el siguiente experimento: elegir cualquier texto de McLuhan y donde él escribe “medios eléctricos” poner “medios digitales”, y donde dice “televisión” colocar “World Wide Web”… Los resultados son asombrosos: los textos de McLuhan parecen haber sido escritos el mes pasado! McLuhan hablaba de la televisión pero en realidad estaba pensando en una mutación radical del
35Más allá de McLuhan: Hacia una ecología de los medios
ecosistema mediático. Si bien no pudo vivir en primera persona el proceso desatado por la interacción entre los personal computers, las interfaces gráficas y la red digital, las intuiciones de McLuhan fueron lo suficientemente profundas como para darnos pistas fundamentales para entender el nuevo ecosistema de la comunicación.
De todas maneras, creo que a veces se ha abusado de la lectura en clave futurista de los escritos de McLuhan. Durante mucho tiempo nos hemos dedicado a encontrar predicciones yprofecías sus textos (yo mismo he participado en ese juego en Scolari, 2010). ¿No nos habremos pasado de revoluciones? Al apuntar demasiado los reflectores sobre el McLuhan-futurólogo se termina eclipsando su mirada: leemos sus obras buscando anticipaciones y no hacemos un esfuerzo por reconstruir esa mirada oblicua, creativa y efervescente que lo definía. ¿Qué es más útil? ¿Descubrir que McLuhan predijo alguna tecnología o práctica contemporánea? ¿O poder reconstruir su “método” y utilizarlo para interpretar los cambios que está viviendo la mediasfera? Lo digo claramente: estas lecturas en clave futurista que consideran a McLuhan como una especie de Nostradamus de finales del siglo XX no aportan mucho a la consolidación teórica de la Media Ecology.
Por otro lado, una mirada ecológica de los medios no puede limitarse a la actualización del pensamiento McLuhaniano o a la citación de sus célebres aforismos. La Media Ecology tiene pendiente una exploración más profunda de la metáfora ecológica para descubrir todas sus posibilidades. Podríamos decir que detrás de cada teoría o paradigma científico siempre se esconde una metáfora. Sin embargo esas teorías o paradigmas no pueden quedarse en la simple enunciación de la metáfora si quieren crecer y desplegar todo su potencial epistemológico: la deben convertir en un conjunto articulado y coherente de hipótesis, conocimientos, categorías de análisis y métodos de investigación. La metáfora es muy útil en la primera fase de la construcción de un determinado discurso teórico; entre otras cosas la metáfora permite incorporar conceptos para nombrar fenómenos nuevos y facilita la formulación de preguntas. Si los medios forman una ecología, entonces …¿Qué sucede cuando una nueva especie mediática emerge en el ecosistema? ¿Se hibridan los medios entre sí? ¿Podemos hablar de extinción de medios? ¿Existen medios-fósiles? La Media Ecology debe ante todo explorar a fondo la metáfora ecológica si pretende consolidarse como disciplina científica.
La Ecología de los Medios también necesita afinar su vocabulario y generar nuevas categorías analíticas para poder afrontar el estudio de un ecosistema donde el dominio del broadcasting está cuanto menos en discusión. En este sentido la Media Ecology debería establecer intercambios con otros campos del saber como, por ejemplo, las teorías de las redes y la complejidad: es allí, en estos intercambios
36
interdisciplinarios, donde la Ecología de los Medios debe construir un diccionario propio que le permita consolidarse como discurso teórico y diferenciarse de las otras conversaciones teóricas sobre la comunicación.
¿Qué palabras debería incluir un hipotético diccionario de la Media Ecology? Por un lado, el concepto de ecología debería complementarse con el de evolución (media evolution). Si la ecología analiza la dimensión espacial de las interacciones intermediáticas (un lingüista hablaría de plano sincrónico), la evolución se encargaría de las transformaciones a lo largo del tiempo (plano diacrónico). En otras palabras: la media ecology y la media evolution son las dos caras de una misma moneda (Scolari, 2012). Por otra parte, conceptos como coevolución o hibridacióntambién deberían ser incluidos en este hipotético diccionario. La coevolución puede ser entendida de dos maneras: 1) coevolución entre los medios y los sujetos, y 2) coevolución entre medios. En el primer caso, la mirada debería focalizarse en la relación que se establece entre un medio y sus productores/consumidores (por ejemplo cómo la televisión o los libros “moldearon” a diferentes generaciones de creadores y receptores); en el segundo, el estudio debería apuntar a las complejas relaciones que se instauran entre dos o más medios (no podemos entender las transformaciones de la televisión contemporánea si no es a partir de los videojuegos y la experiencia de navegación web) (Scolari, 2008b).Finalmente, el concepto de interfaz tendría mucho para aportar en una teoría ecológica de los medios; desde cierta perspectiva podría decirse que la interfaz es la unidad mínima de la Media Ecology, como el signo para la lingüística o el gen para la genética (Scolari, 2004).
Como podemos ver, apenas se comienza a explorar la metáfora ecológica comienza a tomar cuerpo un conjunto de categorías y conceptos muy útiles para reflexionar y comenzar a comprender las transformaciones que estamos viviendo en la esfera mediática y cultural.
En este contexto podríamos preguntarnos cuáles son las posibles relaciones entre la Media Ecology –un producto teórico de impronta anglosajona- y las teorías de la comunicación de matriz cultural que emergieron en América Latina en los últimos 25 años. Al final del segundo capítulo de mi libro Hipermediaciones escribí lo siguiente:
¿De qué se debería ocupar el campo de las hipermediaciones? Más que de objetos-medios se debería encargar de estudiar los (nuevos) procesos (…), no sólo desde la perspectiva de lo nuevo sino en el contexto de una ecología de la comunicación (…) Si los viejos televidentes, al convertirse en usuarios, se transforman y asumen un nuevo rol, también los viejos medios están siendo reconvertidos a partir de su contaminación con los hipermedios. Además
Carlos Scolari
37
de facilitar los procesos de producción y distribución textual –por ejemplo creando redes y abriendo el juego a los usuarios-, las tecnologías digitales han aceitado -en el sentido de favorecer- las contaminaciones entre lenguajes y sistemas semióticos. Las consecuencias de estas dinámicas son impredecibles porque han hecho entrar en tensión al ecosistema generando una explosión de nuevas formas y experiencias comunicativas de las cuales, además, se habla mucho pero se sabe poco” (2008a, p. 118).
Varios investigadores latinoamericanos están navegando desde hace algunos años en las aguas de la Media Ecology. La publicación de Post/Televisión: Ecología de los Medios en la Era de Internet (1998) ya desde el título significó una clara apuesta por parte de Alejandro Piscitelli. En un post del 2002 Piscitelli justificaba este acercamiento de la siguiente manera:
“A esta altura de la evolución de la ecología de los medios, sabemos que éstos son artefactos culturales del mismo modo en que las fotografías, las películas, y los software son tan reales como los edificios y los aviones (…) Tampoco olvidemos que las tecnologías de los medios son redes o híbridos que pueden ser expresados en términos físicos, sociales, estéticos y económicos. La introducción de una nueva tecnología de los medios no significa meramente inventar nuevo soft o hard, sino mas bien diseñar o rediseñar una red de características multideterminadas” (Piscitelli, 2002).
Investigadores mexicanos como Octavio Islas o Jesús Galindo Cáceres también han explorado la metáfora ecológica. Islas recoge la herencia mcluhaniana y la expande hasta la comunicación institucional:
“Si bien Marshall McLuhan hoy es mundialmente reconocido como el visionario comunicólogo canadiense que anticipó el formidable boom de las comunicaciones digitales, es necesario comprender el pensamiento de McLuhan como holístico y trascender el injusto encasillamiento que suele confinar a las tesis de McLuhan al estricto tema de las tecnologías de comunicación. Las tesis de McLuhan sirven para comprender en su totalidad la complejidad de las acciones comunicativas, ya sea a través de los efectos que introducen los medios de comunicación en las sociedades como también el pertinente empleo de los medios institucionales en las organizaciones” (Islas, 2006).
Yo iría inclusive mucho más allá: las ideas de McLuhan –a menudo expresadas de manera fragmentada, polémica e inconexa- también sirven para comprender las mutaciones que atraviesan otros ecosistemas, desde el educativo
Más allá de McLuhan: Hacia una ecología de los medios
38
hasta el empresarial. Galindo Cáceres, por su parte, reivindica la amplitud de la mirada ecológica:
“La mirada ecológica es más poderosa que la social o cultural, porque las incluye y relaciona. Así, las formas culturales cerradas, como las de las sociedades del texto, de información, se van abriendo hacia formas de comunicación, de sociedades discursivas, de escritura, de hipertexto” (Galindo Cáceres, 2006, p. 52).
En el 2011 se cumplió el centenario del nacimiento de Marshall McLuhan. Los eventos se sucedieron por todo el mundo, desde Toronto hasta Bologna, pasando por Buenos Aires, Berlín y Roma, demostrando una vez más el interés que todavía despierta su pensamiento. En Barcelona la Universitat Pompeu Fabra, conjuntamente con el Internet Interdisciplinary Institute (IN3/UOC) organizó la McLuhan Galaxy Barcelona 2011 International Conference, donde participaron alrededor de 200 investigadores de 22 países. Entre los conferenciantes pudimos contar con la presencia de Manuel Castells, Derrick de Kerckhove, Paul Levinson, Robert K. Logan, Alejandro Piscitelli, Ursula Heise, Janine Marchessaulty otros prestigiosos invitados.2 Las características del pensamiento de McLuhan y la efervescencia de sus ideas nos obligan a recordarlo de la única manera posible: no levantando monumentos académicos – que le fueron negados en su época- sino expandiendo el radio de acción de sus teorías, cruzando sus palabras con las de otros pensadores y desarrollando una mirada transversal, integradora yeco-evolutiva de la mediasfera.
NOTAS
1 Una primera versión de este texto fue publicada como prólogo del libro Reflexiones sobre Comunicación, Tecnología y Sociedad. Digitalización y Ecología de los Medios por Carlos Arcila y Argelia Ferrer (eds.), Universidad de los Andes, San Cristóbal (Venezuela), 2011. El libro se puede descargar en http://issuu.com/grupocomunicacionula/docs/ecologiademedios
2 Los proceedings de esta conferencia se pueden descargar libremente en http://es.scribd.com/doc/59223633/McLuhanGalaxyConference-Book
Carlos Scolari
REFERENCIAS
Galindo Cáceres, J. (2006) Cibercultura. Un mundo emergente y una nueva mirada, México, CONACULTA / Instituto Mexiquense de Cultura.
Islas, O. (2005) “La posible contribución de Marshall McLuhan y la ecología de los medios al desarrollo y comprensión de las comunicaciones estratégicas”, Organicom. Revista Brasileña de Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas, 2(3).
Piscitelli, A. (2002) Remediación y ecología de los medios. URL: http://www.filosofitis.com.ar/2002/09/05/remediacion-y-ecologia-de-los-medios/
Scolari, C. A. (2004) Hacer Clic. Hacia una socio-semiótica de las interacciones digitales, Barcelona, Gedisa.
Scolari, C. A. (2008a) Hipermediaciones. Elementos para una Teoría de la Comunicación Digital Interactiva, Barcelona, Gedisa.
Scolari, C. A. (2008b) Hacia la hipertelevisión Los primeros síntomas de una nueva configuración del dispositivo televisivo, Diálogos de la Comunicación, 77.URL: http://www.dialogosfelafacs.net/wp-content/uploads/2012/01/77-revista-dialogos-hacia-la-hipertelevision.pdf
Scolari, C. A. (2010) “Understanding Me”: McLuhan al 100%, publicado en Digitalismo, 28 febrero 2010. URL: http://digitalistas.blogspot.com.es/2010/02/understanding-me-mcluhan-al-100.html
Scolari, C. A. (2012) Media Ecology: Exploring the Metaphor to Expand the Theory, Communication Theory, 22(2), pp. 204-225.
AUTOR
Carlos Scolari: Profesor Titular del Departament de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona). Doctor en Lingüística Aplicada y Lenguajes de la Comunicación por la Università Cattolica di Milano, Itália. Investigador de los medios digitales de comunicación y la nueva ecología mediática, desde una perspectiva semiótica. [email protected]
39Más allá de McLuhan: Hacia una ecología de los medios
“Seremos como dioses que perciben el comienzo y el fin al mismo tiempo, estaremos en todos lados simultáneamente, pero esa contemporaneidad plural nos servirá de poco. La utopía mediática nos decepcionará, como todas las ideologías. Querremos retornar a los viejos tiempos pero será imposible. Tal vez podremos retornar, pero no nadando como los peces en un río sino sentados en nuestras mesas. Con la aceleración de imágenes inmateriales estaremos cerca del tiempo final. Podremos estar en todos lados, pero no nos servirá porque seremos inmateriales como alguien que observa, no como alguien que vive”. (Versión libre de autor sobre un texto original de Vilém Flusser, 1990, filósofo checo de los medios).
Cuando hace ya muchos años atrás debimos hacer el Programa de una materia en los cursos de Comunicación escribimos (tal vez algo ingenuamente) que los periodistas y los comunicadores sociales eran ‘responsables por la ecología mental’ de sus lectores y teleespectadores. Estaba claramente exagerando el poder y la autonomía de los comunicadores respecto a los medios en que trabajan (y tal vez exagerando también el poder específico de los medios dentro el conjunto de los poderes que operan en la sociedad) y sobre todo en relación a los periodistas, siempre sujetos a los condicionamientos de los jefes de redacción, los patrones, los anunciantes y los dueños y accionistas de las corporaciones mediáticas.
A partir de McLuhan (1964), Neil Postman (1992) y otros pensadores e investigadores de los medios, la metáfora ecológica ha ido ganando terreno. Que mejor manera de concebir la omnipresencia siempre inmanente e invasiva de imágenes, textos, datos, música, sonidos, propaganda, información y estímulos de
Eduardo Vizer Helenice Carvalho
La metáfora ecológica en la era de la mediatización
42 Eduardo Vizer; Helenice Carvalho
toda clase sobre los diferentes sentidos y órganos sensoriales de miles de millones de seres humanos? O el martilleo interminable de estímulos que surgen de los miles de dispositivos técnicos de información y comunicación con los que nos vemos obligados a convivir diariamente? Ya ni siquiera estamos obligados a ir hacia ellos, prenderlos, apagarlos y manipularlos con las manos. Ellos vienen hacia nosotros desde innumerables pantallas, están en nuestros bolsillos – como los celulares y smartphones -, están multiplicándose como hongos a través de cámaras escondidas en las calles, en árboles y en edificios de cualquier ciudad ‘moderna y respetable’ del mundo. Están en nuestras viviendas, y hasta en el ascensor del edificio en que vivimos (la seguridad ante todo). Están espiando y registrando cada mensaje que enviamos o recibimos, están siendo inseridos industrial y gradualmente en nuestros objetos de uso cotidiano por medio del proceso denominado difusamente ‘Internet de las cosas’, y hasta están comenzando a ser usados como punta de lanza nanotecnológica a fin de atravesar nuestra piel, nuestros órganos internos y el cerebro con fines de control médico, para prevenir a tiempo ‘desequilibrios’ en el funcionamiento del organismo o para detener un ataque de microorganismos indeseados (ya sea desde nuestros propios cuerpos o provenientes del medio externo). El funcionamiento de nuestro sistema biológico - así como el del entorno físico de las ciudades, el agua y la energía disponibles -, están todos siendo permanentemente monitorados por dispositivos y sistemas específicos y expertos (inteligentes?).1
Realmente, parece que la metáfora ecológica se acerca mucho a la realidad. Más aún, la bioingeniería y la medicina desarrollan dispositivos que parecen amalgamar nuestros propios cuerpos con cuerpos extraños – tecnológicos, biológicos o biotecnológicos -. Estamos día a día más dependientes de dispositivos técnicos, maquinarias, operaciones y diferentes objetos y elementos del medio físico, hasta el punto que se hace difícil establecer claras separaciones entre el mundo biológico y el tecnológico, entre el ‘adentro’ y el ‘afuera’ y aún entre el ego y lo Otro (con la crisis de la Modernidad, la tradicional separación idealista entre la subjetividad personal y el mundo físico – ambos mediados por la tecnología – disminuye paulatinamente, y la separación entre el ‘yo’ y el Otro aumentan, a pesar de las redes sociales y los amigos digitales). En el mundo social, político y económico, si todo tiende a estar permanentemente conectado entre sí virtualmente, y regulado por mecanismos sujetos a operaciones algorítmicas preestablecidas en programas informatizados, las consecuencias a mediano y largo plazo serán no solo inevitables sino profundas – y seguramente irreversibles- para cualquier institución, y cualquier sociedad (mas allá de su sistema político, de su cultura o idiosincrasias particulares).
43
Nos basta observar las profundas implicancias de los procesos de globalización de los mercados en todo orden, generando valores, normas y prácticas similares a fin de asegurar el ‘acople’ de un país, un sistema productivo, un gobierno y las instituciones al funcionamiento del sistema global. La palabra de orden es que ‘todo debe entrar’, y nada puede permanecer ‘afuera’ (del mercado, del sistema, del mundo de las ideas) a riesgo de condenarse al ostracismo y el atraso. No siempre se entiende bien que el principal ‘efecto’ de la implantación de las tecnologías de información y comunicación a largo plazo no consiste tanto en optimizar ambos procesos, sino en integrar a un mismo sistema a sujetos, instituciones, prácticas y procesos socioeconómicos que aún funcionan en forma separada o autónoma (la integración a mercados mundiales y los procesos de ‘globalización’ son un perfecto ejemplo de lo que decimos).
Otro tanto se observa en los avances imparables de la convergencia entre los medios de comunicación, las tecnologías de la información, y sobre todo en los aplicativos y la explosión de las comunidades en red y las redes sociales: quién se anima a permanecer ‘afuera’, se autocondena a diferentes formas de ostracismo. No hace falta separar el cuerpo de un ciudadano de los otros cuerpos, de su medio físico, de sus derechos políticos. Simplemente se torna opaco invisible e irrelevante a los ojos de los demás. Peor aún, el ciudadano ha perdido su identidad social. Aunque se trate de un profesor, un intelectual, un escritor, un artista o un profesional brillante, la no presencia en el mundo virtual lo condena a ser una figura de museo, un sobreviviente de otros tiempos pre-virtuales. Conocemos a un brillante académico de la universidad de Toronto (filósofo y sociólogo) que se niega a renegar de su máquina de escribir aunque le cueste la pérdida gradual de su reconocimiento por parte de los jóvenes estudiantes de sociología. Imposible negar cierta decepción y una sensación de passè, al momento de escuchar esta confesión de la propia boca de este profesor. Inconcientemente, nuestra percepción y valoración de su obra y su persona parecían mudar de la presencia del presente hacia la de un pasado, a la vez tan cercano en el tiempo y tan lejano en su práctica.
Como contrapartida, cualquiera capaz de operar dispositivos digitales, aun si se tratase de un analfabeto funcional que jamás en su vida haya leído un libro completo, puede filmar a su gato caminando sobre el teclado de un piano, o los primeros pasos graciosos de su hijo, subirlo a la web y hacerse famoso por 24 horas. En el mundo intelectual algunos han creado la noción de pensamiento único, presentando nuestra sociedad actual como un mundo ‘plano’ y sin relieves y sin capacidad de reflexividad crítica. En los años 90, antes de las redes sociales, Neil Postman bautizó las nuevas tendencias sociales y culturales con el sugestivo
La metáfora ecológica en la era de la mediatización
44
título de Tecnopólio, y Vizer a comienzos de los 80 como Cultura Tecnológica. Mas allá de los títulos, la referencia implícita alude a la importancia creciente y acelerada que las tecnologías, la técnica y en especial los dispositivos TIC vienen cobrando en un ‘brave new world’ que no tiene nada de ‘brave’ y tal vez ni siquiera de ‘new’ en sus contenidos, aunque tal vez sí en sus formas de expresión, en sus lenguajes especializados, en sus programas de acción informatizados y sobre todo en sus formas y dispositivos de control social.
En “El ojo de Dios. Conectados y vigilados” (2012, a)2, nos referimos a ciertas consecuencias aceleradas y peligrosas que la universalización de los dispositivos de espionaje estan presentando para la humanidad sujeta a un paradigma tecnológico de control social, sostenido por la voluntad geopolítica de Poder, dominio político militar de sociedades mas débiles, y apropiación de sus recursos naturales. La gran diferencia entre los imperios y los poderes del pasado y los actuales estriba en el uso masivo, omnipresente y sistémico de las tecnologías digitales, y la técnica como paradigma asimilado al uso del poder. Un poder que sostiene un discurso despersonalizado (deshumanizado ?) y sistémico: en la cultura tecnológica de la democracia no hacen falta dictadores ni personalismos.., la racionalidad de la supervivencia (ya de sea de instituciones, de sectores sociales, o de estados nacionales) estriba en tomar las únicas decisiones correctas que lleven a la integración a los mercados, al equilibrio del sistema, al sostenimiento de la moneda (valen los ejemplos de los nuevos gobiernos tecnócratas de la Europa del Euro, o los controles en el área del dólar). Cuando el discurso del pensamiento único se impone como el único paradigma de la racionalidad y la supervivencia de comunidades y países enteros, se eliminan los discursos, las instituciones y los grupos sociales que no adhieren al paradigma salvador de la tecnocracia, y se instalan a través de los medios de comunicación los mecanismos y los argumentos de denigración del pluralismo y del disenso. Se instala el paradigma de las antinomias y la racionalidad tecnocrática como única racionalidad posible (tecnocracia o caos!). Su ‘lógica’ no deja lugar a dudas ni alternativas “o X o Y” y desaparece el resto del abecedario. Los medios de comunicación no se cansan de repetir el discurso de la inevitabilidad, y así toda una ecología simbólica y cultural de pueblos enteros entra en crisis. El miedo al caos, la disgregación y la violencia son mecanismos psicológicos cuidadosamente cultivados por ciertos gobernantes obsesionados por el poder y el control, por la mayoría de los grandes medios y en última instancia por el ‘sistema’. Volvamos a la metáfora ecológica: cuando el entorno presente y el futuro inmediato se vuelven inciertos y peligrosos, todos pretenden buscar refugio en el sistema. Y se aplica el dicho tradicional de ‘más
Eduardo Vizer; Helenice Carvalho
45
vale malo conocido que bueno por conocer’. El escritor George Orwell señaló bien en su obra ‘1984’ la necesidad permanente de un enemigo externo y la guerra permanente para mantener a la sociedad ‘protegida’ dentro de la organización y las fronteras del sistema. En nuestros días, la Guerra al Terror y la sospecha hacia el islamismo fundamentalista cubren esta función a la perfección.
MEDIATIZACIÓN, ECOLOGÍA Y MERCADO
Podemos afirmar sin lugar a dudas que los dispositivos mediáticos, sus productos y los procesos infocomunicacionales tienen su principal objetivo y punto focal de convergencia sobre cada actor social, ya sea individuo, grupo, públicos políticos o mercados privados. Por lo tanto no parece exagerado afirmar -desde la perspectiva de cada individuo, cada actor social y paulatinamente para toda clase de instituciones- que las tecnologías de información y comunicación se presentan intuitivamente como un verdadero entorno mediatizante. Una pregunta interesante –aunque aparentemente obvia- será: cual es el ‘sujeto’ central de este sistema mediático, de este proceso ecológico conformado por señales, imágenes, datos y relatos construídos por la cultura tecnológica de occidente y universalizada en el breve tiempo del siglo XX? El individuo, en tanto ‘sujeto mediatizado’ del siglo XX se constituyó en realidad como un sujeto pasivo, y su propia existencia responde a un ‘lugar’ construído por los mercados de consumo cultural. Su propia identidad contemporánea se constituye en el momento en que entra a este mercado de consumo, ni antes ni después. Se constituye en sujeto en el propio acto de consumo. Dos consecuencias directas que podemos sacar de esto es que 1) por un lado, histórica y sociológicamente hablando el origen del proceso fundante no se halla en el individuo, en sus capacidades y necesidades innatas –a pesar de las apariencias que muestra el sentido común y los propios medios, interesados en cultivar un discurso populista e individualista- sino la sociedad industrial capitalista que ha creado no solo la tecnología sino un mercado económico y con él, los hábitos y las prácticas de consumo para sus productos. 2) La segunda conclusión que nos interesa resaltar es que – si se acepta la hipótesis anterior – la concepción ecológica de los medios precisa una redefinición: ya no es una ‘ecología de medios’ o mediática que circunda o envuelve a los individuos (en tanto públicos, lectores, oyentes o consumidores) sino un sistema de producción que al mismo tiempo que crea (los productos mediáticos), crea también a sus consumidores, a los sujetos individuales de consumo. En una palabra: crea sus públicos. La ‘ecología’ de los medios no precisa entonces concebirse como una especie de ‘entorno’ para todos y
La metáfora ecológica en la era de la mediatización
46
cada uno de nosotros, sino un sistema de producción para el cual son los individuos en tanto consumidores los que conforman el ‘entorno’ del sistema. Un abordaje ecológico de los medios tradicionales (radio, cine y televisión) introduce a los públicos consumidores como su entorno, y no viceversa. Un entorno, un mercado que a través del consumo realimenta al sistema de medios.
Las líneas anteriores se refieren específicamente al auge y el éxito de los medios masivos en el siglo pasado, y pueden parecer obvias para muchos especialistas, pero merecen destacarse para romper una imagen pública algo ingenua que se ha extendido sobre la noción de ecología de los medios. Pero el cuadro del siglo XXI es totalmente diferente, los nuevos medios digitales y las TIC han comenzado a redefinir desde sus bases a todo el campo de los medios, los procesos y los dispositivos de información y de comunicación. Hace ya varios años atrás, decíamos en conferencias que “Las TIC’s conforman una infraestructura mediatizadora por la que circulan imágenes y textos que realimentan una economía simbólica, un mercado de valores inmateriales que crece en forma exponencial. Y esto nos pone ante una revolución cultural: los propios bienes simbólicos que circulan por las redes globales tienden a una creciente autonomía - o desfazaje – de sus procesos de producción originales, generando valores (o dis-valores) en la forma de externalidades (positivas o negativas). Los procesos de trabajo y de producción material pasan a ser secundarios y dependientes de los procesos y las redes de circulación de información, de textos y productos. Gracias (o a pesar) de las TIC’s, la economía real está comenzando a ser dependiente de una economía simbólica –economía ‘inmaterial’-, donde la creación de valor se ha disociado del trabajo y la producción material”.
En aquellos años, faltaba aún bastante para que los “subprime” y los bonos basura estallaran en la crisis del 2008 y que el término ‘derivativos financieros’ se transformaran en mala palabra, casi sinónimo de pura especulación sin contrapartida económica real. Gracias a las TIC y al acceso a información privilegiada la especulación se hizo global e instantánea a través del análisis de probabilidades matemáticas de ganancia con inversiones sobre bonos, acciones, materias primas, propiedades inmuebles y monedas de cualquier país. A partir del nacimiento del capitalismo, la especulación tomó un papel importante para los procesos de circulación e inversión de capitales, pero las TIC expandieron y aceleraron el proceso de manera exponencial. Cualquier objeto o bien (natural, social o cultural) pasa a ser traducido a un valor económico, adaptado y apropiado a mecanismos de mercado (como reservas de recursos naturales, como capital social de una comunidad, o como derechos de autor).
Eduardo Vizer; Helenice Carvalho
47
Las TIC proporcionan una capacidad de crecimiento exponencial para la recolección de información, el registro de datos y la circulación de los mismos a escala global. El dinero (en este caso el capital de inversión) puede así ‘acoplarse’ a todos estos procesos mediante un cálculo de probilidades de ganancia (o de especulación). Los dispositivos de las TIC conforman así una infraestructura física y material (hardware) que mientras ‘cubre y penetra’ la sociedad real (individuos e instituciones) los traduce a todos en bits de información, procesados y transmitidos en tiempo real (o sea tiempo presente). En teoría, cualquier conjunto de datos, de información, de textos o de imágenes puede ser objeto de especulación financiera, puede transformarse en un valor en el mercado. De este modo, tal vez las TIC – y la consiguiente estructuración de una economía de la información que emerge gracias a ellas – seguramente no han ‘creado’ la nueva economía cognitiva, pero la han expandido y acelerado hasta el punto de transformarla en una nueva ecología tecnoinformacional. En las próximas páginas tomaremos a Facebook como un caso de éxito ejemplar que reúne de manera paradigmática los procesos a los que estamos refiriéndonos aquí.
El sistema de producción pos-industrial requiere de estas capacidades de comunicación y de búsqueda, registro y procesamiento de información cada vez mas sofisticadas para competir en un mercado donde los servicios, la atención al cliente, la creatividad e imaginación, la respuesta inmediata, la capacidad de procesamiento de la información y la interpretación de situaciones y eventos conforman el principal valor agregado de una marca. Y esto es común tanto a la producción industrial y el consumo masivo, como a los nuevos nichos de mercado, donde la incertidumbre y las oportunidades van de la mano con la capacidad de innovación, flexibilidad y reflexividad.
La circulación y el flujo ininterrumpido de los procesos de (re)producción mediática genera una iconosfera que no solo circunda a los seres humanos sino que los ‘penetra’ a través de los sentidos principales. La ecologia mediática del hombre y la mujer contemporáneos seguramente condiciona no tanto los ‘contenidos’ de lo que percibimos sino ‘como’ y desde que categorías mentales y modalidades de recepción –concientes o inconcientes- percibimos y construímos interpretaciones y damos sentido y coherencia a la invasión constante de estímulos visuales y auditivos. Es imposible la vida humana sin la existencia de filtros y parámetros que seleccionen y organicen el caos de estímulos. Tanto la cultura, como el proceso de socialización y la historia personal de cada uno van ayudando a construir ciertos marcos de referencia que ayudan a organizar los estímulos en ‘textos’ con
La metáfora ecológica en la era de la mediatización
48
sentido, por mas esquemáticos y elementales que puedan ser. En otras palabras, no se puede hablar de determinismo tecnológico, sino de ‘interacción’ hombre-máquina, de interdependencia o aún co-dependencia mutua. Hasta tal punto esto es así que hoy podemos llegar a sospechar que la optimista afirmación de McLuhan de que ‘los medios son extensiones del hombre’ en muchos casos puede invertirse. Así como Chaplin mostraba en el cine al operario como extensión de la máquina en los años 40, hoy no sabemos hasta que punto nuestros niños y jóvenes no se hallan condicionados por los videojuegos, la computadora y la infinidad de nuevos dispositivos que constituyen sus contextos de interacción y mediación con el mundo real.
La tradición americana de los estudios de communicación puso el centro de interés de las investigaciones en los ‘efectos’ de los medios, ya sean directos o indirectos, a corto o largo plazo. Pero no avanzó mucho sobre las implicancias profundas y culturales de los procesos de convergencia y reconversión de los medios y los procesos de ‘apropiación activa’ y crítica por parte de los receptores. La escuela norteamericana tendía a partir de un conductismo no declarado y de la perspectiva de las ‘behavioral sciences’, poniendo el acento en las conductas y respuestas del receptor. La profundidad del cambio cultural y ecológico promovido por las tecnologías mediáticas pasaba a un segundo plano que escapaba al paradigma experimental vigente para las ciencias de la conducta. Por otro lado, los media studies permanecían atrapados en el marco de los estudios sociológicos, dejando también escapar en ambos casos la especificidad de los impactos globales y sistémicos de las tecnologías, las organizaciones y las operaciones de sentido que deben constituir los núcleos de la investigación sobre los procesos de mediatización social.
ECOLOGÍA E HIPERMEDIATIZACIÓN
En el periódico Clarín de Buenos Aires, el día 11 de febrero del 2012 se reproduce una nota titulada Una posición sobre privacidad, traducida del ‘The New York Times’:
“Max Schrems, un estudiante de derecho de 24 años originario de Salzburgo, Austria, quiso saber que sabía Facebook. Lo que recibió fue prácticamente una novela de 1.222 páginas. Contenía notificaciones en el muro que había borrado, mensajes viejos que revelaban el estado mental perturbado de un amigo, y hasta información sobre su paradero físico que ni siquiera había ingresado”. “Schrems sintió una vaga inquietud respecto de lo que Facebook
Eduardo Vizer; Helenice Carvalho
49
podía llegar a hacer con toda esa información. Se preguntó en primer lugar: porqué estaba ahí si él lo había borrado ? “Es como una cámara colgada sobre la cama cuando estás teniendo sexo. No está bien, dijo”. “Nosotros en Europa estamos muy asustados con lo que podría llegar a pasar algún día”. El sentimiento de Schrems resume el malestar que recorre toda Europa en relación a como tratan la información personal las empresas de Internet. Luego prosigue “Los datos personales son el aceite que lubrica Internet. Cada uno de nosotros está sentado sobre sus enormes reservas personales. Los datos que compartimos todos los días… ayudan a que las empresas orienten la publicidad sobre la base no solo de la demografía, sino también de las opiniones y los deseos personales que subimos online. Estos ingresos publicitarios reportan a su vez cientos de millones de dólares a empresas como Facebook”.
Es en este sentido que en “El ojo de Dios: conectados y vigilados”3 habíamos insistido precisamente en que se debe analizar hasta sus últimas consecuencias los riesgos de la omnipresencia de las tecnologías que nos circundan por todos lados: desde los satélites, pasando por la vigilancia implícita en las redes sociales, la geolocalización a través de nuestros celulares, o la infiltración (camfecting) de nuestras webcam personales que pueden ver, oír y registrar todo, además de casi toda nuestra intimidad.
A esta altura, seguramente algún lector se preguntará que tiene que ver esta capacidad peligrosamente ‘controladora’ de las TIC con un abordaje ecológico (tanto de los tradicionales medios masivos como de los -ya no tan nuevos- medios de información y comunicación digitales). Sin embargo un análisis bastante obvio pero cuidadoso nos muestra la evidencia de la presencia de tecnologías de información, registro y difusión crecientemente articulados y convergentes entre sí. Esta convergencia es la responsable directa por generar nuestro panopticum digital del siglo XXI, ya que sin ella la posibilidad de articular múltiples dispositivos diferentes de observación, registro, memoria, difusión e intercambio de datos e informaciones no hubiera sido posible, y por ende la construcción de sistemas de control operativo y las redes complejas como las que existen hoy en el mundo virtual (debemos recordar que para Pierre Lévy -2007- el ciberespacio emerge de la interconexión mundial –y material- de los ordenadores).
El paradigma ecológico surge sobre todo por una inquietud epistemológica de investigadores y científicos disconformes con la tradición científica tradicional, que buscó reducir los análisis de los hechos (naturales o sociales) a relaciones simples y demostrables entre unos pocos elementos seleccionados dentro de un proceso o un conjunto objetivamente complejo de elementos o de actores,
La metáfora ecológica en la era de la mediatización
50
tal como podemos observar intuitivamente en los hechos y las realidades que percibimos y vivimos cotidianamente. Cualquier hecho social, natural y aún técnico implica procesos intrínsecamente interrelacionados desde su propio origen, y las tecnologías seguramente lo son más aún, dada la complejidad y cantidad de actores involucrados, de intereses económicos y financieros de todo tipo, de necesidades, fantasías, ambiciones y expectativas.
Retomando el ‘caso Facebook’, vemos la multiplicidad de hechos y procesos que logra desencadenar: desde la perspectiva económica y la influencia en diferentes mercados, a los impactos y las transformaciones sociales y culturales que está imponiendo en las relaciones sociales, en la política, y en las nuevas modalidades de representación de la realidad natural, social, cultural e individual. La contundencia y velocidad con que se impusieron tecnologías como la telefonía celular o las redes sociales, (Facebook, Twitter, etc.) solo se explica por la convergencia feliz de una multiplicidad de factores que sus creadores generalmente no imaginaron en su momento. Una de las razones principales del éxito universal de la telefonía celular en todas las culturas y todos los niveles socioeconómicos se debe a que coincide con las tendencias sociales a la individuación y la necesidad de autonomía y movilidad personal. De haber sido inventado en otro momento histórico tal vez hubiera corrido la suerte del científico griego que hace dos mil años descubrió que el vapor de agua podía generar movimiento, pero solamente la Revolución Industrial permitió su aplicación a un cilindro que mueve las piezas de un motor diseñado en la forma que permita una combustión interna. Y Facebook no hubiera tenido el éxito arrasador que logró si la cultura mediática del siglo XX no hubiera instalado y socializado en pocas generaciones los nuevos imaginarios populares sobre la forma de relatar historias, la existencia del cine como vida proyectada en imágenes, fotografías organizadas en álbumes familiares o individuales, y ahora la subjetividad y la autoreferencia canalizadas y compartidas de manera desenfrenada y sin tabúes con avatares o con amigos reales o virtuales desconocidos (como hubiera reaccionado Freud a todo esto en el mundo burgués del siglo XIX, todavía signado por las inhibiciones y la represión sexual, y donde la vida privada aún se hallaba totalmente divorciada de la pública?).
Las investigaciones empíricas sobre los resultados de la introducción y el uso de tecnologías representan un volúmen creciente del tiempo y los recursos volcados en los ámbitos académicos y privados. Estudiar el impacto tecnológico está rodeado de cierto halo contemporáneo asociado a lo práctico, lo medible, lo importante y científico (además de que favorece la búsqueda de fondos para la investigación aplicada). Mucha investigación empírica ha permitido acrecentar
Eduardo Vizer; Helenice Carvalho
51
bancos de datos y favorecer aplicaciones prácticas en ámbitos de trabajo y para la educación. Sin embargo, no es fácil hallar ejemplos de investigaciones que vayan más allá de la búsqueda de relaciones o asociaciones estadísticas entre la introducción de un dispositivo nuevo y el aumento de la productividad en el ámbito laboral, el mejoramiento de las relaciones humanas en las instituciones, la capacidad de aprendizaje de alumnos en la escuela o la universidad, o el grado de satisfacción en la participación en redes sociales. Bajo ningún motivo se debe entender esto como una crítica a éstas investigaciones, sino a cierta limitación teórica y cierto reduccionismo que no toma en consideración las múltiples modificaciones –sistémicas– que se producen con la implantación de tecnologías nuevas o diferentes: en ámbitos de trabajo, de ocio, de estudio; en diferentes sectores etários; en grupos y culturas diversas; en los procesos subjetivos y emocionales; en la creación de vínculos y relaciones sociales y familiares, etc.
Según el investigador Barry Wellman (2004) existen tres etapas que se pueden diferenciar en las investigaciones acadénicas de Internet. Una primera caracterizada por ensayos de corte optimista sobre la capacidad y poder de transformación de Internet, una segunda de naturaleza empírica centrada en documentar sus usos, y por último una fase que pasa de estudios descriptivos a una elaboración mas analítica que investiga la vida cotidiana en relación a las redes. Esto último –y la construcción de un nuevo campo de los Internet Studies– implica el pasaje a investigaciones interdisciplinarias, con fuerte impronta sociocultural y articulando ciencias sociales con las ciencias de la información y la comunicación, y con temáticas amplias como la sociedad en red, la sociedad de la información y del conocimiento, etc.
Respecto a los problemas de las investigaciones sobre las influencias de las TIC podemos afirmar que lamentablemente muchas investigaciones sobre las relaciones entre las TIC y los ambientes en que son instaladas (fábricas, escuelas, sectores gubernamentales, medios de comunicación, etc.) tienden a ser abordadas en forma demasiado lineal: impacto, eficiencia, ahorro de tiempo y espacio, etc. Pensamos que este tipo de abordajes ‘micro’ son sumamente acotados y pierden de vista el panorama mayor: la transformación del contexto en que se insertan las TIC como organizaciones y sistemas complejos y multidimensionales. Por esta razón, preferimos un marco de análisis no reduccionista que aborde múltiples dimensiones en las que se dan las prácticas de individuos y organizaciones. En otras palabras, preferimos realizar un abordaje ‘ecológico’ de las implicancias que conlleva la adopción de las TIC en toda clase de contextos sociales. En principio, parecen haber dos ‘puntos de partida’: a) analizar los cambios y modificaciones
La metáfora ecológica en la era de la mediatización
52
que nos interesan tanto en el antes como en el después de la introducción de una tecnología en un determinado ambiente, con lo que estaríamos poniendo al objeto técnico como la variable central de cambio y disminuyendo el papel que juegan los actores sociales y su subjetividad. b) El segundo punto de partida (que no se opone al anterior) pone el centro de la investigación en el contexto social y cultural, en los seres humanos y en su forma de apropiarse e interactuar con los objetos técnicos. En estos casos la noción de mediación –así como la de traducción- son centrales: los dispositivos y la técnica se conciben como mediadores socioculturales en el seno de contextos sociales en los cuales emergen nuevas relaciones hombre(s) máquina, usuario(s)-tecnologías.
Podemos comenzar por considerar la segunda perspectiva como más amplia y ecológica ya que elige un conjunto hombre-máquina como una totalidad, sin poner a la tecnología como el determinante central. Sabemos que el éxito de un dispositivo depende en última instancia del interjuego mutuo entre el actor social (individuo, grupo, empresa o institución) y las posibilidades que ofrece el objeto técnico para lograr ciertos fines buscados por el actor. Pero también sabemos que la máquina es capaz de condicionar las formas de acción y de percepción, los lenguajes operativos y el contexto de uso. El ‘ambiente ecológico’ es co-creado a través de las relaciones hombre-máquina, y es ésta relación compleja e interdependiente entre ambos que ha llevado en los años noventa a autores como Bruno Latour (2005) y otros a una Sociología de las asociaciones y a la ‘Teoría del actor-red’ propuesta por aquél, a fin de construir una perspectiva ecológica que piensa los procesos sociales como una consecuencia de las interrelaciones entre agentes humanos y no humanos, considerando al objeto técnico también como un ‘actor, o actante’. Busca superar ciertas antinomias como ‘sociedad-naturaleza y sujeto-objeto’, “instituyendo un pensamiento que reconoce apenas híbridos que se constituyen en toda acción formada por mediadores y traductores, los actantes” (Lemos, 2011). Evidentemente, esta teoría intenta poner en pié de igualdad las influencias mutuas entre ambos términos: hombre y máquina (e intentando al mismo tiempo superar la antinomia sujeto-objeto). Sin embargo, esta equivalencia puede seguramente abordar una descripción de procesos con bastante objetividad, pero lo que no puede es determinar los objetivos y los valores que guían la apropiación humana de las máquinas. Porque en última instancia, es el criterio de apropiación humana el que debería orientar los usos y fines que se den a las máquinas.
Una forma no reduccionista de investigar las interrelaciones tecnología-contexto social, o entre hombre y máquina puede consistir en un abordaje descriptivo y heurístico como el que proponemos con el Socioanálisis (Vizer, 2003).
Eduardo Vizer; Helenice Carvalho
53
Con él pretendemos abarcar un cuadro ecológico amplio que cubre diferentes dimensiones de análisis, los que desde una perspectiva sistémica permiten abordar cada tópico, cada hecho o proceso como un (sub)sistema interligado a un contexto mayor, donde se produce una reorganización funcional del sistema. De este modo aspectos técnicos, la toma de decisiones, el control del espacio, las relaciones entre agentes de una organización y sus dimensiones culturales pueden ser analizadas respetando la especificidad de cada cuestión analizada y su grado de ‘autonomía’ en relación al ambiente mayor. Es decir: la implantación de una nueva tecnología como generadora –y luego reproductora- de nuevas relaciones técnicas, nuevas modalidades de generación de lazos sociales, actitudes, valores y modos compartidos de recrear las condiciones existentes en un ambiente productivo o bien un modo de vida, favoreciendo la modificación o el fortalecimiento de dispositivos ya establecidos en un colectivo social.
Esto permite explorar sobre cuales ámbitos y dimensiones socioculturales incide de forma sistémica la introducción ‘ecológica’ de una tecnología: desde un nivel estrictamente operativo y funcional, pasando por aspectos que abarcan cuestiones de concentración de la autoridad y el poder de decisión, las modificaciones –o desaparición- de jerarquías (sobre todo en las organizaciones), pasando luego por los cambios en el uso y la distribución de los espacios físicos con sus objetos específicos (lugares de trabajo o de ocio, muebles, máquinas, etc.). Se puede observar el funcionamiento de mecanismos de regulación de los diversos tiempos requeridos para la realización de determinadas tareas, ya sea como trabajo físico o intelectual (en la literatura marxiana denominada como trabajo inmaterial, lo que tiende a llevar a la idea errónea de que el trabajo intelectual no implicaría materia física, dificultando así los criterios de cálculo sobre el valor y el tiempo en el trabajo intelectual). La introducción de TIC también incide en las relaciones y los vínculos interindividuales e interreferenciales y subjetivos entre miembros y agentes de una organización, en sus modos de comunicarse así como sobre los procesos simbólicos que ordenan las representaciones colectivas y la adjudicación de sentido. Debemos tomar en cuenta en nuestros análisis también los procesos de ‘institución simbólica’ de las instituciones y los diversos órdenes sociales (o lo que comúnmente se denomina imprecisamente como ‘cultura’, la que puede a su vez considerarse como la ecología simbólica que se crea a la par de las prácticas en una organización o una comunidad, ya sea ésta real o virtual).
La metáfora ecológica en la era de la mediatización
54
CONCLUSIÓN: EL “CASO“ FACEBOOK. WHAT’S NEW?
Para ir concluyendo este trabajo, retomemos el ‘caso Facebook’. Para conocer la real incidencia ‘ecológica’ de FB y las prácticas sociales asociadas a él nos preguntaríamos sobre sus implicancias en relación a las siguientes dimensiones:
a) FB en tanto dispositivo ‘técnico y funcional’. Su operatividad y accesibilidad en relación con diferentes tipos de usuarios, modalidades de acceso, aprendizajes, interactividad, formas de acceder a objetivos (de trabajo, estudio, investigación, expresión artística, etc.)
b) FB en relación a aspectos relacionados con formas de poder y control, condiciones de ingreso, grados de libertad que permite ejercer tanto ‘internamente’ como en relación al orden social ‘externo’: político, social, jurídico y cultural. Usuarios y usos asociados a formas de poder y control. Discursos, lenguajes y símbolos, sus modalidades ‘represivas’.
c) FB como dispositivo de ‘resistencia’ a los aspectos y dimensiones anteriores. Formas, modalidades de expresión y canales de ejercicio de libertad, oposición y creatividad. Límites sociales y culturales, tipos y grados de vinculación que permite con actores externos, etc. ‘Discursos, lenguajes y símbolos’ que hipotéticamente representan antinomia, oposición y alternativas en relación a los discursos y lenguajes empleados o sugeridos en la dimensión anterior (por ej. discursos ‘críticos’, propositivos, o de ‘resistencia’, links y declaraciones como los que desarrollan movimientos alternativos).
d) FB y la ‘dimensión temporal y espacial’. Esto implica tanto los aspectos de espacialidad física en relación con el dispositivo material como la espacialidad y la construcción de tiempos virtuales: preguntarnos como FB diseña, articula y relaciona los elementos de sus páginas de modo de generar en el usuario encadenamientos espaciales y temporales de sentido. La existencia de hiperlinks como construcción de ciberespacios a la vez virtuales y mentales.
e) FB y los lenguajes de la (inter)referencialidad, los vínculos, las emociones, las asociaciones entre texto, sonido, imágenes y la sensibilidad. Los imaginarios y los estilos comunicativos asociados a solidaridades, emociones e instituciones (familia, religión, amistad, pareja, vínculos primarios y secundarios, identificaciones afectivas, etc.). Nuevas modalidades de relación y receptividad en los vínculos virtuales. FB aumenta la exposición individual de las personas, pero esta exposición tal vez no promueva más comunicación o vínculos reales sino cierto voyerismo público.
Eduardo Vizer; Helenice Carvalho
55
f) FB como producto y productor cultural. Viejos y nuevos mitos, creencias y valores. Asociaciones y actitudes manifiestas y latentes de reconocimiento o rechazo hacia instituciones ‘tradicionales’ (casamiento, pareja, procreación, religión, educación, la política, las artes). Nuevos imaginarios y lenguajes, imágenes y representaciones culturales, verosimilitud. Modificaciones culturales que introduce FB como vehículo técnico y estético de expresión.
Pueden leerse las ideas anteriores como propuestas sobre la enumeración de líneas de interés o temas de investigación, pero sobre todo ofrecen una muestra de un modo particular de abordar múltiples dimensiones de análisis que presenta la adopción y el uso de un dispositivo técnico, un programa o un utilitario, y su incidencia ‘ecológica’ sobre la complejidad de los procesos que atañen a las relaciones entre los sujetos y los dispositivos técnicos.
Abordamos el análisis de procesos sociales, institucionales y organizacionales desde la perspectiva de los actos y los dispositivos de comunicación (ya sean conversaciones, textos, lenguajes corporales, uso de objetos y dispositivos técnicos, relatos o mitos). Y abordamos a los sujetos (ya sea individual o colectivamente) como agentes sociales (actantes según la terminología de Latour) que cultivan ecológicamente sus espacios ambientales (físicos y sociales, simbólicos y aún imaginarios). Es en este contexto ecológico que intentamos entender la irrupción de dispositivos técnicos como las TIC. Por último, no debemos olvidar que las tecnologías de información y comunicación (TIC’s) representan un papel día a día mas fundamental para los procesos de emergencia y articulación social entre diferentes órdenes del mundo de la vida. Funcionan precisamente como dispositivos convergentes de interfase. Internet ofrece acceso a recursos de información y comunicación generando un dominio de tiempos y espacios virtuales que transforma los medios y las formas tradicionales a través de las cuales accedemos a todos los dominios de la vida social. Los medios y las TIC se presentan como los intermediarios entre el mundo físico y los agentes sociales, haciéndolos converger por medio de la comunicación en una experiencia referencial “simbólica y cargada de sentido”, a través de la cual una comunidad cultiva su ecología social y cultural.
NOTAS
1 En “La Caja de Pandora: tendencias y paradojas de las TIC” (2012, pág. 174), presentamos 20 diferentes tendencias que se observan en los procesos de hipermediatización de la sociedad a partir de las TIC. En Comunicación y Socioanálisis. Estrategias de investigación e intervención social.
La metáfora ecológica en la era de la mediatización
56
2 En Tecnologia praquê? Os impactos da tecnologia no campo da comunicação. Porto Alegre: Armazém Digital, 2012. (en prensa)
3 Op. cit. b)
REFERENCIAS
Bajretarevic Anis. The Cyber Gulag revisited & Debate reloaded. Addleton Publishers, New York RCP 10 (2), 2011.
Barabási, A. Laszlo. Linked. How everything is connected to everything else and what it means to Business, Science and everyday life. Cambridge: Plume, 2003.
Charaudeau, P. Le discours d’information médiatique. La construction du miroir social. Paris: Nathan,1997.
Gorz, André. O imaterial: conhecimento, valor e capital. São Paulo: Annablume, 2005.
Jenkins, Henry. Convergence culture: where old and new media collide. New York: New York University, 2006.
Katz J. Tecnologías de la Información y la Comunicación e Industrias Culturales. Una perspectiva Latinoamericana. Naciones Unidas/ Cepal: Chile, 2006.
Keen, Andrew. A nova forma de autoritarismo virtual, Revista Época, 4 de junho, 2012. São Paulo, pág. 108-111.
Kerszberg, P.. Phénoménologie de l’experience sonore, “Fenomenología hoje. Existéncia, ser y sentido no alvorecer do século XXI’, T. Souza & Oliveira (Org.) EDIPUCRS: Porto Alegre, 2001.
Lemos André, Things (and People) are the tools of revolution! Ou como a Teoría Actor Rede resolve a purificação McLuhaniana do “meio como extensão do homem”. En “Lo que McLuhan no predijo”. Coord. Vizer. Ed. La Crujía, Buenos Aires (en prensa).
Latour Bruno. Reassembling the Social. Introduction to Actor-Network Theory. Oxford: 2005.
Eduardo Vizer; Helenice Carvalho
57
Lévy, Pierre. Cibercultura. La cultura de la sociedad digital. Anthropos, Un.Aut.Metropolitana. México D.F, 2007.
Lemoigne, J. L. La modélisation des systèmes complexes. DUNOD: Paris, 2005.
McLuhan, Marshall. Understanding Media. The extensions of Man. New York, McGraw Hill, 1964.
Manovich, L. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era digital. Buenos Aires: Paidos Comunicación, 2006.
Moutier-Boutang, Yann: A bioproduçao. O capitalismo cognitivo produz conhecimentos por meio de conhecimento e vida por meio de vida. IHU No. 216. Revista Humanitas. Unisinos, 23/4/2007.
Mosco V. “La economía política de la comunicación: una actualización de diez años”. Anuario Ininco v.17 n.2 Caracas jul. 2005. ISSN 0798-2992.
Negri, A., & Lazaratto M. Trabalho imaterial, formas de vida e produçao de subjetividade. Rio de Janeiro: DP&A, 2001.
Neves R. O celular é a vara de pescar. Revista Época, Sao Paulo, 5/2/2007.
Postman, Neil. Tecnopólio. A rendição da cultura a tecnologia. São Paulo: Nobel, l994.
Sohn-Rethel, A. Intellectual and Manual Labour. A Critique of Epistemology. (London, Macmillan, 1976).
Vizer, E. A. Procesos sociotécnicos y mediatización en la cultura tecnológica en la sociedad mediatizada. Coord. Dènis de Moraes. Barcelona: Gedisa, 2007.
_______. Globalization and cooperation. Social actors on a new technologies and communication perspective. Anales del Congreso CALACS (Canadian Association for Latin and Caribbean Studies, Canadian Journal), 1992.
La metáfora ecológica en la era de la mediatización
58
_______. The challenges of developing a technological culture. Conferencia pronunciada en el Departamento de Información Pública de las Naciones Unidas, Nueva York. 1987 (Trad. cast.: Telos, 37,) 1994.
_______. La trama (in)visible de la vida social: comunicación, sentido y realidad, Ed. La Crujía, Buenos Aires, 2.ª ed. 2003/2006.
_______. A trama (in)visível da vida social: comunicação, sentido e realidade. Porto Alegre: Sulina, 2011.
_______. Una perspectiva socioanalítica en la aplicación de tecnologías. Revista de Investigación Científica GESTIÓN DE LAS PERSONAS Y TECNOLOGÍA, Chile 2010. www.tap.usach.cl/gpt
_______. Socioanálisis. Metodología de investigación, análisis diagnóstico e intervención social, Revista Redes.com (alojamientos.us.es/cico/redes/index.htm), n.º 2, Sevilla. Instituto Europeo de Comunicación y Desarrollo: 2005.
_______. Social dimensions of communication; communicational dimensions of social processes. Some propositions on research lines and problematics. Revista FAMECOS, n. 40. Porto Alegre, RS: PPGCOM/PUCRS, dez/2009.
Vizer, Eduardo; Carvalho, Helenice. A caixa de Pandora. Tendências e paradoxos das TICs. In Estratégias Mediáticas. BARICHELLO, E.; MACHADO, A. (org). Santa Maria, FACOS-UFSM, 2012. ISBN 85-98031-74-3.
_______. La caja de Pandora. In: “COMUNICACIÓN Y SOCIOANÁLISIS. Estrategias de investigación e intervención social”. In: VIZER, E., CARVALHO, H. Alemania: EAE/Amazon, 2012. ISBN 978-3-8484-7720-3
_______. El ojo de Dios: conectados y vigilados. In BENEVENUTO JR., Álvaro. STEFFEN, César. Tecnologia praquê? Os impactos da tecnologia no campo da comunicação. Porto Alegre: Armazém Digital, 2012. (no prelo)
WELLMAN, Barry. The three age of Internet studies: ten, five and zero years ago. USA: New Media and Society, 2004.
www.clarin.com.ar 11-02-2012. Nota: una posición sobre privacidad.
Eduardo Vizer; Helenice Carvalho
59
AUTORES
Eduardo Andrés Vizer: Dr. en Sociología. Prof. Consulto e Inv. Tit. Inst. Gino Germani Universidad de Buenos Aires. Coordinador Área de Teoría del Conocimiento, Maestría en Estudios Sociales y Culturales, Universidad de La Pampa. Prof. Colaborador UFSM, Brasil. Ex.Fulbright Fellow, Visiting Professor, Comm. Depart. Univ.of Massachussets (UMASS-USA). Mc Gill, Montréal, Toronto, Internat. Council Canadian Studies (ICCS), Human Res. Develop. Canada (HRDC), Canada Fulbright Prog. Prof. Visitante UNISINOS y UFRGS, CNPq. y CAPES. 1er. Director fundador Carrera de Ciencias de la Comunicación UBA. 10 libros public. Postdoc. y Conferencista en Alemania, Canada, EEUU, Portugal y Brasil. Argentino. e-mail: <[email protected]>
Helenice Carvalho: Profesora Adjunta de la Carrera de Comunicación de la Universidad Federal del Rio Grande do Sul (Fabico/UFRGS). Coordinadora del Grupo de Investigación en Inteligencia Organizacional / CNPq. Licenciada en Comunicacion Social pela Universidad Federal de Santa Maria (UFSM), Ms. En Administracion, énfasis Producion y Sistemas, pelo Programa de Pos-Grado em Administracion (PPGA-UFRGS), Dra. en Ciencias de la Comunicación, énfasis Procesos Midiaticos, pelo Programa de Pos-Grado em Ciencias de la Comunicación da Universidad do Vale do Rio dos Sinos (PPGCC-UNISINOS). Brasileira e-mail: <[email protected]>
La metáfora ecológica en la era de la mediatización
A PERSPECTIVA ECOLÓGICA DA MÍDIA
Em nosso universo midiacêntrico, temos o poder de deslanchar mudanças que alteram o centro de nossa galáxia; contudo, a maneira como estas mudanças afetarão o resto da galáxia, como nos afetarão, sempre será, até certo ponto, imprevisível (STRATE, 2004, p. 6).
A perspectiva ecológica da mídia tem em sua origem a controversa formulação mcluhaniana - o meio é a mensagem -, a partir da qual os meios, para além de sua materialidade técnica, são compreendidos enquanto ambientes culturais que, em conjunto, formam um ecossistema. “O significado deste aforismo é que, independente de seu conteúdo ou pretensa mensagem, as mídias têm seus próprios efeitos intrínsecos sobre nossa percepção, que são a mensagem singular dessa mídia” (LOGAN, 2011, p. 7). A ideia de ecossistema aplicada à mídia vem desta formulação, pela qual as modificações em cada meio ou no ambiente interferem no conjunto e impactam também as partes que o constituem.
A difusão das ideias ecológicas, nos anos de 1960 e 1970, coincide com a introdução do conceito de ecologia dos meios pelo educador humanista Neil Postman, durante uma conferência, em 1968 (SCOLARI, 2010). Foi Postman quem institucionalizou a ecologia da mídia como campo científico durante uma conferência sobre Educação, em 1968, em Nova York. Três anos depois, ele fundou o primeiro programa de estudos na área, na New York University, dando “o primeiro
Luciana Menezes Carvalho Eugenia Mariano da Rocha Barichello
Legitimação das organizações midiáticas no ecossistema digital
62 Luciana Carvalho; Eugenia Barichello
passo na institucionalização acadêmica da ecologia dos meios” (SCOLARI, 2010, p. 34). Foram ex-alunos de Postman que fundaram, quase três décadas depois, a Media Ecology Association, em 1998, em Nova York (MEA, online), cuja perspectiva e postulados centrais mantêm-se presentes em estudos sobre as transformações dos meios de comunicação no atual ecossistema digital, sobretudo com aplicação da metáfora ecológica em relação ao jornalismo (BOWMAN & WILLIS, 2005; CANAVILHAS, 2011; DEUZE, 2006; LASICA, 2003; NAUGHTON, 2006).
A ecologia da mídia tem seu enfoque no estudo dos meios como ambientes culturais. Nesta concepção, “a medium is a technology within which a culture grows; that is to say, it gives form to a culture’s politics, social organization, and habitual ways of thinking”1 (POSTMAN, 2000, p. 10). Ainda que a formalização da perspectiva ecológica da mídia tenha sido proposta por Postman, consideram-se os canadenses Harold Innis e Marshall McLuhan, ao lado do padre jesuíta Walter Ong, os principais pais-fundadores desse paradigma. A justificativa é que nas obras desses autores aparece, pela primeira vez, a aplicação explícita da metáfora ecológica ao estudo dos meios de comunicação (SCOLARI, 2010).
No entanto, a formulação desta concepção global, de complementariedade entre os meios e a sociedade, e dos meios entre si, remete a influências ainda mais remotas, mencionadas pelo próprio McLuhan: sua inspiração na obra dos padres Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955), formulador de uma teoria holística voltada ao homem, e São Tomás de Aquino (1225-1274), cujo pensamento teria lhe sugerido a ideia de complementaridade entre os meios (SALARELLI, 2011).
De qualquer forma, pode-se afirmar que McLuhan foi pioneiro ao tornar célebre a ideia de que os meios fundam ambientes culturais. A afirmação de que a imprensa criou a ambiência favorável ao aparecimento da categoria de público (MCLUHAN, 1962), assim como a ideia de que nenhum meio existe ou tem significado sozinho - mas em relação com outros (MCLUHAN, 1964) -, ilustram seu pensamento ecológico sobre a mídia.
A perspectiva mcluhaniana sobre o medium-ambiência, fica clara nesta passagem de uma entrevista concedida pelo autor à revista francesa L’Express, em 1972: “[...] quando afirmo que o meio, o meio de difusão, é a mensagem, isso diz respeito ao efeito desse meio na sociedade como um todo, à maneira como ele transforma todo mundo. Isso é a mensagem, e não seus efeitos particulares” (MCLUHAN, 1972, p. 3).
Assim como Postman instituiu formalmente a área de estudos ao fundar a MEA, McLuhan foi o responsável por atualizar e dar foco à perspectiva holística dos meios de comunicação.
63
[...] debemos reconocer que fue McLuhan quien actualizó e integró en un enfoque único los planteos de algunos precursores como Lewis Mumford, Sigfried Giedion, Harold Innis y Eric Havelock. McLuhan no se cansaba de insistir en que los medios forman un ambiente o entorno sensorial (un medium) en el cual nos movemos como un pez en el agua; no nos damos cuenta de su existencia hasta que, por algún motivo, dejamos de percibirlos. Su ecología está totalmente volcada hacia las percepciones de los sujetos: los humanos modelamos los instrumentos de comunicación, pero, al mismo tiempo, ellos nos remodelan2 (SCOLARI, 2010, p. 20).
Mais que uma metáfora da Biologia aplicada ao estudo da Mídia, a Media Ecology propõe um quadro teórico-epistemológico inovador para a pesquisa na área, podendo ser renovada na atualidade com novas categorias que surgem das transformações no sistema midiático digital. Os principais pressupostos desse paradigma resumem-se em duas ideias centrais: a) os meios de comunicação constituem um entorno (o medium como ambiência) que modifica nossa percepção e nossa cognição; b) os meios são as espécies que vivem em um ecossistema e estabelecem relações entre si e com os sujeitos que nele interagem (SCOLARI, 2010).
Da mesma forma como na natureza, um ecossistema é formado por organismos que coabitam em um ambiente, o ecossistema midiático é formado pelos meios de comunicação e as relações que eles estabelecem entre si e com a sociedade. Destacando-se, na perspectiva adotada neste trabalho, a que se refere ao lugar ocupado pelas organizações midiáticas (meios e seus entornos culturais, institucionais). Cada mudança no ambiente afeta os meios, assim como cada novo meio que ingressa no ecossistema afeta sua totalidade.
Essa concepção abre espaço para estudos que reflitam sobre as características que se sobressaem ou perdem importância no ecossistema midiático, incidindo sobre os modelos legitimadores adotados pelas organizações em seus discursos e práticas. Para refletir sobre este ponto específico, é necessário explicitar o entendimento de que os meios de comunicação podem ser analisados do ponto de vista institucional, e como tal posicionamento se relaciona com a perspectiva ecológica da mídia.
A MÍDIA COMO INSTITUIÇÃO
Antes de entrar na discussão das transformações pelas quais passam as organizações em seus processos de legitimação institucional, é necessário estabelecer o marco conceitual básico dessa discussão. O sentido de instituição
Legitimação das organizações midiáticas no ecossistema digital
64
adotado neste capítulo relaciona-se à ideia de campo autônomo de experiência e interação, constituído por regras e recursos que guiam as ações dos atores sociais.
As instituições representam os elementos estáveis e previsíveis da sociedade moderna; elas constituem a estrutura para a comunicação e a ação humanas em determinada esfera da vida em um determinado tempo e lugar. As instituições dão sustentação para a reprodução da sociedade dentro da esfera em questão, dando-lhe certo grau de autonomia e uma identidade distinta
em relação a outras esferas (HJARVARD, 2012, p. 68).
A linguagem é a instituição primordial com a qual o indivíduo tem contato. Na atualidade, a mídia passa a ser a instituição central de mediação do sujeito com o mundo. Esse é o entendimento presente no paradigma midiacêntrico inaugurado por McLuhan e nas teorias da midiatização que lhe são, em alguns aspectos, derivadas. Daí ser possível se promover uma relação da perspectiva institucional da mídia com o paradigma ecológico da comunicação.
Ainda que toda técnica constitua também um meio cultural, conforme apontado por McLuhan e seus seguidores na perspectiva da Media Ecology, pode-se distinguir os meios que são apropriados como meros suportes daqueles que passam a operar, por meio de seus usos e apropriações tecnossociais, enquanto instituições que se integram ao ecossistema midiático3. Não se trata de adotar uma perspectiva tecnicista, pois como já se deixou claro os meios não se resumem às suas características técnicas, mas são também perpassados por cultura e especificidades relacionadas à sua conformação tecnossocial.
É sob essas condições que alguns meios, integrados à vida social e cultural, tornam-se instituições. Ajuda na compreensão distinguir o conceito de midiatização do de mediação. Enquanto este último diz respeito a um tipo de comunicação mediada por um meio tecnológico que a expande (no tempo, no espaço e na modalidade) em um contexto social específico (quando se realiza um ato comunicacional concreto), a midiatização refere-se a um processo de complexificação dessa presença da mídia nas instituições e modos de interação entre os atores sociais, alterando sociedade e cultura (HJARVARD, 2012). Assim, se um meio limita-se a operar mediação ou acaba midiatizando uma prática ou instituição, depende do contexto e das características dos meios que estão envolvidos. Quanto mais os meios institucionalizam-se através de um imbricamento entre sujeitos, tecnologias e práticas, mais midiatizado fica um ambiente.
Luciana Carvalho; Eugenia Barichello
65
Cada tecnologia traz consigo respostas a uma determinada demanda social e, ao mesmo tempo, potencialidade para um determinado tipo de uso, causando, a partir dos usos e apropriações que recebe, diferentes tipos e níveis de impacto na sociedade e na cultura. O impacto provocado pelo rádio é, portanto, diferente do impacto da televisão, que também é diferente do impacto da internet e dos computadores pessoais.
O caráter de ruptura promovido pelas tecnologias digitais deve-se, em grande parte, a essas especificidades em correlação com o contexto sociocultural em que se inserem. O conceito de affordances4 explica essa potencialidade dos meios para determinados usos que estruturam a interação entre usuário e mídia; os meios funcionariam como tecnologias que “facilitam, limitam e estruturam a comunicação e a ação” (HJARVARD, 2012, p. 76). Segundo Hjarvard, foi por meio das affordances de mídias com caráter mais descentralizador e interativo que emergiu uma nova fase da presença dos meios de comunicação na vida social. Esta fase é explicada por meio do conceito de midiatização, entendido como processo histórico que se registra em um contexto de globalização e desenvolvimento tecnológico presente em sociedades desenvolvidas ocidentais, e de forma não homogênea.
Há uma ênfase no aspecto institucional desse processo, que poderia ser explicado em duas facetas: tanto por uma maior autonomia da mídia enquanto instituição independente, das quais as demais instituições dependem em sua busca por recursos simbólicos e capital social; quanto pela midiatização das demais instituições, que passam a agir utilizando meios e estratégias típicas da instituição midiática (HJARVARD, 2012). Em cada contexto em que a midiatização se manifesta, entra em cena um conjunto de características materiais do meio em questão que, de algum modo, condicionam seus usos potenciais. Ao entender os meios em seu caráter institucional, o autor atribui a eles o papel de agentes de transformação cultural e social.
A proposta de que alguns meios atuam apenas na mediação, enquanto outros têm maior potencialidade para agir na transformação social e cultural (institucionalmente), remete à distinção entre meios de distribuição e meios que, para além desta função, desempenham o papel de sistemas ou protocolos culturais (JENKINS, 2008). As tecnologias de distribuição, como CDs, MP3 e fitas cassete, seriam, nessa perspectiva, ferramentas usadas para acessar conteúdo. Elas tornam-se obsoletas com a chegada de novas tecnologias, sendo substituídas. Os meios de comunicação entendidos como sistemas culturais, ou protocolos5, por
Legitimação das organizações midiáticas no ecossistema digital
66
outro lado, são formados não apenas pela tecnologia, mas por práticas que se estabelecem ao redor da tecnologia e, portanto, dificilmente morrem.
Pode-se dizer que, ainda que mude o modo como a televisão é distribuída ou consumida, ela continua a operar dentro do ecossistema midiático enquanto protocolo cultural, por exemplo. Ela não foi substituída pelo computador ou pelos smartphones, mas convive com eles por meio de relações complexas. Esses meios de função sociocultural ampla integram de modo mais perene a instituição da mídia. Na vigência do sistema analógico e massivo, podem-se considerar instituições midiáticas a imprensa, o rádio e a televisão que, juntos, constituíram, ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX, a instituição midiática moderna (THOMPSON, 2008). Cada instituição é formada pelas organizações (emissoras, editoras, veículos de comunicação) que dela fazem parte e a materializam, atualizando seus valores, hábitos e normas (CARVALHO; BARICHELLO, 2011).
Desde o estabelecimento da televisão como principal medium da era massiva, o ecossistema midiático mantinha-se relativamente equilibrado por pelo menos 50 anos, passando atualmente por uma mudança de paradigma acelerada pelas tecnologias digitais e em rede (CANAVILHAS, 2011). No entanto, essa mudança de paradigma cultural não ocorre de modo abrupto, mas desenvolve-se gradualmente.
A ideia de um período de transição, conforme pensado por Santaella (2003), indica que entre a era hegemônica da televisão e o advento da cultura digital, tecnologias de uso individual, decentralizado e não padronizado (TV a cabo, videocassete, walkman, fotocopiadoras, videojogos e os primeiros computadores portáteis) instabilizaram a lógica vigente da cultura de massas, introduzindo o que a autora denomina “cultura das mídias”. Essa nova era cultural, marcada pela transformação do receptor passivo em usuário, teria preparado o terreno para a chegada das tecnologias digitais em rede, que configuraram, por meio de apropriações tecnossociais, a cultura digital ou cibercultura.
No entanto, foi com a chegada da tecnologia digital que se tornou possível esta maior participação dos usuários que passaram a produtores de conteúdo (JENKINS, 2008). Com as mídias digitais e seus usos e apropriações, o ecossistema midiático tem visto florescer, constantemente, novos ambientes marcados por lógicas bastante distintas daquelas que foram instituídas pelos meios anteriores.
Desta vez, os novos meios carregam em si uma grande potência para a criação, por meio de práticas interacionais, de ambientes culturais distintos. É o caso das mídias e redes sociais digitais que surgem com uma velocidade espantosa a cada temporada impactando no ecossistema como um todo com
Luciana Carvalho; Eugenia Barichello
67
suas potencialidades voltadas a uma comunicação mais participativa e reticular. Não são simplesmente meios de distribuição, funcionando muito mais como protocolos culturais que alteram todo o ecossistema midiático.
O ECOSSITEMA MIDIÁTICO DIGITAL
As organizações midiáticas, constituídas no entorno cultural e institucional dos meios de comunicação, que até então funcionaram sob a lógica do sistema de massas, passam a operar, na era digital, em conformação com uma nova ambiência. No ecossistema massivo, analógico, a TV desempenhou um papel de metáfora do sistema, sendo sua matriz dominante, hegemônica. Pensando na perspectiva ecológica, os jornais e o rádio, depois dela, não foram mais os mesmos.
Esse predomínio matricial da cultura televisiva manteve-se praticamente inabalável no ecossistema de massas. Mesmo reconhecendo com Santaella (2003) que, nos anos 1990, meios técnicos de comunicação voltados para o consumo individual e segmentado alteraram a cultura massiva do consumo, do ponto de vista institucional pode-se dizer que não houve grandes alterações. A lógica de funcionamento e transmissão de conteúdo continuou a mesma, em sentido único e linear, da esfera da produção para o público.
Com a tecnologia digital e a convergência de mídias é que ocorrem as grandes transformações no ecossistema midiático, pois as “novas tecnologias midiáticas permitiram que o mesmo conteúdo fluísse por vários canais diferentes e assumisse formas distintas no ponto de recepção” (JENKINS, 2008, p. 36). A ideia vai contra a noção de que a convergência seria um processo meramente tecnológico. Durante muito tempo, essa foi a concepção corrente de convergência. O pensamento era de que a tecnologia digital acabaria com os meios massivos de comunicação e se realizaria em um único aparelho, capaz de reunir todas as funções da mídia (a denominada falácia da caixa preta).
A título de exemplo, pode-se afirmar que, ainda que mude o modo como a televisão é distribuída ou consumida na atualidade, ela continua a operar dentro do sistema midiático enquanto protocolo cultural. Ela não foi substituída pelo computador ou pelos smartphones, mas convive com eles por meio de relações complexas.
Cada antigo meio foi forçado a conviver com os meios emergentes. É por isso que a convergência parece mais plausível como uma forma de entender os últimos dez anos de transformações dos meios de comunicação do que o
velho paradigma da revolução digital6. Os velhos meios de comunicação não
Legitimação das organizações midiáticas no ecossistema digital
68
estão sendo substituídos. Mais propriamente, suas funções e status estão sendo transformados pela introdução de novas tecnologias (JENKINS, 2008, p. 39).
Com as transformações no ecossistema midiático, tem sido ampliada em estudos mais recentes a noção de evolução ecológica, relacionada às possibilidades de que os meios extingam-se, sobrevivam, evoluam ou hibridizem-se no processo de busca de equilíbrio, semelhante ao que ocorre em ambientes naturais. No sistema dos meios de comunicação, atualmente, hibridizações e coevoluções desenvolvem-se como dois lados de um mesmo fenômeno, que pode ser observado através do estudo das interfaces (SCOLARI, 2012).
São essas transformações nos meios que marcam a atual cultura da convergência, na qual, além de mudanças tecnológicas, ocorre uma transformação cultural promovida tanto pela tecnologia quanto pela participação dos consumidores e usuários. A convergência é pensada como um processo que altera a relação entre meios existentes, indústrias, mercados, gêneros e públicos, assim como a lógica de funcionamento da indústria midiática e o modo como os consumidores processam informações e entretenimento, relacionam-se com as organizações da mídia e como estas reagem a públicos cada vez mais participativos. Apesar de uma maior liberdade, não só de consumo como de produção de conteúdo, as corporações midiáticas adaptam-se à convergência e tentam, o tempo todo, controlar este novo sistema de circulação por (JENKINS, 2008).
Isso ocorre porque a lógica de circulação de informações se transforma, deixando de ser centralizada nas tradicionais instituições de mediação, como a mídia, promovendo uma deslegitimação dos campos de conhecimento (LYOTARD, 2000) e incidindo nos processos de intermediação do saber (LÉVY, 1998).
Como também já havia diagnosticado há mais de 10 anos Martín-Barbero (2000, p. 55), ingressamos em uma era em que “[...] o saber é disperso e fragmentado e pode circular fora dos lugares sagrados nos quais antes estava circunscrito e longe das figuras sociais que antes o administravam”. Diante deste quadro, as organizações que fazem parte do ecossistema midiático são levadas a repensar suas estratégias e a desencadear novos processos estratégicos, visando manter ou reconquistar sua legitimação social.
A metáfora do ecossistema ganhou fôlego nesta década, a partir, principalmente, da chegada dos blogs, identificados pelo campo acadêmico da comunicação como uma nova espécie, que logo passou a se relacionar de maneira simbiótica com os meios mainstream (BOWMAN; WILLIS, 2005; DEUZE, 2006;
Luciana Carvalho; Eugenia Barichello
69
LASICA, 2003). Além dos blogs, outros meios típicos da era digital agregam-se ao ecossistema, fazendo emergir um novo ambiente que transforma a relação entre os meios.
The ‘organisms’ in our media ecosystem include broadcast and narrowcast television, movies, radio, print and the internet (which itself encompasses the web, email and peer-to-peer networking of various kinds). For most of our lives, the dominant organism in this system – the one that grabbed most of the
resources, revenue and attention – was broadcast TV (NAUGHTON, 2006)7.
Atualmente, as novas espécies são representadas, no ecossistema midiático, pelos serviços digitais de mídia e rede social. Junto com os blogs, essas mídias estão permeadas pela colaboração dos participantes, fundando uma nova forma de habitar que, “[...] resulta numa concepção e numa cultura de um novo tipo de ecologia que compreende tanto os elementos orgânicos como aqueles tecnoinformativos” (DI FELICE, 2011). Daí a ênfase que a perspectiva ecológica tem dado à materialidade dos meios (BRAGA, 2008; HANKE, 2005).
A partir de uma perspectiva evolutiva, no entanto, o ecossistema digital não surge repentinamente, sendo caudatário de um processo gradual de conformação que tem início na era da comunicação de massa. A digitalização permite a convergência, que passa a organizar o sistema no modelo reticular em que se desenvolve. A internet e as mídias digitais alargam o ecossistema, promovendo ou potencializando as relações entre meios e organizações midiáticas através de processos de convergência empresarial, profissional, de conteúdo e social que não seriam possíveis em outras épocas (CARDOSO, 2010).
A novidade em relação a outros períodos em que novos meios entravam em cena é que, com a digitalização, o papel de mediação deixa de ser exclusivo das organizações midiáticas, em função do protagonismo e empoderamento de que gozam os interagentes. No momento presente, o modelo antigo não morreu, mas vê emergir uma ambiência que lhe invade por todos os lados, podendo ser caracterizada, de acordo com Cardoso (2010), pela fusão da comunicação interpessoal com a comunicação de massas, sob uma mesma matriz de mídia em rede.
A concepção é alinhada à tipologia desenvolvida por López García (2005), pela qual os meios podem ser classificados em “meios de comunicação interpessoal” - marcados pela lógica horizontal e participativa da comunicação; e “meios de comunicação coletiva” - caracterizados pelo seu aspecto institucional.
Legitimação das organizações midiáticas no ecossistema digital
70
Esse tipo de classificação proposto pelos autores, no entanto, torna-se, ao longo dos anos, cada vez menos eficaz, diante do fato de que as organizações se utilizam de estratégias de comunicação interpessoal para se comunicar com seus públicos e se legitimar, ao mesmo tempo em que, em uma sociedade midiatizada, atores individuais lançam mão de estratégias típicas dos meios massivos para conquistar reputação e prestígio. Em um cenário de cultura da convergência, borram-se as fronteiras entre comunicação interpessoal e institucional ou massiva. Nem tudo que vem das organizações é massivo; assim como, nem tudo que é produzido pelo público é interpessoal.
Para ficarmos nas materialidades, um exemplo é a transformação do papel dos aparelhos celulares no ecossistema de mídias, que nos dias de hoje, com a tecnologia de comunicação interpessoal, transformou-se em meio multifuncional altamente disputado nas estratégias de comunicação de qualquer organização, sobretudo das organizações midiáticas.
Assim, a convergência para Jenkins (2008), ao invés de realizar o antigo mito de que um único aparelho seria responsável pela comunicação, está se realizando na onipresença das mídias na vida contemporânea e em transformações que ocorrem não só na tecnologia, mas nas formas de se produzir e consumir os meios, inclusive nas transformações nos padrões de propriedade dos meios de comunicação (indústrias do cinema produzindo games, redes de televisão apostando na internet e assim por diante) e no modo como a vida privada está sendo invadida pela mídia (vida pessoal mediada pelas redes sociais da internet, por exemplo).
Trata-se de um processo que ocorre não apenas de baixo para cima (do público consumidor para as corporações), mas que inclui o contrário, com estratégias das corporações em direção ao público. Muitas vezes esse duplo processo consiste em um fortalecimento de ambas as partes, em que os dois lados saem ganhando, em outros casos a relação é tensa e vira conflito de interesses (JENKINS, 2008).
Diante de um público participativo, as corporações dividem-se entre encorajar esse comportamento e reprimi-lo, ocasionando uma confusão para os consumidores, que não sabem que tipo de participação as corporações da mídia desejam e estão dispostas a incentivar. Com relação ao processo de legitimação dessas organizações, institucionalizadas na lógica do sistema massivo, os desafios são ainda maiores, questão essa que será discutida na seção seguinte.
Luciana Carvalho; Eugenia Barichello
71
O DESAFIO DA LEGITIMAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES MIDIÁTICAS NO ECOSSISTEMA DIGITAL
A reconfiguração do ecossistema midiático, trazida pela era digital e a cultura da convergência, interfere na lógica pela qual as organizações da mídia se legitimam. O processo de legitimação, entendido como os modos (práticas e discursos) pelos quais as organizações (enquanto manifestações da instituição midiática) se justificam perante seus públicos e a sociedade, não pode mais se dar em uma lógica de comunicação linear, unidirecional, massiva (BARICHELLO, 2008).
A partir da teoria da estruturação proposta por Anthony Giddens, Hjarvard (2012) compreende que as instituições funcionam por meio de dois elementos centrais – regras e alocações de recursos. Assim, os meios de comunicação, enquanto instituições (ou ambientes culturais), são guiados por essas regras e mobilizam os recursos que a esfera institucional lhes oferta. É nessa perspectiva que entendemos o impacto dos meios digitais no macrossistema midiático, assim como as transformações que a conformação de um ecossistema digital opera nas instituições sociais como um todo e, sobretudo, na mídia e nas organizações que dela fazem parte. Como a legitimação se dá por meio de práticas e discursos de ordem institucional, as estratégias desta ordem são afetadas diretamente.
Através da prerrogativa de autoridade moral, uma instituição trabalha em prol de sua própria legitimidade (BERGER; BERGER, 2004). No caso da mídia, as organizações buscam essa legitimação por meio de discursos e práticas de reforço de seu papel de mediação – seja ele exercido na área da informação jornalística ou do entretenimento. O discurso autorreferencial presente em alguns produtos da mídia é um exemplo, assim como estratégias de visibilidade empreendidas pelas organizações que, ao passarem necessariamente pelo palco da própria mídia, também representam práticas autorreferentes.
Alguns dos recursos com os quais a instituição midiática atua em relação aos indivíduos, e outros campos institucionais, são da ordem da visibilidade, da credibilidade e da legitimidade (WEBER; PEREIRA; COELHO, 2006). Ainda que os autores estejam especificamente referindo-se à relação entre os campos da mídia e da política, é natural a ampliação para a sociedade como um todo, sobretudo em um cenário de midiatização.
Os atores sociais disputam o espaço da mídia porque precisam do poder simbólico que só esta instituição detém a partir da era moderna. O regime de visibilidade da cultura de massas confere à mídia o poder de conceder efeitos
Legitimação das organizações midiáticas no ecossistema digital
72
de realidade, concedendo credibilidade e legitimidade às práticas sociais que media. Esses recursos são mobilizados internamente pela própria mídia em suas estratégias de Relações Públicas, Propaganda e Marketing, invadindo o próprio conteúdo informativo e de entretenimento das organizações.
Esses, no entanto, são processos típicos de um paradigma massivo de comunicação midiática que não mais dão conta da complexidade da comunicação no ecossistema midiático digital. Estar visível não basta para conquistar legitimidade ou credibilidade. No atual ecossistema, marcado pela cultura da convergência, é esperado das organizações que elas participem da conversa, instiguem a inteligência coletiva e apropriem-se das potencialidades dos diferentes meios tecnológicos, desencadeando a convergência midiática em toda a sua plenitude, seja distribuindo conteúdo por diferentes plataformas, ingressando em novos segmentos da informação e do entretenimento através da promoção de narrativas transmídia, perpassando todas as esferas do ecossistema digital.
Uma competente utilização dessas possibilidades indica um caminho para que as organizações da mídia não se diluam em um ambiente tecnossocial permeado de novos atores - cada vez mais participantes e midiatizados, mas que mantenham seu papel social de produção, mediação, distribuição do conhecimento, que perpassa o campo jornalístico e do entretenimento, sem, no entanto, ignorar ou menosprezar o papel que os demais atores desempenham neste cenário.
A noção de matriz cultural (MEYROWITZ, 1985) é importante para a compreensão do ecossistema midiático. No sistema digital, é dinamizado um processo de hierarquização em que os usuários atribuem, aos diferentes meios, níveis distintos de importância em seus processos de consumo midiático. Apesar da descentralização que o ecossistema digital promove, mecanismos de hierarquização permanecem nas práticas de consumo e participação dos usuários que atribuem diferentes graus de importância aos meios com os quais se relacionam.
A relevância do que se consome ainda depende de algumas qualidades que o produtor-distribuidor de conteúdos deve apresentar ao consumidor. Este é um dos aspectos nos quais as organizações ainda detêm maior controle e que pode ser usado estrategicamente nos discursos e práticas que visam à sua legitimação institucional, especialmente, quanto se trata de organizações informativas.
A perspectiva ecológica pode ajudar a compreender o papel das organizações de mídia neste complexo e multimidiático ecossistema de matriz digital, já que permite observar as mudanças sem determinismos técnicos e sem que o todo deixe de ser levado em conta.
Luciana Carvalho; Eugenia Barichello
73
A organização da mídia, que já reinou absoluta no paradigma anterior, passaria a ser, nesta perspectiva ecológica, apenas parte de um ecossistema midiático formado por outras instituições sociais (obra da midiatização); atores individuais e coletivos (midiatizados por meio da cultura da participação); tecnologias de distribuição de informação, meios de comunicação interpessoal e coletiva (por meio da convergência midiática).
A importância que terá depende também das estratégias que irá adotar, visando reforçar sua legitimidade e demonstrar sua importância em um mundo de excesso de informação, em que a comunicação muitas vezes é deixada de lado. Tomar para si este papel de oferecer informação de qualidade e mediar a conversação entre os seus públicos, no fomento a uma inteligência coletiva que amplifique a força social deste ecossistema digital, tem sido um de seus possíveis desafios.
NOTAS
1 Tradução nossa: “[...] um meio é uma tecnologia na qual uma cultura cresce; quer dizer, ele dá forma à política, organização social e modos de pensar de uma cultura”.
2 Tradução nossa: “[...] devemos reconhecer que foi McLuhan quem atualizou e integrou em um enfoque único as propostas de alguns precursores como Lewis Mumford, Sigfried Giedion, Harold Innis e Eric Havelock. McLuhan não cansava de insistir que os meios formam um ambiente sensorial (um medium) no qual nos movemos como um peixe na água; não nos damos conta de sua existência até que, por algum motivo, deixamos de percebê-los. Sua ecologia está totalmente voltada para as percepções dos sujeitos: os homens modelam os instrumentos de comunicação, mas, ao mesmo tempo, esses os remodelam”.
3 A ideia de quem nem todos os meios constituem essa ambiência cultural e institucional pode ser depreendida de algumas passagens da obra de McLuhan e Postman. Um exemplo é o trecho encontrado em Postman (2000): “No caso dos meios que geram ambientes (por exemplo os livros, a rádio, o cinema, a televisão, etc.) [...]”, em que fica claro que nem todos os meios teriam essa capacidade. No entanto, entendemos que qualquer meio técnico introduz novos hábitos e carrega em si potencialidade para mudar nossa cognição e nossos modos de pensar e viver o mundo.
Legitimação das organizações midiáticas no ecossistema digital
74
4 Conceito proposto por Gibson (1979 apud HJARVARD, 2012, p. 66).
5 Conforme pensado por Gitelman (apud JENKINS, 2008).
6 O autor refere-se a autores como Nicholas Negroponte que, nos anos 1990, vislumbravam um futuro em que a tecnologia digital iria solapar os meios massivos (apud JENKINS, 2008).
7 Tradução nossa: “Os ‘organismos’ no nosso ecossistema midiático incluem televisão broadcast e narrowcast, cinema, rádio, imprensa e internet (que por si só engloba a web, e-mail e redes peer-to-peer de vários tipos). Na maior parte de nossas vidas, o organismo dominante neste sistema - aquele que pegou a maioria dos recursos, receitas e atenção, foi a TV broadcast. Este ecossistema é o ambiente de mídia em que a maioria de nós cresceu. Mas ele está em processo radical de transformação”.
REFERÊNCIAS
BARICHELLO, E. M. M. R. Apontamentos em torno da visibilidade e da lógica de legitimação das instituições na sociedade midiatizada, In: DUARTE, E. B.; CASTRO, M. L. D. de (Org.). Em torno das mídias: práticas e ambiências. Porto Alegre: Sulina, 2008, p. 236-68.
BERGER, L. BERGER, B. O que é uma instituição social? In: FORACCHI, M. MARTINS, J. S. Sociologia e sociedade: leituras de introdução à sociologia. Rio de Janeiro: LTC, 2004. p. 163-8.
BOWMAN, S.; WILLIS, C. The future is here, but do news media companies see it? Nieman Reports, vol. 59, no. 4, p. 6-10, 2005. Disponível em: <http://www.nieman. harvard.edu/reports/article/100558/The-Future-Is-Here-But-Do-News-Media-Companies-See-It.aspx>. Acesso em: 14 abr. 2009.
BRAGA, A. Ecologia da Mídia: uma perspectiva para a comunicação. In: XXXI Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Anais ..., Natal, 2008.
CANAVILHAS, J. El nuevo ecosistema mediático. Index Comunicación, vol. 1, p. 13-24, 2011.
Luciana Carvalho; Eugenia Barichello
75
CARDOSO, G. Da comunicação em massa à comunicação em rede: modelos comunicacionais e a sociedade de informação. In: MORAES, Denis (org.). Mutações do visível: da comunicação de massa à comunicação em rede. Rio de Janeiro: Pão e Rosas, 2010. p. 23-52.
CARVALHO, L. M.; BARICHELLO, E. M. M. R. Estratégias emergentes de legitimação institucional nas mídias sociais digitais: apropriações do Twitter por uma organização jornalística. In: GT Comunicação em Contextos Organizacionais do XX Encontro da Compós. Anais... UFRGS, Porto Alegre, junho de 2011. Disponível em: <http://www.compos.org.br/data/biblioteca_1633.pdf>. Acesso em: 22 set. 2012.
DEUZE, M. Liquid Journalism. Political Communication Report, 6(1), March, 2006. Disponível em: <https://scholarworks.iu.edu/dspace/bitstream/handle/2022/3202/ Deuze %20Liquid%20Journalism%202006.pdf?sequence=1>. Acesso em: 15 out. 2011.
DI FELICE, Massimo Pós-complexidade: as redes digitais vistas a partir de uma perspectiva reticular. Instituto Humanitas Unisinos. Entrevista especial (2011). Disponível em: <http://www .ihu.unisinos.br/entrevistas/500515-pos-complexidade-as-redes-digitais-vistas-a-partir-de-uma-perspectiva-reticular-entrevista-especial-com-massimo-di-felice>. Acesso em: 27 jan. 2012.
GARCÍA, G. L. Modelos de medios de comunicación en internet: desarollo de una tipología. In: GARCÍA, G. L. (ed.) El ecosistema digital: modelos de comunicación, nuevos medios y público en internet. Valencia: Servei de Publicacions de la Universitá de València, 2005. p. 55-85.
HANKE, M. M. Materialidade da Comunicação - um conceito para a ciência da comunicação? In: XXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. Anais... Intercom, Rio de Janeiro, 2005.
HJARVARD, Stig. Midiatização: teorizando a mídia como agente de mudança social e cultural. Matrizes, ano 5, n. 2, jan/jun., 2012.
JENKINS, H. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2008.
Legitimação das organizações midiáticas no ecossistema digital
76
LASICA, J. D. Blogs and Journalism Need Each Other. Nieman Reports, Fall 2003, p. 70-4. Disponível em: <http://www.nieman.harvard.edu/reportsitem.aspx?id=101042>. Acesso em: 12 ago. 2009.
LÉVY, P. A Revolução contemporânea em matéria de comunicação. Trad. Juremir Machado da Silva. Revista FAMECOS, Porto Alegre, n. 9, dez., 1998.
LYOTARD, J. F. A condição pós-moderna. 6. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2000.
LOGAN, Robert K. Figure/Ground: Cracking the McLuhan Code. E-Compós, Brasília, v.14, n3, set/dez, 2011. Disponível em: <www.e-compos.org>. Acesso em: 29 jun. 2012.
MARTÍN-BARBERO, J. Desafios culturais da comunicação à educação. In: Comunicação & Educação, São Paulo, 181, p. 51-61, maio/ago., 2000.
MCLUHAN, M. The Gutenberg Galaxy: the making of typographic man. Toronto: University Toronto Press, 1962.
_______. Understanding Media: the extensios of man. New York: New American Library, 1964.
_______. Entrevista com Marshall McLuhan. L’Express, fev. 1972. In: E-compós, Brasília, v.14, n.3, set./dez. 2011. Entrevista. Trad. Débora Fleck. Disponível em: <http://www.compos.org.br/seer/index.php/e-compos/article/viewFile/778/544>. Acesso em: 12 set. 2012.
MEA. Media Ecology Association. What is media ecology? Disponível em: <http://www. media-ecology.org/media_ecology/index.html>. Acesso em: 16 jun. 2012.
MEYROWITZ, J. No sense of place: the impact of electronic media on social behavior. Nova York: Oxford University Press, 1985.
NAUGHTON, J. Blogging and the emerging media ecosystem. Universidade de Oxford, 8, nov., 2006. Disponível em: <http://reutersinstitute.politics.vox.ac.uk/ fileadmin/ documents/ discussion/blogging.pdf>. Acesso em: 16 jun. 2012.
Luciana Carvalho; Eugenia Barichello
77
POSTMAN, N. The Humanism of Media Ecology. (2000). Online. Disponível em: <http://www.media-ecology.org>. Acesso em: 16 jun. 2012.
SALARELLI, A. Relendo o último capítulo de Understanding media. Um tributo a Marshall McLuhan no centenário de seu nascimento. InCID, 2(2), p. 3-18. jul./dez. 2011.
SANTAELLA, L. Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura. São Paulo: Paulus, 2003.
SCOLARI, C. A. Ecología de los medios. Mapa de un nicho teórico. Quaderns del CAC, vol. XIII, n. 1, p. 17-25, jun. 2010.
_______. Media Ecology: Exploring the Metaphor to Expand the Theory. Comunication Theory, vol. 22. p. 204-25, 2012.
STRATE, Lance. A Media Ecology review. A Quarterly Review of Communication Research, vol. 23, n. 2, 2004. Disponível em:<http://cscc.scu.edu/trends/v23/v23_ 2>. Acesso em: 12 jun. 2012.
THOMPSON, J. B. A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia. Petrópolis: Vozes, 2008.
WEBER, M. H.; PEREIRA, M.; COELHO, M. O voto, a rua e o palco: questões sobre comunicação e política. Comunicação & Sociedade, v. 1, p. 13-32, 2006.
AUTORAS
Luciana Menezes Carvalho: Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação Midiática da Universidade Federal de Santa Maria (POSCOM-UFSM). Professora assistente no Centro Universitário Franciscano (UNIFRA). E-mail: [email protected].
Eugenia Mariano da Rocha Barichello: Doutora em Comunicação e Cultura (UFRJ). Professora titular e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Midiática da Universidade Federal de Santa Maria (POSCOM-UFSM). Bolsista em Produtividade e Pesquisa CNPq. E-mail: [email protected].
Legitimação das organizações midiáticas no ecossistema digital
O artigo busca explorar algumas questões teóricas relacionadas à ecologia das mídias nas redes sociais digitais, estendendo a Teoria Tetrádica de McLuhan (MCLUHAN; MCLUHAN, 1988) ao estudo do Facebook.
Partindo de uma perspectiva ecológica da mídia, visamos entender a dinâmica das redes sociais digitais no contexto sócio-cultural-tecnológico da sociedade contemporânea, observando como, ou se, a Teoria Tetrádica de McLuhan (MCLUHAN; MCLUHAN, 1988) pode ser aplicada nesse cenário. Como objeto de estudo desse fenômeno, utiliza-se o Facebook, que atualmente abriga a maior rede social do mundo (UOL, 2012). Para isto, foi desenvolvida uma pesquisa de cunho teórico-analítico com a observação de campo qualitativa, que Johnson (2010, p. 63) tipifica como encoberta e não participativa, ou seja, “representa a situação em que a função do pesquisador é apenas observar, mas os sujeitos sob observação não sabem que estão sendo estudados”.
Em um primeiro momento, são discutidas algumas abordagens sobre a Ecologia da Mídia, assim como o desenvolvimento teórico desse conceito e destacadas algumas extensões da metáfora ecológica propostas por Scolari (2012). Em seguida, apresentamos as mídias sociais, especialmente o site de rede social Facebook1, e algumas particularidades de uso. Na sequência, abordamos uma noção funcional às condições da era digital, proposta por McLuhan, publicada postumamente (em coautoria com Eric McLuhan), que é a Teoria Tetrádica, também conhecida por Leis da Mídia. E, para encerrar, propõe-se aplicar a Teoria Tetrádica ao site de rede social Facebook e, de certa forma, estendendo-a, já que a aplicação se dá em novos suportes e ambiências.
Taís Steffenello Ghisleni Eugenia Mariano da Rocha Barichello
Ecologia das mídias nas redes sociais digitais: estendendo a Teoria Tetrádica de McLuhan ao estudo do
80 Taís Ghisleni; Eugenia Barichello
ECOLOGIA DAS MÍDIAS
A metáfora ecológica começou a ser utilizada no contexto da comunicação na década de 1960 por Neil Postman e Marshall McLuhan. Scolari (2010) explica que, em 1970, Postman fundou o programa de Ecologia da Mídia na Universidade de Nova York, mas relata que as reflexões sobre o termo ecológico também são oriundas de vários outros pensadores considerados pioneiros da ecologia da mídia, como: Walter Ong Harold Innis, Jacques Ellul e Lewis Mumford (SCOLARI, 2010).
Hjarvard (2012, p. 60) comenta que existem semelhanças entre a ecologia dos meios de comunicação (também conhecida por teoria do meio) e a teoria da midiatização, já que ambas “optam por observar o impacto dos meios de comunicação em uma perspectiva global e centram-se em outros aspectos que não somente o conteúdo e a utilização destes – enfoques que, por sua vez, têm ocupado grande parte da pesquisa sobre a comunicação de massa”. O autor acrescenta que essas teorias se equivalem quando são observadas as diferentes formatações dos meios de comunicação e seus impactos, especialmente sobre as relações interpessoais a que dão origem.
Scolari (2012a) afirma que a metáfora ecológica, quando aplicada ao contexto da comunicação, oferece suporte a duas interpretações. Na primeira, os meios de comunicação constituem um ambiente; e, na segunda, os meios de comunicação estabelecem relações entre si e também com os assuntos que fazem parte do seu ecossistema. Ambas as abordagens estão presentes nas obras de Marshall McLuhan e Neil Postman e de outros pioneiros da ecologia de mídia. Com relação à primeira abordagem, também Dramali (2010) percebe a ecologia da mídia a partir da ótica da mídia enquanto ambiente, e considera que “tal ambiente nos impõe papéis e nos dita o que é permitido ou não fazer. Através de seus estudos, a ecologia da mídia busca tornar explícitas as especificações do ambiente da mídia, que são implícitas” (DRAMALI, 2010, p. 4).
No entanto, para Scolari (2010), a segunda interpretação ainda não foi suficientemente explorada. Pois, se pensarmos que os meios de comunicação são espécies vivendo em um ecossistema, surgirá uma série de perguntas que ainda precisam ser respondidas pela comunidade científica, como por exemplo: “A atual explosão das novas mídias pode ser considerada um exemplo de equilíbrio pontuado, ou um aparecimento súbito de novas espécies?”2 (SCOLARI, 2010, p. 1, tradução livre das autoras).
Scolari (2012a) propõe expandir a metáfora ecológica baseado em três conceitos: evolução, interface e hibridização. Para ele, o conceito de evolução:
81
Cria uma forte estrutura teórica para o estudo da história dos meios de comunicação, e surge como um tema importante para estudos científicos de ecologia da mídia. Aplicando a metáfora evolutiva as conversas teóricas sobre ecologia da mídia são enriquecidas, e incluem novos conceitos. Além disso, dentro desse contexto, pesquisadores de mídia poderiam repensar toda a história da comunicação tecnologicamente mediada para identificar e analisar momentos específicos caracterizados por meios de extinção ou
explosões de novas mídias3 (SCOLARI, 2012a, p. 218, tradução livre).
O conceito de interface pode ser considerado como a unidade mínima de análise para ecologia da mídia. Scolari (2012) explica que este conceito é flexível e pode ser aplicado tanto em análises macro como micro e se constitui em uma categoria importante para os pesquisadores de mídia que desejem desenvolver pesquisas interdisciplinares. O autor lembra ainda que, como a esfera contemporânea da mídia é caracterizada pelo surgimento de novas mídias interativas, a relação entre homens e máquinas é uma boa opção de estudo.
Colocar o conceito de interface no centro do discurso teórico da Ecologia das Mídias significa reforçar e destacar a dialética complexa entre indivíduos, a mídia, e as forças sociais, e erradicar a mesmo tempo, qualquer possibilidade
de determinismo4 (SCOLARI, 2012a, p. 219 tradução livre).5
Scolari (2012) explica que “o conceito de interface é a chave para analisar os espaços onde expressar diferentes relações entre indivíduos e meios de comunicação e mídia entre si. É nas interfaces onde a evolução do ecossistema de mídia inteira é colocada em jogo”. E, por fim, a análise de hibridização da mídia é fundamental para a compreensão do surgimento de novas espécies6 e também para estudar os processos de convergência (SCOLARI, 2012a).
Percebe-se que as contribuições de Scolari (2012a) estão em inserir o conceito de interface no centro da abordagem ecológica das mídias; a proposta de considerar a história da mídia a partir de uma perspectiva evolutiva que inclui categorias como os meios de extinção, sobrevivência, equilíbrio pontuado e coevolução7 da mídia. Complementando-as, observa-se ainda a proposta de expandir interlocutores da ecologia da mídia, incluindo na sociedade tecnológica outras abordagens baseadas na teoria da complexidade.
Se considerarmos o ecossistema de mídia como uma rede de tecnologias, incluindo os produtores, consumidores e as forças sociais, é possível imaginar produtivas conversas teóricas, com os interlocutores ou os estudiosos, focados
Ecologia das mídias nas redes sociais digitais
82
na evolução da tecnologia e a emergência e complexidade das novas tecnologias (SCOLARI, 2012). Nesse sentido, as ações da comunicação acabam ecoando em toda a comunidade humana. Sandstrom (2011) considera que:
As extensões de nossas capacidades comunicacionais como seres humanos criam (novas) intensidades que nos atingem: estresse, pressões, características, aspectos, prós e contras, possibilidades entre nós. A maneira como as enfrentamos nos definirá, estejamos onde estivermos e seja qual for a visão de mundo que ecoa ao caminharmos em nossas jornadas comunicacionais, pessoais e coletivas, de vida humana... que se estende (SANDSTROM, 2011, p.17).
Scolari (2012) explica que a “chegada de novas espécies de mídia está transformando o ecossistema, forçando as espécies que habitam a sua adaptação para sobreviver”. Ressalta que é chegada a hora de ir além da mera descrição e começar a desenvolver ferramentas teóricas e metodológicas para o estudo aprofundado da ecologia de mídia. O autor informa ainda que a diferença entre antigos e novos meios de comunicação não é um fato teoricamente importante, já que os “novos” meios de comunicação de hoje, serão os “velhos” de amanhã.
Nesse contexto, McLuhan e Constantineau (2010), citados por Sandstrom, (2011, p.17), complementam que “a cultura global funciona como um ambiente, ou seja, um meio cultural no qual todas as linguagens, costumes e ferramentas crescerão e se adaptarão”.
MÍDIAS SOCIAIS E A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
Estamos vivendo um momento de grandes mudanças na sociedade e a internet é uma das responsáveis por esse fenômeno, já que é capaz de romper barreiras de tempo e espaço, trazendo inúmeras mudanças para a vida social. Uma das mais significativas, segundo Recuero (2011), é a possibilidade de expressão e sociabilização através das ferramentas de comunicação mediadas pelo computador. Ferramentas essas que constroem, interagem e comunicam pessoas com o mundo, dando assim espaço para as chamadas mídias sociais. Telles (2010, p. 17) corrobora afirmando que “as mídias sociais fazem parte de uma revolução poderosa, influenciam decisões, perpetuam ou destroem marcas e elegem presidentes”.
Ocorre com certa frequência, uma confusão entre os termos utilizados para designar os objetos utilizados no ambiente digital. Gabriel (2010) informa que a confusão acontece especialmente entre plataformas e tecnologias com estratégias. A autora explica que as páginas digitais, e-mail, realidade aumentada
Taís Ghisleni; Eugenia Barichello
83
e virtual, tecnologias móbile, redes sociais, plataformas de busca, displays digitais, games e conteúdos de entretenimento digital são considerados plataformas e tecnologias. Ela exemplifica:
O Orkut não é uma rede social, mas sim uma plataforma de rede social. A rede social se forma sobre a plataforma e pode até estar sobre outras plataformas também. Assim, uma pessoa ou empresa pode ter uma rede social em que seus membros estejam tanto no Orkut quanto no Facebook e no Twitter. Outro exemplo é o próprio Twitter. Ele não é estratégia nem rede social, mas apenas uma plataforma, e o modo como é usado determina as estratégias e a rede social que se forma nessa plataforma (GABRIEL, 2010, p.107).
Isto significa que é importante entender e diferenciar estes termos e conhecer seus benefícios, para que os estrategistas consigam combinar adequadamente as plataformas/tecnologias ao desenvolver suas estratégias digitais e atingir os objetivos propostos.
Gabriel (2010, p.202) comenta que muitas pessoas confundem redes sociais e mídias sociais, e explica que, “se por um lado, redes sociais relacionam-se a pessoas conectadas em função de um interesse comum, mídias sociais associam-se a conteúdos (texto, imagem, vídeo etc.) gerados e compartilhados pelas pessoas nas redes sociais”. A autora explica ainda que “tanto redes sociais como mídias sociais, em sua essência, não têm nada a ver com tecnologia, mas com pessoas e conexões humanas” (GABRIEL, 2010, p.202). Isto evidencia que a tecnologia está aí apenas para facilitar a interação entre as pessoas e o compartilhamento de conteúdos.
“O advento das mídias sociais trouxe como impacto mais evidente a fusão de papéis entre emissor e receptor, deixando fluido o pólo de emissão, e quebrando o padrão e a metodologia de produção da informação” (SAAD CORRÊA; LIMA, 2009, p. 2). Assim, pode-se afirmar que a internet é um meio que contempla a interação e traz novas possibilidades, o que acaba mudando os modos de relacionamento. Vale mencionar que as mídias sociais estão em uma constante mudança, cabendo aos usuários a atualização, criação e modificação dos seus perfis.
Saad Corrêa e Lima (2009, p. 9) comentam que:
[...] o usuário de redes sociais está conectado a uma diversidade de comunidades, utilizando ferramentas diversificadas em termos de complexidade, instantaneidade, tipo de conexão, possuindo habilidades de uso de textos, imagens estáticas e animadas. Nesse sentido ele é multi-
temático e multi-tarefa.
Ecologia das mídias nas redes sociais digitais
84
É o que Jenkins (2008, p.186) sinaliza, quando afirma que “cada vez mais consumidores estão gostando de participar de culturas de conhecimento on-line e de descobrir como é expandir a compreensão, recorrendo à expertise combinada das comunidades alternativas”.
Casaqui (2011) explica que a inclusão da experiência do público é uma tendência apontada por McLuhan, no contexto em que analisou a produção midiática, e tem se confirmado e aprofundado com o passar do tempo. Ainda mais quando consideramos a internet como suporte para a inclusão dos consumidores em processos colaborativos relacionados a produtos, serviços e ao próprio desenvolvimento da comunicação, que vai constituir a estética midiática da mercadoria. Observa-se que:
Se os antigos consumidores eram tidos como passivos os novos consumidores são ativos. Se os antigos consumidores eram previsíveis e ficavam onde mandavam que ficassem, os novos consumidores são migratórios, demonstrando uma declinante lealdade a redes ou a meios de comunicação
(JENKINS, 2008, p. 45).
Coerente com estas reflexões, Saad Corrêa e Lima (2009) apontam que o “consumidor de informação move-se de rede para rede, de comunidade para comunidade, acessando seus grupos sem distinção de suportes, ora por um celular de última geração, ora por meio de um tradicional desktop, ou em trânsito [...]”. Nesta mesma linha de pensamento, Casaqui (2011) entende que as mídias sociais digitais permitem aos sujeitos elaborarem sua produção de conteúdo com maior liberdade, abrindo espaços para sistemas colaborativos e estruturas anteriores a esses processos de flexibilização e interação mais amplos. O autor reforça que:
Os papéis vivenciados se alternam entre o produtor identificado com uma corporação e com um sistema produtivo específicos; profissionais mediadores que tem por função estabelecer conexões comunicacionais com usuários, fornecedores, públicos dos mais diversos (dos serviços agregados às mercadorias a papéis como ‘caçadores de tendências’ – cool hunters – e consultores de comportamento de grupos, comunidades, tribos, especialmente no que se refere às culturas juvenis); e até consumidores, que assumem a condição de coprodutores, prosumers, inseridos no processo produtivo como colaboradores (CASAQUI, 2011, p. 5, grifo do autor).
Taís Ghisleni; Eugenia Barichello
85
O autor informa ainda que muitas possibilidades retratam a compreensão das relações entre produtores e consumidores, e a sua sobreposição de papéis. E lembra que esta questão já foi destacada por McLuhan, “em sua leitura da sociedade de consumo, que estabelece a partir da informatização progressiva e a compressão das categorias de tempo e espaço que são decorrentes de convergências que hoje se consolidam em torno da mídia digital” (CASAQUI, 2011, p.5).
Percebe-se que este cenário está em constante transformação e, em decorrência disso, os consumidores atuais modificam seus modos de viver e agir diante das opções que o mercado oferece. Como conseqüência, emerge a “necessidade de conhecer, quase em tempo real, as preferências específicas de cada usuário/cliente em termos de notícias, entretenimento e outros tipos de conteúdo” (SAAD CORRÊA; LIMA, 2009, p.11).
Para dar continuidade a estas discussões, apresentam-se, a seguir, as particularidades do site de rede social Facebook, objeto de estudo deste artigo.
O uso do Facebook está em pleno crescimento no Brasil8. Em janeiro de 2012, a ComScore divulgou que, desde dezembro de 2011, o Facebook garantiu o primeiro lugar no mercado brasileiro, atingindo 36,10 milhões de usuários (Figura 1) (RADWANICK, 2012).
Figura 1 – Gráfico demonstrativo de usuários do Facebook e do Orkut no Brasil, entre dezembro de 2010 e dezembro de 2011
Fonte: Radwanick (2012)
Ecologia das mídias nas redes sociais digitais
86
Na sua página principal, o Facebook mostra as últimas atualizações dos contatos; e, em uma caixa, chamada mural, consta a pergunta – “No que você está pensando?” O site ajuda seus usuários a criar perfis que podem conter fotos e listas de interesses pessoais, assim como trocar mensagens privadas e públicas entre si e participantes de grupos de amigos.
O Facebook disponibiliza diversas ferramentas para os seus usuários e, entre elas, o que parece ser mais utilizado é o botão Curtir (Like). Entre outras várias opções disponíveis, destacam-se a possibilidade de adicionar grau de parentesco, a opção de cutucar, criar eventos, enviar vídeos, criar enquetes, fan pages, calendário para marcar eventos e formar grupos. Além disso, outras ferramentas surgem ao passo que a rede vai sendo utilizada e transformada pelos seus integrantes. Esta dinâmica está de acordo com o observado por Recuero (2011, p. 79) quando salienta que “uma rede social, mesmo na Internet, modifica-se em relação ao tempo. Não é estática, não está parada no tempo”.
Telles (2010) explica que o Facebook tem várias bases potenciais de marketing que merecem ser exploradas, entre as quais se destacam: criar um perfil, promover eventos, enviar mensagens, realizar pesquisas, participar de grupos de interesse, criar grupos de negócios, atribuir a uma agência digital o gerenciamento de sua página, criar estratégias de marketing, promover sua página no Facebook em outras plataformas e ligar os amigos do Facebook ao site de empresas na internet.
Telles (2010, p. 196) afirma que “qualquer criança pode criar um perfil em uma mídia social. Mas lembre-se: não basta apenas “estar” nas mídias sociais, deve-se estar estrategicamente, com responsabilidade e presença efetiva”. Para Braga (2007), é necessário ter e saber utilizar as circunstâncias materiais de apropriação do ambiente digital.
As atividades desenvolvidas na Internet são caracterizadas principalmente por sua natureza prática, condições de produção que envolvem as possibilidades de participação promovidas pelo suporte técnico, o uso do corpo, a inserção
da atividade dentro de um espaço físico (BRAGA, 2007, p. 10).
Braga (2007, p. 11) complementa sua afirmação explicando que “o acelerado avanço das tecnologias de telecomunicações demanda sofisticar o aparato teórico para investigar os fenômenos que estes processos originam uma perspectiva que inclua as dimensões materiais, históricas, econômicas e interacionais dos
Taís Ghisleni; Eugenia Barichello
87
processos”. Nesse sentido é que a perspectiva ecológica da mídia pode auxiliar no estudo de uma rede social na era digital, com base nas Leis da Mídia.
TEORIA TETRÁDICA
Braga (2007, p. 30) relata que “as principais idéias de McLuhan têm sido resgatadas para a compreensão da era virtual”, e salienta que uma das teorias que mais se aproxima da nossa realidade foi publicada postumamente, a Teoria Tetrádica. Essa Teoria foi publicada na obra Leis da mídia: a nova ciência e reúne as idéias de Marshall McLuhan (MCLUHAN; MCLUHAN, 1988).
Em uma grandiosa sistemática que leva toda linguagem, cultura aural e visual, tecnologia, relativização teórica e posicionamento a uma inspiradora mescla de gênio católico e fascínio místico científico. O meio é a mensagem e o método é o que importa em Leis da mídia (SANDSTROM, 2011, p. 4).
O autor constata que, para McLuhan, o termo “mídias” passou a ser usado de modo bastante amplo, incluindo tecnologias, artefatos e até palavras e teorias que podem ser analisadas sob a forma tetrádica singular de quatro efeitos.
Sandstrom (2011) sustenta que os quatro efeitos da Teoria Tetrádica estão em relação de complementaridade com as quatro causas de Aristóteles9 e “propiciam uma abordagem avaliativa interna de qualquer tópico teórico ao qual o participante (leitor) quiser aplicá-los”.
Assim, pode-se entender que as realizações humanas exibem quatro tipos de efeitos, que, juntos, absorvem todos os tipos de conseqüências que nós experimentamos. Neste sentido Braga informa que:
A teoria prevê quatro efeitos provenientes da inserção de um novo meio no contexto social: a amplificação ou o aumento de alguns aspectos da sociedade; o apagamento ou envelhecimento (obsolescência) de aspectos da mídia dominante antes da emergência do novo meio; a proeminência de aspectos tornados obsoletos previamente; e a revitalização de mídias em conseqüência do pleno desenvolvimento do potencial do novo meio
(BRAGA, 2006, p. 31).
Ecologia das mídias nas redes sociais digitais
88 Taís Ghisleni; Eugenia Barichello
McLuhan e McLuhan (1988) explicam que essas quatro propriedades devem ser pensadas simultaneamente (Figura 2).
Figura 2 - Tétrade 1 Leis da Mídia – Quatro Efeitos (1988)
Fonte: Sandstrom (2011, p. 5)
O primeiro efeito é o da Extensão, que Sandstrom (2011) indica como Melhora. Nesse efeito, os novos dispositivos são responsáveis pelo aperfeiçoamento do meio (ou de qualquer elemento), se comparado com o antigo. Logan (2001, p. 7) complementa que “todo meio, tecnologia ou artefato feito pelo homem acentua alguma função humana”.
Ao acentuar esta função, “causa a obsolescência de algum meio, tecnologia ou artefato anteriormente feito pelo homem, que antes era usado para cumprir a mesma função” (LOGAN, 2011, p. 7). Assim, pode-se dizer que a propriedade da Obsolescência ocorre quando novos elementos tornam elementos antigos ultrapassados, ou seja, quando uma característica de um veículo é ampliada ou explorada, outra é anestesiada (SANDSTROM, 2011).
“Ao cumprir sua função, o novo meio, tecnologia ou artefato feito pelo homem recupera alguma forma mais antiga do passado” (LOGAN, 2011, p.7). Com isso, o efeito da Recuperação indica que tudo o que é novo contém um elemento que já existia anteriormente, ou seja, o antigo é trazido de volta, de forma atualizada. Salienta-se que não se trata simplesmente de colocar em evidência o recurso antigo (SANDSTROM, 2011).
E a propriedade da Reversão acontece quando se tende a potencializar o novo até ele se transformar em outras coisas e suscitar novas questões em
89Ecologia das mídias nas redes sociais digitais
detrimento de outras. “E, quando levado longe o bastante, o novo meio, tecnologia ou artefato feito pelo homem se inverte, dá uma reviravolta, tornando-se uma forma complementar ou possivelmente oposta” (LOGAN, 2011, p. 7).
Logan (2011) informa que As Leis da Mídia podem ser consideradas um exemplo do uso que McLuhan faz da relação figura/fundo. Logan (2011) informa que McLuhan acreditava que:
Para entender o significado de uma figura, é preciso levar em conta o fundo no qual esta funciona e contra o qual está situada. O verdadeiro significado de qualquer ‘figura’ - seja esta uma pessoa, um movimento social, um tecnologia, uma instituição, um evento de comunicação, um texto ou um corpo de ideias - só pode ser determinado levando-se em conta o fundo ou entorno no qual essa figura funciona. O fundo proporciona o contexto do qual emerge o pleno significado ou importância de uma figura. A preocupação com a relação figura/fundo é coerente com a ênfase que McLuhan dá a interface e padrão, não a um ponto de vista fixo. Isto também explica por que o autor pensava que o conteúdo não era independente do meio no qual era transmitido. O meio forma um fundo para o conteúdo que transmite e, como tal, modifica a mensagem; esta é mais uma razão por que McLuhan afirmava que o meio é a mensagem. A mensagem de um meio, independente de seu conteúdo, é o fundo que ele cria para qualquer conteúdo que transmite. Assim, o meio de fato possui duas mensagens: uma é figura, ou seu conteúdo, e o outro é
o fundo, o fundo que o meio cria para seu conteúdo (LOGAN, 2011, p. 2).
Logan (2011) complementa que “o meio que amplia alguma função humana e é tema da primeira lei é a figura. O meio que sofre obsolescência e o meio que é recuperado são o fundo. E o novo meio que o meio da primeira lei se torna é a nova figura”. Portanto, tétrades comportam duas figuras e dois fundos.
Dramali (2010) relata que McLuhan ensinou que quatro efeitos são gerados sempre que um novo meio é introduzido na sociedade e exemplifica ao tentar identificar a ocorrência das Leis da Mídia, no advento da internet, como nova tecnologia através dos seguintes pontos:
O aspecto que se amplifica na sociedade com o advento da internet: Interação; ficam obsoletas com o advento da internet as seguintes mídias: telefone, máquina de escrever, mídia impressa, etc; o e-mail resgata a mídia antes obsoleta da carta; e o pleno desenvolvimento da Internet se dará com a introdução do wireless, o que permite a Internet via celular, por exemplo
(DRAMALI, 2010, p. 6).
90 Taís Ghisleni; Eugenia Barichello
Dramali (2010) usa as considerações de Goffman para explicar que a interação (face a face) pode ser percebida quando ocorre reciprocidade de influências nas ações de indivíduos em presença física imediata. Assim, a interação representa toda forma de diálogo que pode ocorrer entre os sujeitos que fazem parte de um grupo, quando se encontram na presença imediata de outros. Nessas circunstâncias, qualquer atividade que possa influenciar de alguma maneira, os participante do grupo, é chamada de desempenho.
Ainda nessa linha de pensamento, Horrocks, citado por Braga (2006, p. 31) “encontra em cada um dos efeitos previstos por McLuhan na sociedade contemporânea como resultado da entrada em cena do computador ligado à internet”. É interessante constatar que a combinação das quatro causas e dos quatro efeitos torna possível avaliar os impactos e implicações das novas tecnologias.
Se para McLuhan as tecnologias, como extensões do homem, influenciam na forma de relacionamento com o mundo, isso pode gerar novas necessidades e tecnologias, que acabam transformando os ambientes e os meios de comunicação.
ESTENDENDO A TEORIA TETRÁDICA AO FACEBOOK
Aplicando a tétrade ao Facebook podemos inferir que: A Teoria estende/intensifica/melhora as redes de contatos que antes
aconteciam face a face e, que agora, podem acontecer e ser ampliadas, independente do aspecto geográfico. A interatividade no ambiente digital também passou a fazer parte do cotidiano das pessoas e ampliou a comunicação direta entre os indivíduos, facilitando que interagentes possam ser emissores, produzir e distribuir conteúdo.
Torna obsoletas as cartas, o telefone e qualquer outro meio que antes servia para ampliar o contato entre as pessoas. Com o uso das redes sociais, especialmente o Facebook e todas as suas facilidades, os meios anteriores estão sendo menos utilizados. Cria laços e relações superficiais. No entanto, também é possível afirmar que torna obsoletos os contatos antigos, já que o Facebook nos liga da mesma forma a pessoas que não conhecemos, amigos de amigos de amigos... Isso nos mostra que a tétrade pode ser flexível, dependendo da forma como olharmos para ela.
Recupera contatos antigos, de forma atualizada, torna possível participar da vida de conhecidos, de quem há muito tempo não se tinha notícias, por não participarem mais do mesmo contexto. É possível afirmar que o Facebook recupera também os meios antigos como modalidades especiais, já que, em
91Ecologia das mídias nas redes sociais digitais
tempos de e-mails e mídias sociais, escrever uma carta em papel e enviá-la em um envelope selado é cada vez mais incomum e, que precisa de um esforço especial. Assim como o ato de falar ao telefone, quando podemos atualizar o Facebook.
Rushkoff (2010) pondera que o Facebook, mesmo recuperando contatos, reduz a complexidade dos diferentes níveis de relacionamento que existem no ambiente off-line. O autor, que escreveu o livro Program or be programmed: ten commands for a digital age, sugere um conjunto de regras para evitar que as pessoas sejam dominadas pelos programadores, que segundo ele formam a nova elite dominante do planeta. Rushkoff (2010) apresenta o quarto mandamento como sendo o da complexidade, e explica que a internet é enviesada para reduzir a complexidade das coisas. Nesse sentido, o Facebook permite que as pessoas compartilhem conteúdo com amigos, com todos, ou apenas com alguns. No entanto, também obriga as pessoas a categorizá-los em grupos, o que não ocorre da mesma forma em outros ambientes comunicacionais. A crítica do autor está no fato de a internet não ser um mapa perfeito da vida das pessoas, pois, a vida, é muito mais complexa.
Já a propriedade da reversão está acontecendo à medida que o Facebook está sendo transformado devido ao uso que seus usuários fazem das ferramentas disponibilizadas em sua plataforma. Nesse sentido, pode-se afirmar que o Facebook colabora para reduzir as distâncias entre as pessoas, pois a distância média que, em 2008 era de 5,28 pessoas, atualmente já é de 4,7410 (BACKSTROM, 2011). Outra reversão que o Facebook está proporcionando é que, ao passo que a rede está se tornando cada vez mais comercial, com propaganda e marketing, cada vez menos os usuários estão usando as ferramentas. Neste sentido, mostra-se relevante o trabalho de Rushkoff (2010), que incentiva as pessoas a serem programadores e não programados. O autor explica que não saber programar não transforma as pessoas em robôs, mas que é importante entender como os computadores funcionam, para saber em que tipo de mundo vivemos.
Dentro deste contexto, pode-se relacionar essa aplicação da Teoria Tetrádica à constatação de que as mídias não funcionam mais como variáveis dependentes,
Um subsistema a serviço de uma ação social organizada (funcionalista) ou instrumentos de poder (estruturalista) a serviço de outros campos. Constituíram-se, portanto, como uma nova ambiência, novas formas de vida e interações sociais, atravessadas por novas modalidades da construção de
sentido (FAUSTO NETO, apud MOL, 2011, p. 5).
92 Taís Ghisleni; Eugenia Barichello
Essa nova ambiência é propícia para a construção de sentidos, tanto na produção, quanto na recepção de conteúdo, que não são mais instâncias isoladas, mas se hibridizam e geram os fenômenos observados nas redes sociais na internet, já que estas são um cenário fértil para se observar a materialização desses elementos (MOL, 2011).
Percebe-se, assim, que o conceito de ecologia da mídia trabalhado neste artigo, pode ser aplicado ao fenômeno do Facebook a partir da Teoria Tetrádica de McLuhan. No entanto, esta observação permitiu a compreensão que se trata de um fenômeno complexo e flexível.
Ainda que o Facebook desponte como uma nova espécie de mídia, com ferramentas que se adaptam constantemente às necessidades dos usuários e geram novos efeitos na sociedade, também resgata usos tradicionais de outros meios de comunicação que se tornaram obsoletos. A metáfora da ecologia das mídias se comprova, dessa forma, com ênfase na interpretação da mídia como um ambiente, com dinâmica e organicidade próprias. Essa realidade amplia o horizonte de análises da mídia na sociedade atual, apontando os futuros estudos sobre o campo.
NOTAS
1 Disponível em: <www.Facebook.com>
2 No original: La actual explosión de “nuevos medios”: ¿puede ser considerado un ejemplo de equilibrio puntuado, o sea una repentina aparición de nuevas especies?
3 No original: Creates a strong theoretical framework for studying the history of media, a key research subject for media ecology. Applying the evolutionary metaphor enriches the theoretical conversations on media ecology by including new concepts. Moreover, within this context, media researchers could rethink the whole history of technologically mediated communication by identifying and analyzing specific moments characterized by media extinction or new media explosions.
4 No original: Placing the concept of interface at the center of the media ecology theoretical discourse means reinforcing and highlighting the complex dialectics between subjects, media, and social forces, eradicating at the same time any possibility of determinism.
93Ecologia das mídias nas redes sociais digitais
5 Alguns aforismos de McLuhan como ‘’o meio é a mensagem’’, sugerem que o autor tinha uma visão determinista da tecnologia humana e das relações.
6 Por exemplo, o iPhone (Ipod + celular).
7 Em uma relação coevolucionária, cada uma das espécies exerce pressões seletivas sobre os outros e, assim, elas afetam a evolução de cada um. A partir da perspectiva de uma ecologia da mídia, podemos identificar coevolução diferentes processos: a coevolução entre mídias e a coevolução entre humanos e a mídia (SCOLARI, 2012).
8 Juntos, Brasil e Índia contabilizam, aproximadamente, 90 milhões de usuários na rede social, ou 10% da base total de 901 milhões, segundo dados disponíveis até março de 2012 (BBC, 2012).
9 Aristóteles (1979) costumava chamar de as quatro causas da ação humana, ou seja, a primeira é a causa formal, o plano que nos interessa; a segunda é a causa material, os componentes que empregamos; a terceira é a causa eficiente, os métodos que usamos; a quarta é a causa final, o resultado da ação.
10 Um conceito de 1929, criado pelo autor húngaro Frigyes Karinthy defendia que duas pessoas desconhecidas eram separadas por apenas seis conhecidos. Ou seja, na época acreditava-se que, para conhecer qualquer outra pessoa no mundo, você precisaria falar com apenas seis pessoas. Essa teoria ficou conhecida como “Teoria dos seis graus de separação” e foi a base para a criação do Orkut, por exemplo. O criador da rede social tentou, a partir dela, mostrar como eram necessários apenas seis pessoas para chegar a qualquer outra. Porém, o crescimento de redes sociais como o Facebook fez essa distância cair (UOL, 2011).
REFERÊNCIAS
ANDERSON, Chris. A cauda longa: do mercado de massa para o mercado de nicho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
ARISTÓTELES. Metafísica. Livro 1 e 2. Trad. Vincenzo Cocco et al. São Paulo: Abril Cultural, 1979.
94 Taís Ghisleni; Eugenia Barichello
BACKSTROM, Lars. Anatomy of Facebook. Facebook Data, 21 nov. 2011. Disponível em: <https:// www. Facebook .com /notes/facebook-data-team/anatomy-of-facebook/ 1015038 85192 43859>. Acesso em: 29 jun. 2012.
BBC. Facebook aposta em Brasil e Índia para crescer. BBC Brasil, 18 maio 2012. Disponível em: <http://www.bbc. co.uk/portuguese/noticias/2012 /05/120517_investimentos_ Facebook_ brasil_india_lgb.shtml>. Acesso em: 29 jun. 2012.
BRAGA, Adriana Andrade. Comunicação On-line: uma perspectiva ecológica. Revista de Economía Política de las Tecnologías de la Información y Comunicación, vol. IX, n. 3, sep. dec. /2007. Disponível em: <www.eptic.com.br>. Acesso em: 22 jun. 2012.
______. Feminilidade mediada por computador: interação social no circuito-blogue. Tese. Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Unisinos. São Leopoldo, 2006.
CASAQUI, Vander. Imagens da indústria automotiva para consumo: o mundo do trabalho na ótica da comunicação publicitária. E-compós, Brasília, v.14, n.3, set./dez. 2011. Disponível em: <http://www.compos.org.br/seer/index.php/e-compos/article/viewFile/693/541>. Acesso em 20 jul. 2012.
DRAMALI, Bianca Leite. Internet: plataforma de mídia ou ambiente de sociabilidade? Comtempo. Revista Eletrônica do Programa de Pós-graduação da Faculdade Cásper Líbero vol. 2, n. 1, jun./nov. 2010. Disponível em: <http://www.revistas.univerciencia.org/index. php /comtempo>. Acesso em 04 jun. 2012.
GABRIEL, Martha. Marketing na era digital: conceitos, plataformas e estratégias. São Paulo: Novatec, 2010.
HJARVARD, Stig. Midiatização: teorizando a mídia como agente de mudança social e cultural. Traduzido Daniela Pintão. Revista Matrizes, São Paulo, Brasil, ano 5, n. 2, p. 53-91. jan./jun., 2012.
JENKINS, Henry. Cultura da Convergência. 2. ed. São Paulo: Aleph, 2008.
JOHNSON, Telma. Pesquisa social mediada por computador: questões, metodologia e técnicas qualitativas. Rio de Janeiro: E-papers, 2010.
95Ecologia das mídias nas redes sociais digitais
LOGAN, Robert K. Figura/Fundo: Decifrar o Código McLuhan. Revista da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, E-compós, Brasília, v.14, n.3, set./dez. 2011. Disponível em: <www.e-compos.org>. Acesso em: 29 jun. 2012.
MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem: Understanding Media. 12 ed. São Paulo: Cultrix, 2002.
MCLUHAN, Marshall; MCLUHAN, Eric. Laws of media: The new science. Toronto, University of Toronto Press, 1988.
MOL, Vanessa Bueno. Midiatização Empresarial: visibilidade x controle nas redes sociais na Internet. V ABRAPCORP – Redes Sociais, Comunicação, Organização. Anais... 2011. Disponível on-line: <http://www.abrapcorp.org.br/anais2011/trabalhos/trabalho_vanessa.pdf> Acesso em 28 maio 2012.
MONTAÑO, Sonia. A aldeia audiovisual global. In: MONTAÑO, Sonia; FISCHER, Gustavo; KILPP, Suzana (Orgs.). Impacto das novas mídias no estatuto da imagem. Porto Alegre: Sulina, 2012. 238 p.
RADWANICK, Sarah. Facebook Continues its Global Dominance, Claiming the Lead in Brazil. Comscore, 20 jan. 2012. Disponível em: <http://blog.comscore.com/2012 /01/ Facebook_brazil.html>. Acesso em: 28 jun. 2012.
RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2011.
RUSHKOFF, Douglas. Program or Be Programmed: Ten Commands for a Digital Age. Paperback. OR Books, 2010.
SAAD CORRÊA, Elizabeth; LIMA, Marcelo Coutinho. Modus operandi digital1: Reflexões sobre o impacto das mídias sociais nas empresas informativas. E-Compós, 2009. Disponível em: <http://www.compos.org.br/data/biblioteca_1102.pdf> Acesso em 25 jul. 2012.
SANDSTROM, Gregory. McLuhan, Burawoy, McLuhan: A Extensão das Comunicações Antrópicas Sobre a Equação Humana, o Método do Caso Estendido e a Extensão Humana. Revista da Associação Nacional dos Programas
96
de Pós-Graduação em Comunicação, E-compós, Brasília, v.14, n.3, set./dez. 2011. Disponível em: <www.e-compos.org>. Acesso em: 02 jun. 2012.
SCOLARI, Carlos A. Media ecology: explorando La metáfora. Hipermediaciones, jun. 2010. Disponível em: <http://hipermediaciones.com/2010/06/24/media-ecology-explorando-la-metafora/>. Acesso em: 12 jun 2012.
______. Ecología mediática, evolución e interfaces. Hipermediaciones, abr. 2012. Disponível em: <http://hipermediaciones.com/2012/04/23/ecologia-mediatica-evolucion-e-interfaces/>. 12 jun 2012.
______. Media Ecology: Exploring the Metaphor to Expand the Theory. In: Communication Theory. v. 22, Issue 2, p. 204–225, May 2012a.
UOL. Mapa das redes sociais: Facebook é líder em 126 países, diz site. UOL, São Paulo, 12 jun. 2012 Disponível em: <http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2012/06/12/mapa-das-redes-sociais-Facebook-e-lider-em-126-paises-diz-site.htm>. Acesso em: 29 jun. 2012.
UOL. Esqueça a teoria dos seis graus: Facebook diz que estamos ainda mais próximos uns dos outros. Olhar Digital, 22 nov. 2011. Disponível em: <http://olhardigital.uol. com.br/jovem/redes _sociais/ noticias/esqueca-a-teoria-dos-seis-graus-Facebook-diz-que-estamos-mais-perto-dos-outros>. Acesso em: 29 jun. 2012.
Taís Ghisleni; Eugenia Barichello
AUTORAS
Taís Steffenello Ghisleni: Mestre em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Professora do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA). [email protected]
Eugenia Mariano da Rocha Barichello: Doutora em Comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Coordenadora e professora do Programa de Pós-graduação em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). [email protected].
The work of sociologist Erving Goffman has long provided inspiration for scholars in a variety of disciplines, including media and communication studies. The scope and insight of his contributions have been praised by many, including urban sociologist Lyn Lofland, who commends Goffman as follows:
Goffman almost inadvertently focused his enormous talent for microanalysis on numerous instances of public realm interaction.... Goffman demonstrated eloquently and persuasively that what occurs between two strangers passing on the street is as thoroughly social as what occurs in a conversation between two lovers, that the same concerns for the fragility of selves that is operating among participants in a family gathering is also operating among strangers on
an urban beach. (1998, p. 4)
Among Goffman’s many investigations of the structure and dynamics of social interaction, several stand out as especially relevant for media and communication scholarship. Perhaps his best-known and most often cited work is The Presentation of Self in Everyday Life (1959), in which Goffman uses theatrical metaphors to explain the ways individuals manage the impressions they create and the performances they enact in social relationships. Media and communication scholars have also drawn on Goffman’s 1974 volume entitled Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. My own favorite of Goffman’s, however, is less frequently mentioned but equally worthy of attention: his 1963 book, Behavior in Public Places.
In Behavior in Public Places, Goffman examines the social organization of gatherings, focusing on rules of interaction in face-to-face environments, and
Janet Sternberg
Misbehavior in mediated places: situational proprieties and
communication environments1
100 Janet Sternberg
emphasizing the patterns of interaction rather than the individuals themselves. The point, as he explains, is to bring group behavior into the foreground and examine “that aspect of public order pertaining to the conduct of individuals by virtue of their presence among others” (1963, p. 242). Suggesting that the significance of behavioral patterns in group interaction has been underestimated, Goffman describes the target of his research as:
An important area of social life — that of behavior in public and semipublic places. Although this area has not been recognized as a special domain for sociological inquiry, it perhaps should be, for rules of conduct in streets, parks, restaurants, theaters, shops, dance floors, meeting halls, and other gathering places of any community tell us a great deal about its most diffuse forms of social organization.... the study of ordinary human traffic and the patterning of
ordinary social contacts has been little considered. (1963, pp. 3-4)
Central to this research is the study of rules of conduct, what Goffman calls “situational proprieties.” As he explains, “when in the presence of others, the individual is guided by a special set of rules ... situational proprieties” (1963, p. 243). These situational proprieties, or rules of “proper conduct,” are “the regulations of conduct characteristic in ... gatherings” (pp. 20, 24). In examining the structure and function of such “social norms regulating behavior” (p. 17), Goffman distinguishes codes of situational proprieties—i.e., rules of conduct appropriate for various situations—from other sorts of social regulations:
When persons are present to one another they can function not merely as physical instruments but also as communicative ones. This possibility, no less than the physical one, is fateful for everyone concerned and in every society appears to come under strict normative regulation, giving rise to a kind of communication traffic order... The rules pertaining to this area of conduct I shall call situational proprieties. The code derived therefrom is to be distinguished from other moral codes regulating other aspects of life (even if these sometimes apply at the same time as the situational code): for example, codes of honor, regulating relationships; codes of law, regulating economic and
political matters; and codes of ethics, regulating professional life. (pp. 23 24)
Various sorts of situational rules come into play in group behavior. In his study of the presentation of self, for instance, Goffman discusses a panoply of rules that guide individual and team performances in group situations (1959; see also Meyrowitz, 1979/1986). But it is Goffman’s research on public behavior that best displays his talent for discerning the most subtle rules that operate in situations
101Misbehavior in mediated places
where people socialize in groups. Goffman summarizes the comprehensive range of situational rules examined in his study of public behavior as follows:
Rules about access to a bounded region, and the regard that is to be shown its boundaries, are patently rules of respect for the gathering itself. Regulations against external preoccupation, “occult” involvements, and certain forms of “away” ensure that the individual will not give himself up to matters that fall outside of the situation. Regulations against unoccasioned main involvements or overtaxing side involvements (especially when either of these represents an auto-involvement) seem to ensure that the individual will not become embroiled divisively in matters that incorporate only himself; regulations against intense mutual-involvement provide the same assurances about the conduct of a subset of those present. In short, interests that are larger or smaller than the ones sustainable by everyone in the gathering as a whole are
curtailed. (1963, p. 194)
The rules encapsulated by Goffman in this passage are rather abstract and somewhat hard to imagine without the benefit of his accompanying discussion. A more concrete depiction of the kinds of situational proprieties connected to particular social roles comes from media theorist Joshua Meyrowitz, who states in plain terms some of the rules governing a waiter’s public behavior:
He is polite and respectful. He does not enter into the dinner conversation of his patrons. He does not comment on their eating habits or table manners. He rarely, if ever, eats while in their sight. In the dining hall, setting, appearance, and manner are carefully controlled. (1979/1986, pp. 264 265)
A key idea suggested by the sorts of situational proprieties Goffman and Meyrowitz describe is that many such rules of group behavior are implicit rather than explicit, covert as opposed to overt. This notion is also evident in Meyrowitz’s observation that “when we chastise someone for acting ‘inappropriately,’ we are implicitly paying homage to a set of unwritten rules of behavior matched to the situation we are in” (1985, p. 23). In contrast to the numerous explicit laws and regulations that govern public behavior in a judicial sense, the basic rules that operate in social situations, for the most part, are implicit, internalized, and unconscious, as media scholar Christine Nystrom explains:
Such controls on behavior “in public” as do exist are exerted through only two channels: by the state and its representatives and by the internalized set of shared social rules—norms—that regulate behavior from within the
102 Janet Sternberg
individual. The state, of course, regulates public behavior through its laws and the agents delegated to enforce them.... far more powerful, pervasive, and rigid than the controls exercised by the state are the internalized social norms that regulate behavior in public. (1979, Chapter 3, pp. 10-11)
The differences between formalized codes of conduct involved in legal systems and the lower-level, hidden sorts of rules guiding social behavior are reminiscent of anthropologist Edward T. Hall’s distinctions among formal, technical, and informal levels of culture in The Silent Language (1959, pp. 60-96). In the realms Hall identifies as formal and technical are overt and consciously-known rules, often stated explicitly or written down; in the informal realm are covert and unconscious rules that remain implicit, unstated, and out-of-awareness.
Among the situational rules orienting group behavior, there is none more fundamental than the imperative to conform to the situation, or as Goffman puts it, to “fit in.” Goffman describes how this overarching rule of “fitting in” is a theme encountered throughout the range of situations covered in his study of group interaction:
The rule of behavior that seems to be common to all situations and exclusive to them is the rule obliging participants to “fit in.” The words one applies to a child on his first trip to a restaurant presumably hold for everyone all the time: the individual must be “good” and not cause a scene or a disturbance; he must not attract undue attention to himself, either by thrusting himself on the assembled company or by attempting to withdraw too much from their presence. He must keep within the spirit or ethos of the situation; he must not be de trop or out of place. Occasions may even arise when the individual will be called upon to act as if he fitted into the situation when in fact he and some of the others present know this is not the case; out of regard for harmony in the scene he is required to compromise and endanger himself further by putting on an air of one who belongs when it can be shown that he doesn’t.... No doubt different social groupings vary in the explicitness with which their members think in such terms, as well as in the phrases selected for doing so, but all groupings presumably have some concern for such “fitting in.” (1963, p. 11)
An enlightening lesson on this social imperative to conform to the situation that Goffman identifies as the rule of “fitting in” comes from one of the most infamous social science experiments of the twentieth century: the research performed by social psychologist Stanley Milgram and reported in his book, Obedience to Authority (1974). Milgram’s study furnishes a fascinating illustration of how structural elements of situations can be manipulated to influence the
103Misbehavior in mediated places
social meanings people make and the ways they behave in contexts of group interaction. An excellent summary of what Milgram’s findings imply about the power of situational proprieties to mold people’s behavior is provided by media scholar Neil Postman:
A piece of work that is greatly admired as social science, at least from a technical if not an ethical point of view, is the set of experiments (so called) supervised by Stanley Milgram, the account of which was published under the title Obedience to Authority. In this notorious study, Milgram sought to entice people to give electric shocks to “innocent victims” who were in fact conspirators in the experiment and did not actually receive the shocks. Nonetheless, most of Milgram’s subjects believed that the victims were receiving the shocks, and many of them, under pressure, gave shocks that, were they real, might have killed the victim. Milgram took great care in designing the environment in which all this took place, and his book is filled with statistics that indicate how many did or did not do what the experimenters told them to do. As I recall, somewhere in the neighborhood of 65 percent of his subjects were rather more compliant than would have been good for the health of their victims. Milgram drew the following conclusion from his research: In the face of what they construe to be legitimate authority, most people will do what they are told. Or, to put it another way, the social context in which people find themselves will be a controlling factor in how
they behave. (1988, p. 10)
The extremes to which people will go to “fit in” are demonstrated rather conclusively by Milgram’s findings. In his experimental design, Milgram manipulated various situational elements and conditions, such as space, time, roles, participants, dress, personal demeanor, objects, symbol systems, and access. Using variables like these, Milgram’s experimental situation was structured so as to generate impressions of authority and to pressure people into defining the situation in a certain way and acting accordingly. In the design and interpretation of his research, Milgram draws on Goffman’s study of the presentation of self, particularly the concepts of performance teams and frontstage and backstage behavioral regions (1959; for interpretations and extensions of Goffman’s work in this area, see also Meyrowitz 1979/1986, 1985; Nystrom, 1973, 1979). Clearly, one of the key factors on which Milgram’s experiment depends is the tendency of people to conform to the definition of a situation established by its various structural characteristics and conditions. Explaining the nature of this social urge to conform to the situation, Milgram also indicates some of the consequences of breaking the rule of “fitting in”:
104 Janet Sternberg
Goffman (1959) points out that every social situation is built upon a working consensus among the participants. One of the chief premises is that once a definition of the situation has been projected and agreed upon by participants, there shall be no challenge to it. Indeed, disruption of the accepted definition by one participant has the character of moral transgression. Under no circumstance is open conflict about the definition of the situation compatible with polite social exchange....Social occasions, the very elements out of which society is built, are held together, therefore, by the operation of a certain situational etiquette, whereby each person respects the definition of the situation presented by another and in this way avoids conflict, embarrassment, and awkward disruption of social exchange. The most basic aspect of that etiquette does not concern the content of what transpires from one person to the next but rather the maintenance of the structural relations between them. (1974, pp. 150-152)
What Milgram’s remarks only hint at is that his study of obedience can also be viewed as an investigation of disobedience, of situational improprieties, of people choosing not to fit in. Perhaps more revealing than the majority of subjects who “fit in” and complied with the demands of the experimental situation, are those cases where subjects refused to obey and broke the rule of “fitting in.” The incidents Milgram reports where people challenged authority and deviated from conventional behavior by disobeying are, in large part, what make visible the patterns of conformity of those who did obey. Thus, not only does Milgram’s experiment elucidate the rule of “fitting in,” it also demonstrates the fruitfulness of looking beyond situational proprieties, rules, and behavior to situational improprieties, rule-breaking, and misbehavior.
The question then arises as to how productive it might be to investigate situational improprieties and misbehavior directly instead of considering them simply as negative counterparts of situational proprieties and appropriate behavior. Indeed, Goffman and other scholars answer that the study of situational improprieties and misbehavior can unveil and illuminate patterns in regular behavior which might not otherwise penetrate our awareness or catch our attention. For instance, Goffman discusses “discrepant” roles and performances (1959) and emphasizes the social significance of “inappropriate behavior,” “misconduct,” and “situational impropriety” in revealing what constitutes “proper public conduct” (1963, pp. 3-25, 193-197). Hall notes that it is often easier to discern what rules exist, especially informal, unstated, or implicit rules, when they are violated (1959, p. 127). Meyrowitz observes that “the sense of ‘appropriateness’ is
105Misbehavior in mediated places
generally unconscious and becomes visible only when people behave ‘improperly’” (1985, p. 335). In fact, Meyrowitz refers to one researcher developing “a method of making situational conventions visible by breaking the rules of situations and then observing the resulting confusion and the process of reconstruction that follows” (p. 28). More recently, a sociologist studying computer-mediated communication asserts that “it is quite often the case that a researcher’s best understandings of the particular social order under consideration stem from the observance of the violation of that order, social deviance” (Surratt, 1996, p. 363; for detailed discussions of social deviance, see Becker, 1963/1973; Pfuhl & Henry, 1993). And one participant in an online symposium sums up the relevance of misbehavior as well as anybody:
It is only [through] deviant behavior that we can in fact define what is normative. [Deviant behavior] is an essential component of culture without which we’d have difficulty defining what is normative. Durkheim said that, not me. So a bit of deviance in all communities is essential. (“Cilla,” as cited in Bruckman, 1999).
In short, looking at situational improprieties and misbehavior is like using a lens for sharpening our perceptions of behavior that does conform to situational proprieties.
Now, in environments that involve face-to-face interpersonal communication, such as the social contexts considered by Goffman and Milgram, people are generally familiar with situational proprieties and adept at fitting in. But increasingly nowadays, we interact in new social environments or modified social environments, where interpersonal communication is often mediated by technologies that allow us to transcend the limitations of time and space in various ways. As a result, situational proprieties are no longer so clear, fitting in is no longer so simple, and mediated misbehavior is on the rise.
Today, we socialize in new kinds of public places, such as virtual communities on the Internet, where face-to-face physical presence is not required. In these sorts of online environments, for example, situational improprieties range from cyberspace flame wars that overheat the tempers of a few, to email virus wars which overwhelm the mailboxes of many (see, e.g., Sternberg, 2001). We also continue to frequent traditional public places offline, but these environments are transformed by the introduction of new media technologies, such as cell phones in restaurants, theaters, and classrooms. In traditional environments to which new media have been introduced, situational improprieties range, for instance, from
106 Janet Sternberg
conflicts regarding hand-held cell phones versus highway safety, to debates over camera-enabled cell phones versus personal privacy (see, e.g., Sternberg, 2003).
That situational proprieties are in flux in our modern technologically-mediated world comes as no surprise to those who expect new media technologies to alter communication environments and social patterns in fundamental ways. The introduction of electronic media alters the structure of information-systems, generating new kinds of social situations. As Meyrowitz observes, “changes in the notion of ‘appropriate’ roles and behaviors ... can often be traced back to structural changes in social situations” (1985, p. 174). Meyrowitz explains the potential of new media to change the structure of situations as follows:
Media are types of social settings that include or exclude, unite or divide people in particular ways.... a new type of medium may restructure social situations in the same way that building or breaking down walls or physically relocating people may either isolate people in different situations or unite them in the same situation. (1985, p. 70)
By structurally reorganizing situations and promoting new ways for people to interact in environments that transcend or affect physical co presence, as Meyrowitz points out, “electronic media have changed the rules that were once particular to specific social situations” (1985, p. 143). Basically, electronic media have provoked profound transformations in the most fundamental aspects of social affairs related to situational proprieties.
In conclusion, let me suggest that Goffman’s research on behavior in public places offers three lessons for media and communication scholars. First, Goffman teaches us to examine situational proprieties, particularly the overarching rule of fitting in, in order to better understand patterns of social interaction in public. Second, Goffman instructs us to consider situational improprieties and misbehavior, in order to better identify situational proprieties and patterns of appropriate behavior. And third, Goffman advises us to pay closer attention to social interaction and interpersonal communication in public places, which today include not only face-to-face environments, but also technologically-mediated environments as well as mixed environments that combine face-to-face and technologically-mediated interpersonal communication.
By learning these lessons from Goffman, perhaps we can help invigorate the notion that differences between appropriate behavior and misbehavior, between situational proprieties and situational improprieties, do make a difference in
107Misbehavior in mediated places
civil society. In this way, we may remind people of the importance of politeness, manners, and basic consideration and respect for others, in all sorts of public places and communication environments.
NOTAS
1 Originally published by the Institute of General Semantics, Inc., in ETC: A Review of General Semantics, Volume 66, Number 4, pp. 433-442, 2009.
REFERENCES
Becker, H. S. (1973). Outsiders: Studies in the sociology of deviance. New York: Free Press. (Original work published 1963)
Bruckman, A. (Ed.). (1999, January). Managing deviant behavior in online communities [Abstract and transcript of online symposium held in MediaMOO]. Retrieved September 12, 1999, from http://www.cc.gatech.edu/~asb/mediamoo/deviance-symposium-99.html
Goffman, E. (1959). The presentation of self in everyday life. New York: Anchor Books.
Goffman, E. (1963). Behavior in public places: Notes on the social organization of gatherings. New York: The Free Press.
Goffman, E. (1974). Frame analysis: An essay on the organization of experience. New York : Harper & Row.
Hall, E. T. (1959). The silent language. New York: Anchor Books.
Lofland, L. H. (1998). The public realm: Exploring the city’s quintessential social territory. Hawthorne, NY: A. de Gruyter.
Meyrowitz, J. (1985). No sense of place: The impact of electronic media on social behavior. New York: Oxford University Press.
108 Janet Sternberg
Meyrowitz, J. (1986). Television and interpersonal behavior: Codes of perception and response. In G. Gumpert & R. Cathcart (Eds.), Inter/media: Interpersonal communication in a media world (3rd ed.) (pp. 253-272). New York: Oxford University Press. (Original work published 1979)
Milgram, S. (1974). Obedience to authority: An experimental view. New York: Harper & Row.
Nystrom, C. L. (1973). Toward a science of media ecology: The formulation of integrated conceptual paradigms for the study of human communication systems (Doctoral dissertation, New York University, 2001). Dissertation Abstracts International, 34(12), 7800 (UMI No. AAT 7412855).
Nystrom, C. L. (1979). Media ecology: Inquiries into the structure of communication environments. Unpublished manuscript, New York University.
Pfuhl, E. H., & Henry, S. (1993). The deviance process (3rd ed.). New York: A. de Gruyter.
Postman, N. (1988). Conscientious objections: Stirring up trouble about language, technology, and education. New York: Alfred A. Knopf.
Sternberg, J. (2001). Misbehavior in cyber places: The regulation of online conduct in virtual communities on the Internet (Doctoral dissertation, New York University, 2001). Dissertation Abstracts International, 62(07), 2277 (UMI No. AAT 3022160).Sternberg, J. (2003). Cell Phone as Probe. Explorations in Media Ecology, 2(1), 15 17.
Surratt, C. G. (1996). The sociology of everyday life in computer-mediated communities (Doctoral dissertation, Arizona State University, 1996). Dissertation Abstracts International, 57(03-A), 1346 (UMI No. AAT 9620896).
AUTORA
Janet Sternberg: Doutora (Doctor of Philosophy, Ph.D.) em Media Ecology (Ecologia da Mídia). New York University, 2001. Professora Assistente no Departamento de Comunicação e Estudos Midiáticos e no Instituto de Estudos Latinos e Latino-Americanos da Fordham University em New York desde 2002. É membro do Conselho de Administração New York Society for General Semantics e no Conselho da Media Ecology Association (MEA), da qual é Presidente há três anos. [email protected]
A relevância do tema comunicação na cultura digital, caracterizada por redes, processos, dispositivos, produtos e sistemas on-line, renorteia as mídias e as sociabilidades e mobiliza um plural núcleo de pesquisadores. Não parecem ser coincidência denominações propostas como sociedade dos mass mídia (Gianni Vattimo), sociedade media-centric (Venício Lima), capitalismo de informação (Frederic Jameson), sociedade conquistada pela comunicação (Bernard Miège), planeta mídia (Dênis de Moraes), idade mídia (Antonio Rubim). Todas essas denominações, entre muitas outras possíveis, têm sido insistentemente evocadas para nomear o contemporâneo.
O sociólogo polonês Zygmunt Bauman utiliza a metáfora do líquido para narrar o momento presente, pela impossibilidade de manter estáveis formas socialmente inscritas ou controlar os rumos do novo enraizamento social, devido à extrema mobilidade na qual a sociedade se vê imersa. O autor, ao se referir ao momento presente como “modernidade líquida” ou “sociedade líquido-moderna” pontua que:
Líquido-moderna é uma sociedade em que as condições sob as quais seus membros agem mudam num tempo mais curto do que aquele necessário para a consolidação de hábitos e rotinas, das formas de agir. A liquidez da vida e a
da sociedade se alimentam e se revigoram mutuamente (BAUMAN, 2007, p.7).
Tributária ao autor, em trabalhos anteriores (RUBLESCKI, 2011, 2011a, 2011b, 2011c) desenvolvi o conceito de jornalismo líquido, onde busquei entender
Anelise Rublescki
A crise de identidade do Jornalismo na nova ecologia midiática
112 Anelise Rublescki
como algumas das questões-chave do Jornalismo1 (mediação, credibilidade, agendamento, legitimidade e fluxo noticioso) se recofiguram na nova ecologia midiática2. O jornalismo líquido não significa o fim do Jornalismo, embora talvez sinalize o término de um dado modelo de jornalismo informativo diário, enunciado nas redações e a partir de uma mediação verticalizada. O jornalismo líquido é antes um cenário instável, em aberto, permeado por um contínuo de mudanças que aparentemente desencadeiam um processo de alargamento das fronteiras do campo, cujo ponto de equilíbrio é uma questão que permanece em aberto.
Isso porque as práticas sociais propiciadas pelas redes digitais ultrapassam o conjunto de regras referentes aos modelos tradicionais do jornalismo. O jornalismo de massa baseia-se no pressuposto de que é possível transmitir uma mesma notícia para uma grande audiência, heterogênea e geograficamente dispersa, sempre mediada pelos jornalistas, que definem quais acontecimentos e por quais enquadramentos alguns fatos merecem ser alçados à visibilidade, via noticiário. Notícias que, nos meios tradicionais, possuem uma função massiva3, e que ajudaram a configurar o que se convencionou chamar de Jornalismo contemporâneo.
Mas, afinal, o que é o Jornalismo?Para além do sorriso irônico que essa pergunta provoca nos profissionais
da área, pressionados por deadlines para o fechamento de edições ou novas postagens on-line a cada um ou dois minutos, a pergunta se impõe com oportuna insistência, especialmente nesse cenário de perplexidade.
Prática datada, posto que social, o jornalismo já passou por grandes transformações em diferentes períodos históricos. Foi assim com a prensa de Johannes Gutenberg (1450), com a introdução das impressoras a vapor no século XIX e do papel barato, com a criação do telégrafo (1844) e a utilização das ondas eletromagnéticas no século XX, que propiciaram o desenvolvimento do rádio e da televisão. E, nesse início de século XXI, estariam as novas formas de mediação, propiciadas pela sociedade em rede, pela ruptura do pólo de emissão e por uma pluralidade de fluxos comunicacionais redesenhando os preceitos caracterizadores do Campo, tornando difusas as suas fronteiras e reconfigurando o próprio conceito de Jornalismo? E, se assim o é, que características já são visíveis neste cenário quanto ao papel social mediador no Jornalismo líquido?
Estas são as questões que movem o presente artigo, a partir de uma abordagem que repensa o Jornalismo como Campo Social e por seu poder disciplinar junto à sociedade, cotejando esses olhares com o cenário digital, convergente e multimídia próprio da nova ecologia midiática, onde se observam
113A crise de identidade do Jornalismo na nova ecologia midiática
mediações multiníveis, inclusive das notícias jornalísticas. Metodologicamente, o artigo se configura como de cunho teórico-analítico, a partir de revisão de literatura.
O JORNALISMO COMO CAMPO SOCIAL
Um campo social consiste numa estrutura de relações, em um espaço socialmente estruturado, onde os agentes que nele se encontram lutam com meios e fins diferenciados, conforme a sua posição. Para Bourdieu (1997, p.102):
O campo jornalístico impõe sobre os diferentes campos de produção cultural um conjunto de efeitos que estão ligados, em sua forma e eficácia, à sua estrutura própria, isto é, isto é, à distribuição dos diferentes jornais e jornalistas segundo sua autonomia com relação às forças externas, as do mercado dos leitores e as do mercado os anunciantes.
Na mesma linha de raciocínio, Rodrigues (1990) salienta que um campo deve ser entendido como uma instituição social, uma esfera de legitimidade. Nesse sentido, o campo dos media é aquele:
[...] cuja legitimidade expressiva e pragmática é por natureza uma legitimidade delegada dos restantes campos sociais (...) quer prossiga modalidades de cooperação, visando, nomeadamente, o reforço da força da sua legitimidade quer prossiga modalidades conflitais, de exacerbação das divergências e dos antagonismos (RODRIGUES, 1990, p.152).
Observa-se que a legitimidade é, então, dada a priori, sendo pré-determinada e não-negociável, e estabelece que o Jornalismo é apto e legítimo para captar informações e transmiti-las de forma verdadeira, tornando público o que de relevante há na sociedade para o leitor. Sociedade que pode ser considerada, entre tantas definições possíveis, como a totalidade dos campos em convívio e/ou confronto em dado local e momento histórico.
Retomando-se Bourdieu (1997), relembra-se que a eficácia simbólica do discurso, necessariamente, agrega as propriedades do discurso propriamente dito, as propriedades daquele que o pronunciam e, finalmente, as propriedades da instituição que o autoriza a pronunciá-lo. No caso do jornalismo, a prática social é autorizada tanto pelas fontes (outros campos, que delegam à imprensa a sua representação pública social) como pelo leitor, que lhe delega o poder de entregar uma versão diária do que mais relevante ocorreu em dado espaço temporal, até
114 Anelise Rublescki
recentemente um ciclo de 24 horas. É neste equilíbrio que reside a legitimação da imprensa e dos jornalistas.
No jornalismo líquido, a instabilidade mais sensível aos preceitos constitutivos do campo e de maiores consequências para o papel mediador do jornalismo é a ruptura do pólo de emissão. É por esse viés – do jornalismo líquido que se estabelece entre os subsistemas jornalísticos a partir da porosidade entre as instâncias leitor, jornalista e fonte – que se torna possível questionar se e como a legitimidade do Jornalismo se reorganiza em tempos de cultura líquida.
Por um lado, leitores passam a ter acesso direto a fontes primárias de informação (personalidades, sites institucionais e empresariais, por exemplo), bem como a recursos técnicos para publicação de notícias de forma desvinculada da mediação da grande imprensa. Por outro, estas mesmas fontes primárias de informação, que sempre dependeram da mídia para uma maior visibilidade pública, abrem os seus próprios portais de serviço e comunicação com o leitor ou mesmo se inserem na blogosfera, construindo espaços de visibilidade e interação direta com o público e, em alguns casos, de interpelação à própria imprensa.
Para Weber (2007)4, são práticas e discursos estratégicos que ocorrem nas diversas redes de comunicação pública, “pautados entre a visibilidade (dada) e a credibilidade (desejada) da argumentação oferecida ao eleitor que saberá cotejá-las com suas vivências” (WEBER, 2007, p.23). Para a autora:
A argumentação exigida nessa esfera (ao contrário da esfera pública de Habermas) se reveste dos privilégios de cada instituição, hierarquia e seus respectivos interesses. Esse processo causa, estra¬tegicamente, tensionamentos junto ao trabalhador, consumidor, eleitor, espec¬tador disponível às versões do tema de seu interesse (interesse público), cuja opinião dependerá da compreensão das partes desse processo, assim entendido: o tensionamento sustentado pela argumentação sobre os temas de interesse pú¬blico cuja repercussão está na sua importância (potência, polaridade, impacto) para o cidadão-eleitor que, por sua vez, fará o reconhecimento de quem fala e do lugar institucional de quem fala (representatividade, legitimidade, autorida¬de, autonomia, compromisso). Essa argumentação é trabalhada em diferentes modalidades discursivas (informativa, persuasiva, institucional, individual, hí¬brida) e o tema será estrategicamente qualificado por competências (simbólica, tecnológica, estrutural, profissional) que permitem ao tema obter visibilidade e repercussão com o intuito de gerar credibilidade. (WEBER, 2007, p.23).
São instituições que até recentemente disputavam espaço nos veículos noticiosos e que agora – de forma simultânea à busca de inserção na imprensa
115A crise de identidade do Jornalismo na nova ecologia midiática
tradicional – passam ao largo do velho paradigma de produção centralizada e vertical de notícias. São atores sociais (indivíduos ou empresas) que investem em espaços próprios de visibilidade junto ao público, beneficiando-se da configuração em rede e contribuindo para o fluxo informativo que constitui o jornalismo líquido.
Ora, um campo social é, conceitualmente, um espaço estruturado de posições, estruturas hierárquicas e funções. Neste sentido,
Um campo social é o resultado ou o efeito de uma gênese, de um processo de autonomização secularizante bem-sucedido, graças à capacidade de impor, com legitimidade, regras que devem ser respeitadas num determinado domínio da experiência, baseada numa indagação racional metodicamente conduzida (RODRIGUES, 2000, p.192).
Por isso mesmo um campo social também é um espaço de disputa pelos atores sociais que nele atuam visando ao controle dos capitais que o conformam.
Bourdieu (2010), na análise dos diversos capitais que configuram os campos sociais, defende a existência do poder simbólico, superior a todos os demais poderes, por dar sentido ao mundo e transitar por todos os campos. Mediante o poder simbólico, as classes dominantes (ou campos dominantes) são beneficiadas por um capital simbólico, que lhes possibilita exercer o poder. O autor considera que o poder simbólico consiste, então, “[n]esse poder invisível que só pode ser exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo que o exercem” (BOURDIEU, 2010, p. 11-12). Percebe-se, novamente aqui, a necessidade da legitimação tácita do poder pelo outro para que seu exercício surta efeito, já que, como há pouco afirmado, a legitimidade é delegada. Neste sentido, observa-se que:
Ao assumir o controle das narrativas nos discursos, os cidadãos-repórteres investem-se do poder simbólico, antes hegemônico aos mass media tradicionais. [...] Outra ruptura ocorre no que tange às interações entre público e mídia. Se antes as relações sociais que eram mediadas pelos meios de difusão de informação para massa se davam pelo sentido único do fluxo da comunicação, atualmente, esta interação ocorre também de forma plural e interdependente, na qual os usuários superam a verticalidade e estrutura monológicas dos oligopólios da informação (ALMEIDA, 2009, p.37).
Esta mediação descentralizada do jornalismo líquido revigora o questionamento sobre quem é legítimo para publicar, pilar central do campo jornalístico até recentemente, visto que tensiona o próprio habitus jornalístico. Bourdieu (2010, p. 44) assevera:
116 Anelise Rublescki
Os condicionamentos associados a uma classe particular de condições de existência produzem o habitus, sistemas de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a funcionar como estruturas estruturantes, isto é, enquanto princípios geradores e organizadores de práticas e de representação que podem ser objetivamente adaptadas a seus fins sem supor o alcance consciente desses fins e domínio expresso das operações necessárias para alcançá-los.
É neste sentido que se pode considerar que no jornalismo líquido – a partir do momento em que as mídias sociais passam a ter visibilidade e a comportar também informações de relevância jornalística – afetando e sendo afetadas pelo jornalismo corporativo, há o que Palacios (2006) e Rublescki (2011) denominam de “alargamento” do campo jornalístico.
A partir de um estudo baseado exclusivamente nos blogs (apenas uma das mídias digitais possíveis, cujo conjunto forma a blogosfera), Palacios (2006) demonstra que este formato de comunicação passa a ganhar um espaço na mídia cada vez maior, inclusive disputando a audiência com empresas jornalísticas tradicionais. Rublescki (2011) amplia a pesquisa e mapeia sete tendências5 de ampliação do campo na nova ecologia midiática.
O que se observa é que quando diferentes subsistemas jornalísticos-comunicacionais – até então inexistentes para o jornalismo – passam a dialogar cada vez mais entre si e com os veículos tradicionais e estes, entre si e de forma co-referencial, configura-se um cenário instável, líquido, que demanda outros olhares para sua apreensão, motivo pelo qual se retoma a pergunta: afinal, o que é Jornalismo?
JORNALISMO: UM OLHAR MULTICONCEITUAL
As definições de jornalismo variam conforme a ideologia, o recorte teórico e o contexto histórico do pesquisador, indo de abordagens ligadas à prática, a forma, ao suporte, ao conteúdo desejável e a análise conceitual-epistemológica sobre Jornalismo, viés que se busca (re)discutir neste artigo.
Enquanto prática jornalística é usual operacionalizar definições que tipifiquem o jornalismo pela mídia que lhe dá suporte, como radiojornalismo, telejornalismo, fotojornalismo, webjornalismo ou impresso; já que “o dispositivo prepara para o sentido” (MOUILLAUD, 1997, p.30). Mas, neste caso, subjaz latente o mesmo problema, já que o prefixo que particulariza (tele, rádio, web) implica aceitar que há uma definição de jornalismo “base”, de onde derivam os demais face ao suporte.
117A crise de identidade do Jornalismo na nova ecologia midiática
Além disso, o jornalismo praticado em um veículo de comunicação não se mantém estável, posto ser prática que reflete o momento sócio-histórico em que se insere. Assim, é necessário avançar na delimitação do conceito de Jornalismo, para, a partir dele, examinar os eventuais deslocamentos que as novas práticas acarretam em relação ao papel social mediador do Jornalismo, no cenário de jornalismo líquido.
O jornalismo pode também ser categorizado pelo gênero do discurso - jornalismo informativo, opinativo, interpretativo, de entretenimento (ERBOLATO, 1991) - ou, de acordo com Marques de Melo (2003), subdividi-lo em apenas duas grandes categorias: informativo e opinativo, desdobradas em doze gêneros diferentes6. Contudo, compactua-se com Adghirni quando a autora, ao se referir ao jornalismo francês onde perdura até hoje a distinção entre os jornalistas que escrevem notícias e os jornalistas formadores de opinião (colunistas, analistas), afirma que “a distinção é limitada e redutora de nuances, face à impossibilidade de se estabelecer fronteiras fixas entre os gêneros jornalísticos” (ADGHIRNI, 2005, p.47).
Mas pode-se afirmar que, a grosso modo, as conceituações de Jornalismo variam desde o extremo do prática/conteúdo – “jornalismo é a ocupação ou prática de produzir e disseminar informação sobre assuntos contemporâneos de interesse público e relevância” (SCHUDSON, 2003, p.11)7 – às conceituações que buscam caracterizar o Jornalismo como uma forma específica de conhecimento (MEDITSCH, 1997; GENRO FILHO, 1989; PARK, 1972).
Ao utilizar a distinção entre “conhecimento de” e “conhecimento sobre”, o primeiro sintético e intuitivo, o segundo sistemático e analítico, o pragmatismo de Park inspira as reflexões marxistas de Genro Filho (1989), autor para o qual o jornalismo, como gênero de conhecimento, difere da percepção individual pela sua forma de produção. Para o jornalismo, a imediaticidade do real é um ponto de chegada, e não de partida. Conforme Meditsch (1997), é justamente ao se fixar na imediaticidade do real que o jornalismo passa a operar no campo lógico do senso comum8, e “esta característica definidora é fundamental”.
Isto porque a construção social da realidade, tal como definida por Peter Berguer e Thomas Luckmann, ocorre no nível da vida cotidiana, ainda que nestes espaços fomentem também e simultaneamente processos de institucionalização das práticas e dos papéis sociais, acarretando que a realidade se constitui como um processo socialmente determinado e intersubjetivamente construído (LUCKMANN; BERGER, 1998).
118 Anelise Rublescki
É com este enfoque que a atividade jornalística tradicional pode ser entendida como tendo um “papel socialmente legitimado para produzir construções da realidade que são publicamente relevantes” (ALSINA, 2009, p. 47); ou seja, os conceitos de Campo e poder simbólico abordados anteriormente.
Na sociedade líquido-moderna, marcada pela natureza fragmentada da experiência e pela consequente multiplicidade de esferas de legitimidade, observa-se que diversos autores pontuam que no campo midiático, “o jornalismo assume hoje um imprescindível papel de mediação, garantindo deste modo a constituição de um sentido comum e a indispensável coesão social” (VIZEU, 2004, p.3). Isto porque “os acontecimentos chegam a nós através da mídia e são construídos através de sua realidade discursiva” (ALSINA, 2009, p.46).
Contudo,
Este modelo pode cair na falácia de considerar a mídia como os construtores da realidade sem levar em conta a interação da audiência. Por isso, precisamos deixar bem claro que a construção social da realidade por parte da mídia é um processo de produção, circulação e reconhecimento. Vejamos a atividade jornalística como ela é. Uma manifestação socialmente reconhecida e compartilhada (ALSINA, 2009, p.47).
Esta relação entre jornalistas e seus destinatários se estabelece por um contrato social historicamente datado. Na sociedade sólida-moderna (BAUMAN, 2001) podia-se afirmar que:
Os jornalistas têm a incumbência de recopilar os acontecimentos e os temas importantes e dar-lhes sentido. Este contrato baseia-se em atitudes epistêmicas coletivas, que foram se compondo através da implantação do uso social da mídia como transmissores da realidade social de importância pública (ALSINA, 2009, p.47).
Trata-se de uma abordagem que se articula com o próprio conceito de poder disciplinar do Jornalismo. Conforme Mayra Gomes, o jornalismo se revela, duplamente, como instrumento de disciplinaridade. Por um lado:
[O jornalismo] aponta os temas a serem privilegiados, em outras palavras, os temas a que seu público deve dar atenção. Seus relatos anunciam, implicitamente, aquilo que é importante para a vida dos leitores. Ora, o critério de importância, que serve de baliza para a escolha dos fatos a serem enfocados, simula uma inocência que lhe é completamente estrangeira. Antes de qualquer seleção dada, perguntamo-nos sobre o que é importante e para quem o é. A importância, assim como implica escolha, ou a escolha segundo o
119A crise de identidade do Jornalismo na nova ecologia midiática
dado a ver de uma época e lugar, serve de baliza para o que é apontado como a verdade do que é posto em visibilidade. Sendo a importância não o fato em si, mas sua implicação na rede institucionalizada, qualquer investigação, qualquer vigilância, faz o desenho do espaço a ser vivenciado procurando lei e ordem e, dessa forma, disciplinando naquilo que ela procura. A seleção por si só coloca o jornalismo numa posição privilegiada na tarefa disciplinar (GOMES, 2009, p.2-3).
Mas, simultaneamente:
Cada tema selecionado é o ponto em que estarão dimensionadas as coordenadas da boa conduta. Ainda que os assuntos escolhidos sejam grosseiros, ou sensacionalistas, e revelem aspectos negativos de nossa sociedade, os modos abalizados são, sempre, demonstrados, muitas vezes pela própria negatividade. Em separado ou em conjunto, as chamadas perfazem os caminhos da educação e da disciplina. Do apelo ao Estado ao apelo à responsabilidade individual, delineia-se a ordem desejável, modo com que se induz à interiorização de uma concepção específica do desejável, vale dizer, formatada no aceitável (GOMES, 2009, p.3).
O que nos diz a autora é que o jornalismo é uma prática social interessada, mas também um exercício público de entendimento do mundo, o que significa que o jornalismo ultrapassa a função de “informar o leitor”, configurando-se antes em “gerenciador da arena simbólica” da sociedade (GANS, 1979, p. 312). Contudo, a Web 2.0 significa, por princípio, interatividade e, como consequência, competências em torno do conteúdo jornalístico são disseminadas e assumidas por múltiplos agentes; o que não acontecia nos meios de comunicação de massa ou no webjornalismo de referência na sua fase inicial.
De iniciativas apenas aparentemente banais (um técnico de futebol que comunica o seu afastamento – para leitores e para a imprensa – via Twitter) às iniciativas corporativas pró-ativas (interpelações à imprensa na blogosfera de uma estatal), a porosidade das instâncias jornalismo-leitor-fontes potencialmente desestabiliza o poder da mídia tradicional de construção da atualidade. Esta construção social da realidade, que tem como eixos de gravidade o agendamento (McCOMBS; SHAW, 1972) e o enquadramento (GOFFMAN, 2006), não está mais exclusivamente nas mãos da imprensa tradicional, mesmo que significativa parcela das notícias que circulam na web ainda provenha dos conglomerados de mídia.
O que aqui se observa são sucessivas e distintas mediações que vão se configurando ao longo da circulação das notícias nos plurais jornalismos que se
120 Anelise Rublescki
emergem na web. O espaço da comunicação pública passa a ser constituído por discursos estratégicos sobre temas de interesse público, em que “a capacidade de repercussão desses temas está na disputa de versões que ocorrem em redes de interesses similares propostas como redes de comunicação” (WEBER, 2007, p.22), tornando difusas as fronteiras do papel que cabe a cada instituição no cenário jornalístico.
É a partir de então que a porosidade entre jornalista, leitor e fonte – que tensiona a mediação jornalística e a processualidade das notícias, aspectos centrais do jornalismo líquido – se torna mais visível, especialmente a partir do crescimento da blogosfera, das redes sociais e dos sites autônomos de notícias.
Configuram um jornalismo desvinculado dos meios de comunicação tradicionais, não necessariamente com o intuito de competir com estes; embora o façam, no mínimo, quanto ao tempo e a atenção do leitor, dois bens escassos e não renováveis. Um jornalismo que, eventualmente, pode ser feito por qualquer pessoa (individualmente), por entidades coletivas de interesse social (associações comunitárias, entidades filantrópicas, sindicatos, organizações não-governamentais), por organizações de comunicação independentes (Slashdot9, OhmyNews10), que se dedicam a uma comunicação voltada para enfoques variados de acordo com cada site. São iniciativas que se referem, sobretudo, às funções pós-massivas, propiciadas pela midiatização que se caracteriza pela intensificação do uso de tecnologias que rapidamente se transformam em instrumentos de envio, recepção e circulação de mensagens, também de viés jornalísticos.
A nova esfera conversacional se caracteriza por instrumentos de comunicação que desempenham funções pós-massivas (liberação do pólo da emissão, conexão mundial, distribuição livre e produção de conteúdo sem ter que pedir concessão ao Estado), de ordem mais comunicacional do que informacional (mais próxima do ‘mundo da vida’ do que do ’sistema’), alicerçada na troca livre de informação, na produção e distribuição de conteúdos diversos [...] (LEMOS, 2007, p. 125).
Mas liberdade de expressão não se confunde com Jornalismo. Onde se configura, realmente, a crise de identidade do Jornalismo? Acredito que na reconfiguração midiática, que desloca a ênfase da produção profissional para a circulação.
121A crise de identidade do Jornalismo na nova ecologia midiática
JORNALISMO LÍQUIDO E A NOVA ECOLOGIA DA NOTÍCIA
No jornalismo líquido, a ênfase analítica parece residir antes na processualidade do que no interior do campo jornalístico. A geração de sentidos jornalísticos desloca-se da perspectiva de campo bourdieniana, até então normatizada a partir do jornalismo profissional, e volta-se para as relações que se estabelecem entre os diferentes subsistemas que se interrelacionam e configuram a nova ecologia midiática.
Até um passado recente os veículos tradicionais eram praticamente soberanos em pautar um tema, selecionar as fontes, o enquadramento (GOFFMAN, 2006), dar ou não “vida” ao acontecimento, tornando-o público via noticiário, ou relegando-o ao desconhecimento, simplesmente ignorando-o. Ao exercer o controle prioritário sobre as notícias que circulavam massivamente, o Jornalismo cumpria também o segundo aspecto do seu poder disciplinar: formatava as coordenadas de entendimento do mundo, da realidade, do dia a dia.
A Internet desestabiliza este cenário. Tem-se um meio estruturalmente descentralizado e de difícil controle sobre o conteúdo. Já não basta publicar: é necessário que as notícias circulem, sejam filtradas, recomendadas, curtidas. Neste processo, já que o simples ato de recomendar já significa uma mediação, a notícia, potencialmente, se afasta do enunciado no âmbito das redações, através de múltiplos e sucessivos (re)enquandramentos. Dito de outro modo, nesse sistema comunicacional-jornalístico caracterizado por fluxos, o diálogo que se estabelece entre os diferentes subsistemas de jornalismos (fontes, leitores, redações) coloca em xeque o poder mediador do jornalismo; ao menos nos moldes que até recentemente lhe caracterizavam conforme abordado por Mayra Gomes (2009) ou Mesquita (2004, p. 213), isto é, a “construção social da realidade, para a criação de consensos sociais no plano interno”.
No cenário de jornalismo líquido que se configura nos anos mais recentes, um interagente pode se encontrar na posição de fonte e pautar os meios tradicionais, já que os conglomerados são leitores da blogosfera. Um webjornal de referência pauta o assunto do momento em uma rede social, cuja retroalimentação, eventualmente, pauta outros meios, servindo de fonte para reconfigurações da notícia original11. Reconstruída no tecido social, a notícia e os seus novos elementos podem ser reapropriados pelo mesmo webjornal que iniciou o processo. Ao longo do encadeamento midiático (PRIMO, 2008), cada webjornal, site colaborativo ou rede social agrega as suas características próprias de participação, em uma pluralidade de vieses impensável antes de uma sociedade amalgamada em rede (RUBLESCKI, 2011c).
122 Anelise Rublescki
Contudo, embora o poder de agendamento das mídias digitais e dos blogs tenda a crescer face à própria visibilidade estendida e midiatizada que se configura na web, salienta-se que ainda predominam os meios consolidados no agendamento de primeiro nível. Contudo, não se trata de uma mera reprodução do que é noticiado pelos meios de comunicação massivos on e off-line. A assertiva é sustentada pela mediação multinível que se configura no jornalismo líquido, onde cada recomendação, comentário, republicação significa, na realidade, um juízo de valor.
As apropriações diversas que se configuram a partir daí – os fluxos da nova processualidade da notícia – influenciam-se uns aos outros, amplificando as notícias e convertendo gradualmente a agenda de primeiro nível numa agenda de segundo nível. Ao longo do processo, as notícias são reenquadradas por múltiplos olhares e mediações sucessivas. A processualidade, que vai transformando a notícia já dada em um novo acontecimento via circulação, propicia sucessivos níveis de agenda via (re) enquadramento, até que o acontecimento jornalístico perca sua atualidade e relevância social.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em uma sociedade gradualmente caracterizada pelo declínio dos discursos verticalizados, o jornalismo líquido se insere em outra ecologia da mídia, onde se observa a configuração de um sistema comunicacional caracterizado por um fluxo permanente de notícias e de relações entre interagentes-fontes-jornalistas até então inexistentes no Jornalismo.
Insistir em olhar apenas para o campo significa conferir aos jornalistas e às empresas consolidadas a mesma posição de monopólio informativo que até recentemente, de fato, detinham, relegando a um segundo plano as demais instâncias. Tal abordagem permite avançar apenas até as interfaces e os deslocamentos entre a imprensa tradicional off-line (quer impressa, quer audiovisual) e os sites de jornalismo tradicionais. Neste caso, qualquer análise fica limitada às discussões quanto ao tempo real, à fragmentação dos textos on-line, à hipertextualidade, aos novos formatos, enfim, um olhar funcional-normativo entre o campo e os diferentes suportes e não voltado às relações sócio-discursivas que se estabelecem entre os subsistemas jornalísticos na sociedade amalgamada em rede. Significa negar a crise de identidade do Jornalismo em um momento de transição, ainda em curso.
123A crise de identidade do Jornalismo na nova ecologia midiática
O fato é a consolidação da web como plataforma de comunicação está sendo feita por meio de uma significativa mudança de valores entre os jornalistas e os veículos informativos. Se, por um lado, a produção das notícias está em franco processo de repaginação nos próprios conglomerados, por outro, a mediação multinível, decorrente de uma intensa circulação e reenquadramentos pelo tecido social, também demanda um reposicionamento das redações profissionais.
Anteriormente, a notícia podia ser pensada como um “relato finalizado”, um dos olhares possíveis propostos por esta ou aquela redação sobre um acontecimento. Na nova ecologia midiática, as notícias – lacunares, construídas gradualmente e objeto de postagens sumárias imediatas, sem tempo mínimo de apuração – são apenas o ponto de partida para sucessivas mediações, dentro e fora das redações, levando os próprios conglomerados a buscarem visibilidade e legitimação em plataformas de nichos, como o Twitter, por exemplo.
A extensão desta mudança e de que forma alterará o campo jornalístico ainda são questões em aberto e que estão no cerne da crise de identidade do Jornalismo na nova ecologia midiática. Encontrar respostas de como harmonizar os novos hábitos sócio-informativos, manter as características intrínsecas do Jornalismo como mediador-disciplinar e construtor de atualidade social e, ao mesmo tempo, fortalecer as redações profissionais para que a diferenciação entre fornecer conteúdo e fazer Jornalismo seja visível para a sociedade ainda parecem objetivos distantes de um ponto de chegada.
NOTAS
1 Neste artigo, utiliza-se a inicial maiúscula para designar o Jornalismo como área do conhecimento e Campo Social e a grafia com minúscula ao fazer referência ao jornalismo enquanto prática social.
2 É de Neil Postman a autoria do termo “ecologia da mídia,” definido por ele em 1970 como o estudo das mídias como ambientes, isto é, sua estrutura, conteúdo e impacto sobre o modo das pessoas pensarem e agirem, onde um ambiente constitui-se em um sistema complexo de mensagens.
3 A utilização do termo “função”, em detrimento de “meios” de comunicação de massa, é intencional, já que funções massivas e pós-massivas estão presentes tanto nas mídias analógicas como nas digitais. Por exemplo, um portal na internet ou um grande site de buscas tentam desempenhar funções massivas, enquanto que
124 Anelise Rublescki
mídias analógicas como fanzines e rádios comunitárias exercem funções de nicho. No Brasil, o termo nicho é utilizado como sinônimo de mídia segmentada.
4 O foco do trabalho referenciado é a decisão do voto por parte do eleitor. Contudo, entende-se que as inferências da autora são extrapoláveis para temáticas diversas na comunicação na web.
5 As sete tendências de alargamento das fronteiras do campo são 1)jornalismo difuso, 2) jornalismo de recuperação residual e 3) jornalismo de aprofundamento da colaboração, 4) predominância de notícias centradas no leitor, 5) valoração do conteúdo local, 6) personalização da fruição das notícias e, 7) pluralidade de vozes e enquadramentos sobre um mesmo fato.
6 Para o autor, o jornalismo informativo compreende notas, notícias, reportagens e entrevistas; enquanto o opinativo inclui editoriais, comentários, artigos, resenhas, colunas, crônicas, caricaturas e cartas.
7 “Journalism is the business or practice of producing and disseminating information about contemporary affairs of general public interest and importance”. Tradução da autora.
8 Para Guerra (2000) o senso comum caracteriza a postura espontânea do homem na sua relação com o mundo e a postura com a qual os indivíduos experimentam a vida como uma partilha de sentidos. Segundo o autor, “olhar para o jornalismo com os olhos do senso comum” implica abrir-se para o modo como os indivíduos lidam com essa prática na sua experiência de vida.
9 slashdot.org/
10 english.ohmynews.com/
11 A prática, contudo, não é nova: já em 1998 Thompson se referia ao conceito de “notícia estendida” e Thornton (1996, citada por PRIMO, 2008) trabalhava com o fluxo noticioso entre três níveis: mídia de massa, mídia de nicho e micromídia. Primo (2008), numa atualização da abordagem de Thornton, inclui a categoria micromídia digital e conclui que o grande diferencial é o alcance do atual encadeamento midiático, denominação do autor para o fenômeno.
125A crise de identidade do Jornalismo na nova ecologia midiática
REFERÊNCIAS
ADGHIRNI, Zélia. O Jornalista: do mito ao mercado. Estudos em Jornalismo e Mídia. v. 2 n. 1, 2005.
ALMEIDA, Yuri. Jornalismo colaborativo: uma análise dos critérios de noticiabilidade adotados pelos cidadãos-repórteres do Brasil Wiki durante as eleições de 2008. Trabalho de conclusão da pós-graduação em Jornalismo Contemporâneo do Centro Universitário Jorge Amado, 2009.
ALSINA, Miquel. A construção da notícia. Petrópolis: Vozes, 2009.
BAUMAN, Zigmunt. Vida líquida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2007.
BOURDIEU, Pierre. Sobre a Televisão. São Paulo, Zahar, 1997.
___________. O Poder Simbólico. 13 ed.Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010.
GANS, Herbert, Deciding what’s news: a study of CBS Evening News, NBC Nightly News, Newsweek and Time. New York, Pantheon Books, 1979.
GENRO FILHO, Adelmo. O segredo da pirâmide: para uma teoria marxista do jornalismo. 2 ed. Porto-Alegre: Tchê! , 1989.
GOFFMAN, Erving. Frame Analysis: los marcos de la experiencia. Madri: Siglo XXI, 2006.
GOMES, Mayra Rodrigues. Jornalismo: poder disciplinar. Revista Kairós, São Paulo, Caderno Temático 6, dez, 2009.
GUERRA, Josenildo Luiz. Ensaio sobre o Jornalismo: um contraponto ao ceticismo em relação à tese da mediação jornalística. Online. 2000. Disponível em: <http://74.125.155.132/scholar? q=cache:Kn2fJx6UDlkJ:scholar.google.com/&hl=pt-BR&lr=&as _sdt=2000>. Acesso em 12 jul 2012.
LEMOS, André. Cidade e Mobilidade. Telefones Celulares, funções pós-massivas e territórios informacionais. Matrizes, Revista do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação. USP, ano 1, n.1, 2007. p.121-137.
126
LUCKMANN, Thomas, BERGER, Peter. A construção social da realidade: tratado de sociologia do conhecimento. Petrópolis: Vozes, 1998.
MARQUES de MELO, José. Jornalismo opinativo: gêneros opinativos no jornalismo brasileiro. Campos do Jordão: Mantiqueira, 2003.
McCOMBS, Maxwell; SHAW, Donald. A função do agendamento dos media,1972 In: TRAQUINA, Nelson. O Poder do Jornalismo: análise e textos da teoria do agendamento. Coimbra: Minerva, 2000.
MEDITSCH, Eduardo. O jornalismo é uma forma de conhecimento? Conferência. Biblioteca On-line de Ciências da Comunicação, 1997. On-line. Disponível em: <http://www.bocc.ubi.pt/pag/ meditsch-eduardo -jornalismo-conhecimento.html>. Acesso em: 7 ago 2012.
MESQUITA, Mario. O poder mediático. Teorias e Representações. Actas do VI Encontro de Sociologia nos Açores. Online. 2004. Anais... Disponível em: <http://www.fdiogo.uac. pt/pdf/Texto_Mario_Mesquita.pdf>. Acesso em 2 ago 2012.
MOUILLAUD, Maurice. A crítica do acontecimento ou o fato em questão. In: PORTO, Sérgio Dayrell (Org.). O jornal: da forma ao sentido. Brasília: Paralelo 15, 1997. p.49-83.
PALACIOS, Marcos. Alargamiento del campo periodístico na era del blogging. Trabalho apresentado em colóquio na Universidade Nacional de Córdoba. Anais...Córdoba: dezembro de 2006.
PARK, Robert. A notícia como uma forma de conhecimento. In: STEINBERG, Charles. Meios de comunicação de massa. São Paulo: Cultrix, 1972.
PRIMO, Alex. Interney Blogs como micromídia digital: Elementos para o estudo do encadeamento midiático. XVII Encontro Anual de Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação, 2008. Anais... São Paulo: Compós, 2008, p.1 – 17.
RODRIGUES, Adriano. Estratégias da comunicação. Lisboa: Editorial Presença, 1990.
Anelise Rublescki
127
_______. A emergência dos campos sociais: Reflexões sobre o mundo contemporâneo. Piauí: Revan, 2000.
RUBLESCKI, Anelise. Jornalismo líquido: mediação multinível e notícias em fluxos. Tese de Doutorado (em Comunicação e Informação). Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2011.
_______. Metamorfoses jornalísticas: leitores e fontes como instâncias co-produtoras de conteúdos no jornalismo líquido. Estudos em Comunicação/Communication Studies, v. 10, p. 319-335, 2011a.
_______. Agendamento e mediação jornalística no jornalismo líquido. Comunicologia (Brasília), v. 9, p. 48-61, 2011b.
_______. Jornalismo líquido e a nova processualidade da notícia: estudo de caso da cobertura jornalística na Tragédia no Japão. Lumina , vol. 5, n.2, 2011c, p. 1-15.
SCHUDSON, Michael. The sociology of news. NewYork: Norton, 2003.
VIZEU, Alfredo. Jornalismo e representações sociais: algumas considerações. e-compós. v.1, n.1, 2004. p 1-13.
WEBER, Maria Helena. Na comunicação pública, a captura do voto. LOGOS 27: Mídia e democracia. Ano 14, 2º semestre 2007. On-line. Disponível em: http://www.logos.uerj.br/PDFS/ 27/03_MARIA_WEBER.pdf. Acesso em: 14 ago 2012.
AUTORA
Anelise Rublescki: Jornalista, mestre em Comunicação e Ciência da Informação pela UFRJ/IBICT, doutora em Comunicação e Informação (UFRGS). Pós-doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFSM. Bolsista Capes- Fapergs. [email protected]
A crise de identidade do Jornalismo na nova ecologia midiática
Este capítulo apresenta resultados de estudos realizados nos grupos de pesquisa Comunicação Institucional e Organizacional e WebRP: práticas de Relações Públicas em suportes midiáticos digitais (UFSM/CNPq), que investigam as práticas de relações públicas em ambiências midiáticas, tendo como pressuposto a mediação técnica e referem-se especialmente aos suportes digitais.
O objetivo é compreender as práticas de relações públicas no contexto atual e sob a ótica da ecologia das mídias (SCOLARI, 2010, 2012; STRATE, 2004), quando fluxos comunicacionais são redimensionados e novas estratégias são empreendidas a fim de interagir com públicos cada vez mais conectados e predispostos a dialogar e a participar em múltiplas ambiências.
O capítulo está subdividido em cinco seções1. A primeira, Relações Públicas: uma questão conceitual, traz a ambiguidade do termo Relações Públicas e seus usos. A segunda e a terceira, O processo de midiatização da sociedade: a mídia como matriz de práticas sociais e Transformações dos fluxos comunicacionais em ambiências digitais, abordam questões que perpassam transversalmente as pesquisas por mim desenvolvidas ou orientadas nos grupos de pesquisa. A quarta, Estratégias de relações púbicas em portais institucionais: adaptação da comunicação organizacional ao ecossistema midiático digital, relata a pesquisa que classificou as práticas de relações públicas na ambiência da Web. A quinta aborda
Eugenia Mariano da Rocha Barichello Daiana Stasiak Daiane Scheid
Ana Cássia Pandolfo Flores Jones Machado
Estendendo as práticas de Relações Públicas sob a perspectiva teórica da
ecologia das mídias
130 Eugenia Barichello; Daiana Stasiak; Daiane Scheid; Ana Flores; Jones Machado
o Uso estratégico da convergência midiática como prática de relações públicas em ambiências digitais, por meio de um estudo de caso da Petrobrás. Para finalizar, são tecidas algumas considerações sobre as práticas de Relações Públicas sob a perspectiva teórica da ecologia das mídias.
RELAÇÕES PÚBLICAS: UMA QUESTÃO CONCEITUAL
Ao estender e compreender as práticas contemporâneas de relações públicas sob a ótica da ecologia das mídias, começo discutindo a ambiguidade do termo relações públicas e o costume, já estabelecido na área, de utilizar definições operacionais para descrever o campo disciplinar, o profissional, a atividade ou função. O objetivo é situar nesse cenário as práticas de relações públicas estudadas nos grupos de pesquisa Comunicação Institucional e Organizacional e WebRP: práticas de Relações Públicas em suportes midiáticos digitais (UFSM/CNPq), e trazer a proposta das práticas de relações públicas como meio de obter visibilidade e legitimidade para entidades individuais e coletivas, em uma nova ambiência sociotécnica sob a perspectiva teórica da ecologia das mídias.
Considero oportuno retomar aqui o postulado de Simões (2001) quando afirma que na atividade de Relações Públicas existe a falta de um rationale, que é a razão lógica, a base lógica de qualquer coisa. Essa ausência de base lógica é exteriorizada quando a definição conceitual evoca ou é equivalente aos seus objetivos, aos seus instrumentos ou à sua ética. O uso da denominação Relações Públicas sem estar acompanhado de explicativo anterior como disciplina, profissão, profissional, atividade ou função provavelmente leva a distorções de interpretação. Simões (2001) acredita ser mais fácil entender como é exercida a atividade do que responder o que é a atividade.
A questão acima exposta tem sido vivenciada no decorrer desta década e meia que tenho pesquisado sobre as relações públicas: a área, a profissão, a disciplina, e optado por utilizar, como explicativo, o vocábulo “práticas”, colocando-o antes do termo relações públicas, com o intuito de conseguir acompanhar as práticas profissionais contemporâneas e mapear suas ações, especialmente no que se refere às práticas relacionadas ao que a literatura da área costumava denominar como públicos externos e como comunicação institucional, que objetiva institucionalizar práticas sociais e promover o seu reconhecimento ou legitimação social.
Considero a busca da legitimidade como o princípio norteador das práticas de Relações Públicas, pois por meio desse processo as organizações e instituições conquistam a integralidade que colabora para sua permanência ao
131Estendendo as práticas de Relações Públicas sob a perspectiva teórica da ecologia das mídias
longo do tempo (BARICHELLO, 2004, 2008). Porém, o processo de midiatização da sociedade evidencia que, na atualidade, ocorre um deslocamento da busca da legitimação institucional pois se, até pouco mais de uma década, era necessário que as informações institucionais fossem submetidas ao filtro das mídias lineares (televisão, rádio e mídia impressa) para alcançarem a visibilidade pública, no contexto atual as instituições, os indivíduos e a mídia afetam-se continuamente, alternando-se como emissores, receptores e incitadores da circulação de conteúdos.
A lacuna apontada por Simões (2001) na definição conceitual de relações públicas fica evidenciada hoje diante de reconfigurações profundas do contexto onde são realizadas as práticas de relações públicas, ou seja, uma sociedade midiatizada, onde a lógica da mídia perpassa as ambiências como um gás e ocupa os espaços, derrubando antigos muros entre a comunicação externa e interna da empresa, depolarizando o polo emissor, hibridizando instâncias de emissão e recepção e potencializando a circulação.
Atualmente, existem mudanças radicais a serem estudadas pela área de Relações Públicas, que são um vigoroso locus de investigação, já que inúmeras atualizações são necessárias nos livros utilizados para “ensinar” a “classificar públicos”, a “evitar ruídos” e a “controlar crises”. Acredito que o substrato das práticas de relações públicas ainda é o mesmo: a relação de uma entidade com seus públicos, porém atualmente é preciso considerar as possibilidades de interação trazidas pelos novos meios e ambiências. Além disso, considero que a palavra organizações, presente na descrição dos objetos de Relações Públicas, é um “constrangimento”, pois cerceia, delimita e restringe a atividade à área interdisciplinar da comunicação organizacional, na qual também atuam jornalistas, publicitários, administradores e psicólogos entre outros. Acredito que o objeto material das práticas de relações públicas são expressas com mais propriedade por meio da utilização da terminologia entidades, que podem ser individuais e ou coletivas. As individuais, representadas por políticos, artistas e indivíduos expostos ao extremo na sociedade midiatizada, que utilizam as redes sociais e as plataformas digitais como emissores e receptores. As entidades coletivas representadas pelos movimentos sociais, instituições e suas concretizações, as organizações públicas e privadas (universidades, empresas) também inseridas no processo de midiatização da sociedade. Diante desse contexto, a perspectiva teórica da ecologia das mídias é instigante para pensar as práticas de relações públicas.
132 Eugenia Barichello; Daiana Stasiak; Daiane Scheid; Ana Flores; Jones Machado
O PROCESSO DE MIDIATIZAÇÃO DA SOCIEDADE: A MÍDIA COMO MATRIZ DE PRÁTICAS SOCIAIS
O desenvolvimento sociotecnológico da mídia, a expansão das redes digitais e o processo de midiatização da sociedade, dão base para olhar os fenômenos sociais que se organizam e passam a ser entendidos como uma nova ambiência, em uma perspectiva ecológica. Quando falo em sociotecnológico, está subentendida, nesta expressão, uma prática social mediada por um aparato técnico e que subentende uma lógica de funcionamento. A intensificação do uso de tecnologias que dependem, cada vez mais, de processos, de conexões e de fluxos, impulsiona a transformação dos meios que podem ser entendidos como um complexo ambiente, com suas operações e diferentes processos de interações e práticas. Sendo assim, quando as regras, valores e lógicas que organizam o funcionamento de domínios específicos da experiência humana, são afetados pela lógica da mídia, passam a ser constituintes de uma nova ambiência midiatizada.
O processo de midiatização da sociedade dá origem a um novo ambiente social sustentado por práticas e lógicas próprias, que não se limitam aos suportes tecnológicos e meios de comunicação, mas que se entranham por toda a ordem social. Dessa forma, o processo de midiatização está ligado a diferentes fatores que o tornam possível, que moldam as suas características e embasam as suas lógicas (HJARVARD, 2012; SODRÉ, 2002).
Contudo, a midiatização da sociedade não se dá de maneira homogênea. Apesar de ser possível considerar que as lógicas da mídia se expandem de forma a abarcar as outras esferas sociais, tal processo acontece em diferentes níveis. Nesse contexto relacional entre o midiático e os outros campos, e considerando que cada campo social conta com sua própria dinâmica de funcionamento, há sempre um caráter de negociação e de possíveis tensões entre lógicas diversas num processo de midiatização. Ao mesmo tempo em que as lógicas se afetam de maneira mais intensa, em localizações mais fronteiriças na qual se pode observar uma maior porosidade entre os campos, há também os núcleos mais rígidos nos quais se encontram as lógicas fundadoras de cada campo e que não são afetadas com tanta facilidade (FLORES; BARICHELLO, 2009).
A abordagem do fenômeno da midiatização ressalta a porosidade das instâncias sociais, que nesse novo bios, passam a ter suas ações cotidianas atravessadas pela mídia. Assim, a condição sociotécnica da midiatização se estabelece como uma nova configuração de práticas e ambientes sociais tornadas possíveis pelo desenvolvimento dos meios tecnológicos de informação e
133Estendendo as práticas de Relações Públicas sob a perspectiva teórica da ecologia das mídias
comunicação. Contudo, essa extrapolação do midiático se faz pelo fato de o próprio princípio de comunicar passar a ser modulado por características midiáticas, o que garante a essa, nova forma de ser tornar-se realmente uma prática corrente no cotidiano social contemporâneo. No bios midiático, a tecnocultura emerge como uma nova forma de relacionamento do indivíduo com o real, com modificações nas percepções e com o surgimento de novas modalidades de sociabilidade.
A visão da midiatização, como uma nova ambiência, vai além das concepções funcionais e instrumentais que enxergam a mídia apenas como uma ferramenta operacional. O consistente desenvolvimento tecnológico, a passagem da linearidade da comunicação para a descontinuidade e para a fragmentação, a porosidade das fronteiras e a afetação da mídia nos demais campos sociais configuram a ordem social de forma a midiatizar a própria sociedade. Realidade e sociedade são configuradas por meio de novos mecanismos de produção de sentido, tendo nas estruturas de conexões uma nova forma de vínculo social. Nesse novo ambiente existencial, se apresentam novas maneiras de atuação, caracterizadas pelo imbricamento da prática social e da tecnologia, ao ponto de emergir uma sociotécnica.
A tecnologia se insere como um propulsor de novas formas de relacionamento do indivíduo com o mundo que ele percebe. Isso se traduz no desenvolvimento das mais variadas ferramentas tecnológicas e também resulta em novos processos de comunicação social, que consequentemente se configuram como novos estruturantes da vida em sociedade. Com essa evolução da técnica, a cada nova mudança no modelo comunicacional ocorre também uma mudança nos modelos culturais, na organização da sociedade e na própria vida dos indivíduos. Esse trajeto do desenvolvimento da tecnologia é muito mais que uma sucessão de inventos e determinismos técnicos, mas resulta do desenvolvimento das capacidades individuais, pois uma tecnologia provém do conhecimento e logo passa a fazer parte da cultura, impregnando o imaginário social.
A ideia de uma lógica sociotécnica vem da mútua afetação entre as possibilidades tecnológicas e o fazer humano. Em cada tecnologia estão embutidas novas possibilidades de sentido e de controle do natural e do social. O uso de uma tecnologia é reflexo do momento histórico, cultural e social, no qual ela surgiu e foi adotada, da mesma forma que essa mesma tecnologia ao ser adotada modifica a cultura e a organização social.
A ambiência tecnológica traz consigo uma nova visão de mundo que remete à produção discursiva da sociedade. Dessa maneira, cada tecnologia é elemento estruturador dos significados aceitos na ordem social como característico de sua
134 Eugenia Barichello; Daiana Stasiak; Daiane Scheid; Ana Flores; Jones Machado
própria cultura. A tecnologia também passa a integrar o imaginário e, juntamente com as novas proposições sociais de códigos de comunicação e conduta, cria novas linguagens. Nesse sentido, a cultura aparece como fator imprescindível para o entendimento do processo de mudança trazido pelas inovações tecnológicas e as relações ao passarem pelo ordenamento e ajustamento são estabilizadas e constituem o modelo cultural. Pelo processo de ajustamento, as relações passam a ordenar as condutas posteriores, constituindo-se em fator ativo na organização cultural e social dos agrupamentos humanos.
A comunicação e a técnica também se imbricam no modelo cultural de forma a afetar os modos de pensar e da sociedade se organizar. Os meios de comunicação, quando tomados como novas possibilidades de atuação do indivíduo e das instituições, com suas lógicas de funcionamento, suas possibilidades de uso e significados, podem apresentar-se como moduladores das formas de vida e de visão de mundo. Podemos falar, assim, do caráter inseparável da tecnologia e da linguagem que são tanto formas de expressão como dinâmicas de transformação e ação humana sobre o mundo. Tal pensamento, quando aplicado aos meios e tecnologias de comunicação institucionalizados, em cada época, não só impõem gramáticas de construção de mensagens como também configuram a sua codificação e as percepções de mundo. Sendo assim, o ser humano, constituído pela cultura, constrói seu próprio mundo a partir do estabelecimento de costumes, padrões de conduta e da produção, acumulação e partilha social de experiências. Essa ambiência é feita de objetos partilhados e sentidos produzidos pela sua capacidade simbólica, que nesse contexto, faz da tecnologia um processo social, uma sociotécnica.
Nesse sentido, as modificações percebidas na sociedade não se dão por causações impositivas, mas por aditividades de novas formas de atuação que se adicionam aos fatores já estabelecidos no sistema social e se afetam. Essas aditividades modificam atuações e percepções, mas não chegam a transformar a totalidade da experiência humana. Com isso queremos dizer que, embora falemos aqui de uma ambiência midiatizada, com novas formas de ser e perceber o real, entendemos que a configuração da sociedade em campos sociais, como a autonomização de esferas específicas do conhecimento, não é superada e sim requalificada num processo que simula os ajustes ecológicos.
135Estendendo as práticas de Relações Públicas sob a perspectiva teórica da ecologia das mídias
TRANSFORMAÇÕES DOS FLUXOS COMUNICACIONAIS EM AMBIÊNCIAS DIGITAIS
À medida que o ser humano encontrou novas formas e meios de se expressar, no sentido de transmitir e dialogar sobre estas expressividades, o processo de comunicação foi, paralelamente, evoluindo, fato que implicou na maturação e na potencialização constante das tecnologias que servem de suporte às ambiências midiatizadas da sociedade.
Na perspectiva do paradigma funcionalista-pragmático, o processo comunicacional aponta para os meios de comunicação como detentores de poder absoluto, os quais comunicam algo a uma massa amorfa, passiva e receptiva a toda informação, ao modo do modelo da agulha hipodérmica. A partir desse modelo, a mídia inocula ideias desconsiderando diferenças individuais e age de forma manipuladora e ideológica. A ótica do funcionalismo busca entender quais são os efeitos produzidos num receptor pela difusão coletiva de informação pelos meios de comunicação de massa e/ou explicar os usos e satisfações oriundos do consumo de conteúdos midiáticos para conhecer as “necessidades” a serem satisfeitas pela mídia.
O paradigma matemático-informacional privilegia a forma como uma mensagem é enviada por um emissor, com base em um código, por um canal a um receptor. O foco reside na nitidez da transmissão pelo canal de uma determinada quantidade de informação. O modelo teórico-matemático da comunicação proposto por Shannon e Weaver (1975) tinha por objetivo responder a três questões interdependentes: a qualidade da transmissão de sinais, o grau de nitidez com que os sinais eram transmitidos e a eficiência/eficácia dos significados assimilados pelo receptor, destinando-se, portanto, a problemas de ordem técnica. As duas perspectivas paradigmáticas já citadas parecem, hoje, insuficientes para explicar a complexidade do processo comunicacional, pois diante de novas práticas é preciso repensar as teorias da comunicação para dar conta do processo, que hoje se apresenta de forma reticular e interativo. Em face desse fenômeno, as tipologias de fluxos comunicacionais são reconfiguradas, havendo necessidade de levar em consideração o suporte reticular e a interatividade possibilitada, de modo a contemplar os aportes tecnológicos e as decorrentes relações de interação e sociabilidade daí oriundas.
Instituições, mídias e atores sociais afetam-se mutuamente de forma não-linear no processo de midiatização da sociedade. Assim, observamos que as posições ocupadas por esses agentes nos processos de comunicação, visibilidade e legitimação institucional alteram-se de acordo, também, com as lógicas próprias
136 Eugenia Barichello; Daiana Stasiak; Daiane Scheid; Ana Flores; Jones Machado
dos ambientes midiáticos. Em tal contexto, novas estruturas de informação, tecnologias de comunicação e formas de interação caracterizam uma sociedade em que a participação ativa no processo de comunicação e o compartilhamento de informações preponderam sobre a transmissão de mão única. A midiatização, pois, caracteriza-se por valer-se de uma conjuntura sociotécnica em que os indivíduos são interagentes capazes de interpretação, resposta e modificação das propostas organizacionais.
A partir dos anos 1990, com o advento do uso de plataformas digitais percebe-se que todos se transformam potencialmente em mediadores e o suposto poder exercido pela mídia sobre os indivíduos já não corresponde às possibilidades e ao posicionamento de pessoas e organizações nessa ambiência. Para os estudos no campo da Comunicação, porém, a ampliação das possibilidades e dos fluxos comunicativos acaba por desestabilizar as teorias dominantes. A superação dos tradicionais conceitos fechados e das teorias da comunicação de massa são os desafios, pois não se aplicam mais aos processos comunicativos (JOHNSON, 2010). Isso ratifica que o contexto da internet requer a análise multifacetada, interdisciplinar e complexa diante do dinamismo e da reconfiguração das relações sociais que podem ser estabelecidas.
Em meio às discussões sobre o potencial das mídias digitais e a onipresença da internet na vida das pessoas, reside outra questão preponderante referente à diversidade sociocultural, a natureza humana do interagente com quem se mantém relacionamentos à distância e os valores para uma convivência profícua são fatores determinantes que caminham lado a lado com o processo de digitalização dos processos comunicacionais e das relações entre entidades e públicos.
O estudo das práticas de relações públicas nas ambiências digitais precisa abranger também as possibilidades de estabelecimento de processos de comunicação em suportes digitais. Uma realidade que divide os membros da área profissional e disciplinar de relações-públicas são práticas nessas mídias, já que a digitalização provoca questionamentos com relação às competências do profissional e se reflete na inserção e legitimação do campo disciplinar na sociedade contemporânea. De fato, o domínio de técnicas relacionadas à ciência da computação parece ser determinante para realizar ações e estratégias na ambiência digital. Entretanto, independentemente de posições individuais, é importante tratar a oportunidade como um potencial a ser explorado no que se refere ao aspecto comunicacional.
De modo a ilustrar os fluxos comunicacionais possíveis na internet, a Figura 1 possibilita visualizar que no primeiro quadro (a) está representada a
137Estendendo as práticas de Relações Públicas sob a perspectiva teórica da ecologia das mídias
comunicação, ponto a ponto, estabelecida entre um emissor “A” e um receptor “B” e se refere, por exemplo, ao sistema “Fale Conosco” presente em portais institucionais, assim como o uso de e-mail para comunicação entre organizações e públicos na ambiência da internet. No segundo quadro (b), há um ponto de emissão para muitos receptores, fluxo que pode ser comparado ao de portais e rádios on-line.
Figura 1 - Fluxos de Comunicação na Internet
Fonte: Stasiak e Barichello (2008, p. 12)
No terceiro quadro (c) da Figura 1 é representada a possibilidade de um número indeterminado de emissores enviando mensagens a um receptor, referindo-se, na prática, aos Serviços de Atendimento ao Consumidor (SAC) e ouvidorias institucionais, nos quais, muitas vezes, o fluxo é unidirecional e não de mão dupla. Em (d), visualiza-se um modo de fluxo interativo entre emissor(es) e receptor(es) que ocorre em chats, diálogos via sistemas de messengers e de microblogs, como o MSN e o Twitter.
Em face desse contexto das mídias digitais, em que os fluxos são multidirecionais e os “receptores” podem ser interagentes, tanto o fluxo da informação como o conteúdo produzido pela organização podem ser potencialmente reconfigurados. Por isso, antes de explorar o universo digital, é cada vez mais evidente que as práticas de relações públicas necessitem definir um posicionamento e um planejamento para sua presença na interface da web.
Uma presença na web com caráter 1.0 constitui-se de forma pouco interativa, tradicional e oferece a possibilidade de comunicação unidirecional com a sociedade. Desse modo, a capacidade de personalização da relação, de intervenção do receptor e de diálogo mútuo é muito baixa, quase nula. Exemplo disso são os sistemas de “Fale Conosco” e o recurso de “enquete”, podendo ser considerados simulacros de bidirecionalidade comunicacional e de interatividade, uma vez que não refletem totalmente o conceito que propõem. As formas de
138 Eugenia Barichello; Daiana Stasiak; Daiane Scheid; Ana Flores; Jones Machado
participação se resumem a estratégias que muitas vezes as empresas usam de forma a se configurar relações de interação reativa, em que artifícios tecnológicos automáticos estabelecem uma (pseudo) comunicação com os interagentes (SAAD, 2008).
No cenário 2.0 da presença digital pode-se notar que as características técnicas são acrescidas de conteúdo gerado pelo usuário, compartilhamento, diálogos e conversações. Na configuração da Web 2.0 “a mensagem passa a ter caráter muito especial, deixando de ser só um anúncio de convencimento para dar lugar à opinião de alguém que vivenciou uma experiência e tem algo a dizer sobre isso” (SAAD, 2008, p. 156). Também, os instrumentos e as ferramentas de comunicação caracterizadas por blogs e mídias sociais digitais consistem em espaços de expressão/opinião, produção de conteúdo e publicação/avaliação, o que configura o cenário ideal que busca o interagente que navega na internet e não quer apenas consumir passivamente o conteúdo disponível. Por meio das mídias sociais digitais, o interagente deseja comentar, criticar, compartilhar, recomendar e/ou modificar determinado material oferecido na rede pelas empresas.
A web 3.0 é um sistema que inclui desde redes sociais, serviços empresariais on-line até sistemas GPS e televisão móvel, assim como o aumento das etiquetas inteligentes, que permitem lidar com a informação de uma forma mais simples. Gary Hayes (2006), responsável pelos desenvolvimentos de produtos para a internet da BBC Londres trata dos ambientes virtuais de multi-usuários (Muve) e da mudança de paradigmas a partir da comunicação em tempo real. Ele define a evolução da web em três fases como mostra a figura 2 a seguir:
Figura 2 - The changing intraweb – from 1.0 to 3.0
Fonte: Hayes (2006)
139Estendendo as práticas de Relações Públicas sob a perspectiva teórica da ecologia das mídias
Resumidamente, a web 1.0 é caracterizada por ser unidirecional com informações “empurradas” aos usuários. Já a web 2.0 tem caráter mais bidirecional, com informações partilhadas entre os usuários. Enquanto que a web 3.0, que está em processo de construção é definida por possibilitar a comunicação colaborativa em tempo real. As características da web 3.0 estariam mais ligadas à questão da convivência on-line como, por exemplo, acontece com os avatares em jogos virtuais (HAYES, 2006).
A rede disponibiliza inúmeras possibilidades interativas e suas características convergentes proporcionam o acesso a informações que utilizam simultaneamente sons, imagens e textos que trazem a facilidade de fixação dos conteúdos propostos. Porém, ao mesmo tempo, a web demanda cuidados como: atualização das informações, facilidade ao acesso e uso real das possibilidades interativas.
ESTRATÉGIAS DE RELAÇÕES PÚBICAS EM PORTAIS INSTITUCIONAIS: ADAPTAÇÃO DA COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL AO ECOSSISTEMA MIDIÁTICO DIGITAL
Os portais organizacionais presentes na internet são um dos principais expoentes de relacionamento com os públicos na contemporaneidade, mas estamos ainda diante de uma realidade que está disponível e que não é utilizada e nem estudada em todo o seu potencial. A pesquisa Estratégias comunicacionais e práticas de WebRP: o processo de legitimação na sociedade midiatizada (BARICHELLO, STASIAK 2009a; 2009b; STASIAK, 2009) teve como objetivo geral classificar as diferentes fases das práticas de relações públicas na Web (WebRP) ao longo de 14 anos (1995-2009) e foi realizada em três momentos: anos 1990, composto por portais de 1995 a 1999; anos 2000, com portais de 2001 a 2005 e anos atuais, com portais de 2008 e 2009. A divisão cronológica foi realizada a partir das constatações da análise exploratória que evidenciaram características capazes de serem agrupadas nesses três momentos.
O corpus da pesquisa foi construído em duas etapas. Na primeira foram selecionados dois portais de cada um dos 25 domínios registrados para pessoas jurídicas no órgão Registro.br, responsável por manter e distribuir todos os endereços de portais disponíveis no Brasil. Os domínios foram digitados em buscadores da internet e a seleção de dois portais por domínio levou a um total de 50 portais. A segunda etapa considerou os 14 anos de uso da internet no Brasil e foi estabelecido que os portais selecionados para o estudo de casos múltiplos
140 Eugenia Barichello; Daiana Stasiak; Daiane Scheid; Ana Flores; Jones Machado
deveriam estar presentes na rede, em média, há pelo menos nove anos, ou seja, antes do ano 2000. Para que este critério fosse atendido, foi utilizada a ferramenta denominada Internet Archive Wayback Machine (IAWM) um serviço que se dedica a recolher e arquivar versões de páginas web e permite que os usuários considerem versões arquivadas das web pages do passado. Os 50 portais selecionados inicialmente foram digitados na ferramenta WayBack Machine e destes apenas oito portais apresentaram registros anteriores ao ano 2000. Devido ao pequeno número de casos encontrados, optou-se por adicionar ao corpus de pesquisa o domínio COM.BR que é caracterizado como um domínio genérico utilizado tanto para registrar portais para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas. Por meio do mesmo processo foram selecionados mais quatro portais que se enquadraram no protocolo de estudos pré-estabelecido.
Doze portais formaram o corpus final de estudo: Banco do Estado de Santa Catarina (http://www.besc.com.br), Banco do Estado do Rio Grande do Sul (http://www.banrisul.com.br), Universidade Federal de Santa Maria (http://www.ufsm.br), Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (http://www.pucrs.br), Colégio Anchieta (http://www.colegioanchieta.g12.br), Senado Federal do Brasil (http://www.senado.gov.br), Força Aérea Brasileira (http://www.fab.mil.br), Partido dos Trabalhadores (http://www.pt.org.br), Gerdau (http://www.gerdau.com.br), Avon (http://www.avon.com.br), Sadia (http://www.sadia.com.br) e Todeschini (http://www.todeschinisa.com.br).
A metodologia utilizou o Estudo de Casos Múltiplos, com base em Yin (2005), caracterizado por ser uma pesquisa que envolve duas ou mais pessoas ou organizações, numa lógica da replicação e não de amostragem. Com isto, os critérios típicos adotados em relação ao tamanho da amostra se tornam irrelevantes, pois o estudo de caso investiga um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, em situações nas quais as fronteiras entre o fenômeno e o contexto não são claramente estabelecidas e utiliza múltiplas fontes de evidências.
A partir da reflexão sobre as funções atribuídas às Relações Públicas na contemporaneidade foi elaborada uma lista de vinte e sete estratégias de comunicação consideradas norteadoras das práticas de Relações Públicas que serviram como base para o mapeamento dos portais, a tipificação e classificação das práticas. Muitas destas estratégias se aplicam fora do contexto da web, mas aqui representaram links presentes nos portais institucionais. São elas:
1. Apresentação da organização: fundação e história: informações básicas que situam os públicos sobre a origem organizacional.
141Estendendo as práticas de Relações Públicas sob a perspectiva teórica da ecologia das mídias
2. Pontos de identidade visual: presença de cores, marcas, logotipos que colaboram para a identificação institucional.3. Missão e visão: elementos característicos que explicam os princípios e o que a organização pretende alcançar. 4. Sinalização virtual: indica a setorização organizacional, característica também presente fora da web.5. Hierarquia organizacional: geralmente expressa através de organogramas apresenta a estrutura de cargos dentro da organização.6. Normas e regimento organizacional: documentos que explicam as regras e códigos que devem ser seguidos na organização.7. Agenda de eventos: divulgação de promoções institucionais com objetivo de informar, entreter, integrar os públicos.8. Publicações institucionais: materiais que contém caráter institucional da organização: newsletters, boletins informativos, house-organs, jornais e revistas, relatórios, sugestões de pauta, balanços sociais.9. Acesso em língua estrangeira: estratégia para facilitar o acesso às informações organizacionais, característica da web pela questão da quebra de barreiras geográficas.10. Sistema de busca interna de informações: característica da web 2.0 que colabora para o acesso a informações específicas em meio às demais disponíveis.11. Mapa do portal: estratégia de acessibilidade que apresenta aos públicos todas as opções disponíveis no portal. 12. Contato, fale conosco, ouvidoria: permite que os públicos enviem suas dúvidas e sugestões para a organização, o ideal é que se estabeleça um processo de comunicação entre as partes.13. Pesquisa e enquete on-line: ferramentas para colher informações sobre determinados assuntos que podem ser utilizadas em benefício da organização.14. Presença de notícias institucionais: o portal oferece espaço para a disponibilização de notícias sobre a organização e assuntos afins, é um local estratégico para informar os públicos.15. Projetos institucionais: os projetos relativos às preocupações sociais, culturais e ambientais obtêm maior visibilidade através do portal.16. Visita Virtual: promove e apresenta o espaço organizacional no ambiente da web. 17. Serviços on-line: utilização das possibilidades tecnológicas para a prestação ou facilitação de serviços para os públicos.18. Clipping virtual: mostra a visibilidade das ações organizacionais nos meios de comunicação tradicionais e na internet.
142 Eugenia Barichello; Daiana Stasiak; Daiane Scheid; Ana Flores; Jones Machado
19. Comunicação dirigida: a rede aumenta as possibilidades de se dirigir para cada público específico, a comunicação dirigida é feita através da criação de páginas dentro do portal, por exemplo: páginas para fornecedores, acionistas, colaboradores, público adolescente.20. Espaço para imprensa: releases e galeria de imagens: Disponibilização de mais informações para o uso nas mídias tradicionais e também para os públicos.21. Uso do hipertexto (texto+som+imagem): presença do texto escrito acompanhado por som e imagem, ou disponibilização de mensagens em vídeo.22. Personagens virtuais: com o avanço das possibilidades do uso de multimídias na web, as organizações passam a colocar na rede seus personagens representativos.23. Presença TV e Rádio on-line: a facilidade no acesso a arquivos de áudio e vídeo também torna possível a abertura de canais de rádio e TV institucionais.24. Transmissão de eventos ao vivo: uma possibilidade estratégica que pode fazer com que a organização ultrapasse barreiras espaço-temporais através da transmissão e troca de informações on-line.25. Disponibilização de “Fale conosco” interativo: prevê um nível de comunicação mais participativa, na qual os públicos interagem com a organização através do sistema de troca de mensagens instantâneas.26. Presença de chats: realização de conversas on-line com pessoas da organização, ou especialistas em assuntos ligados a ela.27. Link de blog organizacional: a web torna possível a elaboração de blogs sobre a organização nos quais a característica principal é a participação dos públicos que encontram um espaço mais alternativo e informal para expressar suas opiniões. (BARICHELLO; STASIAK, 2009a).
Constatou-se que, no primeiro período (1995-1999), os portais apresentaram em média apenas um terço das 27 estratégias norteadoras do estudo. Os serviços que poderiam ser realizados totalmente on-line ainda eram restritos e nos contatos predominavam os telefones e os endereços físicos da organização. A presença de instruções aos usuários e explicações dos modos de acesso às informações foram estratégias marcantes nos portais desse momento. Os links de acesso em língua estrangeira, em alguns portais, já evidenciavam a preocupação com a quebra de barreiras geográficas. A presença de links autoexplicativos e dos ícones “novo” e “new” foi constante nos portais. A grande maioria apresentou contadores de acesso, característica que ofereceu evidência ao portal como um espaço que estava sendo utilizado para a informação dos públicos.
143Estendendo as práticas de Relações Públicas sob a perspectiva teórica da ecologia das mídias
No segundo período (2001-2005) as estratégias de publicações institucionais estavam presentes em quase todos os portais sob a forma de: relatórios, editais, revistas, livros, diários e artigos; nesse período, teve início o uso de comunicação dirigida aos diferentes públicos por meio do portal. Com relação às formas de contato ainda estavam presentes indicadores de contatos telefônicos, mas, já apareceram endereços de e-mails e alguns formulários eletrônicos para envio de dúvidas e sugestões. A agenda de eventos também aumentou sua presença estratégica nos portais bem como o sistema de busca interna de informações. As estratégias de aproximação com a imprensa são intensificadas e trazem, além das notícias, galerias de fotos, clipping virtual, cadastros e eventos para informar os jornalistas. Os serviços on-line aumentaram sua presença, o que pode denotar a confiança no portal e na praticidade do espaço oferecido aos clientes. Alguns destaques dessa etapa foram o uso de algumas possibilidades interativas como links de fóruns e o crescimento das estratégias de áudio e vídeo.
No terceiro período (2008-2009) se destacam as páginas de comunicação dirigida e os espaços multimídia. A presença de vídeos também predominou e a grande maioria dos portais apresentou algum tipo de imagem móvel. Os personagens virtuais ocuparam maiores espaços e a estratégia de projetos institucionais foi mais incrementada em links nomeados como: responsabilidade social, responsabilidade ambiental, projetos culturais, de apoio, educacionais, sustentabilidade, preservação e reciclagem. Os sistemas de busca estão presentes na maioria dos portais nesse período. Com relação ao mapa do portal, quase todos apresentaram esta estratégia, fato que se justifica pelo grande número de informações disponíveis e a dificuldade de encontrá-las. Os serviços on-line estão muito presentes e possibilitam quase todos os tipos de serviço da organização por meio do portal. As notícias institucionais e o espaço para a imprensa predominam nos portais dessa etapa.
O acesso em língua estrangeira predominou apenas nos portais de organizações com maior número de negócios internacionais e um dos portais apresentou a inovação do tradutor para a linguagem de libras, demonstrando a preocupação com os públicos que possuem necessidades especiais. Nas estratégias de contato com os públicos os formulários eletrônicos firmaram sua presença e o contato por e-mail predominou nos espaços de fale conosco. As emissoras de TV e rádio das organizações que as possuem são apresentadas em links inseridos nos portais; já as demais, possuem vídeos de publicidade, institucionais, spots de rádio, propagandas da TV, ou vídeos sobre a organização no Youtube. O blog organizacional, a transmissão de eventos ao vivo e a teleconferência foram
144 Eugenia Barichello; Daiana Stasiak; Daiane Scheid; Ana Flores; Jones Machado
estratégias encontradas apenas em portais desse período e parecem indicar a busca por interatividade e a utilização do espaço da web para unir os públicos por meio de eventos virtuais.
A análise demonstrou o aumento progressivo do uso de espaços institucionais nos portais pela disponibilização de projetos desenvolvidos especialmente para a rede, além da consolidação dos serviços on-line e da aplicação de recursos de multimídia, como vídeos, imagens e sons. Por outro lado, encontramos no mapeamento portais sem uma capacidade interativa coerente com as possibilidades técnicas disponíveis atualmente, como, por exemplo, a falta de estratégias de interação mútua com os públicos.
Com base nas ações acima referenciadas foi possível classificar três diferentes fases das práticas de Relações Públicas na web (WebRP):
A primeira fase da WebRP caracteriza-se por demonstrar a ocupação de um novo espaço de caráter informativo, com a transposição de pontos de identidade visual, dados históricos e poucas notícias. Nesse primeiro momento, as práticas de Relações Públicas caracterizaram-se pela busca e conhecimento de um novo espaço (portal) e pelo crédito a uma mídia em ascensão (internet), que ainda não tinha seus resultados de visibilidade comprovados. Mas, ao mesmo tempo, essa nova mídia possuía um forte apelo de modernização e transformação dos modos de se dispor informações aos públicos, que não dependia mais exclusivamente das mídias tradicionais. E que quebrava, de certo modo, a lógica de emissor-canal-receptor, pois oferecia aos públicos mais possibilidades de interagir diante de um contexto.
A segunda fase da WebRP apresenta um número extremamente maior de informações e a ampliação de serviços virtuais, das formas de contato com os públicos e dos espaços de notícias. Os portais fixam suas raízes e ganham maior credibilidade. Assim, o segundo momento das práticas de Relações Públicas passa a ser de exploração de um espaço que exige conteúdos diferenciados das mídias clássicas. Em linhas gerais esta constatação resultou num aumento da oferta de serviços on-line, no melhor aproveitamento das seções de notícias e publicações institucionais, maior abertura para as formas de contato virtual com os públicos, estratégias de comunicação dirigida e uso de perguntas em enquetes feitas por meio do portal.
A terceira fase da WebRP tem como traços marcantes o predomínio de informações dirigidas a cada público, a presença de projetos institucionais e a utilização de recursos em multimídia. Ela caracteriza o momento atual, evidencia a evolução do sistema web e sua presença cada vez maior no cotidiano da vida das pessoas. Nas práticas de Relações Públicas isso se reflete em estratégias da internet
145Estendendo as práticas de Relações Públicas sob a perspectiva teórica da ecologia das mídias
conectadas às estratégias para as demais mídias; no contato mais dirigido a cada público e no aproveitamento das possibilidades do uso de estratégias multimídia.
Os portais foram reavaliados (STASIAK, 2011) e, dois anos depois, a presença de ícones de mídias sociais digitais foi soberana, todas as organizações estudadas utilizam dispositivos como RSS Feeds nas suas salas de imprensa, Twitter, Facebook, blog, Flickr e YouTube para estabelecer contato com seus públicos. Os ícones estão presentes nos portais e redirecionam para as mídias sociais, indicando a lógica de convergência midiática presente no ambiente digital. A análise empírica dos portais e a tipificação das fases a partir de práticas de estratégias de comunicação na web nos levam a entender o portal como uma adequação das organizações ao ecossistema midiático digital.
USO ESTRATÉGICO DA CONVERGÊNCIA MIDIÁTICA DIGITAL: O CASO PETROBRÁS
No contexto atual, a convergência midiática digital revela-se uma estratégia de comunicação agregadora e com potencial de interação entre mídias. A convergência representa uma mudança no modo como são encaradas as relações com as mídias e uma transformação cultural à medida que consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a conteúdos midiáticos dispersos.
A convergência das mídias altera a relação entre tecnologias existentes, indústrias, mercados, gêneros e públicos proporcionando uma interação de plataformas cada vez maior. Envolve uma transformação tanto na forma de produzir quanto na forma de consumir os meios de comunicação, envolve a mudança de funções entre espaços midiáticos, com tensões entre técnicas de comunicação e surgimento de novas ou o rearranjo de formas sociais (JENKINS, 2008; SALAVERRÍA, 2010).
As afirmações de Jenkins (2008) e Salaverría (2010) encontram respaldo em McLuhan (1971) quando este afirma que o novo ambiente reprocessa o anterior em uma hibridação constante e ressalta que a mensagem de qualquer meio ou tecnologia é a alteração que provoca nas práticas sociais:
[...] o ‘conteúdo’ de qualquer meio ou veículo é sempre um outro meio ou veículo. O conteúdo da escrita é a fala, assim como a palavra escrita é o conteúdo da imprensa e a palavra impressa é o conteúdo do telégrafo [...] Pois a “mensagem” de qualquer meio ou tecnologia é a mudança de escala, cadência ou padrão que esse meio introduz nas coisas humanas (MCLUHAN,
1971, p. 22).
146 Eugenia Barichello; Daiana Stasiak; Daiane Scheid; Ana Flores; Jones Machado
A citação acima remete ao que atualmente estamos denominando como convergência midiática, e as práticas de relações públicas podem levar em conta esse cenário no empreendimento de estratégias voltadas a públicos geograficamente distantes ou em relação assíncrona. Diante de possibilidades viabilizadas pelas tecnologias digitais, como a mobilidade, torna-se possível a conversação em tempo real à distância e ocorrem reconfigurações a partir das modificações que os próprios suportes midiáticos vêm sofrendo.
Com o surgimento das mídias sociais digitais e de aplicativos para celulares com acesso à internet, multiplicaram-se as interconexões entre pessoas e organizações e a convergência de conteúdos em multimídias.
Com o intuito de investigar o uso estratégico da convergência midiática foi realizado um estudo de caso da empresa Petrobras (MACHADO, 2012). O objetivo foi verificar como a Petrobrás utiliza a convergência midiática como estratégia de comunicação. Foram considerados no estudo o portal institucional (http://www.petrobras.com.br/pt/), a fanpage no Facebook (www.facebook.com/fanpagepetrobras), o canal no site de vídeos YouTube (www.youtube.com/canalpetrobras), o perfil do blog Fatos e Dados no Twitter (www.twitter.com/blogpetrobras), o canal de compartilhamento de imagens no Flickr (http://www.flickr.com/petrobras) e o blog corporativo Fatos e Dados (www.petrobras.com.br/fatosedados).
A metodologia da pesquisa foi mista, uma triangulação de métodos e técnicas, a fim de se estudar e compreender a articulação das estratégias de comunicação da Petrobras em multimídias institucionais. Foi utilizado o método do Estudo de Caso (YIN, 2005), a técnica de análise de conteúdo adaptada de Bardin (1977), a observação encoberta e não participativa e a entrevista on-line assíncrona semiestruturada (JOHNSON, 2010). O mapeamento das estratégias de comunicação em multimídias institucionais da Petrobras compreendeu o período de1º de janeiro a 1º de abril de 2012. Foi considerado para a análise o conjunto de postagens na seção de notícias do portal da Petrobras, no perfil no Twitter do blog Fatos e Dados2 – para o qual o portal redireciona -, na página no Facebook, no canal no YouTube, no blog Fatos e Dados e no Flickr.
Quatro temas foram considerados como unidades de base e visaram à categorização dos dados: Investidores, Meio-Ambiente, Petróleo e Tecnologia. Foi considerada a coocorrência nas postagens como forma de identificar a convergência midiática. Tendo como base os objetivos e as teorias convocadas, mas também o problema de pesquisa e o material coletado foram elaboradas as 4 categorias de análise que nortearam o estudo. Elas representam um conjunto
147Estendendo as práticas de Relações Públicas sob a perspectiva teórica da ecologia das mídias
de ações estratégicas empreendidas nesses espaços de práticas midiáticas com a finalidade de estabelecer relações entre organização e interagentes, já que, ao serem empreendidas, buscam potencializar as oportunidades de diálogo que a internet oferece.
As categorias de análise estão descritas no quadro 1 a seguir.
Quadro 1 – Categorias de análise que caracterizam o uso estratégico da convergência midiática digital
No que se refere à análise qualitativa das postagens, nas quais a abordagem e a articulação dos fluxos foram analisados, selecionou-se 10 dias de cada mês, perfazendo um total de 30 dias. Foram analisadas, dessa forma, as postagens realizadas pela Petrobras nos primeiros 10 dias de janeiro (de 01/01/12 a 10/01/12), nos primeiros 10 dias do mês de fevereiro (de 01/02/12 a 10/02/12) e nos primeiros 10 dias do mês de março de 2012 (de 01/03/12 a 10/03/12). Dessa análise resultaram as seguintes constatações:
Categorias Ações estratégicas
Quando o conteúdo de uma mídia é adaptado à outra mídia digital com abordagem diferente. É estratégico, pois possibilita explorar criativamente determinado conteúdo com outros elementos.
Categorias
Quando um conteúdo sobre determinado tema é criado originalmente para a abordagem numa mídia digital específica, tendo a possibilidade de ser uma estratégia pontual, pois destina-se a um público de interesse e utiliza linguagem específica.
Criação
Quando são disponibilizados apontadores (links) que apenas redirecionam o interagente de uma mídia digital à outra, de modo a aproveitar estrategicamente o conteúdo de uma mídia para gerar fluxo em outra.
Redirecionamento
Quando o conteúdo de uma mídia é transposto de forma parcial ou total para outra mídia digital, demonstrando falta de planejamento estratégico nas postagens destinadas a cada mídia.
Transposição
148 Eugenia Barichello; Daiana Stasiak; Daiane Scheid; Ana Flores; Jones Machado
A categoria adaptação foi encontrada em 7,9% das unidades analisadas, correspondendo a 17 unidades, todas postadas no Facebook, que teve 20 unidades selecionadas para estudo. Isso significa que 85% das postagens referentes ao Facebook se enquadravam nesta categoria.
A criação de conteúdo original para a abordagem numa mídia digital específica totalizou 93 unidades de análise, correspondendo a 43,25% do total de unidades selecionadas. Neste caso, dentre as 93 unidades referentes à categoria criação, 11 unidades dizem respeito a postagens de notícias do portal institucional da Petrobras, 01 a compartilhamento de vídeo no canal da Petrobras no YouTube e 81 unidades ao blog Fatos e Dados. Vale ressaltar que todas as unidades do corpus referentes ao portal, ao blog e ao YouTube se enquadram nesta categoria, mostrando que estas três mídias digitais se apresentam como a origem de conteúdo a ser potencializado em outras mídias e espaços.
O redirecionamento de conteúdo por meio da disponibilização de apontadores (links) é uma característica do Twitter. Esta categoria foi constituída por 105 unidades selecionadas, correspondendo a 48,83% de todo o material coletado após recorte semântico. Do total de unidades, 102 dizem respeito às postagens realizadas pela Petrobras no Twitter, ou seja, as 100% das unidades selecionadas no Twitter em postagens da Petrobras se enquadram nesta categoria. Já as 03 restantes correspondem a postagens feitas no Facebook. Evidencia-se aqui que não há esforço em adaptar, modificar ou mesmo criar estratégias específicas de convergência com outra mídia digital.
A transposição ou possibilidade de apenas transpor o conteúdo ou uma estratégia empreendida em uma mídia digital para outra não foi detectada em nenhuma das unidades analisadas, ou seja, a transposição, caracterizada pelo “recorte” e “colagem” de conteúdo, não foi utilizado como forma de empreender o processo de convergência midiática digital.
Os ícones que redirecionam o interagente para as mídias sociais digitais a partir da página principal do portal institucional são indícios do processo convergente. O fluxo comunicacional do conteúdo em multimídias digitais das quais a Petrobras faz uso se dá em diversos sentidos e direções, conforme pode ser visualizado na figura 3.
149Estendendo as práticas de Relações Públicas sob a perspectiva teórica da ecologia das mídias
Figura 3 – Fluxo do conteúdo em multimídias digitais Fonte: Machado (2012)
Como demonstra a figura 3, os ícones presentes no portal levam ao Facebook, Twitter, YouTube, Flickr e ao blog corporativo Fatos e Dados. Do Facebook o conteúdo flui para o portal, para o YouTube e para o blog. O conteúdo do Twitter tem seu fluxo direcionado apenas ao blog. A partir do YouTube, há links que apenas oferecem o caminho do portal e do Facebook. No Flickr, também há a indicação do link que possibilita o acesso ao portal. Já o blog corporativo é destino das postagens das duas mídias sociais digitais com mais divulgação de conteúdo, o Facebook e o Twitter. Além disso, por intermédio do blog Fatos e Dados, o interagente tem acesso ao Twitter, ao portal, ao YouTube e ao Facebook.
Foi possível concluir que a Petrobrás utiliza estrategicamente o processo convergente em suas postagens em mídias digitais e que o blog Fatos e Dados
150 Eugenia Barichello; Daiana Stasiak; Daiane Scheid; Ana Flores; Jones Machado
destaca-se no fluxo comunicacional de conteúdo, promovendo a convergência midiática entre as mídias digitais utilizadas pela empresa.
CONSIDERAÇÕES SOBRE AS PRÁTICAS DE RELAÇÕES PÚBLICAS SOB A ÓTICA DA ECOLOGIA DAS MÍDIAS
Em recente entrevista, Muniz Sodré (2012) afirma que o parceiro social, o socius, que em latim, significa parceiro, companheiro, não é mais o mesmo no contexto atual, porque estamos em um espaço social onde dialogamos com máquinas o tempo inteiro. Ele preconiza pensar o mundo sob a perspectiva de uma ecologia da mídia o que pode ser entendido para as práticas de relações públicas, pois é preciso incluir as máquinas no diálogo e admitir que o diálogo com os interagentes cada vez mais passa por uma mediação técnica.
Ao analisar as práticas de relações públicas na ambiência digital, ainda hoje nos deparamos com ações que utilizam um viés da comunicação linear, que não enfatiza as transformações relacionadas aos avanços tecnológicos e ao papel matricial que a mídia desempenha no contexto global contemporâneo. Acreditamos que o entendimento do processo de midiatização da sociedade possa ajudar na reflexão das questões teóricas que servirão de base para que as práticas de relações públicas e a comunicação organizacional delas derivadas possam ser entendidas sob a perspectiva teórica da ecologia das mídias.
A era digital provocou uma reconfiguração expressiva do ecossistema midiático, que aliada às possibilidades convergentes, à despolarização do polo emissor, aos novos lugares ocupados por sujeitos individuais e coletivos, interfere nas lógicas de visibilidade e legitimação, substrato das práticas de relações públicas. As práticas de relações públicas podem avançar na direção de substituir o monólogo pela possibilidade de diálogo efetivo, pautado pelo posicionamento dos interagentes diante de mensagens compartilhadas e pela relativa igualdade de competência dialógica que possibilita poder de voz e de mobilização. Constata-se aí a negociação de estratégias comunicacionais entre as instâncias envolvidas no processo e não apenas a proposição e a recepção passiva.
A área das relações públicas se mostra reconfigurada. Se antes o empreendimento de estratégias era realizado preponderantemente em ambientes físicos, ao vivo, com a presença dos públicos de interesse e o relacionamento com a imprensa era pautado pelo envio do release, agora as ações estratégicas se veem diante de ambiências que oferecem a potencialidade de estabelecer práticas colaborativas, participativas e interativas, proporcionadas pelas mídias sociais digitais.
151Estendendo as práticas de Relações Públicas sob a perspectiva teórica da ecologia das mídias
O ecossistema midiático contemporâneo demanda atualização das estratégias nas práticas de relações públicas, que visualizem seus públicos como interagentes, que considerem a facilidade ao acesso e o uso real das possibilidades interativas por parte dos participantes da ecologia midiática e o potencial diálogo entre eles. Sob esta perspectiva, não basta estar visível na ecologia midiática, é necessário interagir, ouvir e estabelecer diálogos efetivamente comunicacionais.
NOTAS
1 A primeira parte e as considerações são anotações pessoais da líder do grupo e orientadora das pesquisas e, por isso, estão escritas na primeira pessoa do singular.
2 Blog Fatos e Dados - Blog institucional da Petrobras no qual são postadas notas oficiais de esclarecimento e notícias, bem como divulgado o posicionamento da empresa a respeito de temas relacionados à sua atuação. Tem por objetivo, segundo a Petrobras, tornar transparentes fatos e dados recentes da companhia. Disponível em: <http://fatosedados.blogspetrobras.com.br>.
REFERÊNCIAS
BARDIN, L. Análise de Conteúdo. Lisboa: Edições 70, 1977.
BARICHELLO, E. M. M. R. Apontamentos em torno da visibilidade e da lógica de legitimação das instituições na sociedade midiatizada. In: DUARTE, E.B.; CASTRO, M.L.D. de (Orgs). Em torno das mídias: práticas e ambiências. Porto Alegre: Sulina, 2008. p. 236-68.
BARICHELLO, E. M. M. R. (Org) Visibilidade mídiática, legitimação e responsabilidade social. Santa Maria: Facos/UFSM; [Brasília]: CNPq, 2004..
BARICHELLO, E. M. M. R.; STASIAK, D. As três fases da WebRP: análise das estratégias comunicacionais dos portais institucionais ao longo do advento da internet no Brasil (1995-2009). In: III ABRAPCORP, São Paulo (SP). 28, 29 e 30 de abril de 2009a. Disponível em: <http://www.abrapcorp.org.br/anais2009/pdf/GT2_Barichello.pdf>. Acesso em: 01 set. 2012.
152
BARICHELLO, E. M. M. R.; STASIAK, D. Apontamentos sobre a praxis de relações públicas na Web. Organicom, São Paulo, ano 6. Edição Especial. n 10-11, p. 168-173, 2009b Disponível em: < http://revistaorganicom.org.br/sistema/index.php/organicom/article/ view/202/303>. Acesso em: 01 set. 2012.
FLORES, A. C. P. 2010. Práticas midiatizadas da Canção Nova na internet: afetação de lógicas comunicacionais e midiáticas. 126f. Dissertação (Mestrado em Comunicação Midiática) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2010. Disponível em: <http://w3.ufsm.br/poscom/?page_id=182>. Acesso em: 01 set. 2012.
FLORES, A. C. P.; BARICHELLO, E. M. M. R. Midiatização da sociedade: sócio-técnica e ambiência. Culturas Midiáticas, Vol. II, n. 02, jul/dez., 2009 .
HAYES, G. The changing Intraweb from 1.0 to 3.0. (2006) Disponível em: <http://www.personalizemedia.com>. Acesso em: 03 dez. 2008.
HJARVARD, S. Midiatização: teorizando a mídia como agente de mudança social e cultural. Matrizes, ano 5, n. 2, jan./jun., 2012.
JENKINS, H. Cultura da Convergência. São Paulo: Aleph, 2008.
JOHNSON, T. Pesquisa social mediada por computador: questões, metodologia e técnicas qualitativas. Rio de Janeiro: E-papers, 2010.
MACHADO, J. A Configuração das Estratégias de Comunicação da Petrobras no Contexto de Convergência Midiática. 2012. 185f. Dissertação (Mestrado em Comunicação Midiática) Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2012. MCLUHAN, M. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo, Cultrix, 1971.
SAAD CORRÊA, E. Estratégias 2.0 para a mídia digital. Internet, informação e comunicação. 2.ed. São Paulo: SENAC, 2008.
SALAVERRÍA, R. Estructura de la convergencia. In: GARCÍA, X. L.; FARIÑA, X. P. Convergencia Digital. Reconfiguración de los Medios de Comunicación en España. Santiago de Compostela: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico, 2010. p. 27-40.
Eugenia Barichello; Daiana Stasiak; Daiane Scheid; Ana Flores; Jones Machado
153
SCOLARI, C. A. Media Ecology: Exploring the Metaphor to Expand the Theory. Comunication Theory, v. 22, p. 204-25, 2012.
SCOLARI, C. A. Ecología de los medios. Mapa de un nicho teórico. Quaderns del CAC, junho, volume XIII (1). p. 17-25, 2010.
SIMÕES, R.P . Relações Públicas e Micropolítica. São Paulo: Summus, 2001.
STRATE, L. A Media Ecology review. A Quarterly Review of Communication Research.Volume 23 (2004) No. 2. Disponível em: http://cscc.scu.edu/trends/v23/v23_2.pdf . Acesso em: 12 abr 2012.
SCHEID, D. Estratégias e lógicas envolvidas na construção da visibilidade institucional em diferentes espaços de interação na internet. 2008. 115f. Dissertação (Mestrado em Comunicação Midiática) -Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2008. Disponível em: http://w3.ufsm.br/poscom/?page_id=182
SHANNON, C.E. E.; WEAVER, W. Teoria Matemática da Comunicação. São Paulo: Difel, 1975.
STASIAK, D. Estratégias comunicacionais e práticas de WebRP: o processo de legitimação na sociedade midiatizada. 2009. 229f. Dissertação (Mestrado em Comunicação Midiática) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2009. Disponível em: <http://w3.ufsm.br/poscom/?page_id=182>. Acesso em: 01 set. 2012.
STASIAK, D. WebRP: uma análise comparativa. In: XXXIV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional, Fortaleza, 2011.
STASIAK, D.; BARICHELLO, E. M. M. R. Novas propostas em comunicação organizacional. Comunicação e Inovação. São Caetano do Sul, v.9, n.16, p.8-13, jun., 2008.
SODRÉ, M. Antropológica do Espelho. Por uma teoria da comunicação linear e em rede. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.
Estendendo as práticas de Relações Públicas sob a perspectiva teórica da ecologia das mídias
154 Eugenia Barichello; Daiana Stasiak; Daiane Scheid; Ana Flores; Jones Machado
SODRÉ, M. Entrevista concedida a Paulo César Castro. Disponível em: <http://www.ciseco.org.br/index.php/noticias/entrevistas/15-entrevistas/174-muniz-sodre.html>. Acesso em: 25 set. 2012.
YIN, R. K. Estudo de Caso: o planejamento e métodos. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.
AUTORES
Eugenia Mariano da Rocha Barichello: Professora e coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Doutora em Comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Bolsista em Produtividade de Pesquisa do CNPq. Líder dos Grupos de Pesquisa em Comunicação Institucional e Organizacional e WebRP: práticas de Relações Públicas em suportes midiáticos digitais. E-mail: [email protected]
Daiana Stasiak: Relações Públicas, professora da Universidade Federal de Goiás (UFG). Doutoranda em Comunicação pela Universidade de Brasília (UnB) e mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Líder do Grupo de Pesquisa WebRP: práticas de Relações Públicas em suportes midiáticos digitais e membro do Grupo de Pesquisa em Comunicação Institucional e Organizacional (UFSM/CNPq). E-mail: [email protected]
Daiane Scheid: Relações Públicas, professora da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), campus de Frederico Westphalen (CESNORS). Mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria. Membro do Grupo de Pesquisa em Comunicação Institucional e Organizacional e (UFSM/CNPq). E-mail: [email protected]
Ana Cássia Pandolfo Flores: Relações Públicas, mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Membro do Grupo de Pesquisa em Comunicação Institucional e Organizacional (UFSM/CNPq). E-mail: [email protected]
Jones Machado: Relações Públicas, mestre em Comunicação pela Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Membro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação Institucional e Organizacional e WebRP: práticas de Relações Públicas em suportes midiáticos digitais. E-mail: [email protected]
Em março de 2012, o Brasil alcançou a marca de 82 milhões de pessoas com acesso à internet, atraídas pela riqueza de alternativas relacionadas a lazer, informação, praticidade e instantaneidade na comunicação pessoal e coletiva. São mudanças de hábitos sócio-culturais que exigem das empresas uma busca contínua por aperfeiçoamento e atualização nas formas de promover marcas, impulsionar negócios, anunciar e conquistar clientes no webmercado.
Um mercado que lida hoje com uma percepção mais clara de que o verdadeiro valor do marketing está na qualidade e na intensidade do relacionamento com os consumidores, especialmente on-line, em ambiente competitivo de marketing eletrônico (e-marketing) ou webmarketing1. Sob o signo da interatividade, amparada por refinadas tecnologias e diversas novas ferramentas próprias da constituição do Marketing Interativo, surge uma nova ordem, centrada no relacionamento com o consumidor, o cibercliente.
Com o Database Marketing2 geram-se informações pertinentes sobre os ciberclientes – quem são, onde estão, quais as necessidades individuais, o perfil, o histórico de relacionamento, suas transações e expectativas – customizando as abordagens , ampliando-se os recursos para as empresas, as ofertas relevantes e a fidelização, no melhor estilo individualizado do cibercliente deste início de século. E o que, efetivamente, muda na forma de se comunicar, fidelizar e anunciar para o público quando trocam-se as mídias tradicionais, como TVs, jornais e revistas, pelas mídias sociais digitais? O que caracteriza o marketing e uma de suas ferramentas, a publicidade on-line na nova ecologia sócio-midiática?
Anelise Rublescki Fernanda Rublescki
Webmarketing e publicidade on-line na nova ecologia midiática
158 Anelise Rublescki; Fernanda Rublescki
O objetivo do presente trabalho é analisar as características e potencialidades do webmarketing na nova ecologia midiática, analisando-o tanto teoricamente, quanto verticalizando o olhar para uma de suas ferramentas, a publicidade on-line, sistematizando evidências de como praticar um marketing alinhado com um mercado altamente segmentado e competitivo. A partir de uma breve introdução histórica sobre a evolução do marketing de massa para o de nichos, busca-se evidenciar que a sociedade atual demanda ações coordenadas de publicidade on-line e webmarketing que visem promover uma eficiente comunicação e relacionamento com o seu público-alvo, através da escolha correta de plataformas, conteúdo e segmentação. Após analisar dez das vantagens potenciais do webmarketing, o olhar se volta especificamente para a publicidade on-line, discutindo-a especialmente a partir de estatísticas atualizadas e de iniciativas publicitárias em redes sociais, nos mecanismos de buscas e nas plataformas móveis. Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa de cunho quanti-qualitativo, a partir de atualização bibliográfica.
DO MARKETING DE MASSA AOS NICHOS DOS ANOS 2000
Durante séculos, as empresas operaram com lojas físicas, comercializando seus produtos ou serviços3, com (ou sem) propaganda direta. No Brasil dos anos 50, convivia-se com atividades industriais onde prevaleciam bens manufaturados ou mecanizados, ainda não existiam supermercados, falava-se de uma indústria automobilística incipiente e a TV era uma mídia que apenas engatinhava. As cidades, em sua grande maioria, eram pequenas e o abastecimento acontecia através de armazéns, mercearias, feiras livres, bares, botequins, ambulantes e caixeiros viajantes.
Naquele momento era possível praticar, sem o saber e sem usar essa denominação, um marketing da melhor qualidade, o marketing do” “um-a-um”. A Dona Terezinha e o Seu José, donos da armazém, conheciam o nome, o endereço e a preferência de toda a sua clientela. E sempre que chegava a mercadoria que seus clientes estavam aguardando, mandavam o “menino” avisar (MADIA, 1994, p.25).
Nas últimas décadas, em decorrência do próprio desenvolvimento da sociedade, multiplicaram-se as empresas, os super e os hipermercados, os shopping centers romperam as barreiras culturais das pessoas acostumadas a comprar em lojas de rua e a TV consagra-se ao possibilitar índices de cobertura inimagináveis
159Webmarketing e publicidade on-line na nova ecologia midiática
até então. As empresas e agências de publicidade buscam tirar proveito do magnetismo por ela exercido, junto com o rádio, remodelado com a alternativa de emissoras FM.
O Marketing de Massa parecia ter vindo para ficar. Como característica básica, a procura de mais clientes para produtos específicos e um composto de marketing - conjunto de variáveis controláveis de marketing que a empresa utiliza para produzir a resposta que deseja no mercado-alvo – orbitando entre possibilidades que podem ser reunidas em quatro grupos de variáveis, conhecidas como os “quatro P”: produto, preço, promoção e praça/mercado (KOTLER, 2000). O foco era atingir o maior número de clientes em potencial, sem nichos ou segmentação de mercado, visando a satisfação de desejos ou necessidades por um dado produto. O ponto de vista da mais valia era o do vendedor. Mas,
Após a massificação dos mercados (one to many), os consumidores reivindicaram suas respectivas individualidades e os mercados ficaram cada vez mais segmentados e, conseqüentemente, as ações mercadológicas destinadas a poucas pessoas (KARSAKLIAN, 2001, p.106).
Era o chamado one to few e o início dos questionamentos sobre fidelização, nicho de mercado, Marketing de Relacionamento, Marketing Direto. Com a internet, o mercado pode desenvolver uma relação mais personalizada, segmentada e individualizada. “A relação estabelecida já não é de uma empresa para alguns poucos clientes, mas de uma empresa com um cliente de cada vez, o que explica o retorno do Marketing One to One” (KARSAKLIAN, 2001, p.107) – agora em grande escala e com uma interatividade até então desconhecida pelas empresas.
Os recursos tecnológicos permitem aos gestores de empresas efetuar atividades comerciais em um âmbito global. Novas funcionalidades surgem em velocidade exponencial, em sites diversos, ferramentas de busca, publicações, produtos e serviços ao alcance de um clique por consumidores ligados por tecnologia sem fio, celulares, banda larga, tablets e smartphones. A palavra de ordem é a interatividade. Dentro deste contexto, o marketing on-line fortalece uma de suas muitas potencialidades: o marketing interativo, caracterizado por esforços permanentes para conquistar e fidelizar o cliente, o que passa pela substituição dos monólogo B2C4 do século XX para o diálogo do século XXI. No centro da mudança, o Marketing Interativo, calcado na tecnologia que possibilitou a integração de banco de dados, sistemas de informações e segmentação do
160 Anelise Rublescki; Fernanda Rublescki
mercado. Sua finalidade é estabelecer diálogos permanentes com clientes e permitir a customização
No entanto, muitas empresas ficam decepcionadas com o e-business, porque se precipitam criando websites sem tomar realmente consciência do fato de que a Internet muda as regras do jogo do mercado para todos: fornecedores, compradores, profissionais do marketing e da publicidade, distribuidores e, sobretudo, consumidores. Antes mesmo de pensar em fidelizar o cliente e estabelecer uma estratégia sob medida, é preciso definir quem é o cliente para cada empresa. Um cibercliente que sabe o quê quer, como quer, quando quer e é extremamente exigente. Ele tem acesso a toda informação necessária para poder exigir e sabe que o site “ao lado” – à distância de apenas um clique - também tem disponibilidade de compra daquele mesmíssimo produto. Mas é um cliente para o qual, tanto no Brasil quanto na maioria dos países, a internet já conquistou uma credibilidade tão grande, que 54% deles acreditam que só através dela têm acesso a determinados produtos (MEIO&MENSAGEM, on-line, 2012).
O webmarketing e a publicidade on-line agregam significativas vantagens competitivas.
VANTAGENS DO WEBMARKETING
A internet veio complementar o Marketing Direto, trazendo os elementos que faltavam para que a comunicação one to one se fortalecesse no mercado brasileiro e se tornasse altamente atrativa. Sana (2002, on-line) pontua seis aspectos diferenciais do marketing praticado on-line, aos quais se agregam outros quatros.
1. Essência interativa — A Internet é, simultaneamente, um meio de comunicação e um canal de vendas. É o único ambiente onde o consumidor pode ser envolvido pelo conteúdo, receber o impacto de uma mensagem publicitária e efetuar a compra de um produto. Do ponto de vista da comunicação, a web funciona mais como um sistema de estímulo à compra imediata do que de criação de imagem de marca ou sensibilização do ciberconsumidor. No entanto, é preciso ganhar a conivência do cliente. Não se pode fazer um marketing agressivo. O cibercliente está sempre a “um clic away” de qualquer site, talvez para nunca mais voltar.
2. Métricas — Na internet, tudo pode ser testado antes da implementação, com mais rapidez, custos e riscos infinitamente menores do que em qualquer
161Webmarketing e publicidade on-line na nova ecologia midiática
outro canal. Do clique à satisfação do cliente, 100% das atividades de uma marca podem ser avaliadas por métricas confiáveis, incluindo a possibilidade de medir a visibilidade e aderência dos anúncios, isto é, mensurar quantos internautas viram a marca e quantos efetivamente foram até o site.
3. Flexibilidade — As possibilidades de mudanças, correções, cancelamentos ou incrementos de uma campanha ganham um dinamismo muito maior. Os números números contabilizados on-line formam um desenho fiel e imediato das respostas dos consumidores.
4. Custos — Uma vez amortizados os investimentos em infraestrutura, o custo por contato entre a marca e o cibercliente tende a zero. Existem vários formatos de publicidade on-line atualmente disponíveis na internet, para além dos já conhecidos links patrocinados. Os links patrocinados são anúncios, geralmente de tamanho pequeno, postados em sites de busca como o Google e Yahoo (ou em suas redes de parceiros), ou em grandes portais de conteúdo como o UOL, Globo.com, Click RBS, entre outros.
Em termos de custos gerais, observa-se que os preços são bastante competitivos com relação às outras mídias. Os preços abaixo (figura 1) são mensais e incluem confecção completa da campanha e acompanhamento diário dos resultados, em sites de buscas. Usualmente, as agências de marketing digital utilizam as próprias ferramentas do Google (como o Google Analytics, por exemplo) para acompanhar campanhas em publicidade on-line, que, essencialmente, baseiam-se em palavras-chave que trazem maior resultado.
Figura 1: Tabela de preços de campanhas on-line do Google (maio 2012)
Fonte: Blue Barry Marketing Digital5
162 Anelise Rublescki; Fernanda Rublescki
5. Conhecimento sobre o consumidor — Cada vez que o consumidor visita um site e utiliza um determinado serviço on-line, deixa suas pegadas, que podem ser transformadas em preciosas informações de marketing para propaganda e operações promocionais sobre medida. Essa é também é a função dos cookies, que registram as características do computador, já que no webmarketing o processo de captura de informações e enriquecimento da base de dados é constante. Uma das principais vantagens na fidelização dos clientes é poder estimulá-los a utilizar vários outros produtos comercializados pela própria empresa.
6. Simplificação dos processos — A taxa de resposta e a participação do consumidor são normalmente potencializadas em função da facilidade: o cibercliente não precisa sair de casa para postar um e-mail e o preenchimento de questionários pode ser substituído por diversos outros mecanismos.
7. Performance — A web oferece uma grande quantidade de pontos de contato entre a marca e o consumidor: site, site de parceiros, hot site, banners, e-mail, celular, quiosques interativos, desktop, games, tablets. Essa diversidade não só aumenta a possibilidade de sucesso de uma campanha, como amplia as alternativas para uma marca fugir da saturação.
8. Segmentação — As pessoas são e pensam diferente quanto a forma de comprar e aos produtos e serviços que costumam adquirir. Mas também é possível, em muitos momentos, agrupar esses consumidores. Chama-se de Segmento de Mercado a uma parte do mercado com características semelhantes entre si, normalmente considerando-se dois grandes grupos de variáveis: as características e o comportamento do consumidor (CARVALHO, 2002).
A segmentação é uma das característica mais fortes no webmarketing e encontra um espaço ideal na internet, mídia eletrônica com maior potencial de segmentação. Neste sentido, os próprios provedores e mecanismos de busca ampliam o leque de ferramentas para a segmentação. Ciente da facilidade do que um vídeo pode passar desapercebido no YouTube6, por exemplo, o Google, proprietário do site, criou o portal The Zoo, projeto que identifica nichos que facilitam a vida dos interessados em usar vídeos na web para dar visibilidade a uma marca. No Brasil, o The Zoo gerou um canal de moda patrocinado pela C&A, transmissões de shows em parceria com a Intel e um projeto dedicado à Olimpíada de 2012. Batizado Londres 360, o novo canal mostrou programas produzidos pela
163Webmarketing e publicidade on-line na nova ecologia midiática
ESPN Brasil e conteúdos desenvolvidos por patrocinadores, que foram exibidos em seções separadas dentro da página (SCHELLER, 2012).
9. Poder de convergência — Integrada em tempo real, a internet propicia a difusão de sons e imagens e demonstra fôlego crescente como catalisadora da convergência das mídias. Para as empresas já é possível fazer uma segmentação fina, de excelente qualidade, multimídia.
Um destaque nesta direção foi a inclusão em 2012 da categoria Mobile no Festival de Cannes, onde o Brasil ganhou um Leão de Ouro e dois de Bronze. Em primeiro lugar ficou o case “Anúncio Falso”, do Bradesco Seguros, desenvolvido pela AlmapBBDO e os dois Leões de Bronze foram “Refil da Felicidade”, da Ogilvy para a empresa Coca-Cola, e outro para “Fantástico – Medida Certa”, da .Mobi para Rede Globo.
A estratégia era passar a mensagem de que a Coca une as pessoas ao redor do mundo. Para isso, criamos um banner interativo. Por meio dele, o internauta podia literalmente mandar uma mensagem e uma Coca para outras pessoas ao redor do mundo. Colocamos máquinas em diversos lugares na Europa, na África e na Ásia. O consumidor escrevia a mensagem e mandava o pedido de uma Coca para uma dessas máquinas espalhadas pelo globo. Um perfeito desconhecido do outro lado do mundo pegava a Coca e podia responder à mensagem de quem havia enviado o refrigerante. Essa campanha usou diversas formas de tecnologia, e é um grande exemplo de como você pode contar uma história e criar vínculos emocionais com o consumidor, o que as agências fazem como ninguém. E agora nós temos um novo kit de
ferramentas para ajudá-las (BOONE, on-line, 2012).
10. Um novo estímulo no mercado — A internet fez surgir uma nova categoria de anunciantes que precisam de soluções one to one intensamente: as jovens empresas ponto com. É para esse nicho de anunciantes que o Google lançou o Goole Engage8, um programa gratuito voltado especialmente para pequenas e médias empresas e agentes da publicidade digital. O Engage já existe em outros países, como Estados Unidos, Portugal e Reino Unido, mas no Brasil tem um recurso inédito: o Engage Office. Os profissionais cadastrados podem montar uma espécie de escritório virtual, preenchido de acordo com a evolução do profissional nas diferentes fases do Engage, que abrange uma série de treinamentos e ferramentas gratuitas.
Trata-se de uma aposta, especificamente, na publicidade on-line, uma das diversas ferramentas de marketing que mais cresce na internet.
164 Anelise Rublescki; Fernanda Rublescki
PUBLICIDADE ON-LINE
Publicidade on-line é ação de divulgar empresas por meio da internet, de micromídias digitais, redes sociais 2.0, de vídeos on-line, da telefonia celular e de outras plataformas móveis, como smartphones e tablets, com o objetivo de comercializar produtos e serviços, conquistar novos clientes e melhorar a sua rede de relacionamentos e fortalecer a marca empresarial. Existem diversos veículos on-line que permitem publicidade através de banners, links patrocinados ou vídeos on-line, além do serviço oferecido pelos mecanismos de busca, universo onde o Google, com sua rede de parcerias com outros veículos on-line, alcança 87% dos internautas brasileiros (SET WEB, 2012).
Há uma estreita inter relação entre publicidade on-line e sites de busca, onde os anúncios on-line complementam as campanhas off-line. Webclientes ouvem falar produtos, serviços e marcas em diferentes mídias (TVs, rádios, revista, jornais) e utilizam as ferramentas de busca para obter mais informações. Mas acredita-se que o maior aspecto propulsor de negócios on-line seja a adesão à sites/portais de conteúdo, que não apenas concentram significativa parcela da audiência da internet, mas também é onde os usuários gastam mais tempo navegando (SET WEB, 2012), conforme encadeamento demonstrado na figura 2.
Figura 2: Links patrocinados como direcionadores para conteúdo de nicho
Fonte: SET WEB, 20129
Um estudo feito pela ComScore a pedido do Interactive Advertising
Bureau (2012) apontou que os brasileiros são receptivos à publicidade na internet10. Os entrevistados consideraram a publicidade on-line criativa e rica em conteúdo.
165Webmarketing e publicidade on-line na nova ecologia midiática
Na comparação com outros meios, a internet se saiu melhor em todos os quesitos, exceto um: a qualidade de ser memorável. 44% dos entrevistados disseram que a TV é a que mais marca a lembrança. Os entrevistados consideram os anúncios digitais mais criativos e inovadores (49%) do que os veiculados na TV (38%).
Em outro estudo sobre o mercado publicitário brasileiro, desenvolvido pelo Projeto Inter-Meios (2012)11, a Internet aparece atrás de Revista (R$ 360 milhões), Jornal (R$ 777 milhões) e TV Aberta (R$ 4,26 bilhões). Porém, o levantamento considera apenas o investimento em display (R$ 330 milhões), não contabilizando a publicidade search, responsável pelo maior faturamento da Internet. Ou seja, se considerarmos os investimentos em SEO (otimização para sites de busca) e os links patrocinados, a internet já seria o segundo veículo de comunicação com maior investimentos em publicidade.
Ainda segundo o estudo, auditado pela Price Waterhouse Coopers, os veículos de comunicação faturaram R$ 28,45 bilhões com venda de espaço publicitário, o que representa um crescimento 8,54% em 2011, repetindo o clima otimista da década. A televisão aberta continua na liderança do share, com 63,3% da participação do bolo publicitário. Internet e TV paga se destacaram, com crescimento de 19,63% e 17,85%, respectivamente, impulsionadas pelo evidente crescimento das suas bases de assinantes e usuários e pelo amadurecimento do mercado digital no País. Mídias impressas (jornais, revistas e guias) cresceram pouco, refletindo dificuldades que já perduram há alguns anos.
Existem vários formatos de publicidade on-line atualmente disponíveis na Internet e diversos acordos comerciais possíveis. Entre os mais utilizados, destacam-se:
a) Pay-Per-View (PPV): primeiro modelo de publicidade on-line, onde o anunciante paga pelo número de vezes que o anúncio será exibido.b) Pay-Per-Click (PPC): o cliente paga apenas pelo número de exibições que realmente deram origem a cliques no anúncio. É o modelo de publicidade mais utilizado em motores de pesquisa (Google, Yahoo, MSN), sites e blogs.c) Pay-Per Inclusão (PPI): o anunciante paga pela inclusão do seu produto ou serviço em sistemas de “classificados” on-line ou nas listas diretórios.d) Pay-Per Ação (PPA): o anunciante paga apenas quando for realizada uma ação (ou grupo de ações) por ele determinada. A ação pode ser um formulário a ser preenchido, aderir a uma associação, ou que uma real transação seja concluída. É um modelo de publicidade mais utilizado em sites que oferecem uma plataforma para a venda de produtos.e) Pay-Per-Sale (PPS): sistema disponível no Google AdSense, é o modelo
166 Anelise Rublescki; Fernanda Rublescki
mais vantajoso para o anunciante, pois só incide cobrança sobre os bens efetivamente vendidos. A publicidade Pay-Per-Sale pode ser comparada com um sistema de comissões por venda. De todos os tipos de publicidade on-line, este é o mais difícil de fraudar.
Em qualquer um desses modelos, observa-se que as prioridades do mercado on-line são a segmentação e personalização em busca da construção de um relacionamento mais próximo com ao cliente. Um nicho em franco crescimento é o das mídias e redes sociais. A previsão é que a receita global das mídias sociais chegue a US$ 16,9 bilhões em 2012. O resultado representa um crescimento de 43,1% em relação a 2011, de acordo com estudo feito pelo instituto de pesquisas Gartner Inc. Embora a maior parcela do faturamento tenda a continuar vindo da venda publicitária, com previsão de até US$ 8,8 bilhões até dezembro de 2012, não basta anunciar em redes sociais.
O grande investimento é levar o webcliente a se envolver emocionalmente com a marca, através de atitudes pró-ativas, como “curtir”, por exemplo. Ao menos é o que evidenciam os dados da empresa de consultoria ComScore em um relatório sobre a eficácia da publicidade paga em redes sociais.
Chamado “The Power os like 2: how social media works”12, o estudo se baseia na experiência de anunciantes como Starbucks e Target e demonstra tanto o ganho com exposição da marca - menções de usuários à marca e “curtidas” - quanto o aumento de vendas obtido por essas marcas. Segundo o estudo, consumidores que “curtiram” conteúdo ou produto de uma marca tendem a gastar mais do que outros na empresa em questão. Neste quesito, o estudo afirma que 70 % das campanhas nas redes sociais triplicaram - ou mais - o retorno sobre o investimento em publicidade (ROI, na sigla em inglês), sendo que destas, 49% das campanhas das marcas na plataforma chegaram a quintuplicar o ROI.
Já o estudo de caso da empresa Target partiu da observação qualitativa-comportamental de dois grupos, que demonstravam comportamento de compra idêntico antes do início do estudo. O primeiro era formado por fãs e amigos de fãs da marca e viu mensagens “espontâneas” da Target, sendo incentivados a “curtir”. O segundo, formado por usuários que não eram fãs da empresa e não viram nenhuma mensagem. Quatro semanas depois, os fãs que viram as mensagens demonstraram estar 19% mais propensos a comprar produtos da Target do que o grupo que não viu as mensagens. Os amigos dos fãs que viram as mensagens apresentaram 27% mais suscetibilidade à compra. A previsão da Gartner é que um bilhão de pessoas em todo o mundo utilize redes sociais em 2012.
167Webmarketing e publicidade on-line na nova ecologia midiática
O estudo indica ainda que, no futuro, haverá um crescimento no número de usuários pagantes em contas de redes profissionais. Para o aumento de associados, no entanto, as empresas deverão diminuir as taxas cobradas e focar em publicidade para gerar receitas, porque especialistas acreditam que o modelo de assinatura terá sucesso limitado.
Esta ainda é aposta dos conglomerados midiáticos no Brasil, onde o jornalismo cada vez mais se alimenta de plataformas móveis, tanto para a produção, quanto para a difusão de conteúdo digital. A grande questão, contudo, não está na geração de conteúdo com tecnologia móvel, mas no fato de os conglomerados ainda não sabem como rentabilizar o negócio, ainda que estejam decididos a não dar o conteúdo de graça. Com todas as plataformas dimensionadas para atender às demandas da publicidade, em termos jornalísticos, as palavras de ordem são reinventar o formato das noticiais e diferenciar o conteúdo, além de personalizar a experiência de leitura em mobilidade (BARICHELLO; RUBLESCKI; DUTRA, 2012).
Os dispositivos móveis configuram-se como alternativas que tendem a ter grande crescimento para a publicidade on-line. Após entrevistas com mil usuários norte-americanos de tablets e smartphones, o IAB evidenciou que estes usuários têm um alto grau de receptividade a propagandas móveis (mobile advertising). Entre os usuários de tablet, 47% disseram interagir com esse tipo de propaganda mais de uma vez por semana, ao tempo que entre os usuários de smartphones, esse percentual ficou em 25%.
O estudo joga luz sobre os hábitos de consumo dos usuários de dispositivos móveis. Entre o total dos entrevistados que disseram interagir com as propagandas móveis, 80% dos usuários de smartphones e 89% dos usuários de tablets disseram ser “extremamente provável” que tomem algum tipo de ação em relação ao produto anunciado, como pesquisar sobre o produto, visitar o site ou comprá-lo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O webmarketing e a publicidade on-line analisados nesse artigo inserem-se no contexto das mutações que permeiam a sociedade como um todo e nada mais são do que o resultado de adequações necessárias as metamorfoses sócio-culturais e econômicas em curso. São estratégias digitais em ambiência digital que se configuram como alternativas para a promoção de marcas e como canal de relacionamento com o webcliente, em uma cultura pull.
Um erro comum que as agências e os anunciantes cometem é achar que esse é apenas mais um canal para veicular as mesmas mensagens e os mesmos
168 Anelise Rublescki; Fernanda Rublescki
conteúdos. O simples ato de fazer um upload de vídeo publicitário já veiculado na televisão, por exemplo, não contempla a expectativa do interagente/cliente. Em uma plataforma tão única e interativa quanto a internet, as iniciativas de marketing e publicidade devem caminhar no sentido de potenciar mensagens individualizadas, interativas, criativas e realmente segmentadas.
NOTAS
1 O marketing eletrônico – cuja função básica é gerar negócios on e off-line - assume diversas denominações em função do ambiente onde ocorre e das ferramentas que privilegia, como cibermarketing, marketing digital, comunicação e marketing on-line, webmarketing, e marketing na internet. A discussão conceitual, ainda que relevante por ser essa uma temática ainda recente e em processo de desenvolvimento, não integrao presente trabalho. Neste artigo, considera-se como e-marketing todo marketing que utiliza ferramentas eletrônicas e webmarketing aquele praticado em ambiente web.
2 Ferramenta do Marketing Direto, o Database Marketing utiliza a tecnologia para implementação de bancos de dados do público-alvo, otimizando e direcionando o planejamento e as ações diretas de relacionamento. O Database tornou-se indispensável no Marketing Interativo.
3 Nesse trabalho, os termos serviço e produto são utilizados de forma indistinta, referindo-se aos bens fornecidos pela totalidade das empresas.
4 Montardo (2006), a partir de reflexões decorrentes de Catalani, Kischinevsky, Ramos et. al. (2004), destaca alguns dos modelos básicos de negócios pela Internet do ponto de vista das relações entre os atores envolvidos:1) Business-to-Consumer (B2C):compreende negócios entre empresas e consumidores finais, como venda de produtos e serviços pela Internet (dvd, livros, acesso a homebanking);2) Business-to-Business (B2B), caracterizando negócio entre as empresas, por exemplo, venda de matéria-prima de uma para outra;3) Consumer-to-Consumer (C2C), consiste em negócios entre consumidores, como a troca de arquivos de música pela Internet (peer-to-peer); 4) Business-to-Employe (B2E), que se refere a negócios entre uma empresa e seus funcionários, como venda de produtos/serviços da empresa a funcionários por preços/condições de pagamento especiais, além de cursos a distância oferecidos pela empresa para o público mencionado;5)
169Webmarketing e publicidade on-line na nova ecologia midiática
Government-to-Business/Business-to-Government (G2B e B2G), envolvendo negócios entre governo e empresas, como o site www.comprasnet.org.br, através do qual governo comanda suas licitações; e 6) Government-to-Consumer/Consumer-to-Government (G2C e C2G), concernente a negócios entre governo e cidadãos, como a declaração do imposto de renda pelo site da Receita Federal.
5 http://bbmarketing.com.br/
6 http://www.youtube.com/videos
7 http://www.mobileawesomeness.com/listings/gallery/coca-cola/
8 Disponível em: https://google-engage.appspot.com/br/.
9 http://www.setweb.com.br/solucoes/publicidade-online.html
10 Disponível em: http://www.publicidadenaweb.com/2012/07/05/publicidade-na-internet-e-a-que-tem-maior-receptividade-entre-os-brasileiros/
11 http://www.meioemensagem.com.br/home/indicadores
12 Disponível em: http://www.comscore.com/Press_Events/Press_Releases/2012/6/comScore_and_Facebook_Release_The_Power_of_Like_2_How_Social_Marketing_Works
REFERÊNCIAS
BARICHELLO, Eugenia; RUBLESCKI, Anelise; DUTRA, Flora. Apps jornalísticas: estudo de caso da Revista Veja.com. Jornalismo em Dispositivo Móveis. Anais ... Universidade da Beira Interior, Corvilhã, Portugal. 15 e 16 de novembro de 2012.
BOONE, Torrence (entrevista). Entrevista de Elisa Campos. O futuro da publicidade, segundo o Google. Época Negócios.com. On-line. 16/07/2012. Disponível em: http://epocanegocios. globo.com/Inspiracao/Empresa/noticia/2012/07/o-futuro-da-publicidade-online-segundo-o google.html. Acesso em: 10 ago 2012.
CARVALHO, S. Marketing one-to-one: a personalização através dos usos das segmentações. Portal da Propaganda. 27/09/2002. Disponível em:
170 Anelise Rublescki; Fernanda Rublescki
http://www.portaldapropaganda.com/marketing/crm. Acesso em 12/8/2012.
CATALANI, L.; KISCHINEVSKY, A.; RAMOS, E. & SIMÃO, H. E-commerce. São Paulo: FGV, 2004.
KARSAKLIAN, E. Cybermarketing. São Paulo: Atlas AS, 2001.
KOTLER, P. Administração de marketing: a edição do novo milênio. São Paulo: Prentice Hall, 2000.
MADIA, F. Introdução ao marketing de 6ª geração. São Paulo: Makron Books, 1994.
MONTARDO, S. A busca é a mensagem: links patrocinados e marketing de otimização de busca. UNIrevista , n 3, v. 1, São Leopoldo, 2006, p.1-16.
PROJETO Inter-Meios. Internet é o segundo veículo com mais investimentos em publicidade.
SANNA, P. Internet e MD: enfim, juntos ou quase. Portal da Propaganda, São Paulo, 9/2002 Disponível em http://www.portaldapropaganda.com/marketing/mkt_direto/. Acesso em 8/8/2012.
SCHELLER, Fernando. YouTube separa conteúdo temático para atrair anunciante. Exame.com. On-line. 16/07/2012. Disponível em: http://exame.abril.com.br/marketing/noticias/youtube-separa-conteudo-tematico-para-atrair-anunciante. Acesso em: 9 ago 2012.
SIMON, Cris. Brasil teve mais de 7 mil campanhas publicitárias na internet em maio. Exame.com. On-line. 22/06/2012. Disponível em: http://exame.abril.com.br/ marketing/noticias/brasil-teve-mais-de-7-mil-campanhas-publicitarias-na-internet-em-maio. Acesso em: 9 ago 2012.
SITES DE PESQUISA E MONITORAMENTO
Blue Barry Marketing Digital - http://bbmarketing.com.br/
Com Score - http://www.comscore.com/
171Webmarketing e publicidade on-line na nova ecologia midiática
Interactive Advertising Bureau – IAB Brasil - http://iabbrasil.ning.com/
Meio & Mensagem - http://www.meioemensagem.com.br
Publicidade na Web - http://www.publicidadenaweb.com/2012/07/17/internet-e-o-segundo-veiculo-com-mais-investimentos-em-publicidade/
Projeto Inter-Meios - http://www.projetointermeios.com.br/
Set Web Agência Digital - http://www.setweb.com.br/solucoes/publicidade-online.html
AUTORAS
Anelise Rublescki: Jornalista, Doutora em Comunicação e Informação (UFRGS), Pós-doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Comunicação da UFSM. Bolsista Capes- Fapergs. [email protected]
Fernanda Rublescki: Analista de Marketing Digital da B2W, Administradora de Empresas. [email protected]
REITOR
VICE-REITOR
DIRETOR DO CCSH
VICE-DIRETOR DO CCSH
CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO
DIRETORA EDITORIAL
EDITORA EXECUTIVA
CONSELHO EDITORIAL
CONSELHO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
Felipe Martins Müller
Dalvan José Reinert
Rogério Ferrer Koff
Mauri Leodir Löebler
Flavi Ferreira Lisbôa Filho
Ada Cristina Machado da Silveira
Marília de Araujo Barcellos
Ada Cristina Machado da Silveira (UFSM)Eugênia Maria Mariano da Rocha Barichello (UFSM)Flavi Ferreira Lisbôa Filho (UFSM)Maria Ivete Trevisan Fossá (UFSM)Sonia Rosa Tedeschi (UNL)Susana Bleil de Souza (UFRGS)Valentina Ayrolo (UNMDP)Veneza Mayora Ronsini (UFSM)Paulo César Castro (ECO/UFRJ)Monica Maronna (UDELAR)Marina Poggi (UnQ)Gisela Cramer (UNAL)Eduardo Andrés Vizer (UNILA),
Claudia Regina Ziliotto BomfáLiliane Dutra BrignolMarília de Araujo BarcellosRosane RosaSandra Rúbia da Silva