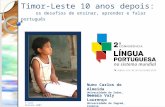Dreams, um encontro com Akira Kurosawa: a propósito de um sonho e uma dúvida, o que ensinar?
Transcript of Dreams, um encontro com Akira Kurosawa: a propósito de um sonho e uma dúvida, o que ensinar?
114
DREAMS, UM ENCONTRO COM AKIRA
KUROSAWA ‒ A PROPÓSITO
DE UM SONHO E DE UMA DÚVIDA: O QUE
ENSINAR?
Aristóteles Berino
“Não sei quem me sonho...”
Fernando Pessoa (2009, p. 19)
“Do desejo do sonho participam o gosto e o amor pelo cinema”
Robert Desnos (1983, p. 317)
Escrever sobre Dreams (1990), de Kurosawa, foi uma oportunidade para me
deter um pouco mais em um sonho que tenho algumas vezes e que muito me incomoda.
Fazer filmes ou escrever sobre sonhos é uma chance para despersonalizar o que pode
nos parecer tão íntimo, descobrindo uma rede plural de afetos e efeitos. A interioridade
é uma paisagem burguesa e ela não me agrada. Não se trata de deixar de lado aquilo que
é pessoal e submeter a uma apreciação pública. Trata-se sim de considerar que a cena
privada nunca é tão secreta. Pelo contrário, a privacidade é claro-escuro. Algumas
vezes, narrar seus episódios é uma forma de restituir suas tessituras, revelando uma
complexidade entre o individual e o social que não visualizamos melhor em razão de
cercas tão artificiais, que supostamente separam o que está do “lado de dentro” daquilo
que está do “lado de fora”.
Na aparente solidão das nossas faculdades sentimentais, os sonhos podem
parecer tão nossos que esta bem poderia ser a sua maior ilusão.
115
Preciso começar a aula, mas não consigo dizer nada. Apenas meu silêncio e
ansiedade. Em pé, vejo meus alunos e esse encontro nos olhos acelera minha angústia.
Inseguro, meu sonho termina.
Os sonhos nos visitam, mas não batem à porta. Chegam sem dizer suas
identidades, sem informar suas aparências para que sejam reconhecidos. Não enviam
recados, nada sabemos sobre o que querem conosco. São invasores de tudo o que foi
vivido ou imaginado, desejado ou evitado. Uma invasão sem norte ou sul. Não existem
mapas para traçar seus sentidos. Passamos boa parte da vida tentando pisar em chão
firme, embora outra parte das nossas experiências mostre caminhos de aparência
fugidia. Tentamos ser uma só pessoa, mas nos sonhos assistimos a nós mesmos. Muito
especulamos sobre o que vamos fazer nos dias seguintes ou em um futuro remoto,
embora, toda noite, um sonho nos leve para outro lugar inesperado. Algumas vezes os
sonhos continuam o que estávamos pensando, mas nunca coerentemente. Outras vezes
até esperamos que alguns sonhos se realizem, mas certamente será uma cópia infiel.
Sonhos são realidades únicas. Cenários para vivências terríveis ou momentos de
muitas delícias que se realizam sem o nosso arbítrio, os sonhos podem ensejar
esquecimentos ou recordações, não importa: são eventos que nunca serão
suficientemente mostrados para outra pessoa. Podemos narrar de algum modo o que nos
ocorreu em um sonho, mas serão sempre cenas transcritas, impossíveis de exibir na sua
originalidade. Se alguém conta um sonho, temos uma história, mas nunca a experiência
do sonho. Sonho não é imagem. A imagem só existe quando procuramos expressar de
algum modo o que sonhamos.
116
Tampouco suas imagens são propriamente representações. As imagens dos sonhos são
criações, composições que inventamos. Se são fantasias que nos levam a sonhar,
também são imaginações o que temos ao acordar. A realidade do sonho é uma rua entre
duas calçadas. Atravessamos a rua, mas é impossível permanecer nela.
Através de variadas imagens lidamos com o caráter transitório dos sonhos.
Dramáticos, repulsivos ou empolgantes, não podemos atuar neles, dando um destino
calculado aos seus episódios. Ficamos meditativos, procurando uma recordação
verídica. Visualizamos uma cena ou toda a história. Inventamos, com devaneios, outros
cursos para as virtuais lembranças do sonho. Escrevemos para não esquecer ou como
ponto de partida para uma história que nos ocorre, então, como criação. Desenhamos o
que gostaríamos de retratar e reter; novos traços podem ser acrescentados para um novo
quadro. Fabulamos, delirando que sonhamos outra coisa, mais desejável. Por algum
motivo insondável, alucinamos coisas piores. A vigília não é melhor ou pior que os
nossos sonhos. No cinema buscamos a arte de entrar e sair dos sonhos, acreditando
domar as noites inescrutáveis, fazendo da luz do dia uma claridade onírica.
Quando iniciei a escrita desse texto, novamente sonhei com a sala de aula. Não
estava na universidade onde leciono, mas na Uerj. Entre os alunos, reconheci meu filho
mais velho, de 13 anos, que está terminando agora o Ensino Fundamental. Enquanto
sonhava, estranhei sua presença ali. Contudo, meu pensamento principal era o mesmo,
tantas vezes vivenciado nos meus sonhos: não sabia como iniciar a aula, o que deveria
dizer. Curiosamente, a sala de aula e o que pude identificar do lugar, ao acordar, não era
a Uerj com a aparência que conheço. Era outra Uerj, que só existiu nesse sonho.
117
As imagens fazem parte de um vasto sistema solar. O cinema é uma nave, para
sondar, explorar e exibir a complexidade desse mundo pouco conhecido, mas sempre
visto a partir das janelas que abrimos, às vezes curiosamente, outras vezes sem saber o
motivo.
Professor Isak Borg viaja de Estocolmo até Lund para receber um título
honorífico. Aos 78 anos, trata-se de um prêmio depois de 50 anos dedicados à medicina
e à ciência. Longa trajetória de uma vida que vamos conhecendo através de alguns
retratos, imagens que serão projetadas enquanto viaja de automóvel para a cerimônia. O
caminho percorrido pela estrada aproxima Isak Borg do encontro com aqueles que irão
homenageá-lo e ao mesmo tempo é uma viagem no sentido pregresso da sua existência.
O filme, de Ingmar Bergman, Morangos Silvestres (1957), começa com uma cena de
Isak no seu escritório, em casa. Está escrevendo, narrando o que será visto no filme. A
câmera se detém em algumas fotografias expostas, conjugando palavras e imagens para
conhecermos alguns personagens da sua vida. A narrativa continua contando um sonho
que chama de estranho. Sonhos, fotografias, recordações e delírios acompanharão Isak
na sua viagem.
Até chegar à catedral onde acontecerá a entrega do título, o velho professor
realizará muitas visitas. A casa onde viveu ainda jovem é uma dessas paragens. São
cenas em que o cinema pode mostrar suas capacidades de desvario. Imagens se
misturam enquanto Isak tem suas lembranças. Assiste, diante dos seus olhos, cenas que
recorda – ou imagina que poderiam ter acontecido muitos anos antes, no local. Retratos
tecidos entre o presente manifesto e os espectros que suas emoções evocam através da
fantasia do passado.
118
Os rastros da vida de Isak aparecem em uma narrativa impossível de separar o autêntico
das fábulas, que lhe ocorrem uma após a outra, embaralhando tempos e espaços. Para
quem assiste a tudo, diante da tela, o real se apresenta múltiplo, sem a eternidade do
exclusivamente verdadeiro. No cinema, podemos dizer, essa é uma provação e uma
provocação da sua arte. Mas também acontece em outros episódios do olhar.
Quando estamos diante de uma partida de futebol, o que assistimos? Seus
personagens em ação no campo de jogo? Não, não é o que simplesmente ocorre. É o que
você diz que vai fazer no estádio, mas não é bem assim que tudo acontece. O jogo tem
início e logo outra partida se desenrola. Diante de cada lance, alternativas imaginárias
são traçadas na cabeça de cada um, de acordo com o seu lado na torcida, a memória de
outros jogos e os desejos também em disputa. Ver é também desenhar outros
personagens e lances, mais de acordo com o que queremos diante dos olhos. O gol é o
único momento de amortecimento da fantasia. A partida é reiniciada e o jogo fílmico de
cada um recomeça.
Estamos em maio de 1950. Rubem Braga (2013, p. 72) encontra, na França, o
pintor Georges Barque, de quem ouve: ”Não procuro a definição, mas a indefinição.
Chega-se, na harmonia, a uma espécie de nada intelectual em que todas as palavras são
sem valor. Você não pode elogiar as cores de um quadro em que há harmonia, pois
assim destruirá o desenho. O sonho é chegar ao fatal: ao que põe as ideias em xeque.
Chegar a um ponto em que não se pode dizer nada de um quadro”.
119
Dormi, mas fui atormentado por sonhos e imagens, que me pareciam tangíveis e
humilhantes, diz Isak, narrando o prosseguimento da sua viagem até Lund, depois de
deixar a casa da sua mãe. Agora é sua nora que dirige o carro. Adormece e sonha com
Sara, jovem que preteriu sua companhia na juventude para se casar com seu irmão. Ela
é áspera e diz que falam uma “língua diferente”. Ele reclama sentir dor e ela lhe diz:
“Como professor, devia saber por que dói, mas não sabe. Pensou saber tanto, mas não
sabe nada”. O sonho prossegue, como sua viagem para receber o prêmio. Isak, no
entanto, é atormentado pela cobrança a respeito dos seus conhecimentos. Chega a um
local onde será submetido a um exame. É arguido e solicitado que faça alguns
procedimentos. O professor falha, não consegue acertar nada. Recebe, então, a
comunicação que está sendo acusado de “culpa” e, também, a conclusão do inspetor:
Isak é declarado “incompetente”.
Lecionei durante 14 anos na rede pública do município do Rio de Janeiro. Tenho
lembranças contraditórias sobre esse período, como professor de História no Ensino
Fundamental. Sinto certa atração por esse meu passado, quando fui professor de tantos
jovens, muitos encantadores, outros especialmente desafiadores do meu trabalho e das
minhas expectativas sobre o ensino. Gostava de conversar com meus alunos, sinto uma
saudade muito grande desses momentos. No entanto, quando penso nas minhas
atividades especificamente nas salas de aula, não tenho bons sentimentos. Minha
recordação sobre minhas atividades curriculares, em diferentes turmas e várias escolas
onde trabalhei, não é muito boa, por razões diversas. Eu me lembro que, muitas vezes,
no trajeto para casa, ou indo para a escola, eu me perguntava sobre o que deveria
ensinar.
120
O que fazer em sala de aula, como professor, em termos de currículo, foi, com o
tempo, cedendo espaço para outra questão: o que fazer de aproveitável, de útil para a
vida dos meus alunos e alunas, uma vez que o programa curricular parece irrealizável?
Ensinar História já não me parecia tão urgente... Entrar na vida deles, através da música,
dos cotidianos, da vida em um sentido mais amplo, produzia expectativas e alegrias que
lecionar uma matéria específica não me proporciona mais. Depois de alguns anos, ainda
reencontro esses alunos e alunas através das redes sociais ou, eventualmente, em um
encontro fortuito nas ruas da cidade. Bom saber como estão, como estão seguindo suas
vidas. Parece-me, pelo que dizem quando nos comunicamos, que a época da escola
deles não era ruim, pelo menos para esse grupo com quem tenho algum contato. Mas,
para mim, existem fantasmas que ainda me visitam.
Iniciei minhas atividades, como professor da UFRRJ, lecionando História da
Educação. Foi uma opção “natural”, já que minha graduação era em História, com pós-
graduação em Educação. Em 2012, troquei de disciplina com um colega. Agora leciono
Currículo. Caminhei, então, poderia dizer, conscientemente ou não (não sei dizer...) para
o “ventre da besta”.
*
Preparando uma aula, li no livro Teorias Curriculares, das professoras Alice
Casemiro Lopes e Elizabeth Macedo (2011, p. 141):
as críticas à hegemonia da racionalidade tyleriana na definição do que é
currículo são em grande medida imputadas ao seu desprezo pelo que
ocorre nas escolas, pela prática cotidiana dos sujeitos [...].
121
Parece que mesmo tendo a prática como foco declarado, a teoria
curricular se afasta perigosamente da prática concreta dos sujeitos e com
o mundo real surge, então, como uma das reivindicações centrais de
autores que buscam criar uma teoria curricular conceitualmente diferente.
*
O que leva um cineasta a contar seus sonhos em um filme? São os sonhos uma
fonte primária para criações artísticas? Acreditam em quais linhas de força quando
tornam seus sonhos, mesmo os mais sofridos, uma narrativa e uma realização estética?
Quem sabe, mais despretensiosamente, cineastas, como todas as pessoas, precisam lidar
com seus sonhos e encontram na sua arte uma estrada para sublimar o que lhes ocorre
fantasmaticamente durante o sono. O que for obtido além será chamado de arte. Mas o
sonho no cinema é uma prática elementar, motivação da própria audiência, que encontra
na sala escura um ambiente para avivar e retorquir fantasias. Sonhos e cinema
confluem, como o encontro das águas.
Dreams reúne oito filmes-sonhos de Akira Kurosawa. Como costumam ser as
narrativas sobre sonhos, são relatos fantásticos. Vistos no seu conjunto, alguns temas
são bem fáceis de reconhecer: a natureza, o planeta e a ecologia. Sonhos de Kurosawa
interpelam os destinos da existência humana a partir dos modos de vida que afetam
nossa existência e arriscam o futuro comum. Um olhar que embeleza a vida, sugerindo
sua grandeza e misteriosas possibilidades. Interroga os atentados cometidos contra a
nossa própria presença na Terra, propondo políticas e cotidianos mais acariciantes com
tudo que está fora de nós mesmos, para o nosso próprio bem. Uma visão que enlaça
todas as vidas e seus suportes. Como espécie, não vamos sobreviver sem outra ética e
estética que cuide dos elementos que compõem o cosmos como o largo lugar da nossa
casa.
122
Sonhos é explicitamente cinema pedagógico do olhar. Kurosawa conduz nossa
atenção do filme para uma visão comovida da existência humana. Com os recursos da
produção e projeção cinematográfica, somos encantados por cenas que não poderíamos
nos deparar cotidianamente: casamento entre raposas, entrar no cenário de um quadro
de Van Gogh ou encontrar um ente que resultou dos efeitos da radiação nos humanos.
Certamente, Kurosawa não precisava de sonhos para realizar imagens como essas
apresentadas em Dreams. Técnica, imaginação e suas emoções seriam suficientes. No
entanto, a pedagogia da imagem nesse filme não é obtida apenas através da exibição de
quadros cinematográficos que nos poderiam fazer pensar o pretendido pelo cineasta.
Dreams tem um sintoma que faz parte da narrativa e nos faz crer que é a razão (ou uma
delas...) de filmar seus sonhos, de precisar falar deles e extrair de si algo muito doloroso
de carregar: a culpa.
No primeiro episódio, há o momento em que a mãe do menino diz para ele não
sair de casa. Nos dias de chuva, acontecem os casamentos das raposas e elas não gostam
de ser vistas. O menino desobedece. No retorno para casa é repreendido pela mãe, que
conta sobre a visita de uma raposa, enquanto ele estava na floresta. Em outro sonho
narrado, o menino encontra personagens que são “espíritos das árvores”, que censuram
para ele sua família, que havia cortado os pessegueiros. Um desses espíritos observa que
o garoto não tem culpa. Ele havia chorado quando viu as árvores cortadas. Em outro
sonho ainda, depois de atravessar um túnel, o comandante de uma companhia
reencontra um soldado morto, que resistia ao seu próprio falecimento. Sua mãe esperava
por ele em casa, dizia. O comandante diz que isso foi um sonho que ele teve, mas havia
morrido em seus braços logo depois. Declara, no entanto, para o soldado morto, sua
culpa como comandante: “sua falta de cuidado, sua má conduta”.
123
A culpa atravessa os sonhos de Kurosawa em Dreams. Um olhar em perspectiva
da série de episódios que compõem o filme, no entanto, possibilita a percepção de um
deslocamento da culpa. A culpa do menino, no primeiro episódio e a culpa da família,
no segundo, mais personalizadas, se transformam em culpas institucionalizadas,
matizadas pelo militarismo ou de responsabilidade da civilização e cultura nos episódios
seguintes. De um lado, é um movimento para reconhecer a gravidade dos
acontecimentos que podem atingir a vida de todos através de um olhar mais abrangente
do nosso tempo, impossível de ser localizado em indivíduos de forma sintética. De
outro lado, é também um movimento para amenizar o sentimento torturante que recai
sobre nós, cobrando nossas vidas, quando sequer estamos em vigília, mas ainda
sonhando. Pensamentos sobre os sonhos nos fazem sonhar depois outras coisas. Os
filmes continuam esse trabalho de sonhar outras vidas, outros mundos.
Há, sem dúvida, um determinado maniqueísmo nos sonhos narrados por
Kurosawa. Há uma narrativa romântica, passadista de uma natureza pré-industrial,
escapista até, tal como aparece no episódio 5, quando o homem que visita um museu
termina entrando em um cenário pintado por Van Gogh. Também no episódio 8, quando
um homem conversa com um velho, habitante de uma aldeia sem energia elétrica, mas
repleta de ensinamentos para o homem contemporâneo. Isso depois dos episódios 6 e 7,
que mostram um cenário de devastação nuclear para nos avisar sobre o perigo da
radiação nuclear. Mas ficar retido nas imagens “clichê” de Kurosawa seria uma
indelicadeza com um filme tão generoso, amoroso da espécie humana e de uma fabulosa
riqueza artística. Kurosawa debate-se na culpa e cria imagens para sair de uma opressão
marcadamente social, que infesta os sonhos de horror. Como os ogros, humanos
modificados, criaturas que nascem do erro nuclear.
124
Percorrendo os filmes-sonhos de Dreams, descobrimos pontos de encontro
intensos, quando o medo tanto paralisa quanto nos atrai para ultrapassar, da forma que
for possível, aquilo que nos assusta. Não se corre do medo, pedagogiza também o filme.
Por isso, sonhamos com eles. Sonhos são desejos, ainda que imprevistos ou
inconscientes, para rever as nossas mais assustadoras fantasias. Sonhos levaram
Kurosawa até Dreams – e o filme nos conduz de volta aos nossos sonhos. Estar diante
dos medos é uma chance, senão para nos livrarmos deles, pelo menos para conviver
com eles sem terror, sem alimentar as mais secretas vontades de aniquilamento da
espécie – ou da nossa própria existência. No episódio 3, enfrentando uma tempestade na
neve, um homem está enfraquecido com a situação. Parece que vai morrer. Então,
estranha figura aparece, cobrindo seu corpo com um manto cintilante: “a neve é morna”,
ela diz, para depois desaparecer no ar.
Através dos sonhos dizemos coisas para nós mesmos, como se fôssemos outros
personagens. Mas em todos os sonhos há apenas um único personagem: nós mesmos. A
vigília nos condena a sermos apenas um só. Os sonhos, mesmo os mais terríveis, são
vontades de expansão do pensamento e do corpo. No acontecimento do sonho, estamos
diante desse outro que somos também. Embora isso muitas vezes nos assuste, “a neve é
morna”.
125
REFERÊNCIAS
BRAGA, Rubem. Retratos parisienses. 2. ed. Rio de Janeiro: José Olympio. 2013.
DESNOS, Robert. O sonho e o cinema. In: XAVIER, Ismail. (Org.). A experiência do cinema.
Rio de Janeiro: Edições Graal, 1983. p. 317-318.
LOPES, Alice Casemiro; MACEDO, Elizabeth. Teorias do currículo. São Paulo: Cortez, 2011.
PESSOA, Fernando. Ficções do interlúdio. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.