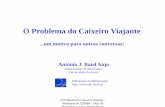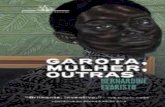DO MOVIMENTO E OUTRAS LIBERDADES / From movement and other freedoms
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of DO MOVIMENTO E OUTRAS LIBERDADES / From movement and other freedoms
DO MOVIMENTO E OUTRAS LIBERDADES
Flávia Regina Marquetti*
Ao Prof. Wilcon Pereira, amante das liberdades.
Resumo: O presente artigo aborda o conceito de conto e analisa o conto
de Albert Camus, Jonas ou o artista no trabalho, contrapondo-o à obra de
Magritte, A Flexa de Zenão.
Palavras-chave: conto, tensão, equilíbrio, existencialismo, liberdade.
Falar sobre o conto é equilibrar-se sobre um tênue fio
de seda, que ora vemos ora não.
Os teóricos nos apresentam várias definições, os
autores outras tantas, mas todas se perdem, ou talvez se
encontrem, na afirmação de que um grande conto não se
encaixa em qualquer teoria ou modelo e é por isso mesmo que
ele é grande. Ao que tudo indica, o conto é um insight, uma
iluminação que o autor tem sobre a forma e o tema do mesmo.
E, portanto, ele não o teoriza, escreve-o.
Partindo de autores como Cortázar, Borges, Saer e
teóricos como Píglia, Couto e Aurélio Buarque e de suas
opiniões sobre o conto, procuraremos estabelecer um eixo,
ou ao menos, algumas balizas sobre esse obscuro objeto de
estudo.* Prof. Dra. da área de Teoria Literária e Bolsista FAPESP de Pós-Doutorado
A primeira baliza nos é dada por Cortázar (1963,
p.152), que resume o conto a três elementos fundamentais:
tensão, intensidade e significação. Essa tríade é, a nosso
ver, a base de sustentação, não só do conto, mas de toda
grande obra de arte, seja ela verbal ou visual. Pois uma
narrativa não existe sem tensão, nada é tão fundamental num
texto como a passagem tensiva de um estado a outro. Esse
movimento intenso, significativo e, por isso mesmo, tenso é
que garante a fruição do texto, como diria Barthes. O conto
deve tomar o leitor de assalto, colocá-lo no centro de um
conflito, eliminando toda e qualquer idéia ou situação
intermediária, dessa forma, a tensão é mantida pela
intensidade do relato (Ibidem, p.157).
Do mesmo texto de Cortázar nos vem a noção de limite,
“ um recorte que atue como uma explosão que abra de par em
par uma realidade muito mais ampla” (Ibidem, p.151). O
conto é um flagrante que nos permite um mergulho nas
“possibilidades da verdade” (Bichsel: s/d, p. 10). São
encruzilhadas que se abrem diante do autor e,
posteriormente, do leitor.
Outra baliza nos é dada por Couto ao falar sobre Henry
James “ a arte é a própria vida, submetida a um processo
implacável de crítica e condensação”(1993, p.182). Ou como
quer Aurélio Buarque e Paulo Rónai (1978, p.16), o conto é
uma ação ou situação à qual o contista acrescenta as
personagens, suas almas, semblantes e costumes apropriados
àquela. O conto é um fragmento da vida e, como tal,
incompleto, seus episódios são incompletos e a narração
deve obedecer a essa incompletude (Saer: s/d, p.211).
A partir desses elementos, o conto deve apresentar:
ritmo, dado pela intensidade poética do relato; o menor
número possível de intrigas; uma grande concentração e
elementos formais inesperados que possam lhe dar uma nova
fisionomia, ou seja, abrir-lhe novas possibilidades de
verdades.
Por fim, o conto deve apresentar um caráter duplo
(Píglia:1994, p.37-41), contar simultaneamente duas
histórias: uma visível e outra secreta. A segunda deve vir
de modo elíptico e fragmentário, embora seja a chave para o
conto. Ao final, a história secreta deve emergir à
superfície da narrativa e tronar-se “a visão instantânea
que nos faz descobrir o desconhecido, não numa longínqua
terra incógnita, mas no próprio coração do imediato”
(Rimbaud, apud. Píglia: 1994, p.41).
As balizas levantadas por nós, correspondem a
pontos comuns a todos os autores vistos e de maneira
sintética poderiam ser assim visualizadas:
CONTO
|
IMEDIATO
|
CARATER DUPLO
|
FRAGMENTO - CONDENSAÇÃO
|
RECORTE - POSSIBILIDADE DE VERDADES
|
TENSÃO - INTENSIDADE - SIGNIFICAÇÃO
Norteando-nos por essas balizas, analisaremos o conto
de Albert Camus: Jonas ou o Artista no trabalho. Além do material
teórico já referido, recorreremos a outros instrumentais
sempre que necessário.
Nosso intento é verificar até que ponto o conto de
Camus atende aos postulados sobre o conto e nos permite
associá-lo ao quadro de Magritte - A flecha de Zenão, obra que
acreditamos, ainda que intuitivamente, harmoniza-se ao
equilíbrio tenso do texto de Camus e à pintura de seu
personagem, Jonas.
O ARTISTA NO TRABALHO
“Não compreendo quase nada, mas compartilho o azul, o amarelo e o
vento.”
(Eduardo Chillida)
“ A flecha em vôo repousa. O que se move sempre está no mesmo
agora.”
(Zenão de Eléia)
“É o homem que, fazendo-se existir,
engendra a sua essência.”
(Jean Paul Sartre)
O ponto de partida para a análise do conto de Camus
é a tensão. O conto tem início com um relato distenso,
quando um narrador observador e excluído da trama nos
informa, numa narrativa fluída e rápida, sobre a vida de
Gilbert Jonas, desde a sua infância até os seus trinta e
cinco anos, idade aproximada com a qual encontraremos nosso
personagem na segunda parte do relato. Essa primeira parte
distensa é de capital importância, pois é ela que determina
o ritmo e a intensidade da ação, estabelecendo, desse modo,
uma significação distinta para o que chamaremos de primeira
e segunda parte do relato.
O relato sintético estabelece, em oposição ao segundo,
a noção de liberdade. Tanto o personagem quanto o leitor
respiram livremente nessa fase. Os fatos se sucedem, sem
esforço, na vida de Jonas e essa não tensão, quase uma
alegria pueril, é dada pela “poética” narrativa, ou seja, o
encadeamento vertiginoso dos fatos, de forma bem humorada,
que sem se ater a detalhes, confere à narrativa a fluidez
de um rio sem barreiras, que corre livremente por seu curso
sem obstáculos. É a boa estrela de Jonas que brilha.
Nessa primeira fase encontraremos um Jonas livre, ou
como nos define Sartre1: “o homem como possibilidade pura,
sem qualquer determinação, dotado daquela liberdade
criadora das essências e das verdades” (1968, p.32). Jonas
é livre para criar, para engendrar a sua própria essência e
ser o que quer: apenas um pintor.
A passagem para a segunda fase se dá de maneira
gradual, marcada na narrativa por uma diminuição na
velocidade e um prender-se aos detalhes do cotidiano. Dessa
forma, Camus vai, aos poucos, criando um circulo em torno
de Jonas que, lentamente, vai se fechando, tolhendo, cada
vez mais, os seus movimentos até chegar a um emparedamento
asfixiante, que culmina com a imobilidade absoluta. Para
exemplificarmos essa mudança, podemos tomar a passagem na
qual o narrador nos conta sobre o início do casamento de
Jonas que, após o nascimento do primeiro filho, teve de
comprar seus próprios sapatos (Camus:1957, p.100). Embora,
o tom bem humorado ainda esteja presente, observa-se que os
pequenos entraves ou detalhes do cotidiano começam a tomar
1 Utilizaremos a teoria existencialista para nortear a produção de Camus,nos atendo ora a textos de Sartre, ora aos de Camus, sempre que estes semostrarem coerentes com a postura assumida pelas personagens do conto.
o tempo, antes livre, de Jonas. É o início do fim de sua
liberdade absoluta.
O movimento concêntrico em torno do personagem é
magnificamente explorado na espacialidade do conto. À
narrativa cada vez mais lenta soma-se a diminuição do
espaço físico ao qual Jonas tem acesso.
O cerco a Jonas é antecipado pelo narrador, “ ... o
tempo e o espaço encolhiam a um só tempo em torno deles.”
(Ibidem, p.100). A partir desse ponto da narrativa sentimos
o estrangulamento da personagem que, do mesmo modo como o
leitor, deixa-se levar sem se dar conta.
Estabelecendo um paralelo entre os vários espaços
apresentados no conto, verificamos que em toda a primeira
parte não temos uma indicação precisa de um espaço fechado
ou, ao menos, de um confinamento intenso, as ações das
personagens estão voltadas, em sua maioria, para o
exterior. Temos referência a passeios de motocicleta, a
visitas a museus e exposições e a uma viagem (Ibidem, p.97-
100). Ocorre uma breve citação do emprego de Jonas na
editora do pai, mas o texto, sutilmente, indica que não era
um local ao qual ele se fixasse. Também, nessa fase, temos
um Jonas absolutamente descompromissado com tudo e com
todos - livre: “ Aos seres e às circunstâncias comuns da
vida, reservava apenas um sorriso benévolo, que o
dispensava de se preocupar com eles” (Ibidem, p.97).
Seguindo a teologia do absurdo, Camus insere o seu
personagem, a princípio, numa “ liberdade que não conhece
nenhum dever, senão o de não ter dever” (1968, p.81). E, na
qual “ a liberdade interior e a liberdade física se
entrosam, uma pressupõe a outra sem podermos dissociá-las,
com o risco de comprometer a ambas” (Ibidem, p.94). Jonas
goza dessa dupla liberdade e é ela que lhe permite criar.
Na segunda fase, ao contrário, temos o estabelecimento
de um espaço fechado - o apartamento de Jonas e Louise. O
cerco é, inicialmente, construído com a indicação da
localização do mesmo: “ o apartamento ficava no primeiro
andar de uma antiga mansão do século XVIII, no velho bairro
da capital.” (Camus:1957, p.101). Em uma breve frase, Camus
restringe todo um universo, antes aberto e sem fronteiras,
a um ponto fixo, muito bem delimitado. Ele recorta a cidade
e identifica o bairro, recorta o bairro e identifica a
antiga mansão do século XVIII e restringe ainda mais - o
primeiro andar desta.
Se Jonas vagava anteriormente solto, sem fronteiras,
agora ele está preso a um ponto definido e delimitado. Uma
vez instalado no apartamento, veremos que a restrição
espacial será mantida, o cerco vai se fechando, apesar de
Jonas, nessa primeira distribuição dos cômodos da casa, ter
ficado com o maior.
Aparece nesse ponto da narrativa um novo fator de
restrição, que somado ao espaço, terá papel definitivo no
percurso de Jonas: a luminosidade que, da mesma forma que o
espaço, passa de uma claridade absoluta a uma escuridão
absoluta.
Ao descrever as três peças de que era composto o
apartamento, é chamada a atenção para a extraordinária
altura dos tetos e para a grande área envidraçada do mesmo.
Isso faz com que a luz inunde o apartamento, já que não
existem persianas neste. A ausência de privacidade irá
marcar o desconforto das personagens. Esse desconforto
nasce de um ponto chave na teoria existencialista - o
olhar. Segundo Sartre, “ o conflito nasce das relações com
o outro e com as outras realidades (...) toda relação com o
outro é, portanto, alienante e mortífera, pois petrifica:
faz do ser coisa ou objeto.” (1968, p.33).
A fusão desses três elementos: espaço, luz e olhar é
marcante na descrição:
“A altura realmente extraordinária dos tetos e aexigüidade dos cômodos faziam desse apartamento um
estranho conjunto de paralelepípedos quase
totalmente envidraçados, todo de portas e janelas,
onde os móveis não conseguiam encontrar apoio e onde
os seres, perdidos na luz branca e violenta,
pareciam flutuar como peixes num aquário vertical.
Além disso, todas as janelas davam para o pátio,
isto é, a pouca distância de outras janelas do mesmo
estilo, por trás das quais distinguia-se, quase que
de imediato, o desenho de outras janelas que davam
para um segundo pátio.
- É a galeria de espelhos - dizia Jonas,
encantado.” (1957,p.102-3)
Nesse trecho encontramos uma indicação preciosa para
as relações das personagens, a começar pela aproximação do
apartamento a um paralelepípedo envidraçado, essa imagem
construída por Camus, que será ainda reforçada pela do
aquário vertical, nos remete à idéia de objetos em
exposição, tal qual ocorre em museus. Os seres estão
aprisionados, sem vida, já que sem movimento, a uma
existência petrificada, fossilizada. Encontram-se ali para
serem vistos. O espaço ocupado pelas personagens no mundo é
desconfortável, pois até mesmo os móveis não encontram
apoio.
O conceito de ilusão, de vida artificial é dado pelo
próprio Jonas: “ a galeria de espelhos”, espaço marcado
pelo jogo de olhares e deformações. Mais adiante, esse
conceito será referendado pelo narrador ao enfatizar sobre
o local , “...acentuando o ar de caixinha de surpresas
desse original apartamento.” (Ibidem, p.103).
A medida que a narrativa se torna mais lenta, vamos
tendo um aumento da tensão causada pelo desconforto das
personagens. O espaço é novamente essencial para
compreendermos essa intensificação. Embora Jonas encontre-
se na sala maior, esta será preenchida, sucessivamente, por
seus quadros, o filho pequeno, os alunos, os amigos, etc.
todos dispostos em “fileiras concêntricas em torno do
cavalete” (Ibidem, p.109). A liberdade física de Jonas é
tolhida e a liberdade interior também, ele é constrangido
pelos olhares dos que o circundam, já não pode mais
dedicar-se a criar, a escolher o seu mundo, ele é
desumanizado, objetivado pelos olhares. “Elevavam-no tanto em seus discursos, e
particularmente no que se referia à sua consciência
e força de trabalho, que, depois disso, nenhuma
fraqueza lhe era mais permitida. perdeu, assim, o
velho hábito de comer um pedaço de chocolate ou um
cubo de açúcar quando terminava uma passagem difícil
e antes de retornar ao trabalho. Na solidão, apesar
de tudo, teria cedido clandestinamente a essa
fraqueza.” (Ibidem,p.107)
A relação, antes despreocupada, que mantinha com os
seres e as circunstâncias comuns da vida, torna-se
desgastante, absorvendo-o por completo. Jonas é solicitado
pelos outros a todo momento, já não pode mais pintar
livremente, seus discípulos e amigos não lhe permitem uma
nova escolha dentro de sua arte “ Jonas teria gostado, às
vezes, de invocar o capricho, esse humilde amigo do
artista. Mas as sobrancelhas franzidas dos discípulos
diante de certas telas que se afastavam de suas idéias
forçavam-no a refletir um pouco mais sobre a sua arte, o
que só era vantajoso.” (Ibidem, p.108). E se, no início,
lhe bastava oferecer um sorriso benévolo aos que o
cercavam, essa nova fase o obriga a ser político: “ Jonas
não se contentava mais em ser amável por natureza. Ele o
era com engenhosidade.” (Ibidem, p.109).
Ele passa, agora, a despender um tempo enorme para
responder cartas, dar pareceres, posicionar-se em relação a
assuntos que não o interessam, sem saber como escapar desse
círculo que o oprime.
Na tentativa de recuperar a liberdade perdida, Jonas
vai se interiorizando no apartamento. Do cômodo maior passa
para o quarto no final do corredor, deste para o quarto do
casal, que possui cortinas, observa-se uma diminuição na
claridade e no espaço reservado para o pintor. Além dos
cômodos serem menores, menos iluminados, a assistência de
Jonas o segue, sem lhe dar a sonhada liberdade. O
personagem cada vez mais acuado, recua até o limite e, a
cada tentativa de solução, encontra apenas nova frustração.
A petrificação de Jonas é explicitada em dois momentos
do conto, a primeira na voz de Rateau : “ Que criaturas
estranhas, gostam de você como estátua, imóvel. Com eles, é
proibido viver! ” (Ibidem, p.111) e o outro, nas páginas
seguintes, quando Jonas é pintado “Veja, não tem mais nada
a pintar. Ele próprio está sendo pintado e vai ser pregado
na parede.” (Ibidem, p.116).
A partir desse momento, o conto atinge o ápice da
tensão e o personagem inicia um movimento contrário, oposto
ao do início do mesmo. É a queda, vertiginosa, de Jonas. O
círculo se fechou ao seu redor e o arrasta para o fundo,
como um redemoinho.
O pintor deixa de pintar, deixa, portanto, de existir.“ Jonas trabalhava menos, sem que conseguisse saber
por quê. Era sempre assíduo, mas agora tinha
dificuldade de pintar, mesmo nos momentos de
solidão. Esses momentos, ele os passava a olhar para
o céu (...) tornou-se sonhador. Pensava na pintura,
na vocação, em lugar de pintar.” (Ibidem, p.119-20).
Nas poucas vezes que pintava - pintava céus. É a busca de
ar, da liberdade perdida, da amplidão.
Se no início do conto sair às ruas era perda de tempo,
agora torna-se fuga - Jonas sai às ruas, freqüenta cafés.
Embora possa parecer um movimento voltado para o exterior
é, na realidade, uma interiorização ainda maior, já que
está voltada para dentro de si mesmo. O personagem busca
locais escuros e enfumaçados, passa a beber e a mentir
sobre sua arte - é a ilusão de vida que Jonas agora
persegue, não mais a essência desta.
O emparedamento do pintor atinge o limite quando este
se isola no jirau que constrói no angulo reto formado pelas
paredes do corredor. O piso estreito é limitado pelas
paredes e não possui luz, além de estar fora do alcance de
todos. Jonas afasta-se do mundo. Embora não esteja num
plano inferior, o espaço criado por Jonas é um túmulo,
pequeno, escuro, silencioso e onde apenas ele habita, na
imobilidade da não vida: “ não estava pintando, mas
meditava. Na escuridão e nesse semi-silêncio, que,
comparado ao que vivera até então, parecia-lhe o silêncio
do deserto ou do túmulo, ele escutava o próprio coração.”
(Ibidem, p.126).
Essa imobilidade se estende às funções básicas de
manutenção da vida, Jonas não se alimenta e nem dorme,
apenas sonha com sua estrela. Ele, finalmente, é levado ao
fundo - dá as costas ao mundo. “ Começava um belo dia, mas Jonas não se dava conta
disso. Virara a tela para a parede. Esgotado,
esperava, sentado, com as mãos espalmadas sobre os
joelhos. Dizia a si mesmo que, de agora em diante,
nunca mais trabalharia, estava feliz. Ouvia os
resmungos dos seus filhos, os ruídos da água, o
tilintar da louça. Louise falava. As grandes
vidraças vibravam à passagem de um caminhão na rua.
O mundo ainda estava ali, jovem, adorável: Jonas
escutava o belo rumor que os homens fazem. De tão
longe, esse ruído não contrariava a força alegre que
havia nele, sua arte, esses pensamentos que não
conseguia exprimir, para sempre silenciosos, mas que
o colocavam acima de todas as coisas, num ar livre e
vivo. As crianças corriam pelos quartos, a garotinha
ria, agora também Louise, cujo riso ele não ouvia
havia já tanto tempo. Ele os amava! Como os amava!
Apagou o lampião, e, na escuridão que voltara, ali,
não era a sua estrela que continuava a brilhar? Era
ela, ele a reconhecia, com o coração cheio de
gratidão, e ainda olhava para ela quando caiu, sem
fazer ruído.” (Ibidem, p. 129-30).
Ao término do conto, Camus retoma sua epígrafe de
forma inesperada, dando ao conto uma nova possibilidade de
verdade e o faz com apenas duas palavras: solitário e solidário.
Ambas as palavras nos permitem ver em Jonas e no seu
isolamento a personagem bíblica. O pinto, assim como o
outro Jonas, acaba tendo um fim solitário, isolado do mundo
ao qual não se adapta, dessa forma readquire a liberdade do
início do conto. Sob o mesmo prisma, temos a solidariedade
do pintor para com os seus, ciente de que é ele e sua
realidade que lhes traz o sofrimento, deixa-se lançar para
fora da vida. Em ambos os Jonas, a solidão traz a liberdade
sonhada, completa, sem dever - absurda.
SEGUNDO MOVIMENTO : A IMOBILIDADE
Do absurdo existencialista, representado por Jonas e
sua imobilidade diante de um fazer, partimos em direção ao
quadro de Magritte, A flecha de Zenão. Como dissemos no início,
a associação entre ambos era intuitiva, mas ao cabo dessa
análise, se mostrou coerente.
A primeira correlação que podemos estabelecer entre o
quadro e o conto é referente a Jonas, que no final deste,
se dedicava, apenas, a pintar céus. Outra relação imediata
pode ser estabelecida com o mar - presente na epígrafe do
conto e no quadro. Ambas nos possibilitariam leituras
aproximativas, mas o elemento que, efetivamente, une o
conto à pintura de Magritte é a rocha, “estrela”, suspensa
no ar, ou seja, a flecha de Zenão.
O título enigmático do quadro de Magritte nos
proporciona surpresas e prazeres. Para compreendermos
Magritte temos de voltar a Zenão e ao seu pensamento
filosófico.
Zenão de Eléia, filósofo grego, foi discípulo de
Parménides. Segundo comentadores antigos, colocou seu
talento em defesa do Uno de Parménides, contra os
pluralistas que o atacavam, nessa defesa desenvolveu
argumentos contra a pluralidade e o movimento. Dos poucos
fragmentos de sua autoria que nos chegaram, um é o da seta
voadora: “ um objeto está em repouso, quando ocupa um espaço
igual às suas próprias dimensões. Uma seta em vôo ocupa, em
qualquer momento dado, um espaço igual às suas próprias
dimensões. Por conseguinte, uma seta em vôo está em
repouso” (Kirk: 1966, p.302).
Este argumento estabelece o princípio dos mínimos
indivisíveis, ou seja, para que a seta atinja o seu alvo,
ela teria de percorrer primeiro a metade do percurso, uma
vez isso feito, a metade restante deverá ser dividida na
metade e assim sucessivamente; o mesmo devendo ocorrer com
o tempo. Desse modo, num tempo mínimo, a seta ocupará um
espaço mínimo, correspondente ao seu tamanho, o que a
coloca em repouso - imóvel.
Magritte captura em sua obra esse mínimo de tempo e
espaço, que nada mais é do que a tensão cinética entre dois
momentos. A aparente imobilidade da rocha entre o céu e o
mar permite um flagrante da realidade, inesperado e que nos
faz descobrir novas possibilidades de verdades. A tensão se
estabelece, portanto, entre o esperado e o inesperado, o
inusitado.
A suspensão que experimentamos diante do quadro de
Magritte é a mesma que vivenciamos no conto de Camus.
Quando Jonas suspenso em seu jirau aguarda que sua estrela
brilhe novamente, tanto ele quanto o leitor, atingem o
tempo-espaço-mínimo, a imobilidade absoluta e absurda da
objetivação/ petrificação do Eu pelo Outro e da qual só é
possível escapar pelo estilhaçamento do ser. Mas a
fragmentação não ocorre, ou melhor, não nos é dada a ver,
nem no conto, nem no quadro, pois apresentar a esta seria
proporcionar um fecho à narrativa, quebrando seu encanto de
fragmento incompleto da vida, pois é na incompletude do
relato que encontramos o inesperado.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisar um conto de Albert Camus é ficar sempre à
quem do objeto analisado, o mesmo podemos dizer sobre
Magritte. Ambos nos permitem possibilidades múltiplas de
leituras de suas obras. O que tentamos, modestamente,
realizar foi um breve olhar sobre as duas obras.
Camus em seu relato pleno de ironia nos oferece uma
aula de como narrar histórias, seu conto é marcado pelo
caráter duplo de que nos fala Píglia. Sob a capa de uma
história banal: a vida do pintor Gilbert Jonas, se esconde
uma outra, elíptica, que fala do homem e de sua necessidade
mais premente - a liberdade. Tomando um fragmento da vida
de Jonas e concentrando-se nessa intriga mínima, Camus nos
oferece uma visão instantânea do desconhecido, nos permite
um insight sobre o mundo, não só de Jonas, mas do nosso
próprio.
A paralisia, a imobilidade na qual somos imersos pela
narrativa densa é a mesma que experimentamos diante do
quadro de Magritte. Ambos capturam e congelam o segundo
angustiante da queda que precede o impacto final, o
estilhaçamento, sentimos diante deles a vertigem e a
velocidade, a agonia do que cai eternamente e que, por isso
mesmo, parece imóvel.
From movement and other freedoms
Abstract: The current article approaches the short storyconcept and analyses Jonas ou o artista no trabalho by Albert Camus,comparing it to La Flèche de Zénon by Magritte.
Key words: short story, tension, balance, existentialism, andfreedom.
Referências bibliográficas:
BICHSEL, P. O leitor. In: A narrativa. Aulas de poética em Frankfurt.
Trad. José Pedro Antunes. (texto cedido pelo tradutor),
1996.
BORGES, J.L. O informe de Brodie. Porto Alegre: Globo, 1975
BUARQUE, A. & RÓNAI, P. Mar de histórias. Vol. 1. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1978.
CAMUS, A. Jonas ou o artista no trabalho. In: O Exílio e o Reino.
Trad.Valerie Rumjanek. Rio de Janeiro: Record, 1957.
CAVALCANTE DE SOUZA, J. (org.) Zenão de Eléia. In: Os Pré-
Socráticos. Trad. José Cavalcante de Souza. São Paulo: Abril
Cultural, 1985.
COLLI, G. O nascimento da filosofia. Trad. Frederico Carotti. São
Paulo: Ed. da UNICAMP, 1988
CORTÁZAR, J. Alguns aspectos do conto. In: Casa de las
Americas. Ed.Habana, 1963.
CORTÁZAR, J. Do conto breve e seus arredores. In: El último
round. Ed.Habana,1969.
COUTO, J.G. O mestre e suas lições. São Paulo: Cultrix, 1971.
JOLIVET, R. Sartre ou a teologia do absurdo. Trad. Carlos L. de
Mattos. São Paulo: Heder, 1968.
KIRK, G.S. & RAVEN, J. E. Os filósofos Pré-Socráticos. Trad.
Carlos A. L. da Fonseca. Lisboa: Fundação Calouste
Gulbenkian, 1966.
MEURIS, Jacques. René Magritte. 1898-1967. Colonia: Taschen,
1997.
PIGLIA, R. Tese sobre o conto. In: O laboratório do escritor.
Trad. Josely V. Baptista. São Paulo: Iluminuras, 1994.
SAER, J.J. A literatura, para mim, é uma proposta antropológica. Rio de
Janeiro: Record, 1965.
ZILBERMAN, R. & BORDIN, M. G. Introdução a Informe de Brodie, de J.L.
Borges. Porto Alegre: Globo, 1975.