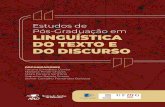HISTORIOGRAFIA LINGUÍSTICA e ESTUDOS CULTURAIS: OUTRAS IMPLICAÇÕES
Transcript of HISTORIOGRAFIA LINGUÍSTICA e ESTUDOS CULTURAIS: OUTRAS IMPLICAÇÕES
HISTORIOGRAFIA LINGUÍSTICA e ESTUDOS CULTURAIS:
OUTRAS IMPLICAÇÕES1
História Entrelaçada 6
Livro no prelo
Publicação em maio 2014
Neusa Barbosa Bastos (IP-PUC/SP – NEL-UPM)
Vera Lucia Harabagi Hanna (IP-PUC/SP – NEL-UPM)
O trabalho fronteiriço da cultura exige um encontro com
‘o novo’ que não seja parte do continuum de passado e presente.
Ele cria uma ideia do novo como ato insurgente
de tradução cultural.
Essa arte não apenas retoma o passado como
causa social ou precedente estético; ela renova o passado,
refigurando-o como um ‘entre-lugar’ contingente, que inova
e interrompe a atuação do presente.
O ‘passado-presente’
torna-se parte da necessidade, e não da nostalgia, de viver.
Homi K.Bhabha, O local da cultura, 1998.
Introdução
A transdisciplinaridade faz parte de uma condição real na vida acadêmica hoje.
Embora a combinação das diferenças seja frequentemente complexa de se negociar,
dada as aparentes contradições entre enfoques diferentes, empréstimos e retornos
acabam por se tornar comuns. Pensar a Historiografia Linguística pelo viés da
transdisciplinaridade tem sido tema recorrente em grupos de estudos dedicados à
teorização e prática da disciplina e levado a debate em congressos nacionais e
internacionais. Pesquisadores da área há muito se preocupam com a busca de novos
métodos de análise, ao mesmo tempo em que tentam alcançar uma compreensão mais
ampla a respeito da multiplicidade de abordagens advinda das relações entre os vários
ramos do conhecimento que a própria abundância de objetos de estudo constantes da
1 Este capítulo dá prosseguimento aos debates iniciados no texto História do Presente e Historiografia
Linguística: implicações. HANNA, Vera L.H. & BASTOS, Neusa M. História do Presente e
Historiografia Linguística: implicações. IN: BASTOS, Neusa Barbosa; PALMA, Dieli Vesaro. História
Entrelaçada 5: Estudos sobre a linguagem em materiais didáticos - década de 1950. São Paulo: EDUC.
2012. Pp. 17-34.
Historiografia Linguística admite e que, somados à variante particular do foco de
inquirição, apresentam modelos distintos de conduzir a pesquisa histórico-linguística.
A interação dinâmica e diversa dos estudos históricos, culturais e linguísticos faz com
que as fontes consultadas assumam importância primordial nos passos investigativos.
Certezas e desafios acompanham os estudiosos da Historiografia Linguística em
intersecção com disciplinas ligadas às Ciências Sociais, semelhanças e divergências
contribuem para o surgimento de linhas alternativas de conduta historiográfica. Pleitear
e centralizar as atenções da comunidade científica, de tempos em tempos, é uma tarefa
que se procura alcançar (HANNA e BASTOS, 2012).
O modo como se cria a autenticidade, como se constitui a realidade, como se
estabelecem os argumentos, como se filtra o passado, como se usa a narração como
forma de argumentação, de descrição, como se leva a efeito a seleção, a ordenação, a
reconstrução dos fatos, como se faz a interpretação das evidências, são discussões
permanentes, continuamente tratadas em relação ao tempo, e aos fatores determinantes
no entendimento ao exercício que a HL recomenda. Indagações sobre a história do
presente e verdade histórica, além do imediatismo de fontes novas, determinam uma
revisão sobre o posicionamento teórico-metodológico do trabalho em HL, objetos de
discussão no Grupo de Historiografia da Língua Portuguesa - IP-PUC/SP e no GT de
Historiografia da Linguística Brasileira da ANPOLL.
Embora a HL abrace diferentes programas de buscas, haverá sempre a necessidade de
procurar outros campos da pesquisa histórica já estabelecidos. É na história geral, na
intelectual e nas abordagens sociológicas e culturais da história que o historiógrafo
encontrará os princípios norteadores de sua análise, sempre adequados a seu objeto de
estudo e a suas ideias sobre a linguagem – os princípios emanados de seu aprendizado
histórico. A declaração de Koerner (1996, p. 56-57) a esse respeito embasa nossas
análises, “um conhecimento meticuloso da teoria e da prática em outros campos
revelam-se verdadeiramente úteis” - ainda que o pesquisador chegue a um resultado
impresumível - “que este ou aquele campo de investigação histórica tem de fato pouco
a oferecer em matéria de método historiográfico”, conclui o estudioso; de todo modo,
terá valido a experiência.
O presente estudo, além de indicar a continuidade das matérias relativas às etapas
metodológicas, visa a complementá-las e expandi-las no que se refere às questões de
caráter teórico, aqui, atinentes ao diálogo fatível e, que se acredita, enriquecedor, entre
a Historiografia Linguística e determinadas correntes dos Estudos Culturais. Dispõe-se
o exame a observar teóricos que rejeitam as divisões disciplinares e privilegiam a
combinação de contribuições e questionamentos derivados de saberes cruzados, estes,
nas palavras de Mattelart e Neveu, externam “a convicção de que a maioria dos
desafios do mundo contemporâneo ganham ao ser questionados pelo prisma cultural”
(2004, p.14).
Para uma melhor compreensão dos elementos constitutivos do fazer historiográfico é
imprescindível conferir especial atenção à competência do historiógrafo. Os pré-
requisitos da habilidade da prática linguística deverão juntar-se aos desafios de
entendimento de outras áreas, subjacentes ou não, “grandes exigências à atividade
acadêmica individual, amplitude de escopo e profundidade de assimilação” que exigem
um conhecimento, segundo Koerner, “quase que enciclopédico da parte do
investigador, dada a natureza interdisciplinar desta atividade” (1996, p. 47).
O modelo subjetivo da pesquisa e a natureza interdisciplinar da atividade conduzem o
pesquisador a uma procura incessante de um quadro metodológico ideal - De Clerq &
Swiggers (1991) auxiliam na elaboração ao nomear cinco tipos de ‘motivações’, que se
provam essenciais para o fazer historiográfico, a saber: dar cumprimento à HL como
sujeito enciclopédico; encará-la como ilustração do progresso de conhecimento; buscar
a defesa, difusão e promoção de um modelo linguístico particular em detrimento de
outros; exercitar a HL como descrição e explicação de conteúdos de doutrina, inserida
em um contexto histórico e científico; praticar a HL como testemunha exterior sobre
uma realidade social, ‘colorida’ pelas concepções e práticas linguísticas (apud BASTOS
& PALMA, 2004, p. 23). As motivações apontadas pelos historiógrafos servirão como
fio condutor para a proposta de justaposição dos dois campos de estudos.
Diálogos presumíveis entre Historiografia Linguística e Estudos Culturais:
cultura, texto, contexto
Quando se pondera sobre as relações metodológicas e epistemológicas do trabalho
historiográfico, o linguista alia-se, antes de tudo, ao historiador na reconstrução de
práticas linguísticas passadas. Preocupar-se com o sujeito da historiografia, a dimensão
social, cultural e material contextualizada, as convicções ideológicas e científicas,
incorporando o pesquisador dos estudos culturais nessa empreitada, parece
compensador. A complexidade que acompanha ambas as disciplinas, no que se refere à
metodologia e análise, pode ser um dos motores para que se encontrem elementos
comuns que as aproximem e complementem. O texto, o contexto, a subjetividade,
associados à própria compreensão do sentido de ‘cultura’, a indivisibilidade do binômio
língua-cultura, e a prática da Historiografia Linguística em intersecção com História do
Presente possibilitam as aproximações.
Ao se refletir sobre modos peculiares de gerir a averiguação e no intercâmbio criativo e
dinâmico que se estabelece nesse processo, atente-se, primeiramente, para a indicação
das características genéricas e a finalidade dos Estudos Culturais. Sob a perspectiva
teórica não se configuram exatamente como uma disciplina, mas sim como uma área em
que disciplinas distintas interatuam com o intuito de estudar aspectos culturais da
sociedade. Não possuem metodologia bem definida, nem campo de investigação
claramente demarcado, “A codificação de métodos ou de conhecimentos vai contra
algumas das principais características dos Estudos Culturais”, lembra Richard Johnson
(2006, p.10), “sua abertura e versatilidade teórica, seu espírito reflexivo, e,
especialmente a importância da crítica” os diferencia, porquanto ele avalia os Estudos
Culturais como um processo, “uma espécie de alquimia para produzir conhecimento
útil: qualquer tentativa de codificá-los pode paralisar suas reações”.
Compreendem, mais particularmente, o estudo da cultura contemporânea, analisada
sociologicamente, economicamente, criticamente. Pertencem a um campo
multidisciplinar de pesquisas que confundem suas fronteiras com as de outras
disciplinas, como a Antropologia, a História, a Sociologia, a Filosofia, a Geografia, os
Estudos Literários, que trazem suas próprias preocupações acadêmicas para o campo
da cultura. Em termos acadêmicos, Johnson destaca dois aspectos principais, um
distintivamente literário e outro distintivamente sociológico ou histórico, de todo modo,
ambas as abordagens revelarão sempre um ângulo da cultura (id., p.19). A incessante
discussão teórico-metodológica sobre e dentro da área está relacionada com a
singularidade da noção de ‘cultura’, um conceito notoriamente ambíguo, polissêmico.
A compreensão de cultura, em sentido amplo, implica conhecer, essencialmente, seus
dois componentes básicos - um antropológico (as atitudes, os costumes, o cotidiano, e
todas as maneiras de sentir, pensar e agir, seus valores e referências) e outro histórico,
que forma uma espécie de moldura para o primeiro por representar a herança de um
povo. Discussões a respeito da inter-relação da acepção de cultura e dos Estudos
Culturais continuam a acontecer, mas aquela que resume melhor o escopo na área inclui
a do antropólogo americano Clifford Geertz (1989) – trata-se do conjunto de histórias
que contamos a nós mesmos sobre nós mesmos; no entanto, para o juízo que contempla
um completo modo de vida, que remete a estudos voltados ao domínio da etnografia,
leia-se sua definição,
A cultura é um padrão de significados transmitidos historicamente,
incorporado em símbolos, um sistema de concepções herdadas expressas
em formas simbólicas por meio das quais os homens se comunicam,
perpetuam e desenvolvem seu conhecimento em relação à vida (id.p.
103).
A cultura é um conjunto de significados e práticas disponíveis ao entendimento e busca
do indivíduo em que fica subentendida a característica iminentemente modificadora do
homem a partir do que ele mesmo cria. Jeff Lewis, em Cultural Studies, the Basics
(2006, p.13), compendia o sentido na área como algo que é construído pelos humanos
para se comunicarem e criarem uma comunidade, “enquanto sociedade e comunidade
refere-se à reuniões de pessoas; a cultura é um agrupamento de representações e
significados”. A declaração do teórico considera que a cultura tem seu início em
representações do mundo acerca dos indivíduos em diferentes formatos, isto é, “essas
são formadas no discurso, na língua, em símbolos, em signos e em textos”. Enfatiza
ainda que, o sistema nos quais tais representações e significados são formados jamais
serão imutáveis, os significados são arranjados com determinado propósito dentro de
um contexto histórico e espacial (material) particular.
É fundamental registrar que tais características emanam da idealização do Centre for
Contemporary Cultural Studies, a Escola de Birmingham, estabelecido em 1964, na
Inglaterra, que assume a ampliação do conceito de cultura em direção a uma tendência
mais antropológica - depreende-se a cultura em relação à existência dos indivíduos, as
práticas e sentidos do cotidiano como constituintes da vida social - sucedida pela
inclusão de duas proposições,
Primeiro: a cultura não é uma entidade monolítica ou homogênea, ao
contrário, manifesta-se de maneira diferenciada em qualquer formação
social ou época histórica. Segundo: a cultura não significa
simplesmente sabedoria recebida ou experiência passiva, mas um
grande número de intervenções ativas — expressas notadamente através
do discurso e da representação — que podem tanto mudar a história
como transmitir o passado (AGGER, 1992, p.88-89).
A concepção de Geertz (1989), de que a cultura é a soma das histórias que contamos a
nós mesmos sobre nós mesmos, remete à avaliação de a cultura se ocupar de questões
de significado social compartilhado. Para que haja compartilhamento, porém, é
necessário entender que o significado é criado através de signos. Assim, o estudo da
cultura deve estar fortemente ligado ao estudo da significação.
Os Estudos Culturais fundamentam-se na visão de que a língua não é um meio neutro
para a formação de significados e conhecimento relativos a elementos separadamente da
língua, ao contrário, é parte constitutiva daqueles mesmos significados – a língua
fornece significado a objetos materiais e práticas sociais e faz com que se tornem
inteligíveis nos termos em que a língua delimita. A asseveração encontra-se no The
SAGE Dictionary of Cultural Studies, (2004, p.44-45) concluída com a convicção de
que a disciplina interessa-se por questões de representação com ênfase nos modos
como o mundo é socialmente construído e representado para e por nós, “esses
processos de produção de significado são práticas de significação, e, para que se
apreenda cultura é necessário explorar como o significado é produzido simbolicamente
como forma de representação”. A declaração deixa claro que se explore a geração
textual de significado em conjunto com a subsequente utilização em variados contextos,
como se pode notar em:
As representações e significados culturais apresentam certa
materialidade; estão compreendidos em sons, inscrições, objetos,
imagens, livros, revistas e programas de televisão. São produzidos,
validados, utilizados e entendidos em contextos sociais materiais
específicos. Assim, os estudos culturais podem ser apreendidos,
fundamentalmente, como estudo da cultura onde quer que este conceito
desejar denotar as práticas de representação situadas no interior dos
contextos de produção, circulação e recepção material e social (idem,
tradução nossa).
Avaliza-se, desse modo, que todos os sistemas humanos são simbólicos e sujeitos às
regras da língua, não havendo possibilidade de o indivíduo se posicionar como um
observador fora do círculo fechado da textualidade. Citando Barthes (1975), qualquer
representação ou simbolização necessariamente constituem um texto.
Os Estudos Culturais são radicalmente praticados em contextos, qualquer indivíduo só
pode se relacionar ou conhecer o mundo ao seu redor através de alguma forma de
mediação; as formas de mediação, no entanto, não terão significado antes de serem
capturadas pela cultura. Existe concordância unânime entre os teóricos culturais
contemporâneos de que o processo de mediação é essencial no entendimento da acepção
de cultura. Lewis (2006, p.30), explica que tanto a teoria da linguagem quanto os
estudos culturais entendem o desenvolvimento do indivíduo em relação à construção
cultural do significado do contexto; no conceito de subjetividade (o de ser um sujeito),
não está implícita a ideia de previsibilidade ou de constância, a capacidade receptiva, a
mutabilidade e o dinamismo fazem parte da construção da identidade, da mesma
maneira que acontece a construção do texto. Adequa-se aqui a asserção de Lawrence
Grossberg (1997, p.259), “um texto não possui significado, não há limites para o que
ele possa denotar. Talvez signifique qualquer coisa que um leitor quiser que ele
signifique”.
Lewis esclarece que há dois modos controversos que podem interpretar as declarações
acima: primeiro, um sujeito (ou a subjetividade) pode se constituir ou se posicionar em
relação a um texto ou discurso dado, sugerindo que leitores ou espectadores sejam
influenciados criticamente pelo conteúdo emocional e estético do texto, sua ideologia,
suas opiniões manifestas. Em termos de estudos culturais, significa que o conhecimento
de mundo do leitor e a constituição de si mesmo são formados em relação ao texto.
Segundo, a interação entre o leitor e o texto é muito mais fluída do que a discussão
contempla – a subjetividade é um processo aberto que permite a escolha de quem o
cidadão pretende se tornar.
Sobre esse argumento, vale apreciar as explanações de Storey (1997) relativas à
coincidência de pontos de vista entre os ‘pais fundadores’ dos Estudos Culturais,
Richard Hoggart, Raymond Williams e Edward P. Thompson2, a propósito de como as
formas textuais e as práticas documentadas de uma cultura, apontam a produção e a
utilização (consumo) de textos culturais de determinada sociedade, ponto crucial e
2 Os três autores, oriundos das classes trabalhadoras inglesa, possuíam experiências culturais parecidas.
Richard Hoggart, autor de The Uses of Literacy (1958), usou um modelo antropológico para investigar a classe
trabalhadora inglesa em relação a criação de significados. Raymond Williams, autor de Culture and Society (1958),
procurou harmonizar a cultura como ‘modo de vida’ e como ‘produtora de significados’. Edward Palmer Thompson,
autor de The Making of the English working-class (1963), preocupou-se em focalizar a História nas práticas do
cotidiano da classe trabalhadora inglesa em relação a criação de significados.
marcante do que se pode considerar os embasamentos que estruturaram a fundação dos
Estudos Culturais, na Inglaterra, na década de 1950,
O que os une [os três autores] é uma abordagem que insiste em afirmar
que através da análise da cultura de uma sociedade – as formas textuais
e as práticas documentadas de uma cultura – é possível reconstituir o
comportamento padronizado e as constelações de ideias compartilhadas
pelos homens e mulheres que produzem e consomem os textos e as
práticas culturais daquela sociedade. É uma perspectiva que enfatiza a
‘atividade humana’, a produção ativa da cultura, em vez de seu
consumo passivo (STOREY, 1997, p. 46, tradução nossa).
Ao desenvolverem uma técnica particular de análise textual, procuram localizar o texto
dentro de seu contexto histórico, material e cultural e dão preferência, como objetos
de estudo, à recriações sócio-históricas de culturas ou movimentos culturais, ou por
aqueles tipos de escrita que sejam capazes de recriar experiências socialmente
localizadas. Os Estudos Culturais tratam textos como documentos culturais, aponta
Lewis, para em seguida completar,
Estes documentos não podem estar separados das condições e
circunstâncias de sua produção e consumo. Textos culturais estão
fundamentalmente e inescapavelmente entrançados nas práticas sociais,
processos institucionais, na política, na economia. Os significados dos
textos não podem ser tratados de maneira independente da corrente e
das operações mais amplas da cultura no qual o texto existe.
(op.cit.p.35, tradução nossa).
As considerações de Lewis e Johnson sobre texto são complementares, “é apenas um
meio no estudo cultural, um material bruto a partir do qual certas formas (por ex., da
narrativa, da problemática ideológica, do modo de endereçamento, da posição de
sujeito, etc.) podem ser abstraídas” (Johnson, 2006, p. 75). A definição do que constitui
‘um texto’ pode ser interpretada sob diferentes aspectos, assim como a
interconectividade entre texto e contexto. A disciplina segue a acepção mencionada
acima, de Barthes - desde que tudo consiste em algo simbólico ou significativo, tudo
pode ser tratado como texto (Lewis, op.cit.).
As condições simbólicas da textualidade ocupam pontos centrais de discussão nos
Estudos Culturais, enquanto alguns críticos interpretam o texto como o indicador capital
do contexto, outros analisam o contexto como aquele que apresenta epifanias no texto e
em suas representações. Ao se transferir o juízo para a ideia de contexto referente à
pesquisa particular, recorre-se às anotações de Grossberg - o contexto não é oferecido
empiricamente, de antemão, mas deverá ser definido pelo projeto em si, pela questão
política com que está envolvido, pela época, não importando a extensão que alcance,
poderá tratar tanto de temas breves como mais complexos; apesar disso, o contexto será
sempre o âmago de tudo, tudo é contextual. O pensamento de que os Estudos Culturais
sejam definidos como radicalmente contextualistas é assim sintetizada pelo autor,
Um acontecimento, ou uma prática, ou até mesmo um texto, não existe
se separado das forças do contexto que o constitui. Não pode ser
relegado a uma série de notas de rodapé, de prefácios ou de posfácios.
O contexto é, exatamente, o que está se tentando analisar e o mais
complexo de se construir. O contexto trata de ambos, do início e do fim
dos Estudos Culturais, embora os dois não sejam o mesmo ponto.
(1997,p.255, tradução nossa).
Grossberg ressalta ainda que uma das consequências sobrevindas do contextualismo
radical dos Estudos Culturais é o antirreducionismo em todos os sentidos. Recusam-se a
reduzir a realidade à cultura ou a qualquer dimensão ou domínio da existência, “tudo faz
parte da realidade humana” (op.cit., p.256), há realidades materiais - tão essenciais e
determinantes quanto as práticas sociais e culturais.
Deve-se avaliar como categórica, contudo, sua asseveração sobre esse campo de
estudo como desacreditador da visão de cultura como puramente cultural, “não se
pode acreditar que tudo é cultura”, conclui ele, ao contrário, “confia-se que a cultura só
poderá ser apreendida em sua relação com tudo que não é cultura”(id.).
É oportuno que se retome brevemente à questão da investigação da atividade
historiográfica em sua relação com a cronologia, discutida como fator determinante no
entendimento ao exercício da HL, em Hanna e Bastos em 2012. Complementa-se nesse
capítulo, a intersecção do tempo, do tempo presente com os estudos culturais -
justaposições complexas, mas inerentes às preocupações dos pesquisadores da
contemporaneidade (quando o contemporâneo se torna histórico), de todos que estudam
cultura, economia, relações sociais, ou qualquer outro aspecto da experiência humana,
conforme Lawrence Grossberg, tenta expor (2000, p.149-151).
O autor coloca em evidência em seu ensaio a inquietação sobre a transformação do
contemporâneo em história, referindo-se ao século XX ou XXI. O presente, o
contemporâneo, em história moderna não é, precisamente, história (o passado) ajuíza
ele, “é o presente permanente, que deixa escapar o passado, que não pode se tornar um
período histórico”. Anuncia a irreversibilidade da disciplina história como condição
sine qua non na pesquisa nas ciências humanas, “até os estudos culturais estão
constantemente em busca de ‘especificidade histórica’”, juntamente com a língua, e
cultura, é a história de um povo, a historicidade, que os diferencia dos animais, conclui
ele (p.150).
A dimensão do tempo permanece como ponto capital nas teorias sociais e nos estudos
culturais, estes requerem um senso histórico e, a história, adverte a historiadora
americana Carolyn Steedman no ensaio, Culture, Cultural Studies and the Historians
(1999), deve ser encontrada nos arquivos, não só nos textos. Levanta uma série de
questões fundamentais sobre a relação entre História e Estudos Culturais, igualmente
relevantes para o estabelecimento do princípio da contextualização em que o
historiógrafo da linguística coleta, cataloga e interpreta os fatos que instituirão o
‘clima de opinião’ geral do período estudado.
Lewis, conforme se assinalou anteriormente, assevera que os Estudos Culturais tratam
os textos como documentos culturais, assertiva que recebe um complemento com as
observações de Steedman. Textos e documentos são eles mesmos fatos históricos, não
apenas repositórios de fatos; usados como representantes de uma realidade histórica
‘real’, são também, instáveis, “A História é a mais impermanente das formas escritas, é
sempre uma história que durará apenas por um período curto de tempo” informa a
autora (1999, p.48).
A sociedade e os indivíduos constituem-se de tempo. Homi Bhabha, um dos mais
conceituados teóricos dos Estudos Culturais, discorre, em O Local da Cultura (2005),
sobre o trabalho fronteiriço da cultura que “exige um encontro com ‘o novo’ que não
seja parte do continuum de passado e presente” (p.27), como se lê na epígrafe do
capítulo. Em sua visão, o passado deve ser retomado como causa social. Uma vez
renovado, inova e interrompe a atuação do presente. À guisa de conclusão sobre o tema
‘tempo’, observe-se, no parágrafo a seguir, seus comentários sobre habitar um espaço
intermédio, ser parte de um tempo revisionário, retornar ao presente para redescrever a
contemporaneidade cultural,
O imaginário da distância espacial – viver de algum modo além da
fronteira de nossos tempos – dá relevo a diferenças sociais, temporais,
que interrompem nossa noção conspiratória da contemporaneidade
cultural. O presente não pode mais ser encarado simplesmente como
uma ruptura ou um vínculo com o passado e o futuro, não mais uma
presença sincrônica: nossa autopresença mais imediata, nossa imagem
pública, vem a ser revelada por suas descontinuidades, suas
desigualdades, suas minorias (BHABHA, 2005, p.23).
Considerações Finais
Buscou-se nesse capítulo levar o leitor a conjeturar como a cultura, o texto, o
contexto, a tríade temporal, em coadjuvação recíproca, podem encontrar o sentido de
contemporaneidade cultural em diálogos entre a Historiografia Linguística e os Estudos
Culturais. Nesse sentido, propõe-se ao historiógrafo da linguística, em sua tarefa de
mostrar novas visões de mundo, que leve em conta, junto aos princípios básicos da HL,
as convergências entre os estudos culturais e os modos de escrever história, típico
exemplo de transdisciplinaridade no estudo linguístico e da cultura.
A HL prossegue na busca por novos métodos de análise. Desse modo, é adequado que
se retomem as dimensões teóricas e metodológicas nos ensinamentos de Koerner (1989)
- os modelos de investigação - e os aproxime da proposta aqui apresentada. Neles está
enfocada a dinâmica interna dos problemas assinalados na HL, assim como o modo de
tratá-los funcionalmente e de maneira integral - o historiógrafo da linguística estudará
continuidades e descontinuidades de acordo com os fatores intra e extralinguísticos. Os
modelos de Koerner podem ser resumidos do seguinte modo: o Modelo de Progresso
por Acumulação que fornece uma progressão não linear, fortalecida pelo tempo; o
Modelo Subcorrente que admite a existência de mais de uma linha de pensamento
influenciadas por razões políticas, ideológicas e sociais com diferentes focos de atenção;
o Modelo Pêndulo-Balanço que pressupõe o dinamismo linguístico ou na História da
Linguística e reconhece a alteração contínua entre abordagens relativas a determinados
assuntos; o Modelo do Progresso Relativo que funde o descrever e o desenvolver da
Linguística tendo em vista o desenrolar do tempo e os avanços ocorridos na área
investigada (HANNA e FACCINA, 2006).
Ao mesmo tempo em que as diferenças continuam a existir entre as áreas analisadas,
ambas devem estar sempre atentas ao novo, ao emergente. Assim como o entendimento
do presente envolve releituras do passado, abrem-se igualmente novas possibilidades de
estudo para se trabalhar com a história, a história e os estudos cultuais, e, ambos com a
HL, a escolha do método promoverá significantes diferenças nos resultados.
Assim, iniciam-se novas etapas de investigação metodológica que, baseadas para alem
da análise do texto e do discurso, e métodos históricos conhecidos, sugerem o acréscimo
do trabalho de campo etnográfico (entenda-se em Estudos Culturais ‘todo método que
implica a conversa com pessoas’). Alia-se ao continuum de métodos conhecidos o
denominado ‘auto/etno continuum’ que compreende a auto/biografia, via individual ou
em memória de grupo, entrevistas, e a busca de produções em fragmentos escritos, na
história oral, alem de vários outros métodos baseados em entrevistas, que se somam ao
senso clássico da etnografia e, também, da etnologia, que estuda os fatos e documentos
pesquisados pela etnografia no âmbito da antropologia cultural e social em busca da
comparação de culturas (JOHNSON et alii, 2004, p.202).
Referências bibliográficas
AGGER, Ben. Cultural Studies as Critical Theory. London: Falmer Press. 1992.
BHABHA, Homi K. O local da cultura. Tradução de Myriam Ávila et alii. Belo
Horizonte; Editora UFMG. 2005.
BARKER, Chris. The SAGE Dictionary of Cultural Studies. London: SAGE
Publications Ltd. 2004.
BARTHES, Roland. The pleasure of the text. Hill and Wang: New York. 1975.
BASTOS, Neusa M.O.; PALMA, Dieli V.(org.). História Entrelaçada 1; a construção
de gramáticas e o ensino de língua portuguesa do século XVI aos XIX. Rio de Janeiro:
Lucerna. 2004.
___________. História Entrelaçada 5: Estudos sobre a linguagem em materiais
didáticos - década de 1950. São Paulo: EDUC. 2012.
DECLERQ, Jean; SWIGGERS. Pierre. L´Histoire de la Linguistique: L’autre Histoire
et L´Histoire d’une Histoire. Neue Fragüen der Linguistik org. por FELBUSCH,
Elizabeth, POGARELL Reiner e WEISS Cornelio. Tubingen: Verlag. 1991.
DURING, Simon. The Cultural Studies Reader. London and New York: Routledge.
1999.
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. [1973]. Rio de Janeiro: LTC – Livros
Técnicos e Científicos. 1989.
GILROY, Paul; GROSSBERG, Lawrence; MCOBBIE, Angela (ed.). Without
guarantees: in honor of Stuart Hall. London: Verso. 2000.
GROSSBERG, Lawrence. Bringing it all back home. Essays on Cultural Studies.
Durham: Duke University Press, 1997.
___________. History, Imagination and the politics of belonging. IN: GILROY, Paul,
GROSSBERG, Lawrence, MCROBBIE, Angela (ed.). Without guarantees: in honor of
Stuart Hall. London: Verso. 2000.
HANNA, Vera L.Harabagi; BASTOS, Neusa M.O. História do Presente e
Historiografia Linguística: implicações. IN: BASTOS, Neusa Barbosa; PALMA, Dieli
Vesaro. História Entrelaçada 5: Estudos sobre a linguagem em materiais didáticos -
década de 1950. São Paulo: EDUC. 2012. Pp. 17-34.
HANNA, Vera L. Harabagi; FACCINA, Rosemeire. Historiografia, Historiografia
Linguística: interpretando eventos individualmente. Anais do 11º Congresso Brasileiro
de Língua Portuguesa, 2º Congresso Internacional de Lusofonia do IPPUC-SP. 2006.
JOHNSON, Richard. O que é, afinal, Estudos Culturais? IN: SILVA, Tomaz Tadeu
(org. e trad.). O que é, afinal, Estudos Culturais? Belo Horizonte: Autêntica. 3ª.ed.
2006. pp. 7-131.
JOHNSON, Richard, CHAMBERS , Deborah, RAGHURAM Parvati e TINCKNELL
Estella . The Practice of Cultural Studies. London: SAGE Publications Ltd. 2004.
KOERNER, Konrad. O problema da metalinguagem em Historiografia da Linguística.
In: Revista D.E.L.T.A., vol. 12, nº 1, p.95-124, 1996.
KOERNER, Konrad. Practicing Linguitic Historiography: Select Essays. Amsterdam &
Philadelphia: John Benjamins. 1989.
LEWIS, Jeff. Cultural Studies. The Basics. London: SAGE Publications Ltd. 2006.
MATTELARD, Armand, NEVEU, Érik. Introdução aos Estudos Culturais. Tradução de
Marcos Marciolino. São Paulo: Parábola Editorial. 2004.
STEEDMAN, Carolyn. Culture, Cutural Studies and the Historians. IN: DURING,
Simon. The Cultural Studies Reader. London: Routledge. 1999.
STOREY, John. An Introduction to Cultural Theory and Popular Culture. London:
Prentice Hall/Harvest Wheatsheaf. 1997.