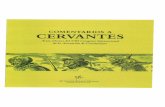Disputas urbanas : el espacio y la diferenciación en el barrio
disputas políticas e epidemia do cólera (Ceará, 1862-1863)
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of disputas políticas e epidemia do cólera (Ceará, 1862-1863)
JUCIELDO FERREIRA ALEXANDRE
A PESTE SERVE A QUAL PARTIDO?:
disputas políticas e epidemia do cólera (Ceará, 1862-1863)
Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em História do Instituto de História da Universidade
Federal Fluminense, como requisito parcial à
obtenção do título de doutor em História.
Área de concentração: História Social.
Orientador:
Prof. Dr. Mario Grynszpan
NITERÓI – RJ 2020
JUCIELDO FERREIRA ALEXANDRE
A PESTE SERVE A QUAL PARTIDO?:
disputas políticas e epidemia do cólera (Ceará, 1862-1863)
Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em História do Instituto de História da Universidade
Federal Fluminense, como requisito parcial à
obtenção do título de doutor em História.
Área de concentração: História Social.
Aprovada em 9 de novembro de 2020.
______________________________________________________
Prof. Dr. Mario Grynszpan – Universidade Federal Fluminense Orientador
______________________________________________________
Profa. Dra. Isabel Idelzuite Lustosa da Costa – Fundação Casa de Rui Barbosa Arguidora externa
______________________________________________________
Profa. Dra. Kaori Kodama – Casa de Oswaldo Cruz/Fiocruz Arguidora externa
______________________________________________________
Prof. Dr. Paulo Henrique Fontes Cadena – Universidade Católica de Pernambuco Arguidor externo
______________________________________________________
Prof. Dr. Sebastião Pimentel Franco – Universidade Federal do Espírito Santo Arguidor externo
NITERÓI- RJ
2020
AGRADECIMENTOS
Chegar ao fim de uma fase importante da vida, como é o doutorado, traz o dever de
destacar o papel de pessoas e instituições na minha trajetória. Assim, agradeço:
Ao Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense
(UFF) e à Universidade Regional do Cariri (URCA) por terem viabilizado o Doutorado
Interinstitucional junto à Capes. Saliento, especialmente, a sensibilidade das universidades em
lançar edital aberto, não restrito aos professores da URCA, permitindo, assim, a extensão da
qualificação aos professores de outras universidades e da rede estadual de ensino do Ceará.
Particularmente, sou grato às professoras Ana Maria Mauad, Giselle Venâncio e Verônica
Secreto, por terem atuado diretamente na coordenação do projeto.
Ao empenho do Departamento de História da URCA em viabilizar o Dinter e pela
acolhida dada aos doutorandos das outras instituições. A professora Sônia Meneses merece
destaque, por ter liderado a implementação do Dinter e o coordenado localmente. Querida
Sônia, obrigado por fazer parte da minha vida, desde a graduação ensinando o que é ser um
bom profissional de História, e por não medir esforços na coordenação do Dinter.
À Coordenação do PPGH-UFF e à secretaria do programa, pela atenção ao longo dos
quatro anos do curso e por atenderem minhas demandas sempre que solicitei algo.
Ao meu orientador, Prof. Mario Grynszpan, pela parceria, confiança, solicitude e
tranquilidade ao longo do curso, fundamentais para o avanço do meu trabalho.
Aos professores membros da banca de defesa, Isabel Lustosa (Fundação Casa de Rui
Barbosa), Kaori Kodama (COC/Fiocruz), Paulo Henrique Fontes Cadena (UNICAP) e
Sebastião Pimentel Franco (UFES), por aceitarem participar de momento central de minha
trajetória pessoal e profissional. Suas opiniões e sugestões sobre o meu trabalho ajudaram a
melhorá-lo. Reforço os agradecimentos às professoras Isabel e Kaori, pela leitura criteriosa e
crítica que fizeram ao meu trabalho no exame de qualificação, colaborando, significativamente,
para o desenvolvimento final da tese.
Aos professores ministrantes de disciplinas, especialmente a: Ismênia Martins, um
exemplo de energia e paixão pelo ofício; Georgina Santos, pelas maravilhosas aulas sobre Brasil
Colônia; Ana Mauad, pelos inspirastes insights sobre a pesquisa histórica; Mario Grynszpan,
que ofertou um dos módulos mais interessantes sobre teoria da História; Rodrigo Bentes, de
uma erudição absurda ao abordar as ideias políticas modernas; e Giselle Venâncio, de didática
inspiradora, ao fazer compreensíveis os teóricos mais difíceis. Aprendi muito com esses
professores e guardarei na memória aquelas semanas intensas de conhecimento e debate.
À Universidade Federal do Cariri, especialmente aos colegas do Instituto de Estudos do
Semiárido (IESA), pela aprovação de meu afastamento por dois anos, dando tranquilidade para
o desenvolvimento da pesquisa e escrita da tese. Agradeço, ainda, ao Centro de Ciências Sociais
Aplicadas (CCSA) por ter ratificado meu afastamento.
Aos alunos do curso de História em Icó, pelo carinho constantemente manifestado.
Aos servidores e funcionários do Arquivo Nacional, Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, Biblioteca Nacional e Departamento Histórico Diocesano Padre Antônio Gomes de
Araújo, instituições que generosamente me receberam e permitiram o acesso às fontes históricas
fulcrais na escrita da tese. A Biblioteca Nacional merece, ainda, outro agradecimento, pela
manutenção da Hemeroteca Digital, revolucionária para o trabalho dos historiadores, ao
democratizar o acesso à mais relevante coleção de jornais brasileiros.
Aos colegas de doutorado: Airton, Daniela, Fagno, Fatinha, Helonis, Jaquelini, Marcos,
Rafael, Raimundo, Rubia, Simone e Viviane. Sou grato, especialmente, à Priscilla e Sandra,
com quem dividi os melhores dias de 2018, durante o estágio doutoral no Rio de Janeiro. A
convivência com todos os colegas foi um estímulo na caminhada, além de proporcionar
momentos saudosos de riso e companheirismo.
Aos queridos Cicinha e Paulinho, que leram pacientemente a tese, sempre fazendo
sugestões precisas de como deixá-la mais correta gramaticalmente e bonita. Sou grato a Deus
por fazerem parte da minha vida. A admiração por vocês só cresce.
Aos NMCR’s, sociedade quase-secreta, a reunir os sócios Amanda Teixeira, Ítalo
Bezerra, Patrícia Alcântara, Priscilla Queiroz, Sávio Samuel e Simone Pereira. O que seria de
mim sem nosso divertido fórum cotidiano de discussões?
Aos meus pais, Lúcia e Jossiê, a quem devo a vida, a educação e tudo o que alcancei.
Amo vocês! À Luana e Juciano, meus maninhos, parte importante de minha história. A Vinícius
e Miguel, os sobrinhos mais lindos e amados do universo.
Por fim, às políticas públicas de educação do Brasil, que permitiram a um cearense do
interior fazer a graduação, o mestrado e o doutorado em instituições públicas e tornar-se docente
efetivo de uma das novas universidades federais, criadas para ampliar o acesso e a
democratização do ensino superior.
RESUMO
Entre 1862 e 1863 a Província do Ceará foi vítima do cólera morbo. Responsável por grandes
epidemias pelo mundo, no século XIX, o cólera ganhou a atenção dos historiadores,
interessados em problematizar as questões socioculturais por trás das cenas dramáticas ligadas
à doença. No caso do Ceará, o drama epidêmico foi, claramente, utilizado nas disputas político-
partidárias, bem como serviu a indivíduos interessados em granjear honrarias e benefícios
pessoais. Naquela conjuntura, uma celeuma envolvendo o presidente da província, José Bento
da Cunha Figueiredo Júnior, e a cobertura feita pelos jornais sobre a epidemia ganhou destaque,
refletindo também questões mais amplas da política imperial, como a ascensão da “Liga
Progressista” na Corte. É sobre os usos políticos do cólera no Ceará que a tese se deterá. Entre
as fontes históricas utilizadas na pesquisa, destacam-se cinco jornais, disponíveis na
Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional: o Pedro II – de propriedade da família Fernandes
Vieira, principal liderança do Partido Conservador no Ceará – e os jornais de inspiração liberal,
O Cearense, O Commercial (rebatizado Gazeta Official), O Sol e O Araripe. Além da imprensa,
as correspondências ativas da presidência da província – acervo do Arquivo Nacional do Rio
de Janeiro – e as missivas privadas enviadas por Figueiredo Júnior ao ministro Marquês de
Olinda – conservadas no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro – ocupam função
estratégica na tese. Por fim, alguns documentos impressos e manuscritos de outros arquivos
também contribuem na construção dos capítulos.
Palavras-chave: epidemia do cólera; disputas políticas; Província do Ceará; imprensa.
ABSTRACT
Between 1862 and 1863 the Province of Ceará was victim of cholera morbus. Responsible for
huge epidemics around the world, in the 19th century, the cholera gained attention of historians,
interested in problematizing sociocultural questions behind of the dramatic scenes related to
disease. In the case of Ceará, the epidemical drama was, clearly, used in the political parties
disputes, as well as it served to individuals interested in gaining honors and personal benefits.
In that conjucture, a muddle involving the provincial President, José Bento da Cunha Figueiredo
Júnior, and the coverage by newspapers about the epidemics reached spotlight, reflecting also
larger questions of imperial politics, as the rising of the “Progressive League" at court. It is
about the political uses of cholera in Ceará that the thesis will treat. Between historical sources
used in the research, five newspapers are significant, available in the Hemeroteca Digital at the
National Library: O Pedro II – belonging to the Fernandes Vieira family, main leadership of
the Conservative Party in Ceará – and the newspapers of liberal inspiration, O Cearense, O
Commercial (renamed Gazeta Official), O Sol and O Araripe. Besides the press, the active
Provincial Presidency correspondence – at the National Archive in Rio de Janeiro – and the
private letters sent by Figueiredo Júnior to the minister Marquês de Olinda – guarded at the
Brazilian Historical and Geographical Institute – have a central role in this thesis. At last, some
printed documents and manuscripts from others archives have also contributed to the
construction of the chapters.
Keywords: cholera epidemics; political disputes; Province of Ceará; press.
LISTA DE ABREVIATURAS
ANRJ – Arquivo Nacional do Rio de Janeiro
BNRJ – Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro
DHDPG – Departamento Histórico Diocesano Padre Antônio Gomes de Araújo
IAHGP – Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco
ICC – Instituto Cultural do Cariri
IHGB – Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro
LISTA DE QUADROS
QUADRO 1 – Presidentes nomeados para a Província do Ceará entre 1840 e 1889..................46
QUADRO 2 – Comissões sanitárias criadas pelo Governo Provincial do Ceará entre fevereiro
e abril de 1862..........................................................................................................................189
QUADRO 3 – Indicados às Ordens Honoríficas pelos serviços prestados na epidemia do cólera
de 1862.....................................................................................................................................242
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO.........................................................................................................................1
CAPÍTULO 1 – A CONJUNTURA POLÍTICA E EPIDÊMICA........................................32
1.1 - A política nacional entre a Conciliação e a Liga...........................................................36
1.2 - A política e os partidos no Ceará...................................................................................46
1.3 - “Um inimigo em triunfo”..............................................................................................59
CAPÍTULO 2 - PRESIDIR NA EPIDEMIA: O GOVERNO DA PROVÍNCIA E O
CÓLERA NO CEARÁ............................................................................................................94
2.1 - “Calamidade igual, só o cólera”....................................................................................94
2.2 - “O tutor, o salvador da sociedade”..............................................................................106
2.3 - As “folhas da oposição têm censurado o procedimento do Bacharel Franco”.............118
2.4 - Os Cunha Figueiredo: pequenos demais para coisas grandes?...................................148
CAPÍTULO 3 - AUTORIDADES POLICIAIS, COMISSÕES DE SOCORROS E
DISPUTAS NO TEMPO DO CÓLERA..............................................................................161
3.1 - “Eis mais uma autoridade que não merece o posto importante que lhe coube”.........161
3.2 - “Lembrou-se de incumbir as medidas de salvação pública a juntas”.........................186
3.3 - “Braveja detrator, braveja insano”..............................................................................203
CAPÍTULO 4 - À ESPERA DOS PRÊMIOS: O PÓS-CÓLERA NO CEARÁ................217
4.1 - “É a epidemia dos elogios”..........................................................................................217
4.2 - “Estimaria sinceramente ver apreciados seus serviços pelo Governo Imperial”..........237
4.3 - O “Cólera morbo psíquico e moral”............................................................................260
CONSIDERAÇÕES FINAIS...............................................................................................282
REFERÊNCIAS....................................................................................................................286
a) Documentos................................................................................................................286
b) Bibliografia.................................................................................................................292
INTRODUÇÃO
No texto “Uma história do presente”, René Rémond retomou afirmativa central sobre o
ofício do historiador: a explicação das mudanças que afetam a sociedade ao longo do tempo é
o objetivo, por excelência, da ciência histórica. Por conta disso, o seguidor de Clio não escapa
de sofrer na pele os efeitos dessas mudanças em seu presente:
[...] o historiador é de um tempo, aquele em que o acaso o fez nascer e do qual
ele abraça, às vezes sem o saber, as curiosidades, as inclinações, os
pressupostos, em suma, a “ideologia” dominante, e mesmo quando se opõe,
ele ainda se determina por referência aos postulados de sua época.1
Os avanços da História sobre determinados objetos de estudo, em muitas ocasiões, se
dão através do abandono de certas temáticas, antes consideradas centrais. Foi o que ocorreu por
décadas no trato da história política. Desde 1929, as proposições do movimento dos Annales
apontaram um modelo historiográfico a ser combatido: uma história factual, descritiva e
essencialmente narrativa, centrada em ações e eventos que tinham indivíduos específicos como
protagonistas e na opinião de que as fontes falavam por si mesmas. Naquele período, o modelo
combatido se confundia com o da história política tradicional, concebida, na maior parte dos
casos, como um espaço por excelência da ação racional e consciente dos indivíduos. Assim, ao
recusarem aquela história, os historiadores dos Annales relegaram a história política a um
segundo plano.
A predileção pelos recortes de média e longa duração, especialmente na chamada “era
Braudel”, contribuiu do mesmo modo para o abandono, pois os fenômenos políticos eram
percebidos como “acidentes de conjuntura”. Eventos de curta duração e traços individuais
seriam insignificantes historicamente, fugidia espuma na superfície das ondas do mar.
Fenômeno atraente, mas a exigir prevenção:
Uma história de oscilações curtas, rápidas, nervosas. Ultrassensível por
definição, o menor passo põe em alerta todos os seus instrumentos de medida.
Mas tal qual é, é a mais fascinante, a mais rica em humanidade, a mais
perigosa também. Devemos desconfiar dessa história ainda palpitante que
seus contemporâneos sentiram, descreveram e viveram no ritmo de suas
existências breves como a nossa2.
1 RÉMOND, René. Uma história presente. In. RÉMOND, René (org.). Por uma história política. 2ª ed. Rio de
Janeiro: Editora FGV, 2003, p. 13. 2 BRAUDEL, Fernand. O Mediterrâneo e o mundo mediterrâneo na época de Filipe II. São Paulo: Edusp, 2016,
p. 64.
2
A despeito das desconfianças, dentro do próprio movimento dos Annales, havia
historiadores sintonizados com o estudo do político. Mesmo antes da criação da revista Annales
em 1929, um dos seus fundadores, Marc Bloch, publicou “Os reis taumaturgos” (1924). Nele,
o autor partia do estudo comparativo da crença medieval que fazia dos reis franceses e ingleses
“curadores” de uma doença específica – as “escrófulas” (adenite tuberculosa) – para mergulhar
nas concepções da realeza e de legitimação político-religiosa do poder real, em recorte de longa
duração, marcado por aumento dos choques entre o poder secular e religioso em meio ao
processo de centralização política. Desta forma, o olhar apurado e sensível a respeito do ritual
de toque real nas escrófulas apontava possibilidades de pesquisa ampliadoras da forma de
enxergar os fenômenos políticos, articulando-os com elementos da antropologia e psicologia:
Ora, para compreender o que foram as monarquias de outrora, para sobretudo
dar-se conta de sua longa dominação sobre os espíritos dos homens, não é
suficiente apenas esclarecer até o último detalhe o mecanismo da organização
administrativa, judiciária, financeira que essas monarquias impuseram a seus
súditos; nem é suficiente analisar abstratamente ou procurar extrair de alguns
grandes teóricos os conceitos de absolutismo ou de direito divino. É necessário
também penetrar as crenças e as fábulas que floresceram em torno das casas
principescas3.
As proposições inovadoras de Marc Bloch sobre a política ressoaram com mais força
entre historiadores da Terceira Geração dos Annales, também chamada de “Nova História”, a
partir dos anos 1970. Como afirma Rémond, as “oscilações entre a realidade observada e o
olhar que observa”, levaram à renovação das formas como os fenômenos políticos eram
interpretados, concebendo novos processos de configuração analítica. Para o historiador em
questão, essas mudanças não eram uma “restauração” da história política e sim “etapa nova no
desenvolvimento da reflexão que a história faz sobre si mesma4”. Ocupava destaque nesse
cenário a percepção das mudanças a atingir a política ao longo do século XX, com a ampliação
do seu domínio de ação e alargamento das atribuições do Estado. Isso despertou novos olhares
dos historiadores sobre o político, pois “realidade e percepção interferem” em seu ofício5.
A conjuntura historiográfica, a permitir a ascensão de novas abordagens da política,
também engendrou pesquisas históricas a abarcar temas até então pouco estudados. Como
apontou Michel de Certeau, a operação historiográfica dá-se a partir da “combinação de um
lugar social, de práticas ‘científicas’ e de uma escrita”6. Com a ascensão institucional da “Nova
3 BLOCH, Marc. Os reis taumaturgos. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 44. 4 RÉMOND, op. cit., 2003, p. 14. 5 RÉMOND, op. cit., 2003, p. 22. 6 CERTEAU, Michel de. A escrita da História. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982, p. 66.
3
História”, os historiadores encontraram espaço social favorável à promoção de temas, métodos
e estilos narrativos. Privilegiando o diálogo interdisciplinar e os estudos voltados ao cotidiano,
a operação historiográfica abriu-se às representações e atitudes humanas diante do amor,
família, morte, medo, entre outros objetos. Mudanças conceituais e metodológicas como essas
são indícios do funcionamento da história em uma sociedade, do lugar (institucional, político,
econômico etc.) que nela ocupa. Conforme Certeau, tal lugar permite ou interdita determinados
tipos de produção historiográfica:
Ele [o lugar] torna possíveis certas pesquisas em função de conjunturas e
problemáticas comuns. Mas torna outras impossíveis; exclui do discurso
aquilo que é sua condição num momento dado; representa o papel de uma
censura com relação aos postulados presentes (sociais, econômicos, políticos)
na análise7.
Foi no contexto tratado nos últimos parágrafos que a historiografia dedicada ao
fenômeno doença também encontrou lugar para desenvolver-se. A multiplicidade de métodos,
temáticas e abordagens adquiridos pelo diálogo da História com outras disciplinas – Sociologia,
Antropologia, Psicologia etc. –, propiciou estudos que contribuíram com percepções menos
naturalizadas a respeito das enfermidades. Como apontou Charles Rosenberg, a doença
[...] não pode ser reduzida a um processo fisiopatológico unidimensional. Não
importa qual seja a sua base biológica – e, no caso de muitos supostos males,
uma base biológica permanece para ser demonstrada –, uma doença é
socialmente construída, enquadrada por uma configuração particular de
necessidades, percepções e expectativas8.
Dessa forma, os historiadores passaram a problematizar a doença para além da
percepção de um “estado fisiológico abaixo do ideal”9, apontando sua complexidade:
a doença é ao mesmo tempo um evento biológico, um repertório específico de
gerações de construções verbais que refletem a história intelectual e
institucional da medicina, uma ocasião para potencial legitimação das
políticas públicas, um aspecto de papel social e individual-intrapsíquico-
identitário, uma sanção por valores culturais e um elemento estruturante nas
interações médico-paciente. De certa forma, a doença não existe até que
tenhamos concordado que sim, percebendo, nomeando e respondendo a ela10.
7 CERTEAU, op. cit., 1982, p. 77. 8 ROSENBERG, Charles E. The cholera years: The United States in 1832, 1849, and 1866. Chicago: University
of Chicago Press, 1987, p. 239. 9 ROSENBERG, Charles E. Framing disease: illness, society, and history. In. ROSENBERG, Charles E.
Explaining epidemics and other studies in the history of medicine. Cambridge: Cambridge University Press, 1992,
p. 305-318. 10 ROSENBERG, op. cit., 1992, p. 305.
4
A percepção das enfermidades enquanto construções historicamente localizadas alargou
as possibilidades de compreensão dos historiadores. Nas palavras de Jacques Revel e Jean-
Pierre Peter, a doença é um elemento de “desorganização e de reorganização social”, tornando
visíveis articulações, linhas de forças e tensões que marcam os grupos sociais:
O acontecimento mórbido pode, pois, ser o lugar privilegiado de onde melhor
observar a significação real de mecanismos administrativos ou de práticas
religiosas, as relações entre os poderes, ou a imagem que uma sociedade tem
de si mesma11.
Entre as pesquisas dedicadas às doenças, as epidemias foram ganhando destaque.
Eventos extraordinários, os surtos epidêmicos são comumente tidos como “pestes”, metáfora
do “que pode haver de pior em termos de calamidades e males coletivos”12. Momentos
disruptivos, tensos e de forte impacto social, as epidemias oferecem oportunidades férteis aos
pesquisadores. Com fronteiras definidas, no tempo e no espaço, elas são “episódios de
existência breve, mas intensa e arrebatadora”13, representando uma espécie de “drama”, na
concepção de Charles Rosenberg, ao encenar “padrões tradicionais de resposta a uma ameaça
percebida”14. Os estudos acerca das epidemias vêm demonstrando como elas impactaram,
significativamente, diferentes sociedades e temporalidades, encetando rico imaginário, práticas
socioculturais e intervenções no espaço público.
Tendo em vista tais questões, a tese que apresento pretende costurar os temas política e
epidemia, tendo como recorte a Província do Ceará, entre 1862 e 1863, quando o surto do
cólera15 varreu o território provincial, atingindo milhares de pessoas, das quais cerca de doze
11 REVEL, Jacques & PETER, Jean-Pierre. O corpo: o homem doente e sua história. In. LE GOFF, Jacques &
NORA, Pierre. História: novos objetos. 4ª ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1995, p. 14. 12 SONTAG, Susan. Doença como metáfora/AIDS e suas metáforas. São Paulo: Cia. das Letras, 2007, p. 112. 13 NASCIMENTO, Dilene Raimundo do & SILVEIRA, Anny Jackeline Torres. A doença revelando a história:
uma historiografia das doenças. In. NASCIMENTO, Dilene Raimundo do & CARVALHO, Diana Maul de
(Orgs.). Uma história brasileira das doenças. Brasília: Paralelo 15, 2004, p. 24. 14 ROSENBERG, op. cit., 1992, p. 280. O autor utilizou a metáfora dramatúrgica para indicar tendências de
respostas comuns – guardadas as especificidades próprias de cada evento – em diferentes localidades atacadas por
epidemias. Uma espécie de sequência de “atos”, onde médicos, autoridades públicas e os diferentes grupos sociais
encenam papéis no drama, indiciaria o padrão teatral dos surtos epidêmicos: “As epidemias começam em um
momento no tempo, prosseguem em estágio limitado e duração, seguido uma trama de tensão crescente e
reveladora, movem-se para uma crise de caráter individual e coletivo e depois se aproximam do fechamento”
ROSENBERG, op. cit., 1992, p. 279. 15 O cólera, também conhecido como cólera asiático ou cólera morbos, é enfermidade infectocontagiosa, cuja
transmissão ocorre pelo consumo de água ou alimentos contaminados pela bactéria vibrio cholerae, nome
inspirado no seu formato, a lembrar uma vírgula. Ao instalar-se no intestino humano, a bactéria causa, após período
típico de incubação de um a quatro dias, náuseas, cólicas abdominais, vômitos e violenta diarreia, o que ocasiona
intensa perda de sais minerais e água. A desidratação leva à perda da elasticidade da pele, surgimento de olheiras
profundas e enrugamento das mãos; na sequência, ocorre o resfriamento do corpo, conhecido como algidez, queda
da pressão arterial, supressão da secreção urinária e colapso circulatório. O meio mais eficaz de tratamento é a
reposição imediata dos sais e líquidos perdidos pelas evacuações. Quando bem administrado, reduz a letalidade
5
mil faleceram. Partindo das estimativas da época, o cólera teria sido responsável pela morte de
aproximadamente 2% dos cearenses16.
Abordar as relações entre doença e política é seguir senda aberta por intelectuais como
Marc Bloch, citado há pouco. Ele foi um dos primeiros historiadores a demonstrar a viabilidade
de estudos do tipo: o ritual no qual escrofulosos procuravam o toque real revela muito das
crenças que perduraram na França e Inglaterra entre a Idade Média e o fim da Idade Moderna:
os doentes acreditavam no poder de cura dos reis, capacidade adquirida por estes após as
cerimônias de unção e sagração, simbolicamente oficializando-os como representantes de Deus.
Desta forma, a crença no rito do toque nas escrófulas era aceita socialmente e contribuía para a
legitimação do poder monárquico. Ao mesmo tempo, a prática taumatúrgica estava articulada
à consciência moral, a impor aos soberanos o dever de generosidade para com os súditos menos
favorecidos: “Ora, entre os doentes que vinham pedir a cura ao rei encontravam-se muitos
miseráveis. Muito depressa, formou-se o hábito de dar-lhes algum dinheiro”17. Política e
doença, portanto, articulavam-se de modo rico e complexo na intepretação dada por Bloch.
As articulações entre doença e política podem ser abordadas de múltiplas formas.
Muitos estudos, por exemplo, centraram-se na elucidação das políticas públicas voltadas à área
da saúde e dos choques delas decorrentes, indicando: reformas urbanas implementadas com a
ascensão da chamada “medicina social”18; disputas entre teorias científicas a respeito da
etiologia e terapêutica das doenças; institucionalização do saber médico; a disciplinarização
proposta pela medicina, segregando racial e socialmente os mais pobres; o combate às práticas
para quase zero. Os estudos sobre a doença também identificaram que o grau de acidez dos sucos estomacais do
hospedeiro pode ser determinante na luta contra o vibrião: quanto mais ácido, menor a chance da sobrevivência da
bactéria no organismo (MCNEILL, Willian. H. Plagues and peoples. New York: Anchor Press, 1976, p. 260). Em
meados do século XIX, recorte desta tese, a ciência apenas especulava sobre a etiologia do cólera e o tratamento
adequado. Em 1883, o médico alemão Robert Koch comprovou a existência da bactéria transmissora do cólera.
Ao longo do oitocentos, a doença matou de trinta a quarenta milhões de pessoas no mundo. SOURNIA, Jean-
Charles & RUFFIE, Jacques. As epidemias na história do homem. Lisboa: Edições 70, 1986, p. 124. 16 BRASIL, Thomaz Pompeo de Souza. Ensaio Estatístico da Província do Ceará. Tomo I. Ed. fac. sim. (1863).
Fortaleza: Fundação Waldemar de Alcântara, 1997, p. 299. 17 BLOCH, op. cit., 1993, p. 95. 18 Para Michel Foucault, a fortificação do capitalismo no século XVIII engendrou uma “medicina social”,
sucessora da medicina de cunho privado, até então vigente. O desenvolvimento dos centros urbanos levantava a
obrigação de construir uma unidade política, liderada por “um poder único e bem regulamentado”, a fim de
organizar e gerir o “corpo urbano de modo coerente, homogêneo”. O poder político também devia oferecer resposta
aos pequenos pânicos nascidos com a urbanidade: “[...] Nasce o que chamarei de medo urbano, medo da cidade,
angústia diante da cidade que vai se caracterizar por vários elementos: medo diante das oficinas e fábricas que
estão se construindo, do amontoamento da população, das casas altas demais, da população numerosa demais;
medo, também, das epidemias urbanas, dos cemitérios que se tornam cada vez mais numerosos e invadem pouco
a pouco a cidade; medo dos esgotos, das caves sobre os quais são construídas as casas que estão sempre correndo
o perigo de desmoronar. A França foi o grande exemplo de resposta política às inquietações urbanas. Suas cidades
passaram a ser organizadas por esquadrinhamento, disciplinador e definidor do uso dos espaços. Nesse projeto, os
médicos foram fundamentais, pois forneceram o modelo básico a ser seguido: o da quarentena vigilante”.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do Poder. 21ª ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2005, p. 87-89.
6
de cura populares; autoritárias campanhas de vacinação e reações sociais; a organização das
instituições hospitalares; entre outras questões19.
No caso da minha tese, a relação entre política e epidemia será problematizada a partir
da análise de como um surto do cólera foi usado nas disputas políticas provinciais do Ceará,
entre 1862 e 1863. Na ocasião, argumento, houve nítida apropriação política da “peste”:
determinados sujeitos históricos e grupos políticos viram na conjuntura tensa instalada a
oportunidade para “tomar partido”, polemizar com opositores, bem como forjar oportunidades
de acesso às benesses da administração provincial, vantagens eleitorais e honrarias estatais.
Há algumas décadas o cólera vem despertando a atenção dos historiadores. O britânico
Asa Briggs, no começo dos anos 1960, já chamava a atenção dos colegas para as múltiplas
possibilidades de análise implícitas nos vários surtos do cólera no século XIX20. Segundo o
autor, independente do lugar onde a doença apareceu, ela “testou a eficiência e a resiliência das
estruturas administrativas locais”, expondo, de modo implacável, “deficiências políticas,
sociais e morais”, acarretando “rumores, suspeitas e, às vezes, violentos conflitos sociais”,
como, também, inspirando sermões e obras de arte, escritas e imagéticas21.
Briggs sugeriu, ainda, cinco conjuntos de fatos a serem analisados aos interessados “no
papel do cólera na história social moderna”: os fatores demográficos; os fatos ligados às
estruturas econômicas e sociais, incluindo as relações ricos/pobres e autoridades/sujeitos; as
circunstâncias políticas na conjuntura epidêmica; a estrutura governativa, nos aspectos
administrativos e financeiros, incluindo o apoio “voluntário”, por meio da caridade de terceiros;
a extensão dos conhecimentos médicos e as atitudes populares em relação àqueles22.
Charles E. Rosenberg foi um dos historiadores a aceitarem a provocação de Briggs. Para
Rosenberg, o cólera foi “a doença epidêmica clássica do século XIX”23. Nenhuma outra
enfermidade contemporânea teria alcançado o “impacto emocional imediato” do cólera,
matando “metade das pessoas infectadas”, de “maneira particularmente desagradável”24.
19 São alguns exemplos de estudos com abordagens similares: MACHADO, Roberto et al. Danação da Norma:
medicina social e constituição da psiquiatria no Brasil. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1978; LUZ, Madel. Medicina
e ordem política: política e instituições em saúde, 1850-1930. Rio de Janeiro: Graal, 1982; COSTA, Jurandir
Freire. Ordem médica e norma familiar. Rio de Janeiro: Graal, 1983; CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril:
cortiços e epidemias na Corte Imperial. São Paulo: Companhia das Letras, 1996; SEVCENKO, Nicolau. A revolta
da vacina: mentes insanas em corpos rebeldes. São Paulo: Cosac Naify, 2010; SAMPAIO, Gabriela dos Reis. Nas
trincheiras da cura: as diferentes medicinas no Rio de Janeiro imperial. Campinas / SP: Editora da Unicamp, 2001. 20 BRIGGS, Asa. Cholera and Society in the Nineteenth Century. Past & Present, n. 19, pp. 76-96, abr. 1961. 21 BRIGGS, op, cit., 1961, p. 76. 22 BRIGGS, op, cit., 1961, p. 89. 23 ROSENBERG, op. cit., 1987, p. 1. 24 ROSENBERG, Charles E. Cholera in nineteenth-century Europe: a toll for social and economic analysis. In.
ROSENBERG, op. cit., 1992, p. 112.
7
Destacou, ainda, o impacto das pandemias do cólera na Europa, nos padrões demográficos e
econômicos, levando à adoção de “medidas de saúde pública instituídas por medo da doença”25.
Desde os primeiros surtos do cólera na Europa e América, nos anos 1830, houve,
também, o estímulo à investigação e experimentação científica, levando médicos a avançarem
no conhecimento patológico e químico, com consequências sociais para a saúde pública ao
longo do século26. Não por acaso, Rosenberg utilizou o cólera para exemplificar o caráter de
“ator social” das doenças: “As percepções da doença são específicas ao contexto, mas também
determinam o contexto”, pois fornecem legitimação e orientação para a tomada de decisões
sociais, seja em questões estruturais, como obras de engenharia urbana, ou em aspectos morais,
ao culpabilizar indivíduos e práticas de setores sociais específicos27.
Richard J. Evans – no livro sobre o cólera em Hamburgo – produziu uma análise
interessante sobre os impactos políticos da epidemia. Destacando as contradições sociais na
cidade portuária alemã, a miséria e degradação das condições de trabalho, Evans demonstrou
como o cólera trouxe consequências consideráveis, ocasionando a perda da autonomia de
Hamburgo, a contestação ao liberalismo lá praticado e a reivindicação por reformas eleitorais28.
Ao longo do século XIX, a cidade gozara de autonomia administrativa, sendo governada
por mercadores liberais de classe média. Mesmo com o processo de centralização política
alemã, a culminar com a formação do Reich, em 1870, Hamburgo permaneceu uma cidade livre,
espécie de Estado autônomo no interior do império. Quando o cólera atingiu Hamburgo, em
1892, o Reich encontrou justificativas e condições para promover a submissão da cidade. Não
por acaso, o médico Robert Koch – que em 1883 tinha comprovado a existência do vibrião
colérico, passando a chefiar as políticas públicas de saúde do império alemão – era apresentado
na imprensa como aquele que “governa Hamburgo hoje”29. A necessidade de intervenções
sanitárias foi, assim, acionada para justificar a centralização política e a perda da autonomia.
Por outro lado, houve pressão, especialmente por parte dos sociais-democratas, por
reformas constitucionais na lei de sufrágio, haja vista a argumentação de serem as principais
causas do desastre sanitário derivadas do domínio do Senado e Assembleia dos Cidadãos de
Hamburgo por pessoas ligadas aos interesses mercantis. Os parlamentares teriam adiado a
tomada de medidas preventivas e o anúncio da manifestação do cólera como meio de proteger
seus interesses econômicos, no intuito de evitar o “quanto possível” a “imposição da
25 ROSENBERG, op. cit., 1992, p. 113. 26 ROSENBERG, op. cit., 1992, p. 116. 27 ROSENBERG, op. cit., 1992, p. 314-315. 28 EVANS, Richard J. Death in Hamburg: society and politics in the cholera years. New York: Penguin, 2005. 29 EVANS, op. cit., 2005, p. 491.
8
quarentena” no porto30. Ao final da crise epidêmica de 1892, além das 10 mil vítimas fatais, o
cólera deixara algo a mais morto: “o antigo sistema de governo amador por notáveis locais sob
os quais Hamburgo havia sido anteriormente governado”31.
Já Kenneth F. Kiple estudou o cólera no Caribe, destacando as altas taxas de mortalidade
negra durante três epidemias na região. Nas primeiras manifestações da doença em Cuba (1833)
e Porto Rico (1855), por exemplo, a mortalidade da população negra teria alcançado 75% (de
um total de 22.705 mortes) e 78% (de 25.820), respectivamente32. O impacto da epidemia sobre
os negros foi tão grande, a ponto de ter sido usado pelos proprietários rurais de Cuba como
arma para tentar perpetuar o comércio de escravizados, em um momento de pressão da
Inglaterra sobre a Espanha pelo fim do tráfico. Por sua vez, autoridades britânicas também
usaram a alta taxa de escravizados mortos, e o respectivo impacto na economia cubana, para
reivindicar mais recursos de Londres na fiscalização e combate ao tráfico oceânico33.
Os observadores da época explicaram a morte massiva dos negros através de critérios
raciais, defendendo a existência de uma predisposição ao cólera. Kiple desconstrói a tese,
apresentando razões históricas para o fenômeno. Por onde passou no XIX, o cólera agiu com
mais vigor sobre as classes marginalizadas, vivendo em áreas sujas e superlotadas, sem acesso
a fontes de água limpa. No caso do Caribe, as ocupações e as condições de alojamento dos
escravizados nas cidades e plantações os colocavam no “caminho do cólera”, majorando a
chance de contaminação. Ademais, a subnutrição dos escravizados caribenhos – a quem era
dada pouca comida e de péssima qualidade, como peixes salgados e rançosos – e o consumo de
grande quantidade de água contaminada – pela sede provocada pelo esforço físico cotidiano –
diminuíam o grau de acidez estomacal, aumentando a chance dos vibriões instalarem-se no
intestino delgado, causando os sintomas do cólera e favorecendo a letalidade dele34.
O cólera no Brasil oitocentista também tem atraído o olhar de diversos historiadores,
pondo em cena: os efeitos catastróficos da epidemia no cotidiano; as cifras mortuárias; as
diferentes teses a respeito das causas e tratamentos da doença; as disputas ou trocas entre
saberes médicos e populares; as revoltas sociais suscitadas; o discurso higienista e o
ordenamento das cidades; a ineficácia dos socorros oficiais; as interpretações religiosas da
doença; entre outras temáticas. São exemplos da historiografia dedicada ao cólera no Brasil:
30 EVANS, op. cit., 2005, p. 539. 31 EVANS, op. cit., 2005, p. vii. 32 KIPLE, Kenneth F. Cholera and race in the Caribbean. Journal of Latin American Studies, v. 17, n. 1, pp. 157-
177, 1985. 33 KIPLE, op. cit., 1985, p. 164. 34 KIPLE, op. cit., 1985, p. 175.
9
Donald B. Cooper, em artigo sobre os efeitos da epidemia do cólera no Império, seguindo o
caminho de Kenneth Kiple, ao frisar a alta taxa de mortalidade entre os negros35; Onildo Reis
David, no livro sobre o cólera na Bahia36; Jane Felipe Beltrão, no Pará, primeira província
brasileira contaminada pelo cólera, em 185537; Ariosvaldo Diniz38 e Rosilene Gomes de
Farias39, estudiosos do cólera no Recife; Nikelen Witter, a historiar a epidemia no Rio Grande
do Sul40; Amâncio Santos Neto, acerca da epidemia na província de Sergipe41; Sebastião
Franco, responsável por estudo centrado nos lances do cólera no Espírito Santo42; e Tânia
Salgado Pimenta, em estudo sobre as artes de curar no Rio de Janeiro no tempo do cólera43.
A ação da doença no Ceará também obteve atenção historiográfica. No mestrado foquei
a análise nas representações sobre o cólera engendradas pelo jornal O Araripe, folha ligada ao
Partido Liberal, impressa na cidade de Crato. Desde a chegada do cólera ao Brasil, a moléstia
tornou-se notícia: os responsáveis pelo jornal o compreendiam como o espaço apropriado para
ditar o que julgavam serem os melhores meios de combate à doença, diante da constatação da
aproximação geográfica da mesma, da falta de médicos no Cariri cearense e da distância da
região em relação à capital provincial, vista como inviabilizadora do socorro imediato em caso
de contaminação44. No referido trabalho, evidenciei, ainda, como O Araripe, ao tratar do cólera,
mesclou de forma criativa discursos políticos, religiosos, científicos e populares, demonstrando,
assim, o caleidoscópio de olhares com que a doença foi apreendida então, ou seja, como o cólera
foi representado pelos sujeitos históricos, responsáveis pelo órgão impresso em meados do
século XIX, a partir do lugar social ocupado por eles.
35 COOPER, Donald B. The new “black death”: cholera in Brazil, 1855-1856. Social Science History. V. 10, n. 4,
pp. 467-488, 1986. 36 DAVID, Onildo Reis. O inimigo invisível: epidemia na Bahia no século XIX. Salvador: EDUFBA/Sahar Letras,
1996. 37 BELTRAO, Jane Felipe. A arte de curar dos profissionais de saúde popular em tempo de cólera: Grão-Pará do
século XIX. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, vol. 6, pp. 833-866, set/2000. 38 DINIZ, Ariosvaldo da Silva. Medicina e curandeirismo no Brasil. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB,
2011. 39 FARIAS, Rosilene Gomes. O Khamsin do deserto: cólera e cotidiano no Recife (1856). Dissertação (Mestrado
em História). Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2007. 40 WITTER, Nikelen Acosta. Males e Epidemias: sofredores, governantes e curadores no sul do Brasil (Rio Grande
do Sul, século XIX). Tese (Doutorado em História Social). Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2007. 41 SANTOS NETO, Amâncio Cardoso. Sob o signo da peste: Sergipe no tempo do cholera (1855-1856).
Dissertação (Mestrado em História). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2001. 42 FRANCO, Sebastião Pimentel. O terribilíssimo mal do oriente: o cólera na província do Espírito Santo (1855-
1856). Vitória: EDUFES, 2015. 43 PIMENTA, Tânia Salgado. Doses infinitesimais contra a epidemia de cólera em 1855. In. NASCIMENTO,
Dilene Raimundo do; CARVALHO, Diana Maul de (Orgs.). Uma história brasileira das doenças. Brasília:
Paralelo 15, 2004, p. 31-51. 44 ALEXANDRE, Jucieldo Ferreira. Quando o anjo do extermínio se aproxima de nós: representações sobre o
cólera no semanário cratense O Araripe (1855-1864). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal
da Paraíba, João Pessoa, 2010, p. 140.
10
Dhenis Silva Maciel, no ano de 2011, defendeu dissertação dedicada ao cólera em
Maranguape, localidade cearense com mais vítimas fatais na província, no ano de 1862. O autor
fez apanhado dos efeitos da epidemia na localidade, da ação dos médicos da comissão local de
socorros públicos e da diversidade de teorias e indicações a tentar explicar e combater os efeitos
da doença. Maciel frisou, especialmente, as reações religiosas da população frente à intensa
mortalidade45. No doutorado, defendido em 2017, Dhenis Maciel deu continuidade à pesquisa
da dissertação, ampliando o recorte geográfico e temporal, ao pôr em cena a “construção social
do cólera” no Ceará entre os anos 1855 e 186346.
Já Mayara de Almeida Lemos dissertou a respeito das representações sobre o cólera em
Quixeramobim, no sertão-central cearense, entre 1862-1863. Partindo da visão de serem as
epidemias eventos únicos e reveladores de tensões sociais, o trabalho da historiadora centrou-
se em demonstrar “os caminhos da epidemia de cólera” a partir da análise de como as ações e
disputas entre personagens locais – tais como os profissionais das “artes de curar” (médico e
curandeiros e seus diferentes saberes), padres, membros das comissões de socorro e autoridades
públicas – representaram e disseminaram práticas a respeito do cólera, em contexto de medo e
abandono para a população local47.
Nos trabalhos dedicados ao cólera no Ceará, a relação entre a epidemia e a política
provincial recebeu pouco destaque. O assunto apareceu em um tópico do meu trabalho, no qual
demonstrei como as facções políticas das elites de Crato, divididas entre conservadores e
liberais, não deixaram de “tomar partido” da epidemia que ceifou tantas vidas, seja para
enaltecer correligionários ou depreciar inimigos, buscando auferir maior legitimidade social e
política naquela conjuntura48. Maciel também produziu, na dissertação, interessante tópico
sobre como a epidemia do cólera serviu de tema na disputa eleitoral para o senado no Ceará de
1863, tema que voltou a visitar, en passant, na conclusão da tese49. Já Mayara Lemos apontou
as contradições entre a correspondência das autoridades locais – a cobrar mais recursos para
45 Para o historiador, a substituição do padroeiro original da vila, São Sebastião, tradicional orago anti-pestilento,
por Nossa Senhora da Penha, quando da fundação da freguesia, em 1849, se fez sentir fortemente no ano de 1862,
quando a população voltou-se ao santo cravejado de flechas para invocar a proteção contra o cólera, visto como
punição divina. São Sebastião acabou sendo entronizado como co-padroeiro após a epidemia, devido à súplica
popular. MACIEL, Dhenis Silva. Valei-me, São Sebastião: a epidemia de cólera morbo na Vila de Maranguape
(1862). Dissertação (Mestrado em História Social). Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2011, p. 121. 46 MACIEL, Dhenis Silva. Dos sujeitos, dos medos e da espera: a construção social do cólera-morbus na província
cearense (1855-1863). Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017. 47 LEMOS, Mayara de Almeida. O terror se apoderou de todos: os caminhos da epidemia de Cólera em
Quixeramobim (1862-1863). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza,
2013. 48 ALEXANDRE, op. cit., 2010, p. 164. 49 MACIEL, op. cit., 2011, p. 145; MACIEL, op. cit., 2017, p. 249.
11
socorro dos coléricos – e o que era publicado no jornal O Cearense, isentando o presidente do
Ceará de críticas e acusando a população local de ser a principal responsável pelo número de
mortes, pela suposta imprevidência em não procurar o auxílio médico a tempo50.
Diante do exposto nas últimas páginas, minha tese contribuirá para o aprofundamento
da relação política/cólera no Ceará. Em meio ao cenário caótico instalado pela epidemia, as
disputas por parte dos grupos políticos pelo apoio da administração provincial, por cargos e
honrarias ganharam maior visibilidade, como apontam as páginas de jornais e correspondências
oficiais da época, numa avalanche de acusações mútuas. Assim, as cenas miseráveis instauradas
pelo cólera foram agenciadas para atacar opositores ou defender correligionários. Na
conjuntura, o papel do presidente da província da época, José Bento da Cunha Figueiredo
Júnior, teve destaque, mobilizando opiniões na imprensa provincial conservadora e liberal e
favorecendo os apoiadores do governo na crise epidêmica. Por outro lado, as disputas, visíveis
na quadra pestilenta no Ceará, não deixaram de refletir questões mais amplas, como o contexto
de reconfiguração dos partidos políticos imperiais entre os anos 1850 e 1860, com repercussão
na composição dos gabinetes ministeriais, nas câmaras legislativas da Corte e nas províncias.
A seguir, apresento um apanhado sobre as fontes utilizadas na pesquisa, com destaque
para um conjunto de jornais cearenses, esmiuçando suas características, vinculações políticas e
as posturas adotadas durante a epidemia do cólera.
Sobre as fontes históricas consultadas
No que diz respeito à documentação analisada na tese, a imprensa terá destaque. Em
toda pesquisa, o historiador deve estar atento às particularidades socioculturais que
contextualizam o problema de análise no recorte espacial e temporal. Da mesma forma, deve
historicizar as fontes, buscando visualizar quando, como, por quem e por que foram produzidas,
afinal, todo documento, enquanto texto, é objeto de apropriações sociais. É o que Pierre
Bourdieu e Roger Chartier denominaram de “crítica do estatuto social do documento”51.
E como abordar teórico-metodologicamente a imprensa, especialmente a brasileira de
meados do século XIX? Tania de Luca, discorrendo sobre o uso dos jornais na pesquisa no
Brasil, propõe distinções entre o que conceitua “história da imprensa”, “história por meio da
imprensa” e “imprensa como objeto de história”. A primeira teria como escopo a introdução e
50 LEMOS, op. cit., 2013, p. 184. 51 BOURDIEU, Pierre; CHARTIER, Roger. A leitura: uma prática cultural. In. CHARTIER, Roger (org.). Práticas
de Leitura. 4ª ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2009, p. 234.
12
difusão da imprensa e o itinerário de jornais e jornalistas pelo território nacional. A década de
1970 já contava com significativa bibliografia, somada a uma série de edições fac-símiles e de
catálogos dando conta da circulação dos periódicos nas diversas regiões do país.
A despeito de tal produção, havia certa relutância dos historiadores em admitir a
validade de jornais e revistas “como fontes para o conhecimento de uma história do Brasil”,
pois pesavam desconfianças acerca do caráter “neutro”, “objetivo” e “verdadeiro” dos
impressos, prevenções herdadas da tradição historiográfica de inspiração positivista, dominante
em fins do século XIX e nas primeiras décadas do XX. Assim, os jornais eram vistos como
inadequados para a recuperação do passado, pois conteriam “registros fragmentados do
presente, realizados sob o influxo de interesses, compromissos e paixões. Em vez de permitirem
captar o ocorrido, dele forneciam imagens parciais, distorcidas e subjetivas”52.
Malgrado o olhar de suspeição sobre a imprensa, alguns estudiosos brasileiros já
desenvolviam uma “história por meio da imprensa” – a segunda categoria proposta por Tania
de Luca –, caracterizada pelo uso dos impressos como fonte primária. Gilberto Freyre, Emília
Viotti da Costa, Fernando Henrique Cardoso, entre outros autores, não dispensaram, nas
pesquisas, a consulta aos jornais, “seja para obter dados de natureza econômica (câmbio,
produções e preços) ou demográficas, seja para analisar múltiplos aspectos da vida social e
política, sempre com resultados originais e postura muito distante da tão temida ingenuidade”53.
Com a ascensão, nas últimas décadas do século XX, da nova história francesa, o
desenvolvimento da história social inglesa, da micro-história, da história cultural, da nova
história política e da virada linguística, a historiografia brasileira passou a ter olhar mais
acurado no trato com a imprensa. Ainda na década de 1970, começaram a despontar as
primeiras pesquisas a colocar a “imprensa como objeto” de análise54. Os estudos desenvolvidos
a partir dessa perspectiva buscaram evidenciar a vinculação da imprensa aos interesses de
grupos sociais específicos, desmistificando a pretensa neutralidade jornalística e apontando
para a historicidade de suas representações, como corroboram as palavras de Maria Helena
Capelato: “A imprensa, ao invés de espelho da realidade passou a ser concebida como o espaço
de representação do real, ou melhor, de momentos particulares da realidade”. A autora destacou,
52 LUCA, Tania Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In. PINSKY, Carla Bassanezi (org.).
Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2005, p. 112. 53 LUCA, op. cit., 2005, p. 117. 54 LUCA, op. cit., 2005, p. 118.
13
ainda, como a existência dos jornais é produto de práticas sociais de uma época, pressupondo
“um ato de poder no qual estão implícitas relações a serem desvendadas”55.
As reflexões de Robert Darnton também influenciaram a produção historiográfica
brasileira, ao salientar a “força ativa [ocupada pela imprensa] na história”. Para o autor, os
“historiadores tratam em geral a palavra impressa como um registro do que aconteceu”.
Todavia, ela seria mais “um ingrediente do acontecimento”, afinal ajuda a “dar forma aos
eventos” que registra, como ocorreu na Revolução Francesa, quando a “prensa tipográfica foi
o principal instrumento na criação de uma nova cultura política”56.
Aliás, a relação entre imprensa e cultura política ocupa lugar de destaque em pesquisas
dedicadas ao processo de independência do Brasil. Se a instalação da família real portuguesa
no Rio de Janeiro, em 1808, instituiu a imprensa no território brasileiro, a revolução liberal do
Porto, em 1820, e o decorrente fim da censura estimularam a publicação massiva de jornais,
pasquins e folhetos, repercutindo as ações dos sujeitos históricos do período. Lúcia Bastos
Pereira das Neves partiu da análise da imprensa para demonstrar o desenvolvimento de um
novo “vocabulário” político no Brasil, em meio às disputas entre o “despotismo e
liberalismo/constitucionalismo”, englobando “um conjunto de palavras que enunciavam
princípios, definiam direitos e deveres do cidadão”57. Assim, os impressos debateram e fizeram
circular conceitos como “despotismo”, “constituição”, “liberdade”, “soberania”, “eleição”,
“voto”, entre outros. Ao abordar a circulação desse vocabulário na imprensa, Lúcia Bastos
demonstrou a historicidade dos conceitos, como foram construídos pelos sujeitos históricos e
os sentidos particulares dados naquela conjuntura de fortes disputas.
Já Isabel Lustosa destacou como a “intensa batalha verbal”, travada pela imprensa no
período da independência, deu voz à “língua popular”, geralmente confinada à oralidade e
epistolografia familiar. Com a liberdade de imprensa e a necessidade dos grupos políticos em
litígio de “fazer-se compreender, como também despertar as identidades, provocar paixões”,
autores eruditos e jornalistas com pretensões democráticas foram instados a “participar do
debate na grande arena popular”. Assim, a linguagem popular passou a ocupar as folhas
55 CAPELATO, Maria Helena Rolim. A imprensa na história do Brasil. São Paulo: Contexto/Edusp, 1988, p. 25.
Seguindo caminho parecido, Lilia Schwarcz propôs deixar de lado a ideia dos periódicos serem “expressões
verdadeiras de uma época” ou veículos imparciais de “transmissão de informações”. Devem ser apreendidos
enquanto produtos sociais: “uma das maneiras como segmentos localizados e relevantes da sociedade produziam,
refletiam e representavam percepções e valores da época”. SCHWARCZ, Lilia Moritz. Retrato em branco e negro:
jornais, escravos e cidadãos em São Paulo no final do século XIX. São Paulo: Círculo do livro, 1988, p. 16. 56 DARNTON, Robert. Introdução. In. DARNTON, Robert; ROCHE, Daniel (orgs.). Revolução impressa: a
imprensa na França (1775-1800). São Paulo: Edusp, 1996, p. 15-16. 57 NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das. Corcundas e constitucionais: a cultura política da Independência
(1820-1822). Rio de Janeiro: Editora Revan/Faperj, 2003, p. 119.
14
impressas58. Tais questões reforçam a afirmação da historiadora, sobre como a conjuntura da
independência, período curto e com decisões fulcrais para os rumos do novo país, “foi o
contexto em que política e imprensa se confundiram de maneira mais radical”59.
Outro pesquisador dos anos 1820 e 1830, Marco Morel, ressaltou como o periodismo
aspirou marcar e ordenar a cena pública, caracterizada por transformações profundas nas
relações de poder. Assim, a “circulação de palavras – faladas, manuscritas ou impressas – não
se fechava em fronteiras sociais e perpassavam amplos setores da sociedade que se tornaria a
brasileira”60. A ascensão de discursos arrogando representar a “opinião pública” foi alvo da
apreciação de Morel. Para ele, há quem tome a expressão de modo literal, “como um
personagem ou agente histórico dotado de vontade, tendência e iniciativa próprias”. Fugindo
da visão simplista, o historiador propôs ver a “opinião pública”, antes de tudo, como “palavras”:
A expressão opinião pública é polissêmica – e também polêmica. Conhecer a
trajetória dessa noção numa determinada sociedade, situada cronologicamente
e geograficamente, pode permitir uma aproximação da gênese da política
moderna, isto é, pós-absolutista, cujos discursos invocando a legitimidade
desta opinião continuam a ter peso importante na atualidade. Ou seja, a
opinião pública era um recurso para legitimar posições políticas e um
instrumento simbólico que visava transformar algumas demandas setoriais
numa vontade geral61.
As considerações de Morel sobre a “opinião pública” podem ser aplicadas aos
periódicos de outras épocas do oitocentos. Os jornais do século XIX tentavam convencer os
leitores sobre a importância e urgência das questões levantadas por redatores, líderes partidários
e demais indivíduos que publicavam textos na imprensa, como nas cartas enviadas por leitores.
Não por acaso, a maioria dos impressos não se sustentava apenas com as assinaturas, no geral,
diminutas e alvo de muita inadimplência. Importava contar com apoio financeiro de
correligionários e simpatizantes dos ideais e projetos, pois “o aporte de capitais era fundamental
58 LUSTOSA, Isabel. Insultos impressos: o nascimento da imprensa no Brasil. In. MALERBA, Jurandir (org.). A
independência brasileira: novas dimensões. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 266. 59 LUSTOSA, Isabel. O nascimento da imprensa no Brasil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2004, p. 59. A relação
profícua entre imprensa e história também foi reforçada por Ana Luiza Martins e Tania de Luca, para quem não
há modo de escrever uma história da imprensa “sem relacioná-la com a trajetória política, econômica, social e
cultural do país”. Sobre o papel desempenhado pelos impressos na trajetória da independência do Brasil,
afirmaram: “A nação brasileira nasce e cresce com a imprensa. Uma explica a outra. Amadurecem juntas. Os
primeiros periódicos iriam assumir a transformação da Colônia em Império e participar intensamente do processo.
A imprensa é, a um só tempo, objeto e sujeito da história brasileira. Tem certidão de nascimento lavrada em 1808,
mas também é veículo para a reconstrução do passado”. MARTINS, Ana Luiza; LUCA, Tania Regina de (orgs.).
História da imprensa no Brasil. São Paulo: Editora Contexto, 2012, p. 8. 60 MOREL, Marco. Os primeiros passos da palavra impressa. In. MARTINS, Ana Luiza; LUCA, Tania Regina de
(orgs.). História da imprensa no Brasil. São Paulo: Editora Contexto, 2012, p. 25. 61 MOREL, op. cit., 2012, p. 33, grifos da fonte.
15
para a manutenção do impresso, alimentando uma imprensa política desde então comprometida
com seus financiadores”62. Essa atitude doutrinária, mais que o caráter comercial dos dias de
hoje, era uma das principais características dos jornais oitocentistas:
O caráter doutrinário, a defesa apaixonada de ideias e a intervenção no espaço
público caracterizaram a imprensa brasileira de grande parte do século XIX,
que, é bom lembrar, contava com contingente diminuto de leitores, tendo em
vista as altíssimas taxas de analfabetismo63.
Há ainda de se destacar a reflexão de Wlamir Silva acerca do “caráter pedagógico” da
imprensa oitocentista, ao promover a construção de culturas políticas pela mediação entre
sociedade e Estado, em nível local e regional, promovendo um sistema de referências a alcançar
“estratos mais amplos da sociedade, transformando a filosofia política num conjunto de
conceitos compreensíveis por um contingente mais significativo da sociedade”64.
Marialva Barbosa, por sua vez, frisou a “autorreferenciação” como uma das
características das gazetas do século XIX. A preocupação dos jornais em situar suas falas diante
de outros periódicos, simulando diálogos, como se fosse uma conversa tornada pública, produz
pistas sobre relações com as instâncias de poder e apontam para o “circuito da comunicação”,
ou seja: o que eram tais publicações, quem nelas escrevia, para quem se dirigiam e, em alguns
casos, quais as interpretações engendradas por leitores anônimos ou ilustres, por meio de artigos
e cartas enviadas aos órgãos de imprensa. No diálogo polêmico ou conciliador estabelecido,
“esse regime de autorreferenciação produz também distinção e torna os redatores, símbolos
daquelas publicações, nomes perenes na construção presente e futura dessa história”65.
É pertinente, ainda, refletir sobre o poder dos jornais de selecionar o que é noticiado.
Para Humberto Fernandes Machado, a imprensa tem o poder de “transformar simples
ocorrências em notícias que alcançam repercussão junto aos leitores, ou, então omiti-las,
levando-as ao esquecimento”66. Não obstante, o autor destaca como os jornais, ao escolher as
notícias, “também sofrem influências de seu público leitor”, pois precisam manter a imagem de
“credibilidade quando divulgam os fatos”67. A boa interlocução jornal/leitor dependeria, assim,
62 MARTINS, Ana Luiza. Imprensa em tempos de Império. In. MARTINS, Ana Luiza & LUCA, Tania Regina
de. História da imprensa no Brasil. 2ª ed. São Paulo: Contexto, 2012, p. 57. 63 LUCA, op. cit., 2005, p. 134. 64 SILVA, Wlamir. A imprensa e a pedagogia liberal na Província de Minas Gerais (1825-1842). In. NEVES,
Lúcia Maria Bastos P.; MOREL, Marco; FERREIRA, Tânia Maria Bessone da C. (orgs.). História e imprensa:
representações culturais e práticas de poder. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2006, p. 38. 65 BARBOSA, Marialva. História cultural da imprensa: Brasil, 1800-1900. Rio de Janeiro: Mauad X, 2010, p. 54. 66 MACHADO, Humberto Fernandes. Palavras e brados: José do Patrocínio e a imprensa abolicionista do Rio de
Janeiro. Niterói: Editora da UFF, 2014, p. 118. 67 MACHADO, op. cit., 2014, p. 117-118.
16
de “um ambiente favorável”68 entre as partes. Afinal, como indicou Darnton, “as matérias
jornalísticas precisam caber em concepções culturais prévias relacionadas com a notícia”69.
As considerações citadas nas últimas páginas serviram de inspiração para a minha
interpretação dos jornais cearenses escolhidos para o desenvolvimento desta tese: Pedro II
(Fortaleza), O Cearense (Fortaleza), O Araripe (Crato), O Commercial, rebatizado como
Gazeta Official (Fortaleza), e O Sol (Fortaleza). A escolha pelos órgãos deu-se, principalmente,
pelo recorte temporal escolhido para a pesquisa (1862-1863), pelo amplo espaço dado à
epidemia do cólera e aos usos políticos dela, de acordo com a tendência partidária de cada folha,
e devido à disponibilidade das coleções na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional.
O desenvolvimento da imprensa na Província do Ceará não deixou de se relacionar com
o contexto brasileiro mais amplo. Segundo Geraldo Nobre, cronologicamente, o Ceará foi a
sétima província a imprimir jornais, sendo precedido por Rio de Janeiro (1808), Bahia (1813),
Pernambuco (1821), Maranhão (1821), Pará (1822) e Minas Gerais (1824)70. Os primeiros
jornais cearenses foram impressos em Fortaleza no ano de 1824. O Diário do Governo do Ceará
foi fundado enquanto órgão oficial da província, tendo número inaugural a 1 de abril. Com o
desenrolar da Confederação do Equador, passou para as mãos do governo revolucionário71.
Aliás, o redator da folha, padre Gonçalo Inácio de Loiola Albuquerque Mororó, foi um dos
fuzilados em Fortaleza, a 30 de abril de 1825, pela participação na revolução72. Sobre o segundo
jornal, Gazeta do Ceará, sabe-se pouco: teria vindo a lume a 6 de abril de 1824 e, também,
tomado o lado dos revoltosos na sequência73. A devassa iniciada com o malogro da
Confederação do Equador resultou na destruição dos exemplares dos dois primeiros jornais
cearenses, restando pouquíssimos números conservados74.
Segundo o levantamento do Barão de Studart, cerca de 120 jornais foram impressos no
Ceará entre 1824 e 1864, a maioria de vida curta, não sobrevivendo aos primeiros números75.
Se Fortaleza foi o espaço de concentração dessas folhas, as prensas tipográficas não deixaram
de adentrar o interior da província. Em 1831, por exemplo, foi criado O Clarim da Liberdade,
68 MACHADO, op. cit., 2014, p. 119. 69 DARNTON, Robert. O beijo de Lamourette: mídia, cultura e revolução. São Paulo: Companhia das Letras,
2010, p. 108. 70 NOBRE, Geraldo da Silva. Introdução à história do jornalismo cearense. Fortaleza: Nudoc/Secult, 2006, p. 60. 71 NOBRE, op. cit., 2006, p. 65. 72 STUDART, Barão de. Dicionario bio-bibliofraphico cearense. Vol. 1. Fortaleza: Typo-Lithographia a Vapor,
1910, p. 349. 73 NOBRE, op. cit., 2006, p. 65. 74 NOBRE, op. cit., 2006, p. 51. 75 STUDART, Barão de. Os jornais do Ceará nos primeiros 40 anos: 1824-1864. Revista do Instituto do Ceará.
Tomo especial, 1924, p. 48-118.
17
na vila de Aracati76, fazendo oposição à família Castro, importante clã político liberal
cearense77. O segundo jornal do interior do Ceará foi O Araripe, semanário liberal impresso na
cidade de Crato, entre 1855 e 1865. Aliás, da criação d’O Araripe até o fim dos anos 1860,
Crato sediou a publicação de 13 jornais78, demonstrando como os periódicos tiveram destaque
na região do Cariri, no sul do Ceará. Se Aracati e Crato foram as localidades com maior número
de jornais no interior, lugares como Sobral, Icó, Acarape e Cascavel também estrearam no
cenário da imprensa cearense no início dos anos 186079.
O número de folhas publicadas no Ceará entre 1824 e 1864 demonstra como a imprensa
assumiu papel importante na cena pública, corroborando a afirmativa de Geraldo Nobre: “a
história política do Ceará não pode ser completamente, ou pelo menos satisfatoriamente escrita,
sem se valer dos subsídios que a pesquisa jornalística lhe fornecerá”80. Ainda segundo o autor,
o caráter político dos periódicos, “os fazia lidos nos recantos extremos da província, onde quer
que houvesse um liberal ou um conservador, conforme o caso”81. Portanto, a relação entre
imprensa e política no Ceará provincial é indissociável. Tratando do assunto, Ana Carla Sabino
Fernandes mostrou como a crença no caráter civilizador da imprensa era central:
Esses periódicos se colocavam como paladinos da ideia de que, através da
imprensa [...] seria possível civilizar a política e a sociedade cearense,
“independente” da opção partidária, pois acreditavam não haver trincheiras
entre as práticas discursivas produzidas no jornal e as do imaginário social82.
Nestes termos, tanto conservadores como liberais, apresentavam seus periódicos como
agentes de civilização, daí porque o manifesto caráter proselitista dos impressos. Por trás de tal
discurso, os órgãos atuavam na defesa e divulgação de projetos políticos específicos, vinculados
aos interesses dos grupos sociais em disputa, afinal, “todos os jornais procuram atrair o público
e conquistar seus corações e mentes. A meta é sempre conseguir adeptos para uma causa”83.
Os dois principais jornais cearenses do oitocentos, Pedro II e O Cearense, surgiram nos
anos 1840, tendo relação direta com as disputas políticas do fim da Regência, época de
configuração dos partidos conservador e liberal, conjuntura sobre a qual tratarei no primeiro
76 NOBRE, op. cit., 2006, p. 71; STUDART, op. cit., 1924, p. 66. 77 STUDART, op. cit., 1924, p. 66. 78 PINHEIRO, Irineu. O Cariri: seu descobrimento, povoamento, costumes. Fortaleza: edição do autor, 1950, p.
178-186. 79 STUDART, op. cit., 1924, p. 48-118. 80 NOBRE, op. cit., 2006, p. 26. 81 NOBRE, op. cit., 2006, p. 17. 82 FERNANDES, Ana Carla Sabino. A imprensa em pauta: jornais Pedro II, Cearense e Constituição. Fortaleza:
Museu do Ceará / Secretaria de Cultura, 2006, p. 12. 83 CAPELATO, op. cit., 1988, p. 15.
18
capítulo. Entre 1834 e 1837, o padre José Martiniano de Alencar, um dos líderes dos
movimentos liberais de 1817 e 1824, ocupou a presidência do Ceará, estando sintonizado com
a política encetada pelo regente padre Diogo Antônio Feijó. Com a ascensão do “Regresso” e
a posse de Pedro de Araújo Lima, futuro Marquês de Olinda, como regente uno, Alencar perde
a presidência. Foi nomeado Manuel Felizardo de Souza Mello. Para comemorar a derrubada do
padre liberal, os “caranguejos” – como eram conhecidos os segmentos que deram origem ao
Partido Conservador no Ceará – fundaram o Dezesseis de Dezembro, a 1 de julho de 1838. O
título do jornal aludia à data de posse de Manuel Felizardo na presidência do Ceará, em 183784.
Todavia, com o “golpe da maioridade”, no qual Alencar foi um dos patronos85, o padre liberal
retornou à presidência da província natal. Para fazer oposição a Alencar, o Dezesseis de
Dezembro saiu de cena, dando lugar ao Pedro II, a 12 de setembro de 184086.
Descontente com a oposição feroz do jornal, Alencar teria enunciado recado aos
apoiadores: “por muito menos disso quebravam-se tipografias no Rio e em alto dia”87.
Entendida a senha, nos primeiros dias de 1841, a Tipografia Constitucional, na qual o Pedro II
era preparado, foi alvo de empastelamento por parte de aliados do presidente: as portas foram
arrombadas a machadadas, o prelo foi reduzido a pedaços e os tipos usados para impressão
foram postos em sacos e arremessados no mar. Apesar do ocorrido, o jornal continuou a
circular, sendo impresso em outras oficinas da cidade até adquirir tipografia própria88.
O Pedro II foi a principal folha conservadora do Ceará e a de maior longevidade:
circulou de 1840 a 1889, correspondendo ao tempo do Segundo Reinado, de cujo imperador
tomou o nome. Após a Proclamação da República, foi rebatizado como O Brasil, encerrando a
84 Na capa, o Dezesseis de Dezembro trazia versos de Camões, como indicativo do pretenso advento de um novo
tempo na província: “Depois de procelosa tempestade/ Noturna sombra e sibilante vento/ Traz a manhã serena
claridade/Esperança de porto e salvamento”. STUDART, op. cit., 1924, p. 75. 85 O romancista José de Alencar registrou deliciosa memória sobre o “Clube Maiorista”. O pai, o padre José
Martiniano de Alencar, era o secretário do clube: “Morávamos então na rua do Conde n. 55. Aí nessa casa
preparou-se a grande revolução parlamentar que entregou ao Sr. D. Pedro II o exercício antecipado de suas
prerrogativas constitucionais”. Conta o romancista: uma “noite por semana, entravam misteriosamente em nossa
casa os altos personagens” envolvidos no complô. As reuniões ocorriam “em um aposento do fundo, fechando-se
nessas ocasiões a casa às visitas habituais, a fim de que nem elas nem os curiosos da rua suspeitassem do plano
político, vendo iluminada a sala da frente”. Enquanto as personalidades deliberavam em segredo, o menino Alencar
via a mãe acompanhar o “preparo de chocolate com bolinhos, que era costume oferecer aos convidados por volta
das nove horas” e indagava, curioso, sobre o tema do serão secreto. Não tendo resposta dos adultos, o menino
concluía: “O que estes homens vêm fazer aqui é regalar-se de chocolate”. ALENCAR, José de. Como e porque
sou romancista. Rio de Janeiro: Typographia de G. Leuzinger & Filhos, 1893, p. 17-18. Disponível no site:
https://digital.bbm.usp.br/view/?45000018504&bbm/4647#page/1/mode/2up. Último acesso a 03 dez. 2019. 86 Tal como o Dezesseis de Dezembro, o Pedro II estampou Camões na epígrafe da capa: “Os mais
experimentados levantai-os/ se, com a experiência, têm bondade/ para vosso conselho, pois que sabem/ o como, o
quando, e onde as cousas cabem”. STUDART, op. cit., 1924, p. 77. 87 STUDART, op. cit., 1924, p. 80. 88 NOBRE, op. cit., 2006, p. 88.
19
impressão no ano de 189089. Entre 1862 e 1863, recorte temporal da tese, o jornal circulava
diariamente, exceto aos domingos e dias santos, imprimindo mais de 290 edições ao ano. Ele
tinha extensão de quatro páginas, cada uma com quatro colunas verticais. O preço da assinatura
anual em Fortaleza e Maranguape, vila vizinha à capital do Ceará, era de 12$000 (doze mil
réis), pagos adiantadamente. Para as outras localidades do interior do Ceará, a anuidade saía
por 14$000 (quatorze mil réis), o que dava para comprar duas dúzias de “copos para água” no
estabelecimento de Antônio de Castro Laranjeira, anunciante do Pedro II90. O diário não
divulgava na capa se vendia edições avulsas.
O Pedro II foi fundado por Miguel Fernandes Vieira (1816-1862), membro do clã
conhecido como “carcará”, uma das principais lideranças do Partido Conservador no Ceará.
Nascido em Saboeiro, no sertão dos Inhamuns, e filho do proprietário rural Francisco Fernandes
Vieira, futuro Visconde de Icó, Miguel Fernandes Vieira formou-se bacharel no curso jurídico
de Olinda, na turma de 1837, tendo como colegas João Maurício Wanderley (Barão de
Cotegipe) e Zacarias de Góis e Vasconcelos, além de ser contemporâneo na instituição de outros
futuros nomes da política nacional, como João Lins Vieira Cansansão de Sinimbu (Visconde
de Sinimbu), Ângelo Muniz da Silva Ferraz (Barão de Uruguaiana), Bernardo de Souza Franco
(Visconde de Souza Franco), entre outros91. Miguel Fernandes Vieira foi deputado provincial,
em três legislaturas, e geral, em cinco. Teve nomeação ao Senado a 9 de abril de 1862. Cerca
de dois meses após tomar posse na câmara vitalícia, faleceu no Rio de Janeiro92, passando o
diário Pedro II a ser administrado por outros membros da família.
Miguel Fernandes Vieira, além de proprietário, foi um dos principais redatores do Pedro
II. Além dele, outros redatores destacaram-se, a maioria exercendo cargos políticos ao longo da
segunda metade do oitocentos: Gustavo Gurgulino de Sousa93, Manoel Ambrósio da Silveira
89 FERNANDES, op. cit., 2006, p. 63. Ana Carla Sabino Fernandes mapeou os nomes dos tipógrafos que atuaram
nas oficinas do Pedro II: Raimundo Moreira da Silva, Felisberto da Costa Bastos Leal, Raimundo César da Silva,
Antônio F. dos Santos Júnior, Antônio Gernecino de Q. Saboia, Joaquim José Cardoso, Galdino Marques de
Carvalho, Joaquim José de Oliveira e Raimundo de Paula Lima. FERNANDES, op. cit., 2006, p. 64. 90 Pedro II, n. 282, 11 dez. 1862, p. 4. 91ABREU, Júlio. A velha Academia de Olinda. Revista do Instituto do Ceará. Tomo LX. Fortaleza, 1946, p. 86-
110; ABREU, Júlio. A velha Academia de Olinda. Revista do Instituto do Ceará. Tomo LXIII. Fortaleza, 1949, p.
20-48. 92 STUDART, Barão de. Dicionario bio-bibliofraphico cearense. Vol. 2. Fortaleza: Typo-Lithographia à Vapor,
1913, p. 386. 93 Nascido em São Luiz do Maranhão (1829), veio criança para o Ceará. Foi deputado provincial por seis
legislaturas. Tinha relações com o boticário Antônio Rodrigues Ferreira, liderança do Partido Conservador no
Ceará, junto com os Fernandes Vieira, ao ponto dos correligionários da agremiação serem conhecidos como
“boticário-carcarás”. Além de deputado, Gurgulino exerceu vários cargos na província, como: administrador do
Correio, lente substituto de português no Liceu de Fortaleza e diretor de instrução pública da província. Faleceu
em 1879. STUDART, op. cit., 1924, p. 81; PAIVA, Maria Arair Pinto. A elite política no Ceará Provincial. Rio
de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1979, p. 90; CORDEIRO, Celeste. O Ceará na segunda metade do século XIX. In.
SOUZA, Simone de (org). Uma nova história do Ceará. 4ª ed. Fortaleza: Demócrito Rocha, 2007, p. 144.
20
Torres Portugal94, Luiz Francisco de Miranda95, Francisco Paurilo Fernandes Bastos96 e
Gonçalo de Lagos Fernandes Bastos97. Todavia, nesta tese, um redator do Pedro II terá
destaque: Manoel Franco Fernandes Vieira (1821-1880). Nascido em Maranguape, bacharelou-
se pelo curso jurídico de Olinda na turma de 1844. No mesmo ano, foi eleito deputado
provincial. Entre 1856 e 1857, foi presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o maior posto
político conquistado na carreira. Ao longo da vida, ocupou cargos na magistratura, como
promotor público de Quixeramobim, juiz municipal de Ipu e Sobral e juiz de direito em Sobral,
Viçosa e Cabrobó, esta última na província de Pernambuco98.
Em 1862, quando da chegada do cólera ao Ceará, Manoel Franco ocupava o cargo de
inspetor na Inspetoria do Tesouro, chefiando o controle das finanças provinciais. Além disso,
era vice-provedor da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza. Sobrinho de Miguel Fernandes
Vieira, Manoel Franco era o principal redator do Pedro II, quando se envolveu em ferrenho
atrito com o presidente da província do Ceará, José Bento da Cunha Figueiredo Júnior, tendo o
cólera como mote central. A celeuma entre Manoel Franco e José Bento, resultando na demissão
do primeiro, teve ampla repercussão na imprensa cearense, como mostrará a tese.
Se o Pedro II foi o porta-voz dos conservadores, O Cearense era a folha liberal por
excelência. Em 1840, foi fundado o jornal Vinte três de julho, em alusão à data do golpe da
maioridade. A primeira edição narrava, com minúcias, a posse de José de Alencar na
presidência da província do Ceará, ocorrida a 20 de outubro de 184099. À época, o redator
principal do periódico era o médico José Lourenço de Castro e Silva, de quem falarei ao longo
da tese. A 1 de dezembro de 1841, quando os liberais já não estavam no poder, o jornal foi
rebatizado, passando a chamar-se A Fidelidade100, sob direção de Frederico Pamplona101 e
94 Bacharel pelo Curso Jurídico de Recife, foi deputado geral, por uma legislatura, e provincial por três vezes, tinha
relações próximas com Gonçalo Baptista Vieira (Barão de Aquiraz), membro da família Fernandes Vieira. Foi
ainda deputado federal, após a proclamação da República. STUDART, op. cit., 1913, p. 297. 95 Nasceu em Sobral (1839). Órfão muito cedo, exerceu por anos o ofício de ferreiro. Apadrinhado por Domingos
José Nogueira Jaguaribe (futuro Visconde de Jaguaribe), foi nomeado promotor público de Ipu. Atuou como
advogado em Ipu, Tamboril e Fortaleza. Conservador e monarquista ferrenho, retirou-se do cenário político após
1889. Morreu em 1905. STUDART, op. cit., 1913, p. 284-285; STUDART, op. cit., 1924, p. 81. 96 Nascido em Saboeiro (1838), membro da família Fernandes Vieira, bacharelou-se em direito no Recife, em
1861. STUDART, op. cit., 1910, p. 317-318. 97 Nasceu em 1845. Formou-se em direito na cidade de São Paulo (1865). Foi deputado provincial, por uma
legislatura, e representante cearense na primeira constituinte republicana. Era irmão do também redator Francisco
Paurilo Fernandes Bastos, e cunhado do senador Miguel Fernandes Vieira e do Barão de Aquiraz. STUDART, op.
cit., 1910, p. 347-348; PAIVA, op. cit., 1979, p. 90. 98 STUDART, op. cit., 1913, p. 336. 99 FERNANDES, op. cit., 2006, p. 19. 100 Como dístico, A Fidelidade trazia máxima de Mariano José Pereira da Fonseca, o Marquês de Maricá: “Em
política os remédios brandos agravam frequentemente vezes os males e os tornam incuráveis”. STUDART, op.
cit., 1924, p. 84. 101 Nascido no Aracati (1814), formou-se bacharel pelo curso jurídico de Olinda (1842). Foi deputado provincial,
por uma legislatura. Atuou como promotor público na cidade natal. Na condição de 2º vice-presidente da província,
21
Tristão de Alencar Araripe102. A 4 de outubro de 1846, outra mudança de nome ocorre no
periódico, passando a chamar-se O Cearense, título conservado até 25 de fevereiro de 1891,
quando parou de circular103.
Ao longo dos quase 45 anos de circulação, o jornal “destinado a sustentar as ideias do
Partido Liberal”104, teve como redatores: Frederico Pamplona, Tristão de Alencar, Miguel
Joaquim Ayres do Nascimento105, João Brígido – sobre quem falarei mais à frente –, Antônio
Joaquim Rodrigues Júnior106, Thomaz Pompeu de Souza Brasil Filho107, João Eduardo Torres
Câmara108 e Francisco Barbosa de Paula Pessoa109.
Na tese, um dos redatores d’O Cearense terá destaque: Thomaz Pompeu de Sousa
Brasil. Em 1850, o padre Pompeu tornou-se proprietário e redator d’O Cearense com a saída
do posto de Frederico Pamplona e Miguel Ayres. Thomaz Pompeu, após a morte de José
governou interinamente o Ceará entre agosto e outubro de 1847. Faleceu no Rio de Janeiro (1865), na condição de
deputado geral, cargo para o qual foi eleito em três legislaturas. STUDART, op. cit., 1910, p. 334-335; PAIVA,
op. cit., 1979, p. 104. 102 Tristão de Alencar Araripe era filho de Tristão Gonçalves de Alencar Araripe – presidente revolucionário do
Ceará em 1824 – e sobrinho de José Martiniano de Alencar. Nasceu em Icó (1821), iniciou o curso jurídico em
Olinda e concluiu a formação em São Paulo (1845). Ocupou diversos cargos no Império e República: deputado
provincial numa legislatura e geral em quatro; juiz municipal em Fortaleza (1847); juiz de direito em Bragança,
Pará (1854); chefe de polícia no Espírito Santo (1856) e Pernambuco (1859); juiz especial de comércio no Recife
(1861); desembargador da relação da Bahia (1870); presidente da relação de São Paulo (1874) e da Corte (1875);
presidente das províncias do Rio Grande do Sul (1876) e Pará (1885); ministro do Supremo Tribunal de Justiça
(1886); membro do Supremo Tribunal Federal (1890); e ministro da Justiça e dos negócios interiores do presidente
Deodoro da Fonseca. Entre dezenas de textos históricos publicados ao longo da vida, destaco o livro “História da
Província do Ceará” (1850), tido como um dos marcos fundadores da historiografia cearense. Foi membro do
IHGB, Academia Cearense e Instituto do Ceará. Era oficial da Ordem da Rosa. Faleceu a 3 de julho de 1908.
STUDART, Barão de. Dicionario bio-bibliofraphico cearense. Vol. 3. Fortaleza: Tipografia Minerva de Assis
Bezerra, 2015, p. 159-161. 103 NOBRE, op. cit., 2006, p. 82. 104 O Cearense, n. 1509, 28 jan. 1862, p. 1. 105 Deputado geral em 1848. PAIVA, op. cit., 1979, p. 106. 106 Nasceu em Sobral (1837) e formou-se bacharel em direito no Recife (1857). Foi duas vezes deputado provincial
e cinco vezes deputado geral. Na condição de vice-presidente de província, administrou interinamente o Ceará
(1868). Foi ministro da Guerra no Gabinete chefiado por Lafayette Rodrigues Pereira, em 1883. Faleceu em 1904.
STUDART, op. cit., 1910, p. 102; PAIVA, op. cit., 1979, p. 103. 107 Filho do padre Thomaz Pompeu de Souza Brasil, nasceu em Fortaleza (1852) e bacharelou-se pela academia
de direito do Recife (1872). Foi um dos fundadores da Academia Cearense (1872). Atuou como professor de
Geografia no Liceu de Fortaleza. Foi deputado geral por três legislatura, entre 1878 e 1885. Em 1880, fundou,
junto com João Brígido, o jornal Gazeta do Norte. Em 1889, foi nomeado diretor de instrução pública da província.
Como vice-presidente, governou interinamente o Ceará, entre 1888-1889. Fez parte do Instituto do Ceará, Instituto
Histórico da Bahia e Sociedade de Agricultura do Rio de Janeiro. Publicou diversas obras, entre as quais estudos
sobre irrigação. STUDART, op. cit., 1915, p.146-149; PAIVA, op, cit., 1979, p. 107. 108 Nasceu em 1840. Elegeu-se vereador em Fortaleza e deputado provincial, entre 1878-1879. Foi diretor da
Secretaria de Governo Provincial e diretor-secretário da Junta Comercial. Além d’O Cearense, atuou nos jornais
Gazeta do Norte, Libertador, A República, Echo Juvenil, A Beata, A União Artística e A Lua. Publicou o
“Almanaque da cidade de Fortaleza” (1895) e o “Almanaque administrativo, estatístico, mercantil e industrial do
Estado do Ceará” (1896). STUDART, op. cit., 1910, p. 455-456. 109 Filho do senador do Império Vicente Alves de Paula Pessoa, nasceu em Fortaleza (1853). Bacharel em Direito
pela faculdade do Recife (1877). Foi promotor nas cidades paraenses de Belém e Cachoeira e juiz substituto de
Belém. Elegeu-se deputado provincial em três ocasiões, entre 1878 e 1883. Atuou como procurador dos feitos da
Fazenda Nacional (1884-1890). STUDART, op. cit., 1910, p. 270-271.
22
Martiniano de Alencar, em 1860, ocupou o posto de líder máximo dos liberais no Ceará.
Pompeu nasceu a 6 de julho de 1818, em Santa Quitéria. Em Olinda, cursou o seminário e a
academia de ciências jurídicas, ordenando-se padre (1841) e formando-se bacharel em direito
(1843). Entre 1845 e 1849 foi diretor do Liceu, em Fortaleza, voltando a ocupar a função em
1853. Atuou como deputado provincial, entre 1846-1847, e deputado geral em duas
legislaturas110. Em janeiro de 1864, o Imperador nomeou Pompeu para o Senado, sucedendo na
câmara vitalícia o principal adversário, Miguel Fernandes Vieira, como analisará a parte final
desta tese. Intelectual de vasta produção bibliográfica, teve como obra mais importante o
“Ensaio Estatístico da Província do Ceará”, publicado em dois tomos, entre 1863 e 1864. Era
sócio de diversas instituições: IHGB, institutos históricos de Pernambuco, Bahia e Maranhão e
Sociedade Geográfica de Paris. Morreu a 2 de setembro de 1877111.
Em 1862, O Cearense de Tomaz Pompeu tornou-se um dos principais defensores das
ações do presidente José Bento da Cunha Figueiredo Júnior frente ao cólera, fazendo
contraponto aos ataques lançados pelo diário Pedro II contra o governo provincial. A conjuntura
política nacional também influenciou a postura d’O Cearense, como ficará claro ao longo da
tese. A fortificação de propostas conciliadoras, via “Liga Progressista”, na Corte, em 1862,
abriu brechas para o enfraquecimento dos conservadores no Ceará e para possibilidades de
ganhos políticos aos liberais. O agastamento das relações dos Fernandes Vieira com o
presidente Figueiredo Júnior acabou potencializando o jogo112 dos liberais cearenses, fazendo
de Thomaz Pompeu o maior beneficiado da ocasião.
Ao tempo do recorte da tese, a assinatura d’O Cearense custava dez mil réis, não
havendo distinção de valores para assinantes da capital e interior. Era impresso em quatro
páginas, diagramadas em quatro colunas verticais cada. Em 1862, circulava uma vez por
semana, às terças-feiras, tendo 50 edições no ano. Já em 1863, passou a sair às sextas-feiras.
110 PAIVA, op. cit., 1979, p. 107. 111 STUDART, op. cit., 1915, p. 144. 112 A metáfora do “jogo”, usada ao longo da tese, tem como inspiração as considerações de Pierre Bourdieu, a
respeito da concorrência a marcar, indelevelmente, o campo político. Nessa percepção, os “jogadores” são agentes
em competição: colocados em posições diferenciadas – com distribuição desigual de recursos, ou “capitais” –
agem para preservar ou melhorar suas posições no tabuleiro, tentando antever os lances dos adversários. Os
partidos políticos podem ser lidos como “agentes por excelência desta luta”, ao buscar mobilizar “o maior número
possível de agentes dotados da mesma visão do mundo social e do seu porvir”. Aos jogadores, nada seria mais
exigido que a adesão fundamental ao jogo e as suas regras: “todos os que têm o privilégio de investir no jogo (...),
para não correrem o risco de se verem excluídos do jogo e dos ganhos que nele se adquirem, quer se trate do
simples prazer de jogar, que se trate de todas as vantagens materiais ou simbólicas associadas à posse de um capital
simbólico, aceitam o contrato que está implicado no facto de participar no jogo, de o reconhecer deste modo como
valendo a pena ser jogado, e que os une a todos os outros participantes por uma espécie de conluio originário bem
mais poderoso do que todos os acordos abertos ou secretos”. BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Lisboa:
Difel, 1989, p. 172-173, grifos no original.
23
Todavia, a partir de 7 de julho, virou bissemanal113, saindo às terças e sextas, totalizando 71
edições no referido ano.
O Araripe também ocupará atenção nesta tese. Impresso na cidade de Crato, circulava
semanalmente, aos sábados. O primeiro número saiu a 7 de julho de 1855 e já no dístico
anunciava claramente a vinculação partidária e objetivos: “O ARARIPE é destinado a sustentar
as ideias livres, proteger a causa da justiça, e propugnar pela fiel observância da Lei, e interesses
locais”114. A impressão dava-se na Tipografia de Monte e Cia., localizada na Rua da Matriz, de
propriedade de José do Monte Furtado, dono de engenho e ligado ao Partido Liberal115.
Produzido no Cariri, região fronteiriça a Pernambuco – funcionando como porta de
entrada no Ceará das revoltas de 1817 e 1824, e palco do combate ao movimento
restauracionista de Pinto Madeira, em 1831 –, O Araripe era porta-voz dos simpatizantes do
Partido Liberal no sul cearense, reunindo proprietários rurais, donos de engenho de rapadura,
comerciantes e profissionais liberais, sempre polemizando com as autoridades do Partido
Conservador no nível local e provincial116.
O Araripe foi o jornal de Crato com maior longevidade no século XIX, circulando entre
1855 e 1865, com algumas interrupções temporárias117. Como os jornais da capital, era
113 O Cearense, n. 1584, 7 jul. 1863, p. 1. 114 O Araripe, n. 1, 7 jul. 1855, p. 1, grifos da fonte. A legenda vinha ao lado do desenho de um índio, com cocar
e saia de plumas, arco numa das mãos e porção de flechas sobre as costas, em alusão aos antigos habitantes da
chapada do Araripe: os índios Cariris. O ícone deixou de ser impresso a partir da edição n. 52, em 12 de julho de
1856. Provavelmente, o conhecimento existente à época sobre o caráter combativo dos Cariris ajude a entender a
escolha do símbolo do semanário. Nos “Apontamentos para a história do Cariri”, João Brígido, redator de O
Araripe, onde a obra foi originalmente publicada, representava os Cariris como “nação em extremo belicosa”,
habitantes da chapada, com “belos regatos, desfrutando um clima temperado, dispondo de inumeráveis frutos
silvestres, que lhes forneciam um alimento rude, mas abundante, tinham amor a seu paraíso, e lutavam de contínuo
contra outras hordas, que o queriam roubar” (BRÍGIDO, João. Apontamentos para a história do Cariri. Typ. da
Gazeta do Norte, 1888, p. 5). Desta forma, ao imprimir o índio na capa, Brígido talvez, quisesse apresentar O
Araripe como um aguerrido defensor da região e dos princípios políticos liberais, tal como os antigos moradores
do Cariri defendiam seu “paraíso”. Por outro lado, a imagem do índio já se associara com as representações da
jovem nação brasileira, graças à ação dos intelectuais do IHGB, da Academia Imperial de Belas-artes e dos literatos
sintonizados com os cânones do romantismo. O próprio Imperador estimulava tais representações, seja por meio
do mecenato junto àquelas instituições ou pelo uso ritualístico de objetos inspirados na cultura indígena, como a
murça do traje imperial, confeccionada com penas de galos-da-serra e de tucanos. SCHWARCZ, Lilia Moritz. As
barbas do imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 141. 115 Em julho de 1856, a iniciativa proprietário de comprar o prelo e instalá-lo no Crato, foi enaltecida em texto
tecendo loas ao propalado papel “civilizador” desempenhado pela imprensa: “De facto a seu nome [do proprietário]
se liga uma reminiscência de generosidade, desinteresse e patriotismo, que o põe ao nível, dos que nesta terra se
fizeram um nome glorioso pelo seu devotamento à causa pública”. O Araripe, n. 51, 05 jul. 1856, p. 3. 116 Tais personagens ambicionavam conquistar maior autonomia política para a região, ao ponto da defesa da
criação da chamada “Província dos Cariris Novos” – que, caso criada, reuniria parte dos sertões do Ceará,
Pernambuco, Paraíba e Piauí, tendo Crato como capital – ter sido uma das reivindicações centrais dos primeiros
anos d’O Araripe. ALEXANDRE, op. cit., 2010, p. 111. 117 Houve períodos de paralisação nas impressões d’O Araripe por problemas técnicos. Em fins de 1859, por
exemplo, a falta de alguns “utensílios indispensáveis”, possivelmente tipos móveis ou outras peças necessárias às
prensas mecânicas, foi a justificativa para “suspender por um ou dois meses” a impressão (O Araripe, n. 206, 26
nov. 1859, p. 4). Levando em conta serem os instrumentos tipográficos adquiridos em Fortaleza e Recife, distantes
24
impresso em quatro páginas por número. Todavia, seus textos eram diagramados em duas
colunas verticais. Comparado ao Pedro II e ao O Cearense – organizados em quatro colunas e
impressos com tipos pequenos –, O Araripe veiculava menos textos por edição. Por outro lado,
a assinatura anual do semanário cratense era bem mais barata em comparação aos congêneres
de Fortaleza: em 1862, custava 5$000 (cinco mil réis)118, metade do valor cobrado pela
assinatura d’O Cearense e quase 1/3 da anuidade do Pedro II para assinantes do interior.
A redação d’O Araripe esteve a cargo de João Brígido dos Santos, considerado “uma
das maiores expressões” do jornalismo cearense entre a segunda metade do século XIX e o
início do XX119. Aos 71 anos de vida, Brígido representou, assim, sua trajetória política:
Devo prevenir ao público que fui sempre liberal. Assim como conservador
vem a ser todo o bicho humano, que subscreve os caprichos do seu tempo,
liberal é todo aquele que não se conforma com eles e dá-lhes pontapés,
reclamando sempre cousa melhor, à sua imagem ou fantasia120.
A orientação partidária do redator deu ao O Araripe caráter militante, envolvendo-se
“em violentas refregas políticas em defesa dos interesses de seu partido”121. Para Ana Carla
Fernandes, Brígido via a imprensa como “válvula para se reparar, sem violência, os abusos das
autoridades, os atos contrários ao interesse público e os desentendimentos de caráter
pessoal”122. Assim, a violência física era substituída pelas agressões impressas do “panfletário
cruel”, como Jáder de Carvalho qualificou João Brígido123.
Nascido na província do Rio de Janeiro, em 1829, Brígido pertencia a uma família
originada de Icó, para onde mudou no ano de 1831. Residiu em diversas outras localidades
cearenses ao longo da vida: São Mateus, Quixeramobim, Crato, Barbalha e Fortaleza. Em parte
desses lugares atuou como professor e, mesmo sem curso superior, advogado, ou rábula,
do Crato mais de quinhentos quilômetros, é fácil deduzir como o concerto ou reposição de peças defeituosas
demandava tempo considerável, resultando na paralisação das prensas até a solução da questão. Eventos
inesperados também afetavam a periodicidade: em 1862, a impressão foi suspensa por quatro meses, devido ao
surto do cólera analisado nesta tese. O impacto da epidemia foi tanta, ao ponto do jornal não circular em 1863.
Quando retornou, em 1864, o editorial afirmou: “A epidemia do cólera, que pesando horrivelmente sobre esta
cidade, trouxe o vácuo a confusão a todas as associações, por tal modo influiu sobre a empresa do Araripe, que
tornou impossível a sua publicação”. O Araripe, n. 295, 16 jan. 1864, p. 1. 118 Em 1856, o custo da edição avulsa d’O Araripe era de $80 (oitenta réis). O periódico deixou de divulgar a
informação a partir do ano de 1858. 119 NOBRE, op. cit., 2006, p. 93. 120 BRÍGIDO, João. Apud. CARVALHO, Jáder de (org.). Antologia de João Brígido. Fortaleza: Terra de Sol,
1969, p. 44. 121 PINHEIRO, Irineu. Efemérides do Cariri. Fortaleza: Imprensa Universitária do Ceará, 1963, p. 151. 122 FERNANDES, op. cit., 2006, p. 44. 123 CARVALHO, op. cit., 1969, p. 20.
25
seguindo os passos do pai, Inácio Brígido dos Santos124. Após deixar Crato, em 1865, escreveu
para diversos órgãos impressos de Fortaleza, inclusive, assumindo a redação d’O Cearense. As
crônicas históricas que redigiu – iniciadas com os “Apontamentos para a história do Cariri”, em
fascículos n’O Araripe – renderam reconhecimento dentro e fora do Ceará: em 1862, tornou-se
sócio correspondente do IHGB125. Foi deputado provincial em duas ocasiões, entre 1864 e 1867,
e geral na legislatura de 1878 a 1881126. Morreu aos 92 anos de idade (1921)127.
Na conjuntura de 1862, João Brígido usou as páginas d’O Araripe, bem como
correspondências enviadas a O Cearense, para criticar o papel de desafetos políticos durante a
crise epidêmica, especialmente autoridades ligadas aos conservadores, acusadas de fugirem das
responsabilidades no tempo do cólera. Foi, ainda, uma das vozes a levantar-se contra o Pedro
II na defesa do presidente da província. Desta forma, o jornal cratense corroborou os usos
políticos da doença naquela ocasião, inclusive para benefício pessoal do redator.
Outro periódico a atuar na seara da politização da epidemia, foi O Commercial. Fundado
em 1853, era propriedade de Francisco Luiz de Vasconcelos, dono de tipografia onde jornais
como O Cearense, O Sol, União Artística, O Cirineu, Imparcial, O Saquarema, entre outros,
foram impressos. Além de possuir a tipografia, Francisco Luiz de Vasconcelos constantemente
ganhava contratos para construção de obras junto ao governo provincial. Faleceu em 1882,
quando ocupava o posto de capitão de polícia em Canindé. No necrológio impresso sobre
Vasconcelos, o jornal conservador A Constituição afirmou: “Era um cidadão estimável: contava
mais de 70 anos, e aderia às ideias liberais”128.
O Commercial teve como principais redatores o padre Carlos Augusto Peixoto de
Alencar129 e Manoel Rufino de Oliveira Jamacaru130. Juvenal Galeno da Costa e Silva131,
124 RIOS, Renato de Mesquita. João Brígido e sua escrita de uma história para o Ceará: narrativa, identidade e
estilo (1859-1919) Dissertação (Mestrado em História). Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza, 2013, p. 36.
João Brígido explicou o motivo para atuar na advocacia da seguinte forma: “[...] à falta de advogado nos sertões,
para os muitos processos que os caranguejos me forjicavam, entrei para o ofício”. Segundo ele, a decisão rendeu
“muito dinheiro, que queimava em eleições”, comprando votos: “Sempre no fim de uma eleição, os votantes me
deixavam limpos; até parte da roupa tinham conduzido”. BRÍGIDO. Apud. CARVALHO, op. cit., 1969, p. 38-39. 125 Comentando a entrada para o IHGB, João Brígido, afirmou: era “matuto ainda e professor primário, isto aos 33
anos, quando era uma honra muito ambicionada pela gente mais letrada do Brasil”. BRÍGIDO apud. CARVALHO,
op. cit., 1969, p. 126 PAIVA, op. cit., 1979, p. 105. 127 CARVALHO, op. cit., 1969, p. 3. 128 A Constituição, n. 104, 15 nov. 1882, p. 1. 129 Do clã Alencar, foi deputado provincial (1835-1837) e geral três vezes. PAIVA, op. cit., 1979, p. 86. 130 Dirigiu o Colégio de Educandos (Fortaleza) em fins dos anos 1850. Pedro II¸ n. 1701, 18 jul. 1857, p. 2. 131 Nasceu em Fortaleza (1836). Primo de Capistrano de Abreu, Clóvis Bevilaqua e Rodolfo Teófilo, outros
reconhecidos intelectuais cearenses do oitocentos. No Rio de Janeiro, travou amizade com Francisco Paula Brito,
convivendo com literatos e publicando os primeiros poemas na Marmota Fluminense. Antes de regressar ao Ceará,
publicou o livro “Prelúdios” (1856). Foi deputado provincial (1858-1859). Proprietário rural, produzia café na
Serra da Aratanha, onde morou até 1886. Mudando para Fortaleza, exerceu o cargo de bibliotecário público. Foi
26
também atuou no jornal. Há passagem na história d’O Commercial reveladora sobre como os
órgãos de imprensa cearenses sofriam pressões pelas críticas neles veiculadas. Se os redatores
eram, no geral, poupados de atos de violência e perseguição, os tipógrafos, cuja função era
essencial para o funcionamento dos jornais, tornaram-se os alvos principais de reprimendas.
Haja vista a existência de poucas pessoas na província com domínio do ofício, o recrutamento
militar forçado de tipógrafos foi comumente acionado pelas autoridades provinciais para
“impedir a circulação de órgãos oposicionistas”132. Como a tipografia de Francisco Luiz de
Vasconcelos imprimia diversas gazetas, um dos recrutamentos a atingiu. Guilherme Studart, o
primeiro a narrar o caso dos impressores recrutados, afirmou que a circulação d’O Commercial
não foi interrompida na ocasião: a esposa e cunhada de Francisco Luiz de Vasconcelos
assumiram as funções na tipografia133.
Nos primeiros anos de circulação, O Commercial apresentava-se, na capa, como “jornal
dos interesses comerciais, agrícolas e industriais”134. Em 1859, assumiu mais claramente um
posicionamento político, passando a afirmar-se “jornal dos interesses comerciais, agrícolas e
político liberal conciliador”135. No começo dos anos 1860, a assinatura anual do periódico
custava 6$000 (seis mil réis), tinha quatro páginas, diagramadas em três colunas verticais, e
circulava às sextas-feiras.
No ano de 1862, O Commercial foi uma das primeiras folhas a tomar o lado do
presidente José Bento da Cunha Figueiredo Júnior no conflito deste com o Pedro II. A postura
do jornal de Francisco Luiz de Vasconcellos rendeu benefícios: em julho daquele ano, o
empresário ganhou do governo provincial o contrato para publicar o expediente oficial, até
então impresso no Pedro II. Assim, O Commercial mudou de nome, passando a denominar-se
Gazeta Official136. O novo periódico saía duas vezes por semana, nas quartas e sábados.
A vinculação da Gazeta Official com a pessoa do presidente era notória. O Pedro II
chegou a afirmar ter Figueiredo Júnior virado um dos redatores dela137. A simbiose do jornal
de Francisco Luiz de Vasconcelos com o presidente rendeu novas vantagens ao primeiro: a ele
Cavaleiro da Ordem de Cristo. Escreveu diversas obras, sendo pioneiro nos estudos folclóricos no Ceará. Faleceu
em 1931. STUDART, op. cit., 1913, p. 230-235; PAIVA, op. cit., 1979, p. 97. 132 NOBRE, op. cit., 2006, p. 95. 133 STUDART, op. cit., 1924, p. 99. 134 O Commercial, n. 47, 21 fev. 1854, p. 1. 135 O Commercial, n. 354, 1 jul. 1859, p. 1. 136 Gazeta Official, n. p. 1, 16 jul. 1862, p. 1. 137 Pedro II, n. 179, 07 ago. 1862, p, 1
27
foram concedidos os contratos de construção do matadouro público de Fortaleza138 e de reforma
do Lazareto da Lagoa Funda, assinados em fins de 1862139.
O último jornal com destaque na tese será O Sol. Autodenominado “jornal literário,
político e crítico”, foi impresso entre 1856 e 1865, nas seguintes oficinas: Tipografia
Brasiliense, Tipografia Brasileira de Paiva e Cia. e Tipografia Americana140. A impressão
esteve a cargo de Manoel Félix Nogueira141. O Sol era propriedade de Pedro Pereira da Silva
Guimarães, também seu redator. Nascido em Aracati (1814), faleceu na capital do Ceará (1876).
Formou-se em ciências jurídicas na academia de Olinda (1837)142, na mesma turma de Miguel
Fernandes Vieira. Retornando ao Ceará, passou a compor o Partido Conservador, escrevendo
no Dezesseis de Dezembro, iniciando profícua carreira na imprensa143.
Para além dos periódicos, Pedro Guimarães atuou como promotor, juiz municipal e de
paz em Fortaleza, bem como exerceu as mesmas funções em Cintra e Vigia, no Pará, nos anos
1840. Foi, ainda, lente de geometria do Liceu de Fortaleza. Na política, os maiores feitos foram
as eleições para cinco legislaturas na Assembleia Provincial e duas deputações gerais144. Como
deputado na Corte, destacou-se por apresentar projeto, na legislatura de 1850-1852, “de
emancipação do ventre escravo, o qual foi rejeitado como uma extravagância e que anos depois
constituiu a lei Rio Branco”145.
No ano 1856, as relações de Pedro Pereira da Silva Guimarães com núcleo do Partido
Conservador no Ceará – liderado pelo ex-colega de faculdade, Miguel Fernandes Vieira,
proprietário do Pedro II – azedaram. Segundo O Cearense, o motivo do agastamento foi a
recusa de apoio à candidatura de Pedro Guimarães a deputado geral em 1856146, primeiro pleito
realizado conforme o sistema distrital. Ele acabou derrotado na eleição. Em novembro daquele
ano, o Pedro II atacou o ex-aliado, acusando-o de, na condição de juiz de paz e presidente da
138 MENEZES, Antonio Bezerra de. Descrição da cidade de Fortaleza. Revista do Instituto do Ceará. Ano IX.
Fortaleza, 1895, p. 186. 139 Gazeta Official, n. 48, 7 jan. 1863, p. 2. 140 STUDART, op. cit., 1924, p. 100. 141 O jornal A Constituição publicou o necrológio do impressor: “No lugar Bajara, sucumbiu no dia 22 do corrente,
o Sr. Manoel Félix Nogueira, um dos artistas tipógrafos mais velhos desta cidade [de Fortaleza] e que há muitos
anos vivia em residência no interior da província, e dedicava-se ao ensino Primário. Contava 70 anos de idade.
Paz a sua alma e pêsames à sua família”. A Constituição, n. 163, 29 set. 1888, p. 2. 142 VASCONCELLOS, Barão de. Pedro Pereira da Silva Guimarães (documentos históricos). Revista do Instituto
do Ceará. Tomo XX. Fortaleza, 1906, p. 187-189. 143 Em 1838, fundou O Popular. A partir de 1841, passou a escrever no Pedro II. No ano de 1946, fundou O
Periquito. Em 1855, escreveu, n’O Commercial, “folhetins muito jocosos”, intitulados “Alforjes”. Por fim, de
1856-1865, esteve à frente d’O Sol. STUDART, op. cit., 1915, p. 42. 144 PAIVA, op. cit., 1979, p. 100. 145 BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. Diccionario bibliographico Brazileiro. Vol. 7. Rio de Janeiro:
Imprensa Nacional, 1902, p. 62. 146 O Cearense, n. 31, 16 abr. 1876, p. 2. A informação foi publicada em artigo sobre o falecimento de Pedro
Pereira da Silva Guimarães.
28
mesa eleitoral de Fortaleza, tentar intervir na eleição para a câmara municipal e juizado de paz,
no intuito de favorecer aliados. Pari passu, Pedro Guimarães tinha encaminhado ofício à
presidência do Ceará denunciando ter sido a urna do pleito violada147.
Destarte, não foi um acaso ter, em setembro de 1856, Pedro Guimarães fundado O Sol:
o periódico marcava a ruptura de seu proprietário com os “carcarás”. A capa do jornal –
encabeçada pela representação de um sol antropomorfo, com rosto sereno e raios luminosos a
espraiarem-se – trazia simbólica epígrafe em latim, cuja tradução aparecia ao lado:
Do cidadão a liberdade
Este celeste Tesouro
Não usurpam os mandões
Não se vende a peso de ouro148.
Quando da epidemia do cólera no Ceará, O Sol era reconhecido como jornal liberal149,
apesar de não se anunciar assim na capa, como faziam O Cearense, O Commercial e O Araripe.
O Sol circulava aos domingos. Tinha quatro páginas, diagramadas em duas colunas verticais, e
a assinatura quadrimestral custava 2$000 (dois mil réis). Tendo em vista o rompimento de Pedro
Pereira da Silva Guimarães com os “carcarás” do Pedro II, em 1856, o cólera também foi
politizado nas páginas d’O Sol. O semanário aliou-se aos jornais liberais – O Cearense, O
Araripe e O Commercial – na detração à política editorial do Pedro II, sob redação de Manoel
Franco Fernandes Vieira. Assim, assumiu a defesa da presidência de Figueiredo Júnior e de
suas ações frente à crise epidêmica, contestando a isenção e imparcialidade da folha
conservadora do Ceará. Por outro lado, O Sol também usou a epidemia para defender
recompensas a personalidades do agrado da redação, ou que, naquela conjuntura, estavam em
atrito com os Fernandes Vieira, como ocorreu na eleição ao senado em 1863.
Além dos cinco jornais apresentados, outros periódicos brasileiros serão usados,
pontualmente, ao longo da tese, no intuito de oferecer maiores esclarecimentos a questões
147 Pedro II, n. 1634, 22 nov. 1856, p. 3-4. 148 O Sol, n. 5, 16 set. 1856, p. 1. Ao dotar O Sol de linha editorial crítica, sarcástica e implacável com os inimigos,
Pedro Guimarães não deixou de sofrer sério revés. Segundo Geraldo Nobre, o redator, em 1864, foi “condenado a
oito meses de prisão, por calúnias impressas contra a Câmara Municipal de Fortaleza”. Com a posse de novos
vereadores, no início de 1865, a instituição retirou o processo. Todavia, a desistência da ação não foi gratuita,
tendo sério ônus: “o ardoroso jornalista teve que suspender” a circulação d’O Sol. NOBRE, op. cit., 2006, p. 103. 149 Em ofício enviado ao Marquês de Olinda, o presidente Figueiredo Júnior incluía O Sol entre os jornais liberais
que apoiavam seu governo na briga contra o Pedro II: “A prova disto é que bem longe de poder alegar em seu
favor uma só concessão indevida de minha parte, o partido liberal não se mostra descontente, ao pano que todos
os homens que conheço do partido conservador, à exceção dos Vieiras e seus aderentes, não cessam de dar-me as
provas mais significativas de adesão, como se vê das folhas que se publicam nesta cidade e no interior da Província.
O ‘Cearense’, o ‘Sol’, o ‘Artista’, o ‘Araripe’, o ‘Jornal do Icó’ e o ‘Aracaty’ são liberais”. ANRJ. Ofício
confidencial. 11 out. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
29
específicas do recorte temático e temporal ou sobre indivíduos citados no texto. Os jornais
também servirão para visualização da circulação das notícias entre o Ceará e demais províncias
entre 1862 e 1863.
Ao tomar a imprensa como fonte central da pesquisa, acompanho tendência comum em
grande parte dos estudos dedicados ao cólera, no Brasil e no mundo. Para Nikelen Witter, a
maioria dos estudos sobre o cólera no século XIX, utilizou como fonte de pesquisa os artigos
publicados em jornais da época150. As pesquisas sobre o cólera no Ceará corroboram a
afirmação. Estudando a veiculação dos temas saúde e doença na imprensa cearense, da segunda
metade do século XIX, Francisco Carlos Jacinto Barbosa afirmou terem eles ganhado as páginas
dos jornais da província a partir da década de 1850, “virando notícia” devido ao estourar de
grandes epidemias de febre amarela, varíola e cólera151.
Tratando do cólera na América Latina, James Trostle, afirmou: “Surtos de doenças
quase sempre merecem a atenção dos jornais e são temas de grande preocupação do público.
Este, por sinal, lê muitas histórias sensacionalistas de doenças e heroísmos, reais e imaginários”.
Para os pesquisadores, portanto, a imprensa torna-se interessante fonte para a compreensão
cultural do fenômeno epidêmico: “Os surtos e as notícias que eles originam também dão ao
público uma chance de ver a cultura sendo criada e transmitida [...]”152.
Além das fontes impressas, um conjunto de documentos manuscritos ocupará parte
importante da tese: a correspondência ativa da presidência da província do Ceará com o
Ministério dos Negócios do Império, então chefiado pelo Marquês de Olinda. Tais documentos
integram os acervos do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro e do Instituto Histórico e
Geográfico Brasileiro. São fontes riquíssimas a elucidar várias questões a respeito dos conflitos
políticos vindos à tona quando da epidemia. Apontam, ainda, para os bastidores das relações
políticas entre o Ceará e a Corte. Nestes termos, as fontes manuscritas usadas na tese não só
ampliam a compreensão do que foi publicado na imprensa cearense, como também trazem
elementos novos para a compreensão dos jogos políticos entre 1862 e 1863.
Documentos manuscritos e impressos de outras instituições, como Biblioteca Nacional
do Rio de Janeiro, Departamento Histórico Diocesano Padre Antônio Gomes de Araújo do
Crato, Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico de Pernambuco e Instituto Cultural do
Cariri, também aparecerão ao longo da tese.
150 WITTER, op. cit., 2007, p. 57. 151 BARBOSA, Francisco Carlos Jacinto. As doenças viram notícia: imprensa e epidemias na segunda metade do
século XIX. In. NASCIMENTO, Dilene Raimundo do & CARVALHO, Diana Maul de (Orgs.). Uma história
brasileira das doenças. Brasília: Paralelo 15, 2004, p. 76-90. 152 TROSTLE, James A. Epidemiologia e cultura. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2013, p. 127-128.
30
Uma última informação sobre as fontes: nas citações presentes na tese, optei por
atualizar a ortografia, mantendo a pontuação original, como forma de tornar a leitura mais
dinâmica e acessível aos leitores
Estrutura da tese
A tese está organizada em quatro capítulos. No primeiro, intitulado “A conjuntura
política e epidêmica”, os objetivos centrais são: oferecer um panorama geral sobre a política
Imperial no começo dos anos 1860, demonstrando as especificidades político-partidárias do
período, especialmente a respeito da chamada “Liga Progressista”; discorrer sobre a
administração provincial e a formação dos partidos no Ceará, de modo a melhor contextualizar
as disputas locais e a relação com as questões gestadas na Corte; e expor os efeitos traumáticos
do cólera sobre o cotidiano do Ceará de 1862, a fazerem da epidemia o assunto mais relevante
nas disputas políticas daquele ano.
No segundo capítulo, de título “Presidir na epidemia: o governo da província e o cólera
no Ceará”, evidencio como a doença repercutiu na administração do Presidente da Província do
Ceará, José Bento da Cunha Figueiredo Júnior, tomando como objeto central a cobertura dada
pelo Pedro II ao cólera, assumindo o posto de opositor máximo ao chefe do executivo cearense
e os motivos particulares por trás da ofensiva. Analiso, ainda, a ação de quatro jornais (O
Cearense, Gazeta Official, O Araripe e O Sol) que fizeram das suas páginas o espaço de defesa
do presidente e de exaltação das suas ações no socorro às localidades vitimadas pelo cólera,
como forma de confrontar o Pedro II e buscar benesses junto ao governo provincial. A reação
do presidente às acusações de ter sido irresponsável no socorro aos vitimados pela epidemia
também é analisada no capítulo, tendo como base a correspondência oficial e privada do mesmo
com o Marquês de Olinda, então Presidente do Gabinete de Ministros e Ministro dos Negócios
do Império. Por fim, aponto para como as polêmicas veiculadas pela imprensa, a respeito da
epidemia, não deixaram de causar desconfianças na Corte, ao ponto da exoneração do
presidente do Ceará ter sido ventilada pelas maiores autoridades do Império.
O capítulo “Autoridades policiais, comissões de socorros e disputas no tempo do
cólera” aprofunda a discussão sobre os usos políticos da epidemia, ao demonstrar como a ação
de delegados foi alvo de elogios ou críticas na imprensa, sendo tratados de acordo com as
afinidades político-partidárias de cada órgão. O capítulo trata, ainda, das comissões de socorro
montadas nas localidades da província, por determinação da Presidência do Ceará, para prestar
assistência durante a epidemia. Na maioria das vezes, o presidente compunha as comissões a
31
partir da nomeação de autoridades residentes nas localidades, proprietários rurais,
comerciantes, médicos etc. Ter o nome indicado para tais juntas denotava status, prestígio
social e oportunidades políticas. Por isso, a ação dos comissionados também obteve amplo
destaque na imprensa.
O quarto capítulo, intitulado “À espera dos prêmios: o pós-cólera no Ceará”, analisa as
expectativas das pessoas que teriam se destacado pelos serviços prestados durante a epidemia,
indicando o papel do presidente da província na definição dos possíveis agraciados com ordens
honoríficas. Não por acaso, entre os indicados, Figueiredo Júnior tratou de incluir indivíduos
que usaram a imprensa para defender o governo provincial dos ataques do Pedro II. O último
tópico do capítulo centra-se na observação do cenário político do Ceará em 1863, reconfigurado
devido a fatores externos e internos. A eleição ao Senado naquele ano é usada para exemplificar
como os rearranjos políticos, ocorridos durante a epidemia do cólera e por conta das mudanças
políticas promovidas pela Corte, levaram os liberais cearenses a uma nova posição na província.
Coincidentemente, ou não, o segmento partidário a contrapor-se ao presidente José Bento da
Cunha Figueiredo Júnior durante a epidemia – os Fernandes Vieira, conservadores, donos do
Pedro II – foi o maior derrotado da conjuntura.
Adendo introdutório
A escrita desta tese estava, praticamente, terminada quando uma pandemia atingiu o
mundo. Com minhas ideias postas na pesquisa sobre o cólera no Ceará do oitocentos, vi-me
acompanhando como a Covid-19 também tem sido apropriada politicamente em 2020. No
Brasil, a politização da pandemia é notória: a negação pertinaz da gravidade da crise; os choques
entre autoridades federais, estaduais e municipais; as pressões econômicas sobre o isolamento
social e o afrouxamento do mesmo; os processos de impeachment envolvendo governadores
acusados de desviar recursos da saúde; as propagandas oficiais sobre remédios que prometem
ser panaceias, mas não têm validade científica; a tomada do Ministério da Saúde por militares;
o debate sobre o adiamento das eleições municipais; os efeitos das políticas de socorro sobre a
popularidade de governantes; a celeuma a respeito das vacinas; os choques entre as notícias da
imprensa e as fake News; a busca por favorecimentos pessoais e políticos em meio à crise
humanitária. Muitos outros exemplos podiam ser dados. Guardadas as especificidades, no
tempo e espaço, de cada epidemia, a minha tese acabou ganhando uma atualidade inesperada.
Espero que ela possa contribuir, minimamente, para a compreensão de como os eventos
epidêmicos e a política se ligam de forma intensa e complexa.
32
CAPÍTULO 1 - A CONJUNTURA POLÍTICA E EPIDÊMICA
Em início de maio de 1862, José Bento da Cunha Figueiredo Júnior (1833-1885)
desembarcou no porto de Fortaleza, tomando posse no cargo de Presidente da Província do
Ceará no dia 5 do referido mês153. Bacharel pela Faculdade de Direito do Recife, formado na
turma de 1855, assumia, pela segunda vez, o posto máximo do executivo provincial: entre 1860
e 1861, governou o Rio Grande do Norte. Na carreira política, ocuparia, ainda, as presidências
de duas outras províncias: Alagoas (1868-1871) – onde foi um dos fundadores do Instituto
Arqueológico e Geográfico Alagoano154 – e Maranhão (1872). Como deputado geral, por
Pernambuco, seria eleito para duas legislaturas, em 1872-1875 e 1878155, sendo a última
dissolvida durante a primeira sessão.
Como era comum entre as elites políticas imperiais, o jovem bacharel seguia os passos
do pai, José Bento da Cunha Figueiredo (1808-1891), de vasto currículo: doutor em direito pelo
curso jurídico de Olinda, onde tornou-se professor; membro do Partido Conservador, foi
presidente das províncias de Alagoas (1849-1853), Pernambuco (1853-1856), Minas Gerais
(1861-1862) e Pará (1868-1869); deputado e senador; Conselheiro do Estado; e Ministro dos
Negócios do Império, no Gabinete de 25 de junho de 1875, liderado por Caxias156. Por seus
serviços políticos, foi agraciado como grande dignitário da Ordem da Rosa e com o título de
Visconde do Bom Conselho, no ano de 1888157.
Tratando da política, Bourdieu afirmou: a não posse dos meios de produção políticos
entre a maioria que compõe uma sociedade é correlata ou consecutiva à concentração desses
meios nas mãos de profissionais com competências específicas necessárias ao jogo político. A
posse das competências define as probabilidades, ou não, de sucesso no jogo158. Bacharel e
153 ANRJ. Ofício s/n. 5 mai.1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 154 Durante a estada enquanto presidente de Alagoas, organizou viagens de reconhecimento ao interior da
província. As expedições produziram relatórios – redigidos pelos secretários Olímpio Euzébio de Arroxelas
Galvão e José Antônio de Magalhães Bastos – e fotografias – de autoria de Abílio Coutinho – de relevante valor
documental para a história de Alagoas. Posteriormente, o material foi publicado na forma de livro. Ver:
INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE ALAGOAS. Viagens do Excelentíssimo Senhor Doutor José
Bento da Cunha Figueiredo Júnior a cidade de São Miguel e vila de Coruripe, as comarcas de Camaragibe e
Porto Calvo, Penedo e Mata Grande, ao Rio São Francisco até Piranhas e as comarcas de Imperatriz, Anadia e
Atalaia. Maceió-AL: Grafmarques, 2010. 155 BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. Dicionário bibliográfico brasileiro. Vol. 4. Rio de Janeiro:
Imprensa Nacional, 1898, p. 337; JAVARI, Barão de. Organizações e programas ministeriais. Rio de Janeiro:
Imprensa Nacional, 1889, p. 355-362. 156 JAVARI, op. cit., 1889, p. 171. 157 BLAKE, op. cit., 1898, p. 336. 158 BOURDIEU, op. cit., 1989, p. 169.
33
filho de personalidade com relações estabelecidas na Corte, José Bento da Cunha Figueiredo
Júnior possuía alguns dotes consideráveis para os que ambicionavam seguir no jogo da política
oitocentista. A educação superior, mormente na área do direito, era importante elemento
unificador da elite política imperial: os formados nos cursos jurídicos assumiram dois terços
das vagas de senadores e ministros durante o Império159. Os bacharéis formados em Coimbra,
base da administração portuguesa e de suas colônias, cumpriram papel central nos lances da
Independência, Primeiro Reinado e Regências, sendo acompanhados, por novas gerações
advindas dos cursos jurídicos criados em Pernambuco e São Paulo, em 1827. Formando uma
“ilha de letrados em um mar de analfabetos”160, as gerações de bacharéis atuaram no longo e
conflituoso processo de construção do Estado brasileiro. Pari passu, disputaram intensamente
os cargos na administração pública – especialmente os da magistratura –, bem como os postos
no legislativo e executivo. Nesta disputa, largavam na frente os bacharéis nascidos no seio de
lares abastados com laços familiares, econômicos e políticos estabelecidos em diferentes níveis
nas províncias e na Corte, o que ajuda a entender a ascensão de Figueiredo Júnior.
Seus 29 anos de idade, quando da nomeação para a presidência do Ceará, denotam como
subiu cedo na carreira, alavancada, certamente, pela influência paterna. Formado em 1855,
Figueiredo Júnior assumiu a administração do Rio Grande do Norte apenas cinco anos depois.
O curto intervalo entre a formação superior e a posse no cargo do executivo provincial fica mais
evidente quando se considera que a média de idade dos presidentes de província, na década de
1860, foi de 41 anos161. A primeira nomeação como mandatário provincial de um político
ocorria, geralmente, por volta dos 37 anos. A maior parte dos neófitos eram encaminhados para
províncias pequenas, como Piauí, Alagoas, Rio Grande do Norte, Ceará, entre outras. Quanto
mais importante política e economicamente fosse a província, maior era a faixa etária do
presidente: a média de Pernambuco e Pará, girava entre 42 e 43 anos; Rio de Janeiro e Minas
Gerais, 46; cabendo à Bahia a média de 47 anos162, maior registrada na história do Império163.
159 BARMAN, Roderick J. A formação dos grupos dirigentes políticos do Segundo Reinado: a aplicação da
prosopografia e dos métodos quantitativos à história do Brasil Imperial. Anais do Congresso de História do 2º
Reinado (1975) - Comissão de História Política e Administrativa. Vol. 2. Rio de Janeiro: IGHB, 1984, p. 62. 160 CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem/Teatro de Sombras. 4ª ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2008, p. 65. 161 BARMAN, op. cit., 1984, p. 69. 162 Idem, p. 69-70. 163 O caso baiano, provavelmente, pode ser explicado pela proeminência dos políticos daquela província no
governo central: dos 36 ministérios estabelecidos entre 1840 e 1889, apenas 5 não tinham representantes baianos.
Outro indício da força dos políticos da província está no número de vezes que baianos ocuparam a presidência do
conselho de ministros: 11 vezes num total de 29 gabinetes. Como os presidentes eram nomeados pelos gabinetes,
fica patente a preferências por políticos mais experientes para ocupar o executivo provincial com sede em Salvador.
Ver: CARVALHO, op. cit., p. 218-219.
34
Era de praxe, ainda, salvo raras exceções, que nas províncias relevantes os nomeados fossem
políticos mais experimentados, de preferência parlamentares da câmara temporária164.
Destarte, as nomeações de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior como presidente de
província ocorreram relativamente cedo. Malgrado isto, foram circunscritas espacialmente a
quatro províncias de menor projeção política, todas localizadas no norte do Império. Em
Pernambuco e Minas Gerais – não por acaso províncias em que o pai foi presidente – ocupou
apenas o cargo de secretário de governo165. Temporalmente, as experiências de Figueiredo
Júnior no cargo de presidente de província foram anteriores à primeira eleição dele para a
câmara provisória, em 1872, aos 39 anos. A presidência de uma província era mais cargo
político que administrativo. Além do bom salário e experiências administrativas, dava ao
presidente a oportunidade de acelerar a carreira, mediante a possibilidade de eleição para a
Câmara Geral, que poderia facilitar aspirações maiores, como vagas nos ministérios e
Senado166.
Após deixar o posto de deputado, com a dissolução da Câmara de 1878, Figueiredo
Júnior não governou mais nenhuma província, nem ascendeu em cargos políticos e legislativos.
Fora dos postos mais vistosos do parlamento e executivo, e por isso melhor documentados,
torna-se mais difícil mapear sua trajetória. No entanto, através de notas divulgadas na imprensa
é possível confirmar que entre os anos de 1878 e 1885, ele ocupou colocações burocráticas na
Secretaria de Estado da Justiça, chegando à diretoria geral dela167. José Bento da Cunha
Figueiredo Júnior possuía, portanto, cargo a lhe garantir relação direta com o Ministro da
Justiça, personagem estratégica da engrenagem imperial, tendo em vista o centralismo judicial
e policial do Segundo Reinado, com repercussão direta em todas as províncias. Além disso, ao
longo da vida pública, Figueiredo Júnior granjeara honrarias muito ambicionadas pela
sociedade imperial: o título de conselheiro do Imperador168, o hábito de cavaleiro da Ordem de
Cristo e a dignidade de comendador da Ordem da Rosa.
A proximidade com o poder e as distinções auferidas anunciavam mais oportunidades
de ascensão, não fosse o imprevisto a marcar, indelevelmente, a existência humana: aos 52
164 CÂNDIDO, Antônio. Um funcionário da monarquia: ensaio sobre o segundo escalão. 2ª ed. Rio de Janeiro:
Ouro Sobre o Azul, 2007, p. 43. 165 Jornal do Commercio, n. 216, 4 ago. 1885, p. 2. 166 CARVALHO, op. cit., 2008, p. 123. 167Jornal do Recife, n. 52, 3 de março de 1878, p. 1; Diário de Pernambuco, n. 249, 28 out. 1884, p. 1. 168 Conforme explica Antônio Cândido, o título de conselheiro em questão não deve ser confundido com o do
Conselho de Estado. O último era restritíssimo, composto apenas por doze membros, com mesmo número de
suplentes, exercendo funções efetivas no assessoramento do Imperador, como, por exemplo, na tomada de decisão
sobre exoneração de ministro e dissolução da câmara. O título de conselheiro dado a Figueiredo Júnior era
puramente honorífico, distribuído, no geral, para homens que tivessem ocupado as funções de juízes do supremo
tribunal de justiça, ministros de Estado, bispos, presidentes de províncias etc. CÂNDIDO, op. cit., 2007, p. 36.
35
anos, pelas 5 horas da manhã do dia 3 de agosto de 1885, faleceu Figueiredo Júnior, na cidade
de Lorena169. Não há indicação do que fazia no interior de São Paulo, fora da Corte, onde
exercia a chefia da secretaria do Ministério da Justiça. Chegada a notícia, o ministro suspendeu
os trabalhos e oito dias de luto foram decretados pelos empregados da repartição. A partir do
anúncio da missa de sétimo dia, sabe-se ter morrido sem possuir esposa ou filhos, deixando o
genitor, irmã e cunhado enlutados170.
Na referida missa, celebrada na Matriz do Santíssimo Sacramento do Rio de Janeiro,
houve mostras do prestígio alcançado pelo morto e seus familiares. Estiveram presentes: “o
Presidente do conselho de ministros [José Antônio Saraiva], os ministros da Justiça [Afonso
Augusto Moreira Pena] e da Marinha [Luís Felipe de Sousa Leão], grande número de senadores,
deputados, membros do supremo tribunal de justiça, magistrados de 1ª instância, outros
funcionários civis e militares e pessoas gradas, acompanhadas de suas famílias”171. Os ritos
fúnebres refletiam, assim, o espaço social ocupado pela família do finado.
Mas, quando em 5 de maio de 1862, José Bento da Cunha Figueiredo Júnior assumiu a
presidência do Ceará, bem longe estava da campa: era jovem, tinha boas relações e apenas
iniciava a carreira. Na trajetória política dele, 1862 mostrou-se desafio não muito fácil. No
cenário nacional, o ano foi agitado. A instabilidade rondava as relações entre o parlamento e o
poder executivo, e, em curto espaço de tempo, deu-se sucessão atabalhoada de dois gabinetes.
Tais conflitos não deixariam de se refletir nas disputas do Ceará, agravadas pelas cenas
catastróficas do cólera, nas quais o presidente ocupava espaço estratégico. Como chefe do
executivo, tinha função de coordenar os socorros, prestando conta, ao ministério sobre as
decisões administrativas tomadas durante a crise, em meio ao número assombroso de mortes
por todo Ceará. Os usos políticos da doença colocavam a presidência em situação delicada,
sendo alvo de disputa entre jornais de matizes conservadoras e liberais.
Neste capítulo, farei apanhado da conjuntura política nacional entre os anos 1850 e
começo de 1860 e de seu reflexo no Ceará, apontando as condições nas quais José Bento da
Cunha Figueiredo Júnior foi alçado ao cargo de presidente da província. No último tópico,
apresento o cenário epidêmico, demonstrando as cenas de desespero protagonizadas pela
população acossada pela ameaça coletiva de morte. A visualização dos efeitos do cólera sobre
o Ceará será fundamental para a compreensão de como a epidemia foi alçada ao cume dos
debates políticos provinciais, marcando, indelevelmente, o governo de Figueiredo Júnior.
169 Jornal do Commercio, n. 216, 4 ago. 1885, p. 2. 170 Jornal do Commercio, n. 221, 10 ago. 1885, p. 5 171 Jornal do Commercio, n. 222, 11 ago. 1885, p. 2.
36
1.1 - A política nacional entre a Conciliação e a Liga
A instabilidade política de 1862 não foi ponto fora da curva na trajetória do Segundo
Reinado. Para Sérgio Buarque de Holanda, a estabilidade administrativa foi exceção, tendo em
vista os “abalos causados insistentemente no país pela rotação caprichosa dos Governos, com
o cortejo necessário das demissões ou remoções em massa de empregados públicos”, pondo por
terra projetos e ações que não dessem resultados imediatos. Os presidentes de província eram
exemplos claros disto: nomeados na Corte, passavam curtas temporadas no cargo, muitas vezes
abarcando apenas o tempo necessário para favorecer as orientações partidárias do gabinete no
poder. Usavam as nomeações para os cargos policiais e postos da Guarda Nacional, o
recrutamento forçado, bem como a sinalização positiva sobre as pretensões de aliados nas
cidades e vilas, como forma de afastar opositores e garantir resultados eleitorais alvissareiros
para o grupo político a que serviam172.
No panorama de inconstância, uma peça importante do jogo político atuava sem abalos:
o Poder Moderador. A ingerência ativa do Imperador nos rumos do governo foi marco do
processo de centralização promovido no pós-maioridade, sendo que ao longo dos anos tornou-
se alvo de contestação e desgaste crescentes do regime. Conforme, Sérgio Buarque de Holanda,
a Constituição “real e legal” não vedava ao Chefe do Estado a participação no jogo partidário,
afinal, garantia ao soberano “nomear e demitir livremente ministros”, bem como dissolver a
“Câmara dos Deputados, nos casos, em que exigir a salvação do Estado”, convocando, na
sequência, nova eleição173. Todavia, argumenta: as convenções políticas, fortemente presentes
nos debates parlamentares, instituíram uma “constituição não escrita” ou “invisível”, com falsos
traços de parlamentarismo inglês, não presentes no texto da carta outorgada em 1824174.
Pedro II usava de forma nada parcimoniosa suas prerrogativas. Se, ao menos abertamente,
não podia tomar lado político, pois o poder privativo pairava acima dos partidos, e buscasse,
em algumas ocasiões, inspiração em códigos do parlamentarismo inglês, na prática, não
aceitava que lhe restringissem à posição de “mero espectador dos acontecimentos”, como
sinalizavam alguns políticos liberais. Como chefe do executivo, apetecia “ser mesmo o supremo
inspetor da coisa pública”175.
172 HOLANDA, Sérgio Buarque de. O Brasil Monárquico: do Império à República 10ª ed. Rio de Janeiro, 2012
(História Geral da Civilização Brasileira t.2, v.7), p. 15. 173 NOGUEIRA, Octávio (Org.). 1824. Coleção Constituições Brasileiras. Vol. 1. 3ª ed. Brasília: Coordenação de
Edições Técnicas/Senado Federal, 2015, p. 76. 174 HOLANDA, op. cit., 2012, p. 28-29. 175 Idem, p. 22.
37
Demonstrando aversão às proposições políticas extremadas, sendo “mais inclinado a
cordura do que a afoitezas”176, Pedro II resolvia, ao menos temporariamente, melindres
manobrando na composição dos ministérios e no uso da dissolução da câmara dos deputados.
Liberais e Conservadores esperavam o momento conveniente de ver o dedo do soberano ser
apontado para si: “Podiam, sim, reclamar contra uma interpretação abusiva da Carta de 24, mas
só o haviam de fazer quando relegados à oposição”177. Por meio da escolha do presidente do
Conselho de Ministros, criado em 1847, elemento da fachada parlamentarista, o Imperador
encetava o revezamento dos partidos, com consequências estendidas pelo território nacional.
O período compreendido entre os anos 1850 e 1860 abrange capítulo interessante da
política imperial, no qual foram experimentadas medidas para minorar as tensões e disputas
entre as “parcialidades”178. O fim da década de 1840 foi marcado pela predominância dos
“saquaremas”. Para Ilmar Rohloff de Mattos, ao redor de um grupo de proprietários rurais da
província do Rio de Janeiro, que se afirmou enquanto classe dirigente ao longo do final das
Regências, encetou-se a hegemonia política entre os conservadores, obtendo ressonância pelo
território imperial, sacodido por revoltas políticas e sociais. Por meio da busca do consenso e,
primordialmente, pelo uso da força, tal grupo conseguiu atrair os liberais para o princípio da
“ordem e civilização” que ajuizavam ser o modelo adequado para o Império brasileiro. Para
Mattos, estabeleceu-se, assim, um “tempo saquarema”, entre o fim das Regências e o começo
dos anos 1860, quando houve a consolidação do Estado sobre a orientação dos
conservadores179.
Com o fracasso das revoltas “luzias”, nas quais alguns dos proprietários rurais mais ricos
de Minas Gerais e São Paulo rebelaram-se por conta da dissolução da câmara liberal de 1842,
e com o desbaratar da Praieira, em Pernambuco, no ano de 1848, os “saquaremas” formaram
governos em que tinham o apoio pleno do Conselho de Estado e da câmara, formada
176 HOLANDA, op. cit., 2012, p. 29. 177 Idem, p. 29. 178 O termo “parcialidade” era usado, comumente, nas fontes da época para tratar dos partidos políticos. Entre os
sentidos da palavra “partido”, Raphael Bluteau indicava: “parcialidade, facção”; “Lançar-se ou acoitar-se ao
partido de alguém”; e “Seguir o partido, ou as partes de alguém”. Já para “parcialidade”, o dicionarista apresentava
as acepções: “Bando”; “Empenho em seguir as partes de alguém”; e “Partido”. Portanto, a expressão
“parcialidade”, usada ao longo da tese, funcionará como sinônimo de “partido”. Ver: BLUTEAU, Rafael.
Vocabulario portuguez, e latino, aulico, anatomico, architectonico, bellico, botanico ...: autorizado com exemplos
dos melhores escritores portuguezes, e latinos; e offerecido a El Rey de Portugal D. Joaõ V. Coimbra, Collegio
das Artes da Companhia de Jesus: Lisboa, Officina de Pascoal da Sylva, 1728. Disponível no site:
https://www.bbm.usp.br/pt-br/dicionarios/. Último acesso a 18 out. 2019. 179 MATTOS, Ilmar Rohloff de. O tempo saquarema: a formação do Estado Imperial. 6ª ed. São Paulo: Hucitec
Editora, 2011, p. 296.
38
hegemonicamente por deputados conservadores180. Assim, tiveram condições de terminar a
obra do Regresso, aprovando medidas – como a reforma da Guarda Nacional, de 1850, colocada
sob controle do governo central, dando ao ministro da Justiça o poder para nomear o oficialato,
entre outras mudanças – que restabeleceram o centralismo solapado, consideravelmente, pelas
reformas regenciais. Outros marcos do período foram a extinção do tráfico atlântico de
escravos, a Lei de Terras e o Código Comercial do Império, promulgados no ano de 1850.
Principiado o decênio de cinquenta, o tirocínio político apontava para a conveniência de
mudanças na organização da política nacional. Não havia como alijar totalmente os liberais do
poder, haja vista que entre eles estavam grandes proprietários rurais com relações fortemente
estabelecidas em suas províncias. Insistir na manutenção dos mesmos fora dos espaços de
representação era abrir brechas para novas revoltas a curto ou médio prazo, ameaçando o
sistema político vigente181. Diante desse pano de fundo, era necessário alguma “autoridade
política e moral”182 para tomar a liderança e emergir a Conciliação.
O Gabinete de 6 de setembro de 1853 é o símbolo maior da conjuntura, liderado pelo
conservador Honório Hermeto Carneiro Leão, Marquês de Paraná, que governou Pernambuco
após a Praieira, na qual facções das elites locais municiaram-se de “armas para derrubar um
governo provincial e tentar impor a vontade do grupo sobre os interesses políticos mais amplos
do governo Imperial”183. Segundo Sérgio Buarque de Holanda, a personalidade de Paraná tinha
as virtudes e defeitos – sendo conhecida por sua poderosa vontade, despertando deferência e
temor – adequados para encabeçar o movimento da Conciliação184. Para além da força como
180 Na opinião de Jeffrey D. Needell, o período de 1848 a 1853 seria o ponto culminante do “Partido da Ordem”,
como os conservadores também eram conhecidos. A diminuta oposição aos mesmos era geralmente chamada de
“luzia”, referência irônica a um dos principais espaços das revoltas de 1842, quando os liberais foram derrotados
por Caxias na cidade de Santa Luzia, Minas Gerais. Desta forma, as identidades dos dois partidos, que foram sendo
gestadas ao longo das lutas regenciais, se consolidaram ao longo dos anos 1840, na corte e em várias províncias,
entre o chamado “quinquênio liberal” (1844-1848) e os gabinetes dominados pelos “saquaremas” (1848-1853).
Nesta conjuntura, as denominações Partido Conservador e Partido Liberal foram assumindo o lugar de outras.
NEEDELL, Jeffrey D. Formação dos partidos políticos no Brasil da Regência à Conciliação, 1831-1857. Almanack
Braziliense. São Paulo, n.10, p. 5-22, nov. 2009 a. 181 CARVALHO, op. cit., 2008, p. 398; HOLANDA, Sérgio Buarque de. Capítulos de história do Império. São
Paulo: Companhia das Letras, 2010, p. 44. 182 ESTEFANES, Bruno Fabris. Conciliar o Império: Honório Hermeto Carneiro Leão, os partidos e a política de
Conciliação no Brasil monárquico (1842-1856). Dissertação (Mestrado em História). Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2010, p. 167. 183 CARVALHO, Marcus J. M. de. Movimento Sociais: Pernambuco (1831-1848). In. GRINBERG, Keila;
SALLES, Ricardo (orgs.). O Brasil Imperial: 1831-1870. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p. 175. 184 A execução do projeto do Marquês de Paraná também foi possível por ocorrer numa conjuntura livre de grandes
abalos, em que as cicatrizes abertas por revoltas da década anterior se fechavam. Na economia, um fluxo de capitais
fora liberado por conta do fim do tráfico atlântico de escravos, dinamizando empreendimentos modernizadores -
como os de Irineu Evangelista de Sousa, futuro Visconde de Mauá -, e a produção cafeeira se expandia. Havia,
ainda, tranquilidade na política internacional, com a diminuição das tensões com a Inglaterra e arrefecimento dos
conflitos no Prata. Ver: HOLANDA, op. cit., 2010, p. 46.
39
político, Paraná – “o braço mais forte que a nossa política produziu”, na opinião de Joaquim
Nabuco185 – tinha o maior aliado de todos: o Imperador. Em correspondência privada, Pedro II
gabou-se de todos os ministros do gabinete de 1853 serem seus conhecidos, alguns quase
íntimos, além de talentosos e bons oradores. Com esses dotes, deixava claro a expectativa sobre
eles: “espero que desempenhem com habilidade o meu programa”186.
À frente de gabinete, a mesclar conservadores moderados e liberais históricos, Paraná
empenhou-se pessoalmente em aprovar uma reforma eleitoral. Os elementos centrais eram: 1)
a introdução do voto distrital, que, por meio da divisão das províncias em distritos, também
chamados círculos, visava possibilitar maior representação às facções políticas locais no
parlamento, chocando-se com o “monolitismo das grandes bancadas provinciais” e com os
chefes nacionais dos partidos; 2) a instituição das incompatibilidades eleitorais, proibindo a
candidatura de funcionários públicos – presidentes de província, secretários provinciais,
comandantes de armas, juízes de direito, juízes municipais, chefes de polícia, delegados,
subdelegados, inspetores etc. – nos distritos onde exerciam cargos. A justificativa central para
as duas medidas era a busca por maior diversidade e autenticidade aos representantes eleitos187.
A Conciliação desgostou parcelas de liberais e conservadores mais aferrados. Os
primeiros interpretavam a política como manobra para encobrir suas ideias, o que, ao cabo,
levaria ao enfraquecimento do Partido Liberal. Já os segundos, sentindo-se traídos por um
correligionário, viam nas medidas sinais de fraqueza do Partido Conservador e do governo. Os
críticos da política dirigida por Paraná enxergaram nela ou elemento de risco ao ordenamento
sociopolítico ou mote para a corrupção geral dos partidos. Para Marcelo Basile, se a
Conciliação não tinha como fito eliminar os partidos, trazia implícita a estratégia de atenuar
agitações e de “cooptar liberais sob uma direção conservadora”188.
Jeffrey Needell levanta a hipótese de que o principal trunfo da Conciliação – a reforma
eleitoral – pode ser lido como estratégia de Paraná visando o fortalecimento do Gabinete em
detrimento da musculatura dos partidos, especialmente o enfraquecimento do grupo saquarema
empedernido, que inclusive barrara proposta de reforma judicial defendida pelo ministério
conciliador. O objetivo do ministro tinha a aprovação tácita do Imperador. Rebaixando
drasticamente a intervenção dos partidos nas eleições, ao centrá-la nos círculos, Honório
185 NABUCO, Joaquim. Um estadista do Império. Vol. 1. 5ª ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997, p. 346. 186 PEDRO II apud BARMAN, Roderick J. Imperador cidadão. São Paulo: Editora Unesp, 2012, p. 238, grifos
meus. 187 CARVALHO, op. cit., 2008, p. 399-401. 188 BASILE, Marcello Otávio N. de. C. O império Brasileiro: panorama político. In. LINHARES, Maria Yedda
(Org.). História Geral do Brasil. 9ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000, p. 253.
40
apostaria na possibilidade dos gabinetes tornarem-se relativamente mais fortes para realização
dos projetos e reformas189. Por conta disso, Needell discorda da visão de Ilmar Mattos de ter o
“tempo saquarema” se estendido até o início dos anos 1860: se a conciliação foi liderada por
um conservador, ela estava muito longe de ser “saquarema”190.
Ao morrer, a 3 de setembro de 1856, o Marquês de Paraná deixou inesperadamente o
gabinete reformista decapitado, sem tempo de presidir a primeira eleição geral segundo a lei de
círculos191. A perda do homem público de reconhecida força não deixou de levantar conjecturas
sobre a continuidade da política conciliadora192. Neste cenário, a figura do Imperador mostrou-
se, como de praxe, fulcral. A escolha dos nomes para o novo gabinete seria categórica para a
continuidade, ou não, da obra principiada por Paraná. A vinculação de Pedro II com a
Conciliação era patente: o indicado foi Luiz Alves de Lima, Marquês de Caxias, Ministro da
Guerra no Gabinete Paraná. Político de longo histórico de serviços prestados ao Estado, figura
de proa do Partido Conservador, aos olhos de Pedro II, Caxias representava alguém afinado
com o projeto do ministro morto, além de fidelíssimo aos desejos augustos: era um “homem do
Imperador”193. O presidente do conselho tomou para si tarefa de chefiar um gabinete transitório,
que seria responsável por garantir eleições tranquilas e afinadas com a reforma, saindo de cena
antes do início da sessão legislativa de 1857, quando outro ministério palatável ao perfil da
nova câmara pudesse ser formado194.
Coube, a partir de 4 de maio de 1857, a Pedro de Araújo Lima, o Marquês de Olinda,
continuar a Conciliação. Junto com os saquaremas Euzébio de Queiroz e Paulino Soares de
Souza, Olinda fora uma das vozes do parlamento mais mordazes na oposição à política de
Paraná. Os choques entre os dois marqueses, em 1856, foram tão comuns e intensos, a ponto
de circular história dando conta de ter Olinda alterado os nervos de Paraná, ao acusá-lo de
ceticismo195 em discurso de 16 de agosto, levando o presidente do Gabinete a passar mal, não
189 NEEDELL, Jeffrey D. Formação dos Partidos Brasileiros: questões de ideologia, rótulos partidários, liderança
e prática política, 1831-1888. Almanack Braziliense. São Paulo, n.10, p. 54-63, nov. 2009b. 190 Idem. 191 ESTEFANES, op. cit., 2010, p. 194. 192 Escrevendo a Sinimbu, Nabuco de Araújo, então Ministro da Justiça, traçou frase que captou as incertezas do
momento: “Morreu o Paraná, [...], e nos legou dificuldades que não estão removidas e que talvez sejam
invencíveis”. NABUCO, op. cit., 1997, p. 349. 193 Como demonstra Needell, enquanto parcela dos conservadores permaneciam fiel à liderança ideológica
tradicional dos chefes saquaremas, tendo assim posição mais orgânica dentro do partido, outros políticos da
parcialidade optaram por outra postura: eram “homens no imperador”, pois “preferiam lhe servir ao invés de servir
à liderança do partido ou à sua ideologia”. Caxias seria um destes últimos. NEEDELL, op. cit., 2009b, p. 57. 194 HOLANDA, op. cit., 2010, p. 56. 195 Analisando uma das versões publicadas sobre o discurso de Olinda, Paulo Henrique Fontes Cadena identificou
a imputação de que Paraná estaria comprando o “silêncio e a calma dos Liberais/Luzias com lugares na
administração”. Desta forma, o “ceticismo político”, a que se referia Olinda, tratava do “uso da máquina do Estado
para produzir o silêncio e, portanto, a descrença e apatia na então política tomada pelo ministério”. CADENA,
41
conseguindo terminar de rebater às insinuações do ex-Regente. Poucos dias depois, finava
Paraná. No delírio febril da morte, teria balbuciado palavras desconexas, remetendo à crítica de
Olinda: “Ceticismo....... o nobre senador...... pátria...... liberdade......” 196.
O teor anedótico da história revela, pois, o aparente contrassenso de ter Pedro II escolhido
Araújo Lima para prosseguir a política gestada por Honório. O que elucida a conversão de
opositor a propugnador da Conciliação em Olinda, desfazendo ainda mais os laços saquaremas,
é a aliança do estadista pernambucano com a Coroa, posta acima dos partidos197. Sérgio
Buarque de Holanda afirma ser a ascensão do gabinete Olinda de 1857, “um dos muitos casos
de difícil explicação que ponteiam toda a história do Segundo Reinado”, só explicada pelo fato
das ideias do antigo Regente não serem muito nítidas em matéria de política, costumando ter
seus limites, quando exercia as funções executivas, “nas opiniões da entidade irresponsável”,
ou seja, no Imperador, opiniões essas que o experiente pernambucano parecia adivinhar198.
Não obstante a afinidade com o pensamento do trono, o ministério de 1857 não teve vida
fácil. A reforma eleitoral surtira o efeito previsto por Paraná, diversificando a representação
política entre os ocupantes das cadeiras da câmara dos deputados. Por outro lado, a mudança
trouxe dificuldade para a sustentação política dos gabinetes. O perfil da câmara mostrava-se de
difícil síntese. Houve acréscimo de representantes liberais em comparação à legislatura
passada: calculava-se em mais de vinte os eleitos199. Porém, a lei dos círculos elegera muitos
novatos, com tendências políticas opacas. Já os parlamentares experientes que conseguiram se
reeleger estavam “frequentemente divididos por despeitos e ressentimentos”200.
O presidente do Conselho era visto com desconfiança por aliados históricos,
conservadores inquietos com as atitudes do governo e os nomes integrantes dele201. Assim, o
ministério estendeu-se, aos trancos e barrancos, até 12 de dezembro de 1858, com a ascensão
Paulo Henrique Fontes. O vice-rei: Pedro de Araújo Lima e a governança do Brasil no século XIX. Tese
(Doutorado em História). Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2018, p. 215. 196 CADENA, op. cit., 2018, p. 212-213. 197 Idem, p. 227. Joaquim Nabuco, tratando do assunto, afirma que o Imperador não poderia se inclinar para os
“conservadores puros”, ante a simpatia do monarca pela Conciliação e o próprio perfil da Câmara eleita. Optou
pelo nome que lhe era fiel para continuar a política iniciada em 1853: “O marquês de Olinda era politicamente de
uma ductilidade extrema. Se ninguém o torcia, ele mesmo achava sempre as razões mais inesperadas e sutis para
mudar com o Imperador ou com a opinião”. NABUCO, Joaquim. op. cit., 1997, p. 363. 198 HOLANDA, op. cit., 2010, p. 56. 199 CARVALHO, op. cit., 2008, p. 399. 200 HOLANDA, op. cit., 2010, p. 59. 201 Paulo Cadena apresenta um estudo minucioso das críticas a Olinda naquele contexto de fins dos anos 1850. Por
exemplo: o padre Pinto de Campos – conservador embrenhado nos bastidores da política, com laços de clientela
estreitos com o Visconde de Camaragibe, do clã pernambucano Cavalcanti de Albuquerque, grupo do qual Olinda
se aliava e distanciava quando lhe era conveniente – não poupou o ministro de críticas: “Não creia que o Marquês
é o homem de outrora. Está inteiramente mudado no físico e no político”, dando a entender que o velho já não
mandava e a ambição por se manter no poder o fazia aliar-se a qualquer um. CADENA, op. cit., 2018, p. 236-237.
42
do gabinete liderado por Paulino Limpo de Abreu, Visconde de Abaeté. O desgaste final do
marquês ficou a cargo do apoio às medidas do Ministro da Fazenda, o liberal Bernardo de Sousa
Franco, responsável por disparada do câmbio202. O próprio Imperador exibia contrariedade,
tirando o apoio ao Gabinete: antes mesmo do ministério apresentar oficialmente a renúncia
coletiva, Pedro II chamou Euzébio de Queiroz para organizar o novo governo, que recusou o
convite. Optou então pelo nome de Abaeté203. Aparentemente, o monarca percebera ser a
Conciliação de difícil sustentação naquele cenário. Mesmo com maior diversidade da câmara,
prevalecia maioria do Partido Conservador, daí a razão de optar por Abaeté, um ex-liberal204.
De vida curta, o governo de Paulino Limpo de Abreu durou cerca de um semestre, sendo
trocado, em 10 de agosto de 1859, pelo ministério chefiado por Ângelo Muniz da Silva Ferraz
(Barão de Uruguaiana)205. O novo estafe ministerial também não encontrou respaldo seguro na
Câmara, ante a continuação da conjuntura de crise econômica. Não obstante, durante o gabinete
Ferraz, os conservadores procuraram adaptar a lei dos círculos, garantidora da ampliação do
número de liberais e da exclusão de sumidades políticas na legislatura de 1857. Na acepção dos
conservadores, a votação de um deputado por distrito favorecia as “notabilidades de aldeias”,
os “tamanduás”, como eram descritos os chefes locais, vistos como incapazes de conceber e
tratar dos grandes assuntos de interesse nacional206.
Na esperança de auto favorecimento, os conservadores conseguiram aprovar mudança no
voto distrital – rejeitada amplamente pelos liberais – modificando os círculos, ao ampliar para
três o número de deputados eleitos por distrito. A estratégia mostrou-se equivocada e o tiro saiu
pela culatra: quando foi aplicada a reforma, na eleição de 1860, houve aumento considerável
de liberais na Câmara. Emergia oposição numerosa e aguerrida207. Em tom de hipérbole, disse
Nabuco: “A oligarquia fora desarraigada, derrubada por um verdadeiro furacão político”208. O
202 Segundo Basile, uma das causas do problema foi o empréstimo externo que Sousa Franco fizera junto a firma
inglesa Rothschild. Em face da carência de moeda circulante e da situação precária do Banco do Brasil, o ministro
da Fazenda autorizou que diferentes bancos regionais pudessem passar a emiti-las, o que acabou elevando a
especulação e o custo de vida. BASILE, op. cit., 2000, p. 253. 203 HOLANDA, op. cit., 2010, p. 63. 204 BASILE, op. cit., 2000, p. 253. 205 JAVARI, op. cit., 1889, p. 121. 206 CARVALHO, op. cit., 2008, p. 399. Tal percepção, não deixava de refletir o enfado, identificado por Needel,
de alguns líderes nacionais do partido em relação aos membros menos cultos da própria agremiação nas
provinciais, vistos como movidos apenas por motivações intestinas e ciosos por presidentes que usassem o cargo
para perseguição implacável da oposição nas localidades, postura incompatível com a visão mais ilustrada sobre a
civilização e o papel do homem de Estado. NEEDELL, op. cit., 2009a, p. 18-19. 207 HOLANDA, op. cit., 2010, p. 69. 208 NABUCO, op. cit., 1997, p. 423.
43
governo Ferraz, não esperou sequer a primeira sessão legislativa: renunciou a 3 de março de
1861, sendo substituído por Caxias209.
A situação da nova Câmara era desafiadora para a organização dos partidos nacionais. A
ampliação do voto distrital tinha trazido liberais históricos de volta à casa. Pari passu, alguns
conservadores adotaram postura mais moderada, incluindo alguns herdeiros da Conciliação.
Houve, além disso, aumento de chefes locais nas cadeiras da casa temporária. Como afirmou
Carvalho, os partidos nacionais não tinham maturidade suficiente para enquadrar os novos
deputados. As eleições por círculos traziam a incerteza sobre a real composição das bancadas,
visto existir “maior possibilidade de aparecimento de candidaturas rebeldes, ou simplesmente
não perfeitamente entrosadas com os chefes nacionais dos partidos”210.
A nova configuração da câmara se desenhava. O senador Nabuco de Araújo – de origem
conservadora, mas que fez parte do Gabinete da Conciliação211 –, em discurso de 1862, atribuiu
a instabilidade dos governos ao “partido Conservador puro”, cioso por dominar todas as
posições oficiais: “Eu não sou liberal, mas digo, que não é possível admitir essa perpétua
exclusão dos brasileiros... É condição da paz pública que uns respeitem as opiniões dos outros,
pois este Brasil é de todos os brasileiros”212. Bradava pela garantia de representação das
minorias como condição única para a paz pública e para a civilização. Batizando um movimento
político que marcaria os anos 1860, convocava liberais e conservadores moderados a fazerem
liga: “O que não admito, e contra o que eu protesto em honra do Brasil, em honra da nossa
civilização, é que se não possa fazer uma liga com os liberais, porque em razão do seu passado
eles estão perpetuamente excomungados”213.
Em maio de 1862, Zacarias de Góis e Vasconcelos liderou votação de moção contrária a
Caxias. O resultado foi apertado, sendo a declaração aprovada por um voto. Para salvar o
ministério Caxias, o Imperador poderia recorrer à dissolução da Câmara, mas não o fez.
Manifestou a pretensão de conservá-la até o fim da legislatura, em 1864. Se pela primeira vez
209 JAVARI, op. cit., 1889, p. 121-125. 210 CARVALHO, op. cit., 2008, p. 410. 211 Gladys Ribeiro e Beatriz Momesso, analisando a produção jornalística, discursos e missivas trocadas por
Nabuco de Araújo e Justiniano José da Rocha, percebem, no contexto pós-Conciliação, a manifestação do que
conceituam “conservadorismo liberal”, a congregar políticos não identificados com as ideias mais ortodoxas
defendidas por fundadores do Partido Conservador que eram avessos ao que as autoras conceituam de “humanismo
cívico”, pautado na rejeição do absolutismo, na valorização das esfera judiciária e da identidade dos partidos, de
“modo a não impedir a monarquia constitucional na realização da missão de conduzir o Brasil aos patamares da
civilização e progresso.” RIBEIRO, Gladys Sabina; MOMESSO, Beatriz Piva. Ideias que vão e que vem: o diálogo
entre Nabuco de Araújo e Justiniano José da Rocha. In. BESSONE, Tânia et al (orgs.). Imprensa, livros e política
no oitocentos. 1ª ed. São Paulo: Alameda, 2018, p. 274-275. 212 NABUCO, op. cit., 1997, p. 434. 213 Idem, p. 433-434.
44
um gabinete caía “à inglesa”, pelo voto de desconfiança do parlamento, Pedro II seguiu também
“a praxe britânica de fazer do chefe de uma oposição triunfante na Câmara dos Comuns o chefe
do Ministério a organizar-se”214. Zacarias de Góis foi escolhido presidente do conselho de
ministros, a 24 de maio de 1862215.
Todavia, o triunfo de Zacarias de Góis era apenas aparente. A divisão entre as forças
liberais e conservadoras dissidentes – a “liga” aludida por Nabuco de Araújo –, de um lado, e,
de outro, conservadores empedernidos, chamados de “emperrados”, não demonstrou ter
confiança no novo Gabinete e programa. Sales Torres Homem apresentou moção contrária ao
Governo, sendo aprovada por diminuta margem: 49 votos contra 43. Ante a curta existência do
governo Zacarias de Góis, o mais breve da história do Império, ficaria conhecido como o
“gabinete dos três dias” – em alusão ao ministério de Necker, nomeado por Luís XVI às
vésperas da queda da Bastilha –, malgrado ter se arrastado por meia dúzia de dias216.
Coerente com a atitude assumida dias antes, quando da demissão de Caxias, Pedro II
recusou-se ainda uma vez a atender ao pedido de dissolução da Câmara. Teria, aliás, estudado
a possibilidade de trazer Caxias de volta, fazendo ajustes nos nomes do ministério, de modo a
fugir da pecha de “emperro” que Zacarias de Góis e Vasconcelos lhe imputou. Desistiu da ideia
ao acatar ponderação de Abaeté, para quem nomear o ministro caído seis dias antes poderia ser
interpretado como provocação destinada a mostrar a fraqueza dos “ligueiros”217.
Para contornar o impasse e tentar garantir um governo que tivesse condições de ter
sustentação numa Câmara marcada pelo equilíbrio de facções – visível nas duas eleições
apertadas que definiram as quedas de Caxias e Góis – Dom Pedro, tal como fizera em 1857,
quando ainda tinha esperanças na continuidade da Conciliação, chamou o experimentado
Marquês de Olinda, arranjando o chamado “ministério dos velhos”, iniciado a 30 de maio de
1862, formado por nomes conhecidos da política nacional, saídos quase inteiramente do
Senado, como os viscondes de Maranguape, Albuquerque e Abrantes218. O Gabinete foi
recebido sem entusiasmo. Não obstante, não se desenhou aversão clara ao mesmo. Ele fora
gestado, com o acompanhamento próximo do Imperador, que chegou a traçar e apresentar, a
Olinda, lista prévia com alguns nomes219. Ademais, aos conservadores “emperrados” assustava
214 HOLANDA, op. cit., 2012, p. 17. 215 JAVARI, op. cit., 1889, p. 128. 216 HOLANDA, op. cit., 2010, p. 90. 217 HOLANDA, op. cit., 2012, p. 21. 218 JAVARI, op. cit., 1889, p. 130-133. 219 CADENA, op. cit., 2018, p. 244. Segundo Needell, os gabinetes posteriores a 1853 tiveram maior presença do
Imperador na definição de suas composições: negociava com os presidentes do Conselho quais políticos deveriam
ocupar as pastas. Neste cenário, “embora houvesse ministros claramente representando os blocos de interesse
45
agora a possibilidade de, em caso de refregas duras contra o governo Olinda, Pedro II, enfim,
optasse pela dissolução da Câmara, com risco de aumento do número de “ligueiros” via
eleições220.
A sucessão de crises ministeriais narrada acima é sintomática do cenário de recomposição
partidária derivada das reformas da Conciliação. A silhueta da Liga, ou Liga Progressista –
sendo, em 1864, rebatizada Partido do Progresso, quando lançou o primeiro programa
partidário do Império221 – era mal delineada, sem chefia clara, mesclando nomes como o do
vulto liberal mais popular da época, Teófilo Otoni, com grupo numeroso de dissidentes do
Partido Conservador, tais como Zacarias, Nabuco de Araújo e Saraiva. Independente disto, a
Liga é estratégica para a compreensão da feição política do Império nos anos 1860.
Foi neste cenário conturbado que José Bento da Cunha Figueiredo Júnior, deixado de lado
faz algumas páginas, assumiu a presidência da província do Ceará. Sua nomeação e posse
ocorreram em meio ao sobe e desce de gabinetes de 1862. Nomeado para o cargo em 9 de abril,
ainda no Gabinete Caxias, tomou posse no dia 5 de maio. Seus primeiros ofícios, entre 5 e 13
do mês, foram dirigidos a José Ildefonso de Sousa Ramos – futuro Visconde de Jaguari –, titular
do Ministério dos Negócios do Império222. Como narrado há pouco, no dia 24 do mesmo mês,
subia Zacarias de Góis ao gabinete, caindo seis dias depois. A demora na comunicação entre a
Corte e Fortaleza era considerável. A viagem marítima a vapor demorava mais de dez dias para
singrar a distância entre as duas capitais. Desta forma, a notícia da ascensão e ruína ministerial
chegaram com atraso no Ceará. Alheio às mudanças no Paço carioca, José Bento da Cunha
Figueiredo Júnior continuava a endereçar seus ofícios a José Ildefonso de Sousa Ramos223.
Somente em 5 de junho endereçou ofício a Zacarias de Góis, quando a presidência do conselho
de ministros e o ministério dos negócios do Império já eram chefiados pelo Marquês de
Olinda224. Apenas no dia 18 de junho passaria a se corresponder com o marquês225.
regionais, ou alas de um ou dos dois grandes partidos, a grande política permaneceu nas mãos do monarca e dos
ministros que ele privilegiava por meio de repetidas indicações”. NEEDELL, op. cit., 2009 b, p. 63. 220 HOLANDA, op. cit., 2012, p. 32. 221 O programa do Partido Progressista esteve centrado nas ideias de seu principal líder, o senador Nabuco de
Araújo, por isso, detinha-se nos problemas do judiciário, como a separação entre as funções judiciais e policiais.
Por outro lado, trazia apelos à descentralização, bandeira histórica dos liberais, sem, contudo, sugerir mudanças
concretas no sistema político. CARVALHO, op. cit., 2008, p. 206. 222 ANRJ. Ofício n. 36a. 13 mai. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 223 ANRJ. Ofício n. 41. 26 mai. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 224 ANRJ. Ofício n. 41a. 5 jun. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 225 ANRJ. Ofício n. 49. 18 jun. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
46
A instabilidade política não deixava de ser ameaça a Figueiredo Júnior, pois as nomeações
para os cargos de presidente estavam afinadas com a formatação dos gabinetes. Nestes termos,
o então presidente do Ceará teria de aderir claramente aos propósitos de Olinda, como forma
de garantir a posição no executivo provincial, após a queda do ministério que o nomeara. Diante
desta conjuntura, ao presidente recém empossado seria útil a manutenção de relações cordiais
com os políticos cearenses, como forma de se fortificar no cargo, evitando desgastes que
pudessem tornar mais delicada sua sustentação perante o ministério. Esta seria uma tarefa
bastante complicada, seja por conta da complexa feição da política cearense, como pelos efeitos
devastadores do cólera.
1.2 - A política e os partidos no Ceará
A compreensão da dinâmica política do Ceará foi, provavelmente, um desafio ao
presidente Figueiredo Júnior, o que não devia ser diferente para seus antecessores e sucessores
no cargo, como demonstra o quadro a seguir:
Quadro 1
Presidentes nomeados para a Província do Ceará entre 1840 e 1889
Presidente Naturalidade Nomeação
José Martiniano de Alencar Ceará 10.09.1840
José Joaquim Coelho Portugal 01.05.1841
José Maria da Silva Bittencourt Rio de Janeiro 02.04.1843
Ignácio Correia de Vasconcellos Bahia 04.11.1844
Casemiro José de Moraes Sarmento Piauí 12.09.1847
Fausto Augusto de Aguiar Rio de Janeiro 05.04.1848
Ignácio Francisco Silveira da Motta Goiás 19.06.1850
Joaquim Marcos de Almeida Rego Rio de Janeiro 31.05.1851
Joaquim Villela de Castro Tavares Pernambuco 21.03.1853
Vicente Pires da Motta São Paulo 12.01.1854
Francisco Xavier Paes Barreto Pernambuco 15.09.1855
João Silveira de Sousa Santa Catarina 06.06.1857
Antonio Marcelino Nunes Gonçalves Maranhão 04.07.1859
Manoel Antonio Duarte de Azevedo Rio de Janeiro 20.03.1861
José Bento da Cunha Figueiredo Júnior Pernambuco 09.04.1862
Laffayette Rodrigues Pereira Minas Gerais 23.01.1864
Francisco Ignácio Marcondes Homem de Mello São Paulo 08.04.1865
João de Sousa Mello e Alvim Santa Catarina 22.09.1866
Pedro Leão Velloso Bahia 16.11.1867
Diogo Velho Cavalcante de Albuquerque Paraíba 27.08.1868
João Antonio de Araújo Freitas Henriques Bahia 26.07.1870
José Fernandes da Costa Pereira Júnior Rio de Janeiro 20.01.1871
47
José Antonio Calazans Rodrigues Portugal 29.06.1871
João Winkens de Mattos Pará 15.12.1871
Francisco de Assis Oliveira Maciel Pernambuco 07.12.1872
Francisco Teixeira Sá Pernambuco 13.11.1873
Heráclito de Alencastro Pereira da Graça Ceará 13.10.1874
Francisco de Farias Lemos Pernambuco 22.03.1876
Caetano Estelita Cavalcanti Pessoa Pernambuco 10.01.1877
João José Ferreira de Aguiar Pernambuco 24.11.1877
José Júlio de Albuquerque Barros Ceará 08.03.1878
André Augusto de Pádua Fleury Mato Grosso 02.07.1880
Pedro Leão Veloso Bahia 01.04.1881
Torquato Mendes Viana Maranhão 26.12.1881
Sancho de Barros Pimentel Bahia 22.03.1882
Domingos Antonio Raiol Pará 12.12.1882
Sátiro de Oliveira Dias Bahia 21.08.1883
Carlos Honório Benedito Ottoni Minas Gerais 12.07.1884
Sinval Odorico Moura Maranhão 12.02.1885
Miguel Calmon du Pin e Almeida Bahia 01.10.1885
Joaquim da Costa Barradas Maranhão 09.04.1886
Enéas de Araújo Torreão Maranhão 21.09.1886
Antonio Caio da Silva Prado São Paulo 21.04.1888
Henrique Francisco D’Ávila Rio Grande do Sul 10.07.1889
Jerônimo Rodrigues de Morais Jardim Goiás 11.10.1889 Fontes: PAIVA, Maria Arair Pinto. A elite política do Ceará Provincial. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1979;
THÉBERGE, Dr. P. Esboço histórico sobre a Província do Ceará. Vol. 3. Edição fac-sim. (1895). Fortaleza:
Fundação Waldemar de Alcântara, 2001; STUDART, Dr. Guilherme. Dicionário Bio-bibliográfico cearense. Vol.
1. Fortaleza: Typo-Lithographia a vapor, 1910; STUDART, Dr. Guilherme. Dicionário Bio-bibliográfico
cearense. Vol. 2. Fortaleza: Typo-Lithographia a vapor, 1913; HOMEM DE MELLO, Barão. Relação dos
presidentes e vice-presidentes que tem administrado a Província do Ceará, desde 1824 até 1866. Revista do
Instituto do Ceará. Ano IX. Fortaleza, 1895, p. 55-59; NOGUEIRA, Paulino. Presidentes do Ceará - Segundo
Reinado. Revista do Instituto do Ceará. Ano XVI. Fortaleza, 1902, p. 7-29; NOGUEIRA, Paulino. Presidentes do
Ceará - Segundo Reinado. Revista do Instituto do Ceará. Ano XIX. Fortaleza, 1905, p. 155-281; NOGUEIRA,
Paulino. Presidentes do Ceará - Segundo Reinado. Revista do Instituto do Ceará. Ano XX. Fortaleza, 1906, p.
148-171; NOGUEIRA, Paulino. Presidentes do Ceará - Segundo Reinado. Revista do Instituto do Ceará. Ano
XXI. Fortaleza, 1907, p. 3-11; ESCRAGNOLLE, Doria. Relação dos principais cearenses representantes do Ceará
na vida política do Império do Brasil. Revista do Instituto do Ceará. Ano XXXVI. Fortaleza, 1922, p. 361-376;
BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. Dicionário bibliográfico brasileiro. Vol. 1. Rio de Janeiro:
Tipografia Nacional, 1883; BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. Dicionário bibliográfico brasileiro.
Vol. 2. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1893; BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. Dicionário
bibliográfico brasileiro. Vol. 3. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1895; BLAKE, Augusto Victorino Alves
Sacramento. Dicionário bibliográfico brasileiro. Vol. 4. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1898; BLAKE,
Augusto Victorino Alves Sacramento. Dicionário bibliográfico brasileiro. Vol. 5. Rio de Janeiro: Imprensa
Nacional, 1899; e Relatórios dos Presidentes de Província do Ceará, disponíveis no site http://www-
apps.crl.edu/brazil/provincial/ceará. Acesso a 20 ago. 2018.
O quadro apresenta a lista de presidentes nomeados para o Ceará durante os 49 anos do
Segundo Reinado. No período, ocorreram 45 nomeações. Destas, apenas 3 foram de políticos
nascidos no Ceará, indício de algo corriqueiro na política imperial, especialmente nas
províncias de menor prestígio político e peso econômico. Tendo em vista o caráter centralizador
da pós-Maioridade, a estratégia das indicações para o cargo de presidente priorizava políticos
advindos de outros lugares do Império, forma de impedir que disputas localizadas tomassem de
todo o controle do executivo provincial, intensificando as tensões entre opositores, dificultando
48
a aplicação dos programas ministeriais e a realização dos pleitos eleitorais. Ao mesmo tempo,
a circulação geográfica dos presidentes contribuía para o treinamento político, dando
oportunidade de conhecerem melhor o país e desenvolverem perspectiva menos provinciana226.
No caso do Ceará, fica claro que os gabinetes priorizaram a indicação de presidentes
advindos da região norte do Império ou da própria Corte: pernambucanos (8 presidentes),
baianos (7), maranhenses (5) e fluminenses (5) ocuparam por 25 vezes o governo do Ceará,
56% das nomeações. Empatados com paulistas, os cearenses foram, apenas, 7% do total.
A abundância de nomeações deixa patente como a estadia do presidente no cargo era
curta. Poucos tiveram mais de um ano de governo. Como grande parte dos presidentes
provinham da câmara geral, era comum que o trabalho nas províncias ocorresse apenas no
período das férias legislativas. Nomeado presidente do Ceará a 17 de setembro de 1855,
Francisco Xavier Paes Barreto teve licença do cargo durante a legislatura de 1856, ficando fora
de Fortaleza entre 9 de abril e 11 de outubro do mesmo ano. Reeleito como deputado por
Pernambuco, saiu, em 25 de março de 1857, definitivamente, do cargo no Ceará para tomar
posse na nova legislatura227.
As crises ministeriais e trocas de gabinetes, com eventual dissolução da Câmara,
também tinham potencial para encurtar mandatos presidenciais, pois o gabinete poderia usar
mãos de pessoas do círculo de apoio para garantir os resultados eleitorais favoráveis nas
províncias. A mobilidade dos presidentes também era usada pelos ministros como forma de
premiar os amigos228. Uma vez na posse do cargo, os presidentes, dependendo da conjuntura
política provincial e das orientações do Gabinete em exercício, poderiam se aproximar de uma
ou outra parcialidade para cumprir seus propósitos. Nos discursos proferidos, no geral, os
presidentes afirmavam-se neutros, acima das contendas partidárias, quando na prática não
deixavam de imiscuírem-se nos jogos de poder provincial, sendo peças estratégicas para a
garantia das vitórias eleitorais. Deste modo, teciam relações com os grupos políticos, buscando
226 CARVALHO, op. cit., 2008, p. 124. 227 HOMEM DE MELLO, Barão. Relação dos presidentes e vice-presidentes que tem administrado a Província do
Ceará, desde 1824 até 1866. Revista do Instituto do Ceará. Ano IX. Fortaleza, 1895, p. 58; BARRETO, Francisco
Xavier Paes. Relatório com que o excelentíssimo senhor doutor Francisco Xavier Paes Barreto passou a
administração da província ao segundo vice-presidente da mesma, o excelentíssimo senhor Joaquim Mendes da
Cruz Guimarães, em 9 de abril de 1856. Fortaleza: Typographia Cearense, 1856, p. 3. Disponível no site
http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial/ceará. Acesso a 20 ago. 2018.; e BARRETO, Francisco Xavier Paes.
Relatório com que o excelentíssimo senhor doutor Francisco Xavier Paes Barreto passou a administração da
província ao terceiro vice-presidente da mesma, o excelentíssimo senhor Joaquim Mendes da Cruz Guimarães,
em 25 de março de 1857. Fortaleza: Typographia Cearense, 1857, p. 3. Disponível no site http://www-
apps.crl.edu/brazil/provincial/ceará. Acesso a 20 ago. 2018. 228 CARVALHO, op, cit., 2008, p. 124.
49
construir base de apoio na Assembleia e nas localidades, por meio da ação de delegados,
subdelegados, juízes etc., e pela aliança com os grupos litigantes nas vilas e cidades.
Compreender as lógicas internas da política provincial era, destarte, desafiador aos
presidentes nomeados para o Ceará. Como demonstra Evaldo Cabral de Mello, a integração da
província ocorreu tardiamente e até 1889 sua vida política e econômica, era razoavelmente,
descentralizada. Do ponto de vista econômico, as diferentes regiões da província manifestavam
alta margem de autonomia em relação à Fortaleza, de quem dependiam na esfera administrativa.
A capital – que ao longo de 1840 ganhou força como porto de exportação algodoeiro – era um
polo econômico regional a concorrer com outros, como Aracati, Sobral e Crato, dinamizadores
das trocas comerciais do sertão cearense com as províncias fronteiriças. Exemplo disso é a
relação comercial profícua de Aracati, centralizadora do comércio pecuarista do extenso vale
do Jaguaribe com a praça do Recife, desde o século XVIII. O entreposto recifense era, também,
mais atrativo ao vale do Cariri, localizado na fronteira com Pernambuco e distante mais de
quinhentos quilômetros em relação à Fortaleza. Não por acaso, em meados do século XIX, a
região do Cariri almejava separar-se do Ceará, criando nova província, cuja sede seria Crato229.
Se economicamente o cenário era de descentralização, só ao final da primeira metade
do oitocentos, Fortaleza iria, a duras penas, avançar em centralidade política. O consenso em
prol da unidade cearense foi engendrando-se nos próprios passos do processo de construção do
Estado imperial. É sintomático ter do interior do Ceará partido a adesão às revoltas liberais de
1817 e 1824, bem como de lá surgiu o movimento restauracionista liderado por Pinto Madeira,
em 1831. As agitações espelhavam, conforme Almir Oliveira, as “condições sócio-políticas das
autonomias locais e das arregimentações políticas das famílias que dominavam as regiões”230.
Também das ribeiras do Ceará, sem a menor coesão interna, surgiram nomes que entre
os anos 1820 e 1840 ocuparam espaços nos lances políticos do Império, como o padre José
Martiniano de Alencar (1794-1860), com raízes no Cariri cearense231. Revolucionário de 1817,
Alencar foi eleito representante nas cortes de Lisboa (1821) e constituinte (1823). Em 1824,
toma parte da Confederação do Equador, tendo o irmão, Tristão Gonçalves, como presidente
revolucionário do Ceará. Malograda a revolução, caiu no rol dos desgraçados junto com a
família, mas, suplicando perdão a Pedro I, foi logo anistiado. Em 1830 era eleito deputado geral,
229 MELLO, Evaldo Cabral de. O norte agrário e o Império: 1871-1889. 2ª ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 1999,
p. 122-123. 230 OLIVEIRA, Almir Leal de. A construção do Estado Nacional no Ceará: autonomias locais, consensos políticos
e projetos nacionais. In. SOARES, Igor de Menezes; MORAIS, Ítala Byanca (orgs.). Cultura, política e
identidades: Ceará em perspectiva. Vol. 2. Fortaleza: IPHAN, 2017, p. 17. 231 Idem, p. 23.
50
por Ceará e Minas Gerais. A consagração política viria com a nomeação para a câmara vitalícia,
no ano de 1832, em eleição ocorrida após o titular da cadeira, Marquês de Aracati, ter partido,
sem licença, acompanhando Pedro I à Europa, quando da abdicação deste232. O senador Alencar
foi, ainda, um dos líderes que articulou o Golpe da Maioridade de 1840233.
A primeira presidência de Alencar, entre 1834 e 1837, coincidiu com a organização do
poder legislativo na província, com a instalação da Assembleia na capital, composta de 28
deputados. O Ato Adicional de 1834 buscou organizar a vida política das províncias de acordo
com os debates de construção do Estado Nacional ocorridos no Rio de Janeiro, integrando parte
das medidas descentralizadoras defendidas pelos liberais moderados, aos quais o próprio
Alencar estava vinculado234.
A escolha dos deputados provinciais dava-se bienalmente e entre suas principais
prerrogativas, ditadas pelo Ato Adicional, estavam: legislar e fiscalizar a fixação das despesas
municipais e provinciais; repartição da contribuição direta pelos municípios; fixar impostos
provinciais; criar ou suprimir cargos no funcionalismo público e estipular ordenados; tratar do
policiamento, segurança, instrução e obras públicas; decidir sobre a divisão civil, judiciária e
eclesiástica da província; analisar as medidas econômicas e de policiamento votadas nas
Câmaras Municipais; e autorizar a criação de prisões, casas de socorro público, conventos e
qualquer associação civil ou religiosa, como as irmandades235.
232 Alencar foi o sexto político a representar o Ceará no Senado. Dos 19 senadores nomeados pela província ao
longo do Império, 14 eram cearenses natos. Os outros cinco se dividiram em dois grupos: 1) personagens que
tiveram passagens em cargos no Ceará nos primeiros decênios do oitocentos, casos do português João Carlos
Augusto Oyenhasen Gravenburg (Marquês de Aracati), govenador da capitania entre 1802 e 1807, e do fluminense
João Antônio Rodrigues de Carvalho, ouvidor entre outubro de 1814 e agosto de 1815, tendo ainda atuado no
fomento da revolução de 1817 no território cearense; 2) Políticos de projeção nacional sem nenhuma relação com
o Ceará, mas eleitos e nomeados por interesse do governo central, como o português João Viera de Carvalho
(Marquês de Lages), o gaúcho Cândido Batista de Oliveira e o baiano Miguel Calmon Du Pin e Almeida (Marquês
de Abrantes). Representante do Ceará por 25 anos no Senado e um dos políticos mais influentes do Império,
Abrantes nunca pisou na província, “chegando, inclusive, a negar-se trabalhar em prol de uma iluminação a óleo
para Fortaleza, alegando ironicamente que a cidade era de palha e poderia queimar” (GIRÃO, Valdelice Carneiro.
O Ceará no Senado Federal. Brasília: Editora do Senado, 1992, p. 27). Dos senadores não-cearenses, 4 foram
nomeados entre o Primeiro Reinado e o último ano das Regências, caso de Abrantes, escolhido para a câmara
vitalícia por Pedro de Araújo Lima após eleições marcadas por fraudes e violência (CADENA, op. cit., 2018, p.
188). Como demonstra Barman, as nomeações feitas por Dom Pedro I para o Senado tiveram por preferência
políticos mais experientes e de maior faixa etária, e não levavam em consideração os sentimentos das províncias,
de modo que a metade dos senadores do Primeiro Reinado não representavam a província natal. As escolhas tinham
como estratégia reforçar a Câmara Alta enquanto espaço de fidelidade e aconselhamento ao Imperador, que
enfrentava a crescente oposição da Câmara Baixa (BARMAN, op. cit., 1984, p. 64). O porto alegrense Cândido
Batista de Oliveira, nomeado em 1849, foi o último não nascido no Ceará a representar a província no Senado,
sendo outro que não a conheceu (GIRÃO, op. cit., 1992, p. 37). 233 STUDART, op.cit., 1913, p. 155-157. 234 OLIVEIRA, op. cit., 2017, p. 23-24. 235 NOGUEIRA, op. cit., 2015, p. 92-93.
51
Malgrado o fato das medidas votadas na Assembleia terem de passar pela sanção do
presidente da província para terem validade, é perceptível o poder de decisão do legislativo
sobre assuntos centrais do cotidiano provincial. Sua força estava bem posicionada acima dos
municípios, com Câmaras de Vereadores esvaziadas de autonomia e com quase toda a economia
municipal dependente das decisões da assembleia provincial236. Se o poderio do Executivo
permaneceu superior ao longo do oitocentos, não há como desconsiderar o papel estratégico do
legislativo na estruturação do sistema político no país. Segundo Gouvêa, a legislatura abriu
espaço para diferentes homens de origens sociais e localidades diversas se juntarem nas
assembleias representativas municipais, provinciais e nacionais, afirmando status, assumindo
posturas e tomando decisões sobre a vida política do país: “a legislatura teve o papel-chave ao
dar suporte e ajuda para consolidar a nova organização política no nível do governo geral”237.
Conforme Miriam Dolhnikoff, a construção do Estado imperial só foi possível devido a
um arranjo institucional – decorrente de embates e negociações entre as múltiplas elites
regionais que aderiram à nova Nação. Somente com a concessão de certa autonomia às
províncias era possível combater as rebeliões de cunho separatista, envolver os grupos regionais
no aparelhamento do Estado e fazer as determinações e ações do mesmo chegarem a todos os
municípios do Brasil. Em outras palavras, mesmo durante o Segundo Reinado, quando a
proposta conservadora superou a descentralizadora liberal, as províncias continuaram a deter
autonomia política em aspectos estratégicos da sociedade, tais como: a indicação de nomes para
empregos públicos, “poderosa moeda de troca no jogo clientelista e [...] peça fundamental na
cooptação dos grupos locais”238; cobrança de tributos provinciais; organização e uso de uma
força policial; indicação de magistrados; construção de obras públicas; e poder de decisão sobre
a implementação ou revogação de leis advindas das câmaras municipais. Nestes termos, as
assembleias legislativas eram instituições importantes na formatação da política imperial.
No caso do Ceará, a Assembleia tornou-se espaço de agregação das fragmentárias elites
advindas de diferentes regiões da província e de reconfiguração de identidades políticas. Para
Almir Oliveira, o estabelecimento do legislativo provincial, desde as primeiras legislaturas e no
longo processo de “desagregação das realidades coloniais”239, favoreceu a organização de
236 BASILE, Marcelo. O laboratório da nação: e era regencial (1831-1840). In. GRINBERG, Keila e SALLES,
Ricardo (Orgs.). O Brasil Imperial. Vol. II (1808-1831). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2009, p. 81. 237 GOUVÊA, Maria de Fátima Silva. O império das províncias: Rio de Janeiro, 1822-1889. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2008, p. 91. 238 DOLHNIKOFF, Miriam. O pacto imperial: origens do federalismo no Brasil do século XIX. São Paulo: Editora
Globo, 2005, p 191. 239 OLIVEIRA, op. cit., 2017, p. 37.
52
centro hegemônico na província (Fortaleza) e afastou a desintegração político-administrativa,
promovendo, ainda, o desenvolvimento da vida partidária.
A construção da identidade dos partidos no Ceará esteve profundamente arraigada à
formação de alianças familiares e ao desenrolar dos lances políticos dos anos 1820 e 1840.
Segundo Oliveira, para compreensão da organização da política na província naquela
conjuntura, faz-se necessário “acompanhar as disputas entre projetos nacionais que discutiam a
organização do Estado e seu funcionamento a partir das lutas travadas entre os grupos locais”.
Eventos como a Confederação do Equador, as reformas implementadas pelo governo regencial,
nos anos de 1830, e os acertos centralizadores implementados após a Maioridade refletiram-se
em reconfigurações nas alianças de grupos oligárquicos e parentelas dilatadas da província240.
O predomínio liberal dos primeiros anos da década de 1830 levou ao poder o grupo
liderado por José Martiniano de Alencar e pelos irmãos Manuel do Nascimento Castro e Silva
e Vicente Ferreira de Castro e Silva. Com raízes em duas regiões importantes na dinâmica
econômica e política do Ceará – Crato e Aracati – e participantes dos lances de 1824 em lados
opostos, acabaram iniciando uma aproximação a partir de 1825: Alencar, que estava sendo
julgado pela comissão militar instalada após a revolta, solicitou a ajuda a Manuel do
Nascimento de Castro Silva241. Eleitos deputados gerais em 1830, na Corte, os três acabaram
compondo politicamente com os liberais moderados. Manuel do Nascimento de Castro Silva,
inclusive, chegou a ser Ministro da Fazenda, em 1833.
Conhecidos como “chimangos”, terminologia também empregada em outros lugares do
Brasil242, o grupo Alencar/Castro e Silva foi o responsável pela implementação de políticas
descentralizadoras encetadas por Feijó: a presidência de Alencar na província, entre 1834-1837,
coincidiu com a, já citada, instalação da Assembleia Legislativa, com a aplicação do Código do
Processo Criminal, instituindo júri popular e a eleição de juízes de paz nas paróquias, e com a
organização da Guarda Nacional, intervindo no poder repressivo local243.
A contenção da violência era grande desafio, por estar arraigada no cotidiano cearense.
Como evidencia Vieira Júnior, a violência foi marca indelével do período colonial cearense,
240 OLIVEIRA, op. cit., 2017, p. 22. 241ARAÚJO, Reginaldo Alves de. A parte no partido: relação de poder e política na formação do Estado Nacional
Brasileiro, na província do Ceará (1821-1841). Tese (Doutorado em História). Universidade Federal do Ceará,
Fortaleza, 2018, p. 310. 242 Durante as Regências, o termo “chimango” era usado pelos liberais exaltados, também chamados
“farroupilhas”, para se referir aos liberais de tendência moderada. Enquanto os farroupilhas faziam apelos ao
federalismo e descentralização, os chimangos aspiravam um Estado forte e centralizado, com autonomia limitada
para as províncias. MOREL, Marco. O Período das Regências (1831-1840). Rio de Janeiro: Zahar, 2003, p. 34-
35. 243 ARAÚJO, op. cit., 2018, p. 26-27.
53
herança que o Império teve sempre dificuldade em administrar. O poder instituído era frágil
para impor a força de polícia e justiça contra o interesse dos grandes fazendeiros do sertão,
contribuindo para o uso indiscriminado da violência na resolução dos conflitos cotidianos. A
própria toponímia cearense trazia o registro memorialístico dos palcos de conflitos,
perpetuando a lembrança do histórico de assassinatos e agressões engendrados por facções em
disputa: Batalha, Pendência, Tropas, Emboscada, Matança, Defunto, Ossos, Trincheiras,
Várzea da Perdição, Riacho de Sangue etc.244
Malgrado os preconceitos inerentes a um estrangeiro diante dos outros, o relato feito
por George Gardner, viajante escocês que visitou o Ceará entre 1838 e 1839, traz indícios sobre
tal questão. Tratando da região sul cearense, conta:
Os habitantes desta parte da província, geralmente conhecidos de cariris, são
famigerados no país por sua rebeldia às leis. Aqui foi, e até certo ponto ainda
é, embora em menor extensão um esconderijo de assassinos e vagabundos de
toda a espécie vindos de todos os cantos do país. Embora haja um juiz de paz,
um juiz de direito e outros representantes da lei, seu poder é muito limitado e,
ainda assim, quando o exercem, correm o risco de tombar sob a faca do
assassino245.
Como indicia Gardner, o poder das autoridades judiciais em fins de 1830 era limitado e
podia trazer consequências negativas, com risco de vida, aos funcionários que contrariassem
interesses particulares estabelecidos na localidade. Os indivíduos descritos na fonte eram
conhecidos pela alcunha “cabras”, o que revela a origem mestiça. Eram, basicamente, homens
livres pobres, vivendo no limite mais baixo da subsistência e ligados à terra de algum
proprietário abastado. Obviamente, suas tarefas não se resumiam à lida no campo: “Em tempos
de rivalidade entre os proprietários, aos trabalhadores da fazenda eram entregues armas para
que defendessem com lealdade os interesses de seus patrões”246. Dessa forma, muitos acertos
de contas eram perpetrados por tais sujeitos a mando dos ricos mandatários.
Ante a violência renhida e a mobilização armada dos potentados locais, Alencar buscou
formas de garantir a ordem e o funcionamento das instituições no Ceará. Particularmente, tratou
de organizar a Guarda Nacional para dar ao governo provincial o poder de reprimir distúrbios,
colocando a população sertaneja sob o jugo do Estado em construção, assentando “nas áreas
sediciosas e desconfiadas do poder provincial, os homens revestidos do poder militar necessário
244 VIEIRA JÚNIOR, Antônio Otaviano. Entre paredes e bacamartes: história da família no sertão (1780-1850).
Fortaleza: Demócrito Rocha/Hucitec, 2004, p. 168-169. 245GARDNER, George. Viagem ao interior do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp, 1975, p. 93-94. 246 DELLA CAVA, Ralph. Milagre em Joaseiro. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976, p. 32.
54
à manutenção da ordem monárquica” 247. Obviamente, como conta Araújo, as medidas não
deixaram de ser direcionadas, também, contra os grupos opositores de Alencar, forma de se
fortificar politicamente e promover o interesse de aliados nas localidades. A perseguição
sistemática que fez aos Mourões, família representada por Alencar como séquito de “criminosos
prepotentes”, com forte influência na região do Vale do Acaraú, é exemplo disto248.
A aliança Alencar/Castro e Silva, somada ao grupo Paula Pessoa – que faria dois
senadores ao longo do Império – foi, assim, a base do futuro Partido Liberal no Ceará,
estruturado entre as décadas de 1830 e 1840. As relações estabelecidas com os liberais da Corte
e com o governo regencial – tendo em vista ter Manoel Nascimento Castro e Silva sido ministro
– e o controle do governo provincial, entre 1834 e 1837, estimularam as alianças no nível
provincial dos “chimangos”, reunindo proprietário rurais do Crato, Sobral e outras localidades,
com comerciantes de Fortaleza e Aracati249.
A oposição ao grupo que dominou a administração do Ceará até 1837 ficava por conta
dos chamados “caranguejos”, alcunhados desta forma pelos chimangos, por suposta
incapacidade daqueles de andar para a frente, resistência a mudar a sociedade e a progredir.
Como demonstra Marco Morel, os partidos políticos da primeira metade do Oitocentos eram
“formas de agrupamento” em torno de líderes, a “partir de interesses e motivações específicas,
além de se delimitarem por lealdade ou afinidades (intelectuais, econômicas, culturais etc.)”250.
Tais agrupamentos, corriqueiramente, “eram identificados por rótulos ou nomeações,
pejorativos ou não”251. No caso dos “caranguejos”, o termo acabou sendo incorporado
positivamente pelos membros do grupo que daria origem ao Partido Conservador no Ceará252.
Ele reunia, de forma não muito homogênea, os defensores do modelo monárquico mais
centralizado, autodenominando-se “Partido da Ordem”. Desta forma, entre seus apoiadores
havia: pessoas que tinham lutado contra os chamados “republicanos” ou “patriotas” de 1824;
antigos “imperialistas”, como eram chamados os defensores, no início de 1830, do absolutismo,
do retorno da ligação do Brasil com Portugal e da restauração de Pedro I ao trono; e bacharéis
propugnadores de uma monarquia centralizada, com justiça profissional e acadêmica,
rejeitando, assim, o modelo de justiça eletiva patrocinada pelos liberais moderados, líderes da
247 OLIVEIRA, op. cit., 2017, p. 34-35. 248 ARAÚJO, op. cit., 2018, p. 344-345. 249 Idem, p. 325. 250 MOREL, Marco. As transformações dos espaços públicos: imprensa, atores políticos e sociabilidades na cidade
imperial (1820-1840). São Paulo: Hucitec, 2010, p. 67. 251 Idem, p. 67. 252 ARAÚJO, op. cit., 2018, p. 304.
55
Regência até 1837253. Entre os apoiadores dos caranguejos havia, ainda, ex-patriotas de 1824,
como também proprietários rurais ligados ao grupo não por questões ideológicas, mas por conta
das disputas internas de poder nos municípios. Tal como entre os chimangos, comerciantes dos
dois principais portos, Aracati e Fortaleza, também figuravam nas fileiras caranguejas254.
Na Câmara Geral da década de 1830, os caranguejos cearenses tinham como
representantes figuras como o padre Antônio Pinto de Mendonça – que em meados do
oitocentos mudaria para o lado liberal, como demonstrarei mais à frente –, Jerônimo Martiniano
Figueira de Melo e José Antônio Ibiapina. Na Corte, articularam-se com proprietários rurais
fluminenses, os “saquaremas”, na defesa da monarquia constitucional centralizada e do Poder
Moderador como garantias da ordem e hierarquia social255. Na capital do Ceará, destacava-se a
liderança do boticário Antônio Rodrigues Ferreira. Já no interior, a família Fernandes Vieira,
com bases em Saboeiro, era um dos pilares do grupo. A influência dessas personagens foi tão
forte a partir dos anos 1840 que o grupo político no qual atuavam era conhecido como
“boticário-carcará”256, em referência à profissão de Ferreira e à fazenda Carcará, uma das
propriedades dos Fernandes Vieira257.
Com o avanço dos anos 1830 e 1840, a rivalidade histórica entre facções familiares de
proprietários rurais pelo controle de suas localidades foi assumindo fachada partidária. Por essa
época, as parcialidades nacionais iam ganhando contornos e posicionamentos políticos que se
aproximavam, ou não, dos interesses das alianças políticas do Ceará. A disputa por cargos nos
munícipios e de representação na Assembleia e na Câmara Geral deixava patente aos políticos
locais a importância da vinculação partidária, para assim melhor se posicionar nos pleitos
eleitorais e defender interesses. O caso do sertão dos Inhamuns é exemplo disso. As famílias
Feitosa e Fernandes Vieira eram as duas mais influentes da área, assumindo o lado liberal e
conservador, respectivamente. Os habitantes da região dividiam-se entre um e outro partido, de
acordo com a afinidade ou dependência em relação aos dois clãs258.
Neste cenário de disputas, os potentados rurais passaram a investir mais na educação
dos filhos, fenômeno visível por todo o período imperial. Ter parentes padres e bacharéis abria
maiores possibilidades de inserção nos espaços de representação política no legislativo. A partir
do estudo quantitativo de Maria Arair Paiva, sabe-se: das 423 pessoas que tomaram posse como
253 OLIVEIRA, op. cit., 2017, p. 26-27. 254 ARAÚJO, op. cit., 2018, p. 372. 255 OLIVEIRA, op. cit., 2017, p. 28. 256 CORDEIRO, op. cit., 2007, p. 144 257 CHANDLER, Billy Jaynes. Os Feitosas e o Sertão dos Inhamuns: a história de uma família e uma comunidade
no Nordeste do Brasil – 1700-1930. Fortaleza: Edições UFC; Rio de Janeiro: Civilização Brasileiras, 1980, p. 75. 258 CHANDLER, op. cit., 1980, p. 75.
56
deputados provinciais do Ceará, 28,8% eram bacharéis em direito. Outros 19,9% eram padres,
3,5% médicos, 0,5% engenheiros, 0,5% farmacêuticos e 0,2% agrônomos. Em outras palavras:
53,4% dos deputados da Assembleia possuíam ensino superior259. A porcentagem de
diplomados era bem maior para os representantes cearenses da Câmara Geral: dos 100 políticos
que ocuparam as cadeiras, 81% tinham curso superior. Destes, 62,2% eram bacharéis em
direito, 10,6% padres, 5,4% médicos e 2,8% engenheiros260. Para além dos cargos eletivos, a
formação superior, especialmente nos cursos jurídicos, abria oportunidades para a ocupação de
cargos burocráticos no executivo e no judiciário. A investidura em posições políticas era a
principal ambição dos cerca de 300 cearenses formados pelos cursos jurídicos de Recife e São
Paulo entre 1832 e 1889261.
Se durante os anos 1834 e 1837 os liberais cearenses assumiram o poder na província,
uma nova configuração política nacional os desalojou da posição: o Regresso. O movimento
foi articulado na Corte por nomes como Bernardo de Vasconcelos, Carneiro Leão, Rodrigues
Torres, Araújo Lima e Miguel Calmon. O processo de formação do Regresso se fez ao longo
de 1835 e 1837 e as adesões não foram imediatas, mas sim conquistadas aos poucos, a partir do
desgaste dos moderados e do governo Feijó, ante o descontentamento com as reformas
descentralizadoras e a disseminação de revoltas provinciais262. O grupo agia na busca por
instrumentos que dessem ao Estado a capacidade para assegurar o progresso dentro da ordem,
combatendo o que representavam como anarquia, simbolizada nas revoltas. Neste sentido, um
governo centralizador não era visto como despotismo, e sim como o único capaz de garantir a
liberdade, ao conter os arbítrios dos poderes locais facciosos263.
Com a queda de Feijó e a posse do então senador Pedro de Araújo Lima, futuro Marquês
de Olinda, teve fim o governo do padre Alencar no Ceará. Para substituir Alencar, foi nomeado
o fluminense Manuel Felizardo de Souza Mello, governando entre outubro de 1837 e dezembro
de 1838264. Em sua passagem pelo cargo buscou formar alianças com políticos da localidade,
tratando de destituir aliados dos chimangos e nomeando caranguejos para cargos,
reorganizando a Guarda Nacional e orientando as eleições para os juizados de paz. Em outras
palavras: usou os mesmos instrumentos legais utilizados por seu antecessor no cargo265.
259 PAIVA, op. cit., 1979, p. 126. 260 Idem, p. 126. 261 CORDEIRO, op. cit., 2007, p. 138. 262 BASILE, op. cit., 2009, p. 64. 263 BASILE, op. cit., 2009, p. 93. 264 HOMEM DE MELLO, op. cit., 1895, p. 56. 265 ARAÚJO, op. cit., 2018, p. 372.
57
Dois outros presidentes conservadores governaram o Ceará, o fluminense João Antônio
de Miranda e o piauiense Francisco de Sousa Martins266, até que o Golpe da Maioridade deu a
oportunidade aos liberais de voltar ao poder na província. Alencar, após cerca de três anos,
tomou posse, mais uma vez, na presidência provincial em 20 de outubro de 1840.
O chamado “Gabinete da Maioridade” foi entregue aos liberais Antônio Carlos de
Andrada e Martim Francisco de Andrada, Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque,
Antônio Francisco de Paula Holanda Cavalcanti de Albuquerque, Antônio Paulino Limpo de
Abreu e ao áulico, com forte influência sobre o jovem Pedro II, Aureliano Coutinho. Tinha
início o sistema de rotatividade periódica dos partidos no poder, utilizada para regular os
conflitos entre as elites políticas imperiais267.
Os ventos da política nacional que haviam levado Alencar de volta ao poder provincial
mudaram de direção rapidamente. A série de arbitrariedades utilizadas pelo Gabinete para
garantir a vitória nas eleições para a Câmara Geral em 1840 levou ao desgaste dele, sendo
substituído a 23 de março de 1841 por novo ministério, composto pelos conservadores
sintonizados com os ideais do Regresso. Em poucos meses, o gabinete aprovou a reforma do
Código de Processo Penal e o restabelecimento do Conselho de Estado, avançando no desmonte
das medidas implantadas pelos liberais moderados durante a Regência268. Alencar foi
exonerado do cargo em 1 de abril de 1841. No seu lugar foi nomeado um português, brigadeiro
José Joaquim Coelho. Segundo Celeste Cordeiro, com a posse do brigadeiro como presidente,
os caranguejos assumem totalmente o controle da vida política, tendo início “o predomínio
boticário-carcará, trazendo a agudização da violência”269. As reformas da conjuntura deram
maior poder aos presidentes que se articularam com os conservadores da província para garantir
as vitórias eleitorais, com o uso da polícia e justiça para perseguição dos liberais.
Um dos símbolos dessa fase foi o assassinato do major João Facundo, vice-presidente
do Ceará e membro da família Castro e Silva, portanto, das principais lideranças liberais da
província. Na lápide do túmulo, conservada na Igreja do Rosário de Fortaleza, é possível ver a
acusação latente de quem seria o responsável pelo homicídio: “Aqui jazem os restos mortais do
Major João Facundo de Castro Menezes, Vice-Presidente da Província, assassinado a 8 de
dezembro de 1841, sendo Presidente o português José Joaquim Coelho. Nasceu aos 12 de julho
de 1787. Tributo de amizade da sua infeliz esposa, Dona Florência D’Andrade Bezerra e Castro,
266 HOMEM DE MELLO, op. cit., 1895, p. 56. 267 BASILE, op. cit., 1990, p. 238-239. 268 Idem, p. 239. 269 CORDEIRO, op. cit., 2007, p. 144.
58
a 8 de dezembro de 1842”. Ao registrar em pedra o nome do presidente do Ceará, Florência
pretendeu eternizar a memória do finado esposo e de seu suposto assassino270.
O predomínio boticário-carcará não se modificaria nem durante a Conciliação. Para
Celeste Cordeiro, os conservadores cearenses não abriram espaço que permitisse a composição
com os adversários e o ambiente político eleitoral permaneceu tenso nos anos 1850, com o uso
da presidência da província para garantir a proeminência política daqueles271. Já Geraldo Nobre
afirmou: o interesse das parcialidades cearenses em garantir as posições conquistadas nos
distritos eleitorais explica o fracasso na província da política implantada por Paraná272.
As eleições do período eram indícios claros da dificuldade de implementação da
Conciliação na província. O padre Manuel Joaquim Aires do Nascimento registrou, no livro de
óbitos da Paróquia de Nossa Senhora da Penha do Crato: em 8 de setembro de 1856, pelas três
horas da tarde, José Gonçalves Landim, de vinte sete anos, “foi assassinado pelos soldados do
Governo com uns tiros de granadeiro e de quatro baionetadas”273. A acusação não podia ser
mais direta. O crime ocorreu dentro da igreja matriz, durante a eleição para os cargos de juiz de
paz e para membros da Câmara Municipal. O falecido era eleitor do Partido Liberal, o mesmo
seguido pelo padre Aires do Nascimento. À frente da celeuma toda esteve o delegado da cidade,
José Ferreira de Meneses, membro do Partido Conservador, acusado pelo jornal liberal O
Araripe, em texto assinado pela viúva, Izabel de Macedo Landim, de mandar atirar nos liberais
que se encontravam dentro da igreja274.
O conflito na cidade de Crato não fora exceção, sendo perceptível por toda a província
naquele 8 de setembro de 1856. Segundo Studart, na povoação de Santana, “recusando a
respectiva mesa receber a cédula de um indivíduo, não qualificado, o povo apoderou-se da urna
e papéis, resultando desse conflito uma morte e muitos feridos”275. Sobral também teve
transtornos, com morte por “punhal de quatro liberais e mais cinquenta ferimentos em pessoas
de ambos os partidos”276. Na vila de Imperatriz, houve o “ferimento e espancamento de muitas
pessoas e a morte de um votante por um soldado”277. Tratando desta eleição, um documento
270 BATISTA, Henrique Sérgio de Araújo. Assim na morte como na vida: arte e sociedade no Cemitério São João
Batista (1866-1915). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2003, p. 42. 271 CORDEIRO, op. cit., 2007, p. 145. 272 NOBRE, op. cit., 2006, p. 89. 273 DHDPG. Livro de Óbitos da Paróquia de Nossa Senhora da Penha do Crato (1853-1859), p. 162. 274 O Araripe, n. 61, 13 set. 1856, p. 2-3. 275 STUDART, Dr. Barão de. Datas e factos para a história do Ceará. Edição fac-sim. (1896). Fortaleza: Fundação
Waldemar de Alcântara, 1997a, p. 156. 276 FIGUEIREDO FILHO, J. de. História do Cariri. Vol. 3. Crato: Faculdade de Filosofia do Crato, 1966, p. 138. 277 STUDART, op. cit., 1997a, p. 156.
59
oficial da presidência do Ceará contabilizou oito mortes “e muitos ferimentos foram o resultado
dessas lutas desgraçadas, que tanto depõem contra os nossos interesses e civilização”278.
Em 1860, primeiro pleito com a aplicação da eleição de três deputados por círculo,
novos conflitos foram registrados. O mais grave ocorreu na vila de Telha (hoje Iguatu), no
centro sul da província, evento estudado por Bruno Freitas. Telha estava politicamente
subordinada à cidade de Icó, mas se encontrava nas imediações da região de Saboeiro, reduto
conservador, berço da facção política vinculada à família Fernandes Vieira, os “carcarás”.
Durante a eleição, o delegado e o subdelegado da vila teriam atuado para impedir a concorrência
liberal ao local da votação, trancando as portas da igreja com eleitores conservadores dentro.
Os liberais reagiram, tentando forçar a entrada no templo. Teve início o tiroteio, resultando na
morte de quatorze pessoas, a maioria da facção liberal, malgrado ter perecido também o
delegado da vila. Outras trinta pessoas foram feridas279.
Era, portanto, essa a feição da política cearense em 1862, quando da posse de José
Bento da Cunha Figueiredo Júnior. Em momento marcado pela ascensão das propostas da Liga
na Corte, sendo responsável pela queda de dois gabinetes em curto espaço de tempo, o
presidente teria de lidar com as tensões políticas constantes das parcialidades cearenses e seguir
as orientações emanadas do governo central. Uma vez empossado, Figueiredo Júnior poderia
esperar tentativas das facções do Ceará de cooptá-lo para a defesa de seus interesses. Ter a
aceitação das parcialidades em tempo de Liga foi um desafio, afinal, não era desejável ter uma
oposição ferrenha contra si naquele contexto: a estabilidade no cargo poderia ser abalada ante
a acusação de postura facciosa. Todavia, um evento maior que as vontades dos grupos políticos
provinciais acabou embaralhando tudo, dando intensidade às disputas e aumentando as
cobranças sobre a presidência: antes mesmo da posse de Figueiredo Júnior em Fortaleza, o
cólera atingiu o interior do Ceará.
1.3 - “Um inimigo em triunfo”
No dia 9 do corrente chegou o vapor Imperador procedente dos portos do norte, pelo
qual tivemos jornais, e cartas.
278 BARRETO, Francisco Xavier Paes. Relatório com que o excelentíssimo senhor doutor Francisco Xavier Paes
Barreto passou a administração da província ao terceiro vice-presidente da mesma, o excelentíssimo senhor
Joaquim Mendes da Cruz Guimarães, em 25 de março de 1857. Fortaleza: Typographia Cearense, 1857, p. 3.
Disponível no site http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial/ceará. Acesso a 20 ago. 2018. 279 FREITAS, Bruno Cordeiro Nojosa de. A exaltação dos eleitos: evolução eleitoral e política do Império (Ceará,
1846-1860). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2011, p. 122-124.
60
Na ordem política nada tinha ocorrido nas províncias do norte; porém no Pará se tinha
desenvolvido uma terrível moléstia que ia fazendo grande número de vítimas. Dizem
geralmente ser o cólera morbo, e o Estandarte do Maranhão o diz positivamente280.
Com essas palavras, o jornal O Cearense divulgou a chegada do cólera ao Pará, em
1855, repercutindo notícias de periódicos e cartas advindos desta província e do Maranhão.
Responsável por cerca de trinta a quarenta milhões de mortes no mundo oitocentista281, o cólera
manifestou-se pela primeira vez no Brasil a 15 de maio de 1855, escondido no organismo de
passageiros vindo de Portugal, na galera Defensor, conduzindo três centenas de colonos, vindos
da cidade do Porto e de outras localidades lusas, para serem engajados na Companhia de
Navegação e Comércio do Amazonas, com sede em Belém282.
A Ásia foi o nicho ecológico original do vibrião colérico, especificamente, a região do
baixo-Bengala, no Delta do Ganges. As condições climáticas quentes da área favoreceram o
desenvolvimento de rica variedade de minúsculos organismos infecciosos, que, quando
migravam para hospedeiros humanos, encontravam temperaturas corporais similares para
proliferação. O bacilo do cólera pode viver como organismo independente na água por longo
período, adicionando maiores chances de contaminação humana: endêmico por séculos na
região de origem, comumente, causava surtos epidêmicos em outras áreas da Índia,
especialmente por conta das grandes peregrinações hindus envolvendo o rio sagrado283.
A doença permaneceu, por séculos, de forma endêmica no Oriente, tornando-se
pandemia mundial a partir das primeiras décadas do oitocentos. Em época marcada pelo
imperialismo, a ação militar e as trocas comerciais encetadas pela Europa em outras regiões do
planeta – principalmente, por ingleses na Ásia – e o desenvolvimento dos transportes no século
XIX, com as vias férreas e os navios a vapor, facilitavam o contato e deslocamento de pessoas
e produtos pelo mundo. A tecnologia a encurtar o tempo das viagens e aproximar lugares
longínquos, favorecia, igualmente, um maior deslocamento das epidemias284.
Para McNeill, os surtos do cólera no oitocentos foram as mais significativas
manifestações de como a industrialização alterou as relações humanas com as doenças, ao
propiciar a “peregrinação global” do vibrião endêmico no Baixo- Bengala285. Não por acaso, as
cidades portuárias da Europa oitocentista, com ajuntamentos populacionais cada vez maiores,
280 O Cearense, n. 833, 12 jun. 1855, p. 1, grifos da fonte. 281 SOURNIA; RUFFIE, op. cit., 1986, p. 124. 282 BELTRÃO, Jane Felipe. Cólera, o flagelo do Grão Pará. Tese (Doutorado em História). Universidade Estadual
de Campinas, Capinas, 1999. 283 MCNEILL, Willian. H. Plagues and peoples. New York: Anchor Press, 1976, p. 266. 284 Ver: ROSEN, George. Uma história da saúde pública. São Paulo: Hucitec; Editora da Unesp; Rio de Janeiro:
Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva, 1994. 285 MCNEILL, op. cit., 1976, p. 266.
61
foram dominadas por grandes epidemias de cólera286. Tratando do assunto, Richard Evans,
afirmou: como todas as epidemias, o cólera não foi um evento autônomo e fortuito, mas produto
da agência humana, da desigualdade social, da agitação política e da industrialização287.
Diante das questões expostas acima, a contaminação do Pará, no ano de 1855, ocorreu
durante a terceira pandemia mundial do cólera288. Os primeiros casos deram-se a partir do
desembarque de europeus contratados como colonos por empresa com sede em Belém. Uma
vez em solo brasileiro, o cólera alastrou-se velozmente para outras províncias. Interpondo-se às
tentativas de quarentena, seguindo a rota marítima dos vapores a interligar as capitais
provinciais litorâneas, assim como as vias terrestres, unindo estas às localidades interioranas,
logo a doença espraiou-se pelo território imperial. A partir do foco inicial, a cidade de Belém,
a contaminação difundiu-se pelo interior paraense, atingindo o Amazonas. Tendo relações
comerciais estreitas com Belém, o Maranhão teve a manifestação da epidemia em julho289. No
mesmo mês, deram-se os primeiros casos na Bahia290 e no Rio de Janeiro291. Em outubro, foi a
vez de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul receberem o trágico visitante292. No
Espírito Santo293, Alagoas e Sergipe294 o surto principiou em novembro. Dezembro teve
Pernambuco295 e Paraíba atacados pela moléstia, logo seguindo na direção do Rio Grande do
Norte, em janeiro de 1856.
Tratando da chegada do cólera ao Brasil, o médico José Pereira Rego, futuro Barão do
Lavradio, afirmou: “Estava reservado ao ano de 1855 o triste papel de inscrever a mais negra
286 RÉMOND, René. O século XIX: introdução à história do nosso tempo. São Paulo: Cultrix, 1989, p. 145. 287 EVANS, op. cit. 2005, p. 564. 288 A historiografia estabeleceu cronologias para as ocorrências pandêmicas do cólera. Há variações quanto às
datas e locais de cada vaga. As cronologias mais consensuais dividem em sete ou oito as pandemias. Lewinsohn
sintetizou-as da seguinte forma: 1ª) 1817-1823 – Muitas partes da Ásia; 2ª) 1829-1851 ou 1826-1837 – Rússia,
Europa Ocidental, Inglaterra, Estados Unidos, México e ilhas Caraíbas; 3ª) 1852-1859 ou 1846-1862 – Europa e
América; 4ª) 1863-1879 ou 1864-1875 – Ásia, África, Europa e América; 5ª) 1881-1896 ou 183-1896 – Oeste da
Ásia, Egito, Rússia, Europa Ocidental e Inglaterra; 6ª) 1899-1923 – Egito, sudeste e oeste da Europa e Rússia; 7ª)
A partir de 1961 – surgimento do novo vibrião do cólera, o El Tor, com casos na Ásia, Oriente Médio, África,
Europa e Estados Unidos; e 8ª) De 1991 em diante, com a identificação do sorotipo 0139 em casos da América do
Sul e Central (LEWINSOHN, Rachel. Três epidemia: lições do passado. Campinas: Editora da Unicamp, 2003, p.
116). Já Nikelen Witter sintetizou a cronologia em sete pandemias: 1ª) 1817-1824 – Ásia, Oriente Médio e
Madagascar; 2ª) 1829-1837 – Ásia, Austrália, Oriente Próximo, Europa, Américas do Norte, América Central e
África; 3ª) 1840-1860 – Ásia, Oriente Médio, Rússia, Europa, América do Norte, América do Sul e África; 4ª)
1863-1877) – Ásia, Oriente Médio, Rússia, Europa, América do Norte, América do Sul e África; 5ª) 1881-1896 –
Ásia, Oriente Médio, Rússia, Europa, América do Norte, América do Sul e África; 6ª) 1899-1923 – Ásia, Oriente
Médio, Rússia, sul da Itália, Europa Central e África; 7ª) de 1936 até nossos dias. WITTER, op. cit., 2007, p. 39. 289 DINIZ, op. cit., p. 57. 290 DAVID, op. cit., 1996, p. 41. 291 PIMENTA, op. cit., 2004, p. 31. 292 WINTER, op. cit., 2007. 293 FRANCO, op. cit., 2015, p. 37. 294 SANTOS NETO, op. cit., 2001. 295 FARIAS, op. cit., 2007.
62
página nos anais da história médica contemporânea em nosso país com a invasão deste terrível
flagelo do gênero humano”296. Pereira Rego era membro da Junta Central de Higiene Pública,
principal órgão sanitário do Império, criado pela lei n. 598, de 14 de setembro de 1850, com o
nome inicial de Junta de Higiene Pública297. Ao longo da primeira metade do século XIX, o
território imperial esteve isento de grandes epidemias, fato explicado por médicos, de modo
simplista, pelo clima e localização geográfica do país. Entre o verão dos anos de 1849 e 1850,
o Rio de Janeiro e outras cidades portuárias foram duramente atacadas pela febre amarela,
derrubando a crença nos efeitos benéficos da Linha do Equador sobre as epidemias. Na ocasião,
nem a família imperial ficou incólume: Pedro II e a princesa Isabel ficaram doentes e o príncipe
Pedro Afonso, de apenas um ano e meio de idade, faleceu. Passado o surto, a estimativa oficial
sobre a epidemia na Corte falava em quatro mil cento e sessenta óbitos, enquanto,
extraoficialmente, houvesse quem calculasse em mais de dez mil o número de vítimas fatais298.
Nesta quadra, a instituição da Junta Central de Higiene significava “mudança na forma
como o Estado lidou com a saúde pública no século XIX”299. A assistência à saúde, até então,
estava, basicamente, ligada à lógica caritativa das Santas Casas de Misericórdia e ordens
religiosas. A eclosão da febre amarela acendeu o alerta às autoridades imperiais para a
necessidade de agir mais ativamente na esfera da saúde pública. Em conjuntura de centralização
do poder político, sob a ótica Saquarema, citada anteriormente nesta tese, e de fim do tráfico
atlântico de escravos300, a Junta foi criada para ser o “centro de todo o serviço sanitário do
296 REGO, José Pereira. Memória histórica das epidemias da febre amarella e cholera-morbo que têm reinado no
Brasil. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1873, p. 79. Disponível no site da Biblioteca Digital Luso
Brasileira: http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_obrasraras/or1467051/or1467051.pdf. Acesso a 8
ago. 2019. 297 BARBOSA, Plácido; REZENDE, Cássio Barbosa de. Os serviços de saúde pública no Brasil, especialmente
na cidade do Rio de Janeiro de 1808 a 1907: esboço histórico e legislação. Vol. I. Rio de Janeiro: Imprensa Oficial,
1909, p. 64. Disponível no site do acervo digital de Obras Raras Fiocruz:
https://www.obrasraras.fiocruz.br/media.details.php?mediaID=243. Acesso a 8 ago. 2019. 298 CHALHOUB, op. cit., 1996, p. 61. 299 KODAMA, Kaori et al. Mortalidade escrava durante a epidemia de cólera no Rio de Janeiro (1855-1856).
História, Ciências, Saúde – Manguinhos. Rio de Janeiro, v. 19, supl., p. 59-79, dez. 2012. 300 Segundo Sidney Chalhoub, na conjuntura de estouro da febre amarela, houve quem relacionasse a chegada da
doença com o tráfico atlântico de africanos. Como não se conhecia ainda ser a doença propagada por mosquitos,
as péssimas condições higiênicas dos navios negreiros eram apontadas como focos da corrupção atmosférica
propiciadora da infecção. Tal explicação chegou a ser usada como uma das justificativas para aprovação da lei
Eusébio de Queiroz, de 1850. Cessado o tráfico externo de africanos e com o aumento exponencial da entrada de
imigrantes, especialmente europeus, nas décadas seguintes, a febre amarela ganhou mais atenção das autoridades.
Segundo os dados da época, a doença causava maior letalidade em pessoas não “aclimatadas” às condições do
Brasil, funcionando como propaganda negativa no estrangeiro. Chalhoub demonstra, assim, como as políticas
sanitárias da segunda metade do século XIX foram tomadas pela “ideologia da higiene”, protagonista de ações
autoritárias, refletindo o racismo científico e problemas sociais do período, como a precariedade das moradias
populares. Neste cenário, o projeto acalentado pelas elites de “embranquecimento” da população ganhou espaço,
chegando à República. CHALHOUB, op. cit., 1996, p. 94-95.
63
Império”301, dando-lhe direção por meio das orientações voltadas a órgãos subordinados,
criados nas províncias em 1851, batizados, a partir de 1857, de Inspetorias de Saúde Pública302.
A criação da Junta também refletiu o avanço da institucionalização da medicina no país.
Desde 1832, quando ocorreu a fundação das faculdades de medicina de Salvador e do Rio de
Janeiro, os médicos ascendiam em destaque na sociedade imperial, combatendo práticas de
curas não oficiais e hábitos da população tidos como anti-higiênicos, além de programarem
reformas urbanas que prometiam melhorar as condições sanitárias das grandes cidades303.
A epidemia do cólera, em 1855, significou o primeiro grande desafio aos médicos da
Junta Central de Higiene. Contudo, o órgão enfrentou sérios problemas na ocasião. Para
começar, entre os médicos, prevalecia o dissenso em relação à causa do cólera. De modo similar
à Europa, prevalecia no Brasil a concorrência ou mescla entre os paradigmas do contágio e
infecção304. Nessas circunstâncias, Tânia Salgado Pimenta, tratando do Rio de Janeiro, afirmou
ter a Junta evitado tomar posição definitiva sobre uma ou outra tese, pois era “interessante
poupar a autoridade recém instalada de desgastes com a comunidade médica e com os leigos
que haviam se posicionado”305. Ademais, num contexto de epidemia, as “opiniões se tornam
mais exacerbadas e explícitas, intensificando os conflitos”306.
Assim sendo, o órgão máximo de saúde adotava, pari passu, ações de quarentena, como
o sequestro de doentes, e de combate aos miasmas, como a limpeza de ruas, valas, praias e a
desinfecção de casas onde habitavam coléricos, com o uso de “cal nas paredes e fumigação com
301 BARBOSA; REZENDE, op. cit., 1909, p. 65. 302 BARBOSA; REZENDE, op. cit., 1909, p. 72. 303 Ver: CHALHOUB, op. cit., 1996; REIS, João José. A Morte é uma Festa: ritos fúnebres e revolta popular no
Brasil do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 1991. 304 Na metade do oitocentos, o cólera era tratado a partir de terapêuticas embasadas em duas teorias seculares que
procuravam elucidar a causa e transmissão das doenças: o infeccionismo e contagianismo. A teoria de infecção
defendia que as doenças eram ocasionadas no organismo pela ação deletéria dos miasmas, substâncias orgânicas
em putrefação que contaminavam o ar de determinado ambiente. Já o contagionismo acreditava que algumas
moléstias tinham a propriedade de se comunicar de um indivíduo a outro pelo contato direto ou por intermédio do
ar. Dina Czeresnia afirma que até o século XVI, não havia conflito entre as duas noções, pois ambas se
relacionavam com a teoria dos humores de Hipócrates. Os choques emergiram, principalmente, nos séculos XVII
a XIX, sendo causada por divergências a respeito das medidas profiláticas no trato das epidemias nas urbes
europeias em expansão. Via de regra, os contagionistas se posicionavam em prol das quarentenas, significando
severo cerceamento e vigilância sobre os doentes. Já os adeptos da teoria dos miasmas, ao relacionarem a origem
dos surtos epidêmicos a fenômenos atmosféricos, acentuavam práticas direcionadas ao controle e limpeza
ambiental (CZERESNIA, Dina. Do contágio à transmissão: uma mudança na estrutura perceptiva de apreensão da
epidemia. História, Ciências, Saúde – Manguinhos. Vol. IV (I), mar.-jun. 1997, p. 75-94). Para William McNeill,
as epidemias de cólera nas grandes cidades oitocentistas acrescentaram nova urgência ao debate de longa duração
entre as escolas rivais (MCNEILL, op. cit., 1976, p. 270). Malgrado a contenda entre as teorias da infecção e
contágio, Sidney Chalhoub mostra que, no contexto das epidemias imperiais, elas acabaram se combinando com
frequência, de formas imprevista e original. CHALHOUB, op. cit., 1996, p. 169. 305 PIMENTA, Tânia Salgado. O exercício das artes de curar no Rio de Janeiro (1828 a 1855). Tese (Doutorado
em História). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2003, p. 190. 306 PIMENTA, op. cit., 2003, p. 177.
64
vinagre, ácido sulfuroso (enxofre queimado) ou cloro e aspersão com água de labarraque”307.
Tal dubiedade atraía a crítica de parlamentares, médicos opositores e de leigos, alguns
diretamente atingidos pelas medidas de profilaxia da Junta, expondo suas ideias livremente nos
jornais cariocas. Por outro lado, os médicos não eram unânimes quanto aos tratamentos mais
adequados no socorro aos coléricos, indo do uso violento da sangria, cáusticos e vesicatórios
da medicina alopática às “doses infinitesimais” da homeopatia308. Portanto, as divergências
entre os médicos, e entre esses e os leigos, ficaram mais patentes durante o surto epidêmico.
As cisões dos esculápios não foram exclusividade do Brasil oitocentista. A partir de
1830, quando o cólera se alastrou pela Europa, alguns cientistas levantaram hipóteses
verossímeis sobre a etiologia dele, sem repercussão e aceitação imediata. O inglês John Snow,
em 1849, indicou a relação entre a transmissão do cólera e a água, ao mapear as mortes nas
áreas de Londres abastecidas pelo rio Tâmisa309. Já o italiano Filippo Pacini, na década de 1850,
realizou estudos nas vísceras de coléricos, nas quais identificou a presença de microrganismo
estranho310. Malgrado os estudos de Pacini, a história oficial da medicina deu ao médico Robert
Koch (1843-1910) o mérito da descoberta do agente transmissor da doença, enquanto liderava
comissão científica alemã no Egito, no ano de 1883311.
Em meio às incertezas da medicina, o cólera foi responsável pela morte de cerca de
duzentas mil pessoas no Brasil de 1855 a 1856, sendo cento e trinta mil só na região do atual
Nordeste. As províncias da Bahia, Pernambuco e Paraíba tiveram as maiores mortalidades
registradas, ultrapassando a casa de trinta mil cada312. A produção historiográfica dedicada ao
assunto demonstra terem sido negros, libertos ou escravizados, a maioria dos vitimados no
Brasil, somados a brancos e pardos situados nas camadas mais miseráveis. Para Donald Cooper,
“nada menos que dois terços das vítimas do cólera no Brasil eram negras. Foi um holocausto
sul americano do século XIX”, o “maior e mais dramático desastre demográfico do Brasil”313.
Tratando da mortalidade negra por cólera no Rio de Janeiro, Kodama et al afirmaram:
307 PIMENTA, op. cit., 2003, p. 228. 308 PIMENTA, op. cit., 2004, p. 51. 309 SNOW, John. Sobre a maneira da transmissão do cólera. Rio de Janeiro: USAID, 1967. 310 LEWINSOHN, op. cit., 2003, p. 125. 311 ROSENBERG, op. cit., 1987, p. 3. A descoberta de Koch, ao isolar o vibrião, não deixou de ser alvo de
acaloradas contestações. Na Alemanha, Max Von Pettenkofer, principal autoridade médica no país por décadas, e
defensor da teoria miasmática, travou renhidas discussões com o colega Koch, ascendente em poder e prestígio no
país. Pettenkofer chegou a tomar um copo de água contaminada pelo vibrião, para tentar provar que o adversário
estava errado. EVANS, op. cit., 2005, p. 497. 312 DINIZ, op. cit., 2011, p. 57. 313 COOPER, op. cit., 1986, p. 486. As taxas indicadas por Cooper lembram as considerações de Kenneth Kiple
sobre a relação raça/epidemia no Caribe, reforçando a constatação de ter sido o cólera um ceifador de vidas negras
na América Latina oitocentista (KIPLE, op. cit., 1985). Segundo Cooper, a “perda de milhares de trabalhadores
para o cólera foi um golpe terrível para o Brasil, especialmente porque a importação de novos escravos da África
65
Ainda que nem todos os livres possam tampouco figurar em situações de vida
diferentes daquelas dos escravos e dos libertos, é notória a mortalidade nos
dois últimos grupos, seja por sua maior exposição aos dejetos, por falta de
acesso à água limpa ou por condições físicas já precárias314.
Além do desastre demográfico, o cólera horrorizava pelos efeitos degradantes da doença
sobre a aparência. O espetáculo nauseabundo dos vômitos e dejeções incontroláveis modificava
em pouco tempo o corpo mais rijo, transformando-o em algo ressequido, enrugado e
esquelético. Para Charles Rosenberg, o cólera marcou o século XIX como a peste bubônica o
XVI, não só pelos estragos produzidos, mas, principalmente, pelas marcas deixadas na memória
dos sobreviventes, devido aos sintomas espetaculares, similares ao do envenenamento agudo
por arsênico315. Horrorizava, sobretudo, a cianose, decorrente do colapso circulatório, deixando
os doentes com a pele azul. Susan Sontag afirmou: o pavor ocasionado pelo azul do cólera está
na origem do termo francês une peur bleue, usado para definir “um medo paralisante”316.
Diante dos funestos feitos da primeira leva de epidemias do cólera no Império do Brasil,
o Ceará conviveu com o medo de ser visitado por tão indesejado viajante. Com a peste agindo,
ao mesmo tempo, em três províncias ligadas ao território cearense, a maior parte de suas
fronteiras estava sitiada entre 1855 e 1856. A apreensão em relação à proximidade dos surtos
epidêmicos está fartamente documentada na imprensa e nos relatórios oficiais dos presidentes
da província, sendo escopo da análise feita pela historiografia sobre o tema317. A peste poderia
cruzar os limites do Ceará por Crato, na fronteira com Pernambuco, ou por Icó, fronteiriço da
Paraíba e Rio Grande do Norte, ou ainda em Aracati, vizinho do território potiguar. Todas as
possibilidades pareciam verossímeis, pois os “pontos limítrofes dessas comarcas com o das
províncias vizinhas têm sido atacados daquela epidemia, e não é impossível que ela, por um
dos seus numerosos caprichos, passe imediatamente para o território desta província”318.
Sem embargo do receio sentido entre 1855 e 1856, o cólera não cruzou a fronteira do
Ceará naquela ocasião. Passadas as cenas de pânico dos surtos iniciais, a doença permaneceu a
errância pelo território brasileiro. Manifestações bem mais amenas, em comparação à
temporada de estreia, ocorreram em 1857 e nos anos seguintes nas províncias da Paraíba, Rio
havia terminado em 1850, e as recentes e devastadoras epidemias de febre amarela complicaram o recrutamento
de substituições” por colonos europeus. COOPER, op. cit., 1986, p. 484. 314 KODAMA et al, op. cit., 2012, p. 65. 315 ROSENBERG, op. cit., 1987, p. 2. 316SONTAG, op. cit., 2007, p. 108. 317 ALEXANDRE, op. cit., 2010; LEMOS, Mayara de Almeida. Terror no sertão do Ceará: o cólera e seus
flagelos. Fortaleza: EdUECE, 2016; MACIEL, op. cit., 2017. 318 CUNHA, Herculano Antonio Pereira da. Relatório com que abriu a Assembla Legislativa Provincial do Ceará,
o 1º Vice-Presidente da mesma o Excelentíssimo Senhor Doutor Herculano Antonio Pereira da Cunha, no dia 1º
de julho de 1856. Tipografia Cearense, 1856, p. 24. Disponível no site http://www-
apps.crl.edu/brazil/provincial/ceará. Acesso em 31 ago. 2018.
66
Grande do Norte, entre outras que já haviam sido palco para o terrível drama epidêmico. Entre
1858 e 1861, o cólera parecia ter desaparecido, sumindo quase completamente da mira dos
jornais e dos discursos dos políticos no Ceará. Não obstante, no ano de 1862, novos surtos
ocorreram, atingindo com força, regiões do sertão paraibano, limítrofes ao território cearense.
Desta vez, a província não teve escapatória.
Situada na fronteira da Paraíba, tendo relações comerciais com localidades então
atacadas por surtos, a cidade de Icó temia ser a porta de entrada do cólera no território cearense.
As publicações da imprensa nos primeiros meses de 1862 reivindicavam providências das
autoridades para evitar a contaminação de Icó, bem como sugeriam o envio de médicos e
remédios para tratamento dos eventuais doentes, caso se manifestassem no lugar. As indicações
de formas de tratamento da doença, que ocuparam bastante espaço na imprensa cearense de
1855 e 1856, foram retomadas.
O temor da contaminação tornou-se maior a 22 de março: um homem enviado em busca
de remédios para tratamento dos coléricos de Sousa, na Paraíba, caiu doente a apenas duas
léguas de distância de Icó. Pedro Théberge, médico francês residente na cidade, foi chamado a
socorrer o enfermo. Até então, o médico tinha publicado textos contestando a existência do
cólera em Sousa. É provável estarem nas inquietações de Théberge, a respeito da confirmação
da moléstia, algo recorrente nos lugares vitimados por epidemias. Conforme Jean Delumeau,
“o medo legítimo da peste levava a retardar pelo maior tempo possível o momento em que seria
encarada de frente. Médicos e autoridades procuravam então enganar a si mesmos”319. As
considerações de Rosenberg, sobre o “primeiro ato” do drama protagonizado pelas epidemias,
também ajudam a entender a atitude de Théberge. A demora em aceitar e reconhecer a presença
da doença invasora foi uma constante em outras epidemias, afinal, confirmá-la provocava
consequências concretas sobre questões políticas, sociais e econômicas da localidade afetada:
admitir a presença de doença epidêmica trazia riscos de “dissolução social”320.
Confrontado com a situação do doente vindo de Sousa, o doutor Pedro Théberge foi
obrigado a revelar a presença do cólera: “Quando chegamos encon[trei]-o já em termos de
expirar, e com todos [sin]tomas do cólera álgido321 o mais bem pro[v]ado: diarreia e vômitos
319 DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente: 1300-1800, uma cidade sitiada. São Paulo: Companhia das
Letras, 1989, p. 118. 320 ROSENBERG, op. cit., 1992, p. 281-282. 321 Considerada a etapa mais grave do cólera, a algidez era caracterizada pelo rápido esfriamento da temperatura
corporal. As orientações médicas do período sugeriam que, uma vez identificada a fase álgida, era necessário
buscar imediatamente restabelecer o calor no paciente. Texto publicado no jornal O Araripe sugeria que a ação
em prol da elevação da temperatura se desse em duas frentes: internamente, por meio da ingestão de infusão à base
de “café preto bem forte, do vinho do Porto ou de Madeira, aguardente ou álcool, ajuntando-se lhe de 8 a 20 pingos
do licor Stragnoff ”; e externamente, pela fricção, “com toda prontidão”, de baeta, flanela ou escova, embebida
67
pertinazes de más mucosas e de cor esbranquiçadas, dores [atro]zes no estômago e sobretudo
nos membros”322. No dia 5 de abril de 1862, José Leandro Tavares, “um forasteiro chegado do
Rio do Peixe [localidade da Paraíba]”323, morreu no núcleo urbano icoense: não havia mais
como negar a presença do visitante indesejado no Ceará. A partir de lá, a doença rapidamente
se alastrou pela província, seguindo os passos de boiadeiros – Icó era polo de distribuição de
gado desde o século XVIII – ou de pessoas que fugiam de localidades contaminadas324,
carregando o vibrião colérico nos organismos e mantimentos.
Como demonstra Dhenis Maciel, a entrada do cólera no Ceará não se deu pelo litoral:
acabou reproduzindo as rotas de ocupação do sertão cearense no século XVIII, o caminho do
gado, das ribeiras a ligar a região sul ao porto do Aracati325. Tendo em vista a posição estratégica
de Icó no comércio provincial, o vice-presidente do Ceará, José Antônio Machado, em meados
de março, fora taxativo em correspondência com o então Ministro de Negócios do Império,
Ildefonso de Lima Ramos: “Se o cólera morbo acometer a cidade do Icó, [...], é muito provável
que esta capital não escape à sua perniciosa influência atentas às frequentes comunicações e o
comércio bastante ativo, que ligam as duas localidades”326.
Em ofício de 4 de maio, quase um mês após o registro da primeira morte no Icó, o vice-
presidente informou: não “eram infundados os receios” manifestados na correspondência
anterior ao ministro, sobre a “invasão do cólera-morbo nesta província que está hoje a braços
com este terrível flagelo”. Comunicava o “quadro doloroso” de Icó, no “seu auge de
intensidade, apresentando o cortejo de horrores que a acompanha”. Anexado ao ofício, estava
cópia de comunicação feita pelo juiz de direito, Luís José de Medeiros, presidente da comissão
nomeada pelo governo provincial para socorrer os icoenses. Escrito a 18 de abril, descrevia o
ânimo abatido da população frente aos “verdadeiros triunfos” ostentados pela peste, com
dezenas de mortes contadas diariamente. Devido ao grande número de acamados os “médicos
já não têm forças e nem tempo para tanto trabalho, não lhes sendo possível acudir a todos”. A
situação ainda se complicava pela falta do pessoal necessário para trabalhar no hospital
em pimenta malagueta, mostarda ou cantáridas. Complementando tal tratamento, “o sumo do limão em doses
pequenas repetidas e progressivamente maiores, começando por uma colherzinha”, seria apropriado para o doente
que não estivesse totalmente álgido e demonstrasse muita sede. O Araripe, n. 307, 13 mai. 1864, p. 3. 322 O Cearense, n. 1519, 08 abr. 1862, p. 1. A edição do jornal consultada apresenta rasgos que comprometem
parte da leitura da correspondência do Dr. Théberge. As informações nos colchetes tentam, assim, completar as
brechas do documento a partir dos demais elementos textuais visíveis. 323 STUDART, Dr. Barão de. Climatologia, epidemias e endemias do Ceará. Ed. fac-sim. (1909). Fortaleza:
Fundação Waldemar Alcântara, 1997b, p. 54 324 STUDART, op. cit., 1997b, p. 54 325 MACIEL, op. cit., 2017, p. 97. 326 ANRJ. Ofício n. 28, 15 mar. 1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
68
improvisado e no cemitério. Ademais, a doença atingia prestadores de assistência à população,
como “um velho sacerdote que ontem sucumbiu e de dois outros que tem sofrido, e que eram
no seu elemento religioso, bons colaboradores na presente quadra”. O próprio Dr. Théberge
adoecera, de modo que a “cidade se comoveu sensivelmente a esse duplo golpe que [a atingiu]
espiritual e materialmente” ante a falta “desses seus guardas vigilantes e ativos zeladores”.
Tratava, ainda, das dificuldades enfrentadas pela comissão de socorros e de um empréstimo
contraído pela mesma, em nome do governo, para custear as ações. Neste cenário desolador, as
ruas da cidade estavam esvaziadas:
Quase todos os seus habitantes se recolhem, se concentram no recinto de suas
casas ou fazendas em leitos de dor ou velando à cabeceira dos amigos[,] dos
parentes que sofrem. Há uma verdadeira desolação, um como abandono
covarde aos acometimentos de um inimigo em triunfo327.
Recuperado da doença, o dr. Théberge enviou ao O Cearense relato da situação
epidêmica de Icó, datado a 8 de maio de 1862. Nele, ironizava a tendência geral do cólera no
mundo, de vitimar as camadas sociais marginalizadas, ao compará-la com o observado na
cidade. Segundo Théberge, os sobrados “mais bem arejados e mais asseados” de Icó, e que,
portanto, “deveriam ser mais poupados”, foram por onde o cólera principiou a ação “com um
furor inaudito a exercer sua espantosa tarefa”. Em contraste com tal situação, na cadeia da
cidade, onde “perto de 70 pessoas” se “achavam entulhadas”, e, por isso, havia a expectativa
do cólera agir com violência, “morreram dois [presos], já de muito tempo afetados de moléstias
mortais, e outros dois sucumbiram aos efeitos da epidemia. Todos os outros se
restabeleceram”328. Ante tais dados, Théberge ironizava o saber científico, do qual era
representante, como médico e naturalista, ao mesmo tempo em que demonstrava desconforto
com a proporção de mortos entre as elites locais, considerada alta por ele:
A cidade [de Icó] acha-se colocada numa imensa várzea; admiravelmente
assentada numa das margens do rio Salgado, sua elevação acima do seu álveo,
a preserva de suas maiores inundações, um declive natural do terreno favorece
o escoamento das águas fluviais, que favorece a abertura de valados em todas
as ruas que são largas, umas de perto de cem palmos, outras de mais de
duzentos; as casas são boas, espaçosas e asseadas. Ora a ciência ensina que
estas são as condições mais favoráveis à salubridade; logo o cólera não pode
deixar de a respeitar e de a poupar.
Sim, se a ciência não falhasse. Pois, por um capricho incompreensível desta
bizarra epidemia, assolou-a com uma sanha ainda sem exemplo no Brasil. No
327 ANRJ. Ofício n. 35. 04 mai. 1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 328 O Cearense, n. 1526, 27 mai. 1862, p. 4.
69
decurso do mês de abril, de cinco mil habitantes que conta o recinto da cidade,
levou quinhentos. Fez em um mês uma coleta exata do dízimo das vidas, e
ainda continua a fazer numerosas vítimas; e só Deus sabe até onde e quando
ele continuará a nos coletar[...].
Diz-se geralmente que o cólera é rasteiro e não alcança senão a gente baixa,
pobre e proletária. No Icó entre quinhentas vítimas que já se fez contam-se
mais de cem pessoas de notabilidade329.
Ainda segundo o médico, nos primeiros dez dias da epidemia, “só morriam mulheres”.
Passado o período inicial, o cólera teria se atirado nos “homens, como se o cruel se arrependesse
de ter sido tão descortês para com o belo sexo”330. A incidência de mortes femininas, indicada
por Théberge, pode ser explicada pelo papel desempenhado pelas mulheres no cotidiano
doméstico na época. Das mulheres, por exemplo, se esperava o cuidado com os doentes
domésticos e a lida com alimentos e outros potenciais focos de transmissão do vibrião colérico.
Tratando da epidemia de cólera de 1892, em Hamburgo, Richard Evans indicou como, seja nas
classes favorecidas ou não, as atribuições dadas às mulheres as expunham a maiores riscos:
[...] comprar, preparar e cozinhar alimentos, limpar a casa, inclusive os
banheiros, trocar fraldas [..] e lavar as roupas de cama, na verdade lavar tudo,
não apenas as vestimentas, mas também as panelas e frigideiras, os pratos, as
facas e os garfos. Todas essas atividades, é claro, ofereciam grandes riscos
durante uma epidemia do cólera331.
Após iniciar a matança de mulheres e homens de Icó, o cólera seguiu pelos caminhos
do Ceará. Saindo do polo inaugural de contaminação, seriam atingidas pelo cólera, ao longo de
1862, as localidades: Aquiraz, Assaré, Aracati, Barbalha, Baturité, Canindé, Cascavel, Crato,
Fortaleza, Imperatriz, Jardim, Lavras, Maranguape, Milagres, Missão Velha, Morada Nova,
Quixeramobim, Russas, Saboeiro, São João do Príncipe, Telha, Várzea Alegre, entre outras.
Das quatorze comarcas existentes no Ceará, sete foram atingidas entre abril e junho332. O cólera
abrangeu, desta forma, parte significativa do território cearense, marcando presença nas regiões
do Cariri e Inhamuns, no sertão central e norte da província e em parte do litoral, incluindo a
própria capital. A imagem a seguir sinaliza o ponto inicial da contaminação e indica os lugares
afetados pela epidemia:
329 O Cearense, n. 1526, 27 mai. 1862, p. 3-4. 330 O Cearense, n. 1526, 27 mai. 1862, p. 4. 331 EVANS, op. cit., 2005, p. 458. 332 ANRJ. Ofício n. 53. 30 jun. 1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
70
Fonte: Sinalização das localidades cearenses afetadas pelo cólera em 1862 sobre a imagem da “Carta corográfica
da Província do Ceará com divisão eclesiástica e indicação da civil judiciária até hoje” (1861), elaborada por Pierre
Théberge. A carta se encontra disponível no site: https://bdlb.bn.gov.br/acervo/handle/20.500.12156.3/27310.
Acesso a 9 nov. 2020.
Nos primeiros lances da epidemia, o presidente em exercício nomeou comissões de
socorro nas localidades, remeteu remédios e autorizações para criação de enfermarias nas
principais cidades, vilas e povoados, “onde sejam tratados os indigentes, que assim acharão um
abrigo contra a intempérie do tempo a que ficariam exposta em suas habitações insalubres”333.
333 MACHADO, José Antonio. Relatório com que o 4º. Vice-Presidente Comendador José Antonio Machado
passou a administração da província ao Excelentíssimo Senhor Doutor José Bento da Cunha Figueiredo Junior,
71
No próximo capítulo, mostrarei como as medidas da presidência no socorro aos lugares
contaminados, especialmente quando da posse de Figueiredo Júnior, tiveram destaque nas
disputas políticas, preenchendo as páginas da imprensa e a correspondência oficial com a Corte.
O pequeno número de médicos habitantes da província, especialmente do interior, era
problema na organização dos socorros públicos334. Almejando contornar a questão, o governo
do Ceará remeteu ofícios à Bahia, Maranhão, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte,
pedindo que as presidências destas províncias arregimentassem profissionais e os
encaminhassem à Fortaleza. Vários facultativos, como eram chamados também os formados
em medicina, foram enviados, sendo contratados e conduzidos para diferentes lugares. Ao todo,
35 médicos foram comissionados pelo governo provincial para tratamento dos coléricos335. O
pagamento dos facultativos era negociado individualmente, pelas comissões de socorro e pela
presidência. Tais tratativas levaram a recusa do governo em empregar alguns médicos de outras
províncias, por conta do alto valor pedido, chegando à cifra de cinquenta mil réis diários336.
Em algumas ocasiões, o pagamento acordado com médicos foi alvo de reprimenda por
parte do Ministério, cobrando cautela nos gastos da verba destinada aos socorros públicos. Ao
saber que o Dr. Antônio Manoel de Medeiros, comissionado nas comarcas de Crato e Jardim,
fora contratado por 400$000 (quatrocentos mil réis), mais gratificação de 450$000 e diárias de
30$000, um servidor ministerial registrou, nas margens do ofício no qual o vice-presidente do
Ceará comunicava tais valores, que as diárias eram excessivas, cabendo empregar “toda
vigilância para que os seus comissários abusem o menos possível, e assim a Tesouraria pague
mais do que deve os socorros aqueles habitantes”337. Para tentar resolver o problema, o governo
chegou a propor a alguns profissionais que se engajassem nas comissões “sob promessa de uma
remuneração pecuniária paga segundo os seus serviços no fim da epidemia, em vez de
perceberem diárias desde que começaram as visitas domiciliares”338. Obviamente, poucos
médicos aceitaram tal proposta. Para as localidades onde não foi possível encaminhar
em 5 de maio de 1862. Typographia Cearense. 1862, p. 4. Disponível no site http://www-
apps.crl.edu/brazil/provincial/ceará. Acesso a 31 ago. 2018. 334 A falta de médicos era um problema na maior parte do Brasil. Segundo Donald Cooper, as “duas escolas de
medicina do país [Rio de Janeiro e Salvador], formavam juntas menos de cem médicos por ano, em um país de
oito milhões de pessoas” em meados do século XIX. Os poucos formados acabavam concentrando-se nas grandes
capitais, sendo “raramente encontrados nas províncias pobres e remotas do norte”. COOPER, op. cit., p. 468. 335 ANRJ. Ofício n. 53. 30 jun. 1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 336 ANRJ. Ofício n. 57. 28 jul.1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 337 ANRJ. Ofício n. 28. 15 mar. 1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 338 ANRJ. Ofício n. 53. 30 jun. 1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
72
esculápios, o governo contratou práticos – pessoas que, mesmo sem formação acadêmica, eram
reconhecidas nas localidades como entendedoras das artes de curar – e enfermeiros.
A chegada do cólera também deu azo a práticas penitenciais amparadas no imaginário
da peste como “castigo divino”, uma das mais antigas representações sobre o fenômeno doença.
Devido ao caráter coletivo, pois durante sua manifestação “não é apenas um indivíduo que fica
doente, mas todos os que estão à sua volta”, atos coletivos também eram encetados para vencê-
la339. Para Delumeau, “as iniciativas individuais não bastavam”. Se a cidade inteira era tomada
pela doença, toda ela era considerada “culpada”. Logo, “sentia-se a necessidade de implorações
coletivas e de penitências públicas cuja unanimidade e o aspecto, [...], quantitativo, poderiam
talvez impressionar o Altíssimo”340. Orações públicas, procissões e outras práticas penitenciais,
eram, assim, instituídas para “remissão dos pecados” e vitória sobre a “peste” no Ceará. Studart
descreveu uma procissão de penitência, ocorrida nas ruas de Baturité durante o surto de 1862:
[...] na frente uma grande cruz cingida com uma toalha branca, uma matraca
a soar, o padre de alva e estola preta a entoar em voz cavernosa e soturna o
Paenitet e após a multidão dos fiéis, uns com grandes pedras sobre a cabeça,
outros com barricas ou pesados madeiros, descalços, todos a percutirem o
peito a clamar misericórdia ou a verter o sangue a mercê dos azorragues; as
casas de portas e janelas fechadas, ninguém ousando olhar os penitentes
porque então sobrecarregaria a consciência com os pecados deles; ao chegar
ao templo, mal alumiado, ao clarão dúbio de poucas velas, muitos se atiravam
ao chão para que a multidão lhes passasse por cima, outros permaneciam
imóveis de braços abertos, e a cada canto gemidos e o tilintar das disciplinas
[lâminas presas a um chicote] a cortarem as carnes sem piedade341.
Relatos de penitentes a se flagelar para abrandar a “ira dos Céus”, ou de celebrações
pias realizadas nos templos, também se deram em outros pontos da província, indicando como
a epidemia amedrontou àquelas pessoas. O pároco de Barbalha foi repreendido pelo O Araripe,
por, supostamente, incentivar a ação de penitentes, mesmo depois da passagem da epidemia. O
ritual aconteceria ao meio-dia, reunindo “bandos confusos de homens descalços e meio nus,
que cantando alto e descompassado rasgam as carnes com disciplinas!”. Em tom irônico,
afirmava que as pessoas não habituadas com os “costumes da paróquia”, achavam aquilo
“desordem” e “assuada”. Mas, concluía, os penitentes, “se açoitavam, porque o cólera estava
para vir, e agora se açoitam, porque não têm o que fazer”, com autorização do dito vigário342.
339 ADAM, Philippe; HERZLICH, Claudine. Sociologia da doença e da medicina. Bauru-SP: EDUSC, 2001, p.
17. 340 DELUMEAU, op. cit., 1989, p. 146. 341 STUDART, op. cit., 1997b, p. 55-56. 342 O Araripe, n. 291, 19 out. 1862, p. 2-3. O redator d’O Araripe, João Brígido, era inimigo do vigário de Barbalha,
o que ajuda a entender o tom agressivo na notícia. A rivalidade entre as personagens será discutida mais à frente.
73
A epidemia não deixou de servir pedagogicamente aos padres para incutir em suas
ovelhas elementos da catequese católica, em meio ao medo e caos instalados. Da freguesia de
Assaré, o pároco José Tavares Teixeira escreveu ao bispo diocesano informando “aproveitar a
boa disposição e mesmo situação desses infelizes” fregueses, “agora assombrados com o horror
de sua lamentável situação”. Por isso, pedia autorização ao pastor diocesano para simplificar os
proclamas matrimoniais, acelerando, assim, a oficialização dos enlaces dos casais que viviam
em concubinato e demonstravam a vontade de se casarem por medo de morrerem em pecado343.
Em Missão Velha, a situação dos que viviam em mancebia também era alvo das
prédicas, assim como várias celebrações de cunho penitencial tomaram o cotidiano da paróquia.
Félix Aurélio Arnaud Formiga, o vigário, informou a Dom Luís Antônio dos Santos que, desde
o surgimento do cólera, conservava “o povo de minha Freguesia em continua penitência,
fazendo novenas a São Sebastião, a Nossa Senhora das Dores, a Santa Rita, a São José,
Padroeiro da Freguesia, celebrando a Festa da Semana Santa e finalmente fazendo os exercícios
do Mês Marianno”. Nos sermões, padre Félix se esforçava em convencer os fiéis de que o cólera
não era tão terrível e que menor se tornaria com “súplicas e mortificações do que temos muitos
exemplos na História”. Diante das mortes sucessivas e do medo que tomava conta da vila, o
vigário almejava comover fiéis, emendar atos, reconciliá-los com a Igreja, por meio dos
sacramentos, e superar conflitos entre os fregueses, como insinua o trecho a seguir:
Devo dizer mais a V. Exª. que tenho pregado em quase todos os Domingos,
como me tem permitido a minha fraqueza e incapacidade intelectual, foi meu
primeiro cuidado falar sobre o perdão das injurias, inimizades, e tenho a
fortuna de asseverar a V. Exª. que tem havido uma geral reconciliação nesta
Freguesia, de sorte que não me consta haver presentemente alguma
malquerença: muita gente que por indiferença, ou outros motivos não se
confessavam havia muito tempo, e pareciam rebeldes, tem procurado a
confissão sacramental, alguns amancebados se estão habilitando para se
casarem e outros tem saído desse miserável estado; e finalmente, Exmº.
Senhor, não me tem parecido sem fruto o chamamento à penitência, em cuja
prática, muitos se tem convertido à vista da penitência doutros344.
Se a penitência era preocupação compartilhada amplamente, por conta da força da
cultura católica na província, médicos e autoridades públicas não deixaram de procurar as
causas naturais da doença. Sem a clareza de que a água, alimentos e demais objetos em contato
343 DHDPG. Carta do Pe. José Tavares Teixeira a Dom Luís Antonio dos Santos. 22 mai. 1862. Pasta CRA, 19,
120. Onildo David também registrou fenômeno parecido na Bahia de 1855, quando da epidemia do cólera:
“Durante a epidemia, grande número de casais que viviam amancebados, [...], trataram de formalizar suas uniões
através do matrimônio”. DAVID, op. cit., 1996, p. 128. 344 DHDPG. Carta do Pe. Felix Aurélio Arnaud Formiga a Dom Luís Antônio dos Santos. 21 mai. 1862. Pasta
CRA 15, 47.
74
com as dejeções dos coléricos eram os principais meios de transmissão, demonstraram clara
preocupação com o risco dos “miasmas”. A Câmara Municipal de Fortaleza chegou a demandar
do governo provincial o aterro de dois pântanos da cidade, bem como a queima de grandes
fogueiras, “convencida de que eram condição indispensável de salubridade em tempo de
epidemia”. Tendo consultado o Dr. José Lourenço de Castro e Silva – maior autoridade sanitária
da província, como demonstrarei nos próximos capítulos, ocupante dos cargos de Provedor de
Saúde do Porto de Fortaleza e Inspetor de Saúde Pública – sobre a validade das medidas e,
preocupado com os gastos decorrentes delas, o presidente recusou as propostas dos
vereadores345. Não obstante, conta o Barão de Studart que, em diferentes lugares da província,
recursos do governo foram gastos na armação de fogueiras com o propósito de purificar o ar e
suspender o avanço da epidemia. Na vila de Baturité, piras de alcatrão foram acesas em fendas
cavadas pelas ruas: “assemelhavam-se a círios colossais a iluminar o esquife da cidade”346.
O combate aos miasmas justificou a caçada aos criadores de porcos da província. Edital
de 21 de abril de 1862, publicado pela Secretaria de Polícia do Ceará, dava aos habitantes de
Fortaleza prazo de três dias para que “removam de seus quintais porcos e outros animais que
fazem lodaçais focos de imundices, e que tenham suas casas e quintais com o devido asseio e
limpeza, o que será examinado depois do referido prazo sendo punidos os transgressores com
as penas da lei”347. Mayara Lemos mostrou as consequências econômicas desastrosas da
proibição dos suínos em Quixeramobim: Pedro Jaime de Alencar, tendo empregado seus parcos
recursos na criação, foi obrigado a sacrificar e enterrar a vara numa cova profunda348. Em Crato,
a manifestação dos casos de cólera nas províncias vizinhas, no começo de 1862, já tinha
provocado massacre de animais. Os criadores pobres da cidade esboçaram resistência à medida,
escondendo porcos dos fiscais ou levando-os para fora da cidade, como indicia O Araripe: “Uns
deixam os muros da cidade, amarrados sobre cargas, tremendo pela sua sorte, gritando de
espavoridos; outros se acham trancados em escuros quartos, para evitar a sanha dos
massacradores! Que dias aziagos para estas inocentes criaturas!”349.
345 ANRJ. Ofício n. 83, 11 set. 1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 346 STUDART, op. cit., 1997b, p. 55. 347 Pedro II, n. 90, 22 abr. 1862, p. 4. 348 LEMOS, op. cit., 2016, p. 68. A matança de animais em época de epidemia não foi fato isolado do Ceará de
1862. Jean Delumeau identificou tal prática nos surtos medievais da peste negra. Ante a violência da moléstia e as
inquietações sobre suas causas, porcos, cães, gatos e pombos foram mortos em massa na Europa. DELUMEAU,
op. cit., 1989, p. 121. Daniel Defoe, reproduzindo as orientações do Prefeito de Londres, quando da epidemia de
peste bubônica de 1665, registrou a proibição de que animais domésticos fossem mantidos na cidade durante o
surto, especialmente porcos: “Caso qualquer bedel ou outro funcionário encontre porcos soltos, o proprietário deve
ser punido”. DEFOE, Daniel. Um diário do ano da peste. 3ª ed. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2014, p. 63. 349 O Araripe, n. 277, 08 fev. 1862, p. 3.
75
Ante os avanços da moléstia letal, os jornais não deixaram de publicar orientações
voltadas a público bem específico: os senhores de escravizados. Já em 1856, no intuito de evitar
a contaminação dos cativos, O Araripe reproduziu artigo do médico pernambucano Joaquim
d’Aquino Fonseca. Para ele, os afazeres excessivos, quer intelectual ou corpóreo, facilitavam o
desenvolvimento do cólera. Por isso, era forçoso evitar a labuta em horas de muito calor ou
umidade. Assim, os proprietários de engenhos e estabelecimentos rurais deviam impedir a
escravaria de trabalhar pela madrugada ou noite, quando o clima favorecia o resfriamento dos
corpos. Durante o dia, era recomendável evitar que ficassem expostos ao sol nas horas de maior
calor, dando, ainda, aos mesmos uma hora de descanso após as refeições. Pela manhã, não era
conveniente deixá-los ir para o trabalho em jejum. Seus donos deveriam oferecer xícaras de
café puro ou pequenos cálices de genebra ou aguardente de cana ao alvorecer350.
A higiene dos cativos também era escopo de preocupação. Os senhores, dizia o Dr.
Fonseca, deviam “obrigar seus escravos a banharem-se uma vez por dia, fazendo-o de modo
que não haja supressão da transpiração ou resfriamento”. Como a aglomeração dos escravizados
favorecia a disseminação do cólera, o médico alvitrava a organização de uma subdivisão deles,
pois não era bom muitos sujeitos dormindo em “lugares acanhados”, como em certas senzalas.
De preferência, deviam ser alocados em casas situadas em pontos altos e arejados, onde
pequenas fogueiras podiam ser acesas à noite, para combater os miasmas351.
A inquietação do artigo em guiar os senhores sobre os procedimentos com a escravaria
não se assentava totalmente em princípios humanitários e caritativos. A própria orientação
sobre coisas aparentemente básicas – oferta mínima de refeições diárias, regras de higiene
corporal, entre outras recomendações elencadas –, assinala a precariedade das condições de
vida a que os cativos estavam subordinados. Contudo, o cólera representava prenúncio grave
aos interesses dos senhores, pois, como já informado, muitos escravizados pereceram nos surtos
do oitocentos352. Pelo visto, O Araripe, ao apregoar as considerações do Dr. Aquino ambicionou
acordar as elites locais para os riscos do cólera, afinal escravizados eram mercadorias que se
tornaram mais caras e raras no Ceará, especialmente a partir de 1850, quando o tráfico externo
foi abolido e intensificou-se o interno, com os cativos sendo vendidos para o sul do Império.
No início da década de 1860, a população escrava no Ceará era estimada em 35.441 e a de livres
em 468.318353. Portanto, a preocupação era conservar a vida escrava para melhor explorá-la.
350 O Araripe, n. 33, 16 fev. 1856, p. 3. 351 O Araripe, n. 33, 16 fev. 1856, p. 3. 352 KODAMA et al, op. cit, 2012. 353 BRASIL, op. cit., 1997, p. 299.
76
Não por acaso, muitas correspondências publicadas nos jornais davam conta da morte
de escravizados, destacando o prejuízo dos proprietários. Em julho de 1862, carta publicada no
Pedro II, descrevia como se encontrava o “infeliz Maranguape”. Em meio às mais de trezentas
pessoas mortas na vila até o dia 4 de julho, o missivista destacava pesaroso: “Aqui os escravos
têm-se acabado; o vigário tem perdido 4; o Faustino perdeu a mulatinha, e assim muitas outras
pessoas”354. O vigário em questão era Pedro Antunes de Alencar Rodovalho, que, em meados
de agosto, aparece noticiado como morto. Ao todo, o padre teria perdido doze escravizados por
conta da epidemia. Aparentemente, a morte dos cativos e de alguns familiares debilitou mais
ainda o enfermo sacerdote, levando-o à campa355. Outra carta, de Quixeramobim, descrevia a
“cena tão triste e aterradora” do cólera. O missivista afirmava que “felizmente” ele e família,
“na parte em que respeita aos brancos”, não tinham sido atingidos pela moléstia. O mesmo não
teria ocorrido entre as pessoas de cor agregadas sob seu domínio: “quanto aos negros e escravos
não tem sido o mesmo; quase todos têm sido atacados, e já morreram dois”. Afirmava,
demonstrando felicidade, que os cativos enfermos se mostravam fora de perigo. Todavia, temia
pela sorte de dezesseis escravizados mantidos fora da cidade, em sua fazenda: “já me dão algum
cuidado porque se diz que a epidemia vai grassando por fora”356.
A epidemia deu visibilidade ao grau de pobreza da maioria dos cearenses. Tratando da
comarca de Quixeramobim, o presidente Figueiredo Júnior a descreveu como extensa, “sendo
paupérrima a maior parte de sua população, aliás mui numerosa”. Para lá enviara “uma
ambulância, duas carteiras homeopáticas, duas caixas com tinturas e duas peças de baeta;
devendo-se fornecer numa botica ali existente os remédios que vierem a faltar”. Autorizou ainda
à comissão de socorros local que até “600$000 poderiam ser gastos com as dietas e outros
socorros aos “pobres desvalidos”, que se somariam a outros 800$000 arrecadados em
subscrição organizada pela dita comissão357. A grande presença de miseráveis marcava outros
lugares, como Crato e Jardim, no sul da província, vivendo, ainda, conjunção climática
considerada perniciosa, favorecendo o avanço do surto: “a epidemia encontra naquela região
todos os elementos para desenvolver-se, tais como um clima úmido, inverno rigoroso e
população numerosíssima e paupérrima, disseminada em vastos povoados, morando em
pequenas choças de palmeiras, e dispondo somente de alguns legumes” para se alimentarem358.
354 Pedro II, n. 153, 08 jul. 1862, p. 2-3 355 O Cearense, n. 1538, 19 ago. 1862, p. 1. 356 Pedro II, n.162, 18 jul. 1862, p. 2. 357 ANRJ. Ofício n. 14, 26 mai. 1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 358 Idem.
77
Parte da população miserável acabava nos hospitais improvisados pelas comissões de
socorro. Sofrendo as agruras da doença, tomado por dores, diarreia e náuseas incontroláveis,
destruindo a aparência e força física, na maioria das vezes o enfermo tinha a situação piorada
nas enfermarias. Em tempo de epidemia, elas faziam parte da estratégia das autoridades para
evitar o risco de contágio, ao concentrar os adoentados em determinada área, facilitando, ainda,
a distribuição de remédios e alimentos. Não deixava, também, de ser medida segregadora,
circunscrevendo a pobreza doente em determinadas áreas. Todavia, a estratégia nem sempre foi
aceita pelos enfermos. A repulsa dos pobres ao ambiente hospitalar foi algo recorrente no século
XIX, ante as péssimas condições de higiene e a vinculação do local com a morte359. Para além
disso, havia a concepção de que era preferível ser tratado em casa, sob a vigilância dos parentes.
Motivos semelhantes levavam coléricos e familiares, a não comunicarem às autoridades, ou
procurarem médico, quando dos primeiros sintomas. Antônio Manoel de Medeiros, médico
enviado pelo governo provincial para socorrer as comarcas de Jardim e Crato, assim se referiu
à resistência da população desta última em ser levada para o hospital:
A pobreza sentia a maior repugnância em deixar as suas choças, embora sua falta de
recursos, e a impossibilidade de se lhe prestar outros socorros, quando não bastavam
já, os que voluntariamente faziam de enfermeiros. Muitos preferiam morrer quase nus,
tendo por cama o chão úmido de suas cabanas. Profundamente tristes e contrariados,
os enfermos [do hospital] queriam a todo transe voltar às suas habitações, houve até
quem fugisse!360
O medo dos enfermos de Crato tinha razão efetiva de existir. Instalado no dia 19 de
julho de 1862, o hospital foi fechado, por decisão do Dr. Medeiros, a 27 do mesmo mês, pois
de 22 pessoas lá internadas, apenas 2 saíram vivas361. Para o médico, tal resultado derivava do
fato dos doentes chegarem já na fase álgida da doença, mas, principalmente, pela “inabilidade
dos enfermeiros, que melhores não era possível obter por preço algum”362. Tamanho foi o
fracasso do hospital, que Medeiros propôs a adoção de outra estratégia, dando maior espaço
para o tratamento dos doentes pelos próprios familiares:
359 DAVID, op. cit., 1996, p. 66-67. 360 MEDEIROS, Antônio Manoel de. Relatório apresentado ao Ilm. Exm. Sr. Dr. José Bento da Cunha Figueiredo
Júnior, presidente da Província do Ceará pelo Dr. Antônio Manoel de Medeiros, 1º cirurgião do corpo de saúde
do exército, em comissão nas comarcas do Crato, e Jardim, durante a epidemia do cólera-morbo em 1862. Ceará,
Imp. na Typ. Brazileira, 1863, p. 11. Três cópias do relatório, em formato brochura, se encontram como anexos
no documento: ANRJ Ofício n. 28. 12 fev. 1863. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de
diversas autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1863). Notação IJJ 9-182. Agradeço ao professor Darlan Reis,
da Universidade Regional do Cariri, pela descoberta do relatório, e por, gentilmente, ter me passado cópia digital
do mesmo e indicado fundos do Arquivo Nacional que interessavam à minha pesquisa. 361 MEDEIROS, op. cit., 1863, p. 11. 362 Idem.
78
Os povos do interior de nossas províncias, em geral ainda pouco civilizadas,
repelem a ideia de hospital, o que dá lugar a morrerem muitos doentes, por
ocultarem os seus sofrimentos com medo de serem conduzidos para o hospital.
Por outro lado a impossibilidade de achar em alguns povoados um edifício
bastante cômodo para conter à vontade muitos doentes, a inaptidão dos
enfermeiros, que a cada passo contraria o médico, em uma palavra, é mau
desempenhado um serviço, que se aproveita sendo bem feito, frustram as
melhores intenções do governo, e um estabelecimento que não é dos menos
gravosos para os cofres públicos, nenhuma vantagem oferece ao povo
desvalido. Em vez de um só edifício para grande número de doentes mal
servidos, e onde por consequência desenvolvem-se em grande escala
princípios deletérios que se opõem ao restabelecimento dos mesmos doentes;
em vez de um pessoal mercenário e desajeitado, melhor seria que cada um
tivesse por hospital a própria casa e por enfermeiros seus parentes ou
aderentes, o que além de ser econômico, seria também mais acomodado ao
grau de civilização da maior parte dos que carecem de meios para se tratarem.
O médico percorreria diversas vezes entre dia e noite, essas enfermarias menos
insalubres do que uma enfermaria comum, distribuiria seus conselhos a esses
enfermeiros às mais das vezes interessado na cura dos doentes, e espero que o
mister de tratar doentes se exerceria sem tamanhos inconvenientes, como os
que oferecem os hospitais improvisados nos lugares e no tempo em que é
inexequível a regularidade deles363.
A proposta de Antônio Manoel de Medeiros não encontrou eco no que foi praticado no
resto da província, onde a atitude de horror aos hospitais era representada apenas como fruto da
ignorância da população, sendo apontada como causa do alastramento da epidemia, assim como
os hábitos alimentares e higiênicos da pobreza364. Desta forma, as maiores vítimas da doença
eram culpabilizadas pela própria desgraça, seja pela demora em comunicar às autoridades nas
primeiras manifestações dos sintomas ou pela resistência às enfermarias. No caso de Fortaleza,
para contornar a aversão à internação, o governo redobrou a vigilância sobre os subúrbios,
recorrendo, inclusive, à violência policial. Não obstante, também buscou incentivar medidas
menos incisivas, como a atuação de intermediários habilitados a chegar mais facilmente nas
alcovas dos vitimados, como demonstra a fala do chefe do executivo provincial:
Segundo as informações creio que raríssimos enfermos veem a sucumbir, se
porventura recebem prontos socorros logo que se manifestam os primeiros
sintomas. Infelizmente grande número de pessoas ignorantes só denunciam a
existência do mal quando este já vai mui adiantado. Surpreendidos em seus
leitos pelos agentes do Governo e pessoas caridosas, não poucos moradores
em choupanas nos arredores da cidade são conduzidos para o hospital quando
já se acham em estado incurável. As visitas domiciliares dos médicos, a
constante vigilância da polícia, dos enfermeiros e vigias que o Governo fez
distribuir em diversas circunscrições, e a solicitude com que alguns sacerdotes
e outras pessoas caridosas frequentam as casas dos desvalidos para ministrar-
363 MEDEIROS, op. cit., 1863, p. 19-20. 364 LEMOS, op. cit., 2016, p. 304.
79
lhes prontos socorros devem ter concorrido eficazmente para poupar grande
número de vítimas365.
O auxílio de padres e “pessoas caridosas” era assim elogiado pelo governo. O apelo à
caridade foi contumaz durante a quadra epidêmica. Particularmente, era dirigido às pessoas
mais abastadas dos lugares vitimados, como forma de arrecadar recursos para compra de víveres
e medicamentos dados à pobreza, “em auxílio do governo e do cofre público”366. Como
demonstrarei em outro capítulo, os atos de caridade realizados durante a epidemia poderiam ser
recompensados pelo governo imperial, um estímulo a mais para os filantropos cearenses
agirem. No intuito de sensibilizar os particulares com recursos e aliviar os gastos da tesouraria
provincial, Figueiredo Júnior apelou à ação da recém-criada Diocese do Ceará, na pessoa de
Dom Antônio Luís dos Santos, bem como às comissões sanitárias instituídas no interior:
Um dos primeiros cuidados que aqui tive foi o de invocar a caridade dos
particulares para aliviar um pouco o cofre público, atentas as circunstâncias
financeiras do país. Nomeei uma comissão central sob a presidência do
Prelado Diocesano com o fim de obter donativos em favor da classe pobre
durante a quadra epidêmica. O mesmo apelo fiz para o interior da Província,
a todas as comissões que ali então só se haviam limitado a distribuir os
socorros do Governo, ou a tomar medidas, que, como o estabelecimento de
enfermarias, acarretaram despesas por conta da Fazenda367.
Contudo, o governo nem sempre conseguia o apoio desejado. O medo da contaminação
levou, inclusive, à fuga de muitas pessoas ricas, autoridades públicas e padres que,
teoricamente, deviam socorrer aos coléricos. Foi o caso de Maranguape, na qual quase “todas
as pessoas mais salientes” abandonaram a vila, indo “procurar a salvação” na capital, a poucas
léguas de distância. Descrevendo o cenário do lugar, Figueiredo Júnior afirmou que o comércio
permanecia fechado e que muitas residências estavam vazias. Quanto às habitadas, “continham
maior ou menor número de doentes, além dos que eram tratados na enfermaria montada por
conta do governo”. Em Maranguape restava, assim, a “numerosa população paupérrima, e parte
dela apresentando sinais mui visíveis de sofrimento”, implorando medicamentos e socorros. A
atitude das pessoas “mais salientes” da vila era reprovada no ofício ao Marquês de Olinda:
Mas Vossa Excelência compreende que em circunstâncias tão calamitosas,
quando as pessoas de certa ordem, que podiam permanecer na localidade para
animarem a população e aconselharem a gente incauta ou timorata, deixam
seu posto manifestando o maior desânimo que produz sempre maus efeitos na
classe ignorante e desvalida, os esforços do Governo, por maiores que sejam,
365 ANRJ. Ofício n. 41a. 05 jun. 1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 366 ANRJ. Ofício n. 53. 30 jun. 1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 367 ANRJ. Ofício n. 41a. 05 jun. 1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
80
apenas podem minorar de modo mui deficientes as terríveis consequências de
uma epidemia que lavra com espantosa intensidade368.
O medo chegou a ser apontado como a causa de algumas mortes ocorridas em 1862. O
caso de Domingos Carlos de Saboia, vigário da vila de Cascavel, foi um dos apresentados sob
tal ótica. Escrevendo a Thomaz Pompeu, dono d’O Cearense, o médico Thomaz do Bonfim
Espíndola narrou, em carta de 23 de junho de 1862, com riqueza de detalhes, o passamento de
Saboia, ao ponto de ultrapassar o limite da discrição devida ao sacerdote morto:
Transido de dor vou dar-lhe a infausta notícia de que, às 8 horas do dia de
ontem, depois de horríveis e aturados padecimentos por espaço de quatro dias,
entregou a sua alma ao criador o nosso bom e mui prezado amigo, o vigário
desta freguesia, Domingos Carlos de Saboia, vítima de um fortíssimo ataque
hemorroidário das vias urinárias e do reto, o qual ataque manifestou-se
repentinamente por estranguria, devida mais a uma grande carnosidade, por
agudíssimas dores nos rins, bexiga e uretra por calafrios, febres suores e
hemorragias, seguindo-se ultimamente uma inflamação da bexiga e sub-
inflamação dos órgãos sexuais que terminaram em poucas horas pela gangrena
da bexiga e do pênis369.
Após expor a situação de Saboia no momento do óbito, ao ponto de citar o pênis
gangrenado do padre no texto enviado ao jornal, o dr. Espíndola afirmava ter sido o quadro
clínico do finado agravado pelo “abatimento em que se achava” e “pela dieta rigorosa e
constante em que vivia com receio do cólera morbo, o medo da morte”370. Portanto, segundo a
interpretação do médico, o medo do padre Saboia de contrair o cólera e morrer era tanto, que
acabou afetando outros problemas do organismo, levando-o à campa tão temida.
Assim como Saboia, outros sacerdotes tiveram o nome associados ao medo. A fuga de
padres dos lugares empesteados também teve repercussão negativa sobre o ânimo das
populações acossadas pela moléstia. Quando a epidemia atingiu o auge no Crato, não “existia
[um sacerdote] na cidade que prestasse socorros espirituais aos moribundos”, visto que o vigário
Aires do Nascimento tinha contraído a doença e o padre João Marrocos Teles, que “deixou por
vezes o leito para socorrer alguns doentes, quanto ele mesmo estava às portas da morte”, tinha
falecido. Os demais padres, “conservaram-se a distância conveniente, alguns resistiam mesmo
a todo o empenho”371 em socorrer aos jazentes. Mais de trezentos teriam morrido sem confissão
por conta deste comportamento, denunciava o relatório do Dr. Medeiros.
368 ANRJ. Ofício n. 56. 11 jul. 1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 369 O Cearense, n. 1531, 1 jul. 1862, p. 2. 370 O Cearense, n. 1531, 1 jul. 1862, p. 2. 371 MEDEIROS, op. cit., 1863, p. 13. Grifo da fonte.
81
O caso do padre Marrocos circulou pela província. Carta de Antônio de Almeida,
capelão do povoado de Juazeiro, endereçada ao Bispo do Ceará, afirmou: Marrocos fora “vítima
de sua dedicação”, pois não se recusou a oferecer os socorros espirituais a todos os enfermos
que o buscavam, mesmo estando acometido pela doença desde seu estouro por aquelas plagas.
Até o “final da prostração”, teria continuado as atividades sacerdotais. Quando viu chegar a vez
dele próprio seguir o caminho já trilhado por seus fiéis, pediu, invocando o “Santíssimo
Sacramento”, ao “menos absolvição de seus pecados e não a obteve”, pois um irmão de
sacerdócio, “coitado, teve a fraqueza de negar-se absolutamente” a ouvi-lo em confissão372.
Se a missiva do padre Almeida silenciava sobre o nome do colega de batina que se
recusou a socorrer ao padre Marrocos na última agonia, o semanário O Araripe não manteve o
anonimato: acusava o octogenário Pe. Joaquim Ferreira Lima Seca373. Apesar da recusa do
padre Lima Seca, aparentemente, o padre Marrocos não finou sem antes receber a confissão.
Seu registro de óbito afirma ter morrido confessado. Pelo visto, algum padre caridoso, ou menos
medroso, foi ao seu socorro a tempo de ministrar-lhe o pasto espiritual. João Marrocos faleceu
no dia 2 de julho de 1862, junto com um filho (Manoel Marrocos Teles) e dois escravos (Félix
e Francisco)374. Muitos outros sacerdotes finaram pelo “mal de Ganges”, como o cólera era
chamado. A mortalidade de clérigos foi tanta, que o padre Manoel Francisco de Araújo viu nela
possibilidade de ascensão: insatisfeito com o posto ocupado, de assistente do vigário de Assaré,
Araújo pediu ao bispo que o nomeasse pároco em uma das muitas freguesias vagas, “cujos
vigários morreram agora vítimas do terrível flagelo, que tem-nos batido à porta”375.
A narrativa sobre a morte de Marrocos aponta, também, para como o cólera foi pródigo
na simplificação dos ritos fúnebres. Os limites entre a vida e a morte eram bastante tênues no
imaginário social do oitocentos. A crença cristã na qual o corpo é perecível, mas a alma é eterna,
fazia as pessoas se preocuparem com os ritos que antecediam e sucediam a morte. Os
moribundos e familiares se empenhavam, assim, em cumprir as práticas garantidoras da “boa
morte”, pois a transição malfeita podia fazer do moribundo alma penada, alongar a passagem
pelo purgatório ou, até mesmo, condená-lo ao inferno. Destarte, as cerimônias e a simbologia
eram acionadas para promover a “boa viagem” ao “outro mundo”, de modo a integrar o morto,
o mais breve possível, no novo lugar, “para seu próprio bem e a paz dos vivos”376.
372 DHDPG. Carta do Pe. Antônio de Almeida a Dom Luís Antônio dos Santos (Bispo do Ceará). 18 jul. 1862.
CRA 19, 127. 373 O Araripe, n. 288, 13 set. 1862, p. 1. 374 DHDPG. Livro dos Coléricos da Paróquia de Nossa Senhora da Penha do Crato, p. 1. 375 DHDPG. Carta do Pe. Manoel Francisco de Araújo a Dom Luis Antônio dos Santos (Bispo do Ceará). 31 mai.
1862. Pasta CRA 19, 127. 376 REIS, op. cit, 1991, p. 96.
82
Philippe Ariès afirmou ser a “boa morte” precedida por aviso prévio, como a doença,
pois, “sabendo de seu fim próximo, o moribundo tomava suas providências”377. A produção de
testamento, a reconciliação com membros da família ou da comunidade, o reconhecimento e
pagamento de dívidas e a procura pelos sacramentos eram algumas das providências a tomar.
Finar no leito doméstico, arrodeado por familiares e amigos, após receber a confissão, seguida
da comunhão e da extrema-unção, quando o sacerdote untava, com os “óleos santos”, orelhas,
olhos, nariz, mãos e boca do enfermo, era o modelo idealizado pela “pedagogia do bem morrer”,
ensinada aos fiéis pelos padres e por manuais populares até o oitocentos378.
Após o traspasse de alguém, os rituais prosseguiam: era preciso amortalhar o corpo,
velá-lo, contratar missa de corpo presente e encomendação do defunto com os sacerdotes, e,
enterrá-lo, enfim, em “campo santo”, como igrejas e cemitérios. Na sequência à cerimônia de
enterro, outros ritos seriam realizados: a manutenção do luto, missas expiatórias, o acendimento
de velas, as visitas de cova etc. A “boa morte”, assim, exigia empenho dos familiares do finado,
bem como recursos financeiros. Se algumas famílias faziam da morte de seus membros um
espetáculo barroco, por meio do qual reafirmavam o status social, pessoas pobres, com poucos
recursos, se esforçavam para minimamente ver garantidos os ritos de passagem, filiando-se a
irmandades religiosas ou legando parte de seus parcos bens para os gastos fúnebres379.
Em contraponto ao modelo descrito acima, a “morte terrível” assaltava de forma súbita,
não dando tempo ao moribundo de se preparar para a passagem. Não por acaso, os surtos
epidêmicos e as guerras eram colocados como exemplos de “má morte”380. Conjunturas
extraordinárias, de tensão social, alteravam as práticas fúnebres corriqueiras, ante o aumento
avassalador dos doentes e mortos. Os ritos cotidianos a unir o morto ao seu círculo não são os
mesmos em tempo de peste ou guerra. A liturgia fúnebre que ordinariamente deveria se
“desenrolar na ordem e na decência”, era substituída, “em condições insustentáveis de horror”,
pela “anarquia e de abandono dos costumes mais profundamente enraizados no inconsciente
coletivo”381. O abandono dos ritos apaziguadores, por conta da epidemia, não deixava de ser
trágico para os vivos, por dessacralizar a morte, tornando-a indecente: “uma população inteira
377 ARIÈS, Philippe. História da morte no Ocidente: da Idade Média aos nossos dias. Rio de Janeiro: Ediouro,
2003, p. 31. 378 Para aprofundamento sobre os ritos tidos como garantidores do bem morrer, ver: RODRIGUES, Claudia. Nas
fronteiras do além: a secularização da morte no Rio de Janeiro (séculos XVIII e XIX). Rio de Janeiro: Arquivo
Nacional, 2005, p. 31-83. 379 REIS, op. cit., 1991. 380 ARIÈS, op. cit., 2003, p. 27. 381 DELUMEAU, op. cit., 1989, p. 123.
83
corre o risco do desespero ou da loucura, sendo subitamente privada das liturgias seculares que
até ali lhe conferiam nas provações dignidade, segurança e identidade”382.
Primeira localidade vitimada pelo cólera, Icó vivenciou de forma dolorosa o espetáculo
da “má morte”: viu as ruas tomadas por trânsito constante de corpos em direção ao cemitério
construído por conta da epidemia383. Escrevendo a 18 de abril, Luís José de Medeiros,
presidente da comissão sanitária da cidade, relatava ao presidente da província que o campo
santo não cessava “de receber cadáveres aos, 10, 12, 13 e 20 por dia, e hoje até este momento
cinco horas da tarde já se contaram 26 e provavelmente ainda excederão de 30!”384. Em outra
correspondência, Medeiros informou sobre dias nos quais o número de passamentos na cidade
ultrapassou a casa dos cinquentas385. Médias diárias semelhantes foram registradas em outros
lugares, tais como Crato e Maranguape. Não por acaso, nas narrativas sobre os corpos dos
coléricos estão sempre embutidas imagens de horror, por conta da forma como eram tratados,
sem a obediência aos ritos. As fontes falam de corpos amontoados indecentemente em carroças,
jogados pelas ruas, à mercê dos urubus, de enterros em valas comuns, sem encomendação da
alma feita por sacerdote e sem o acompanhamento de parentes e amigos, indícios da
dessacralização da morte propiciada pela erupção do cólera e do impacto dela sobre os vivos.
382 DELUMEAU, op. cit., 1989, p. 125. 383 Mesmo antes da chegada do cólera, o medo de contaminação, por conta das notícias dos surtos na Paraíba,
estimulou algumas localidades cearenses a preparar cemitérios específicos destinados ao enterro de eventuais
coléricos. Carta enviada da vila de Jardim, escrita pelo padre Joaquim de Sá Barreto, e dirigida ao bispo diocesano,
dava conta da apreensão da localidade com os casos de cólera na fronteira com a Paraíba: “Sendo muito de recear
que um terrível flagelo em sua marcha acelerada e sempre perniciosa, nos venha também acometer, acha-se esta
população pela mor parte miserável e desvalida, fortemente atemorizada e aflita, esperando a hora de ouvir dizer,
estamos com o cólera!”. Ante tal expectativa, o pároco solicitou ao prelado: “peço a Vossa Excelência
Reverendíssima autorização para mim, ou o Reverendo Coadjutor desta Freguesia, benzermos um terreno nesta
Vila, outro na Povoação de Porteiras, e outro no sítio Brejo, que sirvam de cemitérios especiais para os cadáveres
dos coléricos” (DHDPG. Carta do Padre Joaquim de Sá Barreto a Dom Luís Antônio dos Santos, s/d.). Após a
confirmação do cólera no Ceará, a presidência da província e o Diocese do Ceará estimularam a criação das
necrópoles. Em Crato, por exemplo, o livro de tombo paroquial, transcreveu ofício de Dom Luís Antônio dos
Santos orientando a construção do novo cemitério. O livro conserva a ata de benção do lugar, cerimônia realizada
em 17 de junho de 1862 (DHDPG. Livro de Tombo da Paróquia de Nossa Senhora da Penha do Crato). Os espaços
escolhidos para tais enterramentos aparecem, comumente, nas fontes alcunhados como “cemitério dos coléricos”.
A preocupação em instituir campos santos para os defuntos pela epidemia refletia preocupações higiênicas, como
a garantia de maior inviolabilidade dos túmulos, ao contrário dos cemitérios comuns, nos quais as covas eram
reabertas com regularidade, para retirada de restos mortais e colocação de novos cadáveres. No caso das epidemias,
a teoria miasmática orientava cuidado redobrado com a gestão das covas, haja vista o risco de infecção do ar pelos
corpos em putrefação. Além disso, os cemitérios dos coléricos foram erguidos mais distantes dos núcleos urbanos.
Em Crato, o primeiro cemitério da cidade foi erguido entre 1853 e 1856, ficando a cerca de 200 metros em relação
à Matriz da Penha, onde até então eram inumados os defuntos. Com a chegada do cólera, a necrópole criada para
a epidemia foi erigida a cerca de 2 quilômetros de distância das ruas. ALEXANDRE, op. cit., 2010, p. 146. 384 ANRJ. Ofício n. 35, 04 mai. 1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 385 ANRJ. Ofício n. 41, 26. mai. 1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
84
O Livro dos Coléricos de Crato, que documentou parte dos enterros no cemitério criado
por conta da epidemia, traz o caso do “rapaz de nome Antônio”, recolhido no “hospital desta
cidade” – aquele onde finara 20 dos 22 doentes lá tratados – e falecido a 23 de junho de 1862.
O pároco responsável pelo registro deixa claro as lacunas existentes sobre a vida de Antônio:
“ignora-se seu nome inteiro, sua idade, sua cor, o nome de seus pais, onde morava”386. Em meio
aos doentes da enfermaria onde morreu, Antônio, desamparado, tinha de seu apenas o primeiro
nome. Nem sua cor fora identificada, talvez por conta da coloração azul que a peste lhe dera.
Seus parentes podiam ter morrido pela epidemia, ou, talvez, deixado o doente na enfermaria,
ante o medo de contágio, pobreza ou impossibilidade de cuidar do rapaz. Nos registros, há
também os casos de algumas crianças abandonadas sem identificação: “Sepultou-se no
Cemitério dos Coléricos um párvulo sem encomendação, que ali foi achado no dia vinte e seis
de junho de mil oitocentos e sessenta e dois; ignora-se seu nome, idade, cor, de quem é filho e
nem onde morava”387. Provavelmente, o “anjinho” finara no meio dos familiares que levaram,
rapidamente, o pequeno corpo ao cemitério.
Devia ser doloroso às pessoas sãs e aos doentes observar o trânsito constante de corpos
a percorrer as cidades cearenses em direção aos cemitérios. Provavelmente, o sentimento de
medo era algo que as paralisava e, em seu íntimo, sentiam-se envergonhadas por isso. Afinal,
entes queridos finavam e eram sepultados sem a obediência mínima aos ritos tradicionais.
Para alguns observadores, era indecente e imoral a forma como os corpos eram levados.
Dhenis Maciel encontrou cartas que narram o incômodo provocado pela imagem dos cadáveres
levados com a “roupa do corpo”, que vestiam quando do falecimento, sem mortalhas ou lençóis
lhes cobrindo com dignidade. Particularmente, incomodava aos missivistas as defuntas
“donzelas”, expostas de forma “escandalosa” aos olhares e ao manuseio dos coveiros, descritos
com “vis e corrompidos pelo vício e devassidão”388. As cenas de desrespeito aos corpos,
especialmente das virgens, fixaram-se no imaginário dos maranguapenses. A possibilidade de
mortas terem sido profanadas era algo a atormentar familiares, servindo, inclusive, de
inspiração à literatura. Em 1899, o farmacêutico Rodolfo Teófilo publicou novela intitulada
“Violação”. A trama mescla elementos românticos com o naturalismo em voga em fins do
oitocentos. O enredo combina ficção e memória: o pano de fundo contextual da narrativa é dado
pelas lembranças do autor sobre 1862, quando, aos nove anos de idade, testemunhou a epidemia
do cólera em Maranguape. Seu pai, Marcos José Teófilo, foi um dos médicos residentes na
386 DHDPG. Livro dos Coléricos da Paróquia de Nossa Senhora da Penha do Crato, p. 12. 387 Idem, p. 17. 388 MACIEL, op. cit., 2017, p. 226-227.
85
localidade contratados pelo governo provincial para socorrer a população indigente389. Já o lado
ficcional da novela, tem como eixo um caso de necrofilia: o corpo de colérica de quinze anos é
violado por dois presidiários, representados de forma pejorativa como “mestiços” e “ébrios”,
enviados de Fortaleza para trabalhar no transporte e sepultamento dos cadáveres.
Teófilo, ao mesmo tempo, autor e personagem da obra – a narrando, na maior parte, em
primeira pessoa –, capricha na tinta a fim de colocar o leitor na dúvida sobre onde termina as
lembranças pessoais e onde começa a ficção. Para isso, apresenta o caso de necrofilia como se
tivesse sido lhe contado duas décadas depois da epidemia, pelo noivo da defunta. Este teria
assistido à profanação, sem poder nada fazer, visto estar paralisado por efeito do cólera. Em
tom dramático, o noivo narra como os coveiros disputaram na sorte quem seria o primeiro a
violar o corpo, consumando o que classifica como “o mais nefando delito da bruteza humana”:
A carne havia triunfado nas bestas humanas, à mercê das quais estava a
virgindade dela e a paz de toda a minha vida. Eles tinham perdido a razão e
com ela todos os escrúpulos da moral. Nem o espetáculo da morte e nem
tampouco o receio da peste embotavam nos celerados os lúbricos desejos
carnais! [...]. Os dois monstros, cada qual mais repelente pela sua moral, mais
imundo pelo seu físico, mais asqueroso pelos seus vícios, indignos mesmo do
amor de um cadáver, cevaram-se à farta na virgem morta [...]390.
Após o ato, os necrófilos são punidos por morte fulminante: contaminados pelo cólera,
caíram nus aos pés da moça profanada. Ao noivo, restaria a memória dolorosa da cena e o
remoer por sua impotência: “E saí, com o passo vacilante, em rumo à vila onde o senhor me
encontra vinte anos depois, ainda enclausurado dentro de mim, evitando o convívio dos homens
e chorando a viuvez do meu espírito”391.
Alguns presidiários foram de fato enviados à vila para o exercício do funesto trabalho
de ajudar no tratamento dos doentes e transportar mortos. Em fins de agosto de 1862, quando o
presidente do Ceará Figueiredo Júnior, equivocadamente, julgava que a epidemia declinaria de
vez em Maranguape, comunicava, ao Marquês de Olinda, ter mandado “recolher à cadeia desta
cidade [Fortaleza] os presos que ali estavam prestando serviços, como enfermeiros,
conservando-se na vila quatro coveiros para enterramento de alguns cadáveres de coléricos”392.
A prática de colocar presos no trabalho de sepultamento de corpos em época de epidemia
era algo comum. Na primeira manifestação do cólera em Cuba (1833), “criminosos perigosos
389 ANRJ. Ofício s/n. de 9 jul. 1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 390 TEÓFILO, Rodolfo. A Fome/Violação. Rio de Janeiro: Livraria José Oympio; Fortaleza: Academia Cearense
de Letras, 1979, p. 255. 391 TEÓFILO, op. cit., 1979, p. 256. 392 ANRJ. Ofício n. 72 de 20 ago. 1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
86
eram perdoados desde que dirigissem as ‘carroças mortas’”393. Ricardo Augusto dos Santos, ao
estudar a gripe espanhola no Rio de Janeiro de 1918, afirmou: diante do quadro tenebroso dos
cadáveres abandonados pelas ruas e não “havendo pessoal suficiente para recolher e enterrar os
mortos, foram utilizados os presidiários”394. Segundo o Barão de Studart, o pagamento
acordado com os detentos enviados à Maranguape incluía o perdão das penas395, o que,
obviamente só valeria o sacrifício se conseguissem sobreviver ao cólera. Entre a prisão e a
campa, restava o fio tênue da esperança de liberdade.
Ao contrário do teor negativo dado pela novela de Rodolfo Teófilo aos detentos
enviados à Maranguape, alguns homens que viveram de fato a situação foram saudados pela
imprensa. O Cearense informou, em agosto de 1862, terem morrido 5 dos 10 presos
“voluntariamente” engajados nas enfermarias. Entre os sobreviventes, 4 retornaram à capital e
“1 ficou convalescendo”. Solicitava, para os mesmos a piedade do Imperador: “Os que
escaparam são dignos da atenção do governo Imperial”396. Já o Pedro II publicou os nomes
deles: “Joaquim Cândido Carneiro Monteiro, José Thomaz Gomes Moreno, João Alves
Ferreira, Inocêncio Correia da Silva e Cristóvão de tal”397. Em benefício do quinteto, solicitava:
“Tendo nós ciência de seus relevantes serviços e em uma quadra de morte, onde outros seus
infelizes companheiros pereceram, julgamos que a humanidade e a justiça reclamam um pronto
perdão para esses cinco presos que escaparam”398. O caso, aparentemente, recebeu atenção da
Corte: Figueiredo Júnior solicitou ao Chefe de Polícia “as peças dos processos dos presos que
durante o período da maior intensidade do cólera morbo em Maranguape se prestaram
voluntariamente ao serviço de enfermeiro”, a fim de atender pedido do Ministério da Justiça399.
O caso dos presos indicia a preocupação com o sepultamento célere dos coléricos.
Informado por cartas enviadas de Sucatinga sobre a existência de “cadáveres insepultos” pelas
ruas, José Bento da Cunha Figueiredo Júnior diz ter enviado imediatamente “um destacamento
de 8 praças para aquela povoação”400. A preocupação com o potencial de transmissão dos
mortos fez com que o presidente mobilizasse também delegado e juiz municipal para verificar
393 KIPLE, op. cit., 1985, p. 162. 394 SANTOS, Ricardo Augusto dos. Representações sociais da peste e da gripe espanhola. In: NASCIMENTO,
Dilene Raimundo do; CARVALHO, Diana Maul de (Orgs.). Uma história brasileira das doenças. Brasília:
Paralelo 15, 2004, p 136. 395 STUDART, Dr. Barão de. Climatologia, epidemias e endemias do Ceará. Ed. fac-sim. (1909). Fortaleza:
Fundação Waldemar Alcântara, 1997b, p. 55. 396 O Cearense, n. 1537, 12 ago. 1862, p. 2. 397 Pedro II, n. 181, 9 ago. 1862, p. 3. 398 Pedro II, n. 181, 9 ago. 1862, p. 3. 399 Gazeta Official, n. 26, 11 out. 1862, p. 3. 400 ANRJ. Ofício n. 41. 26 mai. 1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados - Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
87
o estado sanitário da localidade. Assim pôde “então saber que a notícia era completamente falsa,
pois que não se havia dado ainda um só caso do cólera” em Sucatinga401.
A contratação de pessoal para transportar doentes para as enfermarias e cadáveres para
os cemitérios, ou para exercer o trabalho infindo de abrir covas e valas comuns, não foi fácil
para várias comissões de socorro espalhadas pela província. Apenas indivíduos miseráveis
aceitavam arriscar suas vidas por pagamentos irrisórios ante os riscos do ofício. No geral, a
população se recusava a cumprir tais tarefas, seja pelo medo do contágio ou pela repugnância
da situação. Em muitos casos, a repulsa era tão forte que o governo e as comissões confiaram a
soldados o cumprimento da função. Foi o caso de Acarape, no qual os enterramentos foram
“feitos por um cabo e um soldado, visto [que] o povo dali recusa-se a fazer esse serviço”402.
Tratando da dificuldade de reforçar o policiamento de Crato durante eleição a ser realizada por
ordem do governo imperial – que anulara o pleito para juiz de paz e vereadores municipais
ocorrido em 1861, por conta de fraudes –, o presidente da província informava ao ministério ter
sido “obrigado a destacar mais algumas praças em diferentes lugares, a fim de auxiliarem as
respectivas autoridades, concorrendo sobretudo para que não se dê o fato lamentável de ficarem
cadáveres insepultos, como noutras Províncias aconteceu em crises semelhantes”403.
Em São Bernardo, não “havendo meios para prover ao enterramento dos coléricos”, pois
“o povo recusa-se a carregá-los”, a comissão teve de negociar medida que não deixava de ser
polêmica. Instituiu a remuneração por produtividade: contratou quatro indivíduos “mediante a
paga de 1.280 réis por cada corpo”404. Francisco Rodrigues Sette, juiz de direito e presidente
da comissão de socorros do Crato, também preocupado com o serviço de enterramento, adquiriu
duas carroças para recolhimento dos defuntos, “conduzidas por oito indivíduos que trabalham
alternativamente dia e noite, vencendo 1# rs (mil réis) por dia e 1#500 rs (mil e quinhentos réis)
por noite”405. Se a ceifa do cólera agia 24 horas por dia, era necessário impedir o acúmulo de
mortos nas ruas, daí porque o serviço de transporte para o cemitério não podia parar.
A dificuldade de contratação de indivíduos para lidar com o transporte de doentes e
mortos era proporcional ao grau de violência da doença na localidade. Não por acaso,
401 ANRJ. Ofício n. 53. 30 jun. 1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados - Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 402 ANRJ. Ofício n. 84. 12 set. 1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados - Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 403 ANRJ. Ofício n. 77. 30 ago. 1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 404 ANRJ. Ofício n. 47. 9 jun. 1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 405 ANRJ. Ofício n. 65. 12 ago. 1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
88
Maranguape recebeu mais pessoas enviadas pela presidência com tais fins. Além dos presos
mandados da capital, no começo de julho de 1862, foram enviados “21 indivíduos, que se
contrataram por 5.000 réis [diários] cada um, a fim de fazerem o serviço da abertura de covas,
e condução de doentes para as enfermarias e cadáveres para o cemitério”. Uma outra pessoa já
tinha sido contratada por 8 mil réis diários e sete praças do destacamento, enviados para cumprir
as funções, tinham falecido406. Ante o alto número de doentes nas enfermarias da vila, só a
muito custo a presidência conseguiu contratar uma mulher que aceitasse lavar as roupas dos
enfermos indigentes: “tal é o terror que inspira o estado de Maranguape”407.
As informações recolhidas nas fontes expostas nos últimos parágrafos reforçam o que
foi dito sobre o abandono dos ritos fúnebres em tempo de peste. Nascido em Crato em fins do
oitocentos, Irineu Pinheiro teve a oportunidade de conhecer sobreviventes da epidemia408. Em
cima dos relatos coletados, escreveu que mesmo a pequena parcela de abastados da cidade, que
podia ter seus corpos enterrados em caixões, não teve o préstito de amigos e familiares em seu
cortejo ao cemitério. Os pobres, grande maioria dos vitimados, quando muito, tinham seus
cadáveres levados em “fiangos”409 ou eram simplesmente amontoados em carroças, sem
consideração às diferenças de sexo e idade, puxadas por animais até as valas comuns410.
Os responsáveis por guiar as carroças de mortos em Crato trajavam roupas específicas:
vestes, gorro e meias que subiam até o joelho, todos na cor vermelha411. Provavelmente, ao
trajar rubro, os “farricocos”412 cratenses anunciavam sua presença à distância, facilitando a
406 ANRJ. Ofício s/n. 9 jul. 1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 407 ANRJ. Ofício n. 56. 11 jul. 1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 408 PINHEIRO, op. cit., 1963, p. 422-423. 409 A palavra “fiango” diz respeito à rede de dormir velha, surrada. Não obstante, Irineu Pinheiro usou o termo
para se referir às redes usadas no Crato para transporte dos coléricos defuntos pobres, sem condições de adquirir
caixões de madeira (PINHEIRO, op. cit. 1963, p. 422). O uso de redes nos funerais era comum no sertão cearense
do período. Geralmente, usava-se uma peça velha com os punhos atravessados por varas de madeira. Assim, o
corpo era levado nos ombros, por duas ou quatro pessoas, até o local do sepultamento. Cândida Galeno descreveu
alguns cortejos fúnebres que observou no Ceará de meados do século XX nos quais as redes permaneciam sendo
utilizadas: “A rede usada para enterro é a comum, com varandas de croché ou de malha, de preferência branca. O
morto vem envolto em lençol. Na ocasião do enterro, tanto a rede como o lençol são retirados e voltam para a
família que, depois de lavá-los, passa a usá-los como dantes. O cadáver é lançado à cova apenas com a mortalha”.
GALENO, Cândida. Ritos fúnebres no interior cearense. Fortaleza: Editora Henriqueta Galeno, 1977, p. 46. 410 PINHEIRO, op. cit. 1963, p. 422-423. 411 Idem, p. 423. 412 Segundo Câmara Cascudo, “farricoco” era o nome dado à personagem com capuz, representando a morte,
presente em procissões, como a do Senhor dos Passos e as de penitência. Herança ibérica, o caráter macabro do
encapuzado assustava as crianças, sendo confundido com a “Coca” ou “Cuca”, espécie de “bicho papão”. Por outro
lado, os dicionários do século XVIII e XIX traziam sentido mais específico para a palavra. Segundo Raphael
Bluteau, farricoco “era o gato pingado, que traz [o corpo] à tumba”, assim como os responsáveis por “enforcados”.
Acrescentava serem “acomodações do vulgo”, ou seja: ofícios praticados por miseráveis. Já Silva Pinto, afirmava
que o termo definia o sujeito “que leva à tumba da Misericórdia, em que vão os cadáveres dos pobres”. Portanto,
os encapuzados do Crato, seja pelo medo que despertavam ou pelos enterros realizados nas valas do cemitério dos
89
identificação dos que necessitavam comunicar a presença de mortos em casa. Por outro lado,
sinalizavam o perigo de aproximação às pessoas saudáveis, temerosas de contato com
indivíduos que manuseavam os corpos contaminados. Pari passu, os carregadores portavam
uma cor simbolicamente vista como capaz de despertar a força, com qualidades mágicas e
medicinais413. A busca por defesas profiláticas também explica porque tais homens atuavam,
ordinariamente, sob efeito da cachaça414, ante a crença generalizada, defendida até por parte da
medicina do período, de que assim estariam imunizados. Para além da crença no poder
preventivo do álcool, a bebida também devia ter efeito no ânimo de indivíduos exercendo o
penoso ofício, que poucos achavam digno ou tinham medo de executar.
A mais interessante descrição dos coveiros do Crato foi dada por Manoel de Medeiros,
no relatório sobre a epidemia no sul do Ceará. Conta o documento: entre fins de junho e início
de julho de 1862, houve dia no qual 48 pessoas morreram na cidade, ocasionando o atropelo no
serviço das inumações, com 60 cadáveres esperando sepultura. Foi preciso pagar a muitos
homens para regularizar, durante o dia inteiro de trabalho árduo, a situação no cemitério,
enquanto as duas carroças “percorriam as ruas, tomando os cadáveres aqui e ali, e um homem
as percorria a cavalo, sabendo onde eles existiam, para os fazer conduzir”. Parte considerável
das personagens prestadoras de tal serviço pereceu, de modo que “os carroceiros levaram para
a sepultura hoje os que na véspera tinham sido seus companheiros nesse trabalho, e foi preciso,
organizar muitas vezes essa companhia, ou antes renová-la tanta foi a perda que experimentou”.
A despeito do caráter letal do serviço, a deixar seus executores no limiar da contaminação e
morte, espantava ao médico a “afoiteza” com que o ofício era exercido por indivíduos
miseráveis, a aceitarem o parco salário oferecido:
[...] teve-se gente bastante para conduzir e sepultar os cadáveres, o que foi
talvez um facto singular no Ceará, porque também a população pobre do Cariri
é uma gente única na província pela sua audácia e afoiteza. Naturalmente
desasada, ou negligente, prima por sua coragem é capaz de afrontar os maiores
perigos. Homens mal vestidos e descalços, os coveiros e carregadores
andavam ao sol ardente, e durante o frio intenso da noite, sem a menor
precaução; tomavam os cadáveres e conduziam; levando pendurada no carro
[a] carne que compravam [para consumo], comiam sobre ele, e ai [nas
carroças] deitados voltavam do cemitério procurando novos cadáveres para
sepultar!415
coléricos, lembravam, de fato, os antigos farricocos. CASCUDO, Luís da Câmara. Geografia dos mitos
brasileiros. São Paulo: Global, 2002; BLUTEAU, op. cit., 1728, p. 37; PINTO, Luís Maria da Silva. Diccionario
da lingua brasileira. Ouro Preto, Typographia de Silva, 1832, s/p. Dicionários disponíveis no site:
https://www.bbm.usp.br/pt-br/dicionarios/. Acesso a 12 nov. 2019. 413 CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos: mitos, sonhos, costumes, gestos, formas,
figuras, cores, números. 27 ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2015, p. 945. 414 PINHEIRO, op. cit., 1963, p. 423. 415 MEDEIROS, op. cit., 1963, p. 13.
90
Se a suposta “audácia e afoiteza” dos pobres – sujeitos a penoso e perigoso trabalho,
rejeitado pela maioria da população, por salário que nem de longe valia o risco de vida –
espantou Antônio de Medeiros, o médico não deixou de compartilhar visão carregada de
preconceito e acusações. Narrando fato “que muito escandalizou a população”, acusou os
“incumbidos de dar sepultura aos cadáveres” de terem exumado Manoel Sisnando Baptista,
“sepultado com um rosário de ouro ao pescoço”. A profanação ao túmulo teria consequências,
coincidido “com a morte quase instantânea, de alguns indivíduos na cidade, e de um que
casualmente passando aspirava as exalações cadavéricas”416.
Histórias como essas faziam dos coveiros pessoas temidas e vistas de forma negativa
pelos outros. Contou Irineu Pinheiro ter ouvido de senhora nonagenária, testemunha na
juventude da epidemia de 1862, que a passagem dos coveiros assustava a quem tinha enfermos
sendo tratados em casa. Quando da aproximação daqueles, “os pobres e desprotegidos que
choravam seus parentes agonizantes” calavam-se, pois temiam ter casebres invadidos e que
seus moribundos fossem levados ainda vivos para as valas comuns417.
Aliás, o relato de pessoas enterradas vivas foi recorrente, devido à pressa em abreviar o
máximo possível o contato dos vivos com os eflúvios maléficos que a medicina e o senso
comum julgavam emanar dos cadáveres, levando a enganos graves. Guilherme Studart, após
afirmar que pessoas foram enterradas vivas em Maranguape, registrou o caso do marinheiro
Raimundo. Voltando do mar durante o surto epidêmico em Fortaleza, Raimundo não encontrou
a mãe em casa, pois “fora levada a sepultar”. Alarmado, correu aos prantos até o cemitério.
Encontrou a progenitora numa vala. Tomado pelo amor filial, retira o corpo e vê “que a pobre
mulher estava ainda viva”. Nos braços dele, a mãe exarou o último suspiro418.
Irineu Pinheiro registrou história similar. Contou que a pressa dos responsáveis pelo
transporte e enterro dos coléricos era tanta, que circulava entre os sobreviventes da epidemia o
relato de que numa manhã foi achado o corpo de uma mulher, dada como morta na véspera,
“sentada no chão da vala, vestida na sua mortalha de madapolão, um cordão de São Francisco
a amarra-lhe a cintura”419. Memórias como esta fizeram o cemitério dos coléricos de Crato
tornar-se espaço interdito: “Muita gente após vários anos da calamidade, temia até entrar no
cemitério dos coléricos. Contavam histórias de arrepiar cabelos de muitos doentes que foram
enterrados ainda vivos, com a pressa da arrecadação de cadáveres para a vala comum [...]”420.
416 MEDEIROS, op. cit., 1963, p. 15. 417 Idem, p. 13. 418 STUDART, op. cit., 1997b, p. 55. 419 PINHEIRO, op. cit., 1950, p 134. 420 FIGUEIREDO FILHO, J. de. História do Cariri. Vol. 3. Crato: Faculdade de Filosofia do Crato, 1966, p. 143.
91
A partir de agosto de 1862, a epidemia declinou na maioria da província. Casos
eventuais e surtos mais leves continuaram a se manifestar em várias localidades, incluindo a
capital, até, pelo menos, o primeiro semestre de 1863. A situação de Maranguape permaneceu
delicada. Um balanço da mortalidade causada pelo cólera, publicado pelo O Cearense em
março de 1863, calculava em 2850 o número de pessoas falecidas naquela vila, o maior índice
registrado no Ceará421. A persistência dos sinais da doença na província foi incomum, em
comparação ao ocorrido em outras, com surtos mais virulentos, porém, de menor duração
temporal. Em fevereiro de 1863, Figueiredo Júnior registrou a infeliz peculiaridade: “Já se
conta, portanto, um longo período de nove meses em que lavra essa epidemia; e em parte
alguma do Império há exemplo de haver ela durado tanto tempo”422.
Alongando-se temporalmente, a doença também se espraiou espacialmente pelo Ceará.
A crer no balanço feito pelo O Cearense, 24 freguesias foram visitadas pelo “mal de Ganges”
até 20 de março de 1863, e ele já dava sinais de viajar para mais três 423. Para se ter ideia do que
esta informação significava na prática, o “Ensaio Estatístico da Província do Ceará” informava
a existência de 34 freguesias na província no início dos anos 1860424. Portanto, o cólera agiu na
maior parte das freguesias cearenses.
Não há consenso sobre o cálculo geral da mortalidade entre 1862 e 1863. Studart
estimou em 11.000 o número dos vitimados425. Por sua vez, O Cearense contabilizou taxa
maior: 12.284426. Já o médico José Pereira Rego, em sua “Memória histórica das epidemias da
febre amarela e cólera morbo que têm reinado no Brasil”, indicou 12.735 mortes no Ceará427.
A crise dificultou o registro preciso das mortes. Afinal, o colapso social instaurado pelo cólera
não foi desprezível, afetando diretamente o cotidiano dos lugares afetados. Neste cenário, nem
mesmo os registros paroquiais de óbito deram conta da infinidade de mortes ocorridas428. No
421 O Cearense, n. 1568, 20 mar. 1863, p. 1. 422 ANRJ. Ofício Reservado. 11 fev. 1863. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1863). Notação IJJ 9-182. 423 O Cearense, n. 1568, 20 mar. 1863, p. 1. 424 BRASIL, Thomaz Pompeo de Souza. Ensaio Estatístico da Província do Ceará. Tomo I. Ed. fac. sim. (1863).
Fortaleza: Fundação Waldemar de Alcântara, 1997, p. 235. 425 STUDART, op. cit., 1997b, p. 57. 426 O Cearense, n. 1568, 20 mar. 1863, p. 1. 427 REGO, op. cit., 1873, p. 188. Os dados sobre o Ceará teriam sido compilados de um manuscrito de Thomaz
Pompeu de Souza Brasil sobre a epidemia do cólera, cujo original Pereira Rego disse ter encontrado no IHGB.
Nas pesquisas que realizei na instituição, não encontrei o manuscrito. 428 Na minha dissertação de mestrado, apontei para as lacunas existentes no Livros dos Coléricos da Paróquia de
Nossa Senhora da Penha de Crato, que apresenta pequena parte dos enterros ocorridos durante o surto na cidade.
O livro, aparentemente, fora escrito até dois anos depois do surto de 1862, por misturar registros deste ano com
mortes por cólera em 1864, quando nova epidemia tomou o lugar. Além disso, o livro não apresenta os enterros
que se deram em cemitérios existentes nos sítios que cercavam o núcleo urbano. Há ainda registros repetidos, com
dados diferentes sobre as mesmas pessoas. A existência de registros em que nem o nome do defunto é conhecido
também indicia a dificuldade da paróquia de cumprir fielmente a tarefa de documentar a morte dos fregueses na
92
caso de pequenos povoados e sítios, os enterros deram-se sem registro algum. Nem sempre
médicos, padres, delegados e membros das comissões sanitárias tinham certeza dos dados
comunicados à presidência da província ou enviados aos jornais. Há ainda o componente
político que poderia fazer autoridades locais subestimarem a mortalidade nas áreas sob suas
responsabilidades, como forma de defenderem-se da acusação de negligência ou para se
autopromoverem.
De qualquer modo, se nos atermos às estimativas que tiveram maior divulgação na
época, fixando o número de mortos entre 11.000 e 12.735, e tomando por base a estimativa de
que a população do Ceará no ano de 1860 foi calculada em 503.759 indivíduos429, a epidemia
teria sido responsável pela morte de cerca de 2% dos cearenses. A percentagem aumenta quando
se considera a estimativa apresentada por José Pereira Rego a respeito da soma da população
das localidades afetadas pela doença, excluindo espaços do Ceará onde o cólera não se
manifestou: 360.060 pessoas430. Nesse caso, o cólera teria levado ao túmulo 3% das pessoas
que habitavam lugares do Ceará por onde passou.
Para além das taxas de óbitos, não encontrei projeções claras do número geral de
acometidos pela doença, ou seja, a soma de todos que a contraíram, tanto mortos quanto os
sobreviventes dela. Há apenas dados imprecisos, muito circunscritos a determinados lugares ou
datas. Na capital, por exemplo havia 2014 acometidos e 177 mortos, a 27 de julho de 1862431.
Até o declínio em 1863, a peste mataria de 362432 a 839433 fortalezenses, mas não localizei qual
teria sido o computo geral dos acometidos na capital. Tratando de Crato, Irineu Pinheiro
encontrou registros de ter o número de doentes na freguesia alcançado 8.000, quando o total
geral de habitantes dela era estimado em 18.230434. Nas informações existentes sobre as mortes
de coléricos em Crato, as fontes apontam valores díspares: 760435, 871436 e 1100437 pessoas.
Para Maranguape, Studart calculou em mais de 5.000 os acometidos438. Levando em
consideração os cerca de 2.850 óbitos registrados em Maranguape, a taxa mortuária dos
quadra epidêmica. Portanto, o próprio processo de produção do Livro dos Coléricos, como suas aparentes falhas e
lacunas, aponta para a força de intervenção da doença no cotidiano e no funcionamento da sociedade cratense da
época. ALEXANDRE, op. cit., 2010, p. 148-149. 429 BRASIL, op. cit., 1997, p. 299. 430 REGO, op. cit., 1873, p. 188. 431ANRJ. Ofício n. 52. 27 jun. 1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação: IJJ 9-181 432 STUDART, op. cit., 1997b, p. 57. 433 REGO, op. cit., 1873, p. 187. 434 PINHEIRO, op. cit., 1950, p. 130. 435 O Cearense, n. 1568, 20 mar. 1863, p. 1. 436 MEDEIROS, op. cit., 1863, p. 17. 437 O Araripe, n. 287, 06 set. 1862, p. 2. 438 STUDART, op. cit., 1997b, p. 5.
93
coléricos teria sido de quase 60% na vila. Se não há meios para determinar com exatidão o
número de pessoas que adoeceram e morreram pelo cólera, muito menos é possível indicar o
cálculo dos cearenses afetados, direta ou indiretamente, pela tragédia. É provável que parte
significativa das mais de 500.000 almas ocupantes da província tenha sofrido com as perdas
humanas e contingências socioeconômicas da conjuntura.
Tratando do fenômeno epidemia, Michel Foucault destacou sua dubiedade: fenômeno
coletivo, pois seus efeitos se fazem sentir sobre grandes grupos humanos, é, também, individual,
“processo único”, jamais se repetindo de forma similar no tempo e no espaço. Portanto, há um
“núcleo individual e único desses fenômenos coletivos”439. Eventos sociais com fronteiras
temporais e espaciais definidas, as epidemias são intensas e arrebatadoras, sendo vivenciadas
de formas singulares pelos sujeitos históricos que se veem cercados pela ameaça coletiva de
morte. Nas palavras de Dilene Nascimento e Anny Jackeline Silveira, as respostas e choques
engendrados por um surto assumem nuances diversas em diferentes conjunturas sociais,
políticas e culturais: “O sentido desses eventos e suas consequências são modulados segundo
realidades específicas – ecológicas, políticas, religiosas, econômicas”440.
O périplo do cólera no Ceará, portanto, esteve repleto de singularidades. A explanação
que fiz sobre a epidemia, ao longo desse tópico, demonstrou o caráter disruptivo sobre o
cotidiano e as diferentes reações sociais nas diversas localidades onde agiu. Dentre o leque de
possibilidades de pesquisa abertas pelo fenômeno, o que interessa nesta tese é um aspecto
específico: como o cenário instalado pela epidemia serviu às disputas políticas na província,
bem com a interesses pessoais. O próximo capítulo ajudará a vislumbrar parte dessas questões,
ao apresentar como o cólera tornou-se o mote para um conflito na imprensa, envolvendo o
presidente José Bento da Cunha Figueiredo Júnior e os partidos políticos do Ceará provincial.
439 FOUCAULT, Michel. O nascimento da clínica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 26. 440 NASCIMENTO; SILVEIRA, op. cit., 2004, p. 27.
94
CAPÍTULO 2 - PRESIDIR NA EPIDEMIA: O GOVERNO DA PROVÍNCIA E O
CÓLERA NO CEARÁ
2.1 - “Calamidade igual, só o cólera”
Quando toda a província geme sob a pressão do cólera morbo, que a tem
enlutado; quando todos os espíritos preocupam-se das funestas, e tristes
consequências de tão horrível epidemia, [...], os chimangos desta vila
fomentam intrigas, e entendem ser esta a melhor oportunidade para
reabilitarem seu partido, pretendendo montá-lo, apossando-se de todas as
posições como outrora, com sacrifício dos interesses públicos, fazendo de
alguns empregos, que ainda por desgraça lhes estão confiados, uma arma que
manejam contra nós, seus adversários, sem procurarem salvar as aparências a
todos os respeitos441.
Com essas palavras, uma carta anônima enviada da vila de Ipu, com data de 27 de junho
de 1862, acusava os chimangos de agirem, sordidamente, no exercício dos cargos públicos, na
promoção de interesses políticos particulares na localidade. O texto publicado no diário Pedro
II, principal porta-voz dos caranguejos no Ceará, acusava o promotor de Justiça, Francisco
Barboza Cordeiro, de pressionar e questionar as decisões do juiz de direito de Ipu. Segundo a
carta, o magistrado inocentara o réu Victor Ferro, conservador octogenário local, de processo
no qual a promotoria pedira punição de vinte anos de cadeia. Ao tempo em que a missiva se
rasgava em elogio à decisão do juiz, o acusador, Francisco Cordeiro, era detratado: os negócios
públicos decidiriam-se pelo espírito partidário do promotor, usando o cargo para satisfação dos
interesses do grupo político do qual fazia parte.
Escrita com o propósito de tornar-se pública, sendo inclusive exposta na primeira página
da folha conservadora, a carta aponta a suposta prevaricação de Francisco Cordeiro, além do
pretenso abuso de poder, como agravados pela situação delicada vivida na província em meados
de 1862. No tempo do julgamento em Ipu, no qual a promotoria teria agido de má-fé, movida
por interesses intestinos, o cólera fazia gemer e enlutar a população do Ceará. Nesse sentido, o
texto acabava por detratar ainda mais os adversários liberais, levantando a pecha de serem
desumanos e impiedosos nas ambições, ao ponto de não se envergonharem de ações políticas
descritas como baixas numa época de medo e morte assolando os cearenses.
A missiva de Ipu é apenas um exemplo de como o Pedro II apropriou-se do cenário
caótico do cólera com vista às disputas políticas provinciais. O cólera ocupou destaque nas
441 Pedro II, n. 179, 7 ago. 1862, p. 1
95
páginas do Pedro II entre 1855 e 1856, quando do desembarque da doença no Brasil e dos
surtos nas províncias circunvizinhas ao Ceará. O jornal ocupava, à época, a função de folha
oficial da província, haja vista o controle quase completo do governo do Ceará pelo Partido
Conservador após a substituição de Alencar, em 1841. Como já informado, a família Fernandes
Vieira, os “carcarás”, era a proprietária do Pedro II e tinha proeminência no partido. Nesse
sentido, no biênio 1855-56, ao mesmo tempo em que o Pedro II demonstrava a tensão pela
ameaça epidêmica, a forma como tratou o fenômeno não deixou de imprimir uma valorização
das ações das autoridades públicas provinciais e locais, elogiando as ações profiláticas com fins
políticos e como forma de acalmar os leitores, tementes da chegada da epidemia. Com a
manifestação do cólera e após a posse de Figueiredo Júnior, em 1862, a postura adotada, no
biênio citado acima pelo jornal na cobertura da epidemia mudou completamente.
De início, a recepção de Figueiredo Júnior por parte do Pedro II pareceu anunciar-se
promissora. Nomeado por Caxias e filho do então conselheiro Cunha Figueiredo – futuro
Visconde do Bom Conselho, de relações estabelecidas com personalidades da política imperial,
como demonstrarei mais à frente –, o jovem presidente do Ceará aparentava ser o novo aliado
dos conservadores na luta por espaços de poder entre as elites políticas locais.
Na edição de 6 de maio de 1862, o órgão publicou na seção “Interior” – dedicada a
notícias sobre a Corte e outras províncias brasileiras – uma correspondência, enviada do Recife
e assinada por um certo “Rubim”. Nela, havia críticas ao vice-presidente do Ceará – José
Antônio Machado, então no exercício da presidência –, por seu trato da epidemia do cólera,
pois “esperava a vinda do S. Exc. Dr. José Bento para de comum acordo regularem o que fosse
mais conveniente”, em vez de agir imediatamente na contratação de médicos e envio de
remédios às localidades afetadas pela epidemia. Na sequência, a correspondência comentava
ter o novo presidente de lidar com dois “males terríveis”: o cólera e as eleições que se dariam
em Icó. Após anunciar os desafios abertos ao mandatário recém-nomeado, provocava a “folha
liberal da província” (O Cearense), pois esta estaria a ridicularizá-lo: “É bom que S. Exc. vá
desde logo conhecendo quem são os liberais daí com quem terá de lutar”442. Ao publicar a carta,
nota-se: O Pedro II não só se mostrava simpático ao chefe do executivo provincial como
tentava, igualmente, captar simpatia, ao instá-lo a desconfiar dos liberais cearenses.
Mesmo com a epidemia grassando por todo o Ceará, a relação amistosa entre o diário e
o presidente manteve-se ao longo dos números seguintes. Dedicando parte das páginas a
publicações oficiais, serviço contratado a prestar pelo governo provincial, o Pedro II transcrevia
442 Pedro II, n. 102, 6 mai. 1862, p. 3.
96
ofícios e outros documentos, dando conta das orientações a comissões de socorro espalhadas
pelas províncias e da contratação de médicos para tratamento dos doentes, ações descritas de
forma positiva em outras seções do periódico, nas quais não se poupavam elogios ao chefe do
governo. A 20 de maio, informava ter Figueiredo Júnior visitado a Santa Casa de Misericórdia,
onde parte dos coléricos de Fortaleza eram tratados. Destacava o fato dele ter agido “tão bem
para que no hospital se fizesse um pequeno depósito de gêneros por conta do governo”443.
Em artigos, correspondências e notícias, o Pedro II não deixava, porém, de solicitar
ações mais enérgicas ao administrador, adjetivado como “ilustrado, e dotado das melhores
intenções”. Um artigo dedicado ao cólera na capital afirmou: a preocupação do presidente em
não “abrir os cofres à exageração e superficialidades” refletia boa intenção e as “ordens que
têm sido dadas”, no geral, eram “suficientes”. Todavia, opinava: “algumas dessas providências
não satisfazem as necessidades da quadra em que nos achamos, ou são mal executadas”, por
falta de profissionais a auxiliarem na condução imediata, ao hospital, das pessoas acometidas
dos primeiros sintomas da doença. Em tom de súplica respeitosa, arrematava:
Confiamos que estas nossas mal esboçadas considerações serão acolhidas com
indulgência, e no sentido com que as escrevemos pelo distinto cavalheiro a
quem dignamente estão confiadas as rédeas do governo da província.
Minore, Sua Excelência, quanto estiver a seu alcance o peso dos males que
acabrunham o Ceará, que seu governo será abençoado e recolherá em sua
consciência o mais precioso galardão que possa ambicionar sua filantropia e
patriotismo444.
Não obstante, a cortesia no trato ao presidente da província e os elogios às ações de
combate ao cólera mudariam radicalmente nas páginas do Pedro II, entre fim de maio e início
de junho de 1862. Essa virada brusca foi capitaneada por uma questão particular envolvendo a
redação do Pedro II, mas também refletiu as leituras que as personagens daquele contexto
fizeram das alterações no cenário político nacional e, por extensão, refletiu-se nas disputas por
espaços de poder no Ceará. Nessa conjuntura, a imprensa ocupava papel estratégico nos jogos
políticos provinciais, tentando convencer a chamada “opinião pública” sobre a superioridade
ou inferioridade de determinados projetos sociais e ideias políticas. Unida aos interesses de
grupos sociais específicos e em competição, longe de professar a neutralidade jornalística que
alardeava, a imprensa cearense da segunda metade do século XIX promoveu acirradas lutas
políticas.
443 Pedro II, n. 114, 20 mai. 1862, p. 3. 444 Pedro II, n. 116, 22 mai. 1862, p. 2.
97
A ruptura da ordem cotidiana promovida pela doença, com enfermos espalhados por
todo Ceará, despertando um clima de medo e ceifando milhares de pessoas, oportunizou um
tema para as contendas, com forte apelo ao público. Aliás, por sua excepcionalidade e
dramaticidade, o cólera tornou-se um dos assuntos com maior espaço nos impressos de 1862.
Neste sentido, as críticas lançadas pelo Pedro II ao presidente Figueiredo Júnior, não
deixaram de ser catalisadas em benefício próprio pelos órgãos de inspiração liberal impressos
no Ceará de 1862: O Cearense (Fortaleza), O Araripe (Crato) e O Commercial (Fortaleza).
Como informado anteriormente, o último jornal mudou de nome, tornando-se a Gazeta Official,
em julho de 1862. Impressa duas vezes por semana, a Gazeta ocupou papel de destaque na
interposição ao Pedro II. Por fim, O Sol (Fortaleza) também ocupava a cena pública nessa
conjuntura. Se não se assumia liberal, como faziam as folhas citadas acima, O Sol era notório
opositor do Pedro II, pois o proprietário e redator do primeiro, Pedro Pereira da Silva
Guimarães, rompera politicamente com os Fernandes Vieira, em 1856, quando teve recusado o
apoio “carcará” nas eleições para a Câmara Geral. Aliás, o próprio presidente do Ceará entendia
O Sol como um jornal liberal, tratando-o assim em sua correspondência oficial445.
Tais periódicos, a partir de fins de maio de 1862, passaram a atuar nitidamente em
conjunto para defender Figueiredo Júnior e suas ações contra a epidemia, contrapondo-se às
opiniões publicadas pela redação do Pedro II. Alargando o circuito de comunicação, inclusive,
com o apelo a folhas de diferentes matizes políticas de outras províncias, com quem trocavam
cartas e artigos, ou repercutindo entre si os mesmos textos que imprimiam em formas de
transcrições, respostas ou comentários, os quatro órgãos citados promoveram intensa campanha
de detração do Pedro II e de promoção do presidente do Ceará.
Para compreensão da adesão entusiasmada dos jornais liberais ao presidente no contexto
da epidemia, é preciso esclarecer a motivação da mudança na forma moderada e diplomática
com que o Pedro II tratava Figueiredo Júnior e a coordenação dos socorros aos lugares atingidos
pelo cólera. Uma personagem ocupou papel de destaque na dinamização das disputas políticas
de 1862: Manoel Franco Fernandes Vieira. Desde 1854, Manoel Franco ocupava o cargo de
inspetor na Inspetoria do Tesouro Provincial, chefiando assim o controle das finanças do Ceará.
Competia, por lei, ao inspetor de tesouraria chefiar a repartição responsável pela “exata
administração, arrecadação, contabilidade e fiscalização das rendas provinciais”, atuando
debaixo da imediata orientação do presidente da província, a quem prestava juramento quando
da posse no cargo. Era do Inspetor que partia a ordem para pagamento das despesas
445 ANRJ. Ofício confidencial. 31 jan. 1863. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1863). Notação IJJ 9-182.
98
estabelecidas por lei da Assembleia, bem como as extraordinárias, determinadas pelo presidente
da província. Cabia ao mesmo, ainda, a definição dos períodos para arrematação dos impostos,
a partir da ação das coletorias espalhadas pelo Ceará, cujos coletores e arrecadadores eram
nomeados e demitidos livremente pelo titular da Inspetoria. O inspetor tinha autorização para
corresponder-se diretamente com todas as autoridades da província, espedindo resoluções e
ordens às repartições imediatamente subordinadas a ele, com o escopo de garantir a execução
das determinações da repartição e favorecer a arrecadação dos impostos446. Pelo cargo exercido,
recebia ordenado anual no valor de 1.800$000 (um conto e oitocentos mil réis)447.
Manoel Franco conciliava o cargo na Inspetoria com outra função: era um dos redatores
do Pedro II. Sobrinho de Miguel Fernandes Vieira, que, em 1862 foi à Corte tomar posse no
Senado, morrendo pouco tempo depois448, Manoel Franco passou a ser o principal responsável
pela edição do jornal na ocasião. As relações políticas estreitas entre os conservadores e os
governos provinciais do Ceará garantiram ao periódico a publicação do expediente, editais e
demais comunicações do governo da província, com contrato estipulado por lei da Assembleia
Legislativa, em 1850449. Desta forma, a dupla função de inspetor/redator, somada à origem
“carcará”, fazia de Manoel Franco Fernandes Vieira, figura influente entre os conservadores
cearenses. Além das duas atribuições profissionais, era vice-provedor da Santa Casa de
Misericórdia de Fortaleza, tendo na quadra epidêmica, então, maior visibilidade social.
A intensificação do cólera no interior do Ceará estimulou Manoel Franco a publicar
mais artigos, cartas e notícias, com destaque para a mortalidade. Do mesmo modo, tais textos
aumentavam o apelo e as críticas à agilidade do governo provincial no trato da crise epidêmica.
Nesse cenário, os jornais liberais de Fortaleza passaram a reproduzir e comentar as informações
do Pedro II sobre o cólera, destacando especialmente os trechos com críticas ao presidente
Figueiredo Júnior. Nitidamente, as folhas “chimangas”, aproveitando as tensões existentes por
conta da epidemia, passaram a insinuar a existência de conflitos no interior do grupo
446 Lei n. 252, 15 nov 1842. OLIVEIRA, Almir Leal de; BARBOSA, Ivone Cordeiro. (Org.). Leis provinciais:
Estado e cidadania (1835-1846) Tomo I. Fortaleza: Instituto de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do
Ceará INESP, 2009, p. 336-344, CD-ROM. 447 Lei n. 830, 22 set. 1857. OLIVEIRA, Almir Leal de; BARBOSA, Ivone Cordeiro. (Org.). Leis provinciais:
Estado e cidadania (1835-1846) Tomo III. Fortaleza: Instituto de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do
Ceará INESP, 2009, p. 147, CD-ROM. 448 O ano de 1862 não foi alvissareiro para o clã “carcará”. Em 15 de junho, morreu por cólera, em Saboeiro, o
deputado José Fernandes Vieira. A 9 de julho, Francisco Fernandes Viera, Visconde de Icó, patriarca da família,
faleceu. Na sequência, em 6 de agosto, pereceu o senador Miguel Fernandes Vieira. Em menos de dois meses, a
família perdeu o visconde e seus dois filhos, fragilizando a liderança exercida pelos “carcarás” no Partido
Conservador da província, como exibirei mais à frente no corpo da tese. 449 Lei n. 517, 01 ago. 1850. OLIVEIRA, Almir Leal de; BARBOSA, Ivone Cordeiro. (Org.). Leis provinciais:
Estado e cidadania (1835-1846) Tomo II. Fortaleza: Instituto de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do
Ceará INESP, 2009, p. 180, CD-ROM.
99
“caranguejo”. Essa postura não deixou também de se apropriar das notícias sobre as mudanças
no cenário político nacional, chegadas ao Ceará no início de junho de 1862.
Em 10 de junho, por exemplo, O Cearense publicou correspondências de um mesmo
autor anônimo – datadas em 23 e 25 de maio, portanto entre a queda de Caxias e a nomeação
de Zacarias de Góis –, enviadas do Rio de Janeiro, traçando informações da situação política
na Corte. Em texto repleto de índices de oralidade – com o autor formulando várias perguntas,
respondidas na sequência, simulando uma conversa ao vivo com o leitor, convidando a uma
leitura em voz alta450–, narrava que um vapor tinha trazido ao Rio de Janeiro as “desagradáveis
notícias do cólera” no Ceará. Da mesma embarcação, teriam descido conservadores cearenses,
espalhando “graves acusações ao seu presidente José Bento, por não dar providências” contra
a epidemia. As críticas, inclusive, teriam chegado à imprensa da Corte por meio de carta -
atribuída pelo O Cearense ao deputado conservador Domingos José Nogueira Jaguaribe -,
“pintando” o presidente do Ceará como “novel, desprestigiado, ignorante, desumano”. Em tom
irônico, o texto d’O Cearense indagava a razão de correligionários “abocanharem assim ao
amigo” Figueiredo Júnior. Como resposta, insinuava que a crise do governo Caxias estimulava
as críticas dos conservadores cearenses, dado à expectativa de Figueiredo Júnior cair junto ao
Gabinete que o nomeou: “Quer você saber? Duvido que se o ministério não caísse, que o
Jaguaribe, ou outro correligionário do Sr. Figueiredo Júnior mandasse publicar essa carta”451 .
Impressa dezesseis dias depois da sua suposta produção (25 de maio) – indiciando como
o tempo entre a postagem de uma correspondência do Rio até a publicação em um jornal do
Ceará podia levar algumas semanas –, a carta anunciava o gabinete Zacarias de Góis. Não
obstante, na data da publicação pelo O Cearense, a 10 de junho de 1862, esta folha ignorava
que o ministério Zacarias já tinha sido substituído pelo chefiado por Pedro de Araújo Lima, o
Marquês de Olinda. Se de fato houve, como sugere a folha liberal, o cálculo por parte dos
“caranguejos” de que a substituição de Caxias resultaria na prematura queda de Figueiredo
Júnior – o qual, ao tempo da publicação, tinha pouco mais de um mês no cargo de Presidente
450 Tratando dos periódicos do século XIX, Marialva Barbosa, chama atenção para a importância de se identificar
os “dispositivos de leitura” ou “índices de leitura” – escolhas gráficas fixadas pelo jornal, tais como títulos, fios,
colunas, resumos introdutórios etc., para tentar diminuir a distância entre o texto e o leitor, servido como guia de
leitura – e os “índices de oralidade” – como, por exemplo, a impressão de pequenos traços direcionando as
mudanças de temáticas entre um assunto e outro, letras maiúsculas em profusão no meio de frases, o uso de negrito
etc. –, “instrumentos implícitos ou explícitos que destinam os textos aqueles que os leriam em voz alta ou os
escutariam”. O próprio teor provocativo de alguns textos aponta para como sua leitura convidava mais à oralização
do que ao silêncio. Para a autora, havia “contaminação do mundo oral nas letras impressas” dos jornais brasileiros
oitocentistas, o que, em uma sociedade majoritariamente analfabeta, intensificava a circulação das informações
impressas para além dos grupos sociais letrados, ampliando o alcance de leitores e/ou ouvintes delas. BARBOSA,
op. cit., 2010, p. 44-45. 451 O Cearense, n. 1528, 10 jun. 1862, p. 2.
100
da Província do Ceará –, os fatos que se deram na Corte no final de maio de 1862 – a decisão
do Imperador de não dissolver a Câmara, indicando Olinda para a missão de organizar governo,
quando a “Liga” reconfigurava o jogo parlamentar – frustraram tal previsão.
Diante da mudança do Gabinete e das provocações das folhas liberais, o Pedro II rebatia
os adversários, alegando não haver desgaste nas suas relações com a presidência do Ceará.
Respondendo ao O Commercial, e abusando das ironias para detratar seu opositor, típicas da
imprensa do oitocentos, o Pedro II explicava os artigos sobre o cólera como movidos “pelo
amor” à província e por um suposto dever da imprensa. Negava fazer oposição à presidência.
Ela, inclusive, estaria “convencida disso”. Desta forma, o “colega [O Commercial] perde o seu
tempo descendo a essas misérias pelo mero desvanecimento de prestar serviços à nossa custa”.
Afirmava ainda: se fosse de seu entendimento “fazer oposição ao Sr. José Bento”, a faria “com
franqueza, lealdade e sem mistérios”, pois “teria consciência dos encargos que assumimos como
jornalistas”. Finalizava reforçando um discurso de imparcialidade editorial:
Deixar de usar da livre emissão do pensamento, segundo as condições legais
de nossa existência política e da causa da civilização para que todos devem
concorrer, seria uma fraqueza humilhante e um anacronismo repugnante que
o colega não deve esperar de nossa parte452.
Na conjuntura de trocas de farpas impressas e de mudança no gabinete ministerial, os
periódicos liberais, aparentemente, atingiram o alvo: insatisfeito com a repercussão na imprensa
de críticas ao governo no gerenciamento da quadra pestilenta, Figueiredo Júnior pediu
satisfações ao inspetor de tesouraria, Manoel Franco Fernandes Vieira, sobre a postura do Pedro
II. A criação de uma seção no jornal, denominada “Cholera”, teria sido o ingrediente
intensificador do mal-estar. Como demonstrarei mais à frente, as correspondências oficiais do
presidente, emitidas em 1862, tiveram os atritos com Manoel Franco como tema constante.
Sentindo-se pressionado, O Pedro II aumentou o tom de voz no rebate aos rivais e
continuou tergiversando sobre o interesse em desqualificar o governo provincial. Na defesa de
si, argumentava que apenas o interesse público e a busca de auxiliar o governo na lida contra o
cólera movia a redação. A 21 de junho de 1862, o Pedro II publicou o expediente oficial, repleto
de comunicações atinentes à epidemia, bem como cartas enviadas de Maranguape, nicho
político do redator, com o relato dos estragos feitos pela doença. Na coluna “Noticiário”,
lembrava à presidência da urgência no envio de recursos e médicos aos lugares ameaçados:
452 Pedro II, n. 138, 18 jun. 1862, p. 3.
101
O cólera vai-se avizinhando ao Cariri, a esse grande foco de população,
cercado em grande parte de serras e de terrenos embrejados; e muito receando
pela sorte daquele remoto e importante ponto da província, lembramos a S.
Exc. a conveniência de tomar com urgência as providências que forem
compatíveis com o atual estado de coisas, e recursos de que dispõe.
A ida de alguns médicos e socorros amplos parece-nos urgente, podendo
serem aproveitados alguns médicos que estiverem em localidades onde o
cólera já estiver em vias de declinação ou a extinguir-se visto que não há
tempo a perder se atendermos aos estragos que vai fazendo com direção a
aquele lugar, que se vê hoje ameaçado de ser atacado ao mesmo tempo por
todos os lados453.
A referência à aproximação da doença em relação ao Cariri, presente na citação, era, no
mínimo estranha, pois a epidemia já tomava vários espaços da região no mês de maio, conforme
mostrei no capítulo anterior. Não parece crível que o Pedro II desconhecesse as notícias sobre
a situação, tendo em vista as cartas vindas do sul da província, dando conta do surto, com
circulação na capital quando da publicação do noticiário.
Em 27 de maio, o jornal O Cearense, inclusive, tinha publicado carta de João Brígido
dos Santos, redator do semanário O Araripe, com o relato da epidemia no Cariri454. A própria
correspondência oficial da presidência tratava do assunto fazia pelo menos um mês. Em 26 de
maio, por exemplo, o presidente tinha registrado, em ofício ao Ministro dos Negócios do
Império, o cerco da epidemia ao Crato e já narrava casos de mortes em Milagres, como os do
povoado “Cachorra morta, onde existe uma aldeia de índios boçais, e em Salgadinho”, contando
“cinco vítimas de cólera, entre trinta e seis pessoas acometidas”455.
Por equívoco ou cálculo político – para reforçar a narrativa de que a redação propugnava
pelo interesse público, simbolizado na reivindicação de socorros amplos e de ações preventivas
–, a nota sobre o cólera no Cariri não deixava de tornar mais tensa a situação do inspetor de
Tesouraria – um dos responsáveis legais, inclusive, pela liberação dos recursos que reivindicava
na imprensa – frente ao seu chefe imediato, o presidente Figueiredo Júnior.
Na edição de 2 de julho, mais uma vez comentando a situação da vila de Maranguape,
o Pedro II voltou a citar o nome do presidente e provocar a imprensa liberal, reforçando o
discurso de agir com imparcialidade e buscando o bem da província. Sobre o chefe do executivo
provincial, afirmava satisfazer “quanto é possível” as “exigências e reclamações daquela
localidade, feitas por médicos em serviço ou pela comissão de socorros”. Dizia assim fazer
“homenagem à verdade”, o que deveria tranquilizar O Comercial “quanto às suspeitas
453 Pedro II, n. 140, 21 jun. 1862, p. 3. 454 O Cearense, n. 1526, 27 mai. 1862, p. 2. 455 ANRJ. Ofício n. 41, 26. mai. 1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
102
infundadas que concebeu, de que estávamos de ânimo deliberado a censurar a administração do
Sr. Dr. José Bento com relação às providências de S. Exc. sobre a epidemia”. Reiterava o artigo:
a criação da coluna “O Cólera” tinha em vista “justificar a conveniência, a necessidade mesmo,
que tinha S. Exc.” de se libertar, acaso estivesse circunscrito, de “certas regras de economia por
ventura recomendadas pelo governo geral”. A afirmação não deixava de ser problemática, pois
aludia ser o presidente influenciável e fraco, temeroso, supostamente, de enfrentar o Governo
Imperial, recomendando cautela nos gastos com os socorros no contexto da epidemia. O Pedro
II, ainda, sugeria condicionar o apoio ao presidente à leitura positiva ou negativa dos atos deste:
“Sempre porém que Sua Excelência merecer os nossos aplausos, não lhos [sic] recusaremos;
não temos para com o Sr. Dr. José Bento nenhum motivo nem pensamento de hostilidade; e
pelo contrário razões bem fundadas para aderirmos com lealdade à sua administração”456.
No mesmo dia de circulação do texto acima, ante a insubordinação do chefe da
Inspetoria de Tesouraria Provincial, manifesta em outras publicações do Pedro II, o presidente
assinou ato despedindo Manoel Franco do cargo ocupado há oito anos. Publicamente, a
justificativa para a demissão foi uma suposta má situação financeira da repartição, com a
instauração de sindicância para investigá-la.
A reação do Pedro II foi instantânea: a 3 de julho de 1862, Manoel Franco assinou texto
rechaçando insinuações aventadas n’O Cearense. Em sua manifestação, o ex-inspetor negava
ter tentado negociar a permanência na Tesouraria e afiançava, categoricamente, que a
“presidência em sua veleidade” tentara esmagá-lo com a portaria de demissão. Insinuava ser
alvo de uma chantagem: ceder ao presidente da província, saindo da redação do Pedro II,
sacrificando os “interesses políticos do partido [conservador]”, já “tão contrariado e solapado
por todas as presidências a pretexto de conciliação”, para assim manter o emprego457.
Confirmada a exoneração, o presidente passou a ser descrito pelo Pedro II como alguém
possesso e raivoso, “obcecado por uma vingança indigna, só própria de espíritos mesquinhos”.
A demissão seria acintosa, uma “revoltante injustiça que tem indignado a todo o público desta
capital”. A pretensa indignação pública contra a demissão, era, notoriamente uma forma do
jornal legitimar o discurso contrário ao governo, apresentando-se como opinião geral e não
partidária. Sobre o futuro do presidente, vaticinava: “um remorso eterno há de persegui-lo pela
injustiça revoltante e picardia infame que acaba de cometer”458.
456 Pedro II, n. 148, 2 jul. 1862, p. 3. 457 Pedro II, n. 149, 3 jul. 1862, p. 3. 458 Pedro II, n. 150, 4 jul. 1862, p. 3.
103
A cada novo número, cresciam as acusações. A 5 de julho de 1862, o diário descrevia a
versão de como fora a audiência na qual José Bento inquirira Manoel Franco sobre as críticas
constantes feitas ao governo por conta do cólera. O então inspetor de tesouraria teria reagido
afirmando, na ocasião, “nada tinha que ver [a presidência] com a empresa do Pedro II nem tão
pouco exercer menor inspeção sobre a direção da folha; mas não querendo criar embaraços a
sua administração, faria por evitar de tocar no cólera que era a fibra delicada”459. Tais
publicações tentavam reforçar a imagem do Pedro II como defensor da liberdade de imprensa,
ante um governo ansioso por barrar a mesma, censurando os temas delicados da administração,
especialmente sobre a premente epidemia.
A respeito de Manoel Franco, o jornal investiu na representação enquanto cidadão
benemérito, caridoso e ciente das responsabilidades no socorro dos conterrâneos. Seria a voz
humanitária e generosa, bradando pela imprensa em “termos enérgicos e convenientes em prol
da humanidade aflita e desvalida, que caía exangue mais à falta de recursos do que à intensidade
da peste que, no seu introito, se manifestava benigna”. As experiências, como inspetor da
tesouraria, redator e vice-provedor da Santa Casa, somavam-se a uma pletora de adjetivos:
“ilustrado”, “probo”, “honrado” e “exemplar pai de família”. Todavia, o presidente “não pôde
suportar as comedidas e justas censuras do Sr. Dr. Franco; ficou desatinado, e pretendeu sufocar
a nobreza de sentimentos e patriotismo” com a ameaça de demissão na Tesouraria:
Sua Excelência, pois, em vez de aproveitar as lições de quem mais inteligência
e experiências tinha dos homens e das cousas; pelo contrário timbrava em seu
capricho e amor próprio, e sem atender a prudência tão necessária aqueles que
se acham encarregados de autoridade pública e de dirigir povos, mormente em
circunstâncias difíceis e excepcionais, abusou do poder da força e do alto do
cargo que ocupava para demitir do emprego de inspetor da tesouraria
provincial o Sr. Dr. Franco, deixando com essa sua medida injusta, arbitrária
e vingativa essa repartição fiscal acéfala460.
Revoltava, especialmente, ao jornal o anúncio da instauração da sindicância, com uma
comissão realizando devassa na Tesouraria Provincial que, segundo a presidência, encontrava-
se em má situação. A ilação punha em xeque a competência e honestidade de Manoel Franco
na administração das finanças provinciais, daí a necessidade do Pedro II engrandecer o máximo
possível seu editor, desqualificando a acusação de estar a tesouraria em crise:
Já tivemos ocasião de demonstrar de modo categórico e irrespondível, que
nunca a tesouraria provincial atingiu a um estado mais florescente do que no
459 Pedro II, n. 151, 5 jul. 1862, p. 3. 460 Pedro II, n. 183, 12 ago. 1862, p. 1.
104
tempo do Sr. Dr. Franco, pois ao passo que duplicou a receita, deixou no
arquivo da repartição monumentos imorredouros não só do zelo com que
fiscalizava os interesses da fazenda, como da esclarecida inteligência com que
auxiliava o governo e imprimia na marcha da repartição a direção mais
conveniente. Entretanto o Sr. José Bento tem o inqualificável cinismo de dizer
em uma folha que podia ser lida no Ceará, que se o Sr. Dr. Franco continuasse
na gerência dos negócios fiscais, seria preciso mandar fechar as portas da
repartição!!!461
Ante as insinuações a respeito do caráter e competência do redator, o Pedro II
intensificou a leitura negativa acerca das experiências administrativas do presidente. Segundo
o jornal, a saída de José Bento da presidência do Rio Grande do Norte, em 1861, fora marcada
por “lama”, “desatinos”, “perseguição” à imprensa, como a prisão de tipógrafos, e pela covardia
e abuso da força. Arrematava, citando jornal pernambucano: em um país sério o “Sr. José Bento
nunca sairia do fundo empoeirado de uma secretaria”, porém, “no Brasil, país das raridades,
entregava-se uma província da categoria e civilização do Ceará e numa época de crise” a tal
homem. Nada se aproveitaria de sua administração no trato do cólera. Isso seria compartilhado
pela opinião pública: “questão vital para a província, o Sr. José Bento está condenado no
conceito de todos como inepto e imprevidente com suas providências póstumas”462.
Em meio à intensa artilharia de críticas contra si, o governo provincial desfechou novo
ataque, dessa vez ao bolso do Pedro II: rompeu o contrato que fazia deste a folha onde era
impresso o expediente oficial. Nas primeiras semanas de julho, a presidência fechou contrato
com a tipografia de Francisco Luiz de Vasconcelos, pela quantia de novecentos mil réis. A 16
de julho, O Commercial passou a se chamar Gazeta Official, publicando o expediente e mais
atos oficiais do governo provincial. Sobre o contrato em questão, a Gazeta afirmava ser o valor
do novo contrato cem mil réis inferior ao do Pedro II, alegando, assim, economia aos cofres do
Ceará463. Ao assumir o espaço de órgão oficial, a Gazeta passou a intensificar as críticas, já
encetadas enquanto se chamava O Commercial, ao Pedro II, destacando a performance do
presidente no socorro aos vitimados pela epidemia, também ancorando essas questões no
âmbito de uma pretensa opinião geral da população.
De sua parte, com redator demitido de cargo de extrema importância, com a perda de
um conto de réis no contrato de publicação do expediente provincial e sem perspectiva de
qualquer intervenção do Governo Imperial neste cenário, o Pedro II reagiu desqualificando as
publicações da Gazeta Official. Em matéria encabeçada pelo dístico “anões quanto mais alto
sobem, mais diminuem em proporções”, o presidente era acusado de improvisar um “novo
461 Pedro II, n. 221, 27 set. 1862, p. 1. 462 Pedro II, n. 151, 05 jul. 1862, p. 3. 463 Gazeta Official, n. 1, 16 jul. 1862, p. 3.
105
contrato em prejuízo do cofre provincial e da expedição e pontualidade com que era feito o
serviço”, pois não conseguira uma “folha grátis que servisse de receptáculo de suas salsadas”.
O governante, inclusive, dividiria seu tempo entre enviar cartas à imprensa de outras províncias
“narrando façanhas que não fez” e redigir os textos da Gazeta, “onde tem revelado seu
toupeirismo” e “até que ponto é amante da verdade na exposição dos fatos”464. Assim, o Pedro
II intensificou o uso do cólera para detratar Figueiredo Júnior, pessoalmente responsabilizado
pelos milhares de mortos e pelos prejuízos econômicos decorrentes:
NOTICIÁRIO
Já monta a 8.500 as vítimas que o cólera tem ceifado, achando-se, alguns
lugares acometidos de recente data, e outros apenas ameaçados pelos sintomas
precursores da colerina.
Infelizmente a maior mortalidade tem sido nos pontos agrícolas de Pacatuba,
Maranguape, Baturité, e ultimamente do Crato, onde o mal já eleva o número
dos mortos a 1.500.
Essa grande mortalidade deve ser imputada antes a incúria do Sr. José Bento,
em não tomar providências a tempo, do que a intensidade do mal em si.
O que é certo é que por muito tempo se há de fazer sentir a falta dos milhares
de braços laboriosos, que tem sucumbido, e que são tanto mais para lamentar,
atendendo-se a pouca escravatura que temos na província.
São incalculáveis os estragos e prejuízos que se tem sofrido sob todos os
pontos de vista, parecendo, entretanto, que a epidemia não chegará a sua
terminação com menos de doze mil vítimas!
Pobre Ceará, a que mãos estás entregue em uma quadra destas!
O Sr. José Bento é um elemento dissolvente em todas as cousas em que se
mete; mas o pior de tudo são as lágrimas sem remédio da pobre humanidade465.
Em outra edição, o Pedro II asseverava: na “administração da província nunca tivemos
cousa mais desasada: calamidade igual, só o cólera”. Continuava afirmando parecer impossível
que o governo imperial – a quem nitidamente o periódico evitava criticar de forma direta
naquele contexto – continuasse sem condoer-se da sorte dos cearenses, diante de um inepto
administrador, causa das desgraças da população466. Os efeitos nefastos da epidemia eram,
reiteradamente, indicados como resultados da ação da presidência:
Sua Excelência acreditando demasiado em sua sabedoria, experiência e tino
administrativo, recolheu-se inteiramente em palácio, fez-se invisível e
desconfiou de todos e de tudo, desprezou as reclamações que surgiam de todos
os pontos ao sul e norte da província, desgostou por sua indiferença as
comissões locais, que pediam socorros suficientes e a tempo, visto o cólera
achar-se iminente aos diferentes pontos donde partiam os pedidos das
referidas comissões, mandando para aqui, para ali e algures, uma carteirinha
464 Pedro II, n. 179, 07 ago. 1862, p, 1, grifos da fonte. 465 Pedro II, n. 173, 31 jul.1862, p. 1. 466 Pedro II, n. 179, 07 ago. 1862, p, 1.
106
homeopática, uns 50# réis, uns 100# réis com a recomendação favorita, eterna
e obrigada de [que] recorressem a caridade particular!467
Segundo o jornal do ex-tesoureiro, o governo provincial não tomou medidas
preventivas, enviando médicos, recursos financeiros e ambulâncias de remédios para as
localidades do interior apenas após serem atingidas. Nesta versão, o presidente recusava-se a
despender um pouco do tesouro provincial com medidas profiláticas, com prevenção, para
gastar verdadeira fortuna após centenas de pessoas morrerem, e isso apenas pelo brado da
imprensa, a lhe pressionar: “Quando [...] chegavam os socorros públicos enviados por S. Exc.
já os cemitérios se achavam repletos de cadáveres, e em seu auge os focos mortíferos de
infecção, que, hoje e por muito tempo, farão sentir os seus efeitos”468.
Tendo consciência da notória quebra de braços entre o Pedro II e Figueiredo Júnior,
bem como tomando partido da conjuntura política favorável, a imprensa liberal cearense
procurou ao máximo capitalizar a situação em seu favor. É o que demonstrarei a seguir.
2.2 - “O tutor, o salvador da sociedade”
Empregando estratégia discursiva similar ao Pedro II, os jornais de inspiração liberal
também tomaram as ações de Figueiredo Júnior contra a peste vigente, como estratégia para as
disputas do jogo político. Nos artigos, também evocavam a pretensa opinião pública existente
no Ceará. A ideia de opinião pública era, assim, utilizada como elemento de legitimação por
tais impressos nos combates pela hegemonia política e social entre as parcialidades cearenses.
Compartilhando ainda o discurso sobre o papel social que desempenharia a imprensa, o teor das
posturas de Figueiredo Júnior frente ao cólera era, todavia, apresentado de modo
diametralmente oposto pela imprensa liberal ao exposto no jornal Pedro II.
De início, os liberais não manifestaram entusiasmo com a indicação do presidente do
Ceará. A primeira referência sobre o ato de nomeação apareceu no O Cearense, de modo breve,
em duas linhas, no noticiário publicado na capa de 29 de abril de 1862: “Consta que se acha
nomeado presidente do Ceará o Dr. José Bento Figueiredo Júnior”469. Uma vez empossado, a 5
de maio, o jornal do padre Tomaz Pompeu manifestou a desconfiança em relação ao nome do
novo presidente, ante a reconhecida vinculação dele ao Partido Conservador:
467 Pedro II, n. 183, 12 ago. 1862, p. 1, grifos da fonte. 468 Pedro II, n. 183, 12 ago. 1862, p. 1. 469 O Cearense, n. 1522, 29 abr. 1862, p. 1.
107
Posse – Ontem tomou posse o Exm. Sr, Dr. Figueiredo da presidência desta
província. Sua Excelência passa por ultraconservador; o partido liberal só
espera que se não negue ao menos justiça.
Cumprimentamos ao novo administrador, e esperamos que corresponda ao
programa escrito do gabinete – de fiel execução das leis, economia, justiça e
moderação470.
A desconfiança em relação a Figueiredo Júnior não era despropositada. Cerca de um
ano antes da posse no Ceará, quando ainda governava o Rio Grande do Norte, tal político fora
alvo de textos depreciativos. Reproduzindo notícia impressa originalmente no jornal Rio
Grandense do Norte, O Cearense tornou pública, em março de 1861, a acusação de ter
Figueiredo Júnior usado o poder do cargo para perseguir opositores e censurar a imprensa. O
mote da acusação era o recrutamento que o presidente teria determinado contra Joaquim
Francisco de Souza Lima. Apelando para o sentimentalismo dos leitores, informava que Souza
Lima se viu, inesperadamente, recrutado para o Exército, tendo de abandonar o trabalho na
redação e a mãe enferma, de quem era arrimo. Na opinião da imprensa liberal potiguar, um
“governo fraco, imoral e corrompido, também como o sicário, se horroriza da luz da
publicidade, e traiçoeiro e covarde recua da imprensa que altiva lhe descobre as pústulas”.
Figueiredo Júnior governaria de “arbítrio em arbítrio a precipitar-se nos abismos profundos”
que cavou na “sua desastrada e miseranda administração”. O texto apelava aos “tipógrafos da
corte e de todas as províncias”: ajudem “a delatar o arbítrio, a violência, o despotismo que sofre
um vosso irmão, um artista honrado e inofensivo” 471. O arremate invocava a ação daquele
“que, colocado na maior altura social, vela incessantemente pela sorte dos Brasileiros, lançando
sobre nós suas vistas de paternal solicitude”: o Imperador. Ao mesmo caberia livrar o Rio
Grande do Norte do ato “absurdo e escandaloso” praticado pelo presidente: “Seja o país o
tribunal perante que ele [Figueiredo Júnior] compareça, e o Imperador o juiz que lavre a sua
sentença”472.
A mudança de postura da imprensa liberal cearense em relação a Figueiredo Júnior foi
sendo construída mais claramente ao longo do mês de junho, quando o cólera parecia ganhar
mais força e os textos do Pedro II passaram a cobrar mais ações da presidência, indiciando
dissensos no apoio dos “carcarás” ao correligionário. Da mesma forma, após a metade de junho,
chegaram ao Ceará as notícias das mudanças ministeriais envolvendo a queda de Caxias, o curto
governo de Zacarias e a ascensão de Olinda, sem a dissolução da Câmara dos Deputados.
470 O Cearense, n. 1523, 06 mai. 1862, p. 1, grifos da fonte. 471 O Cearense, n. 1423, 15 mar. 1862, p. 4. 472 O Cearense, n. 1423, 15 mar. 1862, p. 4.
108
Mesmo não havendo clareza sobre o assunto, a formação da “Liga” foi saudada com
entusiasmo pelo O Cearense. A saída de Caxias do cargo foi vista como uma mudança da
“situação política do país”, pois o partido que “há 14 anos no poder das posições oficiais”,
perdia terreno, “um fato imenso”, visível “em todo o país”, enquanto liberais e “conservadores
moderados” - agora “ligados” - ganhavam espaço. Sobre o gabinete Olinda, apresentava-o como
“composto de cidadãos que têm combatido a oligarquia, destacando os nomes dos ministros
que “não poderão deixar de considerar um partido em grande maioria por todo o país”473.
Neste cenário de recepção das notícias políticas da Corte, O Cearense reforçou o tom
moderado na cobertura das ações de Figueiredo Júnior no combate ao cólera. Provavelmente,
em seu cálculo político, a folha liberal de Tomaz Pompeu percebeu que não haveria mudança
na presidência do Ceará, ante a instalação do gabinete “ligueiro”. Por outro lado, O Cearense
reforçou as críticas à forma como o Pedro II tratava o assunto. Para a folha liberal, a demissão
do correligionário e redator da folha “carcará”, Manoel Franco Fernandes Vieira, do cargo de
inspetor do tesouro provincial, era o principal escopo dos ataques a Figueiredo Júnior.
A 8 de julho de 1862, O Cearense imprimiu texto intitulado “oposição”. Nele,
comentava a postura oposicionista adotada pelo Pedro II a partir do dia 2 de julho, numa nítida
alusão à data na qual a demissão de Manoel Franco tornou-se pública. O jornal conservador
teria se tornado “oposicionista extremo à administração, não só nos atos como à pessoa do
presidente”. O Cearense prosseguia dizendo respeitar as intenções do Pedro II. Malgrado tal
“respeito”, as leituras sobre o assunto faziam a folha liberal considerar “essa oposição tão
inconveniente, como injusta na presente quadra, quando devia, senão por outra razão, ao menos
pelas circunstâncias excepcionais em que estamos, procurar dar todo apoio, e peso à autoridade”
do presidente. O texto prosseguia, aludindo: diante das circunstâncias delicadas encetadas pelo
cólera, o governo provincial deveria ser considerado “o tutor, o salvador da sociedade”. Nesse
sentido, era importante serem preservados o prestígio e o respeito necessários à sua missão. A
imprensa teria então papel central nesse panorama, pois “convém que os órgãos da opinião"
não contradissessem tal respeitabilidade474.
Provocativo, O Cearense expunha ter “o contemporâneo” (Pedro II) “motivos pessoais
para seu desgosto”. Apesar destas motivações, asseverava: “acima de nossa individualidade
deve estar o bem da sociedade”. Findava lembrando: tanto os redatores do Pedro II quanto o
presidente Figueiredo Júnior eram notórios conservadores. Portanto, um jornal liberal não devia
intervir nessa “contenda entre correligionários”. Malgrado a premissa, “não se trata aqui agora
473 O Cearense, n. 1520, 24 jun. 1862, p. 1. 474 O Cearense, n. 1532, 8 jul.1862, p. 2.
109
de [fazer] política. A questão interessa a todos, trata-se de não desconsiderar a autoridade do
governo quando ela precisa de toda força para salvar a província”. Com isso, a redação se
autorrepresentava como a promotora do interesse público em um contexto de calamidade, acima
do partidarismo atroz, em detrimento dos supostos litígios individuais do concorrente no campo
da imprensa e política provincial475.
As críticas ao Pedro II se apropriavam, inclusive, dos dissensos visíveis entre os
membros do Partido Conservador no Ceará, adensados após a morte do senador Miguel
Fernandes Vieira, em agosto de 1862. Em outubro do mesmo ano, O Cearense repercutiu nota
de felicitação aprovada na Câmara Municipal do Crato – onde os conservadores eram maioria
– ao presidente José Bento da Cunha Figueiredo Júnior, pelos serviços prestados quando do
surto de cólera, que flagelou a cidade entre fins de abril e princípio de agosto. A nota de
felicitação tinha sido, inclusive, divulgada pela Gazeta do Cariry, órgão conservador impresso
em Crato. Ao citar as feições partidárias da Câmara e do jornal cratense, uma série de perguntas
retóricas foram então pronunciadas pelo O Cearense: “Poderá inda dizer o Pedro II que as
populações dos Cariris morreram ao abandono de providências?”; Quem mentia a respeito dos
atos de Figueiredo Júnior era “a redação do Pedro II, ou a da Gazeta do Cariry?”; Poderia “o
público crer no que diz o Pedro II, quando é ele apanhado na mais flagrante mentira?”476.
A explicação para as “mentiras” do Pedro II era dada no mesmo artigo de O Cearense
a partir de elementos macro e micro, que, na sua opinião, demonstravam a tacanhez dos
responsáveis pelo jornal opositor. Em primeiro plano estaria a inconformidade dos “homens do
Pedro II” com a “Liga”, pois “não se querem desenganar que longe vai a história de sua
peregrina dominação; imbecis, creem na restauração de uma política exclusivista que os elevou
ao poder, expelindo da gestão dos negócios públicos caráteres nobres, e distintos”.
Acostumados com o domínio partidário exclusivo, foram golpeados pela ação de “vultos
proeminentes” de ambas parcialidades que combatiam “nas câmaras temporária e vitalícias os
vícios do decrépito partido conservador que caprichosamente não se dando por vencido,
conspira-se contra a vontade da nação, que o repele e condena”. Para O Cearense, o país vivia:
um pronunciamento espantoso em favor do partido progressista, ou ligueiro;
acabando destarte com as dissidências, com os ódios, com as paixões
inveteradas, que tanto concorreram para entorpecer a marcha do progresso
moral, e material da nação, trancando as partes ao mérito que transluzia em
fileiras adversas.
475 O Cearense, n. 1532, 8 jul.1862, p. 2. 476 O Cearense, n. 1545, 7 out. 1862, p. 3.
110
Nestes termos, em vez de aderir ao progresso, o Pedro II, mesquinho, se condoía pela
perda de poder na província e pela demissão de Manoel Franco no cargo da Tesouraria
Provincial, enxovalhando o nome do presidente no Ceará e em outras províncias:
O Pedro II, porém, que por este prisma não lhe faz conta encavar a marcha
dos negócios públicos, nem lhe convém dizer a verdade a província, habituado
a impor sua vontade alguma vezes ao governo provincial, entendeu que o
Exm. Sr. Dr. J. B. da Cunha Figueiredo Júnior se amoldaria à ameaça de suas
censuras, e que de tal modo conseguiria sua camarilha governar a província a
seu bel talante. Frustrado seu plano, porque o Exm. Sr. Dr. José Bento, moço
de vontade própria, e de ilustração bastante puniu a ousadia do empregado de
confiança que veio à imprensa censurar atos de um governo que, em
circunstâncias tão apertadas, só tinha motivos para ser louvado; ei-lo com
linguagem ardente e viperina a adulterar todos os fatos administrativos, a
torcer a verdade, a negar a justiça, com o fim de fazer impressão com suas
calúnias, não, no teatro dos acontecimentos, onde ninguém se ilude; mas nas
províncias por passando esse rebate falso477.
Outro periódico a polemizar com o Pedro II foi O Commercial, de Francisco Luiz de
Vasconcelos. Ao tempo do rompimento do contrato que fazia do Pedro II a folha oficial da
Província do Ceará, O Commercial assumiu a função, mudando seu título para Gazeta Official.
No primeiro número, a Gazeta Official justificava, em editorial, a mudança do título do
periódico, afirmando ser a decisão reflexo da compreensão do novo lugar que passava a ter ao
assumir a responsabilidade pela impressão do expediente oficial. Outros temas de interesse para
a “prosperidade da província” - como o comércio e a indústria -, afiançava, não seriam
abandonados em suas colunas. Todavia, em clara provocação ao Pedro II, comunicava o novo
órgão jamais admitir que a injúria e a calúnia substituíssem “o raciocínio e a censura decente e
comedida”. A Gazeta faria de tudo para apresentar discursos polidos e, uma vez não alcançando
a postura desejada, cederia “o campo [a função de folha oficial] a qualquer adversário”. Em
contraposição aos “deploráveis abusos da imprensa”, a animar “alguns”, o editorial afirmava:
o “silêncio que desdenha polêmicas indignas é um triunfo para o contendor sensato”, visto que
a “invocação prestigiosa da opinião pública” serviria, não poucas vezes,
à triste origem de paixões ruins. Pusilânime para não expor sua
individualidade à franca apreensão dos ânimos esclarecidos e justiceiros, o
homem [da imprensa] dominado pelo despeito ou interesse, procura de
ordinário iludir alguns incautos, e sobretudo fazer efeito ao longe, ocultando-
se sob uma simulada manifestação coletiva o verdadeiro móvel do seu
procedimento478.
477 O Cearense, n. 1545, 7 out. 1862, p. 2, grifos da fonte. 478 Gazeta Official, n. 1, 16 jul. 1862, p. 2.
111
Em arremate, o texto asseverava: a “todo o escritor bem-intencionado” caberia o dever
de esclarecer os fatos, e não “concorrer de sua parte para que de qualquer modo se desvaire a
opinião pública”. Não por acaso, na sequência, reproduzia artigo publicado no Correio
Natalense, precedido de pequena sinopse, na qual informava tratar-se da “folha conservadora
do Rio Grande do Norte”. O destaque nitidamente representava um reforço na estratégia de
autorreferenciação479 da Gazeta e de desqualificação da imprensa conservadora cearense, tendo
em vista o conteúdo do artigo em questão, favorável a Figueiredo Júnior, posto ter presidido a
província potiguar antes de assumir a do Ceará.
No texto, o jornal natalense criticava o Pedro II pelas censuras tecidas à forma
parcimoniosa como on presidente do Ceará tratava a distribuição de socorros públicos e ao
apelo do mesmo à caridade particular no trato dos doentes. O órgão conservador potiguar
enaltecia, na sequência, a postura “brilhante” d’O Commercial – agora, Gazeta Official – na
defesa de José Bento, por considerar que “boatos adrede espalhados” sobre a epidemia não
deveriam levar o governo a agir imprudentemente e sem planejamento, como, por exemplo, não
exigir a apresentação de documentos comprobatórios das despesas dos comissionados e
contratados no socorro às localidades atingidas pela epidemia. O Commercial, sublinhava
ainda, repelira a “injúria feita aos cearenses” pelo Pedro II, do povo ter recebido de mau humor
ao convite à caridade e à esmola na conjuntura pestilencial, pois “os fatos provam o contrário”.
O texto do Correio Natalense terminava reafirmando apoio ao presidente do Ceará: “Continue
o Sr. José Bento firme em seu posto de honra, que os homens sensatos lhe farão a devida
justiça”480. Portanto, no tabuleiro das disputas da imprensa cearense, a reprodução desse artigo
por parte da Gazeta Official buscava pôr em xeque os textos do Pedro II, ao utilizar artigo de
folha conservadora de outra província como jogada tática no ataque de seu adversário
conterrâneo.
Como folha oficial, a Gazeta reproduziu a correspondência remetida pelo presidente às
autoridades das localidades afetadas pela epidemia, tratando da contratação de médicos, envio
de remédios, compra de mantimentos para a alimentação dos doentes desvalidos etc. Desta
forma, buscava reforçar a impressão de que Figueiredo Júnior não se omitia no socorro aos
coléricos. A reprodução dos ofícios acabava servindo de objeto para outras matérias, centradas
no elogio às decisões do presidente e na crítica da postura do Pedro II em contestá-las.
Cartas remetidas do interior dirigidas à Gazeta Official reforçavam a postura editorial.
Em fins de agosto, texto assinado pelo codinome “Cidadão Independente” tratava das ações do
479 BARBOSA, op. cit., 2010, p. 53-54. 480 Gazeta Official, n. 1, 16 jul. 1862, p. 3.
112
governo provincial no confronto ao cólera em Baturité. Principiava afirmando serem as
“censuras que constantemente [o Pedro II] dirige à inteligente governança do Sr. José Bento
Júnior” motivadas pelo “desapontamento do seu redator pelo desgosto ou decepção, porque
passara com o ato de sua demissão”. Afirmando-se testemunha ocular do zelo do presidente em
seus esforços para “salvar a população de Baturité”, o “Cidadão Independente” punha-se na
obrigação de “esclarecer o público da verdade, para que a hipocrisia e a má fé não ganhem
prosélitos em um país onde há uma tendência irresistível para o descrédito do princípio de
autoridade”. Pontuava os atos demonstrativos da prontidão com que os socorros teriam sido
realizados em Baturité. Circunscrevia, enfim, os motivos das acusações do Pedro II à demissão
de Manoel Franco, provocando-o com o resultado da sindicância realizada na Tesouraria
Provincial, a indicar problemas, pondo a honestidade e competência do ex-tesoureiro em xeque:
Por que não nega essa soma enorme de faltas que deu, soma que denuncia-o
ao público, como empregado negligente, e portanto incapaz de dirigir uma
repartição fiscal, que é a chave da riqueza provincial, faça isso que é seu dever,
mas não mostre despeito por um ato de justiça do governo do qual já o público
está convencido de sua precisão481.
No mesmo número, a Gazeta Official publicou carta enviada de Quixeramobim,
assinada pela “Sentinela do Deserto”, reiterando os elementos centrais dos argumentos do texto
sobre Baturité. Todos os habitantes de Quixeramobim, dizia a missiva, “bendizem dia e noite a
marcha salvadora do Sr. José Bento”, a quem deviam “a salvação de tantas vidas, pois a não
serem tão prontas providências, necessariamente teríamos perecido todos: nossas requisições
foram de pronto satisfeitas, dinheiro, medicamentos e médico chegaram a tempo, multiplicou-
se nossa coragem”. As acusações do Pedro II eram assim postas no descrédito: “como acusar-
se a um governo que solícito, ativo e previdente tomou todas as medidas ao seu alcance para
debelar o mal? Como fazer ele responsável pelos caprichos de uma epidemia? É muita
fascinação, é muita intolerância, senão muita cegueira”482.
Como já informei, na desqualificação das versões do Pedro II, os periódicos liberais
agiram em grupo, produzindo representações positivas a respeito do assunto.
Concomitantemente, as explicações para diferentes interpretações eram imputadas ao
partidarismo do Pedro II, malgrado tal característica ser comum a todos os órgãos impressos
envolvidos nas disputas e polêmicas do Ceará de 1862.
481 Gazeta Official, n. 13, 27 ago. 1862, p. 3. 482 Gazeta Official, n. 13, 27 ago. 1862, p. 4.
113
Mesmo não se autodenominando liberal, o jornal O Sol também alegava só ser explicada
a oposição do Pedro II ao chefe do executivo cearense pela demissão do ex-inspetor, pois,
pouco tempo antes, esta folha “liberalizou encômios à presidência”, todavia, “volta-se hoje”
com um “desabrimento descomedido” contra ela. Sem citar as mudanças políticas no ministério,
para O Sol, a culpa da demissão era exclusivamente do ex-inspetor. Ele não soubera equilibrar
sua função no cargo público com a outra, de redator:
É verdade, que foi demitido o inspetor da tesouraria provincial, mas este
empregado que era redator do Pedro II, que sabia, que a sua conservação no
emprego dependia da confiança do governo, e que a destituição lhe faria falta,
se devia conter prudentemente dentro dos limites de uma grave e decente
análise dos atos governamentais, quando não guardasse silêncio, deixando que
outros menos dependentes dos empregos tomassem a tarefa, que ele preferiu
tomar, para agora estar a lastimar a perda do pão, que lhe dava o cofre
provincial483.
A 13 de julho, em texto de capa, com extensão de mais de duas páginas, intitulado “OS
SOCORROS PÚBLICOS”, a redação d’O Sol, a cargo de Pedro Pereira da Silva Guimarães,
corroborava a defesa da administração de Figueiredo Júnior. Ao fazê-la, afirmava não ter como
escopo o “espírito de partido ou de interesse pessoal feito ou por fazer”. Sua coesão com a
“marcha governativa”, desse modo, não devia ser “interpretada negativamente”. Era, tão
somente, “um sentimento inato” da redação em não sofrer impassível com as hostilidades e
linguagem carregada de vitupérios com que os redatores do Pedro II tratavam o presidente.
Deste modo, recusando as acusações de ser “oficioso”, O Sol não cantaria “hinos à
administração”, mas não deturparia a “tarefa de escritor público, quando rendemos homenagem
à verdade, e profligamos vinganças do prelo”. Ao contrário dessa postura, o Pedro II era
acusado de “martirizar” o governo, imputando-o a pecha de ser “imprevidente”, “moroso” e
“mesquinho” na prestação dos socorros às localidades empesteadas. Citando os textos d’O
Commercial, O Sol acusava a redação do Pedro II de se deixar dominar por “paixões ardentes
e desarrazoadas”. Passava a narrar, então, um apanhado do governo provincial. Assumindo o
posto em meio ao ataque pestilencial, Figueiredo Júnior teria estudado atentamente por alguns
dias os negócios públicos, se inteirando da situação na qual se achava a província, para não
cometer erros em sua missão, especialmente na gestão da receita provincial e na destinação da
mesma para medidas mais urgentes nas localidades afetadas pela epidemia. Diante dessa
contextualização, provocava: Como o Pedro II poderia ralhar com essa atitude do governo?
483 O Sol, n. 283, 06 jul. 1862, p. 2, grifo da fonte.
114
Acaso quereriam que S. Exc. mandasse logo ao chegar, pôr no meio da praça
o cofre da tesouraria aberto, para dele tirarem todos os que quisessem a sua
soma, ou a qualquer que tomado de um terror pânico da peste; pedia excesso
de socorros, lhes mandasse prestar sem critério, e sem exame?484
Para O Sol, durante um tempo de calamidade, a afligir a sociedade, não deixam de surgir
“gênios especuladores e monopolistas”, que “sob a capa de interessados pelo bem público, a
pretexto de caridosos, o seu desejo é locupletarem-se e estacarem cada um a fonte da qual
correm os socorros”. Tomados pela voracidade, por uma “gana insaciável de fazer fortuna”,
muitas pessoas ofertam uma “caridade de [São] Francisco de Paula”, e, no entanto, brigam
“como o lobo da fábula” em busca da presa485. Seria contra tal situação que as ações previdentes
de José Bento se elucidavam para O Sol.
As acusações ao redator do Pedro II foram repetidas nas páginas d’O Sol ao longo do
segundo semestre de 1862, demonstrando defesa incondicional ao presidente da província. O
Sol chegou a republicar textos seus de 1857, com críticas a Manoel Franco Fernandes Vieira,
nítida forma de reforçar a detração ao opositor. Um dos artigos, intitulado, ironicamente, de
“Franqueza e desinteresse”486, mostrava quadro com “a progressão do ordenado que tem tido o
inspetor da tesouraria provincial, o Sr. Dr. Manoel Franco Fernandes Vieira nos três anos
últimos”. Trazia, ainda, os valores pagos pelo governo provincial ao Pedro II, “do qual é
colaborador o mesmo Sr. Franco”. Segundo O Sol, ao ser nomeado inspetor, a 14 de maio de
1854, Manoel Franco recebia como ordenado um conto de réis anual. O valor fora estabelecido
por lei da Assembleia Provincial de 1836. Todavia, uma série de mudanças tinham sido
aprovadas nos anos seguintes na Assembleia: em 1855, o ordenado subiu para 1.400$00; em
1856, foi para 1.500$000; já em 1857, alcançou 1.800$000. Evolução parecida teria ocorrido
nos valores aprovados na Assembleia para pagamento ao Pedro II pelos serviços de folha oficial
da província: de 600$000 pagos em 1854, tinha alcançado 1.800$000 em 1857. Após exibir a
variação nas cifras, O Sol fazia ilação séria, afirmando terem os aumentos no ordenado do
inspetor sido criados para atender questões pessoais, estando articulados a situações da vida
privada do funcionário: “[...] o Sr. Dr. Franco para casar teve dotação 400$000 réis; pelo
nascimento do primeiro filho teve outra dotação de 100$000; e agora para alimentos deste
príncipe lhe foram dados pela deste ano 300$000 réis. Que desinteresse não domina este
senhor!”487. A gravidade da acusação estava nas entrelinhas, afinal, entre 1856 e 1857, Manoel
484 O Sol, n. 284, 13 jul. 1862, p. 2. 485 O Sol, n. 284, 13 jul. 1862, p. 2. 486 O Sol, n. 289, 17 ago. 1862, 2. O texto original tinha foi publicado pelo O Sol, n. 58, 29 set. 1857. 487 O Sol, n. 289, 17 ago. 1862, 2
115
Franco Fernandes Vieira tinha ocupado o cargo de presidente da Assembleia Provincial do
Ceará488, dando a entender ter mobilizado a casa legislativa para benefício próprio.
Até mesmo sonetos foram impressos no O Sol contra Manoel Franco. Em 24 de agosto
de 1862, o jornal publicou um, onde o narrador passava-se pelo próprio ex-inspetor, a lamentar
a perda das vantagens e do emprego por ter, “por arte do demo”, virado redator do Pedro II:
Enquanto no meu ócio de inspetor
Vivia venturoso, e sem cuidados,
Choviam cortesias, mil agrados,
E era um Nababo, um grão-senhor.
Fiz-me por arte do demo redator,
E para logo os tempos malfadados
Correram após mim despiedados,
E perdi o meu sólio de esplendor.
Hoje voltado estou ao que antes era,
Bacharel in minoribus sem nome,
A carpir minha sina dura e fera.
Do que me aconteceu exemplo tome,
O que for empregado nesta era,
Se não quiser por aí berrar com fome489.
Em setembro, O Sol publicou texto com título em caixa alta, “PROTESTOS”. Nele,
levantava-se contra as “alicantinas” [velhacas] acusações do “Pedro II dirigidas ao atual
administrador da província por falta de providências na quadra epidêmica”. Contra elas, dizia
O Sol, se levantavam “não só todos os periódicos da província, mas ainda outros de fora,
informados como estão convenientemente dos fatos”. À “gritaria” do Pedro II, restava a falha
de ser apenas fruto da exoneração de Manoel Franco, “demitido por graves faltas de sua
repartição”490. Em seu derradeiro número de 1862, quando a epidemia atuava de forma mais
leve no Ceará, O Sol não poupou adjetivos para justificar o apoio voltado ao presidente:
Sem medo de sermos contraditados, o cavaleiro, que tem as rédeas da
governança atualmente, tem apresentado até hoje tanta discrição na prática de
seus atos governativos, tanta justiça em suas decisões, tanta prudência em seus
conselhos, tanta energia e prontidão nas providências a tomar, tanto zelo pela
economia das rendas, tão bom desempenho em tudo o que é concernente ao
bem público, que nós que temos um natural pendor para estarmos sempre em
oposição e temo-la feito a muitos de seus predecessores, não temos motivo
algum que nos haja dado S. Exc. para censurarmos sua administração. E nem
488 STUDART, op. cit., 1913, p. 336. 489 O Sol, n. 290, 24 ago. 1862, p. 2. Outros sonetos sobre o assunto foram publicados nas edições: O Sol, n. 287,
3 ago. 1862, p. 3 e O Sol, n. 288, 10 ago. 1862, p. 4; 490 O Sol, n. 292, 7 set. 1862, p. 3.
116
alvitrem os nossos contrários, que somos levados a não censura, porque temos
recebido graças do poder, porque não apontam nenhuma491.
Do sul do Ceará, na região do Cariri, também houve defesa do presidente da província.
Coube ao semanário O Araripe, impresso em Crato, cumprir esse papel. Redigido por João
Brígido, O Araripe foi duramente afetadado pelo cólera em 1862: deixou de circular entre fins
de abril e agosto, justamente por conta do forte surto que atingiu a cidade de Crato. Passada a
epidemia, O Araripe, porta-voz dos “chimangos” no interior cearense, entrou na contenda sobre
a avaliação dos socorros públicos encetados pela presidência da província. Em editorial, de
mais de uma página, rebatia críticas apregoadas no Pedro II, a respeito de Figueiredo Júnior.
Para a redação da folha cratense, os artigos estampados no jornal conservador trariam “injustas
acusações”, fazendo crer ao “país” – em referência às autoridades do poder central, a quem
cabia nomear e destituir os chefes das províncias – que as milhares de vidas ceifadas pelo cólera
eram consequência de falta de “providências prontas e enérgicas” ou do “desacerto e
inconveniência” das medidas tomadas pelo governo cearense492.
Autopromulgando-se juiz imparcial, sem compromissos de ordem alguma com aquela
administração ou relações entretidas com o presidente, O Araripe dizia ter testemunhado o
“zelo, solicitude e prontidão” do mesmo no auxílio das comarcas do Crato e Jardim, de forma
que protestava contra o que escreveu o Pedro II, “sem dúvida, guiado por informações desleais
ou inexatas.” Por isso, como “acima de tudo está a religião do dever, e a verdade que deve
caracterizar a pena do escritor público”, O Araripe voltava a voz à província e ao país para
pronunciar “aquilo que verdadeiramente passou-se a nossos olhos”493.
Acrescentava, então, ter o envio, pela presidência, de um médico e de remédios à região
antecedido à chegada do cólera, malgrado as mais de cem léguas a separar o Cariri da capital.
Aliás, o médico enviado, Antônio Manoel de Medeiros, por suas prescrições publicadas nos
jornais de Crato (O Araripe e a Gazeta do Cariri), teria habilitado diversos curandeiros,
prestando serviço considerável à população. A presidência também emitira ordens à coletoria
provincial e a particulares autorizando o fornecimento do dinheiro necessário para garantir a
dieta dos desvalidos e outras precisões do momento. Destacava, ainda, o fato do executivo
provincial ter enviado outros facultativos às localidades afetadas, criado comissões de socorro
público e liberado a contratação de enfermeiros e curiosos e a instalação de hospitais, como
eram conhecidas as enfermarias de emergência.
491 O Sol, n. 308, 28 dez. 1862, p. 2. 492 O Araripe, n. 286, 30 ago. 1862, p. 1. 493 O Araripe, n. 286, 30 ago. 1862, p. 1.
117
Isentava o presidente, do mesmo modo, pelo não envio de médicos para todos os pontos
afetados, pois, argumentava, o número desses profissionais não era suficiente para fazê-lo.
Além do mais, defendia que uma quantidade superior de médicos não era garantia efetiva de
menor ceifa de vidas, dando como exemplo fatos ocorridos em outros lugares do Brasil:
Não sabe porventura o colega do Pedro 2º os estragos que na Bahia, Rio de
Janeiro, Pará e Pernambuco produziu a primeira invasão deste terrível
hóspede? Pois bem; nós lhe dizemos: na primeira e segunda destas províncias
tinha o governo ao seu dispor legiões de médicos, acadêmicos e boticários,
empregou a todos, e todos não foram bastantes para as necessidades da
época494.
Concluía, comparando a cobertura a respeito do cólera feita pela imprensa das
províncias citadas com a do Ceará: a primeira “falava a verdade calma, e prudentemente”,
enquanto parte da segunda “fala pelo choque de pequeninos interesses individuais”495.
Após a publicação de defesa apaixonada da presidência, apresentada, pela redação,
como pautada em uma pretensa verdade, O Araripe seguiu polemizando com o Pedro II, ao
informar ter a Câmara do Crato, corporação “saquarema genuína” – ou seja, conservadora –,
dirigido a Figueiredo Júnior “um voto de gratidão pelos serviços que prestou durante a
epidemia”. Para o semanário, o procedimento dos vereadores desmentia e desmoralizava o que
o jornal conservador da capital apregoava, apesar de ambos pertencerem ao mesmo partido:
“Agora ajustem suas contas”, provocava496.
De modo similar à Câmara cratense, a de Barbalha também enviou protesto de
reconhecimento pelos serviços do presidente na quadra epidêmica. Nele, fazia clara alusão às
críticas tecidas pelo Pedro II:
É, pois, seu único fim, de presente, se dirigindo a V. Exc., fazer-lhe uma
pública manifestação de seus sentimentos, e traduzir a estima, em que o nome
grato de V. Exc. é dito pela população deste termo, depois da quadra de
perigos porque passa, vendo-o acompanhar todas as suas atribuições, e
prestar-lhe socorros prontos e eficazes, sempre e constantemente, sem
embargo da distância e dos minguados recursos de que dispõe.
Sirva este tributo de seu reconhecimento como de prova do apreço em que tem
os serviços de V. Exc. e como um protesto que faz diante do país, de que não
compartilha a ingratidão daqueles, cujas paixões têm abafado o eco de sua
consciência, e ousam maldizer o que as bençãos da terra rememoram497.
494 O Araripe, n. 286, 30 ago. 1862, p. 1. 495 O Araripe, n. 286, 30 ago. 1862, p. 1. 496 O Araripe, n. 287, 06 set. 1862, p. 1 497 O Araripe, n. 288, 13 set. 1862, p. 2. O ofício trazia a assinatura de seis vereadores da vila de Barbalha:
Raimundo José Camello, Cesário Deodato de Pontes, Gregório Pereira Pinto Calou, Antonio Duarte Grangeiro,
Sebastião Rodrigues Vieira e Manoel Antonio Tavares de Sá. O primeiro nome da lista foi, poucas semanas após
118
Para O Araripe, por trás de todas as críticas negativas ao presidente do Ceará estava
uma campanha do Partido Conservador cearense, simbolizado no seu órgão de imprensa, para
derrubar Figueiredo Júnior. Por conta disso, o hebdomadário comemorou a confirmação da
conservação da autoridade no cargo. Segundo O Araripe, a resolução ministerial representava
uma derrota ao grupo político do Pedro II, sendo sinal das mudanças promovidas pela Liga:
Cartas da Corte anunciam que foi resolvida definitivamente a conservação do
senhor José Bento na presidência do Ceará, motivando esta resolução
ministerial a viva oposição às instâncias que faziam a gente do Pedro segundo
pela sua demissão. Bem mudados que se acham os tempos!498.
Ao longo deste tópico, demonstrei como, no jogo da política cearense de 1862, as folhas
liberais agiram conjuntamente na busca do convencimento da opinião pública sobre os supostos
méritos da administração provincial no tempo do cólera, em detrimento das versões proferidas
pelo Pedro II.
A seguir, demonstrarei, a partir da análise das correspondências oficiais, o modo pelo
qual o presidente Figueiredo Júnior leu e usou as contendas políticas dos partidos e jornais
cearenses, a respeito das ações governamentais na conjuntura epidêmica, como forma de
garantir a permanência na cadeira de chefe do executivo provincial.
2.3 - As “folhas da oposição têm censurado o procedimento do Bacharel Franco”
No conjunto das correspondências que a Presidência do Ceará remeteu à Corte, no ano
de 1862, a epidemia de cólera ocupou papel de destaque. Já nos primeiros ofícios endereçados
ao Ministério dos Negócios do Império, no começo de maio, Figueiredo Júnior registrou os dois
pontos mais preocupantes a seu início de governo: a epidemia do cólera e o “notável
decrescimento das rendas provinciais”. Não por acaso, as duas preocupações elencadas
relacionavam-se diretamente: os socorros públicos exigiam recursos provinciais, daí porque a
arrecadação de impostos pelas coletorias, subordinadas à Tesouraria Provincial, era elemento
primordial naquela conjuntura. Nas palavras do presidente, se era necessário garantir a ajuda às
a publicação desse documento, nomeado delegado de polícia da Barbalha. Segundo O Araripe, a nomeação
premiava “um dos homens mais respeitáveis e que melhores serviços têm prestado àquele termo, o qual se
assinalou ultimamente durante a epidemia do cólera-morbo, em que com seu desinteresse e dedicação mostrou-se
digno dos maiores elogios” (O Araripe, n. 291, 19 out. 1862, p. 1). Aparentemente, o presidente do Ceará
recompensou Raimundo José Camello por seu apoio, dando importante cargo municipal ao mesmo. 498 O Araripe, n. 293, 22 nov. 1862, p. 4.
119
localidades afetadas pela doença, também era preciso manter em “vista a conveniência de fazer
toda a economia compatível com as necessidades imperiosas da situação, restringindo mesmo
algumas despesas que têm corrido pela verba socorros públicos”499.
No mesmo ofício, encontrei indícios de como a situação da Tesouraria era vista por
Figueiredo Júnior. Citando a diferença de valores, entre 1861 e 1862, arrecadados em 19
freguesias com o dízimo dos “gados grossos” - um dos principais impostos cearenses, tendo em
vista o peso da pecuária na economia provincial -, o presidente registrava a diminuição de dois
contos e novecentos e trinta mil réis. Comentava terem outras 15 freguesias ainda não
contribuído com tal dízimo, o que punha na conta dos “coletores especiais” nomeados pela
Tesouraria para a realização da arrecadação. A demora na ação dos coletores se agravava com
a chegada do cólera “em diversos pontos onde ela [a arrecadação] se tem de efetuar”.
O presidente não deixava, do mesmo modo, de acusar o ex-presidente de imprevidente,
ao afirmar que o antecessor não podia prever a chegada da epidemia “quando [...] deixou de
aprovar a arrematação das 15 Freguesias”, influindo “consideravelmente para o mau regulado
da cobrança, e as informações já obtidas vão confirmar esse juízo”500. Neste cenário, a situação
financeira do Ceará encontrava-se em péssimas condições, tendo em caixa recursos a cobrir
apenas os gastos ordinários, em um momento de aumento da demanda de dinheiro por conta da
doença. Por isso, as despesas com “melhoramentos”, ou seja, as obras públicas, estavam
ameaçados, dependendo de novos recursos do Governo Imperial:
Consideravelmente diminuída a importância do dízimo, que é um dos
principais ramos da receita provincial, e existindo apenas no cofre público um
diminuto saldo obrigado aos pagamentos de ordenados, e aos que são
provenientes de contratos e outros serviços impreteríveis, estou na rigorosa
necessidade de restringir muito a despesa, ainda quando tenha de ver
paralisados certos melhoramentos que eu desejava poder continuar [..]. Nestas
circunstâncias, lutando a Província atualmente com uma calamidade que tende
a escassear a renda pública, resta-me esperar que o Governo Imperial, na
distribuição de crédito para obras gerais e auxílio às províncias, se digne
habilitar-me com os meios necessários para que eu não fique na desagradável
posição de limitar-me ao expediente ordinário501.
Diante do problema nas finanças provinciais e da demanda crescente de recursos por
conta do avanço da peste, José Bento da Cunha Figueiredo Júnior, aparentemente, tentou
precaver-se, junto ao Gabinete, da acusação de ser imprevidente com os gastos destinados ao
499 ANRJ. Ofício n. 36a. 13 mai.1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 500 ANRJ. Ofício n. 36a. 13 mai.1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 501 Idem.
120
socorro público. Inclusive, não deixou de censurar na correspondência oficial atos do vice-
presidente José Antônio Machado, de quem recebeu a administração provincial. Em longo
ofício de 26 de maio de 1862, com 37 laudas descrevendo a situação epidêmica em cada
comarca infectada, Figueiredo Júnior criticava medidas preventivas autorizadas pelo
antecessor, como a ordem para abertura de enfermarias por toda a província, mesmo onde a
ameaça do cólera não se mostrasse claramente, ou a autonomia dada às comissões nomeadas
nas localidades, inclusive na autorização de gastos em nome do governo provincial: “Estou bem
certo de que algumas despesas com medidas de mera prevenção podiam ter sido evitadas, ao
menos enquanto circunstâncias imperiosas não aconselhassem avanços mais avultados”502.
Segundo o ofício, o território do Ceará era muito extenso e assustador o caráter da
epidemia, podendo induzir a autoridade provincial a optar por não “esquivar-se aos reclamos
mui frequentes e quase suplicantes das autoridades do interior”, afinal, a “população alterada
parecia só esperar do Governo a salvação e a recusa de socorros, mesmo para os lugares donde
apenas se avizinhava o cólera, agravaria o mal, levando para ali o desespero e o desânimo”.
Nestes termos, “nas grandes calamidades públicas a solicitude do Governo produz ao menos
um efeito moral muito saudável”, ao diminuir o medo de desamparo nas populações ameaçadas.
Mas era preciso evitar maiores dispêndios ao cofre público. Figueiredo Júnior afirmava, sua
“pouca experiência” adquirida nos negócios públicos era suficiente para o fazer recear “algumas
larguezas” dadas às comissões de socorros nomeadas “com a faculdade ilimitada de tomar
medidas convenientes para o caso da invasão do cólera”. Segundo o presidente, certos fatos já
iam “confirmando essa suspeita”. Desta forma, sem “faltar com os recursos indispensáveis para
socorrer os indigentes acometidos do cólera”, procurava por limites razoáveis à despesa:
Apesar de serem as comissões de socorros compostas dos principais
funcionários e pessoas gradas dos lugares, entendi que não devia deixar
exclusivamente ao seu juízo a apreciação das necessidades que reclamassem
dispêndio. Receei que não obstante suas boas intenções, tivessem tais
comissões, muitas vezes, de ceder ao desejo de não passarem por mesquinhas
ou a pressão de exigências desarrazoadas e que sem grande força de vontade
não se pode resistir em circunstâncias apressadas503.
O presidente passou a determinar, de acordo com a análise da população e distância em
relação à Fortaleza, as somas a serem gastas pelas comissões “com as dietas e outros socorros
aos miseráveis, fazendo as coletorias respectivas o abono preciso até a importância fixada”. Seu
502 ANRJ. Ofício n. 41. 26 mai.1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 503 ANRJ. Ofício n. 41. 26 mai.1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
121
cálculo levaria em consideração, inclusive, os “recursos que se deviam esperar da caridade dos
particulares”, ou seja: as pessoas mais abastadas das localidades afetadas eram estimuladas a
fazer subscrições para auxiliar no atendimento dos miseráveis acometidos pela doença.
A criação de enfermarias provisórias, aprovada pelo vice-presidente José Antônio
Machado para o tratamento dos coléricos, não mais seria decisão das comissões, passando a
presidência a autorizá-las “só no caso de maior necessidade”. Tais enfermarias acarretavam
“dispêndios avultados e não poucas vezes abusivos”, e os resultados obtidos nelas eram, no
geral, insatisfatórios, “como faz crer a cifra da mortalidade e o número diminuto de doentes
recebidos em tais estabelecimentos, ainda mesmo nos lugares populosos”504.
Os gastos com o transporte de médicos, remédios, baetas e alimentos para o interior
foram, também, alvo da intervenção do presidente. Tendo em vista a condução feita “em
animais comprados ou alugados [pelo governo] por alto preço [em Fortaleza]”, pois “não faltam
especuladores em tais épocas”, recomendou às comissões solicitantes que fornecessem:
os meios de condução para maior celeridade nas remessas, poupando-se além
disto um dispêndio mais avultado à Fazenda pública como acontecerá sempre
que as pessoas prestimosas dos lugares quiserem mandar à sua custa animais
e condutores, ou pelo menos alugá-los ali por menos preço [dos que
encontrados na capital]505.
Jogando a responsabilidade do transporte dos socorros às comissões, o presidente
terceirizava responsabilidades e custos em nome da austeridade financeira. Ao adotar tais
medidas, a presidência investiu em apresentar-se ao Gabinete como gestora responsável, tendo
em vista a situação delicada das finanças provinciais e as solicitações ascendentes das
localidades atingidas ou ameaçadas pelo cólera. Comentando os esforços em Fortaleza, onde a
doença agiu com menos furor em relação a outros pontos do Ceará, afirmava:
Entretanto quem fizer um exame consciencioso dos fatos ocorridos, e quiser
levar em conta os esforços por mim empregados no intuito de minorar os
terríveis efeitos da presente calamidade, reconhecerá que os meus bons
desejos de economia, sem prejudicar os indigentes, têm conseguido que se
restringissem certas despesas que para a Capital tinham sido planejadas em
maior escala506.
504 ANRJ. Ofício n. 41. 26 mai.1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 505 Idem. 506 ANRJ. Ofício n. 53. 30 jun.1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
122
Todavia, a postura de moderação na liberação de recursos dava margens para
interpretação negativa, ante a opinião de algumas pessoas sobre os gastos nas localidades
afetadas ou ameaçadas pelo cólera, vistos como fundamentais na situação emergencial vivida,
portanto, determinantes para vida ou morte da população. O uso político desta questão foi um
dos marcos de 1862. Como evidenciei anteriormente, a deliberação de Figueiredo Júnior por
maior controle dos gastos públicos no trato do cólera foi alvo de críticas do jornal Pedro II,
redigido pelo inspetor de tesouraria provincial Manoel Franco Fernandes Vieira, com ampla
repercussão na imprensa cearense, resultando na demissão deste do cargo, a 2 de julho de 1862.
O Pedro II foi implacável nas críticas. Em texto de capa, no mês de agosto, adjetivava
Figueiredo Júnior de “medíocre”, “inepto” e “preconceituoso”, defeitos “inseparáveis de certos
bobos com fumaças de sábio”507. A busca pela economia do erário e a lentidão da presidência
em atender as solicitações das localidades atacadas teriam sido responsáveis por muitas mortes
e, inclusive, pelo aumento exorbitante dos gastos públicos:
Quando, porém, o cólera invadia alguma localidade em distância de 60, 80,
100 e mais léguas da capital, e chegava a fatal notícia de que o mal fazia cair
centenas de vítimas, que não havia remédios e nem facultativos, e que os
desvalidos pereciam à míngua; então é que S. Exc. tomava o caso ao sério, e
vendo a imprensa bradar; tratava, malgrado seu, de providenciar [socorros]
despendendo o quádruplo, daquilo que em tempo podia despender evitando
aliás milhares e milhares de vítimas. Quando, pois, chegavam os socorros
públicos enviados por S. Exc. já os cemitérios se achavam repletos de
cadáveres, e em seu auge os focos mortíferos de infecção, que, hoje e por
muito tempo, farão sentir os seus efeitos508.
A celeuma publicizada na imprensa sobre o caso Manoel Franco foi silenciada, por um
certo tempo, na correspondência oficial da chefia provincial ao Marquês de Olinda. Como tratei
nos tópicos anteriores, desde fins de maio o Pedro II adotara atitude crítica em relação à política
executada pela Presidência da Província no trato do cólera, postura usada como munição pelos
jornais de matiz liberal, como O Cearense e O Commercial, auxiliados pelo O Sol, para
polemizar com o fato do inspetor do tesouro tecer críticas ao chefe e correligionário.
Ao longo de junho de 1862, os artigos sobre tal questão pulularam na imprensa. Todavia,
nada foi relatado pelo presidente à Corte. Provavelmente, José Bento da Cunha Figueiredo
Júnior tentava evitar o desgaste de sua imagem junto ao Gabinete, afinal a comunicação do caso
podia ser entendida como fraqueza ou incapacidade para disciplinar um subordinado direto da
administração provincial. Talvez o presidente se imaginasse capaz de contornar o caso
507 Pedro II, n. 182, 12 ago. 1862, p. 1. 508 Idem.
123
pressionando o tesoureiro a moderar o tratamento que o Pedro II dava ao cólera. Se a situação
fosse superada, por que avisar ao Presidente do Conselho de Ministros sobre o burburinho dos
jornais partidários, ainda mais em uma conjuntura de instabilidade, com duas trocas de gabinete
em menos de um mês? Portanto, não estando mais no poder o Gabinete Caxias, a quem devia a
nomeação à presidência do Ceará, não parecia prudente a Figueiredo Júnior demonstrar, ao
novo ministério, tibieza no trato de questões de pequena monta.
Mas não houve escapatória: sem conseguir dobrar o Pedro II, a presidência optou pela
demissão do tesoureiro. Ora, ao exonerar alguém do grupo “carcará”, com forte influência sobre
o Partido Conservador no Ceará e parentes ocupando vagas nas câmaras temporária e vitalícia
da Corte, não havia como evitar a repercussão do caso junto ao Gabinete. Por isso, ofício com
17 laudas, classificado como confidencial, foi remetido ao Marquês de Olinda, contendo a
versão de Figueiredo Júnior atinente ao imbróglio. O ofício demonstra a percepção e as
estratégias de defesa adotadas por seu autor para justificar a demissão do subordinado e
defender-se de eventuais críticas desabonadoras da administração do Ceará junto à Corte.
A desqualificação de Manoel Franco Fernandes Vieira é o elemento central da fonte.
Logo de partida, Figueiredo Júnior afirma: ao tomar posse no cargo de presidente recebera
“informações desfavoráveis” vindas de “pessoas insuspeitas” sobre o caráter e a competência
do Inspetor de Tesouraria, fato logo confirmado pela “própria experiência pouco tempo depois”.
A descrição do ex-funcionário investiu na desconstrução completa da personagem, tanto nos
traços comportamentais quanto no exercício das funções inerentes ao cargo:
De uma desídia habitual, que até se revela no seu gosto e expressão, e de um
caráter aparentemente pacato mais traiçoeiro, esse Bacharel não era assíduo
na Repartição, onde mui pouco fazia, comutando quase todo o trabalho a
empregados subalternos, em quem cegamente confiava. E tão alheio se
mostrava ele aos negócios que corriam pela Tesouraria, que um de meus
predecessores, sem ter algum motivo de indisposição pessoal, quase nunca o
chamara [ao] Palácio, e dele prescindia ordinariamente, consultando outro
empregado, e até um subalterno sobre assuntos que o Inspetor de Tesouraria
não deve ignorar509.
Manoel Franco teria dificuldade em responder a inquirições simples sobre o
funcionamento da repartição, dando respostas “ordinariamente tão demoradas e cheias de
hesitação”, que o presidente se via “obrigado a exigi-las por escrito, dando-lhe ocasião de
examinar os negócios, e tomar algum conselho esclarecido”. Mesmo diante da má impressão
509ANRJ. Ofício confidencial. 8 jul.1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
124
inicial, Figueiredo Júnior afiançava tratar o inspetor com deferência, dando-lhe a “força moral”
precisa ao exercício do cargo510.
Sobre a epidemia do cólera, dizia Figueiredo Júnior: a princípio, teve conversas pontuais
com Manoel Franco, nas quais este limitava-se a solicitar “socorros para alguns lugares onde
tinha parentes ou amigos políticos”, o que, razoavelmente, procurava satisfazer. Mas quando o
assunto passou a ocupar o Pedro II, “folha que aqui se diz órgão do partido conservador”, a
questão tomou outra proporção. Responsável pela redação, desde quando Miguel Fernandes
Vieira tomara posse no Senado, o “bacharel Franco” não teria “tino” nem “inteligência bastante
para uma tarefa tão importante”, limitando-se a “dirigir o material da tipografia, publicando,
além do expediente do governo, e de algumas correspondências do interior, diversos noticiários
que por si sós revelaram bem pouco critério da parte de quem os redigiu”511.
Figueiredo Júnior afiançava: no princípio de sua administração tomara a decisão de não
interferir na imprensa local. Para “não criar compromissos tácitos”, teria deixado a opinião se
manifestar livremente, “sem inspiração alguma do Governo”. Não obstante, demonstrava
inquietação a respeito da forma diferenciada como as ações no combate ao cólera eram
veiculadas pelo Pedro II, em contraste com o tom dos órgãos liberais da província:
Não deixei de notar que quando os liberais, tendo talvez algum motivo de
prevenção política, tratavam-me com toda a deferência, e quando as 4 folhas
do seu partido que se publicam na cidade mostraram reconhecer as boas
intenções do Governo, limitando-se a esclarecer e a indicar uma ou outra
providência útil, só o Pedro 2º, folha oficial, e órgão do partido conservador,
fazia exigência de médicos quando eles já tinham sido por mim requisitados
com instância de várias Províncias; reclamava para diversas localidades
socorros públicos quando estes já haviam sido prestados, e publicava
correspondências exageradas do interior sobre o estado da epidemia e sobre a
necessidade de recursos aliás remetidos anteriormente por mim512.
No afã de apresentar-se como tolerante e moderado, Figueiredo Júnior afirmava, “a par
desses pequenos desvios” na cobertura do Pedro II, ter tido “ocasião de fazer observações justas
e amigáveis ao redator”. Este, por outro lado, não deixou de publicar “apreciações favoráveis
de diversos atos administrativos, e até expressões encomiásticas ao governo da província”.
Contudo, depois da divulgação “da notícia da retirada do gabinete” responsável pela nomeação
de Figueiredo Júnior, a edição n. 131, de 10 de junho de 1862, do Pedro II trouxe artigo “que
discordava inteiramente de outras manifestações anteriores”:
510 ANRJ. Ofício confidencial. 8 jul.1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 511 Idem. 512 Idem.
125
Sob o pretexto de auxiliar censurava-se a administração por imprevidente,
evitava-se cuidadosamente a revelação das providências dadas, pediam-se
socorros, providências mui amplas de dinheiro, medicamentos e gêneros,
inculcava-se a necessidade de se contratar mais médicos, além dos 24 já
comissionados; e o que mais é, pintava-se com cores exageradas o estado
sanitário das localidades, e o desgosto e murmuração do público, procurando-
se tornar odioso o apelo feito pelo Governo à caridade particular para auxiliar
a despesa enorme exigida do cofre público513.
Teria então chamado Manoel Franco ao palácio do governo, e, em “confidência”, dito:
sendo o Pedro II a “folha oficial” do Ceará, havia inconveniências naquelas “manifestações
com que ele [Franco] talvez na melhor intenção desvairava a opinião pública”514, apesar de
“bem de perto” observar “os constantes esforços da Presidência” no combate ao cólera, tendo
em vista o papel da Tesouraria na liberação dos recursos. Diante das ponderações, o inspetor
teria se desculpado, asseverando não ter a intenção de censurar a conduta de Figueiredo Júnior.
A publicação, justificava, tinha como fim abonar “perante o Governo Imperial” a necessidade
de mais recursos para os socorros públicos. Ao fim da reunião, Franco teria declarado: “como
prova de amizade, nada mais publicaria que pudesse parecer inconveniente” ao presidente.
No entendimento do autor do ofício, as atitudes do inspetor talvez fossem estratégias
para verificar o grau de sensibilidade do presidente “à lisonja”: “quis talvez mostrar-se esquivo
a ver se ajeitava futuras complacências”. Ademais, poderia “cegá-lo a vangloria de inculcar
independência” em relação ao chefe do executivo provincial como modo de “adquirir
popularidade nalguns lugares prediletos por meio de manifestações filantrópicas no tempo do
cólera”515. Em outras palavras: Manoel Franco estaria usando as críticas à presidência para
fortificar-se politicamente em Maranguape, sua vila de origem, fustigada pela epidemia.
Enquanto o Pedro II prometia brandura, conta Figueiredo Júnior, O Commercial, n. 505,
“publicou um artigo polido e inofensivo”, evidenciando as ações do governo, realizando o
“humanamente possível e razoável para minorar os terríveis efeitos da calamidade do cólera”.
A resposta ao O Commercial veio a lume no Pedro II de 18 de junho de 1862. O texto
confirmava admoestações feitas à Presidência, “procurando desfigurar e tornar odiosos os atos
administrativos” concernentes ao cólera. Dirigindo-se diretamente à pessoa do Marquês de
Olinda, Figueiredo Júnior ponderava:
Melhor que eu, Vossa Excelência compreende que nestas circunstâncias não
me era lícito viver em contato com um empregado que procedia tão
513 ANRJ. Ofício confidencial. 8 jul.1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. Grifos da fonte. 514 Idem, grifos da fonte. 515 Idem.
126
deslealmente, fazendo garbo de ser o redator da folha oficial que se
pronunciava de um modo tão injusto e agressivo. A opinião pública se
manifestou por tal forma que eu não podia conservá-lo na Repartição sem
quebra da minha força moral516.
Malgrado tais palavras, a demissão ainda foi adiada por algumas semanas, pois
“diversos motivos e constrangimentos” inquietavam o missivista. O principal escrúpulo era de
cunho pessoal: “pesava em meu espírito a consideração de amizade que meu Pai e eu entretemos
com o Senador Miguel Fernandes Vieira, o deputado Manoel Fernandes Vieira, e o
Desembargador André Bastos de Oliveira, parentes do Bacharel Manoel Franco”517. Portanto,
havia relações ligando José Bento pai e José Bento Júnior a políticos e a um magistrado
familiares de Manoel Franco. Tais laços, em parte, podiam decorrer do fato de todos serem
correligionários do Partido Conservador. Além do mais, Cunha Figueiredo foi estudante e lente
do Curso Jurídico, em Pernambuco, onde os Fernandes Vieira se bacharelaram: o contato inicial
deles podia ter se dado nas condições de colegas ou professor e alunos. Para além das relações
existentes, os escrúpulos de Figueiredo Júnior também podiam esconder o temor de ganhar a
indisposição geral dos conservadores no Ceará e de ver seu nome ecoar em críticas dos parentes
de Manoel Franco e seus aliados nas câmaras da Corte, o que poderia contribuir para a corrosão
da presidência junto ao Gabinete.
A crer no ofício confidencial, o redator do Pedro II percebeu a ameaça à sua sustentação
na chefia da repartição responsável pelas finanças provinciais. A narrativa do presidente
investiu na insinuação de Manoel Franco enquanto covarde, passando a evitar o contato direto
com o chefe imediato: “conservava-se afastado, tendo até, como vice-provedor da Santa Casa,
mandado entender-se comigo um dos mesários sobre certo negócio, de que ele devia tratar”.
A 30 de junho de 1862, “um indivíduo que se dizia” amigo do Inspetor de Tesouraria
teria ido “interceder por ele” perante Figueiredo Júnior. Tal emissário afiançara: “o bacharel
Franco tinha cometido uma imprudência, mas que as manifestações ulteriores do Pedro 2º
desfariam qualquer impressão”. Em outras palavras: os novos números do diário trariam artigos
para desfazer o mal-estar entre as personagens em litígio, não mais agastando a presidência com
críticas sobre as ações contra a epidemia. Nas palavras de Figueiredo Júnior, a fala do “amigo”
de Franco foi outro motivo a fazê-lo rever a decisão de assinar a carta de exoneração do
516 ANRJ. Ofício confidencial. 8 jul.1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 517 ANRJ. Ofício confidencial. 8 jul.1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
127
funcionário provincial: “Movendo-me à compaixão esse ato que denunciava um
arrependimento, deixei de publicar nesse dia a portaria”.
Segundo Figueiredo Júnior, indícios do mensageiro ser de fato ligado a Manoel Franco
estariam presentes na edição do dia 1 de julho, quando o Pedro II teria veiculado “espécie de
retratação do seu redator que bendizia a administração e aderia a ela com lealdade”518. Não
obstante tal informação, ao ler a edição da data citada, não encontrei nenhum artigo que pudesse
ser interpretado como uma retratação da redação519. Talvez o presidente tenha se confundido
com as datas ou tenha blefado, para reforçar os propósitos da narrativa enviada à Corte.
Apesar da suposta retratação, continuava o ofício, na edição subsequente do Pedro II,
“estimulado por uma tática do Cearense, folha liberal, o Bacharel Franco publica [...] sob sua
assinatura um artigo em que de novo ofendia a administração”. Provavelmente, desagradou a
Figueiredo Júnior, na edição citada, a passagem do artigo do Pedro II com a seguinte afirmação:
“Sempre, porém, que S. Exc. [o Presidente] merecer os nossos aplausos, não os
recusaremos”520. A declaração dava a entender ser Manoel Franco o juiz responsável por
sentenciar os atos da Presidência, sendo ele, na realidade, pelo cargo ocupado, um subalterno
direto dela. Caberia ao presidente acatar, quieto, os aplausos ou reprimendas do funcionário?
Aparentemente, o ego do mandatário provincial não se adequava a tal posição.
Para Figueiredo Júnior, “fiando-se talvez na proteção de seus parentes”, o inspetor
submetia-se “à condição pouco honrosa, de servir com um Presidente, cuja estima não podia
merecer”. Ainda investindo na representação negativa do oponente, o autor do ofício
confidencial informava ter Manoel Franco enviado requerimento solicitando licença do cargo,
provavelmente um meio de dirimir o desgaste com a Presidência do Ceará e de garantir a
manutenção do ordenado de quase dois contos de réis. Mas o requerimento não encontrou
acolhida: a exoneração de Franco foi, enfim, assinada por Figueiredo Júnior521.
Consumada a demissão, o Pedro II intensificou as publicações contra o presidente,
resultando em segunda estocada do governo. O contrato que fazia do diário o órgão oficial da
província, publicando o expediente do governo, foi rompido, acarretando perda financeira
considerável à redação: “Desde então o Pedro 2º [...] tem publicado contra o Presidente diatribes
tão virulentas, que me obrigaram a retirar-lhe a publicação do expediente, mandando contratá-
518 ANRJ. Ofício confidencial. 8 jul.1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. Grifos da fonte. 519 Pedro II, n. 147, 1 jul. 1862. 520 Pedro II, n. 148, 2 jul. 1862, p. 3. 521 ANRJ. Ofício confidencial. 8 jul.1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
128
lo pela Tesouraria com quem melhores condições oferecer à Fazenda” 522. No jogo político do
momento, a presidência punha em ação suas armas, atingindo o bolso do oponente pela
demissão e pelo cancelamento do vínculo do governo com o Pedro II. A honra de Manoel
Franco também seria contraditada, pois o presidente instituiu “comissão composta de
empregados da Tesouraria de Fazenda” para examinar a situação da repartição523, insinuando
ter o ex-inspetor cometido maus feitos no cargo.
A estratégia adotada pela presidência consolidou o apoio das folhas opositoras aos
Fernandes Vieira. Se os jornais O Cearense, O Commercial e O Sol já vinham polemizando
com o Pedro II a respeito das críticas atinentes às ações oficiais no combate ao cólera, a
demissão do Inspetor de Tesouraria e a retirada da publicação do expediente do diário
conservador deram mote para o recrudescimento dos embates, como exibi no tópico anterior.
Obviamente, o presidente passou a usar as publicações liberais a seu favor na
correspondência com o Marquês de Olinda, equiparando a versão das mesmas à suposta opinião
pública da capital, símbolo de sensatez contra as atitudes apresentadas como desarrazoadas do
Pedro II: “Todas as folhas da oposição têm censurado o procedimento do Bacharel Franco,
fazendo justiça ao ato do Governo, e não há nesta capital uma só pessoa sensata que não
condene o procedimento do ex-Inspetor; e não reconheça a necessidade de sua exoneração”524.
Como não era interessante ao Presidente do Ceará ser acusado de partidarismo e nem se
abespinhar completamente com os conservadores da província, podendo desgastar a imagem e
pôr em xeque a estadia no cargo, o ofício ao Marquês de Olinda investia na ofensiva contra
Manoel Franco,
que movido por um despeito pessoal, e aproveitando-se da acefalia do partido
conservador pela ausência de seus membros, que estão nas Câmaras, e com os
quais estou em boas relações, vai abusando da folha entregue provisoriamente
à sua direção por seu tio o Senador Miguel Fernandes Vieira, que é
proprietário da tipografia525.
Investindo na versão, Figueiredo Júnior queria convencer o poderoso destinatário do
ofício de que Manoel Franco não inspirava confiança em seus correligionários e mesmo em
parentes. Assim, a campanha difamatória do Pedro II não teria capacidade de fazer prosélitos:
Obrando por sua própria conta, sem ter ao menos consultado os seus parentes
e os representantes naturais do partido conservador atualmente na Corte, tem
522 ANRJ. Ofício confidencial. 8 jul.1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 523 Idem. 524 Idem. 525 Idem.
129
levado ao maior descrédito o Pedro 2º com suas contradições e linguagem
extremamente injuriosa. É o que todos lamentam526.
A fragmentação do Partido Conservador no Ceará era também utilizada por José Bento
da Cunha Figueiredo Júnior para corroborar a versão relativa à credibilidade do jornal dos
Fernandes Vieira. Segundo o ofício, a eleição ao senado de 1861, culminada com a nomeação
imperial do desembargador Antônio José Machado para a câmara vitalícia, tinha demonstrado
fraturas entre os conservadores cearenses, com pessoas “notáveis e prestimosas” divergindo de
Miguel Fernandes Vieira. Como o senador Machado morreu poucos meses após ter tomado
posse, nova eleição realizou-se, consagrando Miguel Fernandes Vieira, que, tal como o
antecessor, gozou pouco da vitaliciedade senatorial.
As cizânias emergidas entre os conservadores cearenses nos pleitos de 1861 e 1862
seriam, para Figueiredo Júnior, agravadas pela “má direção do Pedro 2º”. Supostamente, a
política editorial tornou nomes importantes “indiferentes ao movimento dos partidos”,
favorecendo a musculatura dos liberais, mais coesos e melhor liderados: “os liberais vão
ganhando terreno, e já teriam engrossado mais suas fileiras, se desde certo tempo houvessem
tido sempre melhor direção, embora seu chefe, o Padre Pompeu se mostrasse agora razoável”527.
Encerrando o assunto central do ofício, o presidente do Ceará afiançava que
conservadores e liberais ocupavam cargos públicos na província, malgrado os primeiros terem
a maioria deles. A declaração servia como mote para reafirmação do caráter apartidário do
presidente, numa conjuntura de nova “conciliação” em ascensão na Corte. Nestes termos,
nenhum de seus pronunciamentos políticos e atos de governo podiam ser explicados pelo
“espírito de partido”. Assim, asseverava demonstrar fidelidade aos princípios do ministério em
tempo de “Liga”, não intervindo nas disputas políticas e centrando-se nas questões prementes
da província:
Supondo que interprete bem as intenções do Governo Imperial, não hostilizo
nenhuma das parcialidades, procuro proceder segundo os ditames da luz, da
justiça e das conveniências públicas, e tenho-me abstido inteiramente de
intervir de qualquer forma na eleição de deputado que tem de preencher a vaga
do Dr. Miguel. Sem esquecer outros negócios públicos urgentes, ocupo-me
principalmente com as medidas preciosas em consequência do cólera, como
Vossa Excelência conhecerá das minhas comunicações oficiais528.
O cálculo político de demonstrar-se acima dos partidos, bem como a preocupação em
não desagradar parcela ampla das facções do Partido Conservador no Ceará, foi,
526 ANRJ. Ofício confidencial. 8 jul.1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 527 Idem. 528 Idem. Grifos da fonte.
130
provavelmente, o que levou Figueiredo Júnior a indicar Domingos José Nogueira Jaguaribe
como o substituto de Manoel Franco Fernandes Vieira na Inspetoria do Tesouro Provincial.
Como já tratei anteriormente, Jaguaribe foi quadro importante dos “caranguejos” no Ceará da
segunda metade do século XIX. Para além do conceito entre os pares, o indicado tinha
desavenças políticas com o grupo “carcará”, com quem disputava a liderança dos conservadores
na província. Não obstante, aparentemente, a escolha soou estranha aos ouvidos do Marquês de
Olinda, não pela conhecida surdez deste529, mas pelo fato de Jaguaribe ocupar cadeira na
Câmara Geral em 1862, considerando incompatível o cargo de Inspetor de Tesouraria.
Olinda não comunicou diretamente a inquietação ao presidente do Ceará por meio da
correspondência oficial. Escolheu via mais privada, demonstrando os pesos das relações
pessoais na política imperial, o que, nas entrelinhas, não deixa de indiciar certo desabono, talvez
menosprezo, a Figueiredo Júnior: Olinda manifestou as dúvidas sobre o acerto da indicação de
Jaguaribe em conversa privada com José Bento da Cunha Figueiredo. Tendo escutado a crítica
do marquês, o progenitor escreveu ao rebento, que sentiu-se na obrigação de justificar-se: “Meu
pai, a quem Vossa Excelência fez o favor de falar a meu respeito, comunicou-me o reparo que
Vossa Excelência manifestou pela nomeação do Dr. Jaguaribe para Inspetor de Tesouraria,
sendo ele deputado, e não podendo exercer bem o lugar”530.
Tratando do assunto, Figueiredo Júnior explicou: a “demissão do Dr. Franco, embora
mui regular e até necessária, podia despertar alguma suspeita de envolver um pensamento
público”, haja vista ser o Ceará “província onde as suscetibilidades dos partidos, não sendo tão
exageradas como outrora, ainda fazem sentir de um modo mui pronunciado, principalmente nas
Câmaras do interior”. Neste sentido, argumentava, a demissão de Manoel Franco, um Fernandes
Vieira, família influente entre os conservadores do Ceará, poderia levantar suspeitas sobre o
presidente da província ter aderido aos liberais, tão elogiosos na imprensa:
Nessas circunstâncias, o feito da exoneração, coincidindo com o
pronunciamento, embora gratuito que faziam em meu abono as folhas liberais,
excitara, talvez, alguma desconfiança, mesmo em certos ânimos que não
estivessem muito dominados da ideia de exclusivismo [partidário].
529 Como demonstra a tese de Paulo Henrique Fontes Cadena, a surdez do Marquês de Olinda teve espaço
importante nos textos políticos, jornalísticos e literários produzidos no oitocentos sobre o último regente do
Império. A deficiência auditiva e a “velhice”, em referência ao fato de que desde o Primeiro Reinado até o fim da
vida, em 1870, Olinda ocupou cargos de destaque da política imperial, sendo por quatro ocasiões presidente do
Conselho de Ministros, plasmaram parte das representações sobre Pedro de Araújo Lima, presentes no O Velho
Senado de Machado de Assis, nos Escritos Políticos de José de Alencar, entre outras fontes. Muitas vezes, a surdez
física do estadista era usada como metáfora da suposta surdez política que caracterizaria a personalidade forte de
Olinda. CADENA, op. cit. 2018. 530 IHGB. Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda. 28 ago. 1862. Coleção Marquês
de Olinda. Lata 216, doc. 20.
131
Acresce que ao ato da demissão seguiu-se, como consequência imperiosa, a
rescisão do contrato feito pela publicação do expediente no “Pedro II”531.
Portanto, a nomeação de Domingos José Nogueira Jaguaribe como Inspetor de
Tesouraria seria, em primeiro lugar, antídoto para a acusação do presidente perseguir
conservadores: “A impressão, porém, que tudo isto pudesse produzir ficaria desfeita com a
nomeação de pessoa insuspeita como é Dr. Jaguaribe”. Para além do cálculo político,
Figueiredo Júnior destacava a qualificação de Jaguaribe para o cargo como o principal motivo
para a indicação, “porque quando se trata do bem público” não se deixaria “prender por
considerações de outras ordens”. Segundo a explicação, faltavam pessoas no Ceará qualificadas
para o cargo. O indicado teria a favor de si a qualificação e o prestígio político: “inteligente,
probo, conhecedor da Província, tendo tido sempre bom crédito como Juiz de Direito, e gozando
além disto do prestígio que lhe dá a sua posição de deputado, estava nas melhores condições de
bem servir o emprego”. Quanto ao problema de incompatibilidade indicado pelo Marquês de
Olinda, sugeria, por fim, Figueiredo Júnior, poderia ser resolvido pela licença de “cinco meses”
na Tesouraria a cada sessão legislativa da Câmara Geral na qual Jaguaribe tivesse de estar.
Malgrado todo o esforço de Figueiredo Júnior em defender o plano, a nomeação de
Jaguaribe não se concretizou, em parte pelo interesse do último em permanecer exclusivamente
na função de Deputado Geral e de concorrer à vaga ao Senado aberta com a morte de Miguel
Fernandes Vieira. Ademais, Jaguaribe acabaria tornando-se desafeto de José Bento da Cunha
Figueiredo Júnior ao longo da administração deste na Presidência do Ceará. As animosidades
entre eles se estenderam para além da exoneração de Figueiredo Júnior do cargo, no começo de
1864. Há, inclusive, um opúsculo, de 9 páginas, no acervo da Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro, intitulado “O Bacharel J. B. da Cunha Figueiredo Júnior e o Sr. Deputado Domingos
José Nogueira Jaguaribe”, datado de 1866, com indícios sobre a desavença.
Escrito por Figueiredo Júnior, o exemplar consultado traz manuscrito, sobre a capa
impressa, a quem ele se destinava: “Para subir a Augusta Presença de Sua Majestade O
Imperador”. Antes de ser transformado em brochura, o texto foi publicado no Diário de
Pernambuco, n. 221, de 25 de setembro de 1866, sendo uma resposta de Figueiredo Júnior a
discurso proferido por Jaguaribe na Câmara dos Deputados, acusando aquele de ser parcial
durante o tempo em que ocupou a presidência do Ceará, favorecendo pessoas do Partido Liberal
nas eleições e na distribuição de cargos. Ao longo do opúsculo, Figueiredo Júnior faz um
531 IHGB. Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda. 28 ago. 1862. Coleção Marquês
de Olinda. Grifos da fonte. Lata 216, doc. 20.
132
apanhado do tempo de governo no Ceará – citando o cólera, os conflitos com o Pedro II de
Manoel Franco Fernandes Vieira, a situação dos partidos, as eleições que presidiu etc. –,
negando a pecha de partidário, sempre com acentuada ironia contra o oponente: “O Sr.
Jaguaribe, que ostenta tamanha erudição citando fatos da história europeia com aplicação à
nossa política interna, devia ter mais escrúpulos na apreciação dos acontecimentos
contemporâneos de um teatro pequeno como é a sua terra natal” 532.
Percebe-se por trás do malogro da indicação de Jaguaribe para inspetor, o empenho de
Figueiredo Júnior em defender-se dos ataques sofridos na imprensa. Em ofício de fins de julho
de 1862, repercutindo publicação do Pedro II de carta de deputados gerais demandando ao
Marquês de Olinda providências devido ao avanço do cólera no Ceará, sobre a qual discorrerei
mais à frente, Figueiredo Júnior insistiu na defesa de seus atos e na desqualificação do jornal
adversário. Indicava o desejo de comprovar os esforços empregados nos socorros aos coléricos,
fazendo:
historiar com toda a individuação os sucessos ocorridos durante a epidemia, a
fim de se ficar conhecendo do melhor modo possível a intensidade desta, a
mortalidade havida, os socorros de diversas espécies que têm sido prestados
oportunamente, e além disto a despesa realizada533.
Na sequência, declarava: o suposto “clamor universal que se levanta na imprensa pela
falta de socorros” limitava-se unicamente às manifestações do Pedro II, tomando “por tema o
cólera para censurar à Presidência”. As opiniões deste jornal seriam contraditadas pela leitura
de outros órgãos, da capital e interior: “Vossa Excelência se convencerá de que toda a imprensa
daqui, com exceção do Pedro 2º, não cessa de confessar os esforços do mesmo Governo em
socorrer os indigentes, e providenciar sobre o serviço sanitário”. Até mesmo as cartas
publicadas no Pedro II, com relatos dramáticos das localidades onde grassava o cólera, eram
relativizadas por Figueiredo Júnior, uma estratégia para eufemizar a situação da conjuntura
epidêmica e defender-se das críticas à presidência do Ceará:
[...] é forçoso ao menos reconhecer que em tempo de epidemia, quando os
ânimos por medo, especulação ou outros motivos se mostram exigentes e até
incontáveis, tendendo ordinariamente a afeiar o quadro da desgraça pública,
nem sempre as missivas são os meios mais seguros de se entrar no
conhecimento da verdade, que se deve antes procurar nos dados oficiais, e no
532 FIGUEIREDO JÚNIOR, J. B. da Cunha. O Bacharel J. B. da Cunha Figueiredo Júnior e o Sr. Deputado
Domingos José Nogueira Jaguaribe. Ceará: Tipografia da Aurora Cearense, 1866, p. 5. BNRJ. Obras Gerais. V-
270, 3, 1n. 33. 533 ANRJ. Ofício n. 60. 28 jul. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. Grifos da fonte.
133
testemunho daqueles que por um dever mui rigoroso são levados a
fundamentar suas informações534.
No conjunto da correspondência oficial do presidente do Ceará com o Ministério dos
Negócios do Império, nota-se como a imprensa foi alvo de apreensão por parte de Figueiredo
Júnior. Ela ameaçava desgastar a imagem do administrador, numa quadra delicada e tensa. Por
outro lado, podia também ser usada como arma no jogo político. Não por acaso, vários ofícios
remetidos à Corte continham jornais em anexo. No corpo da correspondência, o presidente
indicava ao ministro trechos para serem lidos, no geral, passagens demonstrando contradições
do Pedro II, mas também artigos elogiosos às decisões administrativas atinentes ao auxílio aos
coléricos e a medidas preventivas tomadas.
Aparentemente, o próprio presidente redigia ou orientava parte dos artigos publicados
na Gazeta Official, órgão fundado após o rompimento do contrato com o Pedro II para
publicação do expediente da província. O jornal dos Fernandes Vieira, inclusive, costumava
acusar Figueiredo Júnior de perder tempo redigindo cartas para a imprensa de outras províncias,
bem como estar “atarefado com a redação da sua Gazeta Official”535. Apesar dos ofícios
falarem da abstenção da Gazeta no trato da “discussão política”536, na prática, a defesa do
presidente do Ceará e desqualificação dos adversários dele foram pilares editoriais:
Rogo a Vossa Excelência que tenha a bondade de ler a Gazeta nº 4 que contém
o relatório apresentado pela Comissão que nomeei para examinar o estado da
Tesouraria, no mesmo dia em que exonerei o Bacharel Manoel Franco
Fernandes Vieira. A peça a que me refiro denuncia os abusos que se davam
naquela Repartição, como eu previa com muito bom fundamento à vista das
informações que tinha, e do que havia sondado por mim mesmo537.
Como venho demonstrando, nas disputas políticas no Ceará de 1862, o cólera era
constantemente evocado. O caráter violento da epidemia e as disposições do presidente
ofereciam oportunidades para contendas partidárias. No final de agosto de 1862, o presidente
do Ceará comunicou ao Marquês de Olinda ter agendado para o final de outubro a eleição para
vereadores e juiz de paz na Comarca de Crato. Desde o final de 1861, aviso ministerial ordenara
a realização da votação, pois a anterior tinha sido marcada por fraudes, sendo anulada. Segundo
Figueiredo Júnior, seus antecessores na presidência não organizaram a eleição, alegando
534 ANRJ. Ofício n. 60. 28 jul. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. Grifos da fonte. 535 Pedro II, n. 179, 7 ago. 1862, p, 1, grifos da fonte. 536 ANRJ. Ofício s/n. 2 ago. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 537 ANRJ. Ofício s/n. 2 ago. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
134
ausência de guarnição militar suficiente, haja vista a violência comum aos pleitos na localidade.
Informava, ainda, que ao tomar posse, não teve condições de marcar a eleição, devido à invasão
do cólera. Passado o surto em Crato, Figueiredo Júnior decidiu não mais adiar a questão: “Agora
porém que o mal já deve estar quase extinto [...], segundo as mais recentes participações, julguei
que não devia por mais tempo retardar a expedição das ordens para a eleição municipal”538.
Não obstante a extinção da epidemia na localidade, a dificuldade com o destacamento
militar persistia. Apenas 22 praças atuavam na cidade, número considerado pequeno. Para o
presidente, não era possível aumentar a força, pois diversas localidades demandavam homens
para “captura dos criminosos, guarnição das cadeias, e condução de presos e recrutas”. Por
outro lado, as “exigências desta quadra epidêmica” pioravam a situação, obrigando o governo
“a destacar mais algumas praças em diferentes lugares, a fim de auxiliarem às respectivas
autoridades, concorrendo sobretudo para que não se dê o fato lamentável de ficarem cadáveres
insepultos, como noutras Províncias aconteceu em crises semelhantes”.
Mesmo diante da impossibilidade de reforçar o destacamento do Crato, Figueiredo
Júnior atinava não ser “lícito adiar por mais tempo a eleição de vereadores e Juízes de Paz a
que o Governo Imperial mandou proceder”. Para justificar a decisão, citava correspondência do
ex-ministro dos Negócios do Império, José Ildefonso de Sousa Ramos, de 3 de dezembro de
1861, com cópia anexa, afirmando que o excesso de força policial, em muitos casos, podia
agravar os conflitos nas eleições. A afirmação do ministro era bem realista, porque a polícia
ocupava papel relevante nas eleições imperiais, garantindo, inclusive, por meio da força,
vitórias eleitorais aos grupos aliados ao partido do Gabinete539.
Ao estabelecer o dia 22 de outubro de 1862 para a votação, apesar do não reforço
policial, Figueiredo Júnior evocava os pretensos resultados do cólera sobre as parcialidades de
Crato. Na sua visão, a tragédia teria enfraquecido as rivalidades partidárias, criando a
oportunidade para ação amistosa entre os competidores políticos em prol de causas comuns:
Os ódios de partidos arrefeceram um pouco naquela localidade em
consequência da epidemia reinante, que me consta ter feito congraçar alguns
ânimos profundamente divergentes. Adversários políticos se aproximaram em
quadra tão calamitosa, movidos por sentimentos de filantropia, e pelo interesse
de se auxiliarem para a salvação comum540.
538 ANRJ. Ofício n. 77. 30 ago. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 539 GRAHAM, Richard. Clientelismo e política no Brasil do século XIX. Rio de Janeiro: Editora da UFRJ, 1997,
p. 190. 540ANRJ. Ofício n. 77. 30 ago. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
135
Baseado nesta leitura cor-de-rosa, de um hipotético abrandamento das rivalidades
políticas por conta da epidemia, o presidente insinuava: a “boa disposição” influiria
“provavelmente em prol da tranquilidade pública durante o processo eleitoral”. Inclusive, os
dois partidos poderiam chegar a um acordo, definindo a composição da câmara municipal e a
eleição do juizado de paz previamente. Para garantir o término do pleito a contento, Figueiredo
Júnior vinha se dirigindo “a todas as autoridades locais recomendando-lhes instantemente o
maior empenho para que a eleição corra regular e pacificamente, evitando-se conflitos
perigosos”. Escrevia, também, “particularmente no mesmo sentido às influências das duas
parcialidades”, animando lideranças da capital a fazer o mesmo, insinuando aos correligionários
da comarca de Crato “toda a calma e regularidade na eleição”. Segundo essa interpretação, a
votação seria tranquila, reforçando a imagem de imparcialidade que a presidência do Ceará
queria passar: “Por ora acredito no bom resultado dos meus esforços, tanto mais quanto todos
devem estar tranquilos na justiça e neutralidade do Governo”541.
A definição de Figueiredo Júnior sobre as eleições de Crato foi alvo de novas críticas
por parte do Pedro II, a 29 de outubro de 1862. No “Noticiário”, o diário reproduziu carta do
tenente coronel da Guarda Nacional Miguel Xavier, líder dos conservadores no Crato. Pequeno
resumo, escrito pela redação do Pedro II, guiava o leitor para o objetivo central da missiva: “a
inconveniência de haver o Sr. José Bento marcado ultimamente a eleição de câmara daquele
lugar para um tempo em que a população mal começa a ir respirando mais livremente dos
estragos do cólera com que esteve a braços”. O índice de leitura542 usado para introduzir a carta
de Miguel Xavier tinha como conclusão a condenação explícita ao presidente do Ceará: “Um
mau fado parece arrastar o Sr. José Bento a ser precipitado e violento em todos os seus atos”.
O teor da carta era mordaz quanto ao agendamento da eleição. Comparava o ato a um
“açoite”, tal como o cólera. Para o missivista, o resultado do escrutínio era imprevisível e,
apesar de dizer-se comprometido na busca de “conciliação”, estava preparado para defender os
amigos e a si próprio, imputando aos liberais a culpa por eventuais conflitos:
O nosso presidente depois de um açoite terrível que nos deu o cólera, permitiu
que vamos passar por outro mandando proceder a eleição de câmara, sendo
como se sabe esta eleição de caprichos, e para a qual estavam juradas os
partidos; não sei o que sortirá; todavia vou tentar os meios para uma
conciliação; porque quero sempre ter a minha defesa, e dos amigos preparada;
se os contrários recusarem-na não há outro remédio senão lutar-nos; a culpa
541 ANRJ. Ofício n. 77. 30 ago. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 542 BARBOSA, op. cit., 2010, p. 44
136
das consequências será daqueles que rejeitarem uma eleição amigável, e não
minha543.
A carta do líder conservador do Crato, tornada pública pelo Pedro II, punha por terra a
versão otimista de Figueiredo Júnior sobre a suposta distensão motivada pela epidemia nos
ânimos das parcialidades cratenses. Não por acaso, o presidente do Ceará viu-se forçado a
reafirmar, junto ao Gabinete, o acerto da disposição em realizar a eleição. Em ofício de 30 de
outubro, com direito ao envio de edições anexas do Pedro II, Figueiredo Júnior narrava, ao
Marquês de Olinda, o teor do “artiguito” – expressão que denotava o tamanho curto da
publicação, mas também menosprezo ao seu conteúdo – publicado pelo Pedro II com censuras
“por se ter mandado proceder a eleição para vereadores e juiz de paz do Crato, em consequência
de haver o Governo Imperial anulado a que anteriormente tivera lugar”544.
O cólera, assegurava, estava “extinto no Crato” há bastante tempo. Nem médicos mais
lá encontravam-se. Por isso, julgava não haver razões para “retardar por mais tempo” a eleição,
já remarcada, pelo próprio Figueiredo Júnior, para o último domingo de novembro. Relembrava
o esforço supostamente empregado com vista ao processo eleitoral correr “pacificamente”,
como as cartas enviadas aos “principais influentes de ambas as parcialidades”, os quais
prometeram o “maior empenho em manter a ordem”.
A explicação para o “artiguito” do Pedro II era dada pela desqualificação dos
proprietários do diário: “Mas os Vieira queriam que eu açodasse os liberais com o aparato de
força, ou então que deixasse funcionar indefinidamente a Câmara do quadriênio passado,
ficando sem cumprimento as determinações do Governo Imperial”. Acusava de vileza o jornal
por trazer “à baila um ato tão justo e natural para pensar que o Presidente tem sido precipitado
e violento em todos os seus atos”545.
O ofício sugeria ter o deputado geral Manoel Fernandes Vieira, privadamente,
manifestado que o sobrinho Manoel Franco Fernandes Vieira, fora “imprudente” ao hostilizar,
quando ocupava cargo na Tesouraria Provincial, a Figueiredo Júnior. Todavia, diz o documento,
demitido Franco do cargo, não caberia ao tio “desmoralizar o mesmo”, reconhecendo “razão à
administração, em prejuízo do brio da família”. Assim, os novos vilipêndios do Pedro II eram
explicados por Figueiredo Júnior recorrendo, mais uma vez, aos atritos com Manoel Franco546.
543 Pedro II, n. 248, 29 out. 1862, p. 3. 544 ANRJ. Ofício confidencial. 30 out. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 545 Idem. Grifos da fonte. 546 Idem.
137
Figueiredo Júnior empregava todas as oportunidades disponíveis para detratar o Pedro
II e, pari passu, defender-se das acusações de má atuação na quadra epidêmica. No geral,
insistia na versão de ser perseguido por conta da insatisfação dos Fernandes Vieira com as
questões relacionadas à Tesouraria Provincial e à perda do contrato de publicação do expediente
oficial. Ademais, se empenhava, em fazer o Marquês de Olinda crer que a Presidência do Ceará
agia de modo imparcial. Nesta versão, a maioria dos conservadores da província não
compartilhariam a postura dos Fernandes Vieira. Do mesmo modo, o apoio entusiástico dos
liberais não denotaria interesses políticos, refletindo, de forma gratuita, uma suposta “opinião
pública” sobre os governos central e provincial: “O Cearense, órgão principal do partido liberal
manifesta-se de um modo mui lisonjeiro a respeito do Gabinete, do Presidente, e da situação.
As outras folhas do mesmo credo não desmentem estas manifestações”547.
Obviamente, na prática, o apoio dos liberais não era tão descompromissado assim.
Como tratei anteriormente, os liberais vislumbraram, no imbróglio entre o Pedro II e o
presidente, excelente oportunidade para beneficiarem-se. A cobertura positiva das ações de
Figueiredo Júnior frente ao cólera, em contraposição à campanha difamatória do diário
conservador, oportunizou a aproximação entre “chimamgos” e o mandatário provincial, relação
utilizada, também, na busca por benesses pessoais e partidárias, como demonstrarei nos
próximos capítulos.
De todo modo, os impressos dos órgãos liberais, especialmente da Gazeta Official, em
favor do governo provincial, tornavam-se anexo recorrentes dos ofícios enviados à Corte. No
princípio de setembro de 1862, Figueiredo Júnior chamava a atenção para a edição n. 16 da
Gazeta Official, com a publicação de mensagem, enviada da Corte, pelos deputados gerais do
Ceará548. O texto dos representantes cearenses, retificava artigo divulgado pelo Pedro II,
ecoando documento enviados por eles ao Marquês de Olinda. Assinada por Raimundo Ferreira
de Araújo Lima, Domingos José Nogueira Jaguaribe, Jerônimo Martiniano Figueira de Mello,
Manoel Fernandes Vieira, João Capistrano Bandeira de Mello e José de Alencar, a carta original
solicitava ao ministério providências no socorro ao Ceará, atacado pelo cólera. Não obstante, a
versão publicada pelo Pedro II trouxe pequenas mudanças no corpo do documento, estimulando
seus autores a escreverem para a Gazeta Official e solicitarem a publicação do texto original:
Senhores Editores da Gazeta Official.
547 IHGB. Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda. 10 nov. 1862. Coleção Marquês
de Olinda. Lata 213, doc. 103. Grifos da fonte. 548 ANRJ. Ofício n. 82. 09 set. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
138
Tendo sido publicada no periódico Pedro 2º com alguma inexatidão, a carta,
que dirigimos como Deputados por essa província ao Exm. Sr. Marquês de
Olinda, acerca das tristes circunstâncias em que a mesma se achava em
consequência da epidemia do cólera que a atormentava, rogamo-lhes favor de
inserir nas colunas do seu jornal a referida carta, que abaixo encontrarão, livre
de erros da cópia que foi para ali remetida e que tal qual foi entregue ao Sr.
Presidente do Conselho [...]549.
A carta “livre de erros” publicada na Gazeta Official fazia apanhado da situação do
Ceará, em cima de missivas e jornais chegadas à Corte, com notícias de ter o cólera “invadido
quase toda a província, derramando o luto e a consternação no seio de todas as famílias, fazendo
uma mortandade espantosa, e causando estragos horrorosos”. Em meio às “cenas deploráveis”,
os deputados afirmavam perceber certo “clamor universal nas cartas e na imprensa, contra o
abandono” da província, “condenada pela falta de dinheiro, medicamentos e facultativos, que
acudissem aos cearenses sob o açoite implacável daquele medonho flagelo”550.
Malgrado reconhecer “as intenções patrióticas do governo geral e Provincial”,
isentando-os das “queixas que exala a impaciência atribulada”, os deputados sugeriam: a
“profundeza da torrente do mal” fora calculada de modo incerto, não sendo capaz de opor, em
tempo, “diques assas poderosos a conter a impetuosidade de seu curso”. Acrescentava, ainda:
os “princípios salutares da economia” não deviam se sobrepor a questões mais “sagradas”,
como o respeito da Constituição aos “socorros públicos à humanidade aflita” e o “interesse do
Estado na conservação de tantas vidas prematuramente ceifadas”551.
Feitas tais ponderações críticas, os missivistas demandavam ao Marquês de Olinda
algumas providências: o envio de remédios e facultativos; a suspensão do recrutamento militar
“até que a província volte ao seu estado normal”; e o reforço do cofre provincial “para satisfazer
as necessidades públicas, se a peste houver estancado, ou diminuído notavelmente as fontes da
renda provincial”. O documento terminava afirmando que o Brasil reconhecia os méritos e
“serviços eminentes prestados ao estado” pelo Marquês de Olinda e pelos “honrados membros
do gabinete”, cabendo aos cearenses a oportunidade de acrescentar mais um: “o de enxugar as
lágrimas da província que representamos, e que é tão digna de melhor sorte”552.
Confrontadas a versão publicada na Gazeta Official com a do Pedro II553, é fácil
perceber que as adulterações desta foram mínimas, não modificando o teor crítico e de cobrança
do documento originalmente enviado ao Presidente do Conselho de Ministros. Em apenas dois
549 Gazeta Official, n. 16, 06 set.1862, p 3. 550 Idem. 551 Idem. 552 Idem. 553 Pedro II, n. 167, 24 jul. 1862, p. 2.
139
trechos houve omissão ou substituição de palavras. A primeira diferença estava no segmento
de frase “a província se reputou condenada”, que na versão do Pedro II saiu como “a província
se viu condenada”. A outra mudança foi a omissão da palavra “provincial” presente na frase
original: “[...] fazemos justiça às intenções patrióticas do governo geral e provincial”. Não
obstante as dessemelhanças pequenas, claramente, o diário redigido por Manoel Franco
Fernandes Vieira alterou o teor da carta para dar a entender que os deputados gerais do Ceará
não reconheciam os esforços de Figueiredo Júnior no combate ao cólera. Todavia, o envio da
comunicação dos deputados à Gazeta Official, repondo a versão original, fez o tiro sair pela
culatra. Ademais, o próprio tio de Manoel Franco, o deputado Manoel Fernandes Vieira,
subscreveu a corrigenda, dificultando a situação do sobrinho.
Neste cenário, Figueiredo Júnior se aproveitou para atacar o adversário, ao remeter à
Corte a edição da Gazeta Official “que restabeleceu o sentido” da carta alterada “na publicação
que fez o Pedro 2º”554. O texto escrito pela redação do órgão de imprensa oficial da Província
do Ceará, para apresentação da comunicação dos deputados, acusava o Pedro II de
desonestidade, grafando com asteriscos os trechos adulterados no documento. Para a Gazeta, a
folha conservadora teria se açodado ao dar “estampa a dita carta, quando seus autores não o
fizeram na corte, esperando seguramente, por um escrúpulo e delicadeza mui louváveis, que o
governo imperial o fizesse por si”. O açodamento em publicar o documento era motivado pela
“pressa de avançar a verdade”, passando a versão, “tão sobejamente desmentida”, de estar a
população do Ceará “à mercê da Providência [Divina]!”555.
Ante “as manifestações insuspeitas de caráteres distintos, de homens cuja fé política não
pode ser posta em dúvida”, provocou a Gazeta Official, o Pedro II talvez aclarasse a sua vista
“obscurecida pelo despeito”. Exigia deste jornal uma “retratação, ainda que fosse acerca do
cólera”. Se assim fizesse, “pagaria agora um tributo solene à verdade, e já ninguém teria a
malignidade de enxergar” no caso da adulteração “o receio de uma demissão”. Incisivamente,
declarava não mais haver pretextos para Manoel Franco recusar “à razão tão clara como a luz
meridiana”, pois um “emperramento tão insólito, um gosto tão esquisito de viver nas trevas,
não tem justificação possível”. Encerrava, pondo em xeque a credibilidade do conjunto das
publicações do diário, especialmente as cartas que lamentavam a demissão de Manoel Franco:
Com que fidelidade não terão sido publicadas as cartas anônimas forjadas na
tipografia do Pedro 2º para mostrar-se que nas províncias do império e nas
554 ANRJ. Ofício n. 82. 09 set. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 555 Gazeta Official, n. 16, 06 set.1862, p 3. Grifos da fonte.
140
cidades, vilas e povoações do Ceará se lamenta a demissão do inspetor de
tesouraria provincial e se rogam pragas ao governo!556
O cólera repercutiu, também, em instituição relevante da política cearense: a Assembleia
Legislativa Provincial. A epidemia, inclusive, postergou o início da sessão legislativa de 1862
por alguns meses. O adiamento foi tomado por decisão de Figueiredo Júnior. No ofício em que
comunicava à Corte a suspenção, o presidente afirmava que “os relatórios parciais e
documentos sobre o estado da epidemia” tinham motivado a definição. Como a maioria dos
deputados residiam no interior, muitos em localidade acometidas ou ameaçadas pelo cólera,
“não poderiam eles desamparar suas famílias e interesses em semelhante conjuntura para virem
demorar-se na capital, onde também lavra a epidemia”. Não obstante, para além da situação
sanitária, a medida de postergar a reunião da Assembleia também contribuiria nas finanças, pois
o numerário do cofre provincial estava combalido, inclusive, com alguns empregados sem
receber os salários em dia557.
Com o adiamento, a Assembleia só se reuniu a partir de 1 de outubro de 1862. Era a
primeira reunião dos representantes políticos das diferentes regiões do Ceará após as mudanças
ministeriais de maio de 1862, que tiveram a “Liga” como protagonista, intensificando a
recomposição dos grupos políticos nas Câmaras da Corte. Neste sentido, os debates da
Assembleia não deixaram de ressoar a conjuntura política nacional e, provavelmente, havia
expectativas sobre as possíveis mudanças nos jogos políticos provinciais decorrentes daquela,
em espaço marcado pelo acirramento permanente entre “caranguejos” e “chimangos”. No nível
provincial, a epidemia do cólera permanecia assunto premente, seja pela matança realizada em
diversas localidades ou pela persistência de focos pestilenciais em outras. Ademais, os
deputados reunidos em Fortaleza já deviam estar a par das disputas políticas promovidas pela
imprensa provincial a respeito do governo de Figueiredo Júnior na organização dos socorros
públicos, pois as folhas do interior e capital deram amplo espaço ao tema desde o mês de junho.
Não obstante as limitações decorrentes do processo de centralização do pós-Maioridade,
as Assembleias Legislativas ocupavam espaço importante na dinâmica política brasileira. A
política provincial era permeada por debates intensos, nos quais a barganha do poder estimulava
acirradas disputas entre as parcialidades. O legislativo provincial, por exemplo, podia ser um
campo de batalha entre deputados e a presidência da Província558. Por outro lado, podia oferecer
556 Gazeta Official, n. 16, 06 set.1862, p 3. Grifos da fonte. 557 ANRJ. Ofício n. 51. 23 jun. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 558 GOUVÊA, op. cit., 2008, p. 336.
141
uma base de apoio importante para o chefe do executivo provincial, poupando-o de desgaste e
facilitando a tarefa administrativa.
Não por acaso, Figueiredo Júnior, aparentemente, empenhou-se em cortejar os
deputados provinciais que lhe procuravam. O presidente afirmava entreter “relação de
civilidade” com “os deputados provinciais residentes na capital”. Com os deputados do interior
também havia mesuras: “Chegando à Capital os deputados do interior, pouco me fizeram logo
sua visita, que me apressei em retribuir”. A etiqueta política das visitas não deixava de sinalizar
sobre o possível apoio ou animosidade que a Assembleia poderia oferecer ao chefe do executivo
provincial. Era também oportunidade para solicitações e cooptação, afinal: “certas adesões só
se conseguem com esses grandes favores que o administrador nem sempre pode fazer sem
prejudicar o cumprimento de seus deveres”559. Não por acaso, incomodava ao presidente a
persistência de certos deputados em não o visitar no Palácio do Governo: “Os outros
mostravam-se esquivos”. Tais ausências seriam explicadas pelo cálculo político, como
argumentarei mais à frente.
Segundo a narrativa de Figueiredo Júnior, a sessão da Assembleia Legislativa do Ceará
de 1862 não ofereceu problemas sérios. Apenas dois pontos votados no parlamento provincial
foram reprovados pela Presidência do Ceará, conforme reportado ao Presidente do Conselho de
Ministros. O primeiro atinente a mudanças realizadas na estruturação da secretaria da
Assembleia Provincial, com a criação de novo cargo, que, na opinião de Figueiredo Júnior, fora
instituído apenas para dar emprego a deputado “assistente dos Vieira”: “Refiro-me a Gustavo
Gurgulino de Sousa, demitido do cargo de Administrador do Correio”, que “sem dúvida perdeu
a esperança” de ser “empregado nalguma repartição” por nomeação da Presidência do Ceará560.
Figueiredo Júnior vetou a mudança, alegando ser “inconstitucional a Lei Regimental da
Assembleia, que alterou o pessoal da respectiva secretaria”, argumentando o aumento da
despesa sem a sanção da presidência561. Como informei na introdução da tese, Gurgulino fora
redator do Pedro II. Portanto, o presidente tinha motivos extras para barrar a nomeação.
A segunda medida da Assembleia censurada por Figueiredo Júnior era mais séria:
O ato mais grave da Assembleia foi a condenação do Juiz Municipal de
Cascavel a dois anos de suspenção. É força contestar que este funcionário,
contra quem clama há tanto tempo o jornal Pedro II, não procedeu ali com
559 IHGB. Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda. 23 dez. 1862. Coleção Marquês
de Olinda. Lata 213, doc. 103. Grifos da fonte. 560 IHGB. Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda. 15 dez. 1862. Coleção Marquês
de Olinda. Lata 213, doc. 103. 561 IHGB. Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda. 23 dez. 1862. Coleção Marquês
de Olinda. Lata 213, doc. 103.
142
toda a imparcialidade e circunspecção que se devia desejar; mas também não
se pode deixar de se reconhecer que a Assembleia obrou por espírito de
partido, prevalecendo-se de uma faculdade de que no Império se tem usado
com tanta parcimônia. Devo mesmo confessar que pelo fato que deu lugar a
condenação, e pelas circunstâncias ocorridas, não havia fundamento para a
decisão da Assembleia562.
Dizia o ato da Assembleia, anexado ao ofício que Figueiredo Júnior encaminhou ao
Marquês de Olinda, ser a condenação de Joaquim Tavares da Costa motivada pelo desrespeito
ao artigo 160 do Código Criminal563, por ter julgado, de modo ilegal e definitivo, “um processo
de competência do júri, que subiu ao seu conhecimento, como Juiz de Direito interino, por via
de recurso da pronúncia, que ele substituiu por sentença condenatória, da qual procedendo ainda
contra a lei, negou apelação ao ofendido”564. A parte condenada apelou à Assembleia
Legislativa, que pelo Ato Adicional tinha a competência para decretar “a suspensão, e ainda,
mesmo a demissão do Magistrado, contra quem houver queixa de responsabilidade”565.
Para Figueiredo Júnior, “não havia fundamento para a decisão da Assembleia”, sendo
motivada pelos conflitos do juiz municipal com os conservadores de Cascavel. Apesar de não
ter publicamente interferido no caso, nos bastidores Figueiredo Júnior aconselhou Joaquim
Miranda a recorrer diretamente à Corte. Ao Marquês de Olinda, o presidente do Ceará solicitou
a acolhida do caso, indicando, inclusive, decisão similar do Conselho de Estado, favorecendo
outro juiz municipal condenado pela Assembleia Provincial cearense: “O Dr. José Lourenço de
Castro e Silva [...] obteve perdão do Poder Moderador, depois de ouvida a Sessão competente
do Conselho de Estado”566. Indicava, ainda, ter sido o parecer datado a 1 de dezembro de 1855,
que não reconheceu o acerto da Assembleia na demissão de Castro e Silva, assinado pelos
Visconde de Sapucaí, Marquês de Abrantes e Visconde de Maranguape. A alusão aos dois
últimos políticos não era por acaso: ambos compunham o gabinete liderado por Olinda567.
Apesar da condenação de Figueiredo Júnior às duas decisões da Assembleia Provincial
descritas acima, o presidente dizia considerar, em seu conjunto, positiva a sessão legislativa de
1862: “Encerrou-se a Assembleia Provincial, e foram votadas as leis anuais. Todos os
562 IHGB. Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda. 03 dez. 1862. Coleção Marquês
de Olinda. Lata 213, doc. 103. 563 “Art. 160. Julgar, ou proceder contra lei expressa. Penas - de suspensão do emprego por um a três anos”.
BRASIL. Lei de 16 de dezembro de 1830. Disponível no site:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LIM/LIM-16-12-1830.htm. Acesso em: 22 out. 2018. 564 IHGB. Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda. 03 dez. 1862. Coleção Marquês
de Olinda. Lata 213, doc. 103. 565 NOGUEIRA, op. cit., 2015, p. 93. 566 IHGB. Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda. 23 dez. 1862. Coleção Marquês
de Olinda. Lata 213, doc. 103. 567 JAVARI, op. cit., 1889, p. 130-131.
143
deputados provinciais se abstiveram até ao fim, de qualquer manifestação hostil. Entre a
Assembleia e a Presidência não houve a menor falha de cortesia nas relações oficiais”568.
O balanço positivo feito no ofício transcrito acima não correspondeu à realidade: a
administração de Figueiredo Júnior foi sim, ao menos minimamente, constrangida na
Assembleia Provincial, com conseguinte repercussão na imprensa e na própria correspondência
oficial. O motivo do constrangimento foi o tema de maior destaque no Ceará de 1862: o cólera.
Em ofício relatando o início dos trabalhos anuais da Assembleia Legislativa Figueiredo
Júnior relatou: “No dia seguinte antes de organizar-se a Mesa [Diretora] um deputado propôs
que viesse uma deputação felicitar o Presidente da Província pelos serviços prestados durante
a quadra epidêmica”. O presidente da Assembleia, Gonçalo Baptista Vieira569, não aceitou a
submissão do requerimento, alegando haver “outro em discussão”. Encerrada a análise deste,
Baptista Vieira alegou “ter passado a hora dos requerimentos”. Decorridos cinco dias, “um
deputado propôs o adiamento da moção de felicitação até que se discutisse a lei do
orçamento”570, causando desagrado entre os defensores da monção de congratulação.
Como era de se esperar, o episódio envolvendo o adiamento do voto de gratidão da
Assembleia a Figueiredo Júnior, por seus atos no combate ao cólera, não poderia deixar de
ocupar destaque nas páginas do Pedro II. O diário tinha investido pesadamente em artigos
ácidos atinentes ao empenho e agilidade do Presidente da Província em socorrer localidades
vitimadas pela epidemia, chegando a atribuir à responsabilidade deste pela mortandade de
milhares de cearenses. Quando uma instituição do porte político da Assembleia pôs em dúvida
o merecimento de votos de congratulações ao Presidente da Província, abriu-se a oportunidade
para reforçar a linha discursiva adotada pela redação do Pedro II.
Na capa da edição de 7 de outubro de 1862, o jornal transcreveu trecho da sessão
ordinária da Assembleia do dia 6 do mesmo mês. Nela estava o debate travado entre os
defensores da menção honrosa ao presidente versus os deputados patrocinadores do adiamento
da discussão. José Maximiano Barroso, autor do pedido de suspensão, afirmou estar “muito
embaraçado para obrar neste negócio” proposto pelo deputado Joaquim Mendes da Cunha
568 IHGB. Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda. 15 dez. 1862. Coleção Marquês
de Olinda. Lata 213, doc. 103. 569 Gonçalo Batista Vieira (1819-1896) formou-se na Academia de Ciências Jurídicas de Olinda (1843). Foi
deputado geral em 1877 e deputado provincial em 9 legislaturas. Em 1871, foi agraciado com o título de Barão de
Aquiraz. Foi uma das lideranças do Partido Conservador, ganhando destaque a partir de 1862, quando da morte
do primo, o Senador Miguel Fernandes Vieira. No começo dos anos 1870, a aprovação da Lei do Ventre Livre
veio cindir de vez o conflituoso Partido Conservador do Ceará, passando o Barão de Aquiraz a liderar a facção
conhecida como “miúda”, em contraposição à “graúda”, sob batuta do Barão da Ibiapaba, Joaquim da Cunha
Freire. STUDART, op. cit., 1910, p. 344-345; PAIVA, op. cit., 1979, p. 90; CORDEIRO, op. cit., 2007, p. 140. 570 ANRJ. Ofício confidencial. 11 out. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
144
Guimarães, pedindo felicitações ao “Excelentíssimo presidente da província pelos serviços que
acaba de prestar por ocasião da epidemia que reinou e reina em nossa província”. Morador da
capital, Barroso dizia-se não habilitado para fazer um juízo sobre o tema, seja “para condenar
ou glorificar a administração”. Outros deputados do interior teriam a mesma dificuldade, porque
“as comunicações estiveram quase que interrompidas durante este fatal tempo, aonde as notícias
só podiam chegar desfiguradas”. Por isso, afirmava haver “inconveniência” e “sofreguidão da
parte do nobre deputado [Guimarães] em apresentar” o requerimento. Analisando a
“individualidade” do presidente, Barroso afirmava ser ela digna de “todos os votos”. Todavia,
[...] nós vamos tratar do presidente da província, nós fazemos abstração da
pessoa do presidente, nós vamos em nome dos nossos comitentes dar um voto
que talvez não seja conforme o pensar deles. Neste caso, Senhores, quando os
honrados membros ainda não tiveram tempo de ler o relatório da presidência
[sobre o cólera], quando mesmo ainda não apreciaram os seus atos, parece que
o adiamento da matéria será o mais conveniente meio de sairmos do embaraço
em que a irreflexão nos tem colocado (Apoiados)571.
Concluiu a proposta considerando poder votar a favor da felicitação se a decisão sobre
ela fosse adiada. Caso fosse votada naquele dia, ele votaria contra. Sugeria que o ponto voltasse
à pauta somente quando da aprovação da lei orçamentária. Joaquim Mendes da Cunha
Guimarães protestou contra a possibilidade de adiamento da votação sobre a menção honrosa.
Argumentava ter o requerimento sido “submetido à consideração da casa há muitos dias”, já
discutido, “e dependia tão somente da votação”. Apontava para a manobra do adiamento, visto
“que o orçamento só entrava em discussão no fim da sessão anual da assembleia”, insinuando
que não haveria mais tempo para outras votações.
O deputado José Nunes de Mello também se manifestou contrário ao adiamento da
apreciação do requerimento, “porque entendo que o atual presidente da província é merecedor
de uma felicitação pelos serviços que prestou durante a epidemia colérica”. A dignidade da casa
legislativa estava em jogo, daí a razão para ser votada logo: “Aqueles que entendem que o
presidente não é digno de ser felicitado, votem contra, estão no seu direito; porém apresentar
um requerimento de adiamento para quando se tratar do orçamento, é o que não me parece
razoável”. Acrescentava que os serviços do presidente “são de todos conhecidos”, habilitando
a votação imediata. Tal afirmação foi rebatida por Frutuoso Dias Ribeiro, dizendo ignorar os
atos do presidente. Além do mais, acrescentava: quem merecia felicitações era o comendador
571 Pedro II, n. 229, 07 out. 1862, p. 1.
145
Machado, a quem Figueiredo Júnior sucedeu, visto ter sido aquele quem “mandou remédios
para o Icó”572, cidade de Dias Ribeiro.
José Nunes de Mello rebateu, perguntando aos colegas: “o atual presidente da província
não remeteu remédios para todos os pontos; ainda mesmo para aqueles lugares aonde não se
tinha desenvolvido a epidemia?”. As provocações mútuas continuaram. Outros deputados
manifestaram-se, sugerindo que os padres e o comendador Machado deviam também ser
felicitados por ações no socorro aos coléricos. A discussão entre Nunes de Mello e José
Maximiano Barroso esquentou, com acusações mútuas e tentativas de ridicularização da
discussão. Barroso afiançou ser mais “amigo da administração, do que talvez muita gente que
hoje se proclama seu defensor”, ouriçando Nunes de Mello e Mendes Guimarães a perguntarem
se a indireta era para eles. As altercações prosseguiram com as considerações de Barroso:
Se o presidente da província procedeu muito bem na quadra epidêmica, fez
mais do que aquilo a que pelo seu cargo era obrigado, porque se prestou os
serviços a que por força de seu dever era obrigado, não fez mais do que o que
lhe cumpria, mas se ele foi além, eu [sem] dúvida nenhuma terei em por essa
felicitação uma vez que me chegue ao conhecimento de que realmente o
presidente é dela credor. Mas como hei de eu chegar a esse conhecimento, se
os nobres deputados nem ao menos querem a discussão? É no que eu não
posso concordar573.
Quando o debate findou, o requerimento de Barroso foi votado, com derrota
acachapante para os defensores da imediata definição das congratulações ao presidente: 12
votaram a favor do adiamento; só Mendes Guimarães e Nunes de Mello deram votos contra574.
Como era de se esperar, a polêmica na Assembleia repercutiu na imprensa liberal,
defensora contumaz do presidente do Ceará. No sul da província, por exemplo, O Araripe viu
no debacle da proposta do deputado Cruz Guimarães o sinal de facciosismo político por parte
dos conservadores. Lembrava: felicitações similares tinham sido aprovadas na mesma
Assembleia, como a encaminhada ao Bispo do Ceará por seus serviços durante a epidemia. O
empenho em postergar a discussão sobre os votos a José Bento da Cunha Figueiredo Júnior até
a aprovação do orçamento, asseverava O Araripe, atestava como “importava a queda” da
proposta ao Partido Conservador, que tinha maioria na casa legislativa575.
572 Pedro II, n. 229, 07 out. 1862, p. 1. 573 Idem. 574 Idem. 575 O Araripe, n. 292, 26 out. 1862, p. 2.
146
Para Figueiredo Júnior, o incidente na Assembleia era reflexo da ação dos carcarás, a
quem estava ligada a maioria dos deputados, tendo inclusive a presidência da casa legislativa.
No meio do imbróglio sobre a menção de gratidão estaria, mais uma vez, o ressentimento:
É preciso notar que a família do falecido senador Miguel Fernandes Vieira
parece que ficou bastante ressentida com a demissão do Inspetor da Tesouraria
Provincial. Acostumada a dominar sem embaraços, não podia levar a bem um
ato que jugasse ofensivo do seu pundonor e interesses pessoais; tanto mais
quanto o Presidente, não provocando justos ressentimentos, tem-se mantido,
todavia, no seu posto com dignidade, sem comprar adesões, nem aceitar a lei
de ninguém576.
Como a assembleia “compõe-se em sua quase totalidade de homens eleitos sob a
influência dos Vieira, com exclusão absoluta não só dos liberais, como dos conservadores que
não eram do seu peito”, a votação que adiou a definição sobre as felicitações à presidência pelos
feitos contra o cólera não podia ser diferente. Os aliados aos Fernandes Vieira teriam, inclusive,
feito um pacto anterior à abertura dos trabalhos da Assembleia: “assentaram, naturalmente por
sugestões dos Vieiras, que nem diriam uma palavra em desabono do Presidente, nem fariam
uma manifestação congratulatória, que eles entendiam desmoralizar o Franco!”577. Tais
deputados seriam aqueles que se “mostravam esquivos”578 em realizar a visita de cortesia ao
Presidente, etiqueta política anterior ao início da sessão anual do legislativo provincial.
Portanto, o requerimento de Mendes Guimarães a respeito das felicitações deixara
deputados “em posição embaraçosa, não tendo ânimo de dar um voto contrário à
administração”. Nesta perspectiva, Figueiredo Júnior sugeria haver cálculo político dos
deputados ao postergar a discussão do assunto:
Recorreram ao adiamento, ou porque esperavam que eu fosse removido
segundo um boato espalhado por meio de carta vinda da Corte; ou porque
queriam ver se a administração pelo interesse de um voto congratulatório faria
favores que eles costumavam pretender durante a sessão, principalmente os
deputados do interior579.
576 ANRJ. Ofício confidencial. 11 out. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. No anexo do ofício, Figueiredo Júnior
colocou a edição n. 229 do Pedro II, na qual se publicou o debate da Assembleia a respeito do adiamento do voto
de gratidão. 577 Idem. Grifos da Fonte 578 IHGB. Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda. 23 dez. 1862. Coleção Marquês
de Olinda. Lata 213, doc. 103. 579 IHGB. Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda. 23 dez. 1862. Coleção Marquês
de Olinda. Lata 213, doc. 103.
147
Assim, os deputados ganhariam tempo para observar se o Presidente permaneceria no
cargo ou se sujeitaria à concessão de favores em troca do voto de congratulações. Ademais,
parte dos deputados que votaram pelo adiamento, em privado, teriam se desculpado, alegando
“favores que devem à família Fernandes Vieira”. Interessante é perceber o uso da pretensa
inquietação dos deputados com a possível substituição na Presidência do Ceará como forma de
insinuar ao Presidente do Conselho de Ministros que a relação com a Assembleia seria
pacificada quando houvesse garantia de que Figueiredo Júnior permanecesse no cargo:
Vou indo por meu caminho, mostrando-me sobranceiro a essas veleidades de
família; que por ora se traduzem em cochichos. Trato bem os deputados que
me procuram, e faço sempre que não quero outra coisa senão o benefício da
Província. Deste modo, vejo-me desembaraçado para ir obrando como
convém, e acredito que a Assembleia manterá comigo a melhor harmonia se
tiver certeza da minha conservação na Presidência580.
Na conclusão do ofício, reforçava, mais uma vez, o lamento sobre o “desmantelo” em
que se acharia o Partido Conservador no Ceará por “falta de uma direção prudente”. Com a
morte do Senador Miguel Fernandes Vieira, seus parentes pareciam não chegar a um consenso
sobre a direção do partido. Insinuava, inclusive, que o deputado geral Manoel Fernandes Vieira
repelia a “chefatura”, não indicando nenhum outro chefe “porque não conhece em nenhum dos
Vieiras inteligência e tino para diretor”. A outra opção era Gonçalo Baptista Vieira, “um dos
homens mais abastados da Província”, e, dentre os membros da família, “o que tem mais
simpatias”. Todavia, na opinião de Figueiredo Júnior, faltava ao candidato “capacidade e
cultura intelectual” para a função de líder, além de disposição para “sacrificar seus interesses
particulares à política”, como abandonar a fazenda no sertão para morar em Fortaleza581.
A visão depreciativa de Figueiredo Júnior sobre Gonçalo Vieira, futuro Barão de
Aquiraz, era, no mínimo, exagerada, pois a personagem ocupou papel importante na liderança
do Partido Conservador entre 1860 e 1880582. De todo modo, ao detratar Gonçalo, não por
acaso, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará em 1862, responsável pela recusa original
do requerimento congratulatório, Figueiredo Júnior reforçava a narrativa desqualificadora dos
Fernandes Vieira, opositores declarados da administração do Presidente do Ceará.
A seguir, aponto como as questões discutidas até aqui repercutiram no núcleo central da
política imperial, ao ponto da exoneração de Figueiredo Júnior ser aventada no Paço. Optei por
580 IHGB. Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda. 23 dez. 1862. Coleção Marquês
de Olinda. Lata 213, doc. 103. 581 Idem. 582 CORDEIRO, op. cit., 2007, p. 140.
148
fazer tal discussão a partir da apresentação de como o presidente do Ceará e seu pai, José Bento
da Cunha Figueiredo (futuro Visconde do Bom Conselho), então presidente de Minas Gerais,
eram vistos na Corte, bem como falar, brevemente, das alianças por trás de suas carreiras.
2.4 - Os Cunha Figueiredo: pequenos demais para coisas grandes?
Como apresentado através da correspondência oficial do presidente do Ceará ao
Marquês de Olinda, Figueiredo Júnior buscou proteger-se de eventuais problemas na Corte
apresentando-se como apartidário, cumprindo com prudência a conciliação das parcialidades
no Ceará, atendendo aos apelos do Gabinete em tempo de “Liga”. Para isso, investiu na versão
de que o conjunto dos conservadores do Ceará não demonstravam oposição à Presidência, mas
apenas o grupo “carcará” dos Fernandes Vieira, acusado de promover o enfraquecimento do
partido na província. Desta forma, tentava anular a enxurrada de impropérios desfechados pelo
diário Pedro II contra a administração provincial da crise epidêmica no Ceará.
Não obstante o esforço, a situação do Ceará não deixou de causar discussões na Corte.
Emissário dos intermináveis ofícios de Figueiredo Júnior sobre as polêmicas atinentes ao
cólera, o Marquês de Olinda pareceu não se convencer totalmente da veracidade da versão
daquele, sobre o assunto. É provável ter pesado na situação o olhar pessoal que o velho estadista
tinha a respeito de José Bento da Cunha Figueiredo, progenitor do presidente do Ceará.
As relações existentes entre o Marquês de Olinda e Cunha Figueiredo tinham momentos
nada amistosos. Indícios disto podem ser vistos em carta do padre Joaquim Pinto de Campos,
deputado geral, a Pedro Francisco de Paula Cavalcanti de Albuquerque (Visconde de
Camaragibe). Conhecido por abastecer Camaragibe com notícias públicas e de bastidores da
Corte, sendo “olheiro”583 deste, o padre Pinto de Campos comentava, a 5 de junho de 1854, que
o “rei de São Cristóvão” – alusão ao Marquês de Paraná, então Presidente do Conselho de
Ministros – lhe fizera perguntas sobre “o estado da província [de Pernambuco] e do modo por
que marchava” o presidente José Bento da Cunha Figueiredo. O padre viu-se “um pouco
apertado” com as indagações, respondendo “em poucas palavras o que entendia” sobre
Figueiredo, “que aliás, não tem aqui [na Corte] bom crédito, como presidente”. A exoneração
dele não teria sido feita ainda, “porque a ideia de quem o substitua preocupa demasiado os
Ministros”. Neste ponto, comenta, que o então Visconde de Olinda estava cheio das “inépcias
583 CADENA, op. cit. 2018, p. 237.
149
do mesmo José Bento”. A língua ferina de Pinto de Campos demonstrava compartilhar a visão
negativa esboçada por Olinda a respeito de Figueiredo:
Por Deus, José Bento é muito pequeno para as coisas grandes; ele antepõe as
suas afeições particulares ao bem-estar da Província; mas, enfim, como não
há quem o substitua, calar-me-ei. Só sei que os Ministros fazem dele a pior
ideia...584.
Apesar da percepção negativa registrada em 1854 sobre a administração de Cunha
Figueiredo em Pernambuco, ele foi mantido no cargo até o início de 1856. Nesse ínterim,
envolveu-se no problemático “desembarque de Sirinhaém”, bem como causou polêmica na
epidemia de cólera que atingiu Pernambuco entre fins de 1855 e começo de 1856.
No primeiro caso, no dia 11 de outubro de 1855, um palhabote ancorou na praia de
Sirinhaém traficando africanos. Aparentemente, a carga tinha como destino o engenho do
Coronel João Manoel de Barros Wanderley, aliado pessoal e político do Marquês de Olinda. O
responsável pelo barco cometeu um erro, ao procurar outro coronel para tratar do desembarque,
falando com Gaspar de Menezes Vasconcelos de Drummond, delegado afastado de Sirinhaém,
o que fez o assunto vir a público. O caso de tráfico ilegal trouxe repercussão nacional e mesmo
internacional, por engendrar incidente diplomático sério com a Inglaterra585.
As autoridades de Pernambuco, entre as quais o presidente José Bento da Cunha
Figueiredo, trataram de abafar o caso, pois muita “gente política, de largo porte, entrava”
nele586. As contradições pululavam nas versões dadas, complicando a situação de pressão
exercida pelo cônsul inglês em Recife, Henry Cowper. O próprio Menezes não conseguia
explicar por que não prendeu o emissário que lhe procurou, nem a razão de não ter rapidamente
apreendido o palhabote. Numa das versões dadas, entrou em contradição sobre o dia no qual
fora informado a respeito da embarcação e seu conteúdo: falou em 12 de outubro, quando o
ocorrido se deu um dia antes. Ardilosamente, os traficantes usaram o cólera, que ameaçava
entrar em Pernambuco, como desculpa para aportar e camuflar a embarcação por alguns dias.
Contou Vasconcelos de Drummond, no relatório enviado ao presidente de Pernambuco, a 13
de outubro de 1855: “Ao meu conhecimento chegou no dia 12 do corrente, pelas oito horas da
584 IAHGP. Carta do Padre Pinto de Campos ao Visconde de Camaragibe. Rio de Janeiro, 05 jun. 1854. Caixa 1.
Fundo Visconde de Camaragibe. Grifos da fonte. Agradeço ao professor Paulo Henrique Fontes Cadena pela
gentileza de ter me passado cópia da carta citada. 585 Uma boa análise do assunto encontra-se no artigo: CARVALHO, Marcus Joaquim Maciel de; CADENA, Paulo
Henrique Fontes. A política como “arte de matar a vergonha”: o desembarque de Sirinhaém em 1855 e os últimos
anos do tráfico para o Brasil. Topoi. Rio de Janeiro, v. 20, n. 42, p. 651-677, set/dez. 2019 Disponível no site:
http://www.scielo.br/pdf/topoi/v20n42/2237-101X-topoi-20-42-651.pdf. Acesso a 28 nov. 2019. 586 CADENA, op. cit., 2018, p. 103.
150
noite, que junto da ilha denominada de Santo Aleixo se achava fundeado um pequeno navio,
que a princípio se disse trazer pessoas assaltadas de cólera morbo”587.
Como demonstrou Paulo Henrique Fontes Cadena, a imprensa pernambucana não
deixou de acusar Cunha Figueiredo. O presidente não teria empenhado esforços na coleta de
provas do caso de tráfico. Da Corte, no primeiro dia de dezembro de 1856, em carta ao Visconde
de Camaragibe, o então Ministro da Justiça, Nabuco de Araújo, com raízes políticas em
Pernambuco, acusava ter dado “um golpe de Estado”, aposentando dois dos três
desembargadores que deveriam julgar o caso. Mesmo o desembargador não-aposentado,
acabou, por ordem do Ministro da Justiça, removido do Tribunal da Relação de Recife. No ano
de 1857, o caso foi julgado. Por falta de provas, os acusados foram absolvidos588.
O governo de Cunha Figueiredo também foi alvo de polêmica quando da passagem do
cólera por Pernambuco, com mais de 37.000 mortes ocorridas589. A epidemia chegou no último
mês de 1855, agindo com força nos primeiros meses de 1856. De modo similar ao ocorrido em
algumas cidades europeias durante os surtos do “mal de Ganges”, as ruas de Recife, a “Veneza
Brasileira”, foram tomadas por protestos populares, acusando os médicos e o governo de
estarem matando deliberadamente os pobres, especialmente, os negros590.
A celeuma fora causada pela ação de um curandeiro, o escravizado “Pai Manoel”591,
que afirmara descobrir remédio para o cólera, logo conseguindo a aceitação de negros (cativos
587 DRUMMOND, Gaspar de Menezes Vasconcelos de. Apud VEIGA, Gláucio. Estudos: O Gabinete Olinda e a
política pernambucana; O desembarque de Sirinhaém. Recife: Editora Universitária de Pernambuco, 1977, p. 50. 588 CADENA, op. cit., 2018, p. 221. 589 DINIZ, op. cit. 2011, p. 57. 590 O medo diante do cólera desaguou em rompantes populares sanguinolentos na Europa dos anos 1830, em que
pessoas inocentes foram massacradas simplesmente por transportarem substâncias estranhas, pois se suspeitava
que a epidemia fosse fruto de um envenenamento proposital. Diante da falta de respostas eficazes da medicina no
combate ao avanço do surto, a população estendeu esse imaginário do veneno aos médicos. Na Rússia e na Polônia,
em 1831, médicos e enfermeiras foram assassinados e hospitais destruídos. O contexto caótico instaurado na
França pelo estouro da peste em 1832, também engendrou tensão política e mal-estar social. Nos primeiros dias
de julho daquele ano, milhares de artesãos e operários, residentes dos bairros pobres de Paris, onde a mortandade
alcançou os maiores números, foram às ruas, entrando em conflito com as tropas do governo. Mais de duzentas
pessoas saíram mortas e centenas ficaram feridas nas manifestações. Para dissipar novas revoltas, o governo
francês chegou a exigir que os profissionais de saúde delatassem todos os indivíduos feridos por bala que
procurassem socorro médico. SOURNIA; RUFFIE, op. cit., 1986, p. 121. Richard Evans também identificou
rompantes populares na Prússia, onde camponeses, artífices e comerciantes afirmavam: “a doença era produto de
envenenamento por médicos envolvidos em campanha secreta para reduzir o excesso populacional”. Segundo tal
versão, os médicos receberiam remuneração proporcional ao número de mortos, provocando forte resistência
popular à hospitalização em algumas áreas prussianas. EVANS, op. cit., 2005, p. 244-245. 591 O caso de Pai Manoel na epidemia do cólera em Recife é bastante conhecido na historiografia, como demonstra
as indicações a seguir de obras que o narram: FREYRE, Gilberto. Sobrados e mocambos. 15ª ed. São Paulo:
Global, 2004, p. 641; ANDRADE, Gilberto Osório de. A cólera-morbo: um momento crítico da história da
medicina de Pernambuco. Recife: Secretaria de Educação e Cultura, 1956, p. 46; CHALHOUB, op. cit., 1996,
p.135-136; MIRANDA, Carlos Alberto Cunha. Os curandeiros e a ofensiva médica em Pernambuco na primeira
metade do século XIX. Clio: Revista de Pesquisa Histórica. Nº 19. Recife, 2001, p. 95-110; DINIZ, op. cit., 2003,
p.331-385; FARIAS, op. cit., 2007, p. 74-75.
151
e livres) e de uma parcela de brancos, entre os quais se incluíam figurões locais e sacerdotes.
Tendo em vista a pressão popular a respeito da figura do curandeiro, apelidado de “Dr. Manoel
da Costa” – uma alusão à costa da África, sua procedência, além de provocação aos detentores
do diploma em Medicina –, o presidente Cunha Figueiredo autorizou aquele a tratar coléricos
no hospital do Arsenal da Marinha de Recife592.
Em momento no qual os médicos buscavam centralizar as práticas de cura, como
demostrado no capítulo anterior, combatendo a ação de terapeutas populares, o caso ganhou
proporções nacionais e a atitude do governo provincial foi bastante criticada. José Bento da
Cunha Figueiredo teve de prestar esclarecimentos à Corte, precisamente à Academia Imperial
de Medicina e ao Ministério dos Negócios do Império.
Luís Pedreira do Couto Ferraz (futuro Visconde do Bom Retiro) era amigo próximo de
Cunha Figueiredo. Contudo, na condição de Ministro do Império, parecia descrer das notícias
chegadas ao Rio de Janeiro a respeito das ações da presidência de Pernambuco. Em carta a
Cunha Figueiredo, datada de 8 de março de 1856, o ministro afirmava: “Saiba, pois, Vossa
Excelência, que é acusado aqui geralmente de ter nesta quadra praticados atos, que a serem
reais, seriam injustificáveis”. A mais grave acusação ouvida por Couto Ferraz era a de ter dado
“licença a qualquer [um] para curar, sem ter para isso as habilitações legais”. Destacava,
especialmente: “aponta-se que com certeza Vossa Excelência autorizou, ou tolerava que um
preto da Costa se apresentasse como curador de cólera, e impunimente tenha andado por lá
medicando”. O ministro dizia supor serem as informações inexatas. Porém, se confirmadas:
“qual for o motivo que Vossa Excelência tenha tido para assim obrar, seu ato é insustentável”.
“Aguardo ansioso suas explicações”, concluía a carta593.
Um dos denunciantes das ações de Figueiredo, foi o médico Joaquim de Aquino
Fonseca, presidente da Comissão de Higiene Pública de Pernambuco, principal órgão sanitário
da província, instituição subordinada à Junta Central de Higiene Pública, da Corte. Em carta,
de mais de 50 laudas, a Couto Ferraz, relatava lista interminável de ações de Cunha Figueiredo,
tomadas ao longo de todo o governo, que teriam contrariado as orientações e as prerrogativas
da Comissão de Higiene Pública, levando o presidente desta a pedir licença do cargo:
Vendo que o Excelentíssimo Presidente desta Província não dá à Comissão,
de que sou chefe a importância que ela merece, e não respeita o Regulamento,
que seus membros juraram cumprir e fazer cumprir, julgo conveniente não
592 DINIZ, op. cit., 2003, p. 364. 593 ANRJ. Carta de Luís Pedreira do Couto Ferraz a José Bento da Cunha Figueiredo. 08 mar. 1856. Fundo
Visconde do Bom Conselho. Doc. 33.
152
estabelecer conflitos com a primeira autoridade nem devo subscrever a perda
das forças morais da Repartição que dirijo594.
Excluindo a quase totalidade das queixas de Aquino sobre o presidente – como a de ter
pressionado contra quarentenas no porto, desconsiderado orientações sobre obras públicas,
pressionado pela liberação de um caixão, transportado “ocultamente” entre mercadorias vindas
da Corte, contendo o filho do desembargador Figueira de Mello, “que exalava mau cheiro,
dizendo-se, e havendo razão para crer-se, que o cadáver era de um menino que tinha falecido
de cólera-morbo”, entre outras acusações interessantíssimas aos pesquisadores do higienismo
oitocentista –, tratarei do caso de curandeirismo nos tempos do cólera em Recife.
Carregando preconceitos de classe e ofendido pela afronta à categoria médica, sem citar
o nome de “Pai Manoel”, Aquino Fonseca ridicularizava a crença de um “preto” poder
“conhecer remédios apropriados ao tratamento da doença pois “se o cólera fosse conhecido na
costa da Guiné e aqui houvesse preto que soubesse curar, na Bahia, foco de pretos da Costa
d’África, não teria deixado de aparecer alguém que o conhecesse e soubesse curá-lo”595.
A Comissão de Higiene pública sentiu-se ultrajada pela autorização dada ao curandeiro
para tratar doentes no Hospital da Marinha, pondo em xeque o saber médico oficial em nome
da suposta descoberta do remédio por um escravizado. Para além disto, o que mais frustrou
Aquino foi perceber como pessoas abastadas e autoridades públicas apoiaram “um preto da
Costa d’África”, criando um clima de hostilidade aos detentores do saber de cura oficial, e
mesmo de medo, ante a pressão popular alimentada pela conjuntura tensa da epidemia:
Um sacerdote, lente do Ginásio, na Igreja de Sta. Cruz contra eles [os médicos]
pregava ao púlpito, dizendo só os que morriam eram os pretos e pardos, e que,
como o preto do sogro do Dr. Gonçalves da Silva os curava, os médicos
queriam matá-lo; a população insuflada, exaltava-se, e os pretos cativos se
tornavam insolentes, os desordeiros, à espera da ocasião favorável formavam
grupos que, percorriam as ruas, vociferando contra os médicos e boticários
que se viam expostos a ditos insultosos; jornais procuravam dar força à
exultação popular; entretanto que fazia a autoridade policial? Nada: permitia
os grupos que se preparavam para dar assalto às boticas, e fazia acompanhar
o preto por ordenanças do Corpo de Polícia, o que animava a população; e os
membros da Comissão recebiam avisos de pessoas fidedignas, que se
preparava uma sublevação, em que os médicos seriam as vítimas, vindo-me
apontado em primeiro lugar596.
594 ANRJ. Carta do Dr. Joaquim d’Aquino Fonseca ao Ministro dos Negócios do Império, Luiz Pedreira de Couto
Ferraz. 23 fev. 1856. Fundo Saúde Pública. Notação IS4-25. 595 Idem. 596 Idem.
153
As atitudes de Cunha Figueiredo durante a epidemia do cólera levaram à renúncia
coletiva da Comissão de Higiene Pública. Já a morte de enfermos tratados pelo Pai Manoel
acabou o levando à prisão. Em resposta, os adeptos dele foram às ruas, intensificando as
hostilidades aos boticários e médicos. Parte da população acreditava ser a prisão do curandeiro
um plano urdido pelas autoridades para que médicos matassem a gente de cor, parcela da
sociedade mais atingida pelo cólera597. Ante a incapacidade dos médicos em estancar a
mortalidade pelo surto, as pessoas achavam que os preceitos curativos do “Dr. Manoel da
Costa” eram mais efetivos, inclusive por se aproximar das concepções populares de cura, com
uso de ervas e práticas reconhecidas.
Cobrado por explicações pelas autoridades da Corte, o presidente José Bento da Cunha
Figueiredo afirmou que a autorização dada ao curandeiro justificava-se, justamente, por ser um
meio de evitar distúrbio popular, pois era forte a aceitação de “Pai Manoel” na localidade. “A
força dele era tão avassaladora que não havia como coibir suas atividades”598. Em meio ainda
às polêmicas do caso, em fins de maio de 1856, terminava o governo de Cunha Figueiredo em
Pernambuco, iniciado em 1853.
Pode-se perceber, através do que mostraram as últimas páginas, como acontecimentos
polêmicos – a exemplo do tráfico ilegal de africanos desembarcados em Sirinhaém e das
decisões sobre o cólera em Pernambuco –, contribuíram para arranhar a imagem de José Bento
da Cunha Figueiredo. O Marquês de Olinda, que em 1854 já estava, segundo o padre Pinto de
Campos, cheio das “inépcias” de Figueiredo599, era uma das personagens da política imperial a
compartilhar desconfianças a respeito deste. Ao assumir a Presidência do Conselho de
Ministros, em 30 de maio de 1862, Olinda encontrou José Bento da Cunha Figueiredo ocupando
a presidência de Minas Gerais e José Bento da Cunha Figueiredo Júnior na do Ceará.
A percepção crítica sobre os Cunha Figueiredo foi registrada pela pena mais poderosa
do Império: Pedro II. Em seu diário, escreveu: “O Olinda observou que convinha à política tirar
algum presidente da Câmara [dos Deputados] para atender a certas aspirações, e disse que o
Cunha Figueiredo por fraco não deveria continuar [na presidência de Minas Gerais]”600.
Se Olinda tinha escrúpulos a respeito de Figueiredo, o Imperador demonstrava
incômodo com a figura de Figueiredo Júnior. Quando, em fevereiro de 1862, Caxias ventilou a
possibilidade de “o filho do José Bento, presidente de Minas”, assumir a Presidência do Ceará,
597 DINIZ, op. cit., 2003, p. 358. 598 Idem, p. 357. 599 IAHGP. Carta do Padre Pinto de Campos ao Visconde de Camaragibe, Rio de Janeiro. 05 jun. 1854. Caixa 1.
Fundo Visconde de Camaragibe 600 PEDRO II, op. cit., 1956, p. 206.
154
ante a recusa de Ângelo Tomás Amaral em aceitá-la, o monarca manifestou discordância:
“objetei o procedimento do proposto quando presidira o Rio Grande do Norte durante as
eleições e o Souza Ramos [Ministro dos Negócios do Império] disse que oferecera a mesma
consideração em conselho”. José Bento da Cunha Figueiredo Júnior tinha intervindo nas
eleições da primeira província onde foi presidente, criando ressalvas em Pedro II.
Uma vez empossado no cargo no Ceará, o Imperador permaneceu a olhar com-
desconfiança para “o filho do José Bento”. Coincidentemente, assim como o pai entre 1855-
1856, Figueiredo Júnior governou uma província em meio à conjuntura caótica do cólera. A
celeuma sobre as ações do presidente do Ceará a respeito do surto e os conflitos na imprensa
cearense, explanados ao longo deste capítulo, não passaram despercebidos ao monarca. Em dois
de agosto de 1862, Pedro II comentou ter entregado a Olinda um ofício recebido do Ceará no
qual Figueiredo Júnior explicava “suas providências por causa do cólera e demissão do inspetor
da tesouraria provincial”. Sobre o último ponto, o Imperador afirmava concordar com Olinda,
de que o “presidente [tinha] defendido cabalmente o seu ato”, não se opondo, assim, à
exoneração de Manoel Franco Fernandes Vieira. Contudo, Pedro II discordava de questão mais
sensível. Criticava as medidas econômicas tomadas por Figueiredo na prevenção ao cólera: “o
presidente não procedera acertadamente esperando os estragos da epidemia para mandar
socorros a certas localidades, ainda que assim fizesse com receio de gastar inutilmente”601.
Registrado no diário pessoal do Imperador e não em documento tornado público
imediatamente, o julgamento a respeito das ações encetadas contra o cólera pelo presidente do
Ceará assemelhava-se ao propalado no jornal Pedro II, crítico mordaz da política de contenção
de gastos nos socorros públicos. Como já evidenciei, a questão da economia foi arduamente
defendida na correspondência oficial enviada pelo governante do Ceará ao Marquês de Olinda.
Figueiredo Júnior insistia na narrativa de ter agido com cautela, mas com precisão, no auxílio
às localidades afetadas ou ameaçadas pelo cólera, imputando às análises do Pedro II apenas ao
sentimento de despeito e desejo de vingança por parte dos Fernandes Vieira. Todavia, tal versão
estava longe de convencer as autoridades da Corte. Talvez isso explique porque, em meados de
setembro de 1862, Olinda tenha relatado, a Pedro II, o fato de colegas de ministério defenderem
como “indispensável mudar” algumas presidências provinciais, incluindo o Ceará602.
Mas se os Cunha Figueiredo despertavam tanta desconfiança na Corte, como explicar
que permanecessem sendo indicados para cargos? Se José Bento da Cunha Figueiredo fosse de
601 PEDRO II, op. cit., 1956, p. 180. 602 Idem, p. 213.
155
fato “muito pequeno para as coisas grandes”603 e os procedimentos de seu filho despertavam
reprovação no próprio Imperador, como entender as carreiras políticas exercidas? A resposta
para tais questões pressupõe o entendimento do peso que as redes – entendidas aqui enquanto
“conjunto de relações que põem em conexão umas pessoas com outras”604, favorecendo
“interesses coletivos e/ou individuais, de acordo com as várias circunstâncias em causa”605 –
pessoais e políticas exerciam sobre os jogos do Império.
Como demonstrou Paulo Cadena, em tese de doutorado sobre a trajetória política do
Marquês de Olinda, a carreira de Pedro de Araújo Lima é exemplar para a compreensão do
papel das redes na construção do sucesso de um político imperial. O Marquês de Olinda ocupou
o cargo mais importante do Império, o de Regente, foi Senador e por várias vezes, chamado
pelo Imperador, compôs e liderou ministérios. Mas isso não se deu por acaso. Nascido no
Engenho Antas, em Sirinhaém, proprietários rurais e comerciantes de Pernambuco, bem como
traficantes de escravos, fizeram parte da sua realidade desde cedo, sendo acionados, com maior
clareza, quando dos estudos em Coimbra. Paulo Cadena conseguiu mapear como os recursos
enviados a Portugal por Manoel de Araújo Lima, para sustento e gastos com a educação do
filho Pedro, tinham traficantes como emissários, e como parte de tais recursos era proveniente
do comércio de gente na costa africana. E os laços foram se ampliando na Universidade de
Coimbra, importante espaço de integração e formação da elite política luso-brasileira. Seus
estudos foram contemporâneos aos de outros brasileiros “coimbrãos”, como Miguel Calmon du
Pin e Almeida (futuro Marquês de Abrantes), Bernardo Pereira de Vasconcelos, Caetano Maria
Lopes Gama (futuro Visconde de Maranguape), entre outros. Após doutorar-se, Pedro de
Araújo Lima retorna ao Brasil. Mas os movimentos de 1820 agitaram a política do Reino Unido
de Portugal, Brasil e Algarves, fazendo-o voltar à Europa já num cargo eletivo: deputado das
Cortes de Lisboa. Lá fez laços e conviveu com indivíduos que ocupariam papel de destaque na
política brasileira: Diogo Antônio Feijó, José Martiniano de Alencar, Antônio Carlos Ribeiro
de Andrada, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, entre outros. Feita a Independência, virou
deputado geral e, com apenas 30 anos, passou a ocupar pastas centrais da administração, como
o Ministério do Império e o Ministério da Justiça. O casamento com Luíza Bernarda de
603 IAHGP. Carta do Padre Pinto de Campos ao Visconde de Camaragibe. Rio de Janeiro, 05 jun. 1854. Caixa 1.
Fundo Visconde de Camaragibe. 604 IMÍZCOZ BEUNZA, José Maria; OLIVERI KORTA, Oihane (eds.). Economía doméstica y redes sociales en
el Antiguo Régimen. Madrid: Sílex, 2010, p. 48. 605 FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima. Introdução: desenhando perspectivas e ampliando abordagens
– O Antigo Regime nos trópicos e na trama das redes. In. FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.).
Na trama das redes: política e negócios no Império Português, séculos XVI-XVIII. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2010, p. 23.
156
Figueiredo, em 1828, oportunizou a ampliação da rede de relações. Seu sogro, o
Desembargador José Bernardo de Figueiredo, detinha relações estabelecidas com a
magistratura e com as elites fluminenses, o que renderia muito ao genro. Em 1837, a rede de
Araújo Lima era tão estruturada, com suas trocas de favores mútuas, ao ponto de lhe conferir a
conquista do posto mais alto na estrutura política do Império, abaixo apenas do cargo de
Imperador: Regente606.
O exemplo do Marquês de Olinda aponta para como “relacionamentos constituídos a
partir das ações e das relações vivenciadas entre diversos indivíduos com acesso a informações
e recursos diferenciados entre si”607 favoreciam os interessados em seguir a carreira política no
Brasil Império. No caso de Araújo Lima, as relações construídas – de traficantes de escravos
ao Imperador – propiciaram oportunidades aproveitadas ao máximo, fazendo dele um dos
políticos mais bem sucedidos, influentes e longevos do Império: seu primeiro cargo eletivo foi
anterior à Independência e o último Gabinete que chefiou, na tumultuada conjuntura da Guerra
do Paraguai, terminou em 1867, pouco antes de sua morte, em 1870, aos 77 anos de idade.
O caso dos Cunha Figueiredo, embora longe do curriculum vitae de Olinda, também
pode ser melhor compreendido quando visto à luz da rede de relações que construíram. José
Bento da Cunha Figueiredo - malgrado as críticas desabonadoras proferidas por figurões da
política imperial acerca de seus governos em Pernambuco e Minas Gerais, exibidas ao longo
deste tópico -, tinha também um conjunto de amigos com projeção social para lhe garantir
oportunidades de atuação política.
Em sua formação superior, no curso jurídico de Olinda, José Bento da Cunha Figueiredo
pôde conviver com estudantes que no futuro teriam peso na política nacional: Eusébio de
Queiroz608, Nabuco de Araújo, Zacarias de Góis, Cansanção de Sinimbu (Visconde de
Sinimbu), João Maurício Wanderley (Barão de Cotegipe), Joaquim Saldanha Marinho, entre
outros.609. Após a formação, o doutor Cunha Figueiredo ainda permaneceria a conviver com a
jovem nata da elite matriculada na instituição, pois tornou-se professor610.
Mas foi enquanto estudante que Figueiredo fez amizade com Pedro Francisco de Paula
Cavalcanti de Albuquerque (Visconde de Camaragibe), um elo central na trajetória política do
primeiro. Os Cavalcanti de Albuquerque foram um dos clãs familiares de forte projeção no
Império, ao ponto de fazer senadores e viscondes a três irmãos. Em 1848, os praieiros,
606 CADENA, op. cit., 2018, p. 299-300. 607 FRAGOSO; GOUVÊA, op. cit., 2010, p. 23. 608 CADENA, op. cit., 2018, p. 35. 609 NABUCO, op. cit., 1997, p. 45. 610 BLAKE, op. cit., 1898, p. 336.
157
opositores dos Cavalcanti, cantavam pelas ruas uma quadra, ainda hoje lembrada em
Pernambuco, indiciando o poder conquistado pela família no passado:
Quem viver em Pernambuco
Deve estar desenganado
Que ou há de ser Cavalcanti
Ou há de ser cavalgado611.
A ligação de Cunha Figueiredo com o Visconde de Camaragibe, principal nome do
Partido Conservador em Pernambuco, era conhecida por todos. Quando dos preparativos para
a primeira eleição segundo a lei de círculos, meses após deixar a presidência de Pernambuco,
foi a Camaragibe que recorreu Figueiredo, para definir em qual distrito deveria concorrer como
candidato a Deputado Geral. Em carta de setembro de 1856, Figueiredo implorava: “não deixe
de ir cuidando de mim; visto que me dizem que os candidatos surgem de todos os lados”612. Na
Corte, Figueiredo podia contar ainda com o apoio de Antônio Francisco de Paula Holanda
Cavalcanti de Albuquerque, o Visconde de Albuquerque, senador, ministro em seis ocasiões e
com influência no Partido Liberal.
Outro amigo bem posicionado da rede de José Bento da Cunha Figueiredo já foi citado
aqui: Luís Pedreira do Couto Ferraz (Visconde do Bom Retiro), um dos “homens do
Imperador”. Sérgio Buarque de Holanda afirmou ser Bom Retiro uma das poucas pessoas a
quem Pedro II deu “acesso mais franco e menos formal”, compartilhando seus pensamentos
mais íntimos. A amizade forte entre eles permitiu o vislumbre de momento raro nas aparições
públicas do contido Imperador: “não conseguiu, uma vez, impedir que o vissem enxugar os
olhos, e foi diante do corpo de um amigo que acabava de morrer, o visconde do Bom Retiro”613.
Na ocasião, Pedro II, após passar 4 horas diante do leito de morte do amigo, teria dito: Bom
Retiro era “a consciência mais pura que tenho conhecido”614.
Como já dito anteriormente, Luís Pedreira do Couto Ferraz era Ministro dos Negócios
do Império quando da tumultuada presidência de Cunha Figueiredo em Pernambuco. Nas cartas
enviadas a este, Bom Retiro escrevia de forma afetuosa, muitas vezes sem formalismo,
chamando-o “amigo”. Pedia, inclusive, favores pessoais: “Diga-me agora o meu amigo. Como
vai o meu parente Antonio Joaquim de Magalhães Castro? ”615. A personagem citada era primo
611 CADENA, Paulo Henrique Fontes. Ou há de ser Cavalcanti, ou há de ser cavalgado: trajetórias políticas dos
Cavalcanti de Albuquerque (Pernambuco, 1801-1844). Recife: Editora Universitária da UFPE, 2013, p. 77. 612 FIGUEIREDO, José Bento da Cunha. Apud CADENA, op, cit., 2018, p. 225 613 HOLANDA, op. cit., 2010, p. 114. 614 BLAKE, op. cit., 1899, p. 448. 615 ANRJ. Carta de Luís Pedreira do Couto Ferraz a José Bento da Cunha Figueiredo. 25 nov. sem ano. Fundo
Visconde do Bom Conselho. Doc. 11.
158
de Bom Retiro, e estava matriculado na Faculdade de Direito, transferida de Olinda para Recife
em 1854. Preocupava a Couto Ferraz a timidez do rapaz, responsável pela reprovação dele na
Faculdade de Direito de São Paulo, donde transferiu-se para Pernambuco. A José Bento da
Cunha Figueiredo, solicitava: “o mande chamar, e indague se ele está de ânimo e segurança de
fazer o seu ato sem risco. É moço estudioso, muito bem educado [...], mas excessivamente
tímido. Assusta-me isto”. Na carta, Bom Retiro afirmava contar “com a bondade” de
Figueiredo, pondo o primo “à mercê de seus conselhos e proteção”. Pedia, ainda, que o
Presidente da Província, também professor da instituição, discretamente, conversasse com os
“lentes” do curso sobre a questão616.
O pedido de discrição não era por acaso: os cursos de Direito e Medicina do Brasil
estavam diretamente subordinados à pasta dos Negócios do Império, ministério ocupado,
justamente, por Bom Retiro quando da escrita da missiva. Portanto, não era prudente que se
tornasse pública a suposição de estar o Ministro do Império pressionando docentes para garantir
a aprovação de protegido seu.
A troca de favores e amabilidades entre Cunha Figueiredo e amigos não deixava de criar
obrigações mútuas, engendrando oportunidades de retribuição, inclusive na política: a
indicação para uma província, o apoio numa eleição, a concessão de graças honoríficas, a
nomeação para um ministério etc. Não por acaso, ao receber uma graça do Imperador,
Figueiredo entendeu ser ela fruto da intervenção de Bom Retiro junto ao imperial amigo. É o
que indicia carta do início de 1855. Nela, Bom Retiro negava a intervenção: “Vossa Excelência
nada tem que me agradecer pela condecoração, que o Imperador Dignou-se Conceder-lhe. Foi
ato da Imperial Munificência que muito deve satisfazer a V. Exa. pela importância”617.
Portanto, as relações tecidas por José Bento da Cunha Figueiredo não eram de se
menosprezar. Os elos com políticos influentes do Império oportunizavam a carreira política –
culminada com a eleição ao Senado, o posto de Ministro dos Negócios do Império, no Gabinete
de 25 de junho de 1875, liderado por Caxias, outro amigo poderoso, e com o título de Visconde
do Bom Conselho – e a do filho – vivendo à sombra do pai e recebendo favores dos amigos
dele, até morrer, a 3 de agosto de 1885, interrompendo a trajetória pública aos 52 anos. Destarte,
mesmo sofrendo depreciações públicas por seus erros administrativos, os Cunha Figueiredo
encontraram apoio suficiente para seguir em posições de destaque até o fim das suas vidas.
616 ANRJ. Carta de Luís Pedreira do Couto Ferraz a José Bento da Cunha Figueiredo. 14 nov. sem ano. Fundo
Visconde do Bom Conselho. Doc. 10. 617 ANRJ. Carta de Luís Pedreira do Couto Ferraz a José Bento da Cunha Figueiredo. 11 jan. 1855. Fundo Visconde
do Bom Conselho. Doc. 20. Infelizmente, não identifiquei a qual graça se referia o documento.
159
Mesmo o Marquês de Olinda, com manifestas críticas aos Cunha Figueiredo, estava
envolvido na trama a os favorecer. Como demonstrou Paulo Cadena, havia alianças – mesmo
que não perenes, pois eram suspensas quando os choques de interesse eram inconciliáveis –
unindo os três principais grupos políticos de Pernambuco oitocentista: o dos Cavalcanti de
Albuquerque, o dos Rego Barros e o do Marquês de Olinda. Tais grupos estavam sempre a se
articular ou desarticular ao sabor das circunstâncias618. Sendo Cunha Figueiredo do círculo de
apoio do Visconde de Camaragibe, Olinda, em muitas ocasiões, acabava sopesando as críticas
ao primeiro e favorecendo os interesses dele. Como diretor do curso jurídico situado em
Pernambuco, função que ocupou entre 1830 e 1839, Pedro de Araújo Lima deve ter sido o
responsável pela nomeação de Cunha Figueiredo, formado na instituição, para o cargo de lente.
Inclusive, a primeira nomeação de Figueiredo para uma presidência de província – Alagoas, em
1849 – deu-se por ocasião de Gabinete liderado pelo então Visconde de Olinda619.
Todavia, como vimos, no ano de 1862, o Marquês de Olinda tinha manifestado, ao
Imperador, desejar retirar Figueiredo da presidência de Minas Gerais, por considerá-lo
“fraco”620. Já o Imperador acompanhava com ressalvas o que fazia Figueiredo Júnior no Ceará,
onde grassava a epidemia. Ainda no mês de junho, Pedro II manifestara: “disse ao Olinda que
eu preciso examinar como procederam as autoridades do Ceará na invasão [do cólera]”621.
Talvez por isso, o nome de Figueiredo Júnior figurasse entre os cotados para substituição nas
províncias, como registrou o diário do monarca, a 15 de setembro de 1862622.
A exoneração de Figueiredo Júnior significaria vitória para o jornal Pedro II, dos
Fernandes Vieira. Ao que parece, comentários sobre a possível exoneração chegaram ao Ceará
em fins de setembro, como demonstram a imprensa e a correspondência do presidente. Lembro
ao leitor, que, quando da celeuma na Assembleia Legislativa Provincial a respeito do voto de
felicitações a Figueiredo Júnior pelos socorros prestados na epidemia, o presidente afirmou, ao
Marquês de Olinda, acreditar “que a Assembleia manterá comigo a melhor harmonia se tiver
certeza da minha conservação na Presidência”623.
Para desagrado dos Fernandes Vieira, a campanha de difamação empreendida não
rendeu o resultado almejado: a exoneração não se concretizou e José Bento da Cunha
Figueiredo Júnior governou o Ceará até o princípio de 1864, quando da substituição do
618 CADENA, op. cit., 2013, p. 202. 619 JAVARI, op. cit., 1889, p. 104. 620 PEDRO II. op. cit., 1956, p. 206. 621 Idem, p. 141. 622 Idem, p. 213. 623 IHGB. Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda. 23 dez. 1862. Coleção Marquês
de Olinda. Lata 213, doc. 103.
160
Gabinete Olinda. Todavia, o pai de Figueiredo Júnior não teve o mesmo destino. No O Cearense
de 7 de outubro de 1862, a reprodução de decretos imperiais dava conta que o “Conselheiro
José Bento da Cunha Figueiredo” tinha sido exonerado, “a seu pedido”, da presidência de Minas
Gerais, junto aos presidentes de São Paulo, Pernambuco e Bahia624. A crer na notícia, a saída
de Figueiredo de Minas Gerais deu-se por mote pessoal. Mas, talvez, a expressão “a pedido”
fosse apenas uma forma mais honrosa e diplomática de esconder outra questão, a saber: a
determinação do Gabinete em substituir o “fraco” presidente de Minas Gerais.
Neste cenário, a manutenção de Figueiredo Júnior na província do Ceará podia ser uma
forma de evitar especulações sobre a imagem dos Cunha Figueiredo na Corte. De todo modo,
o pai era retirado da frente de uma província de primeira grandeza, enquanto o filho era mantido
noutra de menor importância. Em meio às críticas mordazes sobre a atuação de Figueiredo
Júnior na epidemia do cólera - amplamente publicizada na imprensa, reverberando, inclusive,
no Imperador –, a manutenção no cargo, talvez fosse, um prêmio de consolação, garantido pela
rede de apoio construída pelo seu progenitor.
De toda forma, como exibi ao longo do capítulo, a epidemia de cólera no Ceará de 1862
foi assunto amplamente apropriado, afetando a forma como o presidente da província e seu
governo foram lidos localmente e na Corte, ao ponto da manutenção do mesmo no cargo ser
posta em discussão no Paço Imperial.
No próximo capítulo, mostrarei como nas localidades cearenses surgiram conflitos
políticos, bem como oportunidades para a projeção e notabilização de autoridades e indivíduos,
especialmente delegados e membros das juntas de socorros montadas pelo governo da província
para auxílio aos pobres ameaçados pela epidemia, demonstrando como o cólera permaneceu
disponível aos usos políticos no Ceará de 1862.
624 O Cearense, n. 1545, 07 out. 1862, p. 2.
161
CAPÍTULO 3 - AUTORIDADES POLICIAIS, COMISSÕES DE SOCORROS E
DISPUTAS NO TEMPO DO CÓLERA
3.1 - “Eis mais uma autoridade que não merece o posto importante que lhe coube”
A 20 de abril de 1862, saiu, em Crato, a edição 284 do semanário O Araripe. Seus textos
davam conta do temor a cercar a região do Cariri, noticiando os mais de cem casos de cólera
diagnosticados em Icó e as primeiras dezenas de mortes lá registradas. As relações familiares e
comerciais fortemente estabelecidas entre o Cariri e Icó davam azo à preocupação, afinal, como
demonstrava o noticiário daquele sábado, a doença espalhava-se em direção ao sul da província,
haja vista a existência de casos confirmados na vila de Lavras.
A edição destacava a chegada de Antônio Manuel de Medeiros, médico enviado pela
Presidência do Ceará para coordenar os socorros nas duas comarcas do Cariri: Crato e Jardim.
O texto de capa d’O Araripe, inclusive, foi assinado pelo Dr. Medeiros. Nele, anunciava a
estadia em Crato “para prestar os socorros de minha profissão na quadra de perigos que está
iminente”. A população, assegurava, “sem distinção de pobres ou ricos”, poderia “com toda a
confiança, procurar-me em minha casa, ou em qualquer parte em que me ache, sem atenção de
horas: porque estarei sempre pronto a acudir a quem quer que reclame os meus serviços”625.
Após oferecer os préstimos, Antonio Manuel de Medeiros reproduziu conselhos,
anteriormente publicados por ele no Pedro II626, a respeito de remédios, regras de higiene e
procedimentos a serem adotados em caso de manifestação do cólera. Particularmente,
direcionava a fala ao que classificava como “pessoas abastadas”, com condições de adquirir nas
boticas as substâncias tidas como eficientes no combate aos sintomas da doença. Tais produtos
deveriam ser misturados com ingredientes disponíveis nas cozinhas. Por exemplo: para as
câimbras e resfriamento do corpo, pernas e espinha dorsal deveriam ser esfregadas com “uma
baeta embebida” em composto feito à base de vinagre, álcool retificado, cânfora pulverizada,
amoníaco, cantáridas em pó (feito à base de uma espécie de inseto), farinha de mostarda,
pimenta em pó e alho pisado627.
O Araripe não exagerou ao tornar a doença o mote central da edição 284. Poucos dias
após a publicação, o cólera manifestou-se no Crato, com as primeiras mortes sendo registradas
625 Araripe, n. 284, 20 abr. 1862, p. 1. 626 O texto tinha sido publicado no Pedro II, n. 29, 5 fev. 1862, p. 3. 627 Araripe, n. 284, 20 abr. 1862, p. 1.
162
a partir de 30 de abril628. O Araripe, inclusive, sofreu o impacto da chegada do “filho de
Ganges” à cidade: deixou de circular por cerca de quatro meses. Apenas em 23 de agosto de
1862, a edição 285 foi publicada, quando o surto declinou em Crato.
Os mais de cem dias de interregno entre as edições 284 e 285 d’O Araripe dão indícios
da força da epidemia no cotidiano da cidade: tempo carregado de tensão, no qual parte da
população – incluindo correligionários e correspondentes do jornal – ficou enferma ou morreu,
o medo alastrou-se e as atividades cotidianas sofreram sério revés. Na tipografia do semanário,
correu-se o risco de “não ter mais um compositor”629 apto a preparar os tipos para impressão.
O próprio redator, João Brígido dos Santos, sentiu os efeitos devastadores da doença: “Eu caí
ferido do mal e extenuado de trabalho de maneira, que reputo meu restabelecimento a uma
ressureição”630, afirmou em carta enviada ao O Cearense, em fins de julho de 1862. Algumas
décadas depois, em texto autobiográfico, Brígido lembrou o drama vivido: “No Crato [...] tive
o cólera, ficando uma múmia”631.
Passado o momento crítico, o número de retorno d’O Araripe seria marcado pelo pesar:
o editorial, tomando praticamente toda a capa do número 285, tratava dos “tristes
acontecimentos que enlutaram esta cidade durante os climatéricos dias de junho e julho”, pico
da epidemia. O tom do artigo era de pesar:
Quando de todas as partes nos ameaça a epidemia do cólera morbo, esse
enigma terrível proposto à humanidade, quantas vezes não perdemos a
esperança de um dia voltar a este posto, sobrevivendo à tamanha calamidade?
E quanto é temerosa a solidão que reina em torno de nós!
O monstro cruel devorou centenas de amigos, tão caros, como necessários, e
é imenso o vácuo que deixou, assim nas famílias, como nas fileiras das
políticas. Esta recordação nos é muito incômoda632.
Na sequência, elencava o nome de algumas pessoas devoradas pelo “monstro cruel”:
Mas temos a alma repassada de dó, e tamanha perda é a nossa preocupação de
muitos tempos, hoje, pois, retomando a pena, não podemos começar, se não
tributando uma lágrima à desventura de tantas famílias, tão infelizes hoje,
quanto outrora viviam afortunadas. Choremos com elas a perda de seus chefes.
[...] Não existem os nossos especiais amigos, o Sr. Antonio José de Carvalho,
membro do conselho diretor do Partido liberal desta comarca, negociante
abastado e cavalheiro leal; o Sr. Padre mestre Marrocos, sacerdote virtuoso,
inélito soldado da fé que afrontou a morte, cumprindo seu mandato sagrado
628 PINHEIRO, op. cit., 1963, p. 147. 629 Araripe, n. 285, 23 ago. 1862, p. 1. 630 O Cearense, n. 1535, 29 jul. 1862, p. 3. 631 BRIGIDO, João. O Ceará (lado cômico): algumas chronicas e episódios. Typographia Moderna a vapor –
Ateliers-Louis, Ceará, 1899, p. XIV. 632 Araripe, n. 285, 23 ago. 1862, p. 1.
163
[...]; o Sr. Joaquim Romão Baptista, um dos corações mais bem formados que
o Crato possuía; o Sr. Antonio Ferreira Lima Sucupira, tipo do pai de família;
os Srs. José Martiniano da Costa, Manoel Teixeira do Nascimento, Manoel
Sisnando Baptista, Manoel da Silva Carneiro, nomes caros a tantos respeitos;
o Sr. Manoel de Assis Pacheco, alma angélica, cujo sacrifício se diria capaz
ele só de expiar todas as culpas, que suscitaram tão medonho flagelo; os Srs.
capitão Antonio Correia Lima e Antonio Ferreira Lima, veteranos da
independência, o Sr. Leonardo de Chaves e Mello, bela inteligência, um dos
moços que mais honra faziam ao seu torrão pelo seus princípios de honra e de
justiça; os Srs. Venceslau, Rufino e Pedro Sátiro, moços cheios de esperança
e em bom caminho para chegarem a uma boa posição entre seus conterrâneos;
e finalmente uma infinidade de amigos, que nos desvanecíamos de contar!633
As pessoas relacionadas eram gradas no lugar: comerciantes, políticos, um sacerdote,
proprietários de terra, entre outros “nomes ilustres nesta terra, pelos seus serviços e pelas
afeições que deixaram”. O editorial não poupou adjetivos aos finados, “que eram nossos mais
caros amigos” e “agora [são] o pasto dos vermes!”634. Não por acaso, entre os nomes listados,
a maior parte era de pessoas do círculo político-social d’O Araripe, portanto, ligadas ao Partido
Liberal. O relato do semanário, como de praxe, voltava-se para o grupo que representava: a ele
interessava exaltar os pares mortos. A ideia do cólera como agente democrático, sugerida pela
fonte, é um tanto equivocada, pois esconde o fato de que a maior parcela de vítimas do “monstro
cruel” não se encontrava entre os “caros e necessários” indivíduos elencados pelo periódico.
Na lista publicada, não há alusão a mulheres, homens pobres ou escravizados. Nas
páginas d’O Araripe, não houve espaço para lamento da morte dos escravizados Calisto, Félix,
Francisco, Raimundo, Damião, Tertuliano, Benedito e João, muito menos para as cativas
Tereza, Maria, Delfina, Rita, Vitorina, Faustina, Merenciana, Benedita, Felizarda e Suzana,
nem mesmo para a forra Vicência Maria d’Anunciação635. As estimativas de mortes em Crato
por cólera em 1862 variaram entre 760636 e 1100637 pessoas. Malgrado tais números, apenas
quinze foram nomeadas no editorial da edição 285 d’O Araripe. A grande maioria dos nomes
dos coléricos mortos foi silenciada no jornal, mantendo-se fiel ao lugar social de fala, marcado
pelo partidarismo político e pelo viés patriarcal da sociedade oitocentista. Importava apenas
elencar homens proeminentes levados pelo cólera: “chefes” políticos, de negócios e de famílias.
Se a edição de retorno d’O Araripe destacou os defuntos com quem a redação
simpatizava, não deixou também de atacar desafetos, usando o cólera como mote. O alvo
633 O Araripe, n. 285, 23 ago. 1862, p. 1. 634 O Araripe, n. 285, 23 ago. 1862, p. 1. 635 Os nomes citados são de alguns escravizados e libertos registrados no Livro dos Coléricos de Crato, que
registrou parte dos sepultamentos ocorridos no cemitério criado por conta da epidemia. DHDPG. Livro dos
Coléricos da Paróquia de Nossa Senhora da Penha de Crato. 636 O Cearense, n. 1568, 20 mar. 1863, p. 1. 637 O Araripe, n. 287, 06 set. 1862, p. 2.
164
principal do dia foi o delegado de polícia da vila de Milagres, o tenente coronel da Guarda
Nacional, Manoel de Jesus da Conceição Cunha, a quem o jornal Pedro II elogiou efusivamente
pelas pretensas ações realizadas em uma aldeia indígena, localizada na serra da Cachorra Morta,
em Milagres638. No artigo “O Sr. Manoel de Jesus e o Cólera”, o semanário cratense reproduziu
parte do que a folha conservadora da capital publicou, mas com o propósito de desconstruí-la
linha a linha. Para começar, provocava: em “certas épocas não falta quem queira vender o seu
peixinho a bom dinheiro”, pois Manoel de Jesus “mandou escrever no Pedro 2º um panegírico
de seus serviços” no qual, com “gaiatice, quer ele disputar as honras de filantropo”639.
O suposto “panegírico” fora publicado a 28 de julho de 1862, quando o cólera ainda
mostrava força em algumas localidades do Cariri. A coluna “Correspondência” do Pedro II
veiculou carta vinda de Milagres, assinada por pseudônimo deveras sugestivo: O Veritas.
Depois de traçar apanhado sobre a situação sanitária da província, afirmava que a doença não
tinha adentrado a vila de Milagres, mas atingira seu município. Por isso, censurava a presidência
da província por não ter enviado os “indispensáveis socorros a fim de que o mal produzisse
menos calamidades”640, corroborando, assim, o padrão editorial do Pedro II, discutido no
capítulo anterior, de usar a epidemia para agredir o presidente Figueiredo Júnior. Continuava a
mensagem: apenas a “Providência Divina” elucidava o fato da vila ter sido poupada, a despeito
dos seis meses de cerco vividos, desde a manifestação do cólera em Cajazeiras, na Paraíba, com
638 A aldeia era composta por índios Chocó. Através de relatos deixados por membros da Comissão Científica de
Exploração – instituída em 1856 pelo IGHB e pelo Governo Imperial, que percorreu o Ceará entre 1859 e 1860 –
é possível levantar algumas informações sobre o aldeamento. Francisco Freire Alemão, médico, naturalista e
presidente da comissão, conversou em Fortaleza com membros da família de Franklin Lima. Um dos seus
antepassados teria atuado como “capitão de bandeira desses índios”. A família, ainda, teria usado duas
“indiazinhas” da aldeia no serviço doméstico, demonstrando como havia exploração da mão de obra indígena,
aproximando-se, inclusive, da escravidão: “destas indiazinhas em casa; uma criou-se muito gordinha, era muito
inteligente, e servia muito bem, e fugiu de casa aqui na Fortaleza, quando para aqui vieram, provavelmente
aconselhada; a outra logo que chegou à casa começou a cobrir-se de um fuá (caspa) e a emagrecer até que morreu,
o que foi atribuído a mudança de alimentação”. Os “50 ou 60” indígenas existentes em 1860 em Milagres, segundo
Freire Alemão, tinham advindo de “uma nação que habitava por Piancó, Brejo Verde e Pajaú de Flores”. Tais
localidades, da Paraíba e Pernambuco, localizavam-se nas proximidades da fronteira com o Ceará. A nação
conservava-se praticamente “inteira” por volta de 1816, quando foi “aldeada pelo Padre Frei Ângelo, que ali fez
uma grande casa quadrada com pátio dentro, onde ele os doutrinava”. Após o falecimento do frei, “cessou esse
ensino” e os índios passaram a ser acusados de causar “grandes estragos nas fazendas matando-lhes os gados”,
estimulando a perseguição por parte dos proprietários. Freire Alemão – usando informações repassadas por
Gonçalves Dias, poeta e membro da Comissão Cientifica de Exploração, à frente do setor etnográfico dela –,
registrou que os conflitos com os fazendeiros se somaram com as agruras da seca de 1845, levando a migração
dos indígenas para o Piauí, “sendo aí também perseguidos, debandados e mortos muitos”. Os remanescentes do
grupo teriam retornado ao Ceará, dando origem a aldeia no “lugar existente hoje” (ALEMÃO, Francisco Freire.
Índole e costumes dos indígenas. Anais da Biblioteca Nacional. Vol. 81. 1961, p. 314). Para Gonçalves Dias, quase
inexistiam indígenas “puros” no Ceará. A exceção estava justamente nos poucos Chocó existentes em Milagres.
KODAMA, Kaori. Os índios no Império do Brasil: a etnografia doo IHGB entre as décadas de 1840 e 1860. Rio
de Janeiro: Editora Fiocruz; São Paulo: Edusp, 2009, p. 285. 639 O Araripe, n. 285, 23 ago. 1862, p. 2. 640 Pedro II, n. 170, 28 jul. 1862, p. 3.
165
quem fazia fronteira. Nestes termos, a depender do tempo de envio, por parte do governo
provincial, de uma “dúzia de drogas e uns dois médicos”, nas comarcas vizinhas já teriam
“perecido todos” muito antes da chegada dos socorros oficiais.
Na sequência, rasgava elogios a Manoel de Jesus, apresentado como “caridoso
proprietário”. Uma vez que os recursos oficiais faltaram, os proprietários teriam aberto “suas
bolsas em prol dos desvalidos acometidos da peste; já socorrendo-os com remédios que a suas
custas mandaram comprar em tempo, já fornecendo alimentos, já mesmo tratando [possíveis
adoentados]”. Sobre Manoel de Jesus, destacava o protagonismo no socorro aos índios
habitantes da aldeia situada na serra da Cachorra Morta, onde o cólera manifestou-se:
O nosso distinto amigo tenente coronel Manoel de Jesus, como outros mais
membros proeminentes de sua família, tem praticado atos mui meritórios e
prestando-se o mais que é humanamente possível, a providenciar, para que,
nada falte aos infelizes. Aos próprios índios tem ele fornecido remédios,
alimentos, baetas, roupas; de forma que, nunca esses índios, tiveram quem os
socorresse e por eles velasse. O médico Dr. Medeiros, a quem nosso amigo
chamou no Crato, para tratar deles, foi testemunha do quanto os índios se
achavam contentes com o bom tratamento que lhes prestava o nosso amigo641.
O Pedro II, portanto, representava o tenente coronel, não por coincidência,
correligionário do Partido Conservador, de forma positiva: Manuel de Jesus seria benemérito e
filantrópico. O destaque central da carta estava no elogio ao modo como teria amparado aos
índios de Cachorra Morta. Como testemunha da ação caritativa da personagem no auxílio aos
“desvalidos” indígenas, o texto indicava o Dr. Antônio Manoel de Medeiros. Ao citar o
ocupante do posto principal no combate à epidemia no Cariri, o missivista buscava legitimar as
afirmações atinentes aos méritos de Manoel de Jesus da Conceição Cunha.
A publicação trouxe, ainda, duras palavras contra certo “gênio do mal, lá do Crato”, que
teria qualificado o delegado de Milagres como “desumano”. Nas palavras d’O Veritas: “Há
seres tão miseráveis e degradantes que, só com o bico da bota, se deve responder”. Na busca
por detratar o crítico de Manoel de Jesus, o texto veiculado no Pedro II afirmava: “Esse
audacioso caboclo tem horror a tudo quanto há de mais grado! É filho de pai! Mas, pior!... é um
composto de maldade!”642. Numa sociedade escravocrata e marcada por critérios de distinção
social, na qual “não havia limites para o preconceito de cor”643, as insinuações impressas no
641 Pedro II, n. 170, 28 jul. 1862, p. 3. 642 Pedro II, n. 170, 28 jul. 1862, p. 3. 643 ALENCASTRO, Luiz Felipe de. Vida privada e ordem privada no Império. In. ALENCASTRO, Luiz Felipe
de (org.). Império: a corte a modernidade nacional (Coleção História da Vida Privada, vol. 2). São Paulo:
Companhia das Letras, 1997, p. 86.
166
Pedro II, provavelmente, impactaram ao destinatário das críticas. Elas divulgavam a público
amplo um estigma, ao misturar elementos morais com a pretensa origem “cabocla” do
adversário. Como demonstrou Ana Sara Cortez, a denominação “caboclo” figurava junto a
outras, tais como “cabra”, “mulato” e “pardo”, classificando diferentes tonalidades de pele
existentes no Cariri da segunda metade do oitocentos, região onde a quantidade de pessoas
qualificadas como brancas e pretas era bem pequena644. Desta forma, ao citar a palavra
“caboclo”, O Veritas utilizava termo amplamente difundido no Ceará para desqualificar o
adversário por sua suposta origem paterna e tom de pele.
Mas a quem se dirigiam tais ataques? A elucidação sobre a identidade da personagem é
dada por outras edições do Pedro II. Tratando das disputas eleitorais de Crato em 1863, o diário
“carcará” citava “insultos e ameaças do caboclo João Brígido”645. Em 1868, tecendo críticas
sobre nomeações e gratificações de funcionários públicos, o Pedro II citou mais uma vez o
“caboclo João Brígido”646. Portanto, o “gênio do mal do Crato” era um dos liberais mais
aguerridos do Ceará, especialmente por atuar como redator d’O Araripe. Inclusive, em agosto
de 1862, o Pedro II definiu Brígido como “o chimango mais ardente de toda a província”647.
Não encontrei qualquer outro indício documental apontando para a suposta origem
mestiça de João Brígido dos Santos. Acredito que ela não escaparia de ser documentada, direta
ou indiretamente, tendo em vista a atuação jornalística e política da personagem, abrangendo
meados do século XIX até o ano de sua morte, em 1921, os livros de memória e história que
publicou e os perfis e estudos escritos sobre ele em instituições como o Instituto do Ceará e
universidades648.
Independente da veracidade, ou não, das insinuações do Pedro II a respeito de João
Brígido, fica claro: elas esquentavam as disputas existentes na imprensa do Ceará em 1862. Por
isso mesmo, O Araripe n. 285 expôs versão diametralmente oposta à descrita pelo O Veritas a
respeito do protagonismo do delegado de Milagres. Como estratégia para reforçar a opinião
contrária sobre Manoel de Jesus - demonstrando, também, a circulação das notícias para além
do Ceará -, O Araripe reimprimiu correspondência divulgada no Rio de Janeiro, pelo jornal
Correio Mercantil, a 9 de junho de 1862. Narrando a situação epidêmica em várias localidades
644 CORTEZ, Ana Sara Parente Ribeiro. Cabras, caboclos, negros e mulatos: a família escrava no Cariri Cearense
(1850-1884). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2008, p. 48. 645 Pedro II, n. 239, 21 out. 1863, p. 3. 646 Pedro II, n. 107, 17 mai. 1868, p. 2. 647 Pedro II, n. 181, 9 ago. 1862, p. 2. 648 São exemplos de produções sobre a trajetória política e intelectual de João Brígido dos Santos:
MONTENEGRO, João Alfredo. João Brígido: uma revisão histórica. Revista do Instituto do Ceará. Tomo CXIII.
Fortaleza, 1999, p. 173-185; RIOS, Renato, op. cit., 2013; CARVALHO, op. cit., 1969.
167
cearenses, destacava Milagres, onde o cólera “tinha feito várias vítimas, e uma bem sensível na
pessoa do homem mais filantropo daquele lugar, o capitão Manoel Joaquim de Sousa, diretor
de uns índios que ele domesticou e criava com o desvelo de pai”649.
Após a declaração acima - que não deixa de indiciar a visão patriarcal e preconceituosa
existente à época sobre os indígenas, animalizados ao serem descritos como “domesticados” e
“criados” pelo diretor -, o Correio Mercantil informava: quando dos primeiros casos do cólera
na aldeia, Manoel Joaquim de Sousa “pediu auxílio ao delegado, um tal Manoel de Jesus
Conceição Cunha, que aliás tem dinheiro do governo para auxiliar os índios”. Malgrado o apelo,
a autoridade policial, “por ódio talvez ao Sousa, não quis dar sequer um prato de arroz” aos
indígenas. Por conta disso, “parte dos índios morrem e com eles o seu benfeitor, vítima do seu
zelo”. Diante de tais circunstâncias, o aldeamento corria o risco de esfacelamento: “O resto da
aldeia abandona [o local] e volta às brenhas[,] à vida selvática, chorando o homem a quem
chamavam seu pai”650.
Observando as datas de publicação dos textos do Correio Mercantil (9 de junho de
1862) e do Pedro II (28 de julho de 1862), é possível levantar uma hipótese: a correspondência
divulgada pelo último funcionou como resposta às acusações impressas no jornal da Corte.
Cerca de um mês e vinte dias separaram a divulgação das duas versões. Ao Pedro II,
provavelmente, importava pôr em circulação opiniões positivas a respeito do caso, afinal, o
correligionário Manoel de Jesus foi enxovalhado na folha carioca. Aliás, como o texto do Pedro
II foi assinado por pseudônimo (O Veritas), talvez tivesse por autor o próprio Manoel de Jesus,
preocupado em propagar a sua “verdade” sobre os acontecimentos quando da epidemia em
Milagres. Por outro lado, o fato da publicação do Correio Mercantil ter sido reimpressa no
interior do Ceará, pelo O Araripe, quase dois meses após a publicação original, também indicia
a forma pela qual os liberais cearenses ressoaram as acusações sobre o delegado de Milagres.
Após expor as duas versões da história, O Araripe afiançava: uma consulta a Antonio
de Medeiros - citado pelo Pedro II como testemunha do desvelo do delegado de Milagres no
trato aos índios - era necessária para elucidar a questão, pois ele:
deve saber quem o chamou a Milagres e se [Manoel de Jesus] tratava de salvar
os índios. Ele deve ter sido testemunha desse contentamento, que o senhor
Manoel de Jesus diz sentiram os pobres selvagens, em vista da humanidade
com [que] ele os tratava. Dirá quem lhes forneceu baetas, remédios etc. e se
mesmo a ele algum obséquio se fez651.
649 Correio Mercantil, n. 158, 9 jun. 1862, p. 1. 650 Correio Mercantil, n. 158, 9 jun. 1862, p. 1. 651 O Araripe, n. 285, 23 ago. 1862, p. 3.
168
Na visão d’O Araripe, a eventual resposta do médico sobre a questão não seria
auspiciosa para o delegado: “O sr. Medeiros tudo fez, o sr. Manoel de Jesus, que nem sequer
gastou o dinheiro que desde 1856, tinha em seu poder, faz[-se] de herói!”. Este era, então,
acusado de nunca ter “posto seus pés na aldeia da Cachorra Morta”, enquanto o diretor dela
“perecia, vítima de sua dedicação”. Inimigo declarado de Manoel Joaquim de Sousa – uma das
principais lideranças liberais no Cariri, a quem O Araripe qualificara, em outra coluna do
número 285, como “o civilizador dos índios, o chefe extremo do partido liberal” em Milagres652
-, Manuel de Jesus teria agido de forma vil mesmo diante do cadáver daquele, pois “lhe vedou
a sepultura no cemitério dos coléricos”, necrópole erguida pelo mesmo Manoel Joaquim de
Sousa e parentes. Uma vez enterrado o corpo em solo não consagrado, Manoel de Jesus ainda
ordenara a exumação do rival: “O nosso prestante amigo foi inumado em uma mata, e isto
acabava de ter lugar, quando o sr. Manoel de Jesus ordenava ainda que o levasse para mais
longe!”. Após tão graves acusações, ironizando pela última vez o pseudônimo O Veritas, O
Araripe arrematou: “Ódio e medo ditavam ao sr. Manoel de Jesus o procedimento mais
desonroso. A verdade é o que temos dito, e antes de nós o Correio Mercantil”653.
Malgrado o esforço do Pedro II em defender Conceição Cunha, as versões negativas a
respeito dele continuaram a vicejar. A 13 de setembro de 1862, O Araripe tratou o cólera como
o “inimigo traiçoeiro”, fazendo mais de cento e quarenta vítimas nos subúrbios de Milagres.
Em quadra tão ameaçadora, dizia o artigo, o presidente do Ceará tinha “mandado para esta vila
bastante remédios e dinheiro”. Todavia, os socorros remetidos estavam sob guarda do
“celebérrimo delegado Manoel de Jesus”. A autoridade, disparava O Araripe, encontrava-se há
vários dias no distrito de Coité, para realizar alguns inventários, trabalho lucrativo, pois a cada
inventário era cobrada taxa de 200$000 a 300$000, valor dividido entre o delegado, o escrivão
e “outro espoleta” que os acompanhava. Desta forma, enquanto diferentes distritos clamavam
diariamente por remédio, o delegado andaria longe, com a “chave da ambulância nos bolsos”.
O próprio médico enviado para tratar dos acometidos pela doença ficara sem nada poder fazer,
pois os medicamentos permaneciam trancados na vila. Para a publicação, a atitude de Manoel
de Jesus tinha propósito escuso. Ele agiria de forma calculada, esperando assenhorear-se dos
recursos e medicamentos enviados, como já teria feito sete anos antes, quando o cólera ameaçou
invadir o Ceará:
[...] entendo que o sr. Delegado quererá fazer com os remédios e dinheiro do
governo, o que fez em 1856 com 200$ que o governo mandou para os pobres,
652 O Araripe, n. 285, 23 ago. 1862, p. 1. 653 O Araripe, n. 285, 23 ago. 1862, p. 3.
169
e como a epidemia não se desenvolvesse naquele tempo[,] o sr. Delegado
abocou esta quantia até ontem, fazendo com ela o seu negócio654.
Para além das páginas da imprensa, a fama de Manoel de Jesus da Conceição Cunha foi
registrada em outros documentos. Citado tanto no Pedro II quanto n’O Araripe como
testemunha das versões díspares atinentes ao delegado de Milagres, o médico Manoel Antônio
de Medeiros, em relatório apresentado à Presidência do Ceará, registrou informações
interessantes. Um dia após chegar a Milagres, a 15 de abril de 1862, Medeiros dirigiu-se à
localidade Cachorra Morta, onde encontrou “quatro índios afetados do cólera morbo”,
medicando-os e “deixando-os fora de perigo”. Antes de deixá-los, o médico passou instruções
ao “mestre de rezas da aldeia, única pessoa de certas habilitações” disponível, com quem deixou
“alguns medicamentos para ir socorrendo aos selvagens, que se achavam em um estado de
miséria indizível, quase nus, e sem alimento”, salvo “algum milho verde, algum feijão”,
substâncias, opinava, “por demais nocivas à alimentação de um doente, e mesmo perigosa para
os que não sofrem, quando no lugar tem-se manifestado uma epidemia”655.
Quando da passagem pela aldeia, Medeiros não encontrou o diretor dos índios, “o major
Manoel José de Sousa, homem filantropo, que mais logo vindo em socorro de seus tutelados,
pereceu no meio deles, [junto] com o mestre [de rezas] da aldeia, ambos vítimas de seu zelo e
dedicação”. No retorno a Milagres, o médico requisitou à comissão sanitária da vila e ao
“delegado de polícia [Manoel de Jesus]” o envio de “socorros aos índios, procurando fazer-lhes
compreender, quanto a miséria podia agravar a sorte daqueles infelizes”. Não obstante os
apelos, “nada, porém, ou quase nada se fez neste sentido, e tanta apatia não deixou de contristar-
me”656. Pelo relatório de Antonio Manoel de Medeiros, pode-se deduzir que o texto d’O Veritas,
publicado no Pedro II, estava longe de ser verossímil, corroborando a versão defendida pelo O
Araripe.
A repercussão a respeito da atuação de Manoel de Jesus no socorro à aldeia Cachorra
Morta chegou ao centro do Império. O redator d’O Araripe, João Brígido, tão duramente
admoestado pela imprensa conservadora do Ceará, escreveu diretamente ao Imperador,
narrando a sua versão dos acontecimentos. Em 18 de julho de 1862, enquanto despachava com
o Marquês de Olinda, o monarca manifestou a necessidade de “examinar como procederam as
autoridades do Ceará na invasão [do cólera]”, pois lera “carta do Dr. João Brígido, do Crato a
654 O Araripe, n. 288, 13 set. 1862, p. 4 655 MEDEIROS, op. cit., 1863, p. 5. 656 Idem, p. 6.
170
respeito do procedimento do delegado de Milagres Manuel de Jesus por ocasião da moléstia e
morte de Manuel José de Sousa protetor dos índios de Cachorra-Morta”657.
Talvez a circulação de notícias negativas sobre as posturas de Manoel de Jesus na
conjuntura epidêmica, propagandeada pela imprensa liberal cearense, fosse um dos motivos
para a exoneração dele do cargo de delegado de Milagres, em 22 de junho de 1863658. Todavia,
ele retornou ao posto poucos anos depois. Continuou, inclusive, a produzir polêmicas no trato
dos indígenas sobreviventes do cólera. Em 1867, mesmo ano no qual recebeu a Ordem da
Rosa659, foi acusado de atacar ilegalmente a aldeia. Antônio Lopes da Silva, juiz municipal de
Milagres, contou, em relato enviado ao vice-presidente do Ceará, Sebastião Gonçalves, a
ocorrência de “grave conflito” na aldeia Cachorra Morta, promovido por José Ignácio da Silva,
fazendeiro e inspetor de quarteirão, com apoio de força policial liberada pelo delegado Manoel
de Jesus da Conceição Cunha. Os responsáveis pelo ataque teriam justificado a ação alegando
a busca de armamentos na aldeia, fato negado por Antonio Lopes da Silva, para quem as armas
em mãos dos índios eram “finas[,] próprias de caçar de que fazem esses infelizes profissão e
parte de sua alimentação”660.
A ofensiva esconderia outros interesses. O relato de Antônio Lopes da Silva trazia cópia
de missiva escrita pelo juiz de direito, Américo Militão de Freitas Guimarães, para quem “o
lamentável acontecido” foi “crime premeditado” com vistas a “exterminar a esses infelizes
[índios]”. Por trás da ação, estaria o fato da serra da Cachorra Morta ser “composta de terrenos
próprios para a agricultura”, sendo usada, também, para criação de gado por parte de “muitos
fazendeiros”, prejudicando a agricultura da aldeia. Por ordem da Câmara Municipal, os
criadores foram obrigados a tirar os rebanhos da área. Não obstante, José Ignácio da Silva “não
quis retirar seus gados”, com a “benevolência de certas autoridades”, “menosprezo da lei e em
prejuízo dos índios”. Assim, continuou a criação, “danificando a lavoura dos índios”, que
revidaram maltratando “algumas rezes daquele”. Por conta disto, o criador desejava “reduzir a
cinzas essa pequena aldeia”661. Em conluio com o “Tenente Coronel e Delegado de Polícia”
Manuel de Jesus, José Ignácio partiu com “força de setenta e duas praças”, na madrugada de 28
657 PEDRO II, op. cit., 1956, p. 141. 658 A exoneração foi divulgada na Gazeta Official, n. 85, 2 jul. 1863, p. 1. 659 O nome do delegado figurava na lista de cearenses condecorados em outubro de 1867, conforme o Pedro II, n.
237, 26 out. 1867, p. 1. 660 ICC. Cópia - Reservado. Juízo Municipal da Vila de Milagres. 20 jul. 1867. Manuscritos diversos, século XIX.
Disponível no site: https://institutoculturaldocariri.com.br/wp-
content/uploads/2018/09/manuscritusilovepdf_merged.pdf. Acesso a 16 jun. 2019. 661 Idem.
171
de abril de 1867, invadindo a aldeia, sem nada comunicar ao responsável por ela, Manoel
Fortunato de Souza, não por acaso, filho do ex-diretor vitimado na epidemia de 1862662.
Na opinião do juiz de direito, o ataque feria as “disposições da lei/decreto nº 426 de 24
de julho de 1845663 e os princípios da humanidade”. A força militar teria “invadido e violado
choupanas”, cometendo “toda a sorte de excessos nas famílias”. Um dos índios, chamado
Mariano, foi preso e conduzido amarrado para fora da aldeia. Quando quatro índios apareceram,
solicitando “a soltura de seu companheiro”, foram “espingardeados”, resultando na “morte de
um índio e ferimentos graves e leves em outros, e também a morte de um soldado, vítima não
dos índios, mas das balas de seus próprios companheiros”664.
Segundo pronunciamento feito na Assembleia Legislativa do Ceará, em 27 de novembro
de 1867, publicado pelo O Cearense, outro motivo moveu a agressão aos índios. Nas palavras
do deputado Livino Lopes de Barros e Silva, Manoel de Jesus era “um dos heróis dos quatorze
anos do domínio conservador, acumulando o cargo de delegado e de substituto de juiz
municipal, durante todo este período”. O poder concentrado teria reduzido “o termo de Milagres
a uma feitoria sua”, onde “perseguiu e massacrou tanto o partido liberal daquela importante
localidade” que “quase o aniquila”. Os adjetivos dados pelo deputado ao delegado de Milagres
eram fortes: “assassino, ladrão e prevaricador”665.
Para Livino Lopes, o conflito com os índios ocorrido em 1867 revelava trama visando
atingir “nosso prestimoso capitão Francisco José de Sousa e a seu sobrinho, Manoel Fortunato
de Sousa, o diretor da aldeia Cachorra Morta”. Nesta interpretação, Manoel de Jesus preparou:
uma escolta de setenta e tantos homens armados e bem municiados e manda à
Cachorra Morta cercar a aldeia dos índios, a fim de que os nossos amigos não
consentindo na prisão dos mesmos se opusessem e fosse motivo para serem
processados, e talvez assassinados, e por conseguinte inutilizados para a
eleição666.
662 ICC. Cópia - Reservado. Juízo Municipal da Vila de Milagres. 20 jul. 1867. Manuscritos diversos, século XIX. 663 A lei em questão trazia o regulamento acerca dos aldeamentos indígenas e missões de catequese. Ela instituía
os cargos que organizariam as aldeias: “o de diretor-geral dos Índios para cada província, nomeado pelo imperador
e responsável por todas as informações das aldeias; o do diretor do Aldeamento que deveria ser nomeado para
cada núcleo pelo presidente da província e ficaria a cargo da administração local do aldeamento; o do tesoureiro e
almoxarife, a ser indicado pelo diretor da Aldeia para atuar como contador e escrivão; o de missionário e o de
cirurgião” (KODAMA, op. cit., 2009, p. 250). O regulamento incentivava a demarcação e o registro de terras de
aldeias. Todavia, a Lei de Terras, promulgada em 1850, assumiu ambiguidade ao tratar da posse efetiva da terra,
pois condicionava sua existência à observação do “grau de civilização” dos índios. Tais questões davam
“transitoriedade” aos aldeamentos, na medida em que a condição indígena era definida a partir do “estado ainda
não alcançado de civilização, e não a um atributo de suas identidades” (Idem, p. 258-259). O texto legal pode ser
consultado no link: http://legis.senado.leg.br/norma/387574/publicacao/15771126. Acesso a 18 jun. 2019. 664 ICC. Cópia - Reservado. Juízo Municipal da Vila de Milagres. 20 jul. 1867. Manuscritos diversos, século XIX. 665 O Cearense, n. 2522, 8 dez. 1867, p. 1. 666 O Cearense, n. 2522, 8 dez. 1867, p. 2.
172
Portanto, seriam as disputas político-eleitorais entre conservadores e liberais um dos
motivos do conflito. Em meio às mesmas, os indígenas tornaram-se alvos sensíveis: “De fato,
[...], chegada a escolta à aldeia dos índios, sem que eles fossem criminosos, e nem estivessem
no caso de serem recrutados, espancam homens e mulheres, prendem os que podem e
conduzem-nos para Milagres”667.
Diante do exposto nas últimas páginas, é provável que o não empenho do delegado de
Milagres no socorro à aldeia Cachorra Morta, quando do surto de 1862, refletisse tanto o
interesse de proprietários rurais em tomar posse da terra onde ela localizava-se, quanto os
conflitos políticos internos do município, afinal, os índios estavam sob responsabilidade do clã
Sousa, formado por políticos liberais, os maiores opositores do delegado de polícia.
Os casos envolvendo os Chocó corroboram, também, os estudos que mostram como
eram vulneráveis os aldeamentos no Brasil oitocentista, pois sujeitos ao colapso pela ação de
epidemias, má atuação de diretores e autoridades públicas ou conflito constante com brancos,
interessados nas terras das aldeias e no uso da mão de obra indígena668.
As polêmicas envolvendo Manoel de Jesus da Conceição Cunha são exemplares para o
entendimento de como a politização do cólera levada a público pela imprensa chegou também
às autoridades policiais que ocupavam postos nas localidades cearenses. Se, como exibi no
capítulo anterior, o próprio presidente da província viu-se envolvido em fortes contendas,
delegados e subdelegados também viram seus nomes e feitos frente ao cólera estamparem as
páginas dos jornais. As autoridades policiais foram das mais atacadas, pela imprensa, durante
a epidemia de 1862. Em outubro daquele ano, por exemplo, O Araripe publicou:
Boas novas – É chegado o impagável sr. Francisco José de Pontes Simões, o
subdelegado deste distrito, que andou refocilando, durante o cólera, pelo
termo da Barbalha. A pátria agradecida lhe deve remuneração do grande
serviço, que prestou à humanidade, favorecendo esta cidade com sua ausência
durante aqueles maus dias. Com efeito, aguentar o cólera e o sr. Xico, era uma
dupla calamidade. A natureza que lhe pregou errados os dois olhos, cravando-
lhe um mais baixo, outro mais acima, com vistas para este bordo e bom bordo,
quis em compensação dotá-lo de uma saúde de Hércules. Ele veio gordo e
rechonchudo prometendo prestar bons serviços; bem entendido, se não se falar
mais em cólera669.
Com palavras mordazes, o semanário anunciava, em tom artificialmente alvissareiro, o
retorno de Francisco José de Pontes Simões ao Crato, onde atuava como subdelegado de polícia.
667 O Cearense, n. 2522, 8 dez. 1867, p. 2. 668 KODAMA, op. cit., 2009, p. 262. 669O Araripe, n. 291, 19 out. 1862, p. 3.
173
Segundo o jornal, a autoridade mantivera-se fora da cidade entre fins de abril e agosto de 1862,
período marcado pelo cólera. No ímpeto de representar “Xico” como covarde, O Araripe
descrevia-o refocilado, gordo e rechonchudo no regresso ao Crato, em clara antítese com os
sintomas causados pelo cólera, fazendo dos vitimados esqueletos, ante o espetáculo mórbido
do vômito e evacuações intestinais incontroláveis. Sem pudores, o texto usava até uma provável
má formação facial do subdelegado – um dos seus olhos seria mais baixo que outro – para fazer
contraste com a “saúde de Hércules” do mesmo, insinuando ser a suposta robustez
antagonicamente equivalente à covardia e deficiência física: o vigor corporal seria, portanto, o
oposto do perfil moral, mais próximo à imperfeita fisionomia do subdelegado.
Após proferir palavras tão depreciativas, o texto jornalístico agradecia a ausência de
Francisco José, adjetivando-a como “grande serviço prestado à humanidade”, pois conviver ao
mesmo tempo com a epidemia e o subdelegado seria desgraça demais, “uma dupla calamidade”
para a população. Carregada de ironia, a nota reforçava outros textos do periódico com
acusações de que, por medo, Francisco José fugira, abandonando, ao estourar do surto
epidêmico, as responsabilidades enquanto agente público. Segundo O Araripe, o subdelegado
devia ser condecorado com a Ordem de Cristo, por ter sumido durante a quadra pestilenta:
Pergunta-se ao Sr. subdelegado de polícia Francisco José de Pontes quando
pretende voltar a seu distrito: dá-se-lhe [sic] a grata notícia de que o cólera já
é passado, e agradece-se a sua ausência por tanto tempo, a qual é um serviço
tão meritório, que só por ele se lhe devia pregar ao peito um habito de
Cristo670.
Outro subdelegado foi alvo das críticas d’O Araripe. Em fins de setembro de 1862, o
jornal publicou, na primeira página, texto intitulado “MAIS UM FUGIDO”. Nele acusava
Felisberto Gomes de Amorim, “digno subdelegado de polícia de S. Anna do Brejo-Grande” –
atualmente, a cidade de Santana do Cariri – de integrar a lista de autoridades que fugiram das
localidades afetadas pelo cólera, anteriormente publicada pelo semanário. Tendo a redação
esquecido de mencionar Felisberto antes, “agora o fazemos para sua glória”. O subdelegado
teria “abandonado a povoação, logo que a epidemia se desenvolveu”, deixando em tal estado
de “anarquia, que os cadáveres ficaram insepultos muito tempo e seriam devorados pelos cães,
a não vir de seu sítio o Sr. Juiz [de Paz, Pedro] Onofre [de Farias], com pessoas, ajudar ao Sr.
[José Joaquim] Cidade e outros que, a sós faziam frente à calamidade”. Segundo O Araripe,
670O Araripe, n. 285, 23 ago. 1862, p. 4.
174
apesar da epidemia ter findado na área, Felisberto, “ainda tomado de pânico”, permanecia “não
somente fora do distrito, mas até da comarca”. O arremate do texto reforçava a crítica:
Eis mais uma autoridade que não merece o posto importante que lhe coube
para essas e outras ocasiões de supremo perigo, onde o homem filantropo e
corajoso soube ilustrar o seu nome, adquirir as simpatias dos homens sensatos
e bons de todos os partidos. Entretanto, quanto não foi prejudicial e
vergonhoso seu proceder! 671
Uma autoridade em momento de crise social, argumenta a citação anterior, teria a
oportunidade de demostrar grandeza, auferindo, em troca, o apoio das pessoas sensatas de
diferentes partidos. Por outro lado, a conjuntura epidêmica poderia demonstrar o contrário: a
inconveniência de ver pessoa despreparada em postos estratégicos, trazendo prejuízo às
localidades e vergonha ao nome da autoridade.
A correspondência de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior com o Marquês de Olinda
registrou como delegados e subdelegados de polícia estiveram em lugar destacado nas ações de
combate ao cólera em 1862. Eles foram nomeados membros na maioria das comissões sanitárias
instituídas por toda província e estavam entre os que mais reportavam notícias a respeito da
situação epidêmica ao presidente do Ceará. Por outro lado, cabia a eles usar os destacamentos
militares no auxílio aos inspetores de quarteirão672, médicos e enfermeiros comissionados,
garantindo a localização dos doentes e transporte para as enfermarias, inclusive com o uso
eventual da força673. Os medicamentos, cobertores e alimentos enviados pelo governo
provincial, bem como recursos doados por particulares, foram administrados, em algumas
localidades, por tais autoridades, como no caso de Assaré, onde o “Bacharel Gonçalo Baptista
Vieira” – personalidade do Partido Conservador, do clã “carcará”, e presidente da Assembleia
Legislativa do Ceará em 1862, citado no capítulo anterior, – pôs à disposição do subdelegado
671O Araripe, nº. 289, 27 set. 1862, p. 1. 672 Antes indicados pelos juízes de paz eleitos, a reforma do Código Penal, em 1841, transferiu à polícia a nomeação
dos inspetores de quarteirão, “levando assim a autoridade do governo central, pelo menos em teoria, a todos os
cantos do Império” (GRAHAM, op. cit., 1997, p. 80). Cada inspetor tinha autoridade sobre, pelo menos, vinte e
cinco “fogos”, atuando sobre orientação dos delegados e subdelegados. Em nome da manutenção da “ordem”, aos
inspetores era dada a autorização para interferir em “qualquer aspecto da vida de uma pessoa”. Cabia aos mesmos:
observar o estado higiênico das áreas sob sua alçada; expedir passes para quem se deslocava de um distrito a outro;
atestar a conduta dos interessados em portar armas de caça; verificar se as rondas noturnas da polícia uniformizada
estavam sendo cumpridas; e denunciar aglomerações suspeitas nas ruas e estradas, especialmente de escravos,
mendigos, bêbados e prostitutas. Em épocas de eleição, também podiam ser usados para pressionar eleitores: na
Província de São Paulo, por exemplo, em fins de 1860, um delegado ordenou aos inspetores de quarteirão a
intimação de votantes, que deveriam receber as cédulas eleitorais no prazo determinado. Em caso de desobediência
da intimação, os eleitores podem ser multados ou presos por uma quinzena. Ante tal leque de atribuições, não
faltava quem acusasse inspetores de manobrar seus poderes com vistas à conquista de vantagens pessoais.
GRAHAM, op. cit., 1997, p 88-89. 673 ANRJ. Ofício 41. 26 mai. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
175
“todo o gado preciso para socorrer os desvalidos na povoação”674. Nos lugares onde houve
acúmulo de corpos insepultos e dificuldade para contratar carregadores e coveiros, coube às
autoridades policiais mobilizarem homens para resolução do problema. Em Maranguape, por
exemplo, oito “camaradas” do delegado morreram após cumprir tais serviços675. Não por acaso,
Figueiredo Júnior registrou o falecimento, por cólera, de alguns delegados, como os da comarca
dos Inhamuns676 e da cidade de Aquiraz677.
O presidente do Ceará, por outro lado, não deixou de repreender e afastar do cargo,
autoridades policiais suspeitas de fazerem pouco caso da epidemia ou de fugirem das
obrigações nos lugares atingidos. As recriminações tornaram-se públicas, pois os jornais
reproduziam parte da correspondência interna e externa relacionada à Presidência da Província,
bem como os atos de nomeação e exoneração. Na vila de Maranguape, por exemplo, o delegado
Antonio de Castro Vianna foi denunciado em uma correspondência enviada ao presidente
Figueiredo Júnior. O delegado estaria “no seu sítio”, enquanto “grande desenvolvimento” da
“epidemia reinante” tomava as ruas da vila. A situação levou Figueredo Júnior a intervir, afinal
“uma autoridade ativa e enérgica” precisava permanecer na localidade, “para eficazmente
auxiliar o serviço sanitário, a que mui poucas pessoas se têm prestado naquela localidade”.
Pressionado, o delegado acabou pedindo exoneração do cargo678.
O caso de maior repercussão na imprensa cearense de 1862, envolvendo um delegado,
foi, sem dúvida, o de Pedro José de Castello Branco679. Além de delegado da cidade de Baturité,
ele exercia, à época do cólera, a função de Juiz Municipal na mesma localidade. O segundo
número da Gazeta Official, em 19 de junho de 1862, reproduziu ofício no qual o presidente
Figueiredo Júnior, escrevendo ao Chefe de Polícia provincial, Francisco de Farias Lemos,
afirmava ter recebido informações do juiz de direito de Baturité atinentes ao comportamento do
delegado de polícia, Pedro Castello Branco. Este permanecia “muitos dias no seu sítio quando
é indispensável a presença desse funcionário na cidade, visto que já vai ali [se] desenvolvendo
674 ANRJ. Ofício 65. 12 ago. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 675 ANRJ. Ofício 56. 11 jul. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 676 ANRJ. Ofício 41 a. 05 jun. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 677 ANRJ. Ofício 52. 27 jul. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. Sobre o assunto, em de tom de lamento, O Sol
publicou: “Faleceu no Aquiraz o delegado do termo Alcino Gomes Brasil, proprietário, e agricultor abastado. Foi
uma ilustre vítima da epidemia reinante. Cidadão probo, prestimoso amigo, bom pai de família, sua perda foi
grandemente sensível” (O Sol, n. 281, 22 jun. 1862, p. 3). 678 Pedro II, n. 152, 7 jul. 1862, p. 2. 679 Foi eleito para três legislaturas na Assembleia Provincial do Ceará. PAIVA, op. cit., 1979, p. 99.
176
a epidemia”. O presidente do Ceará, orientava, então, ao Chefe de Polícia a tomar “providências
que a este respeito lhe parecessem necessárias”680.
Como de praxe, os jornais Pedro II e O Cearense adotaram posturas opostas ao tratar
do assunto. Em 26 de julho de 1862, correspondência escrita por João Pereira Castello Branco,
irmão do delegado de Baturité, foi publicada pelo Pedro II. A missiva, escrita a 21 de julho, foi
endereçada a um compadre de João, de nome Luiz Ribeiro da Cunha. Continha apanhado geral
da situação epidêmica enfrentada em Baturité: “São oito horas da noite, e a epidemia não nos
deu ainda esperanças de declinar a mortalidade nesta infeliz cidade”. A carta trazia críticas aos
socorros oferecidos pelo presidente Figueiredo Júnior, talvez a motivação central do Pedro II
em reproduzi-la: “vamos bem mal, porque o Exm. Sr. presidente autoriza à comissão [de
socorros] a gastar o preciso, mas aonde vamos ver dinheiro? O coletor geral tem ordem para o
suprimento, mas aonde ele tem fundos disponíveis da Fazenda?”681.
Todavia, em meio à listagem das personalidades locais atuantes no socorro aos coléricos
desvalidos, João indicou a ausência do “mano Pedro José Castello Branco” na cidade. Talvez
por lapso ou por não prever a divulgação da carta na imprensa, o autor reconheceu o fato que,
como mostrado há pouco, levou o Presidente da Província a repreender a autoridade policial682.
Pela carta transcrita no Pedro II, fica claro: o delegado estava longe da cidade tomada pelo
cólera. O próprio João Castello Branco, após o adoecimento por cólera do subdelegado
Raimundo Sampaio, remeteu carta a Pedro, instando-o a “vir tomar conta da delegacia”683.
Junto com o convite de retorno à cidade, João sugerira ao irmão o engajamento de “uma
companhia de índios que um tal Perigoso trouxe para serra”, a fim de atuar na colheita do café.
Com agenciador de nome tão simbólico, pode-se deduzir o quanto tais indígenas eram
explorados nos trabalhos agrícolas da Serra de Baturité. O plano de João era colocar os
indígenas para trabalhar na cidade, tanto nos serviços públicos relacionados ao cólera, quanto
sob ordem privada, afinal, por conta do surto, faltavam braços para realização das tarefas
cotidianas: “isto para serem aqui aplicados ao serviço de enterramentos, ver lenha, água, e
ocorrer a todas as precisões diárias; pois meu amigo, ainda lutamos com mais este oneroso
empecilho, não há quem faça serviço algum”684.
Segundo a carta de João, o “mano” Pedro respondera positivamente às propostas,
sinalizando “vir com essa corporação de índios”. O delegado teria afirmado mais: caso não
680 Gazeta Official, n. 2, 19 jul. 1862, p. 2. 681 Pedro II, n. 169, 26 jul. 1862, p. 2. 682 Gazeta Official, n. 2, 19 jul. 1862, p. 2. 683 Pedro II, n. 169, 26 jul. 1862, p. 2. 684 Pedro II, n. 169, 26 jul. 1862, p. 2.
177
conseguisse engajar os indígenas “ele mesmo se apresentaria para providenciar [...] o que esta
quadra calamitosa urge”. Tal promessa animava João, pois, aparentemente, tinha uma visão
positiva sobre o desempenho do delegado Castello Branco: “Deus o traga, pois como sabe:
energia, e ação para qualquer terminante medida, não lhe falta, e pode-nos ajudar muito”685.
Todavia, Pedro Castello Branco não permaneceria por muito tempo no cargo para
concretizar as aspirações do irmão João. O desgaste criado pelas correspondências oficiais,
como as de Luiz de Cerqueira Lima, juiz de direito da Comarca de Baturité, dando conta do
comportamento fugidio do delegado, levaram a Presidência do Ceará a decidir pela exoneração
da autoridade policial. A 9 de agosto de 1862, a Gazeta Official publicou a dispensa, reiterando
os motivos pouco honrosos dela:
Por ato da presidência foi exonerado o delegado de polícia do termo de
Baturité, Pedro José Castello Branco, por continuar ausente daquela cidade,
apesar das terminantes recomendações que lhe foram feitas logo que a
epidemia invadiu o referido termo; sendo nomeado para substituí-lo o alferes
Pompílio da Rocha Moreira686.
A escolha do novo delegado, aliás, esteve diretamente ligada à conjuntura epidêmica.
Os impressos d’O Cearense eram unânimes nos elogios aos feitos do alferes Pompílio Moreira
durante a quadra epidêmica em Baturité. Ele teria destaque, especialmente, no trabalho de
organização de abertura de túmulos, “[...] de maneira que têm sempre havido sepulturas de
sobra, e as inumações têm sido feitas com toda a regularidade e zelo, sem que[,] contudo[,]
fosse preciso uma só vez lançar-se mão dos presos da cadeia para tal fim”687. O próprio
presidente do Ceará registrou, na correspondência com o Marquês de Olinda, o desempenho do
alferes. Cerca de uma semana após a exoneração de Castello Branco, falando dos socorros em
Baturité, Figueiredo Júnior registrou: graças à “atividade e energia” de Pompílio Moreira “se
deve não permanecerem insepultos os cadáveres de coléricos”688. Desta forma, a nomeação do
delegado de Baturité reconhecia os feitos do alferes durante o cólera, ao mesmo tempo em que
a exoneração de Castello Branco atestava o mau proceder.
Confirmada a queda de Pedro Castello Branco, O Cearense não perdeu a oportunidade
para criticá-lo em várias edições, dando repercussão ao caso e mote para respostas do Pedro II.
Ambos os jornais usaram, sobretudo, correspondências remitidas de Baturité para defender suas
685 Pedro II, n. 169, 26 jul. 1862, p. 2. 686 Gazeta Official, n. 8, 9 ago. 1862, p. 4 687 O Cearense, n. 1537, 12 ago. 1862, p. 3, grifos da fonte. 688 ANRJ. Ofício 72. 20 ago. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
178
teses sobre a justeza, ou não, da exoneração. Na edição 1537, datada a 12 de agosto de 1862, o
principal jornal liberal do Ceará publicou três textos sobre o cólera em Baturité. Todos
advinham, originalmente, de cartas enviadas da cidade à redação d’O Cearense. A primeira e a
terceira eram anônimas e mordazes nos comentários concernentes ao comportamento de Pedro
Castello Branco. A correspondência datada a 3 de agosto de 1862 reafirmava: “o delegado de
polícia e juiz municipal em exercício, Pedro José Castello Branco”, mantinha-se afastado da
sede de Baturité devido ao cólera. Assegurava, inclusive, que ele não mais se encontrava na
propriedade serrana, pois teria partido “com a família para o sertão”, por “se ter avizinhado o
cólera do seu sítio”. Na sequência, o missivista provocava a redação do Pedro II, ao indicar
relatos, remetidos ao jornal conservador, sobre o mau comportamento de Castello Branco. Não
obstante, como nada fora publicado a respeito, troçava se haveria algum problema tipográfico
a impedir críticas a Pedro Castello Branco no Pedro II: “creio que quando o impresso chegar
ao § [parágrafo] que dele trata inutiliza os tipos da tipografia ou por mais que se lhes meta tinta
não chegam a pegar nenhuma”689.
Ainda segundo a carta, a ausência da autoridade na cidade era agravada por não ter
transferido o exercício das funções exercidas como delegado e juiz municipal para os suplentes
imediatos. Em uma situação calamitosa, com cerca de 922 mortos na cidade e distritos, algumas
“pessoas têm falecido deixando testamentos cerrados e nuncupativos690”. Ora, caberia
justamente ao juiz municipal em exercício validar tais documentos e orientar a execução das
vontades dos testadores. Portanto, a não-presença de Pedro Castello Branco em Baturité
causava problemas, prejudicando, especialmente, os órfãos dos coléricos falecidos:
[...] aqueles [testamentos cerrados] se são abertos não têm o legal
cumprimento, e estes [nuncupativos] não se reduzem logo à publica forma por
falta de juiz, e se falecerem algumas das testemunhas em tempo como o atual,
que não se pode dizer que amanhã ainda serei vivo? É claro o prejuízo dos
pobres órfãos. Achava conveniente que o Exm, Sr. Presidente, desse alguma
providência, mandando entrar em exercício algum dos outros suplentes a
benefício do público691.
689 O Cearense, n. 1537, 12 ago. 1862, p. 3. 690 O testamento “nuncupativo” ou “testamento público” era produzido na presença de um tabelião e de cinco
testemunhas, todas homens, livres e maiores de 14 anos de idade. O testador, tabelião e testemunhas deviam assinar
o documento. Caso o testador não soubesse assinar, outra testemunha firmava o nome dele. O testador colocava,
então, uma cruz ao lado do seu nome, de onde vinha a expressão “assinar em cruz”. Já no testamento “cerrado”,
também conhecido como “solene”, o testador mantinha em segredo absoluto as decisões sobre o destino dos bens
dele, que se tornavam públicas após seu falecimento. FURTADO, Junia Ferreira. Testamento e inventários: a
morte como testemunho da vida. In. PINSKY, Carla Bassanezi; LUCA, Tania Regina de (Orgs.). O historiador e
suas fontes. São Paulo: Editora Contexto, 2009, p. 95. 691 O Cearense, n. 1537, 12 ago. 1862, p. 3.
179
A outra carta anônima, veiculada na mesma edição d’O Cearense, seguia a linha de
desqualificação de Castello Branco. Datada a 4 de agosto de 1862, e publicada na sessão “A
Pedidos”, a carta afirmava serem, no contexto adverso do cólera, poucas as pessoas com
coragem de colocar o bem geral acima dos medos particulares. Em alguns casos, o assombro
tomava feição de egoísmo, com indivíduos afastando-se, inclusive, dos familiares mais
próximos, ante o risco de contaminação:
Nas épocas como esta, em que a desgraça fere a todos, e quase todos os
espíritos se acham indecisos e incapazes de deliberar sobre qualquer coisa,
poucos são os que, armados de coragem, se levantam do meio dessa multidão
desanimada para velar pela saúde e bem-estar público. Cada um recolhe-se o
interior de sua casa para nunca mais ser visto à luz do sol, e muito menos à
escuridão da noite, repele as notícias, porque ao egoísta pouco lhe importa os
sofrimentos da humanidade, contanto que não sofra ele, em muitas vezes o tal
apego que tem à vida, que é com grande sacrífico que se aproxima da esposa
ou dos filhos, quando doentes692.
Após elencar nomes de pessoas que estavam acima das atitudes mesquinhas descritas,
assumindo postura ativa nos socorros aos coléricos baturitenses, a missiva atacava Pedro
Castello Branco, inclusive ironizando palavras publicadas por João Castello Branco no Pedro
II, citadas anteriormente, acerca do caráter enérgico a caracterizar o irmão:
É, porém, para admirar a maneira repreensiva porque se tem portado o
delegado de polícia e 2º suplente em exercício do juiz municipal e órfãos
Pedro José Castello Branco!!!... Na verdade, não nos consta ter havido lugar
algum, em que a autoridade abandonasse o seu posto de honra tão desairosa e
covardemente!... Os interesses dos órfãos, abandonados, estes vagando pelas
ruas e sua moralidade deles sacrificada ao seu desleixo, tudo isto não abala a
sua consciência de ferro, estimulando-o a vir ao menos uma vez a esta cidade,
ou a fazer passar a outro o exercício de suas funções. E ainda há quem diga no
Pedro II número 169 que energia e ação para qualquer terminante medida
não lhes faltam693.
Os números seguintes d’O Cearense continuaram a ofensiva. A reprodução de carta
anônima, datada de 14 de agosto, afirmava: “Só agora depois do tormento foi que o chefe
valente¸ porém, fujão, delegado e juiz municipal de órfãos, Pedro Castello Branco, aparece e
sempre com patacadas, para se mostrar enérgico”694. Nas palavras da correspondência, a
autoridade teria se instalado em “esconderijo” na “serra”. Interpelado por um comandante de
destacamento, Pedro Castello Branco teria orientado o interlocutor a entender-se “com o juiz
de direito e subdelegado Sampaio, e que com ele [Pedro] não contasse, enquanto aqui existisse
692 O Cearense, n. 1537, 12 ago. 1862, p. 3. 693 Idem, grifos da fonte. 694 O Cearense, n. 1538, 19 ago. 1862, p. 4, grifos da fonte.
180
a bicha cólera”695. O arremate da carta, em tom irônico, solicitava a publicação de tais
informações, “para que o governo conheça o delegado daqui e que já tem uma medalha, e uma
felicitação da assembleia provincial para ser valentão lá no Inhamuns”696.
Já a edição 1543 d’O Cearense, trouxe missiva assinada por “O Justiceiro”, pondo em
xeque a informação, publicada no Pedro II, a respeito do agenciamento de indígenas por Pedro
Castello Branco no trabalho de abertura de covas: “Ora pelo amor de Deus, diga-nos Sr.
Castello qual foi as providências que deu Sua Senhoria! Quais foram estes índios que trouxe da
serra e que cavaram sepulturas!”697. Nas palavras do “Justiceiro”, “todo público desta cidade”
conhecia “que logo que Vossa Senhoria soube do cólera aqui, foi para seu sítio na serra, e só
veio para cá uma vez pela moléstia de seu filho”698.
Frente à proliferação de textos desfavoráveis a Pedro Castello Branco, o diário Pedro II
partiu para o contra-ataque, defendendo o ex-delegado das denúncias. Em 26 de setembro de
1862, texto assinado pelo pseudônimo “O Baturitense” veio a público. O autor demonstrava
repulsa pela “demissão do nosso patrício, o Sr. Pedro José Castello Branco, de delegado de
polícia do termo de Baturité”, classificando-a de “irritante e odiosa injustiça”, resultando da
“ominosa pressão de um grupo, que abusando dos mais nobres sentimentos” disputava a “justa
influência, que soube aqui granjear por muitos, e nobres títulos o Sr. Castello Branco, e sua
família”699. O texto não poupava detrações aos inimigos do ex-delegado, sendo descritos como
oportunistas a utilizar o cólera para atingir o adversário:
[...] vis poltrões, intrigando, caluniando, cuspindo asquerosas máculas à honra
do cidadão prestante, e probo, cuja única falta foi confiar-se infantilmente nas
carícias dolosas, nas zumbaias fementidas desses flibusteiros, que se lhe
associando para tirarem partidos de sua boa-fé, trama-lhe nas trevas a queda
para sobre seus destroços se erguerem, e disporem e manejarem a seu talante
os negócios desta terra, tão vazia de espírito público, e balda de cinismo700.
Faltava ao governo provincial, continuava o texto, o reconhecimento dos serviços
prestados por Pedro Castello Branco, “um desses raros empregados policiais, que honram, e
notabilizam o país” pela “acrisolada dedicação ao serviço público”, “ardente zelo, alta
imparcialidade, e atividade inteligente”. Lembrava episódio no qual a personalidade foi
condecorada com a Ordem da Rosa, pela prisão de um assassino atuante nos sertões dos
695 O Cearense, n. 1538, 19 ago. 1862, p. 4, grifos da fonte. 696 Idem, grifos da fonte. 697 O Cearense, n. 1543, 23 set. 1862, p. 1. 698 Idem, p. 2. 699 Pedro II, n. 220, 26 set. 1862, p. 1-2. 700 Idem, p. 2.
181
Inhamuns. Tal precedente seria prova cabal dos méritos e senso de dever de Castello Branco,
tornando sinuoso o contraste com a punição sofrida ao ser exonerado: “Malfadado país, que
mau gênio preside a teus destinos!”. Para “O Baturitense”, o presidente da província fora “presa
de uma indigna e falaciosa mistificação”, dando a entender ter Figueiredo Júnior sido usado
pelos inimigos políticos de Castello Branco, privando Baturité “dos serviços de um cidadão
honesto, inteligente, e prático nos misteres do seu emprego e que o servia há 3 ou 4 anos, sempre
com distinção, e boa nota de outros administradores”. O presidente era representado como
pouco experiente, e assim ludibriado por pessoas que tiravam:
o partido da situação lastimosa, em que a atenção do administrador não podia
fixar-se, e prender-se acuradamente a qualquer objeto, o ilaquearam, e
abusando indignamente de sua boa-fé, de sua pouca prática, e não inteiro
conhecimento do pessoal da província, que rege há poucos meses, lhe
arrancariam um ato, que por si só marearia, imprimiria mesmo um borrão, a
administração, a que pudesse caber a sua imputação moral701.
Partindo para a análise do mérito da demissão de Castello Branco, “O Baturitense”
classificava como “frívolo e banal pretexto” a ausência do então delegado nas ruas da cidade
nos “nefastos dias em que uma viçosa população caía”. Alegava: mesmo estando na serra, ele
permanecia dentro do território do distrito policial. Ademais, asseverava, “sérios interesses, e
graves motivos retinham” Castello Branco no sítio, uma provável alusão à doença e morte de
seu filho por cólera702. Interrogava, então, em tom provocativo, qual lei “assina a um delegado
um assento imóvel na cabeça de seu distrito[?]703”.
Na sequência, ironizava a opinião de que a presença de Castello Branco na cidade traria
alguma alteração no quadro epidêmico. Segundo o texto, a ausência do delegado não trouxe
qualquer consequência sanitária. Ademais, considerava excessivo o seguinte julgamento: não
fosse a energia e a “coragem estoica do juiz de direito da comarca, o Baturité seria um outro
infeliz Maranguape”704, em referência ao lugar onde o cólera agira com mais furor no Ceará.
Ao criticar a narrativa sobre a atuação do juiz Luiz de Cerqueira Lima, “O Baturitense” dava
uma estocada em quem delatou, ao Presidente do Ceará, o sumiço de Castello Branco.
Após lançar dúvidas sobre os méritos filantrópicos do Juiz de Direito, o texto atacava o
subdelegado de Baturité, Raimundo Cícero Sampaio, tratando-o como “o dedo móbil da
traição”, quem “agenciou a destituição de um empregado do quilate do Sr. Castello Branco”. O
701 Pedro II, n. 220, 26 set. 1862, p. 2. 702 O Pedro II, n. 169, 26 jul. 1862, p. 2, registrou a morte de Pedro José Castello Branco Filho por cólera. 703 Pedro II, n. 220, 26 set. 1862, p. 2. 704 Idem, grifos da fonte.
182
subdelegado, nesta versão, ambicionaria tomar o posto de delegado. A desqualificação de
Raimundo Sampaio foi feroz, colocando, também, em xeque a capacidade do Governo
Provincial em nomear substituto à altura do ex-delegado:
Este moçoilo, incapaz de dirigir o mais simples ofício (e prova o que fez
publicar contra o Sr. Pedro, de estranha lavra), verdadeiro analfabeto, e tão
dócil nas mãos de quem nas suas lhe meteu o cargo, [...], cumpriu um odioso
mandato, insultando, em uma peça pública a seu superior, o delegado,
taxando-o de desleixado, inepto, usurpador de seus méritos, invejosos de sua
glória, e outras quejandas belezas oficiais! Terá a vara do comando este nobre
arreganho! Esta insubordinação, esse criminoso, e repreensível excesso o
põem a bom caminho, porque desgraçadamente o nosso governo não cura as
vezes das grandes, quanto mais das pequenas cousas [...]705.
Três dias após a publicação da carta do “Baturitense”, o Pedro II voltou ao assunto,
reproduzindo ofício remetido por Pedro José Castello Branco ao Chefe de Polícia do Ceará,
Francisco de Farias Lemos. Comentando o teor do documento, a redação do jornal classificava
como “injusta” e “acintosa” a demissão do ex-delegado, fruto dos “torpes manejos de seus
inimigos”. “É esta a sorte do empregado honrado e encarecido no serviço do país?”, interrogava
em tom irônico. No ofício, Castello Branco dava ciência ao chefe imediato de já ter entregado
“o expediente ao indivíduo que me substituiu”, fazendo, também, balanço da atuação dele no
cargo. Afiançava estar o termo de Baturité “livre de criminosos” e que nas “quadras eleitorais
por qual passamos houve a maior calma possível”. Acrescentava: as prisões e punições por ele
realizadas foram tomadas “sem distinção de cores políticas”706.
Após descrever quadro tão benfazejo, nítida estratégia de autoelogio, Castello Branco
classificava como “um pouco caprichosa” a demissão sofrida. Punha a conta da mesma no
subdelegado da cidade, pois teria “feito ultimamente acusações por haver eu prendido
incontinente um criminoso de morte que ele havia solto, do termo do Icó, Vicente Ferreira
Lima”707. Se a publicação do “Baturitense” apresentava o subdelegado Raimundo Sampaio
como parvo e movido pela ambição de tornar-se delegado, o ofício de Castello Branco acusava-
o de conivência com criminosos, aprofundando a detração do adversário.
Sobre permanecer longe da cidade durante o surto do cólera, o ex-delegado alegava ter
estado “dentro do termo”, a três léguas de distância, donde teria prestado “serviços aos arraiais
do Mulungu, Correntes e Piranás, prevenindo que o mal se não desenvolvesse com intensidade
aos referidos lugares”. Teria, inclusive, mandado “enterrar os mortos, em número de 36, sem
705 Pedro II, n. 220, 26 set. 1862, p. 2, grifos da fonte. 706 Pedro II, n. 223, 30 set. 1862, p. 2. 707 Idem.
183
que o governo despendesse dinheiro dos cofres públicos”. Ao citar o pecúlio gasto por conta
própria, Castello Branco atacava seus “inimigos”, aproveitando a “quadra epidêmica para me
desconceituarem perante o governo, porque temi ser vítima da epidemia na mudança do ar, pois
me achava ao tempo em que o mal se desenvolveu na minha fazenda de café em cima da serra”.
Poupando de críticas apenas o juiz de direito, “que sempre se mostrou zeloso a favor dos
indigentes”, insinuava: muitos dos que o criticaram e contribuíram para a exoneração
almejavam “honras por mandar enterrar os mortos à custa do governo”. Desta forma, os
adversários eram representados como indignos e sem honra, “ganhadores de dinheiro”. Para
além dos “salários”, desejavam “títulos” pela atuação desempenhada na conjuntura epidêmica,
quando “nada mais fizeram do que cumprirem realmente suas obrigações”708.
Diante das informações apresentadas ao longo deste tópico, especialmente na exibição
dos casos envolvendo os delegados de Milagres e Baturité, ficam mais claras as razões da crítica
ou defesa de delegados terem ganhado espaço nos jornais publicados em 1862. A conjuntura
deu visibilidade às boas e más ações das autoridades policiais no desempenho das funções frente
ao cólera. Todavia, a compreensão mais ampla da questão exige reflexão sobre o lugar político
ocupado por delegados e subdelegados na sociedade brasileira do período.
Com a reforma do Código de Processo Criminal, no ano de 1841, em meio à conjuntura
pós-Maioridade de revisão das leis regenciais descentralizadoras, o cargo de delegado foi
instituído. Segundo Miriam Dolhnikoff, o escopo básico da reforma foi esvaziar os juízes de
paz – que, por serem eleitos localmente, eram vistos como agentes do localismo – das
atribuições referentes ao processo criminal, a fim de favorecer maior centralização do aparato
judicial709. Assim, competências, como a realização de inquéritos, por exemplo, passaram às
mãos dos delegados e subdelegados, autoridades nomeadas pelo executivo.
Para Richard Graham, o chefe de polícia, delegados e subdelegados tornaram-se os
assistentes mais importantes dos presidentes provinciais. Entre a alçada daquelas autoridades
estava o poder para “prender suspeitos, emitir ordens de busca, ouvir testemunhas e redigir o
processo contra acusados – a única base para o julgamento – assim como julgar alguns casos
menores”. Além do mais, partia deles a nomeação de inspetores de quarteirão, o recrutamento
compulsório para o Exército e Guarda Nacional, e, não menos importante, a partir de lei
eleitoral de 1842, a supervisão da votação nas mesas eleitorais e a manutenção da ordem em
tais situações, dando às autoridades policiais as ferramentas para atuar de modo partidário710.
708 Pedro II, n. 223, 30 set. 1862, p. 2. 709 DOLHNIKOFF, op. cit., 2005, p 13.5. 710 GRAHAM, op. cit., 1997, p. 79-80.
184
A ideia da “manutenção da ordem” era essencial nos jogos eleitorais do Império, pois
servia como justificativa para atitudes repressoras das autoridades. Se uma das atribuições dos
delegados era justamente garantir a ordem nos locais de votação, qualquer atitude mais ousada
por parte do outro partido poderia ser interpretada como desordem, permitindo assim o uso da
força na repressão aos opositores. Norteados por “impulsos contraditórios”, segundo Graham,
os pleitos eleitorais do Brasil deviam ser “ordeiros e livres”, não obstante a obrigatoriedade da
vitória do partido do Governo711.
Para o sucesso efetivar-se, os delegados, independentemente de serem liberais ou
conservadores, usavam todas as estratégias possíveis e, não raro, tornavam-se protagonistas de
cenas sangrentas, como na eleição para vereadores e juiz de paz em Crato em 1856, culminando
com a morte de um eleitor liberal na Matriz da Penha712, ou no massacre de quatorze pessoas
durante as eleições em Telha, no ano de 1860713, casos já narrados no primeiro capítulo.
Pelo exposto, fica claro: possuir o cargo de delegado significava deter poderes
consideráveis para garantir benesses para si e para seu grupo político-partidário, daí a razão do
ocupante de tal função ser, geralmente, visto com maus olhos pelos segmentos políticos em
situação de oposição. Não por acaso, quantidade significativa de textos da imprensa cearense
da segunda metade do século XIX tinha como mote denúncias de abusos perpetrados por
delegados e subdelegados de polícia.
Com a chegada do cólera, os jornais encontraram oportunidade extraordinária para dar
continuidade à política de denúncias contra desafetos. O período de medo e os problemas
decorrentes da mortalidade por cólera davam espaço para a produção de textos que analisavam
a atuação das instituições e homens públicos no cenário de crise.
Defensor dos mais aguerridos de Figueiredo Júnior na celeuma envolvendo a demissão
do inspetor de tesouraria, analisada no capítulo anterior, O Sol não deixou de criticar um dos
auxiliares principais da presidência na gestão da crise epidêmica na capital, Francisco Fidelis
Barroso, delegado de polícia e juiz municipal substituto. A autoridade teria superado sua
jurisdição ao intervir em assunto delicado no município de Maranguape: a adoção dos filhos de
“um tal Demétrio”, falecido por conta do cólera no distrito Macacos.
Sua Senhoria deve saber, que ou seja na qualidade de juiz municipal ou de
delegado, não pode expedir ordem à uma autoridade daquele outro termo para
ser cumprida senão por precatória, e que depois disso é autoridade
incompetente para distribuir órfãos à soldada, que são de uma jurisdição
711 GRAHAM, op. cit., 1997, p.107. 712 O Araripe, n. 61, 13 set. 1856, p. 2-3. 713 FREITAS, op. cit., 2011, p. 122-124.
185
diversa, e se o tem feito como nos consta é por um abuso, que cumpre ser
corrigido para evitar conflitos de jurisdição. A lei e não sua vontade deve guiar
seus passos na distribuição da justiça. Cada autoridade tem limites territoriais,
além dos quais não pode ir o seu poder sem culposa invasão714.
Se o delegado de Fortaleza foi acusado de exceder o espaço de jurisdição, o de Baturité,
Pompílio da Rocha Moreira – o substituto do polêmico Pedro José Castello Branco –
descumpriu orientação emanada do Governo Imperial. A 10 de julho de 1862, o Ministro da
Guerra, Polydoro da Fonseca Quintanilha Jordão, remeteu ofício ao presidente do Ceará
determinando a suspensão dos recrutamentos militares nos locais onde o cólera aparecesse.
Demonstrando obediência à orientação da Corte, Figueiredo Júnior informou, em ofício de 28
de julho, que o recrutamento “tem estado quase paralisado”, por conta da epidemia. Afirmava
que desde abril, quando confirmou-se a manifestação do cólera em Icó, apenas vinte e um
homens tinham sido recrutados para o Exército e outros quatro para a Marinha, apesar do
contingente fixado para o Ceará ser “de 384 para o Exército e 40 para Armada, faltando para
completar o dito contingente 305 para o Exército e 36 para a Marinha”715.
Apesar de Figueiredo Júnior ter indicado a paralisação dos recrutamentos, o novo
delegado de Baturité continuava a recrutar homens, como demonstra uma correspondência da
Presidência, datada a 28 de agosto de 1862, reproduzida na Gazeta Official716. É importante
recordar: os delegados tinham a prerrogativa de recrutar, de forma compulsiva, tanto para o
Exército quanto para a Guarda Nacional. Essa atribuição era usada, “muitas vezes por capricho
e inimizades”717, como arma para perseguição de adversários, especialmente em períodos
eleitorais. Mesmo com a ordem de suspensão em vigor, em Baturité, o delegado Pompílio
Moreira recrutou “Marcolino da S.”. Aparentemente, o recruta reagiu ao ato, sendo por isso
“recolhido à cadeia”. Diante da atitude da autoridade policial, Figueiredo Júnior emitiu ordem,
“declarando que deve ser posto em liberdade o recruta Marcolino da S.”, lembrando ao
recrutador: “segundo as ordens Imperiais deve ficar suspenso o recrutamento nos lugares em
que reinar o cólera morbo”718.
Conclui-se, portanto, que a visibilidade dada à ação das autoridades policiais na
imprensa cearense de 1862, no contexto do cólera, não deixou de indiciar o papel estratégico
ocupado por aquelas nos jogos políticos e eleitorais do Brasil da segunda metade do oitocentos.
714 O Sol, n. 291, 31 ago. 1862, p. 2. 715 ANRJ. Ofício 60. 28 jul. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 716 Gazeta Official, n. 14, 30 ago. 1862, p. 2. 717 GRAHAM, op. cit., 1997, p. 89-90. 718 Gazeta Official, n. 14, 30 ago. 1862, p. 2.
186
Desta forma, evidenciam-se os usos políticos do cólera pela imprensa, expostos ao longo deste
tópico, no ataque ou defesa dos ocupantes dos principais postos policiais no Ceará. A seguir,
tratarei das comissões sanitárias, ou de socorros, instituídas pela Presidência do Ceará,
demonstrando como também foram alvo de intensas disputas políticas na conjuntura epidêmica.
3.2 - “Lembrou-se de incumbir as medidas de salvação pública a juntas”
Como já dito no primeiro capítulo, Icó foi a porta de entrada do cólera no Ceará de 1862.
As primeiras mortes na cidade foram reportadas a partir de 5 de abril719. Mas, desde janeiro, as
autoridades locais demandavam ações da Presidência da Província do Ceará, haja vista o risco
iminente de contaminação do município, fronteiriço com trechos da Paraíba então
contaminados pelo cólera.
O jornal Pedro II, à época folha oficial do governo provincial, reproduziu ofício datado
a 4 de fevereiro com mostras das medidas iniciais direcionadas a Icó. Em retorno a ofício de 8
de janeiro, enviado pela Câmara Municipal icoense, “pedindo providências contra a epidemia
do cólera morbo, de que se acha ameaçada a população”, o vice-presidente José Antônio
Machado – então no exercício do executivo provincial – informou a decisão de nomear
“comissão sanitária, a quem remeto porção de remédios, e dou autorização para contratar os
dois médicos aí existentes”, para encarregarem-se “do tratamento dos doentes, e prestarem aos
mesmos todos os recursos de que carecerem, montando um lazareto e providenciando acerca
de tudo o mais que for preciso para que não faltem à população os socorros públicos”720. José
Antônio Machado sinalizava, ainda, enviar outro médico “dentre os que existem na capital”,
caso a epidemia se desenvolvesse “e com tal intensidade que reclame esta providência”721.
Por outros ofícios da mesma data, a presidência comunicou-se, individualmente, com as
pessoas escolhidas para compor a comissão sanitária, apontando também o escopo de atuação
esperado para os comissionados na hipótese de aparecimento do cólera no Icó722. A lista dos
nomeados reunia sacerdotes, militares, funcionários públicos, médicos e alguns dos indivíduos
mais abastados da localidade: Luiz José de Medeiros (juiz de direito da comarca), Bernardo
Duarte Brandão (bacharel em direito, filho de rico proprietário rural, posteriormente, deputado
719 STUDART, op. cit., 1997b, p. 54 720 Pedro II ̧n. 61, 14 mar. 1862, p. 1. 721 Pedro II ̧n. 61, 14 mar. 1862, p. 1. 722 Pedro II ̧n. 61, 14 mar. 1862, p. 1.
187
geral e agraciado com título de Barão do Crato723), Frutuoso Dias Ribeiro (promotor público724
e deputado provincial725) os médicos Pedro Théberge e Rufino Antunes d’Alencar (futuro
deputado provincial726), major Joaquim Pinto Nogueira (delegado de polícia), coronel
Francisco Manoel Dias (comandante superior do Icó727), tenente coronel Casimiro Pinto
Nogueira, major José Frutuoso Dias (vereador728 e esposo de Glória Fernandes Vieira Dias,
filha do Visconde de Icó729), padre Miguel Francisco da Frota (vigário paroquial) e padre
Manoel Caetano da Silva.
A cada um dos onze componentes da comissão de socorros, José Antônio Machado
instava valores filantrópicos e patrióticos. Falando ao delegado de Icó, o vice-presidente
afirmava: o comissionado “não se recusará ao desempenho dos deveres que por esse cargo lhe
são impostos”. Machado solicitava, inclusive, algo difícil de ser garantido numa crise
epidêmica: a comissão deveria evitar o medo generalizado, não poupando “esforços de
qualidade alguma” para incutir “coragem no ânimo da população, caso apareça a epidemia do
cólera morbo”. Em outra comunicação com os indicados, o vice-presidente reforçou tal ponto:
No caso de que essa epidemia aí apareça, cumpre que [...] considerem como
um dos principais deveres o evitar que a população deixe-se dominar pelo
terror, que a experiência tem mostrado servir somente para aumentar a
influência e devastação do mal, tornando-se ao contrário muito menos fatal e
até benigno quando encontra na população coragem e firme vontade de
combatê-lo730.
A recomendação traz indícios de crença antiga, na qual o abatimento moral numa quadra
epidêmica era interpretado como algo a predispor os indivíduos à contaminação731. Isso era
validado pelo discurso médico oitocentista, ansioso por disciplinar até mesmo o dobre de sinos
pelos finados, pois tais sons atingiriam os “nervos” da população, debilitando-a ao ponto de
favorecer o adoecimento732.
Ante o perigo do advento do cólera em Icó, a presidência nomeou, ainda no começo de
fevereiro de 1862, comissões menores em Lavras, Telha e Pereiro, localidades circunvizinhas
723 STUDART, op. cit., 1910, p. 178. 724 Idem, p. 337. 725 PAIVA, op. cit., 1979, p. 89. 726 Idem, p. 100. 727 Pedro II, n. 28, 4 fev. 1862, p. 1. 728 Idem. 729 STUDART, op. cit., 1913, p. 117. 730 Pedro II ̧n. 61, 14 mar. 1862, p. 1. 731 DELUMEAU, op. cit., 1989, p. 125. 732 REIS, op. cit., 1991, p. 264-265.
188
àquela cidade733. Desta forma, no segundo mês do referido ano, a presidência do Ceará instituiu
as quatro primeiras comissões sanitárias destinadas ao socorro das localidades ameaçadas pelo
cólera, seguindo padrão comum nas províncias brasileiras em crises sanitárias734.
Iniciado o mês de março, com o acréscimo das notícias a respeito dos surtos de cólera
na Paraíba e Pernambuco, a Presidência do Ceará tratou de nomear comissões sanitárias –
também chamadas, em documentos do período, de “comissões de socorros” ou “juntas
sanitárias” - no Cariri, fronteira sul da província. A de Crato foi nomeada a 10 de março735,
reunindo dez homens proeminentes da cidade. Dela, faziam parte: Antônio Manuel de Medeiros
(médico enviado de Fortaleza pelo governo provincial), Francisco Rodrigues Sette (juiz de
direito da comarca), Gervásio Cícero d’Albuquerque Mello (promotor público, deputado
provincial e ex-deputado geral), Antônio Luiz Alves Pequeno (dono de engenho de rapadura,
comerciante e ex-presidente da Câmara Municipal), Miguel Xavier Henriques d’Oliveira
(presidente da Câmara Municipal e ex-deputado provincial), Manoel Coelho Bastos do
Nascimento (juiz municipal), Benedicto da Silva Garrido (boticário), Tenente Antônio Maria
de Castro (comandante de destacamento), Pedro José Gonçalves da Silva (comerciante) e
Manuel Joaquim Aires do Nascimento (vigário paroquial e ex-deputado provincial). Na mesma
data da composição da junta de Crato, o vice-presidente nomeou outras três em vilas do Cariri:
Barbalha, Missão Velha e Milagres736.
No mês de abril de 1862, com a confirmação do estouro do cólera em Icó e rápido
alastramento da doença pelas cercanias, o governo provincial dividiu Fortaleza em seis distritos.
Em cada um, instituiu comissão sanitária própria, com cinco membros e encabeçada por um
médico737. Logo na sequência, José Antônio Machado emitiu portarias formando comissões de
733 Pedro II ̧n. 61, 14 mar. 1862, p. 1. 734 Quando em 1849 estourou a epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro, o governo imperial nomeou uma
“Comissão Central de Saúde Pública”. Sob proposta desta, criou “comissões paroquiais” em todas as freguesias
da Corte. Tais comissões teriam “o dever de velar, durante a epidemia, pela fiel observância das leis, ordens e
providências relativas à saúde pública e o de visitar gratuitamente todos os doentes pobres da sua freguesia”
(BARBOSA; REZENDE, op. cit., 1909, p. 58). Após a criação da Junta Central de Higiene Pública, o recurso a
criação de comissões de socorros tornou-se medida recorrente, uma forma de tentar garantir, dentro das limitações
existentes, a coordenação dos serviços sanitários em época de crise. Em minha dissertação de mestrado, por
exemplo, apresentei sucinto apanhado de como algumas províncias responderam às manifestações epidêmicas do
cólera em 1855 e 1856 criando comissões sanitárias nas localidades (ALEXANDRE, op. cit, 2010, p. 32-46). No
mesmo trabalho, mostrei como na província do Ceará era recorrente a instalação de comissões do tipo em surtos
de febre amarela, varíola e outras doenças. Aliás, em 1856, comissões sanitárias foram criadas no território
cearense por conta da manifestação do cólera em províncias fronteiriças. ALEXANDRE, op. cit., 2010, p. 47-56. 735 Pedro II, n. 66, 21 mar. 1862, p. 2. 736 Idem. 737 Pedro II, n. 96, 29 abr. 1862, p. 3.
189
norte a sul da província738. Desta forma, em fins de abril, as comissões de socorros instaladas
no Ceará tinham a seguinte configuração:
Quadro 2
Comissões sanitárias criadas pelo Governo Provincial do Ceará entre fevereiro e abril de 1862
Localidade Composição Nº. de
membros
Fortaleza
Distrito 1: José Lourenço de Castro; Manoel Soares da Silva
Bezerra; José Smith de Vasconcelos; João Severiano
Ribeiro; Luiz Antônio da Silva Viana.
30
Distrito 2: José Joaquim Gonçalves de Carvalho; Francisco
de Farias Lemos; João Antônio Machado; Francisco Fidelis
Barroso; José Nunes de Mello.
Distrito 3: Manoel Mendes da Cruz Guimarães; Thelesphoro
Caetano d’Abreu; Rodrigues José Ferreira; Victoriano
Augusto Borges; José Joaquim Carneiro.
Distrito 4: Jaime Gomes Robson; Antônio Nogueira de
Braveza; Severiano Ribeiro da Cunha; José Mendes da Cruz
Guimarães; Manoel Antônio da Rocha Júnior.
Distrito 5: Antônio Domingues da Silva; Gonçalo
d’Almeida Souto; Cândido José Pamplona; José Maximiano
Barrozo; Manoel Caetano de Gouvêa.
Distrito 6: Joaquim Antônio Alves Ribeiro; Manoel Franco
Fernandes Vieira; Theofilo Rufino Bezerra de Menezes;
Thomaz Pompeu de Souza Brazil; Francisco Coelho da
Fonseca.
Icó Joaquim Pinto Nogueira; Luiz José de Medeiros; Bernardo
Duarte Brandão; Frutuoso Dias Ribeiro; Pedro Théberge;
Rufino Antunes d’Alencar; Francisco Manoel Dias;
Casimiro; Pinto Nogueira; José Frutuoso Dias; Miguel
Francisco da Frota; Manoel Caetano da Silva.
11
Telha Cândido Antônio Barreto; Antônio Luiz de Vasconcelos
Drumond; Arlindo Cândido Ayres; Cardim Ferreira Lima;
Ignácio Ferreira da Gama.
5
Lavras Presidente da Câmara Municipal*; Ildefonso Correia Lima;
Luiz Antônio Marques da Silva Guimarães; Raymundo
Thomaz de Aquino; José Joaquim de Sousa Brasil.
5
Pereiro Antônio M. Porto; Daniel Fernandes Moura; José Manoel
dos Santos Brígido; João de Holanda de Albuquerque
Cavalcante; Joaquim Xavier Maia.
5
Crato Antônio Manuel de Medeiros; Francisco Rodrigues Sette;
Gervásio Cícero d’Albuquerque Mello; Antônio Luiz Alves
Pequeno; Miguel Xavier Henriques d’Oliveira; Manoel
Coelho Bastos do Nascimento; Benedicto da Silva Garrido;
Antônio Maria de Castro; Pedro José Gonçalves da Silva;
Manuel Joaquim Aires do Nascimento.
10
738 Pedro II, n. 98, 1 mai. 1862, p. 1-2.
190
Barbalha Antônio Manoel de Sampaio; José Pacifer de Sousa Santo
Maior; João Quesado Filgueiras; Pedro de Castro Silva;
Padre João Francisco Nogueira da Costa; Raymundo José
Camelo; Antônio Faustino de Figueiredo Genro; Lúcio
Aurélio Brígido dos Santos.
8
Missão Velha Aurélio Arnaut Formiga; Joaquim Jussilino Viriato Formiga;
Bernardino Gomes d’Azevedo; João Antônio de Jesus; Pedro
Antônio de Jesus; Manoel Homem de Figueiredo; João
Marinho Falcão.
7
Milagres Manoel de Jesus da Conceição Cunha; Cesário Claudiano
d’Oliveira Araújo; Meceno Cladualdo Linhares; Domingos
João Dantas Rothéa; Francisco Gonçalves Linhares; Antônio
Furtado de Figueiredo.
6
Pacatuba Joaquim Victoriano d’A. Pinheiro; José Antônio Gonçalves
da Justa; José Ignacio de Morais Navarro; Ignácio Gaspar
d’Oliveira; Juvenal Galleno da Costa e Silva; Chrisanto
Pinheiro de Almeida e Mello; Antero da costa Albano;
Estevão José d’Almeida.
8
Jubaia Subdelegado do distrito; Capelão; Francisco; José Pereira
Pacheco; José Bento Taveira; Vicente Fernandes do
Nascimento.
5
Maranguape Presidente da Câmara; Vigário da freguesia; Delegado de
Polícia; Marcos José Theophilo; Joaquim Felício d’Almeida
e Castro; Ignacio Pinto d’Almeida e Castro; Joaquim José de
Souza Sombra; Manoel Francisco de Paula Barros;
Raymundo Francisco da Costa Tavares; Antônio Ribeiro do
Nascimento; Agostinho Luiz da Silva.
11
Aquiraz Presidente da Câmara; Vigário; Delegado; Vicente José de
Farias; Luiz Ignacio d’Oliveira Maciel; Manoel da Silva
Menezes.
6
Cascavel Juiz Municipal do termo; Vigário; Sebastião S. Branquinho;
João Segismundo Liberal; Luiz Liberato Ribeiro; José
Marcos de Castro Silva.
6
Aracati Domingos José Pereira Pacheco; Irineu Brasiliano de Castro
Silva; Juiz de direito da comarca; Juiz municipal do termo;
Promotor público; Hyppolito C. Pamplona; Manoel José
Pereira Pacheco; Antônio Ferreira dos Santos Caminha; Tito
José de Castro Silva; José Teixeira Castro.
10
São Bernardo Juiz municipal; Vigário; Lino D. R. de Carvalho; Francisco
das Chagas Araújo; Antônio Ayres de Miranda Henrique;
João de Souza Neves Pinto.
6
Riacho do
Sangue
Vigário; Manoel Pinheiro d’Almeida; João Rodrigues
Nogueira Pinheiro; Pedro Pinheiro Landim; Simeão Correia
Lima; José Bernardo Bezerra Menezes Júnior.
6
Quixeramobim Juiz de direito; Juiz municipal; Antônio Pinto de Mendonça;
Francisco José de Mattos; José Amaro Fernandes; Cândido
Franklin do Nascimento.
6
Quixadá Claudino Pereira de Farias; Antônio Ricardo B. Suçuarana;
Miguel Francisco de Queiroz; Antônio Mathias; Laurentino
Belmont de Queiroz; Professor público.
6
Jardim Juiz de direito; Juiz municipal; Manoel da Cruz R. Carvalho;
Berlamino G. de Sá Roris; João Alves Couto.
5
Saboeiro Juiz de direito; Vigário; Promotor público; José Fernandes
Vieira; Manoel de Oliveira Lima; Manoel da Costa Braga.
6
191
Inhamuns Manoel Marrocos Telles; Antônio Pinto B. Cordeiro; Juiz de
direito da comarca; Presidente da Câmara; Vigário da
freguesia; Juiz municipal do termo; Delegado de polícia;
Joaquim I. d’A. Chaves.
8
Maria Pereira Presidente da Câmara; Vigário; Delegado; Augusto Olegário
da Silva; Rodrigo Francisco Vieira e Silva; Francisco de
Góes e Mello.
6
Baturité Joaquim Barbosa Cordeiro; Juiz de direito; Vigário;
Promotor público; Delegado; José Pacífico da Costa Caraca;
Manoel Antônio de Oliveira; Antônio Francisco da Silveira;
João Pereira Castello Branco.
9
Canindé Presidente da Câmara; Vigário; Juiz municipal; Delegado;
Joaquim José da Cruz Saldanha; Manoel Luiz de Magalhães.
6
Imperatriz Juiz de direito interino; Vigário; Promotor público; Bento
Antônio Alves; Anastácio Francisco Braga; Antônio
Joaquim de Almeida; Manoel Ferreira Chaves; José de Souza
Pereira Júnior; Prismilão Camerino de Souza.
9
São Francisco Vigário; João Ferreira Gomes de Miranda; Manoel
Rodrigues Barreto; Ruffino Ferreira Gomes; José Teixeira
Bastos de Queiroz.
5
Acaracu Presidente da Câmara; Vigário; Juiz municipal; Francisco
Theofilo Ferreira; João de Araújo Costa.
5
Sobral Juiz de direito; Presidente da Câmara; Vigário; Promotor
público; Delegado; Francisco de Paula Pessoa; Joaquim
Ribeiro da Silva; José Saboia; Domingos José Pinto Braga
Junior; Vicente Ferreira de Arruda.
10
Santa Quitéria Vigário; Thomas Antônio de Souza; Lúcio Pinto de
Mesquita; João Antônio de Mesquita Magalhães; Fabio de
Moraes Monteiro.
5
Granja Juiz de Direito; Juiz municipal; Vigário; Zeferino Gil Pires
da Motta; Joaquim Francisco Garcez dos Santos.
5
Vila Viçosa Juiz de direito; Vigário; Promotor público; Augusto Pontes
de Aguiar; João Severiano da Silveira; Vicente do E. S.
Magalhães.
6
Ipu Pedro de Albuquerque Autran; Francisco Barboza Cordeiro;
Vigário; José Saboia de Castro Silva; Antônio Marinho
Crencêncio; Manoel José Coelho; José Bernardo Teixeira;
José de Araújo Costa.
8
Nº de Comissões:
38
Nº de pessoas nomeadas:
250
Fontes: Quadro elaborado a partir das portarias da Presidência da Província do Ceará publicadas nas seguintes
edições: Pedro II ̧n. 61, 14 mar. 1862, p. 1; Pedro II, n. 66, 21 mar. 1862, p. 1-2; Pedro II, n. 96, 29 abr. 1862, p.
3; e Pedro II, n. 98, 1 mai. 1862, p. 1.
* Em algumas das portarias, os nomes dos indicados não aparecem, sendo substituídos pela nomenclatura dos
cargos que ocupavam na localidade.
O quadro demonstra a existência de 38 comissões indicadas pela presidência da
província no primeiro quadrimestre de 1862, distribuídas por 33 localidades. Excetuando a
capital da província, com 30 comissionados divididos em 6 distritos, as comissões então
nomeadas no Ceará tiveram entre 5 e 11 membros instituídos por localidade. As comissões com
192
9 a 11 membros estavam alocadas nas cidades existentes, à época, no interior da província:
Aracati, Icó, Sobral, Crato e Baturité, com exceção de Quixeramobim, com apenas 6
participantes. Já as vilas – fora Maranguape, com 11 designados, provavelmente, pela
proximidade com Fortaleza – e povoados tiveram, na maioria, entre 5 e 6 comissionados. Ao
todo, 250 pessoas foram escolhidas para coordenação dos socorros na quadra epidêmica, com
capilaridade por, praticamente, todo o território provincial.
No relatório apresentado quando da posse de Figueiredo Júnior na Presidência da
Província, a 5 de maio de 1862, o vice-presidente José Antônio Machado fez resumo da situação
sanitária, destacando as medidas adotadas em Fortaleza e no interior, com destaque para a
criação das juntas e a autorização para a instituição, por parte destas, de enfermarias para
tratamento dos pobres acometidos pelo cólera, a serem retirados de suas “insalubres” casas:
Em todas as cidades, vilas e povoados mais importantes da província, nomeei
comissões de socorros; nos lugares mais povoados e onde por conseguinte o
facultativo não pode levar as suas visitas a todos que delas necessitam em suas
próprias casas, autorizei o estabelecimento de enfermarias, onde sejam
tratados os indigentes, que assim acharão um abrigo contra a intempérie do
tempo a que ficariam expostas em suas habitações insalubres739.
Como demonstrei no primeiro capítulo, o novo presidente do Ceará achou excessiva a
autorização dada por Machado às comissões para a criação das enfermarias provisórias, bem
como criticou decisões e gastos efetivados pelo antecessor na administração da crise na capital
e interior. Figueiredo Júnior decidiu desautorizar as comissões sobre a questão das enfermarias,
condicionando a criação delas à licença prévia da Presidência da Província. Ademais, passou a
orientar as comissões a gastar o menos possível, bem como a promover subscrições próprias –
recolhendo dinheiro entre as pessoas mais afortunadas – como forma de aliviar os gastos do
governo com o socorro aos coléricos740. Tais orientações foram uma das questões usadas pelo
Pedro II para censurar o papel desempenhado pelo presidente na administração da quadra
epidêmica, tema estudado no segundo capítulo.
Todavia, as comissões de socorros também foram alvo de disputas e usadas com fins
pessoais e políticos. As ações dos comissionados tiveram destaque significativo na conjuntura
provincial daquele ano, ganhando espaço na documentação oficial e nos relatos da imprensa.
739 MACHADO, José Antônio. Relatório com que o 4º vice-presidente comendador José Antônio Machado passou
a administração da província ao excelentíssimo senhor doutor José Bento da Cunha Figueiredo Júnior, em 5 de
maio de 1862. Ceará: Typographia Cearense, 1862, p. 4. Disponível no site:
http://ddsnext.crl.edu/titles/166#?c=0&m=34&s=0&cv=1&r=0&xywh=-1414%2C-1%2C4859%2C3420. Acesso
a 23 set. 2019. 740 ANRJ. Ofício n. 41. 26 mai.1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
193
As opiniões atinentes à atuação delas – especialmente sobre a eficácia ou fracasso das decisões
e a respeito da desenvoltura individual dos designados para integrá-las – foram diversas. Houve,
do mesmo modo, denúncias sobre uso indevido de recursos e, mesmo, apropriação destes por
parte de comissionados, como mostrarei mais à frente.
Ora, a própria composição das comissões deu margem para agitações políticas. As 250
pessoas, cujos nomes elenquei no quadro anterior, representavam parcela proeminente das elites
locais. Nela encontramos juízes de direito, juízes municipais, promotores, delegados,
subdelegados, oficiais militares e da Guarda Nacional, clérigos, deputados provinciais e gerais,
diplomatas, vereadores, médicos, proprietários rurais, comerciantes, entre outros. Em Sobral,
um detentor do cargo eletivo mais alto do legislativo imperial foi designado membro da
comissão: o senador Francisco de Paula Pessoa741. Homens que figuravam na lista de vice-
presidentes da província também compunham o rol dos nomeados para as comissões. Pode-se
concluir, portanto: ter o nome lembrado pelo governo quando da composição das comissões de
socorros, denotava reconhecimento de conceito e status. Antagonicamente, não ser incluído no
rol delas poderia ser interpretado como sinal de desprestígio social e político.
Na composição das juntas sanitárias do Ceará de 1862, foi comum a presença de
inimigos partidários. Numa das 6 comissões de Fortaleza, o vice-presidente José Antônio
Machado listou Manoel Franco Fernandes Vieira – que, como sabemos, se tornaria o maior
inimigo do presidente Figueiredo Júnior – e o padre Thomaz Pompeu de Souza Brasil742. O
primeiro era membro do clã conservador “carcará” e editor do diário Pedro II, enquanto o outro
liderava o Partido Liberal e era proprietário d’O Cearense. Ao designar membros de diferentes
partidos para as comissões, quiçá, o governo provincial pretendesse ampliar a atuação e
aceitação delas, bem como passar a mensagem de estarem acima dos interesses partidários, a
serviço da população desvalida e alarmada pelo cólera. Se era este o propósito, ele esteve longe
de ser concretizado na prática.
Na comissão de socorros do Crato, por exemplo, figuravam os nomes dos rivais Antônio
Luiz Alves Pequeno e Miguel Xavier Henriques d’Oliveira, líderes, respectivamente, dos
partidos Liberal e Conservador na cidade. Em 1862, Miguel Xavier ocupava a presidência da
Câmara Municipal e era proprietário da Gazeta do Cariri743. Já Antônio Luiz, era das pessoas
mais ricas da cidade, sendo um dos principais apoiadores do semanário O Araripe.
741 Pedro II, n. 98, 1 mai. 1862, p. 2. 742 Pedro II, n. 96, 29 abr. 1862, p. 3. 743 Jornal conservador, fundado em Crato em 1860, circulou por cerca de três anos. Infelizmente, nenhuma coleção
dele foi conservada. Sabe-se da circulação do jornal pelos textos que O Araripe publicava em resposta ao
194
Em 13 de setembro de 1862, O Araripe fez, na primeira página, ataques diretos a Miguel
Xavier, criticando-o, junto a outras pessoas da cidade, pelo comportamento desempenhado
durante o surto de cólera em Crato. O artigo d’O Araripe, provavelmente escrito por João
Brígido dos Santos, recriminava correspondência publicada no Pedro II, de autoria de Francisco
Rodrigues Sette, juiz de direito de Crato e presidente da comissão de socorros. Segundo O
Araripe, Sette teria se queixado dos procedimentos dos padres Lima Seca e Silva Sousa durante
a epidemia, acusando o primeiro de ter se negado a ministrar os últimos sacramentos ao padre
João Marrocos – história narrada no primeiro capítulo – e o segundo de ter fugido da cidade,
“tomado de pânico”744.
O Araripe não negava os episódios envolvendo os dois padres. Pelo contrário: frisava
terem todas pessoas os “sentimentos molestados” diante da verdade dos fatos. Lançava,
inclusive, novas denúncias sobre o clã dos Lima. O semanário acusava outro sacerdote da
família, o padre Lima Verde, de ter negado socorro ao próprio irmão, Antônio Ferreira Lima,
consentindo que deixasse a vida, junto com “primos, cunhados, sobrinhos e uma infinidade de
parentes”, sem confissão. Enquanto os familiares finavam, Lima Verde optara por ficar
“impassível” em seu sítio, “onde o cólera nunca penetrou”, alfinetava o jornal745.
Após delatar os padres Lima Seca e Lima Verde de falharem nas obrigações religiosas,
O Araripe perguntava a razão do Dr. Sette não ter incluído na comunicação do Pedro II os
nomes de outros indivíduos e autoridades implicadas em atos igualmente reprováveis durante
o surto epidêmico. Na lista dos que teriam procedido desta forma, O Araripe incluiu o nome
de Miguel Xavier Henriques d’Oliveira: “como presidente da câmara e como membro da
comissão de socorros, nunca saiu de seu asilo”. Pelas palavras do semanário liberal, o líder dos
conservadores de Crato teria justificado a ausência dos trabalhos na junta por ter contraído o
cólera, ficando em sua residência, sob tratamento. Todavia, o semanário punha em xeque a
versão: “Doente o Sr. Miguel Xavier! Nunca. Ele gozou sempre perfeita saúde, não sofreu
moléstia alguma, salvo se medo é também enfermidade”746.
Ao insinuar terem correligionários de Miguel Xavier confirmado o adoecimento dele
nas correspondências ao Governo Provincial, O Araripe alfinetava diretamente a Francisco
Sette, acusando-o de partidarismo. Malgrado elogiar a conduta do juiz de direito na presidência
da comissão sanitária, pois “mereceu e merecerá sempre os nossos louvores”, afirmava:
adversário. A folha liberal cratense representava a Gazeta do Cariri como “o eco repetido de mesquinhas paixões,
o poste constantemente levantado ao talento e ao mérito”. O Araripe, n. 273, 29 set. 1860, p. 1. 744 O Araripe, n. 288, 13 set. 1862, p. 1. 745 O Araripe, n. 288, 13 set. 1862, p. 1. 746 O Araripe, n. 288, 13 set. 1862, p. 1.
195
[...] não lhe podemos [...] poupar este merecido reparo, tanto mais quanto a
acusação dos dois sacerdotes devia provocar a de outros indivíduos, que não
se souberam conduzir nesses dias nefastos. Melhor, mais prudente, teria sido
não tocar em alguém: porque, isto feito, de necessidade era publicar todos os
nomes747.
As denúncias d’O Araripe atinentes ao desempenho de membros de comissões sanitárias
constavam na trajetória do semanário. Em 1856, quando o cólera ameaçou romper a fronteira
do Ceará, o então presidente provincial, Francisco Xavier Paes Barreto, instituiu juntas pelas
principais localidades, no intuito de socorrer os eventuais acometidos pela moléstia. A criação
delas foi elogiada pelo jornal. Tratando do assunto, a redação afirmou ter o presidente Paes
Barreto sido movido pelo “louvável desejo de atenuar, quanto caiba em seu governo, os terríveis
efeitos do cólera”, ao “incumbir as medidas de salvação pública a juntas de quatro membros”,
criadas “em cada uma de nossas vilas” e compostas com “pessoas que ou por seus empregos,
ou pela sua consideração nos lugares davam esperança de desenvolverem alguma energia e
fazerem mesmo sacrifícios pessoais em favor das populações em situação tão desesperada”748.
No entanto, O Araripe não deixou de tecer críticas ao funcionamento das juntas e aos nomes
para elas indicados:
Infelizmente, malgrado sua expectativa, suas admoestações fraternais, essa
coragem, que procura inspirar no meio do cortejo de horrores com que se nos
figura a aparição prestes desse flagelo, algumas das tais comissões nem sequer
tiveram vida e coragem para responderem aos ofícios de Sua Excelência!749
Na apreciação d’O Araripe, a falta de resposta das comissões não seria fruto do “medo”,
a lhes tolher “a pena”, mas reflexo de “ineptidão” dos indicados. Neste sentido, faltaria ao
presidente decisão mais apurada a respeito do papel dos indivíduos nas localidades. O governo
deveria ter observado melhor as “posições e relações” ocupadas, dando peso a essas
considerações “quando criava uma comissão”. Afinal, instituída para “causa desesperada”, cada
junta “devia ser composta de pessoas que inspirassem simpatias, tivessem energia para obrar
em quadra semelhante e, sobretudo, enxergassem alguma coisa”750.
As censuras d’O Araripe às comissões de socorros voltavam-se, portanto, a certos
nomeados, não por acaso, desafetos políticos da redação do semanário. A maior campanha feita
pelo jornal contra um comissionado deu-se, justamente, no ano de 1856. O alvo foi o vigário
de Barbalha, Pedro José de Castro e Silva. Além de exercer o paroquiato por mais de vinte anos,
747 O Araripe, n. 288, 13 set. 1862, p. 1. 748 O Araripe, n. 40, 12 abr. 1856, p. 1. 749 Idem. 750 Idem.
196
o padre era a principal liderança conservadora da vila, tendo, inclusive, ocupado o cargo de
deputado provincial entre 1850 e 1855751.
O nome de Pedro José de Castro e Silva aparecia corriqueiramente n’O Araripe, sempre
acompanhado de acusações. Isso não se dava ao acaso: o padre era um dos antagonistas do
redator João Brígido752. O Araripe teceu fortes críticas à junta estabelecida em Barbalha: “A
[comissão] da Barbalha notadamente é mais uma infelicidade que pesa sobre aquela vila; gente
desasada para semelhantes cousas, imbecil completamente, nem sequer poderão arranjar um
ofício respondendo o do Sr. Presidente!”753. Não por acaso, as críticas mais acerbas eram
voltadas ao vigário:
Distinguimos entre os quatro um Sr. membro. Tendo-lhe Sua Excelência [o
presidente] prescrito, como medida urgente, a feitura de um cemitério inda
mesmo de madeira, e mandando-lhes um crédito para as despesas de
semelhante obra; não obstante ser ela reclamada pela salubridade pública, e o
voto constante da população, que vê em sua matriz, o mais nojento templo da
província, um foco de miasmas que ameaça, de há muito, desenvolver ali um
mal perigoso; não obstante haver uma subscrição dos habitantes, uma verba
no orçamento da câmara, todavia a obra não se fará! É uma falta de caridade,
permita-nos a comissão dizer!754
Ao descrever a comissão de Barbalha e o estado do templo de forma tão áspera, a
redação d’O Araripe tinha como plano atingir a imagem de Pedro José de Castro e Silva,
representado como alguém posicionado contra a edificação do cemitério, não obstante os
alegados reclames da população em prol da “salubridade pública”, amedrontada com os
“miasmas” advindos da igreja de Santo Antônio.
O artigo prosseguia, descrevendo visita feita à Barbalha por Domingos José Nogueira
Jaguaribe, então juiz de direito do Crato e presidente da comissão sanitária. Na ocasião,
Jaguaribe teria ficado “horrorizado” com o “espetáculo triste da matriz”, cujo mau cheiro estaria
levando fiéis a não mais frequentá-la. Ante tal cenário, teria procurado autoridades do lugar
para reiterar a urgência do fim dos enterros na igreja, chegando a oferecer um escravo pessoal
751 STUDART, op. cit., 1915, p. 37-38. 752 Os choques entre Brígido e o vigário de Barbalha eram recorrentes. No ano de 1857, por exemplo, o sacerdote
fora apontado como um dos responsáveis pelo envio, em nome da Câmara Municipal barbalhense, de representação
ao governo provincial contra o redator d’O Araripe, na época, professor público na vila. Segundo artigo exposto
em primeira página, além de tecer calúnias contra “um moço que se acha acima dos botes daqueles que enegrecidos
na corrupção só vivem vida de crimes”, o padre teria forjado assinaturas de membros da Câmara naquele
documento (O Araripe, n. 96, 30 mai. 1857, p. 1). Duas edições após a veiculação do texto, o semanário fez nova
insinuação contra o pároco, afiançando ter ele aliciado um “facínora”, por 200$000 réis, para dar “umas
pequiadas”, ou seja, uma lição em João Brígido. O Araripe, n. 98, 20 jun. 1857, p. 3. 753 O Araripe, n. 40, 12 abr. 1856, p. 1. 754 Idem.
197
para trabalhar como carpinteiro na obra do cemitério. Ao vigário, instara: não consentisse mais
nas inumações no templo e benzesse, o quanto antes, terreno para servir de cemitério755.
Não obstante os pedidos de Jaguaribe, o sacerdote manteve-se irredutível. Alguns meses
depois, o vigário teria recebido ofício da vice-presidência do Ceará, ordenando o fim dos
sepultamentos no templo. Insatisfeito com a reprimenda do governo e suspeitando que tal ordem
resultara de pedido particular de Jaguaribe, padre Pedro Castro e Silva decidiu sair da comissão
sanitária e publicamente corroborou o não apoio à construção da necrópole. Como sua
influência política e social era forte, outras pessoas – seus “aderentes”, nas palavras d’O Araripe
– também se retiraram da comissão, sendo assim extinta. A edificação do cemitério ficou
exclusivamente nas mãos do delegado da localidade, “Sr. Pacifer”, sem a necessária
popularidade para obter uma subscrição em favor da obra756.
Para O Araripe a situação de Barbalha só seria resolvida com a instituição de nova
comissão de socorros. Aconselhava, ainda, o vice-presidente a fazer valer as determinações do
governo, usando a força policial para impedir a continuação das inumações no interior da
matriz. Por fim, querendo aumentar a intriga entre o sacerdote e o executivo cearense, O Araripe
lembrava à autoridade provincial “que inda não está sagrado o campo daquele cemitério, porque
aquele pároco não se tem querido resolver a benzê-lo, como lhe tem sido pedido particularmente
e por Sua Excelência ordenado”757.
Sem embargo do empenho em arranhar a imagem do desafeto, o órgão liberal cratense
não conseguiu qualquer medida punitiva contra o pároco. Em meados do ano de 1856, o cólera
já declinava consideravelmente nas províncias circunvizinhas ao Ceará e a preocupação em
conservar comissões sanitárias ativas foi arrefecendo. Por isso, o vigário de Barbalha
prosseguiu gerindo como bem queria os enterros na matriz, para sanha dos seus adversários758.
755 O Araripe, n. 40, 12 abr. 1856, p. 1. 756 O Araripe, n. 58, 23 ago. 1856, p. 3-4. 757 Idem, p. 4. 758 No ano de 1857, O Araripe teceu novas críticas ao vigário barbalhense, acusando-o de se apropriar do
patrimônio da paróquia. O jornal fez descrição depreciativa do estado da matriz de Barbalha, dando especial
atenção aos túmulos, o mote da saída do padre da comissão sanitária, ocorrida um ano antes: “[...] o ladrilho, que
é de tijolo, pelos enterramentos que, a despeito das ordens do Sr. Presidente da província são exclusivamente feitos
no templo, está sempre revolvido, que se não pode pisar. Exala horrível fétido de cadáveres em putrefação,
enterrados a flor da terra, e muitas vezes exumados antes de tempo, para cederem campo a outros que chegam” (O
Araripe, n. 104, 08 ago. 1857, p. 2). Afirmava ainda: na “matriz da Barbalha podem os cães, as cabras, os porcos
entrar livremente às horas que querem” e que, devido à falta de cuidados com as sepulturas no seu adro, “um amigo
nos refere que viu um cão acabando de devorar um osso [humano], que a terra não havia de todo limpado”. Diante
de um cenário apresentado de forma tão desoladora, o texto pedia ao juiz de direito que chamasse Pe. Pedro “às
contas”, para se informar dos fundos existentes no poder deste, levando as informações daí obtidas ao governo
provincial (O Araripe, n. 104, 08 ago. 1857, p. 2). Um processo eclesiástico foi instituído para investigar as
denúncias. Não obstante, a comissão responsável pelo inquérito inocentou o sacerdote de todas as acusações. O
Araripe, n. 125, 09 jan. 1858, p. 2.
198
Em 1862, quando o recurso às comissões sanitárias foi acionado novamente pelo
Governo Provincial, Pedro José de Castro e Silva figurou, novamente, entre os indicados de
Barbalha759. Os anos entre 1856 e 1862 não arrefeceram em nada a opinião da redação d’O
Araripe a respeito do vigário de Barbalha. Na conjuntura pós-cólera, os “costumes” da paróquia
de Barbalha foram criticados, sendo representados como atrasados. O mote da crítica dizia
respeito à informação de que a matriz estaria sendo usada, com autorização do padre Pedro,
para rituais de flagelação de penitentes, a expiar os pecados para afastar o cólera760.
Se para O Araripe a presença de Castro e Silva desabonava a comissão sanitária de
Barbalha, textos veiculados pelo Pedro II davam crédito ao vigário, descrevendo-o como pilar
central dos socorros aos coléricos da vila. Uma correspondência anônima, de 17 de junho de
1862, publicada pelo jornal conservador, criticava a lentidão do governo Figueiredo Júnior em
enviar recursos e medicamentos à Barbalha e a ênfase dele na filantropia dos mais abastados:
“É muito bom e facílimo estar-se no capitólio, fruindo gozos de toda ordem e mandar escrever
aos homens das localidades que façam prodígios! Que se sacrifiquem pelo seu patriotismo,
filantropia, caridade”761. Insinuava ter a postura do governo provincial levado “quase todos os
nomeados” para a comissão de socorros a não aceitarem o “encargo”. Alguns dos indicados,
inclusive, teriam deixado a vila, “como grande número de famílias e mais povo”762.
Diante do estado de abandono, por parte do governo e de membros da comissão, restaria
aos barbalhenses buscar ânimo no exemplo do vigário Castro e Silva, “disposto às lides do seu
ministério e também em aplicar remédios”. O altruísmo dele seria reforçado pela “nobre e
caridosa resolução” de não viajar à Fortaleza, onde deveria “tomar assento na assembleia
provincial”. Sem a presença do padre, afiançava a carta, “já se acharia deserta esta vila”. Da
comissão sanitária, restariam apenas em Barbalha o vigário Pedro José de Castro e Silva e o
padre João Francisco Nogueira da Costa, “verdadeiros sacerdotes que sabem compreender os
deveres de seu santo ministério”763.
O relatório do médico Antônio de Medeiros, enviado para coordenar os socorros no
Cariri, incluiu o nome do vigário entre as três pessoas mais atuantes durante o surto de cólera
em Barbalha: “Cumpre aqui consignar os nomes dos Srs. Raimundo J. Camello, presidente da
câmara municipal, Lúcio A. Brígido dos Santos, tabelião público, e vigário Pedro José de Castro
759 Pedro II, n. 66, 21 mar. 1862, p. 1. 760 O Araripe, n. 291, 19 out. 1862, p. 2-3. 761 Pedro II, n. 153, 8 jul. 1862, p. 3. 762 Idem. 763 Idem.
199
e Silva, os quais nessa quadra prestaram os maiores serviços à população” 764. Desta forma, o
médico corroborava a versão do Pedro II e contrariava a d’O Araripe a respeito do desempenho
do padre e político conservador.
A partir da leitura da imprensa, é possível afirmar ter sido o esvaziamento das juntas
sanitárias uma realidade em diversos pontos do Ceará de 1862. Parte da de Crato, por exemplo,
solicitou, em 22 de maio de 1862, exoneração ao governo provincial, descontente com o não
envio de medicamentos solicitados para a cidade765. Tratando da comissão de Baturité, João
Pereira Castello Branco, em carta veiculada no Pedro II, afirmou: “Da comissão de socorros,
apenas o nosso amigo, o Sr. Dr. juiz de Direito, e eu, é que vamos deliberando”, pois os demais
membros não se apresentavam para os trabalhos, seja porque “estejam fora” – tal qual o
delegado Pedro José de Castello Branco, irmão do missivista, cujo desempenho na conjuntura
epidêmica apareceu no tópico anterior – ou “porque estejam doentes, ou suas famílias”766. O
resultado dessa ausência trouxe problemas aos dois nomeados presentes na cidade: “o certo, é
que estamos sobrecarregados com a pesada tarefa”767.
O Cearense também veiculou críticas à comissão de Baturité e, a partir delas, não deixou
de contestar o funcionamento das congêneres, espalhadas pela província. Em um dos textos
publicados, informava ter o governo provincial nomeado “uma comissão composta de nove
membros”768. Não obstante, a medida não teria impacto na cidade, pois “como quase todas as
comissões nomeadas, a de Baturité não passou de uma ideia, porque até hoje todos os seus
membros, recolhidos aos bastidores, não têm dado a menor providência”. Alguns, no máximo,
assinariam, “em suas casas”, ofícios redigidos pelo Dr. juiz de direito e pelo promotor, dirigidos
764 MEDEIROS, op. cit., 1863, p. 17. 765 Na correspondência oficial reproduzida pelo Pedro II, consta que, a 22 de maio de 1862, Francisco Rodrigues
Sette, Manoel Ayres do Nascimento, Pedro José Gonçalves da Silva, Manoel Coelho Bastos, Benedito da Silva
Garrido, Gervásio Cícero de Albuquerque e Mello e Antônio Maria de Castro assinaram ofício dirigido à
presidência da província solicitando exoneração das funções na comissão sanitária de Crato. O presidente
concedeu dispensa à maioria deles, negando apenas ao promotor público, Gervásio Mello, e ao comandante de
destacamento, Antônio Maria de Castro, aos quais instou: como cidadãos e empregados públicos, deviam continuar
auxiliando “o governo com dedicação e fidelidade nesta conjuntura” (Pedro II, n. 147, 1 jul. 1862, p. 1). O relatório
escrito pelo médico Antônio de Medeiros explica o pedido de exoneração como motivado por desencontro de
informações a respeito do envio de medicamentos ao Crato. Tendo a junta, em fins de abril, enviado ofício
solicitando recursos, recebeu resposta da presidência afirmando que “amplos socorros já tinham sido enviados” e
recomendando economia e a organização de “subscrição em benefício dos indigentes” (MEDEIROS, op. cit., 1863,
p. 14). Os “amplos socorros” aludidos diziam respeito a nove cargas de medicamentos remetidos à cidade. Todavia,
o ofício chegou em Crato antes dos remédios. Segundo Medeiros, o que parecia “uma esquivança da parte da
administração”, incomodou os membros da comissão presentes na leitura do documento, levando-os a redigir o
pedido de exoneração. Após a chegada das cargas, esclarecido o aparente mal-entendido, o juiz Francisco Sette,
um dos que tivera a exoneração aceita pelo presidente do Ceará, pediu para ser readmitido na comissão.
MEDEIROS, op. cit., 1863, p. 14. 766 Pedro II, n. 169, 26 jul. 1862, p. 2. 767 Idem. 768 O Cearense, n. 1537, 12 ago. 1862, p. 3.
200
ao presidente da província. Os “poucos que se achavam doentes”, continuava o artigo, deviam
ser perdoados. Entretanto, “maior reprovação” mereciam “aqueles, que nada tendo sofrido, tão
grande abandono têm mostrado no comprimento de seus deveres”769.
Para exemplificar o mau comportamento de parte dos comissionados de Baturité, O
Cearense censurava o delegado Castello Branco – a se manter distante, no aparente sossego da
propriedade serrana – e um “negociante abastado do lugar”, de nome não enunciado. Este, por
riqueza e dever com a comissão deveria ser bom modelo, mas, ao contrário, teria ficado
“exasperado um dia, porque os trabalhadores de seu sítio vieram abrir sepulturas, e [por isso]
quis até despedi-los”. Aparentemente, para o “negociante abastado”, uma jornada de trabalho
em prol das condições sanitárias de Baturité não valia a paralização da labuta em sua
propriedade. Assim, os interesses particulares eram postos acima do bem comum: “É incrível,
mas é uma verdade”770.
A junta de Maranguape também foi alvejada por críticas constantes na imprensa,
especialmente pelo Pedro II. A ênfase do diário conservador na questão era reflexo tanto do
fato da vila ter sido o ponto mais afetado pelo cólera - com cerca de 2800 mortes registradas
entre meados de 1862 e início de 1863771 -, quanto pelas relações políticas e familiares a ligar
o redator Manoel Franco Fernandes Vieira ao local. Não por acaso, os primeiros conflitos entre
Manoel Franco e o presidente Figueiredo Júnior ocorreram após o jornal ter veiculado
apreciação negativa sobre os socorros e recursos enviados à Maranguape, conforme tratei no
capítulo anterior. Aliás, em muitos artigos e correspondências publicadas sobre a comissão da
vila, a depreciação ao governo provincial estava embutida.
Ao tratar do “estado sanitário, que tanto importa nesta quadra calamitosa a todo o bom
cearense”, um missivista afirmou remeter “ao silêncio que merece o elogio das dúzias que um
dos membros da comissão fez estampar” n’O Cearense, “apregoando os serviços da mesma
comissão”, afinal, “o público julgador atilado e justiceiro, aceita as boas intenções e despreza
os palavreados chochos”772. Se havia membros comissionados praticando autoelogio, outros
opinavam a respeito da ineficiência da junta frente ao avanço da epidemia, devido à escassez
de recursos a que estava submetida. O tenente coronel Ignácio Pinto d’Almeida e Castro, por
exemplo, informou ter recebido com “satisfação” a designação para compor a comissão e assim
“prestar os meus pequenos serviços aos meus irmãos desvalidos”. Entretanto, por residir fora
769 O Cearense, n. 1537, 12 ago. 1862, p. 3. 770 Idem. 771 O Cearense, n. 1568, 20 mar. 1863, p. 1. 772 Pedro II, n. 141, 23 jun. 1862, p. 2
201
da vila e “sabendo logo as dificuldades com que principiaram a lutar os meus colegas da
comissão, com os mesquinhos socorros do governo”, Almeida e Castro atinava sobre desligar-
se daquela. Assim, optara por ficar na sua fazenda, dispondo-se “a lançar mão de meus
pequenos recursos para socorrer os pobres que me cercam”773.
O afastamento entre Ignácio Pinto d’Almeida e Castro e os demais colegas da junta
sanitária foi ampliado por desavença interna: a definição sobre onde deveria ser instalada a
enfermaria para tratamento dos enfermos pobres. A maioria da comissão optara por abrigar o
“hospital dos coléricos” no prédio da Câmara Municipal. Já Ignácio Castro opinara no sentido
de afastar a enfermaria das ruas da vila. Para isso, propôs doar uma propriedade: “aquela casa
que tenho junto ao cemitério”. Segundo ele, “melhor posição não se encontra nesta vila”.
Todavia, a transformação da casa em enfermaria exigiria “gastar 200# (duzentos mil réis) a
300# (trezentos mil réis) com alguns reparos”. Por conta disso, a comissão teria descartado a
doação, pois, ironizava Ignácio Castro, “os cofres da nação não podem carregar com tantas
despesas, e nem os dinheiros da municipalidade servem para socorrer os seus munícipes, porque
não vale apenas lançar mão deles em crise semelhante”774.
Outro comissionado, o capitão Joaquim José de Souza Sombra, manifestou a decisão de
desligar-se da incumbência dos socorros. Em carta datada de 25 de junho de 1862,
aparentemente dirigida ao redator Manoel Franco, à época, ainda no cargo de inspetor da
tesouraria provincial, o capitão Sombra assim narrou o “estado lastimoso de indigência” do
“laborioso povo” de Maranguape:
[...] afirmo a Vossa Senhoria que, quem não presenciar não acredita. Faça V.
S. uma simples reflexão; o nosso povo vive do trabalho, um pai de família tem
2, 3, 6, ou mais filhos, como é muito comum, adoece aquele, ou mesmo a
mulher, ou algum dos filhos, o pobre já não vai ao trabalho, porque espera em
qualquer momento a morte, ou mesmo o ataque em todos os mais da família,
como já tem sucedido, e em tal colisão que fazer, não tendo nenhum recurso
de que lançar mão? Morre de peste, ou de fome como tem sucedido a muitos.
No Arraial de Santo Antônio do Pitaguaty, onde tenho por três vezes visitado
os doentes indigentes, observei tanta miséria, que fiquei intimamente
compenetrado de que, só Deus com sua Divina Misericórdia é que pode salvar
a seu povo775.
Segundo o autor da carta, os casos de mortes fulminantes ocorridos na vila seriam, na
maioria, ocasionados por “falta de dieta” e “preciso resguardo”, coisas as quais a comissão de
socorros não tinha condições de garantir, pois os quinhentos mil réis enviados pelo governo
773 Pedro II, n. 143, 26 jun. 1862, p. 3. 774 Idem. 775 Pedro II, n. 144, 27 jun. 1862, p. 4.
202
provincial, mais duzentos e cinquenta mil, coletados como subscrição, não eram suficientes
para as “despesas diárias do hospital”, além dos gastos com abertura de covas e sepultamento
dos coléricos. Neste cenário, a junta era obrigada a fazer empréstimos com particulares, sem a
garantia de ressarcimento por parte do governo provincial. “Quando nos virão os recursos do
governo?”, indagava776. O capitão Sombra decidiu, então, sair da junta, alegando ter o “aumento
de intensidade” da epidemia levado ao acréscimo dos “afazeres diários” da comissão e a
proporcional dificuldade em “socorrer a humanidade desvalida”. Portanto, saía por não saber
obrar com “trambolhos” e estar convencido de “fazer um sacrifício com mais vantagem em
outra posição”, ajudando os doentes, dentro dos limites possíveis, fora da comissão777.
Com o agravamento da epidemia, famílias em melhores condições financeiras passaram
a abandonar Maranguape, partindo rumo à capital do Ceará, dificultando ainda mais o trabalho
da junta de socorros. A situação ia “de mal a pior”, pois os “homens desta vila que podiam
prestar alguns serviços estão de cargas na porta para emigrarem”, de modo que “não se pode
reunir a comissão por falta de membros”778. Ademais, os poucos restantes na cidade, somados
a novos nomeados, em substituição aos exonerados e fugitivos, permaneciam divididos nas
decisões práticas, tal como a “remoção do hospital para junto do cemitério”779.
A partir do começo de julho de 1862, quando Manoel Franco Fernandes Vieira foi
demitido do cargo de tesoureiro, o Pedro II usou o tema comissões sanitárias como forma de
ataque ao presidente Figueiredo Júnior. Em artigo de capa, intitulado “O cólera, o Sr. José Bento
e uma sinopse dos seus socorros”780, apresentava apanhado sobre a situação enfrentada por
diferentes localidades cearenses. Sobre Baturité, afirmava ter a comissão sanitária dado um
ultimato ao presidente: “se o governo não prestasse os socorros garantidos à pobreza, ela se
dava por demitida”. Ademais, “a quadra não era a mais própria para tirar-se esmola”, pois
“todos tinham de sofrer prejuízos” com o aparecimento do mal, ponto de vista que não deixava
de isentar os mais abastados de arcar com os gastos da crise. A junta de Pacatuba também teria
pressionado Figueiredo Júnior, afirmando não estar “disposta a carregar com a responsabilidade
de faltas de quem quer que fosse”. Argumentava, ainda, “se o povo ali morria a fome”, não era
por causa da comissão, mas sim devido às decisões do presidente:
[...] o único responsável pelos tristes acontecimentos daquela povoação, por
não ter dado em tempo as providências que o caso pedia, pois não era com
776 Pedro II, n. 144, 27 jun. 1862, p. 4. 777 Idem. 778 Pedro II, n. 146, 30 jun. 1862, p. 3. 779 Idem. 780 Pedro II, n. 153, 8 jul. 1862, p. 1.
203
300# [trezentos mil] réis que para ali se enviou que se havia de montar
enfermaria, pagar empregados, comprar alguma roupa para os doentes,
fornecer dietas e além de tudo isto sustentar a pobreza781.
Outra situação visível na imprensa cearense de 1862 foi a existência de choques entre
integrantes das comissões. Subjacentes a eles estavam: disputas internas pelo comando das
juntas, discordâncias a respeito dos procedimentos adotados no socorro aos doentes, contendas
em torno da destinação dos recursos enviados pelo governo provincial e, não menos importante,
atritos pessoais e partidários existentes. Parte dessas questões aparecem no tópico a seguir.
3.3 - “Braveja detrator, braveja insano”
O conflito entre comissionados com mais destaque na imprensa envolveu a comissão
montada na cidade de Quixeramobim. Designada pelo governo provincial a 20 de abril de
1862782, foi composta pelos seguintes nomes: Francisco de Assis Bezerra de Meneses (juiz de
direito da comarca, ex-deputado provincial783 e presidente da comissão de socorros784),
Cordolino Barbosa Cordeiro (delegado de polícia, juiz municipal785 e deputado provincial786),
Cônego Antônio Pinto de Mendonça (vigário da freguesia, primeiro vice-presidente do Ceará,
ex-deputado provincial e deputado geral por cinco legislaturas787), Francisco José de Mattos
(cirurgião e deputado provincial por quatro legislaturas788), tenente Cândido Franklin do
Nascimento (juiz municipal substituto789) e o tenente coronel José Amaro Fernandes.
Indícios sobre a cisão na comissão de socorros de Quixeramobim vieram a público em
fins de agosto de 1862. Carta anônima, com data de 20 do referido mês, publicada n’O
Cearense, informava a extinção do cólera na localidade, pois “há um mês não apareceu caso
algum novo”790. A missiva elogiava a decisão da presidência do Ceará em exonerar os médicos
Antônio Mendes e Januário Manoel da Silva, contratados para tratar dos coléricos da cidade.
Todavia, continuava a carta, o ato do governo provincial estaria “incompleto”, pois, “não
781 Pedro II, n. 153, 8 jul. 1862, p. 1. 782 Pedro II, n. 98, 1 mai. 1862, p. 1. 783 PAIVA, op. cit., 1979, p. 88. 784 O Cearense, n. 1554, 9 dez. 1862, p. 3. 785 LEMOS, op. cit., 2016, p. 245. 786 PAIVA, op. cit., 1979, p. 87. 787 Idem, p. 103. 788 Idem, p. 89. 789 O Cearense, n. 1510, 4 fev. 1862, p. 1. 790 O Cearense, n. 1539, 26 ago. 1862, p. 2.
204
havendo mais epidemia alguma, devia continuar na mamata o cirurgião Mattos”791. Enunciando
termo pejorativo, derivado do verbo “mamar”792 – ainda hoje, no século XXI, denotando
apropriação de cargos e recursos públicos com vistas ao enriquecimento pessoal793 –, a
afirmação tinha como escopo o cirurgião Francisco José de Mattos. Uma vez extinta a epidemia,
argumentava o missivista anônimo, a comissão sanitária deveria ser oficialmente dissolvida,
significando pôr fim, também, às diárias pagas pelo governo ao cirurgião comissionado: “Ao
menos torna-se menos pesado ao Estado esse terrível mal, que foi aliás uma fonte de ouro para
boticários e médicos”794.
Segundo a correspondência, o cônego Pinto de Mendonça propôs: a comissão devia, por
conta própria, decretar findo o “contrato com o Mattos, por desnecessário”795, informando,
posteriormente, ao presidente do Ceará sobre a decisão. Tendo em vista ter o engajamento do
cirurgião na comissão ocorrido por portaria do governo provincial, bem como a definição sobre
as diárias a serem pagas ao profissional, a proposta do cônego Pinto era inusual. Na carta, o
argumento para a medida seria a preocupação do cônego com gastos supérfluos. Por outro lado,
sem nomear Mattos diretamente, o texto aludia a profissionais a lucrar em meio à crise
instaurada pelo cólera:
Nem médico, nem boticário de parte alguma chegou ao pé de um certo que eu
conheço aqui, que de 200$ ou 300$ que aí mandou comprar, de remédios fez
mais de 4 contos de réis, chegando o escândalo de vender ópio na razão de 23
contos de réis a libra! Isto não é crível; mas garanto-lhe que é verdade. Todos
aproveitaram da calamidade, menos os padres que, como era de seu dever, se
prestaram sem outro interesse, que o de terem desempenhado o seu ministério
todo de amor, e caridade796.
O suposto bom comportamento dos padres era apresentado como o oposto do adotado
por profissionais de saúde, ávidos pelo lucro, em detrimento da situação dos pacientes. O
791 O Cearense, n. 1539, 26 ago. 1862, p. 2. 792 Entre os sentidos dados ao verbo “mamar” no século XVIII e XIX estavam: “tirar dinheiro, ou outra coisa de
alguém com artifício (BLUTEAU, op. cit., 1728); “Levar alguma coisa a alguém gratuita e logrativamente”
(SILVA, Antonio de Morais; BLUTEAU, Rafael. Diccionario da lingua portugueza composto pelo padre D.
Rafael Bluteau, reformado, e accrescentado por Antonio de Moraes Silva natural do Rio de Janeiro. 1. ed. Lisboa,
Simão Tadeu Ferreira, 1789); e “tirar, ou levar alguma cousa de alguém” (PINTO, op. cit., 1832). Dicionários
disponíveis no site: http://dicionarios.bbm.usp.br/pt-br/dicionario/1/Mamar. Último acesso a 1 out. 2019. 793 Segundo o Dicionário Michaelis, “mamata” significa: 1) “Empresa ou negócio, público ou particular, em que
políticos e funcionários protegidos auferem lucros ilícitos”; 2) “Vantagem pecuniária obtida em órgão público, em
proveito próprio ou de outrem, em transações fraudulentas; comedeira, negociata”; 3) “Emprego rendoso que
requer pouco ou nada de trabalho; teta”. 4) “Qualquer negócio suspeito ou que envolve ações inescrupulosas;
marmelada, negociata”. Disponível em: http://michaelis.uol.com.br/busca?id=Xpqeb. Último acesso a 1 out. 2019. 794 O Cearense, n. 1539, 26 ago. 1862, p. 2. 795 Idem. 796 Idem.
205
arremate da missiva trazia insinuação séria: “Contam por aqui cousas desagradáveis a respeito
de extravio de medicamentos, baetas etc., remetidos pelo governo... Mas eu não quero fazer eco
dessas cousas. Adeus”797. A negativa era retórica: o autor do texto publicado n’O Cearense
queria ecoar a insinuação a respeito de recursos destinados pelo governo do Ceará para socorro
dos mais pobres terem sido apropriados indevidamente. Precisamente, ao expor tal assunto e as
outras acusações sobre quem teria lucrado com a epidemia, o alvo não era outro senão o
cirurgião Mattos.
Após ataques tão diretos, Francisco José de Mattos usou o diário Pedro II como
plataforma para divulgar revide. Datado a 8 de setembro de 1862, o texto de Mattos tratava de
“uma carta dirigida deste infeliz Quixeramobim à redação” d’O Cearense “que parece só ter
tido por fim deprimir-me”798. O cirurgião pretendia responder ao “agregado de mentiras” com
o “desprezo” usual votado a “seu cínico e desleal autor”. Todavia, “por deferência ao público”,
decidiu escrever “para desmascarar a impostura de quem não perde ocasião de me fazer
conhecer o ódio que me vota sem ter podido tirar outro fruto”. Para Francisco José de Mattos,
não havia dúvidas sobre a identidade do autor da carta publicada n’O Cearense. O escritor seria
o colega de comissão de socorros, cônego Antônio Pinto de Mendonça: “sem nem um respeito
à verdade, aventura-se nesse terreno de calúnia e convícios, ocultando seu nome, e intendendo
que poderia ferir minha reputação impunemente”799.
Rebatendo as denúncias supostamente proferidas pelo padre, Mattos asseverava ser
patente em Quixeramobim a opinião sobre como procederam na quadra epidêmica. No intuito
de convencer os leitores a respeito de quem agira corretamente, o texto estruturou-se como
narrativa cronológica, tendo as ações de Mattos como fio condutor. O cirurgião informava ter
sido comunicado, por ofício da Presidência da Província, em 6 de maio, sobre a nomeação para
a junta de socorros. Reconhecendo “a importância e a urgência dos trabalhos da comissão na
aproximação da epidemia”, teria deixado a fazenda Beberibe, de sua propriedade, e ido “à
cidade entender-me com o Sr. juiz de direito e os outros membros nomeados para a
comissão”800.
Na primeira reunião do grupo, os comissionados dividiram tarefas: a Francisco José de
Mattos coube “montar uma enfermaria” e “marcar o lugar mais apropriado para o cemitério dos
coléricos”; o trabalho do cônego seria tratar da construção do cemitério, oferecendo também
797 O Cearense, n. 1539, 26 ago. 1862, p. 2. 798 Pedro II, n. 219, 23 set. 1862, p. 2. 799 Idem. 800 Idem.
206
“casebre de sua propriedade para a enfermaria”; o delegado Cordolino trataria de “agenciar a
subscrição aconselhada pelo governo”, recolhendo doações dos mais abastados da cidade; já o
tenente coronel José Amaro Fernandes ocuparia a tesouraria da comissão, enquanto o tenente
Cândido Franklin coordenaria “os trabalhos para o asseio das ruas e praças da cidade”; por fim,
o juiz de direito da comarca, Francisco de Assis Bezerra de Meneses, assumiria a presidência
da comissão sanitária, dirigindo as reuniões e cuidando das demais questões pertinentes ao
grupo.
Segundo o relato de Mattos, em 24 de junho, dois casos de cólera álgido – em referência
ao esfriamento do corpo do paciente, tido como fase mais grave provocada pelo cólera – foram
tratados por ele. Diante disto, ele teria declarado “o aparecimento desse fatal inimigo da
humanidade” ao juiz de direito e ao delegado. A comissão sanitária não chegou ao consenso
sobre a questão, pois “o senhor cônego e os seus” teriam desmentindo o diagnóstico feito por
Francisco de Mattos, atribuindo “a malignidade de os querer aterrorizar!”801.
No dia seguinte, alguns soldados do destacamento contraíram o cólera, dos quais cinco
morreram. Ante os acontecimentos, o delegado Cordolino Barbosa Cordeiro, “com a coragem,
prudência e energia só próprias do homem que tem o sentimento do que vai, e do que deve à
sociedade”, teria empregado “todos os meios razoáveis para diminuir entre nós os horrorosos
estragos da epidemia”. Cordolino, tornado, pela narrativa, “o herói desta quadra no
Quixeramobim”, foi descrito visitando doentes, distribuído socorros aos indigentes e até
mesmo, em mostra máxima de “zelo e filantropia”, colocando, “com as suas próprias mãos,
alguns cadáveres nos caixões mortuários”, além de “acompanhar a toda hora do dia ou da noite
os féretros das pessoas mais gradas para não serem menos respeitados pelos condutores”802.
Ao investir na exaltação do delegado, Francisco de Mattos provocava o cônego Pinto
de Mendonça, a quem atribuía a autoria do texto veiculado n’O Cearense. Aliás, Cordolino
Cordeiro teria assumido obrigações originalmente dadas ao vigário, segundo a divisão de
tarefas dos comissionados, descrita há pouco. A obra do cemitério, sob direção do cônego, não
teria avançado “e temos certeza de que lá nunca pôs os pés”, provocava Francisco de Mattos.
Nenhuma cova teria sido aberta por ordem de Antônio Pinto de Mendonça, levando o “honroso
e enérgico” Cordolino, ciente dos “males que nos causaria a retardação dos cadáveres dos
coléricos insepultos”, a tomar iniciativa, enquanto o “cônego transido de medo recolheu-se a
801 Pedro II, n. 219, 23 set. 1862, p. 2. 802 Idem.
207
sua casa tomando o que chamava preservativos e só aparecia em sua porta muito pálido e
aterrado para indagar se já havia morrido alguém”803.
O texto de Mattos insinua a existência de um pecado capital a tomar o cônego: a inveja.
O vigário de Quixeramobim, “deslumbrado, pelo comportamento não só do digno delegado
como das mais autoridades e pessoas que se dedicaram a ajudar aos médicos”, teria ocultado,
na carta d’O Cearense, os “serviços desta ordem para figurar o mérito dos padres que aqui
estavam”804. Sobre o assunto, Mattos elogiava a ação do coadjutor, padre Jacinto Bezerra de
Menezes, “a toda hora a levar o pasto espiritual aos que o procuravam”. Todavia, Meneses
“adoeceu ligeiramente no terceiro ou quarto dia do aparecimento do cólera e recolheu-se à sua
cama para medicar-se”. Sem o principal auxiliar atuando, o “cônego vigário” saía “a confessar
alguns acometidos do mal, quatro ou cinco pessoas”. Segundo Francisco de Mattos, o cônego
exercia tais funções “sempre queixando-se de se ver forçado a tal sacrifício pela pastoral do
Excelentíssimo Prelado Diocesano, que fulminava pena de suspenção ao sacerdote que se
negasse a tais confissões”805. A acusação era grave, pois punha em xeque a versão veiculada
n’O Cearense, ao retirar Pinto de Mendonça do “quadro daqueles [sacerdotes] que se elevaram
à altura sublime de sua missão, sem constrangimentos, ou medo”806.
Nas palavras de Mattos, os poucos sacramentos ministrados aos enfermos pelo vigário
deram-se durante o dia, pois não deixava a residência após o anoitecer. A quem o procurasse
em tal turno, Pinto de Mendonça “mandava que chamassem ao Sr. padre Menezes que estava
enfermo e não podia sair a tais horas”. Mesmo amigos próximos, como o casal Antônia e Miguel
Alves de Mello Câmara, teriam sacramentos negados pelo cônego, alegando estar doente, sem
condições de “sair àquela hora”. Coube ao padre Jacinto Bezerra de Menezes, em
convalescença, o “ato de caridade” de socorrer à Antônia Câmara, ou “morreria esta respeitável
senhora junto à igreja e do vigário, sem confissão”. Assim, enquanto paroquianos corriam o
risco de finar sem a extrema unção, o vigário permanecia em casa, “talvez orando a Deus pelo
bem-estar de suas felizes ovelhas. Eis a obrigação e sublimidade de seu comportamento no
exercício do alto ministério que tão dignamente exerce” 807.
Após pôr em suspeição as obrigações religiosas de Pinto de Mendonça, Francisco de
Mattos informava ter, desde o início de maio de 1862, tratado, com remédios de sua “farmácia
particular”, “indigentes” afetados pela “colerina”, tida como variação mais amena do cólera ou
803 Pedro II, n. 219, 23 set. 1862, p. 2, grifo da fonte. 804 Idem, grifo da fonte. 805 Pedro II, n. 219, 23 set. 1862, p. 2. 806 O Cearense, n. 1539, 26 ago. 1862, p. 2. 807 Pedro II, n. 219, 23 set. 1862, p. 2, grifos da fonte.
208
como fase inicial da doença. À época, Mattos ainda não sabia ter sido designado membro da
comissão sanitária, bem como não tinha chegado a ambulância com remédios, remetida da
capital pela presidência da província. Os medicamentos, mais carga com cobertores, teriam
chegado em 22 de maio, junto a ofício de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior, indicando o
cirurgião como responsável pela administração daqueles808.
A tutela de Mattos sobre os recursos do governo deu azo às denúncias feitas n’O
Cearense atinentes ao desperdício e apropriação indevida de remédios e baetas809. Por isso,
Mattos solicitava a Pinto de Mendonça, “apesar da mesquinharia em que se chafurda”, provas
dos fatos. Mais ainda, asseverava: os maiores “cobertores de baeta” tinham sido usados por
escravizados doentes do cônego, tratados na casa do médico Antônio Mendes810. O fato de ter
o vigário utilizado baetas, destinadas aos pobres, com cativos de sua propriedade, não era de
todo condenada por Mattos. Contemporizava: “Não lastimamos estas baetas e outros favores
distribuídos com escravos e fâmulos de Sua Senhoria, apesar de sua fabulosa riqueza, porque a
outros se prestaram, atendendo o aperto em que nos achamos e a falta de recursos”. Aliás, na
casa de Mattos também houve o uso de “algumas baetas” com escravizados dele, pois “não as
havia no mercado por preço algum, e não havíamos deixar morrer quem quer que fosse por falta
de um cobertor quando estamos convencidos que não eram essas as intenções do governo”811.
Ao citar tais questões, Francisco de Mattos acabava por abonar a acusação de terem membros
da junta sanitária usado recursos provinciais, destinados aos indigentes, em benefício particular.
Todavia, o cirurgião isentava a si e aos colegas de dolo, ao justificar a atitude por alusão à falta
de produtos disponíveis no comércio de Quixeramobim, devido à crise epidêmica. O mea culpa,
portanto, mostrava-se incompleto.
O texto de Francisco de Mattos prosseguia mencionando período no qual fora “atacado
gravemente do cólera depois de exausto de forças pelo trabalho de seis dias e noites
consecutivas quase sem dormir” no tratamento dos coléricos. Ao saber do adoecimento do
cirurgião, o cônego teria sugerido à comissão o desligamento de Mattos do grupo, dispensando,
também, o pagamento de diárias ao mesmo. Pinto de Mendonça, inclusive, remetera cartas à
Fortaleza defendendo a proposta, “em meu desabono, procurando cavar a minha família
dificuldades se eu lhe faltasse”. Segundo Mattos, o “rancor” do padre não teria justificativa.
Ironicamente, afirmava ter dado “provas de cavalheirismo e de que como médico era capaz de
808 Pedro II, n. 219, 23 set. 1862, p. 2. 809 O Cearense, n. 1539, 26 ago. 1862, p. 2. 810 Pedro II, n. 219, 23 set. 1862, p. 2. 811 Idem.
209
fazer qualquer sacrifício em seu favor”, em ocasião na qual o cônego teria passado na residência
de Mattos, “como um espectro pálido e abatido com medo de confessar uma pobre moça doente
com horríveis câimbras que gritava pedindo confissão como último consolo nesta vida de
torpezas e misérias”812. Corroborando a estratégia narrativa adotada por Mattos, Pinto de
Mendonça era, mais uma vez, descrito como covarde.
Mattos informava, ainda, ter recebido em 20 de agosto recomendações da presidência
do Ceará para se dirigir a Quixadá, onde casos de cólera teriam ocorrido. Segundo o cirurgião,
ao procurar informações sobre tais casos com o médico Januário Manoel da Silva, “soube que
nenhum caso de cólera se dera, e que toda a comarca estava em boas condições sanitárias”.
Julgando desnecessários seus serviços, Mattos teria enviado, a 4 de setembro, ofício ao
presidente da província, “pedindo-lhe exoneração da comissão de socorros”, declarando-se
“desde aquele dia exonerado de tal serviço”. Ao afirmar ter solicitado a exoneração, Mattos
troçava “o cinismo de um sacerdote que desconhecendo a altura do lugar que está investido”
redigia ou mandava “escrever artigos tais para menoscabar a reputação daqueles que se não
curvam aos desmandos e imoralidade com que pretende sustentar sua decantada influência
política em Quixeramobim”813. O arremate do texto solicitava à redação do Pedro II a
publicação destas
[...] poucas linhas em defesa de um homem que se tem conservado nesta
comarca inofensivo, e entregue aos seus trabalhos, e religioso cumprimento
de seus deveres, e que jamais se curvará as diabruras e embustes de quem
entende que só pode dominar pela intriga e calunias fazendo consentir nisto
todo seu mérito e poder. Publique, Sr. Redator estas; e com isto muito
obrigado lhe ficará o seu constante leitor814.
Ao partir para o ataque direto a Antônio Pinto de Mendonça, Francisco José Mattos
provocou personalidade de monta nos jogos políticos provinciais. O cônego foi deputado
provincial em duas legislaturas815 e geral em cinco816. Chegou a ser escolhido senador, pela
Carta Imperial de 16 de maio de 1868, mas teve a eleição anulada pelo Senado817. Primeiro da
lista de vice-presidentes do Ceará, assumiu interinamente o governo em 1861818. Teve a
oportunidade de novamente presidir a província no começo de 1862, mas recusou-se, pois,
segundo José Bento da Cunha Figueiredo Júnior, não queria “comprometer-se e, para evitar
812 Pedro II, n. 219, 23 set. 1862, p. 2-3. 813 Idem, p. 3. 814 Idem. 815 PAIVA, op. cit., 1979, p. 85. 816 Idem, p. 103. 817 STUDART, op. cit., 1910, p. 117. 818 Idem, p. 117.
210
embaraços ao gabinete [Caxias] de 2 de março [de 1861], se absteve de tomar as rédeas da
administração”819. Ainda segundo Figueiredo Júnior, o cônego tinha sido do Partido
Conservador, “mas achou-se em divergência com os Vieiras”, convertendo-se em liberal. Aliás,
durante a passagem pela administração da província, Pinto de Mendonça “foi censurado por
haver procedido de um modo desfavorável aos conservadores”820.
Em 1862, portanto, o cônego Pinto de Mendonça passava por um dos mais importantes
políticos liberais cearenses e o poder dele em Quixeramobim era reconhecido publicamente.
Ata de uma sessão da Assembleia Legislativa daquele ano, transcrita pelo Pedro II, registrou
interessante debate entre deputados. Questionando a “má situação em que se acha o partido
saquarema dominado pelo partido liberal e sofrendo perseguição da atual administração” – em
referência ao presidente Figueiredo Júnior –, o deputado Cordolino Barboza Cordeiro –
personalidade heroificada por Francisco José de Mattos, como demonstrado há pouco – afirmou
estarem em “boas condições” os conservadores de Quixeramobim, no que foi logo rebatido por
outro parlamentar, cujo nome não foi registrado na ata: “Só se o Sr. cônego Pinto é saquarema”.
“E o que tem o Sr. Pinto hoje em Quixeramobim?”, arguiu Cordolino. A resposta do outro
debatedor foi curta e direta: “Tem tudo”821.
Com visibilidade no Ceará e autoridade em Quixeramobim, o cônego Antônio Pinto de
Mendonça não ficaria quieto ante os impropérios de Francisco de Mattos. Este pôs em dúvida
o papel ocupado pelo vigário durante a crise epidêmica, denunciando-o como esquivo às
obrigações da comissão de socorros, sacerdote covarde, a negar sacramentos aos moribundos
por medo de contaminação, e de se apropriar de baetas voltadas aos indigentes.
Se o relato de Mattos teve como veículo o jornal conservador do Ceará, a resposta do
cônego ocuparia outras páginas: as do principal órgão liberal de Fortaleza. Em 9 de dezembro
de 1862, Pinto de Mendonça usou O Cearense para revidar os ataques sofridos822. Logo ao
primeiro olhar, algo chama a atenção na réplica: o tamanho. Em 1862, cada edição d’O
Cearense e do Pedro II era impressa em quatro páginas, diagramadas em 4 faixas verticais cada,
portanto, 16 faixas ao todo. A correspondência de Francisco de Mattos foi publicada entre as
819 ANRJ. Ofício confidencial. 26 out. 1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 820 ANRJ. Ofício confidencial. 26 out. 1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 821 Pedro II, n. 266, 20 nov. 1862, p. 2. 822 O Cearense, n. 1554, 9 dez. 1862, p. 2-4. Infelizmente, o exemplar disponível na Hemeroteca Digital está
danificado. Falta uma faixa vertical das páginas 1 e 2. Por conta disso, uma coluna inteira da resposta do cônego
Antônio Pinto de Mendonça não pode ser lida. Todavia, como o texto ocupou 3 das 4 páginas daquela edição, a
maior parte dele permanece conservada, sendo possível compreender a linha argumentativa adotada pelo cônego
no rebate a Francisco Mattos.
211
páginas 2 e 3 do Pedro II, ocupando cerca de duas faixas823. Aquele número do diário
conservador trazia variação nos tamanhos dos tipos usados para impressão, por isso, havia
artigos com letras maiores e outros com menores. O de Mattos, por exemplo, estava entre os de
caracteres diminutos. Portanto, a publicação dedicada a desancar o vigário de Quixeramobim
ocupou espaço relativamente grande naquela edição.
Não obstante, quando comparado à réplica escrita por Pinto de Mendonça, o escrito de
Mattos parece minúsculo: o revide do cônego estendeu-se entre as páginas 2 e 4, ocupando
cerca de 12 faixas do jornal. A dimensão do texto indicia como Pinto de Mendonça investiu na
refrega. Não há informação se o cônego comprou espaço no jornal para a veiculação do texto.
Como a maioria dos jornais oitocentistas, O Cearense abria espaço para impressões “a pedido”,
nas quais os interessados podiam publicar anúncios, cartas, convites, necrológios etc., mediante
pagamento de taxa determinada pela redação do órgão. Em 1862, por exemplo, a capa d’O
Cearense informava os valores cobrados: 40 réis por linha publicada a pedido de assinantes e
80 réis para não-assinantes ou “o que se convencionar”824, denotando, assim, a possibilidade de
barganhar o preço junto à redação. Homem reconhecidamente rico e importante correligionário
dos redatores d’O Cearense, Pinto de Mendonça deve ter gozado de facilidades na viabilização
da longa réplica dirigida ao colega de comissão sanitária e desafeto declarado.
O título escolhido pelo cônego Pinto de Mendonça para a publicação não deixava de ser
contraditório, tendo em vista o espaço ocupado na edição: “Uma simples resposta ao Sr. F. J.
de Mattos”. Abaixo do título, veio uma epígrafe, já indicando o tom adotado pelo texto:
Braveja detrator, braveja insano
Arde, blasfema em vão; de algo te sirva
Tenaz verdade que te rói por dentro825.
Os versos, retirados da “Epístola Pena de Talião”, do poeta português Manuel Bocage
(1765-1805)826, descreviam personagem tomada pelo ódio e queimando internamente por suas
mentiras. Assim iniciava a detração a Mattos, autor de correspondência, nas palavras do cônego,
“contendo fatos que maculam meu caráter, como pároco e como cidadão”827.
Encadeando os fatos cronologicamente, estratégia similar à adotada no texto escrito por
Mattos, Pinto de Mendonça taxava como “narração inexata, enfadonha” as informações do
823 Pedro II, n. 219, 23 set. 1862, p. 2-3. 824 O Cearense, n. 1508, 21 jan. 1862, p. 1. 825 O Cearense, n. 1554, 9 dez. 1862, p. 2. 826 BOCAGE, Manuel Maria Barbosa Du. Soneto e outros poemas. São Paulo: FTD, 1994. 827 O Cearense, n. 1554, 9 dez. 1862, p. 2.
212
cirurgião a respeito das ações tomadas por este quando do “aparecimento do cólera”. Tal
narrativa teria por escopo “fazer sobressair prestimosos serviços prestados” por Mattos, “no
estabelecimento dum hospital, de que se encarregou, em um casebre que para isso ofereci”828.
Ressaltava ter o “público desta cidade” a lembrança de como o hospital fora montado “à minha
custa e doutros, que subscrevemos para ele, e com que despesa!”. Na sequência, ironizava o
valor doado por Francisco de Mattos: “Dez mil réis!!! E isto quando esperava receber do tesouro
alguns contos de réis em razão dos seu engajamento”829 no tratamento dos coléricos. Ao citar a
subscrição, Pinto de Mendonça tentava apresentar o oponente como alguém mesquinho e
avarento, portanto, avesso à caridade830.
Na sequência, o cônego punha em suspeição o diagnóstico feito por Mattos a respeito
de casos de colerina em Quixeramobim entre maio e fins de junho: “apenas uma ou outra pessoa
se queixava de diarreia mui passageira”. Com isso, o autor buscava invalidar a narrativa do
cirurgião sobre como, antes mesmo de ter sido nomeado para a comissão de socorros, atuara na
prevenção do cólera na cidade. Ao mesmo tempo, atribuía o diagnóstico a motivo nada nobre:
“Pouco me importava, que fosse cálculo do Sr. Mattos propalar, que existia a colerina desde o
dia 6 de maio, para ter jus à percepção da diária, por que estava engajado”831 pelo governo
provincial para o tratamento dos doentes. Tal atitude não seria novidade, fazendo parte do
histórico pessoal do cirurgião, há muitos anos vivendo “como um zangão dos cofres públicos”.
Após negar ter sido o autor da correspondência publicada n’O Cearense a 26 de agosto
de 1862 – aquela a acusar Mattos de “mamata” e elogiar o papel do cônego e dos padres,
primeira a pôr em cena a crise interna da comissão de socorros de Quixeramobim832–, Pinto de
Mendonça reconhecia o desempenho do delegado Cordolino, mas ridicularizava o tom adotado
pelo último a respeito do “herói da quadra”: “N’O Cearense se diz que o Sr. Dr. Cordolino
prestara relevantes serviços; mas não, como vosmecê por adulação [disse no Pedro II], que
acompanhara os caixões mortuários para o cemitério a toda hora do dia e da noite!”833.
Na sequência, Pinto de Mendonça afirmava não querer, nem precisar, dos elogios de
Francisco de Mattos. Aliás, insinuava já os ter tido de “sobra” no passado, quando era útil aos
interesses do hoje inimigo: “já fui também um herói, quando concorri para sua vinda a esta
828 O Cearense, n. 1554, 9 dez. 1862, p. 2, grifo da fonte. 829 Idem, grifo da fonte. 830 A Gazeta Official informou o valor arrecadado na subscrição citada: seiscentos e sessenta mil réis, doados por
vinte e quatro pessoas. A lista de doadores, impressa segundo a ordem decrescente de valores entregues, era
encabeçada pelo cônego, doador de cem mil réis, e encerrada pelo cirurgião Mattos, que cedera valor dez vezes
menor. Gazeta Official, n. 19, 17 set. 1862, p. 4. 831 O Cearense, n. 1554, 9 dez. 1862, p. 2. 832 O Cearense, n. 1539, 26 ago. 1862, p. 2 833 Idem.
213
freguesia, quando me propus por vezes a fazer-lhe porção entre os amigos e quando...”. A frase
incompleta, com reticências, deixava no ar algum favor importante. O recurso ao mesmo tempo
provocava Mattos, teoricamente devedor da benesse, e deixava os leitores curiosos: qual seria
a mercê não enunciada? De qualquer modo, ao citar como deixou de ser “herói”, Pinto de
Mendonça acrescentava outra característica negativa do desafeto: a ingratidão.
Como era de se esperar, a réplica não deixou de tratar de umas das denúncias mais sérias
feitas pelo cirurgião: Pinto de Mendonça fugira das obrigações sacerdotais por medo. O cônego
repudiava a acusação, afirmava ter socorrido os “fregueses na calamitosa crise”, estando atento
às “suas necessidades espirituais como temporais”, movido pelo dever e sem medo. Pelo
contrário, afirmava ter encontrado em si, durante a quadra epidêmica, “uma fortaleza que não
esperava”834. Apenas em um dia deixara de ir à matriz. Nos demais, presidira “a novena de
penitência”, ouvira confissões e administrava “sacramentos aos que me procuravam a qualquer
hora do dia e da noite”835. Como testemunhos desta versão, citava a manifestação de autoridades
neste sentido, troçando da validade do testemunho de Mattos, pois “no quarto ou quinto dia de
epidemia se deu por doente, e só apareceu um mês depois dela extinta”836.
Para Pinto de Mendonça, três fatores explicariam os ataques de Francisco Mattos: a
questão da autoria da carta, publicada n’O Cearense, pedindo a exoneração do cirurgião e
levantando suspeitas sobre o uso indevido dos recursos provinciais; o fato do cônego ter se
negado a assinar atestado abonando os serviços prestados por Mattos nos distritos de Quati e
Milagres; Por fim, o cirurgião estaria persuadido de ter Pinto de Mendonça agido junto ao
cônsul português em Fortaleza, Manoel Caetano de Gouveia, para obstar uma fiança de 30
contos referente ao projeto “Fazenda Modelo”, cujo contrato fora firmado entre Mattos e o
governo provincial837.
834 O Cearense, n. 1539, 26 ago. 1862, p. 2. 835 Sem negar o fato de ter recusado ir à casa de Miguel Alves de Mello Câmara, para ministrar-lhe os últimos
sacramentos, o vigário justificava a decisão como algo costumeiro: “Costumo sempre esquivar-me, quanto posso
de confessar pessoas, que me são caras, ou pelos laços de parentesco, ou de amizade”. Tal prática refletiria o desejo
de evitar “um certo natural acanhamento” do confessando, induzindo “a fazer uma confissão, não tão perfeita,
como deve, principalmente na hora tremenda de seu passamento”. Desta forma, o cônego invertia a acusação feita
por Mattos: a negativa em ministrar os sacramentos não teria sido consequência do medo ou falha com os deveres
sacerdotais, e sim da preocupação com o bem-estar espiritual do moribundo, que, pela proximidade em relação ao
confessor, podia fazer confissão incompleta, com riscos para salvação da alma. Assim, era “uma calúnia revoltante
o que se pretendeu atribuir-me com relação a esse fato”. O Cearense, n. 1539, 26 ago. 1862, p. 2. 836 O Cearense, n. 1539, 26 ago. 1862, p. 2. 837 A “Fazenda Modelo” tinha como objetivo instituir estabelecimento voltado à pecuária, reunindo gado de
diferentes espécies, com vistas à melhora das criações provinciais. A pecuária era uma das principais atividades
econômicas do Ceará oitocentista, o que ajuda a explicar a razão do empreendimento. A resolução provincial n.
940, de 29 de agosto de 1860, estabeleceu contrato no valor de trinta contos de réis a ser fechado entre a Tesouraria
Provincial e o particular que assumisse a administração da fazenda. Em 1861, Francisco José de Mattos venceu a
disputa pelo contrato polpudo, recebendo dez contos de réis para iniciar os trabalhos (Pedro II, n. 198, 30 ago.
1861, p. 2). Aparentemente, Mattos pressionava o governo a liberar de uma vez os outros vinte contos previstos,
214
Pinto de Campos dedicou mais espaço à explanação do segundo fator. Ao não firmar o
atestado requerido pelo cirurgião, o cônego depreciava o profissionalismo do colega de junta
sanitária. Após o anúncio da chegada do cólera em Quati, cerca de 10 léguas em relação a
Quixeramobim, a comissão de socorros reuniu-se “para dar algumas providências a favor
daqueles infelizes”, a falecer “no mais completo abandono”. O grupo decidiu enviar Mattos ao
local, pois “já estava engajado pelo governo para curar o cólera em qualquer ponto da comarca”.
Ele deveria levar remédios e tratar dos doentes. Todavia, o cirurgião teria demonstrado “alguma
repugnância” à tarefa. Usando como escusa as dúvidas levantadas por outro médico sobre o
diagnóstico dos doentes de Quati, teria declarado à comissão a decisão de não sair da cidade,
onde seriam mais premente sua presença. Nesse ponto do texto, Pinto de Mendonça ironizava
a coragem do opositor: “Mas o Sr. Mattos não tem medo e prestou relevantes serviços”838.
Com novos óbitos reportados no distrito, a comissão “exigiu” a ida do cirurgião, “para
socorrer com remédios a esses desgraçados” e “examinar o estado das sepulturas, dos que ali
se tinham enterrado, e que se diziam estar exalando um mau cheiro e miasmas, que podiam
tornar a epidemia mais intensa e geral”. A pressão do delegado Cordolino teria sido
determinante para demover a resistência de Mattos em atender a determinação dos colegas de
junta. A alusão ao “herói”, tão elogiado na correspondência publicada pelo cirurgião no Pedro
II, era, novamente, usada pelo cônego para desqualificar o desafeto.
Forçado a ir a Quati, ao chegar lá, o cirurgião não teria tratado dos doentes nem
vistoriado o cemitério, retornando rapidamente a Quixeramobim. Teria agido de modo similar
no distrito de Milagres: “E quando assim procedia, estava engajado para curar por conta do
governo, e se julgava com direito de perceber a diária desde o dia do contrato!”. Nestes termos,
Pinto de Mendonça afirmava ter tido “bastante dignidade” ao se recusar a assinar atestados
favoráveis ao cirurgião839.
Na sequência, o cônego insinuava ter Francisco de Mattos se apropriado dos remédios
destinados aos doentes pobres, coisa que, insinuava, não fazia pela primeira vez, pois “uma
grande ambulância” existiria “em sua casa desde 1856”, quando a presidência do Ceará
remetera medicamentos para vários pontos, devido à presença do cólera nas províncias vizinhas.
daí porque tentou convencer o diplomata Manoel Caetano de Gouveia a servir de fiador no caso, manobra abortada
pela intervenção de Pinto de Mendonça, “antigo amigo e compadre” do cônsul português, nas palavras do cônego
(O Cearense, n. 1539, 26 ago. 1862, p. 3). Indícios revelados pela imprensa apontam que Mattos não cumpriu os
termos contratados, levando o governo provincial a enviar para Assembleia Legislativa proposta de rescisão ainda
em 1862. Aprovado o rompimento, Francisco José de Mattos ganhou uma década de prazo para devolver aos
cofres provinciais os “dez contos que já recebeu para esse fim” (Pedro II, n. 282, 11 dez. 1862, p. 2). 838 O Cearense, n. 1539, 26 ago. 1862, p. 3, grifos da fonte. 839 Idem.
215
Sendo assim, indagava Pinto de Mendonça: “como o Sr. Mattos teve a coragem de pedir à
comissão de socorros uma atestação, de que fornecera aos pobres, remédios grátis de sua
farmácia particular?”. Para dar mais veracidade ao relato, o texto citava um conflito ocorrido
entre Mattos e o “boticário Sousa”. Quando a comissão de socorros procurou comprar remédios
a serem enviados à vila de Quixadá, o boticário aceitou fornecê-los por cerca de quarenta mil
réis. Todavia, Francisco de Mattos, “o nosso homem de boa consciência”840, se propôs a vender
os mesmos medicamentos por vinte e cinco mil réis. A oferta não poderia ser mais suspeita,
levando o boticário Sousa, “exasperado”, a dirigir-se à casa do cônego,
[...] onde se achavam o Sr. Dr. Mendes e outras pessoas, dizendo em altas
vozes que o Sr. Mattos vendera por semelhante preço, porque os remédios
nada lhe custaram; pois eram os próprios do governo, principalmente a massa
cáustica, que ele não tinha, e não era capaz de preparar como a que vendera, e
pelo preço porque o fizera841.
Na sequência, o vigário de Quixeramobim negava ter usado “baetas e remédios do
governo para meus escravos”. Informava ter se prevenido de tudo necessário ao bem-estar da
família e “para socorrer aos pobres, no que fosse compatível com as minhas forças”. Já Mattos
teria usado cobertores com seus escravizados, além de dá-los a “seus amigos e pessoas
conhecidas” com condições de comprar tais peças no comércio. Enquanto as baetas eram
distribuídas conforme as afinidades pessoais do cirurgião, indivíduos necessitados não as
recebiam: “há muito confessei, e vi com dor, que não tinham um pano para se cobrirem”842.
O conflito entre o cônego e o cirurgião de Quixeramobim e as demais ocorrências,
apresentadas ao longo deste tópico, exemplificam como a imprensa cearense colocou em
circulação versões díspares a respeito das comissões de socorros e dos seus membros, também
politizando a cobertura sobre elas.
Para além das polêmicas e independentemente dos resultados práticos obtidos, as juntas
sanitárias foram estratégicas na organização dos socorros nas diferentes localidades atingidas
pelo cólera em 1862. Elas tomaram decisões sobre questões higiênicas e sanitárias,
840 O Cearense, n. 1539, 26 ago. 1862, p. 3, grifos da fonte. 841 Idem. 842 Após findar o longo relatório sobre o cirurgião Mattos, Pinto de Mendonça anexou a transcrição de vários
documentos e correspondências, na busca de validar as afirmações feitas. Nessa espécie de dossiê, constavam:
manifestação da Câmara Municipal, assinada por cinco vereadores, elogiando os serviços prestado pelo vigário na
quadra epidêmica; atestado do juiz de direito, que presidiu a comissão de socorros; declarações do delegado de
polícia; trecho do relatório escrito pela comissão sanitária para envio do governo provincial; cópias de cartas
escritas pelo cônego solicitando informações e pedindo aos destinatários autorização “para fazer o uso que me
convier” das respostas; e cartas do inspetor de quarteirão e de outro morador de Quati, descrevendo o mau
comportamento de Francisco de Mattos na localidade, quando fora enviado para tratar doentes e examinar as
condições do cemitério. O Cearense, n. 1539, 26 ago. 1862, p. 3-4.
216
improvisaram enfermarias, administraram recursos do governo provincial, promoveram
subscrições, agenciaram o enterro dos corpos, entre outras ações emergenciais. Numa província
com poucos médicos, sendo a maior parte residente em Fortaleza, e com apenas uma instituição
hospitalar – a Santa Casa de Misericórdia da capital, com um ano de existência quando da
chegada do cólera843 –, as comissões foram acionadas para garantir a distribuição de recursos,
medicamentos e cobertores por todo Ceará.
Em meio aos turbulentos dias do cólera, alguns comissionados, juntos a outros
indivíduos não inclusos nas comissões, conseguiram projeção social pelas ações executadas
durante a epidemia. Sobre tais personalidades foram publicados muitos textos na imprensa, com
elogios aos atos de caridade e filantropia supostamente realizados. Isso não deixou de trazer
possibilidades de favorecimento aos mesmos.
Por outro lado, passada a epidemia, entre 1863 e 1864, o cenário político do Ceará
reconfigurou-se, com a simbólica ascensão dos grupos posicionados ao lado do presidente da
província durante a crise. Fatores externos e internos explicavam as mudanças. É a respeito dos
prêmios almejados pelos prestadores de serviços durante o cólera e sobre o redesenho da
política no Ceará que o próximo capítulo irá deter-se.
843 Segundo Luciana de Moura Ferreira, a Irmandade da Misericórdia de Fortaleza foi criada em 1839, por ocasião
da visita de D. João da Purificação Marques Perdigão, Bispo de Olinda e Recife, diocese a qual estava ligado o
Ceará à época. A irmandade tinha por principal objetivo erguer um hospital. Todavia, apenas em 1847 teve início
a construção, sendo finalizada uma década depois. A lei provincial n. 958, de 4 de agosto de 1860 autorizou o
funcionamento do hospital, inaugurado em 14 de março de 1861. FERREIRA, Luciana de Moura. A Santa Casa
de Misericórdia de Fortaleza: acolhimento de enfermos e educação para a saúde pública (1861-1889). Tese
(Doutorado em Educação Brasileira). Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017, p. 76.
217
CAPÍTULO 4 - À ESPERA DOS PRÊMIOS: O PÓS-CÓLERA NO CEARÁ
4.1 - “É a epidemia dos elogios”
Senhor Redator,
Na terrível época do cólera, por que passamos, como é natural, aparecem
nessas ocasiões, que se formam tempos de exceção, e anormais, pessoas que
se distinguem, representando, cada um o seu papel, uns inspirados pelo gênio
do mal, faltando a caridade, só cuidando de si, sendo todo egoísta; e, o que é
mais, até se locupletando por ocasião da desgraça alheia, outros ao contrário,
como que fazendo um protesto contra os atos daqueles, dando um testemunho
de que o homem não é mau por natureza, e que o seu coração é incapaz dum
sentimento inútil, ei-los que se mostram heróis, ou protagonistas do drama de
dor, e de sofrimento para a humanidade844.
A citação acima serviu de preâmbulo à missiva assinada pelo pseudônimo Justus,
veiculada na sessão “Correspondência”, do O Cearense, em fins de agosto de 1862. Publicada
com o título “O capitão Carmo perante o cólera no Icó”, tinha como objetivo fazer o elogio dos
serviços prestados por Joaquim do Carmo Ferreira Chaves, do corpo de polícia provincial. Na
introdução, afirmava serem os momentos críticos, tal como o vivenciado na cidade por conta
do cólera, gatilhos para a leitura sobre a natureza das pessoas: de um lado, estariam aquelas
representadas sobre o viés do egoísmo e da maldade; do outro, as generosas, boas, por deixarem
os interesses pessoais em prol dos coletivos. Se às primeiras faltava o sentimento de “caridade”,
nas últimas sobrava altruísmo, tornando-as heroicas e protagonistas.
O texto lançava elogios aos prestadores de “bons serviços”, sendo “merecedores duma
honrosa menção”. Assim, sem citar nomes, elogiava médicos e sacerdotes, responsáveis pelo
socorro físico e espiritual dos enfermos, mas também proprietários rurais e negociantes
“caridosos, com os seus socorros pecuniários em favor da pobreza”. A partir desse ponto, Justus
começava a descrever as ações de Joaquim do Carmo na quadra epidêmica, quando se portara
não “somente como um soldado, um comandante de destacamento”, mas, “antes de tudo isto,
olhou-se como homem, como cristão!”845. Embora afirmasse não desejar “ferir
suscetibilidades”, em alusão à pretensa vontade do capitão de manter discrição sobre os atos
realizados, a carta o descrevia como alguém que “se multiplicava”, servindo a todos, ricos e
pobres. Seus principais atos teriam tido lugar nas duas enfermarias montadas na cidade, no
teatro e na cadeia pública. Mesmo tendo contraído o cólera, o militar teria se recusado a parar
844 O Cearense, n. 1539, 26 ago. 1862, p. 3. 845 O Cearense, n. 1539, 26 ago. 1862, p. 3.
218
“de acudir” a “quem lhe batia a porta”. Por isso, “pulou da cama fora, e ficou bom, e Deus o
consentiu sem dúvida para continuar na sua carreira de abnegação e de caridade com os seus
serviços extraordinários”846.
Após descrever Joaquim do Carmo Ferreira Chaves quase como santo, determinado em
continuar servindo aos que procuravam auxílio, mesmo estando ele debilitado, a carta revelava
outra faceta do capitão, bastante valorizada numa sociedade marcada pela desigualdade social,
escravidão e preconceito de cor: a energia para impor a ordem. Segundo Justus, “certa gente
ruim, que infelizmente sempre se honra com a denominação de canalha”, esteve a ponto de
tumultuar a cidade. Tais pessoas teriam realizado “vários roubos e tentativas para outros, como
até se suspeitou que pretendiam formar grupos, e invadir as casas dos ricos, que eles supunham
ter dinheiro”. Neste cenário, Joaquim do Carmo mostrou o gênio militar:
Essa gente cruel, e ingrata, no dia que via morrer maior número de pessoas
boas e gradas, supunha-se incólume, e dizia que os brancos se acabariam; e
gritava – o Icó é nosso –. O capitão Carmo do mesmo modo que era caridoso,
e brando, torna-se enérgico, e forte para castigar os desmandos da canalha847.
Pelo trecho, deduz-se ter a camada abastada e branca do Icó temido a conjuntura
epidêmica, pela ameaça de desordem social, caracterizada pela pretensa ação da “canalha”,
representada como criminosa. O medo da doença somou-se ao temor das “classes perigosas”848,
fenômeno visível em outras epidemias do cólera no mundo oitocentista, onde os pobres,
majoritariamente vítimas da doença, foram representados como focos de desordem, ou
protagonizaram, de fato, rebeliões849. Todavia, “as pessoas boas e gradas” da cidade tinham
quem lhes valesse. Quando a mortalidade aumentou, sendo “preciso sepultar de 40 a 50, e mais
846 O Cearense, n. 1539, 26 ago. 1862, p. 3. 847 O Cearense, n. 1539, 26 ago. 1862, p. 3. 848 A descrição feita por Justus sobre a “canalha” do Icó encaixa com a visão preconceituosa presente na expressão
“classes perigosas”. O termo teve ampla difusão no Ocidente ao longo do oitocentos. No geral, era utilizada para
definir segmentos marginalizados, que recusariam trabalhos, preferindo viver cometendo crimes. No caso do
Brasil, “classes perigosas” seriam representadas como “classes pobres viciosas”, majoritariamente vistas como
compostas por pessoas de cor, tidas como fonte constante de ameaça ao ordenamento social. Ver: CHALHOUB,
op. cit., 1996, p. 20-23. 849 Como já afirmado anteriormente, revoltas populares ocorreram durante os surtos de cólera em países como
França, Rússia e Alemanha. Em 1856, o caso do “Pai Manoel” também levou Recife à beira de uma revolta,
liderada pelas camadas negras da cidade, que suspeitavam de um complô das autoridades para matar a “gente de
cor” (DINIZ, op. cit., 2003, p. 358). A quadra epidêmica trazia problemas que aumentavam as tensões sociais, tais
como: elevação dos preços dos alimentos, por conta das medidas de quarentena; as mudanças impostas sobre o
cotidiano da população, como nos ritos religiosos e nas práticas de cura tradicionais; as medidas disciplinadoras
de médicos e autoridades públicas; a piora das condições de trabalho e higiene; etc. Por outro lado, entre as elites,
assustadas com a epidemia e com a possibilidade de distúrbios sociais, prevalecia um discurso que via a doença
como resultante da “fraqueza moral e falta de autocontrole” da pobreza, isentando-se de uma percepção mais ampla
dos problemas da época, como se a “distribuição desigual da riqueza e da saúde” fossem “responsabilidade do
indivíduo e não da sociedade como um todo” (EVANS, op. cit., 2005, p.355). Todos esses fatores ajudam a
problematizar o cólera como fenômeno histórico.
219
por dia e noite”, a “gente ruim” foi forçada a se integrar nos trabalhos do cemitério. Quando se
negavam a fazê-lo, “mesmo mediante boa paga e muitas rogativas”, o “cinturão do soldado era
apontado a esses desalmados, que só assim se prestavam” aos afazeres. Desta forma, sem a
coação liderada pelo capitão Joaquim do Carmo, disciplinando e subordinando a “canalha”, “os
cadáveres ficariam insepultos”850 e a turba tomaria Icó.
Ao apontar as tensões existentes na primeira cidade tocada pelo cólera no Ceará e a
mescla entre brandura e energia do capitão Joaquim do Carmo, a missiva de Justus é um dos
exemplos mais interessantes da série de textos elogiosos, publicados na imprensa cearense ao
longo de 1862, voltados à avaliação dos serviços prestados por determinadas pessoas durante a
epidemia. Comumente descritas como atos de “justiça”, as publicações afirmavam-se
motivadas pela gratidão das localidades com os socorros oferecidos por figurões locais na crise,
usualmente apresentados como discretos, não adeptos do autoelogio e autopromoção.
Não obstante a suposta característica reservada dos beneméritos, as correspondências e
notícias publicadas nos jornais afirmavam-se no dever de divulgar os serviços proporcionados
por eles. Autor de publicação intitulada “Um voto de gratidão aos benfeitores de Baturité na
presente quadra”, Antônio Francisco da Silveira Júnior assegurava ser o louvor “o salário da
virtude na terra, enquanto no Céu o Onipotente decretará outro que não é dado aos mortais
conhecerem”851. Ao afirmar isso, o autor fazia referência a um princípio evangélico: “Tende o
cuidado de não praticar as vossas boas ações à frente das pessoas para serdes vistos por elas. Se
assim não for, não tendes recompensa da parte do vosso Pai que está nos céus” (Mateus 6, 1)852.
Contudo, argumentava Silveira Júnior, “além do louvor”, haveria algo mais “nobre nos
sentimentos do homem justo, que é o reconhecimento de gratidão”853. Assim, o dever de
gratidão do autor para com dez pessoas destacadas exemplarmente durante o cólera em Baturité
seria o mote da publicação e não a louvação condenada pelo evangelho, por colocar em risco a
“recompensa” celeste das boas práticas.
Não faltaram relatos parecidos com os de Silveira Júnior na imprensa cearense de 1862.
Alguns eram longos, fazendo apanhado geral de cada benfeitor local. No entanto, foi comum,
também, a publicação de notícias curtas, dando conta de obras individuais realizadas em prol
dos pobres acossados pelo cólera, como evidenciam os exemplos a seguir:
850 O Cearense, n. 1539, 26 ago. 1862, p. 3. 851 O Cearense, n. 1538, suplemento, 10 ago. 1862, p. 1. 852 Bíblia: Novo Testamento – Os quatro Evangelhos. Vol. 1. Tradução do grego, apresentação e notas por
Frederico Lourenço. São Paulo: Companhia das Letras, 2017, p. 78. 853 O Cearense, n. 1538, suplemento, 10 ago. 1862, p. 1.
220
Esmolas – O Sr. José Smith de Vasconcellos, também muito conhecido nessa
cidade pelo seu gênio filantrópico, acaba de dar mais uma prova de sua
caridade ofertando para os hospitais que o governo vai montar, para o
tratamento do cólera, cem camisas, e cem cobertores; louvamos ao Sr. Smith
por tanta generosidade854.
De carta do nosso correspondente do Saboeiro, [...], consta que o cólera se
acha extinto no Assaré, tendo feito umas 140 e tantas vítimas.
O nosso prestimoso amigo Dr. Gonçalo Batista Vieira fez um ato de caridade
e que muito honra e recomenda seu caráter à gratidão pública, socorrendo
aquele lugar com dinheiro, e dando ordem franca para se fornecer o gado
necessário durante a epidemia855.
Se a caridade era usada para propagandear os feitos de certos indivíduos, a pretensa
ausência dela também servia para ataques. Em setembro de 1862, O Araripe publicou notícia
intitulada “ESMOLA”. Nela, tratava do padre Antônio Pereira de Vasconcelos, morador de
Missão Velha. Segundo o jornal, o sacerdote seria “um dos mais opulentos capitalistas da
província”. No tempo do cólera, teria sido “convidado pela comissão sanitária [...] para
subscrever em favor da população pobre da freguesia”, ocasião na qual “dignou-se enviar-lhe,
para este fim, NADA”856. O Araripe ironizava a situação, dizendo “consignar este ato de
generosa caridade de um sacerdote velho, que caça de espingarda para comer!”. Além da
acusação de avarento, Vasconcellos ainda teria falhado em suas obrigações, pois “não quis, por
exemplo, ouvir em confissão a um colérico, para quem fora chamado!”. O Araripe arrematava
em tom de galhofa: “Fique isto consignado, para que seja eterna a gratidão do público”857.
Pela leitura das citações acima, fica claro serem a caridade e a filantropia fulcrais nas
narrativas sobre ações de grandeza na conjuntura epidêmica. Segundo Michel Mollat, as noções
de “filantropia” e “beneficência” surgiram no século XVIII, passando a concorrer com os
tradicionais termos “caridade” e “misericórdia”. Enquanto os últimos embasavam-se em longos
imaginários religiosos e práticas piedosas tradicionais, as novas palavras teriam sentidos mais
profanos, ligados à “razão do Estado” e às novas preocupações com o lugar dos pobres nas
sociedades858. Para Gisele Sanglard e Luiz Otávio Ferreira, as obras filantrópicas, idealmente,
pressupunham uma ação social desvinculada do caráter espiritual ou missionário:
A filantropia, ou benemerência, é um neologismo surgido na França das Luzes
e se difere da caridade por se propor estar desvinculada de qualquer vestígio
de piedade e ter subjacente a ideia da utilidade social. Ao passo que a caridade
reflete o temor a Deus e uma atitude de resignação ante a pobreza, ou, dito de
outra forma, a caridade sempre se pautou por minimizar o sofrimento alheio;
854 O Cearense, n. 1523, 6 mai. 1862, p. 1. 855 Pedro II, n. 197, 29 ago. 1862, p. 1. 856 O Araripe, n. 287, 6 set. 1862, p. 2, grifos da fonte. 857 O Araripe, n. 287, 6 set. 1862, p. 2 858 MOLLAT, Michel. Os pobres na Idade Média. Rio de Janeiro: Campus, 1989, p. 290.
221
a filantropia, uma virtude laicizada, é uma ação continuada, refletida e não
isolada859.
Malgrado a diferenciação entre “caridade” e “filantropia”, os autores afirmam: no
Brasil, o limite entre as duas noções era tênue860. As publicações sobre o cólera no Ceará de
1862 comprovam a afirmação. Elas, nitidamente, mesclaram as terminologias, tomando-as por
sinônimos. Os recursos doados por figurões aos pobres, por exemplo, eram classificados como
“esmolas” em algumas ocasiões, ou como “subscrições” noutras, mas a noção caritativa
permanecia subjacente em ambos os casos. A indistinção entre atos caridosos e filantrópicos
aparece, inclusive, numa nota divulgada pelo O Sol:
Caridade – O Sr. Dr. Antônio Vicente do Nascimento Feitosa, ilustre
pernambucano, e advogado do Recife remeteu pelo Jaguaribe uma
ambulância de medicamentos para cura dos afetados da epidemia da freguesia
de Santa Ana do Acaracu; e o Sr. deputado desembargador Figueira de Mello
200$000 réis para serem distribuídos com coléricos indigentes do Sobral.
Louvores a estes dois cidadãos filantrópicos861.
Na prática, naquele contexto, caridade e filantropia definiam atos exercidos por pessoas
abastadas a, no máximo, minorar o sofrimento de alguns indigentes em ocasiões específicas,
sem modificar em nada as condições sociais causadoras da miséria. Tratando da epidemia do
cólera em Hamburgo, em fins do século XIX, Richard J. Evans afirmou ter a filantropia
desempenhado um papel importante na legitimação da desigualdade social da cidade862. Seja
pelo sentimento de piedade ou pelo cálculo político em torno das “classes perigosas”, os
serviços prestados por setores das elites cearenses em 1862 estavam próximos do que Sanglard
e Ferreira definiram como um “relacionamento intraclasse – com uma política para os pobres e
uma política entre elites”863. Ademais, como venho demonstrando, os atos generosos praticados
por alguns indivíduos rendiam louvores públicos, forma de aumentar a distinção social deles.
As câmaras municipais cearenses também foram responsáveis pela difusão de notas
laudatórias a respeito da beneficência. Várias dessas instituições aprovaram votos de
agradecimento a cidadãos envolvidos nos socorros públicos das localidades. Tais documentos
eram divulgados na imprensa, ganhando repercussão pela província. Quando foi alvo de
859 SANGLARD, Gisele; FERREIRA, Luiz Otávio. Caridade e filantropia: elites, estado e assistência à saúde no
Brasil. In: TEIXEIRA, Luiz Antonio; PIMENTA, Tânia Salgado; HOCHMAN, Gilberto (orgs.). História da saúde
no Brasil. São Paulo: Hucitec, 2018, p. 149. 860 SANGLARD; FERREIRA, op. cit., 2018, p. 152. 861 O Sol, n. 281, 22 jun. 1862, p. 3, grifos da fonte. 862 EVANS, op. cit., 2005, p. 478. 863 SANGLARD; FERREIRA, op. cit., 2018, p. 148.
222
acusações desabonadoras da atuação como membro da comissão sanitária e vigário de
Quixeramobim, o cônego Pinto de Mendonça publicou n’O Cearense um voto de
agradecimento dos vereadores. Segundo o documento, o cônego prestara “grandes e valiosos
serviços” durante a “calamitosa quadra”, agindo “com tanto zelo, e dedicação que apesar do
horror que incutiu nos ânimos esse cruel flagelo da humanidade, e apesar de sua adiantada idade
se mostrou intrépido, e incansável na distribuição” dos socorros espirituais e temporais. Sobre
estes últimos, destacava ter sido Pinto de Mendonça um “dos que subscreveram mais avultada
quantia em benefício dos indigentes, aos quais particularmente ainda esmolava o pão da
caridade”. O voto de agradecimento finalizava declarando: os “relevantes serviços” do cônego,
jamais seriam esquecidos por quem sabe “apreciar os atos de verdadeira bondade”, afinal, foi
“na sua freguesia um dos heróis dessa época calamitosa, em que se portou como zeloso pastor,
e como cidadão prestimoso”864.
A quantidade de impressos exaltando o papel de padres, médicos, funcionários públicos,
proprietários rurais, negociantes, entre outros indivíduos abastados, pelos trabalhos realizados
durante a quadra epidêmica, não deixou de suscitar críticas. A meu ver, a mais interessante
estava numa carta enviada de Baturité ao O Cearense. Assinada pelo pseudônimo “José
Macaco”, e datada a 11 de setembro de 1862, informava à redação o desaparecimento da
“epidemia do cólera que tão horrorosamente devastou esta cidade”. Não obstante a “agradável
notícia”, o missivista noticiava ter o cólera dado lugar a “outra epidemia, se não tão terrível e
perigosa, pelo menos de lúgubres consequências”: a “epidemia dos elogios”865. Segundo José
Macaco, “todos querem merecê-los, e por causa disto já se vão desenvolvendo profundos
desgostos, e até mesmo algumas brigas têm havido”.
Narrava ter uma reunião da Câmara Municipal sido convocada com o propósito único
de “tecer elogios”, levando o missivista a supor: “haverá nela muitas bordoadas, e que alguém
irá visitar a cadeia”. Fazendo alusão à diarreia causada pelo cólera, deixando “a barriga vazia”,
José Macaco mostrava-se espantado com “certas pessoas” a pretender encher o abdômen “com
elogios”. Sobre a reunião, conversara com um vereador. Este confessara não ter informações
suficientes para atestar as obras de alguns indivíduos candidatos aos louvores da casa
legislativa: “Eu fui chamado pela câmara para fazer elogios a essas pessoas, mas que morando
distante da cidade, assim como muitos dos vereadores, não sei como me ei de atar, salvo se
atestar como testemunha ocular por ouvir dizer e tudo mais é história”866. A confidência, quase
864 O Cearense, n. 1554, 9 dez. 1862, p. 3. 865 O Cearense, n. 1543, 25 set. 1862, p. 3. 866 O Cearense, n. 1543, 25 set. 1862, p. 3, grifo da fonte.
223
levara José Macaco a abandonar a sisudez e dar “uma famosa gargalhada”. Ante a busca de
saudações por tantas pessoas, indagava o que estaria por traz do fenômeno. Insinuando não ter
certeza sobre o caso, indicava a possibilidade do governo ter prometido “algum prêmio, ou
alguma comenda a quem fosse elogiado, pois nunca vi tanta fome, e desespero por elogio”867.
A hipótese não se dava ao acaso. O próprio presidente do Ceará fazia promessas veladas,
na correspondência oficial, sobre a possibilidade de premiar os bons serviços oferecidos durante
a crise epidêmica. Dirigindo-se ao médico Manoel Marrocos Telles, que se prestava “a tratar
gratuitamente a classe indigente acometida da epidemia reinante” em São João do Príncipe,
Figueiredo Júnior afiançava não ser “indiferente ao desinteresse” e à “esplêndida prova” dados
por Marrocos naquela vila, deixando implícita a chance de recompensa: “cumpro o grato dever
de louvar os seus sentimentos de filantropia e caridade, assegurando-lhe que o governo toma
no devido apreço os seus valiosos serviços”868.
A expectativa de que atos altruístas exercitados na epidemia poderiam ser remunerados
não se dava ao acaso. Estava ancorada na política de gratificações adotada nas monarquias
portuguesa e brasileira. Como demonstrou António Manuel Hespanha, no Antigo Regime
português, determinados “ofícios públicos”, exercidos “sem caráter profissional e quotidiano,
participavam do imaginário do serviço religioso, combinado com o imaginário do serviço
feudal”869. Ambos pressupunham a “gratuidade”: eram prestados conforme “um nobre
espírito”, análogo “à disponibilidade dos crentes para o serviço de Deus ou dos vassalos para o
serviço de seu nobre senhor”. Por isso, o pagamento por eles não era obrigatório, nem podia se
assemelhar ao “salário dos ofícios mercenários”, dado em troca de um trabalho. Não obstante,
havia a esperança de recompensa, pelos atos extraordinários realizados, graças à “liberalidade
do príncipe”, a quem cabia o dever de “retribuir com mercês os serviços dos beneméritos”. Do
mesmo modo, os ocupantes de postos administrativos, mesmo recebendo salários regulares
pelas funções executadas, também podiam receber prêmios do príncipe como remuneração pelo
bom desempenho870.
Como apontou Jurandir Malerba, a partir da segunda metade do século XVIII, as
“distinções hierárquicas” tornaram-se o “principal capital que dispunha a monarquia” lusa para
“retribuir a fidelidade dos vassalos”871. Em momento delicado para a dinastia Bragança, a
867 O Cearense, n. 1543, 25 set. 1862, p. 3. 868 Pedro II, n. 113, 21 mai. 1862, p. 2. 869 HESPANHA, António Manuel. Caleidoscópio do Antigo Regime. São Paulo: Alameda, 2012, p. 208. 870 HESPANHA, op. cit., 2012, p. 209. 871 MALERBA, Jurandir. A Corte no exílio: civilização e poder no Brasil às vésperas da independência. São Paulo:
Companhias das Letras, 2000, p. 273.
224
transmigração da Corte para o Brasil, Dom João exerceu a “liberalidade” como nenhum outro
monarca português fizera, franqueando mercês aos súditos partícipes da travessia atlântica e
aos grupos abastados brasileiros, especialmente aos negociantes de grosso trato do Rio de
Janeiro. A largueza dos distintivos honoríficos foi tanta, que, houve quem afirmasse
ironicamente: “sobressaía quem não os portava”872.
Após a separação política entre Portugal e Brasil, o império dos trópicos manteve, com
adaptações, o arcabouço das mercês. O artigo 102 da Constituição de 1824 estabeleceu, entre
as prerrogativas do Imperador, a concessão de “Títulos, Honras, Ordens Militares e Distinções
em recompensa de serviços feitos ao Estado”873. Aliás, uma característica inovadora da
monarquia brasileira reforçava o poder pessoal do Imperador: ao contrário da tradição europeia,
a premiar bons serviços com a nobreza vitalícia e hereditária, os nobres brasileiros não
repassavam títulos aos herdeiros: “A hereditariedade só era garantida para o sangue real,
enquanto a titularidade se resumia ao seu legítimo proprietário”874.
Ao longo do período Imperial, a distribuição de títulos foi expediente recorrente para
premiação de méritos, mas também como política do “toma lá dá cá”875, servindo de
compensação em conjunturas específicas. Entre 1888 e 1889, por exemplo, Pedro II nomeou
mais de 170 barões, a maioria “sem grandeza”876. Os nomeados eram proprietários rurais
descontentes com a abolição da escravatura. Para José Murilo de Carvalho, a “Coroa tentava
devolver em símbolo e status o que retirava em interesse material”877.
Até a proclamação da República, em 1889, o número de títulos nobiliárquicos
conferidos foi de 1439878, cifra pequena em comparação às 25111 ordens honoríficas
distribuídas no Segundo Reinado, conforme apanhado feito por Luiz Marques Poliano879.
Algumas das comendas imperiais tiveram origem nas congêneres portuguesas: Nosso Senhor
872 MALERBA, op. cit., 2012, p. 873 NOGUEIRA, op. cit., 2015, p. 77. 874 SCHWARCZ, op. cit., 1998, p. 160. 875 SCHWARCZ, op. cit., 1998, p. 191. 876 A tradição real portuguesa dividia os títulos nobiliárquicos em dois grupos, cada qual com hierarquia interna
própria: os de “grandeza” correspondiam aos duques, marqueses e condes. Já viscondes e barões estavam entre os
“sem grandeza”. Quando Dom João VI esteve no Brasil, entre 1808 e 1820, 44 títulos foram criados segundo essa
divisão, sendo os de “grandeza” distribuídos entre fidalgos portugueses. Apenas sete títulos “sem grandeza” foram
dados a brasileiros (RAMINELLI, Ronald. Nobreza do novo mundo: Brasil e ultramar hispânico, séculos XVII e
XVIII. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015, p. 123). Com a independência do Brasil, novas distinções qualitativas
foram introduzidas no grupo dos viscondes e barões, que passariam a ter ou não “grandeza”. Os detentores da
distinção encontravam-se na seleta categoria dos “grandes do Império”. Neste sentido, o título de “barão sem
grandeza” era o menos importante, geralmente distribuído a grandes proprietários rurais, como os “barões do café”
da segunda metade do oitocentos (SCHWARCZ, op. cit., 1998, p. 175). 877 CARVALHO, op. cit., 2008, p. 258. 878 SCHWARCZ, op. cit., 1998, p. 160. 879 POLIANO, Luiz Marques. Ordens honoríficas no Brasil: história, organização, padrões, legislação. Rio de
Janeiro: Imprensa Nacional, 1943, p. 126.
225
Jesus Cristo; São Bento de Avis; e São Tiago da Espada. Ser nomeado cavaleiro nelas era objeto
de desejo durante o período colonial, como demonstram os polêmicos processos para
comprovação de “pureza de sangue” a que estavam submetidos os candidatos a fidalgo880.
Em 1827, bula papal de Leão XII separou a Ordem de Cristo brasileira da originária
lusa, criada no século XIV. Concedeu, ainda, aos imperadores brasileiros “o Grã-mestrado
perpétuo” nas três ordens citadas acima881. Todavia, o parlamento não aprovou o beneplácito
dado ao Imperador. Por fim, o decreto imperial n. 321, de 9 de setembro de 1842, regulamentou
a situação das ordens herdadas de Portugal, adaptando-as, ao substituir o caráter militar e
religioso originário por elementos “meramente civis e políticos”, destinados a “remunerar
serviços feitos ao Estado tanto pelos súditos do Império como por estrangeiros beneméritos”882.
Além das ordens herdadas da antiga metrópole, Pedro I criou outras: a Ordem Imperial
do Cruzeiro (1822); a Ordem de Dom Pedro (1826); e a Ordem da Rosa (1829). Entre as
comendas existentes no Império, a da Rosa883 foi a mais acionada por Pedro II. Segundo
Artidóro Pinheiro, até 1883, foram 14284 nomeações, com ampla vantagem em relação à
segunda colocada, a Ordem de Cristo, com 6616884. Já Luiz Poliano, calculou em 15146 o
número de agraciados com a Ordem da Rosa no Segundo Reinado885, o equivalente a 62% de
todas as concessões honoríficas registradas no período.
Tratando das ordens honoríficas no Primeiro Reinado, Camila Borges da Silva apontou
questões que ajudam a entender a importância adquirida por elas ao longo do período imperial.
Como as condecorações estavam embasadas no princípio de “retribuição dos serviços
prestados”, elas instituíam uma relação dialética entre a Coroa e os súditos, promovendo trocas
entre a Corte e as elites dos diferentes pontos do Império:
[...] a Coroa dependia das ordens para a busca de serviços e de apoio dos
grupos locais, uma vez que estes últimos poderiam tornar viável o ideal da
880 RAMINELLI, op. cit., 2015, p. 49-59; CADENA, op. cit., 2013, p. 36-45. 881 PINHEIRO, Artidóro Augusto Xavier. Organização das Ordens Honoríficas do Império do Brazil. São Paulo:
Typographia a vapor de Jorge Seckler & c, 1884, p. 4. 882 POLIANO, op. cit., 1943, p. 77. 883 A Ordem da Rosa foi instituída a 17 de outubro de 1829, como parte das comemorações pelo casamento de
Pedro I com Dona Amélia. O decreto de fundação defendia serem as distinções honoríficas “dignas recompensas
de ações ilustres”, além de “eficazes estímulos para empreendê-las”, tendo em conta o desejo de “reconhecimento
público”. Tanto brasileiros quanto estrangeiros podiam ser agraciados com a Ordem da Rosa pela “fidelidade” ao
monarca e “serviços feitos ao Império”. Ela foi a ordem imperial com mais classes hierárquicas: Grã-cruzes
(limitado a 16 vagas, entre 8 efetivas e 8 honorárias); Grandes Dignitários (16 vagas); Dignitários (no número de
32); Comendadores, Oficiais e Cavaleiros (classes sem quantidade delimitada). O Imperador era o grão-mestre da
ordem, enquanto o príncipe herdeiro seria “Grã-cruz e Grande Dignitário Mor”. Os demais príncipes da família
imperial eram Grã-cruzes. Aos agraciados eram garantidas insígnias, títulos de tratamento e honras militares
variando de acordo com a classe ocupada. PINHEIRO, op. cit., 1884, p. 20-22. 884 PINHEIRO, op. cit., 1884, s/p. 885 POLIANO, op. cit., 1943, p. 126.
226
centralização política. Essa relação entre Coroa e súditos era viabilizada
através do desejo de nobilitação existente na sociedade imperial, que fazia
com que as práticas sociais fossem mediadas por estratégias que visassem
elevar a pessoa a um círculo mais ou menos seleto de pessoas886.
Ainda segundo a autora, o desejo de distinção ancorava as representações sociais
existentes a respeito das ordens. O condecorado era visto como ocupante de estamento superior,
com reconhecimento e prestígio, por ser portador de “certa trajetória e de uma estilização da
vida”887. O beneficiado com a insígnia, inclusive, estava disposto a pagar caro pela manutenção
da posição social diferenciada888. Por outro lado, chegar ao círculo fechado dos nobilitados,
indiciava o pertencimento a “redes de conhecimento pessoal que levavam o pretendente ao
soberano”889. A concessão da honraria era apanágio do Imperador. Mas, ao concedê-la,
respondia às demandas e indicações dos grupos sustentáculos do seu poder. Não por acaso, o
aspirante às ordens precisava amparar o pedido de mercê com atestados de autoridades. Quanto
mais bem relacionada fosse uma pessoa, com laços familiares, pessoais e políticos a ligá-la a
ocupantes de postos destacados do Império, maior a chance de alcançar a distinção.
Feitas tais ponderações, é compreensível a razão dos primeiros surtos do cólera no
Brasil, entre 1855 e 1856, tornarem-se mote para atestados de conduta enviados à Corte.
Escritos por autoridades religiosas e políticas das províncias, davam conta do desempenho de
indivíduos na quadra epidêmica. Muitos dos atestados foram solicitados por pessoas ávidas em
ascender na nobilitação já conquistada. Antônio Lacerda de Chermont, o Barão de Arari, por
exemplo, solicitou a Dom José Affonso de Moraes Torres, Bispo do Pará, atestado sobre como
procedera na conjuntura do cólera em Belém, sendo atendido pelo prelado:
Atesto que o Senhor Barão do Arary durante a epidemia do cólera que atacou
ultimamente a Capital do Pará, prestou-se a socorrer à pobreza, não só com
avultadas esmolas pecuniárias, como com carne verde. Mandando-a distribuir
pelos pobres gratuitamente todos os domingos e quintas feiras como consta de
anúncios nos jornais desta cidade, onde é público este ato de caridade, que
886 SILVA, Camila Borges da. As ordens honoríficas e a Independência do Brasil: o papel das condecorações na
construção do Estado Imperial brasileiro (1822-1831). Tese (Doutorado em História). Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014, p. 31. 887 SILVA, op. cit., 2014, p. 37. 888 As ordens honorificas não deixaram de propiciar receita ao tesouro público. Os condecorados pagavam
impostos que variavam de acordo com a classe ocupada. Ao longo do Segundo Reinado, as taxas foram sendo
elevadas, atingindo valores nada irrisórios. Por exemplo, o decreto 7540, de 15 de novembro de 1879, estabelecia
os seguintes valores para os diplomas das condecorações: um conto e cento e noventa e cinco mil réis para os Grã-
Cruzes de qualquer ordem; novecentos e cinquenta mil réis para os Grandes Dignitários da Ordem da Rosa;
setecentos e trinta e cinco mil réis para Dignitários da Rosa e do Cruzeiro; quatrocentos e cinco mil réis para
Comendadores da Rosa e trezentos e trinta mil réis para a mesma classe das outras ordens; quatrocentos e cinco
mil réis para Oficias da Rosa e do Cruzeiro; e cento e noventa e cinco mil réis para Cavaleiros de qualquer ordem.
POLIANO, op. cit., 1943, p. 127-128. 889 SILVA, op. cit., 2014, p. 37.
227
usou para com os necessitados, assim como a faculdade, que deu a todos para
se proverem de aguardente de seu engenho sem alguma paga, na ocasião em
que ela era considerada como um dos importantes remédios contra aquele
mal890.
Documentos do tipo serviram de embasamento ao governo Imperial para a concessão
de títulos e comendas. Aliás, alguns dos que almejavam as distinções apelaram diretamente aos
políticos influentes no Império. Caetano Maria Lopes Gama, o Visconde de Maranguape, foi
um dos a usar o cólera para justificar a concessão de honrarias em favor de conhecidos. Indícios
disto constam em carta dirigida ao Marquês de Olinda. A missiva não foi datada. Todavia, pelo
conteúdo e destinatário, deve ter sido escrita entre 1857-1858, quando Maranguape ocupava a
pasta dos Negócios Estrangeiros no gabinete presidido pelo marquês. Na carta, Maranguape
enviava o “requerimento de Antônio Félix”, sobre o qual “ontem te falei”. O requerente tinha
acrescido “documentos para provar” ter mantido, durante a epidemia de 1856, “um médico no
engenho onde lhe morreram 28 escravos”. O profissional teria tratado “os doentes da
vizinhança”, medicando-os com a “botica que Antônio Félix tinha para esse fim estabelecido
no seu engenho”891. Segundo o Visconde de Maranguape, não haveria “naquele distrito quem
não saiba desses atos de caridade praticados por esse fazendeiro”892.
Já Luiz Pedreira do Couto Ferraz, futuro Visconde do Bom Retiro, chefe do Ministério
dos Negócios do Império quando dos surtos de cólera de 1855 e 1856, remeteu ao Marquês de
Olinda duas cartas tratando de possíveis condecorações. Na primeira, Couto Ferraz informava
ter “o dever de consciência de falar” a respeito de “certos nomes” cujos serviços por “ocasião
do cólera tomei nota”893. Ele tinha ido à casa de Olinda para abordar pessoalmente o assunto.
Alegava “certa urgência de falar e vê-lo”, mas não o encontrou. Como esperou, em vão, até às
“duas da tarde” o aviso de Olinda sobre o encontro, solicitava “a fineza de mandar-me dizer a
que hora” poderia achá-lo no dia seguinte, pois Couto Ferraz tinha pressa em “ir para Bom
Retiro” 894, localidade da qual tirou o posterior título de visconde.
Não há registro se a reunião ocorreu. Porém, outra carta de Couto Ferraz indicou a
Olinda alguns nomes, descreveu ações realizadas na epidemia e sugeriu as honrarias a serem
890 IHGB. Atestado do Bispo do Grão Pará de que o Barão de Arari socorreu a pobreza durante a epidemia de
cólera na província. 24 março de 1856. Coleção Instituto Histórico. Lata 179, Pasta 73. 891 IHGB. Carta do Visconde de Maranguape ao Marquês de Olinda. Sem data. Lata 213, doc. 68. Coleção Marquês
de Olinda. Lata 179, Pasta 73. 892 IHGB. Carta do Visconde de Maranguape ao Marquês de Olinda. Sem data. Coleção Marquês de Olinda. Lata
213, doc. 68. 893 IHGB. Carta de Luís Pedreira do Couto Ferraz ao Marquês de Olinda. Sem data. Coleção Marquês de Olinda.
Lata 213, doc. 68. 894 IHGB. Carta de Luís Pedreira do Couto Ferraz ao Marquês de Olinda. Sem data. Coleção Marquês de Olinda.
Lata 213, doc. 68.
228
concedidas a cada um. Nela, Couto Ferraz deixava “tudo bem explicado” e pedia ao marquês
“a maior e mais absoluta reserva” sobre o caso, “sobretudo no tocante a Cantagalo”. Justificava
o sigilo, alegando ser reconhecida “a amizade antiga” a ligar Olinda aos barões de Itapemirim
e de Nova Friburgo, por isso era importante evitar a maledicência: “Deus me livre, que se pense
você nisto ter levado só pela amizade; tal conceito seria injusto e iria prejudicar aos homens”895.
Além dos barões, entre os apontados por Couto Ferraz, destaco: Nicolau Neto Carneiro
Leão, “irmão do falecido Sr. Marquês de Paraná”. Ele “nada pediu, mas parece-me que o
oficialato da Rosa é o menos que você lhe pode dar”; Antônio Ribeiro Fernandes Torres, a
quem coube “a iniciativa dos donativos necessários para acorrer-se às despesas a que o cólera
obrigava”. Homem de muitos serviços e rico, “morre pelo título de barão”. Para o missivista, a
concessão do baronato “sem grandeza” não seria despropositada; Já o vigário do Engenho
Velho, José do Desterro Pinto, “deseja muito as meias encarnadas”896, ou seja, tornar-se bispo.
As correspondências citadas tinham propósito claro: o governo imperial estava
coletando atestados sobre as pessoas mais destacadas na conjuntura epidêmica de 1855 e 1856,
com vista à distribuição de títulos e ordens honoríficas por ocasião do aniversário de Pedro II,
a 2 de dezembro de 1858. Neste sentido, as mensagens de Maranguape e Couto Ferraz,
direcionadas ao Marquês de Olinda, tentavam incluir conhecidos e apadrinhados no rol dos
lembrados pelo beneplácito imperial.
Ao longo do ano de 1858, o Imperador conferiu alguns títulos e ordens honoríficas por
ocasião de festas religiosas e cívicas, além dos aniversários da família imperial, como era de
praxe no calendário da Corte897. Todavia, o governo reservou o dia do natalício de Pedro II para
distribuição massiva de benesses voltadas, especificamente, à “remuneração dos serviços
prestados por ocasião da epidemia do cólera morbo, nos anos de 1855 e 1856” 898. A relação
dos beneficiados, publicada na edição suplementar do Jornal do Commercio, trazia, em
primeiro lugar, os nomes dos novos titulados: dois condes (Santa Cruz899 e Beapendi), dois
viscondes (Boa Vista e Meriti), um barão (Marepi) e uma baronesa (Cametá)900.
895 IHGB. Carta de Luís Pedreira do Couto Ferraz ao Marquês de Olinda. Sem data. Coleção Marquês de Olinda.
Lata 213, doc. 68. 896 IHGB. Carta de Luís Pedreira do Couto Ferraz ao Marquês de Olinda. Sem data. Coleção Marquês de Olinda.
Lata 213, doc. 68. 897 SCHWARCZ, op. cit., 1998, p. 292-294. 898 Jornal do Commercio, n. 331, suplemento, 2 dez. 1858, p. 1. 899 O premiado com o título de Conde de Santa Cruz, foi D. Romualdo Antônio de Seixas de Santa Cruz, então
bispo da Bahia. Jornal do Commercio, n. 331, suplemento, 2 dez. 1858, p. 1. 900 O baronato dado a Anna Rufina de Sousa Franco Correia foi um reconhecimento aos serviços prestados pelo
falecido marido, o paraense Ângelo Custódio Correia, deputando geral em três legislaturas, morto devido ao cólera
em 1856, quando ocupava interinamente a presidência da província do Pará. Donald Cooper narrou a história: “No
auge da epidemia o governador interino do Pará, Ângelo Custódio Correia, chegou à Cametá a vapor para trazer
229
Na sequência, vieram os empregos honoríficos ligados à Casa Imperial, tão valorizados
quanto os títulos, por garantir “uma posição bastante respeitável na hierarquia social do
Império”901, além da proximidade com a família imperial. Luiz Pedreira do Couto Ferraz, que
há pouco vimos indicando nomes para serem premiados, foi designado “Veador”, oficial-mor
a serviço da imperatriz. A graça recebida, provavelmente, estava ligada ao fato de ter chefiado
o Ministério dos Negócios do Império durante o período da epidemia. Já a Marquesa do Paraná,
que junto à Baronesa de Cametá foram as únicas mulheres inclusas no rol dos agraciados
daquele 2 de dezembro, passou a ser “dama do palácio honorária”. O Marquês do Paraná morreu
em setembro de 1856, enquanto chefe do Gabinete da Conciliação. Desta forma, a honraria
dada à viúva funcionava também como homenagem ao estadista falecido, líder do governo no
tempo do cólera. Terminando o setor dos empregados da Casa Imperial, o engenheiro José
Maria Jacinto Rebelo recebeu as “honras de Oficial Menor”.
Seguindo tendência apresentada anteriormente, a respeito das ordens honorificas, a
maior parte dos agraciados pelos serviços durante o cólera recebeu a Ordem da Rosa. A lista de
beneplácitos foi publicada seguindo o padrão hierárquico das classes próprias da ordem. O
médico Francisco de Paula Cândido, diretor da Junta Central de Higiene Pública, principal
instituição sanitária do Império, foi quem recebeu a maior distinção na ocasião: tornou-se
Grande Dignitário da Rosa. Na sequência, 11 pessoas foram agraciadas como Dignitários, entre
elas: o Bispo de Pernambuco (Dom João da Purificação Marques Perdigão), o Visconde de
Ipanema, os barões de Carapebus, Nova Friburgo, Piabanha e Pilar902. O Barão de Nova
Friburgo foi um dos indicados na carta de Couto Ferraz ao Marquês de Olinda, citada faz
pouco903. Outro amigo de Couto Ferraz contemplado foi José Bento da Cunha Figueiredo.
Como tratado no capítulo dois, Cunha Figueiredo presidiu Pernambuco durante a epidemia do
cólera. Foi, inclusive, bastante criticado, especialmente pelo caso “Pai Manoel”. Até mesmo
Couto Ferraz, então Ministro dos Negócios do Império, o repreendeu por ter autorizado “que
suprimentos de socorros e evacuar muitos dos sobreviventes”. Na ocasião, teria retirado duzentas pessoas da
localidade. Todavia, o “governador Correia adoeceu do cólera no início da manhã da partida e morreu na mesma
tarde” (COOPER, op. cit., 1986, p. 473). Morto, Correia, o governo imperial concedeu uma pensão à viúva e o
título de baronesa de Cametá. Todavia, seu tempo de baronato foi curto: ao casar-se novamente, Anna Rufina
perdeu o título. BLAKE, op. cit., 1883, p. 86; SCHWARCZ, op. cit., 1998, p. 177. 901 GENOVEZ, Patrícia Falco. Os cargos do paço Imperial e a Corte no Segundo Reinado. Métis: história & cultura.
V. 1, n. 1, p. 215-237, jan./jun. 2002, p. 221. 902 Jornal do Commercio, n. 331, suplemento, 2 dez. 1858, p. 1. 903 IHGB. Carta de Luís Pedreira do Couto Ferraz ao Marquês de Olinda. Sem data. Lata 213, doc. 68. Coleção
Marquês de Olinda.
230
um preto da Costa se apresentasse como curador do cólera”904. Apesar das polêmicas, o ex-
presidente de Pernambuco acabou sendo promovido de Comendador a Dignitário905.
Quanto aos novos Comendadores da Rosa, foram 26 os nomeados906, entre os quais o
Barão de Muritiba, presidente do Rio Grande do Sul quando do cólera, José Pereira Rego –
futuro Barão do Lavradio, nome atuante da Junta Central de Higiene – e o Barão de Itapemirim,
outro a quem Couto Ferraz recomendara907. Aparentemente, as missivas ao Marquês de Olinda
cumpriram o intento: renderam benefícios a alguns amigos.
A penúltima classe da Ordem da Rosa, a dos Oficiais, teve 65 beneficiados908. Entre
eles, o Barão de Arari, o do atestado do Bispo do Pará909. Além do título de barão, Arari já era
Comendador da Ordem de Cristo. Assim, usando o cólera como justificativa, acrescentou outra
distinção para si.
Entre os Oficiais nomeados, encontrava-se, também, o nome de Antônio Félix Cabral
de Mello. Seria o “Antônio Félix” para quem o Visconde de Maranguape solicitara mercê na
correspondência ao Marquês de Olinda?910 Infelizmente, não há como precisar a questão.
Todavia, como inexiste outro “Antônio Félix” no rol dos contemplados e tendo em vista a
relação próxima entre Maranguape e Olinda, iniciada enquanto ainda eram estudantes na
Universidade de Lisboa, e visível nos três ministérios nos quais atuaram juntos911, não parece
crível uma recusa do marquês em pôr no rol dos agraciados alguém indicado pelo amigo.
Foi na classe dos Cavaleiros onde o governo imperial alocou o maior número de
beneplácitos: 486. Desde 1841, quando Pedro II passou a condecorar súditos anualmente com
a Ordem da Rosa, era a primeira vez a se criar quantidade tão grande de cavaleiros912. Não por
904 ANRJ. Carta de Luís Pedreira do Couto Ferraz a José Bento da Cunha Figueiredo. 08 mar. 1856. Fundo
Visconde do Bom Conselho. Doc. 33. 905 Jornal do Commercio, n. 331, suplemento, 2 dez. 1858, p. 1. 906 Jornal do Commercio, n. 331, suplemento, 2 dez. 1858, p. 1. 907 IHGB. Carta de Luís Pedreira do Couto Ferraz ao Marquês de Olinda. Sem data. Coleção Marquês de Olinda.
Lata 213, doc. 68. 908 Jornal do Commercio, n. 331, suplemento, 2 dez. 1858, p. 1. 909 IHGB. Atestado do Bispo do Grão Pará de que o Barão de Arari socorreu a pobreza durante a epidemia de
cólera na província. 24 março de 1856. Coleção Instituto Histórico. Lata 179, Pasta 73. 910 IHGB. Carta do Visconde de Maranguape ao Marquês de Olinda. Sem data. Coleção Marquês de Olinda. Lata
213, doc. 68. 911 Em 1839, quando Pedro de Araújo Lima (futuro Marquês de Olinda) era Regente do Império, Caetano Maria
Lopes Gama (Maranguape) foi chamado para o posto de Ministro dos Negócios Estrangeiros. No gabinete Olinda
de 1857, Maranguape ocupou novamente a pasta. Por fim, em 1862, os amigos estiveram juntos pela última vez,
com Maranguape chefiando o Ministério da Justiça. Com a saúde bastante comprometida, foi substituído por
Sinimbu no início de 1863. A idade e saúde dos componentes deste gabinete fazia jus ao apelido: “Ministérios dos
Velhos”. Aliás, o Visconde de Albuquerque morreu enquanto ocupava o posto de Ministro da Fazenda em 1863.
Maranguape faleceu em junho em 1864. Pouco meses depois, em 1865, o Marquês de Olinda voltou a ocupar o
posto de Presidente do Conselho de Ministros, em momento delicado da história nacional: a Guerra do Paraguai.
CADENA, op. cit, 2018. 912 PINHEIRO, op. cit., 1884, s/p.
231
acaso, havia muitos formados em medicina entre os laureados. Manuel Xavier Pedrosa, tratando
da lista de cavaleiros da Rosa de 1858, encontrou o nome de 201 médicos913. A quantidade
significativa dos discípulos de Hipócrates é indício do destaque obtido pelos profissionais nos
lugares atingidos pelo cólera, tornando-se auxiliares dos presidentes de província na
coordenação dos socorros públicos aos doentes. Atesta, ainda, o prestígio ascendente dos
esculápios no Império, atuando mais ativamente na sociedade, como na proposição de medidas
higiênicas e reformas urbanas, tidas como formas de prevenção das epidemias.
A leva de prêmios concedidos a 2 de dezembro de 1858 foi encerrada com os laureados
com a Ordem de Cristo: 27 comendadores e 221 cavaleiros. Assim, levando em conta todas as
classes das Ordens da Rosa e de Cristo, houve impressionantes 837 nomeações naquele dia. O
número expressivo refletia o impacto do cólera no país. Como tratei no primeiro capítulo, entre
1855 e 1856, quatorze províncias foram afetadas pela doença e cerca de duzentas mil pessoas
faleceram. Destarte, as ordens serviram para galardoar as pessoas destacadas nos socorros aos
coléricos e com prestígio e relações sociais suficientes para conquista da honraria.
Malgrado o recorde de graças concedidas, não faltou quem reclamasse da lista. Apenas
dois dias após a divulgação das mercês, textos foram publicados no Jornal do Commercio, no
Diário do Rio de Janeiro e no Correio Mercantil, criticando a insuficiência dos despachos. No
primeiro jornal, um escrito anônimo, dirigido ao Ministro do Império, Marquês de Olinda,
defendia não haver “nenhuma dúvida” de ter o governo de “aceitar qualquer reclamação por
parte daqueles que por iguais serviços não foram contemplados nos despachos [...] em
remuneração dos serviços prestados à humanidade na clamorosa quadra em que foi esta corte e
províncias ceifadas pelo cólera morbo”. Uma das ausências sentidas seriam os nomes dos
“inspetores de quarteirão da freguesia de Sacramento”, na Corte, para quem solicitava ao
marquês a reparação da “injustiça”. Citava, ainda, nomes de pessoas aptas a dar “informações
exatas” sobre a questão: o senador Sinimbu, o ex-chefe de polícia da área, um comendador e o
ex-subdelegado da freguesia914.
Outro texto, assinado pelo pseudônimo “Um apreciador do mérito”, defendia: “todo
mundo que lia no dia 2 a extensa lista dos agraciados”, bradava “QUE INJUSTIÇA!”915, ao não
encontrar incluso o Dr. Severiano Rodrigues Martins. Ele seria protagonista de muitos serviços
prestados ao povo durante a crise, salvando “centenas de vida”. A ausência do médico parecia
913 PEDROSA, Manuel Xavier de Vasconcelos. A cólera-morbo e a Ordem da Rosa. Anais do Congresso de
História do 2º Reinado (1975) - Comissão de História Política e Administrativa. Vol. 2. Rio de Janeiro: IGHB,
1984, p. 147. 914 Jornal do Commercio, n. 333, 4 dez. 1858, p. 2. 915 Jornal do Commercio, n. 333, 4 dez. 1858, p. 2, grifo da fonte.
232
incrível ao autor, só explicada por “esquecimento dele nessa confusão de nomes, onde o mesmo
indivíduo, como o Sr. Dr. Peregrino José de Freire, por exemplo, teve duas mercês (Cristo e
Rosa)”. O Dr. Severiano curava “nas principais casas da corte” e tinha amigos entre “as
principais notabilidades”. Estas deviam “lembrar não só seu nome, como os relevantes serviços
do habilíssimo médico”. Uma vez esquecido, Severiano ainda poderia vir a ser agraciado. Mas,
citando Tomaz Gonzaga, arrematava o texto: “As glórias que vêm tarde, já vêm frias”916.
As críticas do Diário do Rio de Janeiro às comendas entregues no natalício do
Imperador foram mais fortes917. Um editorial intitulado Ubinam gentium sumus? – expressão
retirada das Catilinárias de Cícero, cujo significado em português seria “em que lugar
estamos?”918 – aludia aos três anos a separar a epidemia da publicação dos despachos,
demonstrando a demora do governo em laurear os serviços prestados na crise. Uma vez
divulgada a lista dos premiados, o jornal classificava-a como “escárnio”, pois “foram
contemplados alguns com menos merecimento do que muitos outros que ficaram de fora”919.
Na sequência, indagava: as ausências seriam “esquecimento” ou “de propósito”? Na
opinião da redação do Diário do Rio de Janeiro, nada explicaria o esquecimento de “alguns
dignos fazendeiros, que fizeram parte de comissões em algumas freguesias da província”. Eles
teriam prestado serviços à custa de “seu dinheiro” e sacrifício pessoal, ao deixar as casas “na
ocasião mais crítica” para arcar com as atribuições dos comissionados:
Como esquecer estes dignos cidadãos que estão sempre prontos a concorrer
para as urgências do Estado, quando a eles acorre o governo? Como esquecer
estes homens cujas lavouras pela incúria, imprevidência e frouxidão do
governo deve brevemente definhar pela falta de braços, ficando assim
reduzida a fortuna de seus filhos?920
Segundo o texto, mesmo com todos os méritos demonstrados por estes “prestantes
cidadãos”, o governo não concedeu “um hábito, um aumento nas condecorações, que
porventura já possuíssem”. Assim, não demonstrava qualquer “gratidão”, não que ela pagasse
algo, pois “eles sabem servir a sua pátria, a seu soberano e socorrer seus semelhantes, sem visar
recompensa alguma”. Todavia, julgava a manifestação do governo necessária, servindo “como
uma prova de que seus serviços foram apreciados”. Desprezando àqueles que abriram
916 Jornal do Commercio, n. 333, 4 dez. 1858, p. 2. O trecho de Gonzaga citado pelo autor da nota em defesa do
Dr. Severiano pertence a obra “Marilia de Dirceu”. Ver: GONZAGA, Tomaz Antonio. Marília de Dirceu. São
Paulo: Prestígio/Ediouro, 2001. 917 Diário do Rio de Janeiro, n. 322, 4 dez. 1858, p. 1. 918 BARBOSA, Lydia Marina Fonseca Dias. As Catilinárias de Cícero: tradução e estudo retórico. Dissertação
(Mestrado em Letras Clássicas). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019, p. 19. 919 Diário do Rio de Janeiro, n. 322, 4 dez. 1858, p. 1. 920 Diário do Rio de Janeiro, n. 322, 4 dez. 1858, p. 1.
233
“ilimitadamente suas bolsas à pobreza desvalida”, o governo cometera “desfeita”, afinal, “ou
as graças deviam chegar a todos, sim a todos, ou então a ninguém”921. Na conclusão do editorial,
a crítica sobre a lista de benesses apareceu mesclada à condenação da política da Conciliação,
como se ela fosse responsável pelo não reconhecimento das ações praticadas quando do cólera:
Sim, é evidente que, então, nessa época de geral sofrimento, em que se
confundiram os partidos, em que todos se voltavam para o céu, implorando a
clemência divina, se representou, assim como hoje, ainda, se representa, uma
burlesca farsa. É evidente, que então, assim como hoje, ninguém apreciou
semelhantes serviços922.
A mesma edição trouxe texto mais irônico sobre o assunto. O foco dele era o Marquês
de Olinda. O ministro “estaria a esta hora muito enfermo”: “Sua Excelência foi atacado do
cólera das graças!”923. Os despachos de 2 de dezembro, afirmava o diário, engendraram
“mudanças atmosféricas”, causando uma “epidemia de cólera e de colerina”. Ridicularizando a
lista, citava o caso do vigário de Niterói, falecido em novembro, mas “agraciado com um
hábito” de Cristo. Demostrando todo o preconceito relativo às pessoas de cor e à escravidão,
atacava “João Pedro Fausto de Alcântara, vendedor de bilhetes de teatros, e que, segundo dizem,
foi escravo”. João Pedro recebeu a mercê de cavaleiro da Rosa, para revolta do Diário do Rio
de Janeiro. Aparentemente, o jornal não admitia a possibilidade de um liberto receber ordem
honorífica, mesmo se ele tivesse atuado de modo relevante na epidemia. Criticava ainda o
mérito do cavaleiro José Teles da Silva, pois teria recebido a honraria por alugar “carros à
polícia” e citava as duas comendas dadas ao “Dr. Peregrino José Freire”.
Ao censurar os laureados, o texto culpava o Marquês de Olinda: o ministro teria atirado
“a sua pasta sobre uma marquesa”924. A jocosa afirmativa refletia a leitura do momento político
vivenciado pelo gabinete Olinda, a viver seus estertores. A “marquesa” citada era uma espécie
de sofá, comum no século XIX, sem encosto e com assento de palhinha925. Ao insinuar ter
Olinda atirado a “pasta” sobre o móvel, o jornal sugeria um suposto pouco caso do marquês em
relação à justeza da lista de premiados, pois sabia ter findado o tempo do seu gabinete.
O Correio Mercantil também expressou, na capa de 4 de dezembro de 1858, avaliação
negativa sobre a relação dos agraciados. Segundo a redação do órgão, as “condecorações
concedidas para distinguir os serviços prestados por ocasião do cólera morbo produziram, como
921 Diário do Rio de Janeiro, n. 322, 4 dez. 1858, p. 1, grifo da fonte. 922 Diário do Rio de Janeiro, n. 322, 4 dez. 1858, p. 1. 923 Diário do Rio de Janeiro, n. 322, 4 dez. 1858, p. 1. 924 Diário do Rio de Janeiro, n. 322, 4 dez. 1858, p. 1. 925 Verbete do Dicionário Michaelis Disponível em: https://michaelis.uol.com.br/moderno-
portugues/busca/portugues-brasileiro/marquesa/. Acesso a 15 out. 2019.
234
era de se esperar, profundos descontentamentos”. Em tom hiperbólico, argumentava terem sido
os “atos de caridade e tão geral a dedicação na quadra epidêmica” que seria necessário
“condecorar metade da população” ou, “mais prudente, nada fazer”, laureando ninguém.
Assegurava: o “ministério passado”, o de Caxias, “possuía melhores elementos para conhecer
a grande soma de serviços” prestados na epidemia, mas “recuou dessa tarefa e deixou à estima
pública e à consciência de cada um a recompensá-los”926.
Portanto, colocava em xeque a capacidade do ministério liderado por Olinda em ser
justo na questão. Aliás, o texto levantava dúvidas a respeito da possibilidade de qualquer
governo “desempenhar satisfatoriamente o encargo”, pois quanto “mais profunda e verdadeira”
fosse “a caridade”, menos “entrada obtém nas informações oficiais”. Assim, o “médico que sem
ostentação penetra os sótãos e os cortiços da indigência”, o “boticário que fornece as receitas
gratuitamente”, e o homem “esmoler que só abre a mão [com o óbolo] debaixo do travesseiro
do doente”, de modo a não envergonhar este, nunca seriam “relacionados entre os beneméritos,
porque os seus atos são pautados pelo sentimento de verdadeira religião”. Citava então alguns
nomes, entre os quais estavam “acadêmicos da faculdade de medicina”. Eles teriam se portado
de modo exemplar durante a epidemia, tendo “no amor dos pobres uma larga compensação do
esquecimento do ministério”927.
A análise do Correio Mercantil prosseguia, tratando da falta de instrumentos eficazes
do governo para “pesar os diversos serviços e graduá-los para a lista dos prêmios”. Alguns
doaram dinheiro, enquanto outros ocuparam “comissões retribuídas” – portanto, remuneradas
– ou organizaram hospitais e ambulâncias. Havia ainda, pessoas posicionadas juntos aos
moribundos, a quem velavam “gratuitamente”, dando conforto e ânimo, combatendo o “terror”
e salvando “por sua coragem muitas vidas e talvez cidades inteiras”.
O governo teria tentado desembaraçar-se do problema “adotando pura e simplesmente
o sistema das promoções do exército”. Assim, decidira dar ao cidadão “virgem de
condecorações” um “hábito” de Cristo ou da Rosa, “embora seus serviços fossem de uma ordem
elevada”. Às pessoas que já possuíam “hábito ou comenda”, o governo teria apenas elevado as
mesmas no interior das ordens, graduando-as em dignidade, malgrado “seus serviços não se
comparassem em grandeza aos do cidadão inferiormente condecorado”928.
Após citar a “disciplina usada na antiga corte de Portugal” para premiação aos súditos,
o editorial dirigia-se diretamente ao Marquês de Olinda. O Ministro do Império, teria se deixado
926 Correio Mercantil, n. 327, 4 dez. 1858, p. 1. 927 Correio Mercantil, n. 327, 4 dez. 1858, p. 1. 928 Correio Mercantil, n. 327, 4 dez. 1858, p. 1.
235
arrastar “por velhas usanças, que contrariam as ideias de nossa época”929. A afirmação trazia
embutida uma imagem recorrente – presente na imprensa e nos discursos parlamentares, desde,
pelo menos, fins dos anos 1840, acompanhando Olinda até a morte, em 1870 –, a representar o
marquês como “velho”, inadequado ao presente e aos cargos relevantes dados pelo Imperador
constantemente930. Assim, o ministro, cuja vida política teve início antes da independência do
Brasil, era apresentado pelo Correio Mercantil como alguém preso aos padrões portugueses de
nobilitação, inadequados ao Brasil de 1858. Não obstante tal apreciação, Olinda poderia
“reparar as injustiças”, reivindicando, assim, a inclusão de mais pessoas no rol dos laureados.
Todavia, afirmava o jornal, em tom dramático: “o efeito moral da promoção civil do dia 2 está
produzido. Podem fechar-se as feridas; as cicatrizes hão de sempre atestar que elas
existiram”931.
Levando em conta as publicações do Jornal do Commercio, Diário do Rio de Janeiro e
Correio Mercantil, fica evidente como as nomeações feitas em nome do cólera causaram
celeuma. Aliás, não só a imprensa captou as insatisfações com os laureados de 2 de dezembro
de 1858. Em correspondências privadas, figurões políticos não deixaram de pedir a inclusão de
apadrinhados olvidados na relação dos premiados. Em carta de dezembro de 1858, Bento da
Silva Lisboa, o Barão de Cairu, escreveu ao Marquês de Olinda para falar do sobrinho, “o
Doutor Lucas da Silva Lisboa”. O médico teria prestado “bons serviços durante a epidemia”.
Todavia, o nome dele não tinha “sido contemplado na lista dos Despachos”. Como o Jornal do
Commercio informara ter a publicação sobre os agraciados sido feita em “conformidade com
as relações apresentadas” e quem quisesse “reclamar”, se “dirigisse ao governo”, o barão rogava
ao marquês a correção da “omissão que houve”, afinal, alegava: “só por discrição podia deixar
ele [o sobrinho] de ser contemplado”. Esse não seria o caso, pois Olinda e “seus colegas”
saberiam dos serviços prestados pelo médico na “enfermaria da Rua dos Inválidos”932. A
solicitação de Cairu chegou em má hora. Em 12 de dezembro de 1858, novo governo foi
929 Correio Mercantil, n. 327, 4 dez. 1858, p. 1. 930 CADENA, op. cit., 2018, p. 205-212. 931 Correio Mercantil, n. 327, 4 dez. 1858, p. 1. A parte final do editorial lamentava a forma como Couto Ferraz
figurou na lista de agraciados. Na condição de Ministro do Império, ele teria feito “tudo o que era humanamente
possível para salvar a corte e as províncias”. O Imperador teria dado “prova de alta consideração admitindo-o ao
serviço da sua casa”, nomeando-o veador. Não obstante, “perante o país”, parecia ter o ministério Olinda votado
a Couto Ferraz o “menor apreço”. Notadamente, o editorial defendia a outorga de um título de nobreza ao ex-
ministro, mas isso só ocorreria em 1867, quando Couto Ferraz foi nomeado Barão do Bom Retiro, sem grandeza,
sendo elevado ao título de visconde, de mesma denominação, em 1872. Ver: BEDIAGA, Bergonha. Discreto
personagem do império brasileiro: Luís Pedreira do Couto Ferraz, visconde do Bom Retiro (1818-1886). Topoi.
V. 18, n. 35, p. 381-405, maio/ago. 2017, p. 392. 932 IHGB. Carta do Barão de Cairu ao Marquês de Olinda. Dez. 1862. Coleção Marquês de Olinda. Lata 213, doc.
68.
236
formado, sob a chefia de Antônio Paulino Limpo de Abreu, Visconde de Abaeté933. Assim, não
houve tempo para Olinda atender Cairu.
A notícia sobre os despachos de 2 de dezembro de 1858, bem como as reações contrárias
aos mesmos, chegaram ao Ceará após uma quinzena, tornando-se notícia n’O Cearense, em 17
do mesmo mês, e, um dia depois, no Pedro II. Este jornal dedicou pouco espaço ao ato,
destacando apenas os nomes das personalidades tituladas e agraciadas com empregos da Casa
Imperial, sem comentar nada a respeito das comendas da Rosa e de Cristo934. O Cearense foi
além: reproduziu as mesmas informações do Pedro II, acrescentando considerações sobre
agraciados com as ordens honoríficas e citando trechos críticos do Diário do Rio de Janeiro e
do Correio Mercantil, já citados.
O Cearense chegou, inclusive, a calcular quanto as nomeações renderiam ao tesouro:
levando em conta o número de agraciados e as taxas com joias e selos, os cofres do governo
poderiam receber quarenta contos e oitenta e um mil réis, valor considerável para os padrões da
época. Ao citar a cifra, O Cearense dava outra justificativa para a ampliação da “meia enchente
de graças”935 publicada no natalício do Imperador.
Entre as centenas de agraciados como cavaleiros da Rosa, O Cearense destacou quatro
pessoas ligadas ao Ceará. Três eram médicos cearenses: Joaquim Antônio Alves Ribeiro936,
Joaquim Antônio Hanvultando de Oliveira937 e Liberato de Castro Carreira938. Eles atuaram em
933 CADENA, op. cit., 2018, p. 2011. 934 Pedro II, n. 1874, 18 dez. 1858, p. 2. 935 O Cearense, n. 1185, 17 dez. 1858, p. 2. 936 Nascido em Icó (1830), formou-se em medicina na Universidade de Harvard (1853). No retorno ao Brasil, teve
a tese reconhecida também pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Voltando ao Ceará, foi nomeado médico
da pobreza pela Presidência da Província do Ceará, em 1858. Em Fortaleza, atuou ainda como médico no hospital
de Caridade e como cirurgião da Guarda Nacional. Fundou em Fortaleza a revista médica Lanceta ̧em 1862. Foi
sócio correspondente da Academia Imperial de Medicina, da Sociedade de Médica de Massachusetts, da Sociedade
de História Natural de Frankfurt e da Sociedade Auxiliadora da Industria Nacional. Foi deputado provincial entre
1860-1861. Além de cavaleiro da Ordem da Rosa, tornou-se cavaleiro de Cristo em 1867. Faleceu no ano de 1870,
em Fortaleza. BLAKE, op. cit. 1898, p. 83-84; STUDART, op. cit., 1913, p. 4-6; PAIVA, op. cit., 1979, p. 93. 937 Nasceu em Fortaleza (1828). Formou-se pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro no ano da chegada do
cólera ao Brasil (1855). Por ocasião da epidemia, atuou na Corte e no Rio Grande do Sul, onde tratou de uma
divisão do Exército. Foi oficial do conselho naval. Além de escrever opúsculos de temática médica, foi autor de
peça intitulada “A esposa do além-túmulo” (1856). Foi diretor geral da Secretaria de Instrução Pública do Rio de
Janeiro. Morreu no Rio de Janeiro (1906). BLAKE, op. cit. 1898, p. 88-89; STUDART, op. cit., 1913, p. 8-9. 938 Natural de Aracati (1820), cursou medicina na capital do Império, onde formou-se em 1844. Foi nomeado
médico da pobreza no Ceará (1845), além de médico do Hospital Militar e provedor da saúde do porto de Fortaleza.
Entre as obras de sua autoria, publicou o opúsculo “Descrição da epidemia da febre amarela que grassou na
Província do Ceará em 1851 e 1852”. Retornando à província do Rio de Janeiro, fixou-se em Niterói. Em 1855,
foi nomeado para dirigir a enfermaria desta cidade, criada para tratamento dos indigentes atacados pelo cólera, o
principal motivo para sua nomeação como cavaleiro da Rosa (1858). Por ocasião da seca de 1877, escreveu uma
série de artigos no Jornal do Commercio, chamando a atenção para a situação do Ceará. Tornou-se Senador pela
província natal (1882). Cavaleiro da Rosa e de Cristo, foi membro do IHGB, da Academia Médico Homeopática
do Rio, da Sociedade Auxiliadora Industrial, da Sociedade Farmacêutica Brasileira e fundador do Instituto Médico
Fluminense. Faleceu em 1903. BLAKE, op. cit., 1889, p. 310-311; STUDART, op. cit., 1913, p. 250-259.
237
outras províncias durante a epidemia do cólera. A quarta pessoa foi o “Sr. inspetor Moura”, em
alusão provável a José Francisco de Moura, que à época da epidemia era inspetor do tesouro
em Sergipe, sendo removido para a inspetoria do Ceará em 1856939. Nos despachos de 2 de
dezembro de 1858, Moura, já portador dos hábitos de cavaleiro de Cristo e da Rosa, foi elevado
à classe dos oficiais da última940.
Portanto, quando o cólera atingiu o Ceará em 1862, as elites locais tinham conhecimento
de como os surtos nas outras províncias do país foram usados para abonar beneplácitos. As
centenas de benesses distribuídas em 1858 e a celeuma levantada na ocasião, atestavam como
o comportamento durante a epidemia poderia servir a quem almejava elevar seu status e afirmar
prestígio político e social. Assim, médicos, padres, comerciantes, proprietários rurais, entre
outras categorias sociais do Ceará, viram na epidemia de 1862 a oportunidade para requerer
recompensas por serviços prestados ao Estado. A caridade e filantropia, tão alardeadas nos
textos que abriram esse tópico, e a “epidemia de elogios” delas decorrentes, eram agenciadas
em prol da possibilidade de conquista de, pelo menos, uma comenda da Rosa ou de Cristo.
4.2 – “Estimaria sinceramente ver apreciados seus serviços pelo Governo Imperial”
A outorga das ordens honoríficas foi regulamentada pouco antes da chegada do cólera
ao Ceará, pondo em prática regras inexistentes em 1858. O decreto n. 2853, de 7 de dezembro
de 1861, propunha ordenar a concessão de todas as comendas brasileiras. Logo no primeiro
artigo, determinava: “Ninguém poderá ser admitido nas Ordens honoríficas do Império sem o
requerimento em que prove vinte anos pelo menos de serviços distintos ainda não
remunerados”. Apenas os párocos colados não estariam compreendidos na regra, pois ao se
“distinguirem por suas virtudes e zelo no desempenho de seu ministério”, poderiam “ser
admitidos na Ordem de Cristo depois de 10 anos de serviço”941.
Entre os documentos obrigatórios a instruir o requerimento do aspirante a cavaleiro,
estavam ficha corrida, comprovando que o “peticionário não se achava envolvido como réu em
processo criminal” e atestados de “autoridades superiores com quem houver servido que prove
seu bom desempenho”. Tais requerimentos seriam enviados à Corte pelo presidente da
939 Diário de Pernambuco, n. 258, 3 nov. 1856, p. 2. 940 Jornal do Commercio, n. 331, suplemento, 2 dez. 1858, p. 1. 941 PINHEIRO, op. cit., 1884, p. 22.
238
província ou, nos casos envolvendo clérigos, pelo bispo. Ambas autoridades deveriam se
expressar “explicitamente”942 sobre o mérito dos pretendentes.
Apesar da adoção de processo mais rígido de concessão, o artigo 8º do decreto instituía
exceções, dando ao governo a prerrogativa de premiar pessoas independente da comprovação
dos anos de serviço. Três parágrafos do mesmo artigo definiam as isenções das regras citadas
acima: 1) os membros da família real e estrangeiros, “em consideração à sua alta jerarquia e
merecimentos”; 2) os “servidores de Estado que se recomendarem por distintos merecimentos
e constantes provas de sua dedicação à causa pública e ao Imperador”; 3) “As [honrarias] que
forem dadas como remuneração de serviços extraordinários e relevantes”, nos quais se incluíam
as “ocasiões de perigo ou calamidade pública”943. Pelo decreto, ficava claro caber ao Ministério
do Império propor os nomes dos agraciados nessas situações944.
Desta forma, o governo imperial garantia a possibilidade de premiar serviços prestados
durante as crises sanitárias. Assim, o eventual bom desempenho numa epidemia era um dos
caminhos mais rápidos aos interessados nos hábitos honoríficos, poupando o trabalho de
comprovar décadas de bons serviços.
As determinações do decreto n. 2853, de 7 de dezembro de 1861, repercutiram
rapidamente no Ceará. Já em janeiro de 1862, o governo da província solicitou a José Ildefonso
de Sousa Ramos, ministro dos Negócios do Império, o oficialato da Rosa para o médico José
Lourenço de Castro Silva. O então presidente do Ceará, Manoel Antônio Duarte de Azevedo,
citava explicitamente o decreto e afirmava julgar os serviços do médico compatíveis com as
“disposições dos §§ [parágrafos] 2 e 3 do artigo 8”945. Portanto, a justificativa para a comenda
era dada tanto pelos bons serviços prestados por José Lourenço de Castro Silva em cargos
públicos, quanto pelas ações extraordinárias desempenhadas. Para ilustrar essa decisão, o
presidente Duarte de Azevedo descrevia a trajetória do médico, apontando cargos eletivos
ocupados, funções públicas nas quais atuara – cirurgião do Hospital Regimental do Rio de
Janeiro (1836-1837), médico da pobreza de Fortaleza (1838-1841) e do Hospital Militar (1848-
1849), Provedor de Saúde do Porto de Fortaleza (1840), Inspetor de Saúde Pública (desde
942 PINHEIRO, op. cit., 1884, p. 22. 943 Além dos serviços nas “ocasiões de perigo ou calamidade pública”, o decreto definia como “serviços
extraordinários e relevantes”: a “sustentação da ordem pública e da Independência, Integridade e Dignidade da
Nação”; atos em prol “das igrejas matrizes, estradas, canais ou de outras obras ou estabelecimentos que o Governo
para esse efeito declarar que são de utilidade pública. Em geral todos os serviços de que resultar notável e
assinalada utilidade à religião, à humanidade e ao Estado, quer sejam prestados no exercício de funções públicas
civis, eclesiásticas, ou militares, quer nas ciências, nas letras, nas artes ou na indústria”. PINHEIRO, op. cit., 1884. 944 PINHEIRO, op. cit., 1884, p. 24. 945 ANRJ. Ofício s/n. 31 jan. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
239
1852), Comissário Vacinador e cirurgião do Estado Maior da Guarda Nacional – e ações
realizadas em épocas de epidemias no Ceará, como a de febre amarela em 1851. Aliás, o
documento chegava a insinuar ter sido José Lourenço um dos responsáveis pela não
contaminação da província pelo cólera no ano de 1855, pois providenciou meios para que não
“se rompesse o cordão sanitário” no porto, organizado para evitar a invasão da doença946.
No começo de abril de 1862, outro ofício de mesmo tema foi remetido ao Ministério do
Império. Assinado pelo vice-presidente do Ceará, José Antônio Machado, reiterava o pedido
do oficialato da Rosa para José Lourenço de Castro e Silva, alegando os “relevantes serviços
prestados à humanidade e a causa pública em diversas épocas”. Citando o pedido feito por
Duarte de Azevedo, Machado rogava ao Ministro do Império a apresentação do caso “à Sua
Majestade O Imperador”, no intuito de, “com a proposta de Vossa Excelência, seja pelo mesmo
Augusto Senhor concedida aquela graça ao mencionado médico”947.
Segundo o vice-presidente, José Lourenço via a ciência como “um sacerdócio, que ele
exerce com verdadeiro sentimento de filantropia”. Frisava ter o governo acabado de nomear o
médico como “presidente de uma comissão sanitária, a cujo cargo está o estudo dos meios de
indicação das medidas preventivas contra a invasão do cólera morbo, que ameaça a província”.
Por fim, relatava que desde 2 de dezembro de 1849, José Lourenço de Castro e Silva portava o
“hábito de Cristo”. Ao citar a data, o presidente reforçava serem os “novos serviços”, prestados
após tal comenda, suficientes para habilitar o médico à outra condecoração948.
O estouro do cólera em abril de 1862 e o papel desempenhado pelo Inspetor de Saúde
Pública ao longo da crise, motivaram José Bento da Cunha Figueiredo Júnior a enviar nova
solicitação de mercê. Em menos de nove meses, era o terceiro ocupante da cadeira de presidente
do Ceará a requerer ao Ministério do Império a graça para o médico, demonstrando como este
tinha aceitação e influência junto ao governo provincial. O presidente citava os ofícios
anteriores, e, discretamente, cobrava resposta mais ágil da Corte: “dois dos meus predecessores
pediram para ele o Oficialato da Rosa, dirigindo os ofícios constantes das cópias juntas, sobre
o que o Governo Imperial não se dignou ainda dar solução”949.
946 ANRJ. Ofício s/n. 31 jan. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 947 ANRJ. Ofício n. 33. 11 abr. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 948 ANRJ. Ofício n. 33. 11 abr. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 949 ANRJ. Ofício n. 83. 11 set. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
240
No ofício, Figueiredo Júnior ressaltou a atuação do médico durante a epidemia do
cólera, “que se acha quase extinta nesta Província”, ocasião na “qual o Dr. José Lourenço
adquiriu novos e mui valiosos títulos à Munificência Imperial”. O Inspetor de Saúde Pública
teria se destacado na comissão “encarregada de comprar e remeter para os diversos pontos as
ambulâncias de remédios que eram pedidos, gêneros alimentícios, camas, baetas e outros
objetos de que havia mister”, produzindo, ainda, instruções “para a aplicação conveniente” dos
medicamentos. Nomeado para uma comissão distrital de socorros de Fortaleza, atuou em duas,
“porque outro [médico] não havia que [...] quisesse incumbir-se”. Como Provedor da Saúde do
Porto, apresentava-se a bordo, “a fim de proceder as desinfecções, de que também não ficaram
isentas as malas do correio de terra; serviço este que em 1855, quando o cólera morbo não
chegou a esta Província, custou aos cofres públicos o dispêndio de quinhentos mil réis”950.
Diante da falta de médicos e dos gastos onerosos com a contratação de profissionais de
outras províncias, “foi o Dr. José Lourenço o único que generosamente ofereceu os seus
serviços, prestando-se a curar gratuitamente a classe desvalida, a quem socorreu com louvável
abnegação e caridade”. Teria, ainda, sido “uma das poucas pessoas que se mostravam sempre
mais interessadas na economia razoável que se devia guardar”, posicionando-se contra obras
caras e consideradas desnecessárias, como “o aterramento de dois pântanos da cidade, e o
fazimento de grandes fogueiras” para desinfecção do ar, defendidas pela Câmara Municipal de
Fortaleza. Nas palavras de Figueiredo Júnior: “Foi, enfim, o Dr. José Lourenço de Castro e
Silva o auxiliar mais eficaz que teve a Província durante a quadra calamitosa”951.
Para além dos atos realizados durante a crise, o pedido do presidente do Ceará em prol
de José Lourenço de Castro e Silva continha algo a mais. Ele nasceu entre os Castro de Aracati,
citados no primeiro capítulo, importante clã “chimango” do Ceará. A influência da família na
cidade era tanta, a ponto de seus membros vangloriarem-se: “No Aracati não há partido
conservador”952. Além disso, enquanto estudante da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro
– onde diplomou-se como primeiro médico cearense pela instituição –, José Lourenço iniciou
firme amizade com o padre José Martiniano de Alencar, aliado dos Castro. O político
experimentado costumava expor a admiração nutrida para com o amigo: “não me envergonho
950 ANRJ. Ofício n. 83. 11 set. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 951 ANRJ. Ofício n. 83. 11 set. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 952 A frase por dita pelo médico Liberato de Castro Carreira, primo de José Lourenço de Castro e Silva. OLIVEIRA,
Carla Silvino. Cidade (in)salubre: ideias e práticas médicas em Fortaleza (1838-1853). Dissertação (Mestrado em
História). Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2007, p. 29.
241
de ser cearense, porque existe um José Lourenço”953. Aliás, Alencar, na passagem pela
presidência do Ceará entre 1834-1837, foi quem deu o primeiro emprego público ao jovem
médico: o cargo de médico da pobreza954.
Portanto, desde a juventude, Castro e Silva era conhecido como liderança do Partido
Liberal no Ceará, sendo eleito deputado provincial em quatro legislaturas955. Ora, tendo José
Lourenço tido apoio entusiasmado da imprensa liberal pelos serviços realizados durante a
epidemia de 1862, a defesa da mercê por parte de Figueiredo Júnior não deixava de ter
componente político, afinal, o presidente contou com o apoio dos liberais na contenda contra o
Pedro II. Não por acaso, Figueiredo Júnior citou o pedido de graça para José Lourenço de
Castro e Silva em outro ofício enviado ao Marquês de Olinda. No documento, o presidente
solicitava ordens honoríficas para Castro e Silva e para o padre Thomaz Pompeu de Sousa
Brasil, dono do jornal O Cearense. Tratando da questão, Figueiredo Júnior dirigiu súplica ao
Marquês de Olinda:
[...] rogo a Vossa Excelência que se digne tomar em consideração a proposta
que fiz para serem condecorados os Doutores José Lourenço de Castro e Silva
e Thomás Pompeu de Sousa Brasil. Ambos são liberais. Eu estimaria mui
sinceramente ver apreciados seus serviços pelo Governo Imperial956.
Aliás, Pompeu e Castro Silva não seriam os únicos liberais indicados para honrarias por
Figueiredo Júnior no ano de 1862. Tal como fizera em 1858, solicitando indicação de nomes
para premiação pelos serviços realizados no cólera entre 1855-1856, o Marquês de Olinda
requereu ao presidente do Ceará, em ofício classificado como reservado, a 22 de novembro de
1862, a organização de lista contendo as pessoas destacadas durante a epidemia, mais indicação
das honrarias a serem eventualmente dadas. Confirmando o recebimento da solicitação,
Figueiredo Júnior passou a “organizar a relação das pessoas que merecem ser agraciadas pelos
serviços prestados durante a quadra epidêmica”. Segundo o presidente, a seriedade do tema
953 ALENCAR, José Martiniano de. Apud STUDART, op. cit., 1913, p. 143. 954 Desde 1837, a província do Ceará, mais precisamente, a cidade de Fortaleza, contava com o serviço do “médico
da pobreza”, funcionário público, diplomado em medicina, que tinha entre as atribuições tratar doentes pobres,
prestar informação sobre o estado sanitário da província e indicar medidas profiláticas nas situações epidêmicas.
José Lourenço de Castro e Silva foi o primeiro ocupante do cargo. Segundo Carla Silvino, a nomeação sinalizava
que Castro e Silva poderia permanecer no cargo por quinze anos. Todavia, o fim do governo de José Martiniano
de Alencar, em 1837, e a ascensão dos “caranguejos” à presidência da província, abalou a permanência do médico
no posto. A postura política de Castro e Silva – eleito deputado provincial em 1838 – levou o presidente João
Antônio de Miranda, a pressioná-lo a optar entre o salário da assembleia e o de médico da pobreza. Assim, acabou
demitido do cargo. OLIVEIRA, op. cit., 2007, p. 30-33. 955 PAIVA, op. cit., 1979, p. 95. 956 ANRJ. Ofício confidencial. 11 out. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
242
poderia fazer com que demorasse a encaminhar a lista: “É meu empenho dar a Vossa Excelência
uma informação conscienciosa e circunstanciada. Por isso talvez haja alguma demora”957.
Ao contrário do anunciado, a relação de candidatos ao beneplácito imperial teve
conclusão rápida: foi remetida à Corte a 12 de janeiro de 1863958. No ofício de
encaminhamento, Figueiredo Júnior afirmava ter elaborado a listagem a partir de “documentos
oficiais”, bem como de “informações particulares”959. Ela trazia os indicados organizados por
localidade onde atuaram durante a epidemia, fazendo resumo das ações realizadas, variando no
grau de detalhes, tendo alguns recebido mais de uma página e outros apenas uma linha. O
documento também apontava aspectos biográficos de alguns indivíduos, destacando serviços
prestados anteriormente ao cólera. Informava, ainda, se já possuíam alguma ordem honorífica.
Para a maioria dos relacionados, Figueiredo Júnior sugeria a comenda mais adequada a
ser dada pelo governo imperial, sopesando o grau da honraria pela leitura da trajetória de vida,
somada ao desempenho individual durante a crise epidêmica. O quadro a seguir, resume as
principais informações presente no ofício enviado ao Ministério dos Negócios do Império:
Quadro 3
Indicados às Ordens Honoríficas pelos serviços prestados na epidemia do cólera de 1862
957 IHGB. Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda. 15 dez. 1862. Coleção Marquês
de Olinda. Lata 213, doc. 103. 958 Nas pesquisas realizadas no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro, tentei localizar o documento na coleção de
ofícios remetidos pela presidência do Ceará ao Ministério dos Negócios do Império. Todavia, não o encontrei.
Também procurei, sem sucesso, o ofício na Coleção Marquês de Olinda do Instituto Histórico e Geográfico
Nacional. É provável que o envio do mesmo a outra repartição imperial tenha levado ao arquivamento em fundo
diverso. De qualquer forma, o ofício tornou-se público em 1910, quando Rodolpho Smith de Vasconcelos –
possuidor do título de Barão de Vasconcellos, concedido pela coroa portuguesa em 1874, e genealogista
organizador do livro “Arquivo Nobiliárquico Brasileiro” (1918) – publicou transcrição na Revista do Instituto do
Ceará, instituição na qual era sócio correspondente. Na apresentação que fez do documento, Vasconcellos afirma
ter consultado o original no “Arquivo Público Nacional”, denominação antiga dada ao hoje ANRJ. Além do
interesse histórico, o genealogista tinha outro motivo para a publicação do ofício: seu pai, o negociante português,
radicado em Fortaleza, José Smith de Vasconcellos, constava na lista de candidatos às ordens honoríficas pelos
feitos durante a epidemia de 1862, recebendo, inclusive, elogios rasgados de Figueiredo Júnior. Portanto, é a partir
da transcrição feita por Vasconcellos na Revista do Instituto do Ceará que analiso as indicações lançadas pelo
presidente do Ceará ao Marquês de Olinda. VASCONCELOS, Barão de. Um documento official relativo ao
Cholera-morbus no Ceará em 1862. Revista do Instituto do Ceará. Fortaleza, tomo XXIV, 1910, p. 79-99. 959 FIGUEIREDO JÚNIOR, José Bento da Cunha. Apud VASCONCELOS, op. cit., 1910, p. 80.
Local Indicados Profissão Comenda sugerida
Fortaleza
Francisco de Farias Lemos Chefe de Polícia Oficial da Rosa
José Lourenço de Castro e
Silva
Médico e Inspetor de
Saúde Pública
Comendador de
Cristo
João Severiano Ribeiro Inspetor da Tesouraria
provincial
Oficial da Rosa
243
José Smith de Vasconcelos Comerciante e vice-
provedor da Santa Casa
de Misericórdia
Oficial da Rosa
Antônio Teles de Menezes Proprietário Comendador da Rosa
Galindo Firmo da Silveira
Cavalcante
Padre Cavaleiro de Cristo
Francisco Fidelis Barroso Coronel da Guarda
Nacional, delegado, juiz
municipal suplente e
fazendeiro
Cavaleiro de Cristo
ou da Rosa
José Cândido da Guerra
Passos
Padre, capitão do
Exército e capelão do
Hospital da Caridade
Cavaleiro de Cristo
Maranguape
Joaquim Felício de Almeida
e Castro
Delegado Cavaleiro de Cristo
Joaquim José de Sousa
Sombra
Presidente da Câmara
Municipal e capitão da
Guarda Nacional
Não consta
Jovino Franklin Belota Alferes do Exército,
chefe de destacamento e
delegado suplente
Cavaleiro da Rosa
Aquiraz
Mathias Pereira d’Oliveira Vigário Cavaleiro de Cristo
Manoel José Pereira
Pacheco
Coronel da Guarda
Nacional
Oficial da Rosa
Vicente Ferreira Gomes Juiz de direito Cavaleiro de Cristo
São Bernardo
João Diniz Ribeiro da
Cunha
Delegado e juiz
municipal
Cavaleiro do Rosa
Francisco das Chagas
Araújo
Tenente coronel da
Guarda Nacional
Cavaleiro do Rosa
Lino Deodato Rodrigues de
Carvalho
Padre Cavaleiro de Cristo
Limoeiro Francisco Ribeiro Bessa Padre Cavaleiro de Cristo
Baturité
Luiz de Cerqueira Lima Juiz de Direito Oficial da Rosa
Pompílio da Rocha Moreira Delegado e alferes do
Exército
Cavaleiro da Rosa
Raimundo Francisco
Ribeiro
Vigário Cavaleiro de Cristo
José Joaquim Coelho da
Silva
Padre Cavaleiro de Cristo
Francisco Ayres de Miranda
Henrique
Padre Cavaleiro de Cristo
Icó
Luiz José de Medeiros Juiz de direito Não consta
Joaquim do Carmo Ferreira
Chaves
Capitão do corpo de
polícia
Oficial da Rosa
Miguel Francisco da Frota Vigário Cavaleiro de Cristo
ou oficial da Rosa
Lavras José Maria Freire de Brito Padre Cavaleiro de Cristo
São João do
Príncipe
Francisco Bernardo de
Carvalho
Juiz de direito Oficial da Rosa
Antônio Carlos Barreto Boticário Cavaleiro de Cristo
Manoel Marrocos Teles Médico Não consta
Crato
Antônio Manoel de
Medeiros
Médico e cirurgião do
Corpo de Saúde do
Exército
Oficial da Rosa
244
Fonte: Quadro elaborado a partir de VASCONCELOS, Barão de. Um documento official relativo ao Cholera-
morbus no Ceará em 1862. Revista do Instituto do Ceará. Fortaleza, tomo XXIV, 1910, p. 79-99.
As indicações feitas por Figueiredo Júnior contemplavam 49 indivíduos, distribuídos
por 17 localidades da província. Notadamente, o presidente do Ceará priorizou lugares nos
quais o cólera agiu com mais intensidade, como Maranguape, Baturité, Icó e Crato, municípios
que teriam concentrado 53% das mortes pela doença em 1862960. A exceção foi Fortaleza, onde
a epidemia fez poucas vítimas, cerca de 362, o equivalente a 3% dos óbitos provinciais961.
Apesar da incidência leve do cólera na capital, ela teve o maior número de indicados às
honrarias: 8 pessoas. A proximidade geográfica e política em relação ao centro do poder
provincial ajuda a entender tal proeminência. Aqueles indivíduos estavam mais próximos de
Figueiredo Júnior, especialmente no caso dos funcionários públicos, como o chefe de polícia,
o inspetor do tesouro, o inspetor de saúde pública e o delegado de polícia. Tais profissionais
cumpriam determinações diretas da presidência e, pelas funções ocupadas, intervinham na
condução das ações sanitárias na cidade e, mesmo, na província.
960 Cálculo feito a partir dos dados coletados pelo Barão de Studart. Segundo ele, a mortalidade por cólera no Ceará
em 1862 teria sido de aproximadamente 11000 pessoas. Pelos dados computados pelo autor, a soma dos óbitos de
Maranguape, Baturité, Icó e Crato seria de 5810. STUDART, op. cit., 1997, p. 57. 961 STUDART, op. cit., 1997, p. 57.
Francisco Rodrigues Sette Juiz de direito Oficial da Rosa
João Brígido dos Santos Professor público Cavaleiro da Rosa
Missão Velha
Felix Aurélio Arnaud
Formiga
Vigário Cavaleiro de Cristo
Joaquim Jussilino Viriato
Formiga
Padre Cavaleiro de Cristo
Bernardino Gomes de
Araújo
Professor aposentado Cavaleiro de Cristo
Santana do
Brejo Grande
José Joaquim Cidade Não consta Não consta
Barbalha
Raimundo José Camello Não consta Não consta
Lúcio Aurélio Brígido dos
Santos
Escrivão Não consta
Pedro José de Castro e Silva Vigário Não consta
Jardim Américo Militão de Freitas
Guimarães
Juiz de direito Cavaleiro de Cristo
Saboeiro
Diogo José de Souza Lima Vigário Não consta
José Tavares Teixeira Vigário Não consta
Manoel Felipe dos Santos Padre Não consta
Quixeramobim
Antônio Pinto de Mendonça Vigário Oficial da Rosa
Cordolino Barbosa
Cordeiro
Delegado e Juiz
Municipal
Cavaleiro de Cristo
Francisco de Paula Meneses Padre Cavaleiro de Cristo
Antônio Elias Saraiva Leão Não consta Cavaleiro de Cristo
Quixadá Cláudio Pereira de Faria Padre Cavaleiro de Cristo
245
Por outro lado, a possibilidade de contatar diretamente o presidente também abria
espaço para o pedido de mercês por parte de quem almejava distinções. Aliás, no rol dos 49
indicados, apenas 3 tinham recebido ordens honoríficas anteriormente. O trio habitava em
Fortaleza. Para os já agraciados, Figueiredo Júnior aconselhava promoção interna ou a entrega
de insígnia de outra ordem, como no caso de João Severiano Ribeiro: “Ele é Cavaleiro da Ordem
de Cristo, e merece o Oficialato da Rosa”962.
Levando em consideração as informações sobre as atividades profissionais dos
candidatos à munificência imperial, e tendo em conta o fato de algumas pessoas exercerem
várias funções ao mesmo tempo, nota-se no quadro predomínio dos padres: 19 foram citados,
equivalendo a 39% da lista. Os militares, divididos entre Polícia, Guarda Nacional e Exército,
vinham na sequência, com 9 nominados ao todo (18%). Juízes de direito e delegados apareciam
em terceiro lugar, com 6 indicados cada (12%). As últimas categorias com destaque eram a dos
juízes municipais e médicos, cada qual com 3 (6%). As outras profissões, bem com os casos
nos quais Figueredo Júnior não registrou tal informação, equivaliam a cerca de 7% da lista.
O número relativamente pequeno de médicos chama atenção. Nas nomeações de 1858,
discutidas no tópico anterior, cerca de 200 médicos tinham sido agraciados como cavalheiros
da Rosa963, demonstrando como tais profissionais alçaram-se em prestígio na conjuntura das
epidemias do cólera de 1855 e 1856. No primeiro capítulo, demonstrei como a presidência da
província do Ceará agenciou dezenas de médicos, cearenses e de outras províncias, quando do
surto de 1862. Tais profissionais foram engajados nas comissões sanitárias e distribuídos pelo
território provincial, recebendo diárias consideradas altas, de até 50 mil réis964.
A explicação sobre a diminuta parcela de médicos na lista de possíveis agraciados pelos
serviços prestados no Ceará de 1862 foi registrada por Figueiredo Júnior. Segundo ele, havia
outras pessoas ignoradas na lista que “prestaram serviços” durante o cólera. Porém, o presidente
ponderava: elas não “merecem uma condecoração”, por terem sido remuneradas
financeiramente. Esse era o caso dos “médicos assalariados”. Embora reconhecesse terem
alguns atuado “melhor e com menor paga que outros”965, Figueiredo Júnior os considerava já
remunerados suficientemente.
A maior exceção ao recorte adotado pelo presidente do Ceará ficou com o médico e
cirurgião do Exército Antônio Manoel de Medeiros. Como demonstrei no início deste trabalho,
962 FIGUEIREDO JÚNIOR apud VASCONCELOS, op. cit., 1910, p. 83. 963 PEDROSA, op. cit., 1984, p. 147. 964 ANRJ. Ofício n. 57. 28 jul.1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 965 FIGUEIREDO JÚNIOR apud VASCONCELO, op. cit., 1910, p 86.
246
o contrato do facultativo enviado ao Cariri estabeleceu mais de 800 mil réis de gratificação, ao
que se somaria a cifra de 30 mil réis por cada dia de serviço durante o tempo do cólera, levando
um servidor do Ministério do Império a censurar os valores, orientando cautela de modo a evitar
“que os seus comissários abusem o menos possível” da tesouraria966.
Consciente da quantia paga a Antônio Manoel de Medeiros, José Bento da Cunha
Figueiredo Júnior justificou a inclusão do nome daquele no rol dos pretendentes às ordens
honoríficas, afiançando não ter havido “médico na província que o igualasse em atividade e
diligência, sendo para notar o zelo que mostrou em economizar os dinheiros públicos”967.
Aparentemente, o presidente tentava anular a crítica às gratificações generosas dadas a
Medeiros pela alusão à pretensa economia realizada nos gastos com as comissões nas quais
atuara. Além do mais, Figueiredo Júnior informava ter o médico, após retornar do Cariri, ido
“gratuitamente” atender à vila Maranguape, onde a epidemia permanecia forte968.
No histórico de Medeiros constaria, ainda, a atuação em 11 comissões sanitárias em
diversos pontos do Ceará, durante epidemias de febre amarela e varíola. Aliás, teria prestado
“serviços importantes durante o cólera” no Pará em 1855 e no Lazareto da Jacarecanga, em
Fortaleza, no ano de 1861, quando teria atendido “;” fornecendo medicamentos e dietas “à sua
custa”. A partir desses argumentos, Figueiredo Júnior defendia o oficialato da Rosa para
Antônio Manoel de Medeiros, taxado como cidadão “irrepreensível”.
Os dois outros médicos inclusos na relação escrita pelo presidente do Ceará eram: José
Lourenço de Castro e Silva, de quem já tratei, e Manoel Marrocos Teles. Enquanto o primeiro
tinha a favor de si todo o histórico de serviços prestados em cargos provinciais ligados à saúde
pública, sendo a principal autoridade sanitária do Ceará em 1862, o último teria prestado
“serviços gratuitos por um mês à pobreza” da comarca de São João do Príncipe durante o
cólera969. Ademais, Marrocos tinha sido o médico para quem o presidente do Ceará remetera
ofício com promessa velada de premiação, citado no tópico precedente970. Assim, o currículo
de serviços prestados à província e as ações filantrópicas embasavam a tríade de médicos da
lista de Figueiredo Júnior, enquanto outras dezenas de colegas deles foram descartados por,
supostamente, já terem sido pagos a contento.
966 ANRJ. Ofício n. 28. 15 mar. 1862. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 967 FIGUEIREDO JÚNIOR apud VASCONCELO, op. cit., 1910, p. 95. 968 FIGUEIREDO JÚNIOR apud VASCONCELO, op. cit., 1910, p. 95. 969 FIGUEIREDO JÚNIOR apud VASCONCELO, op. cit., 1910, p. 95. 970 Pedro II, n. 113, 21 mai. 1862, p. 2.
247
Voltando para a observação do quadro, observadas em conjunto, e excluindo alguns
casos nos quais Figueiredo Júnior não especificou qual comenda poderia ser dada, as menções
priorizaram a Ordem de Cristo: foram 23 referências a ela, indicando 22 aspirantes a cavaleiro
e 1 a comendador. Talvez, a explicação para a predominância fosse o fato da categoria
profissional com mais indicados ter sido a dos sacerdotes: 19 no total. Tratando do Primeiro
Reinado, Camila Borges da Silva mostrou como a Ordem de Cristo foi a mais acionada para a
premiação de “padres, sobretudo vigários e aqueles pertencentes à alta hierarquia do clero”971.
Mesmo com a reforma produzida pelo decreto n. 321, de 9 de setembro de 1843, tornando as
ordens militares de origem portuguesa em instituições “meramente civis”972 e de uso exclusivo
do Estado, a de Cristo, pela vinculação histórica com o catolicismo, permaneceu sendo a
comenda mais comumente oferecida a religiosos973.
Colocada em segundo plano em relação à Ordem de Cristo no documento do presidente
do Ceará, a Ordem da Rosa teve 18 insígnias mencionadas: 1 de comendador, 11 de oficial e 6
de cavaleiro. A indicação ao oficialato da Rosa de pessoas que ainda não portavam o hábito de
cavaleiro aproveitava as brechas regimentais do decreto n. 2853, de 7 de dezembro de 1861. O
artigo 5º afirmava: a admissão em qualquer ordem deveria ocorrer no “primeiro grau”, ou seja,
no de cavaleiro. A promoção para o grau seguinte (oficial) só poderia ocorrer passados 4 anos,
sendo necessário comprovar os serviços prestados ao Estado no interstício. Todavia, a regra
não tinha aplicação para os agraciados pelos “serviços extraordinários e relevantes”974, entre os
quais incluíam-se os realizados durante as epidemias. Estes já podiam ser inseridos nas ordens
em graus intermediários e superiores.
Não foi casualidade, portanto, ter Figueiredo Júnior alocado as pessoas mais
proeminentes entre os aspirantes ao oficialato da Rosa, reunindo quem ocupava os melhores
cargos na administração provincial, além de juízes de direito, oficiais do Exército, Polícia e
Guarda Nacional. Mas houve algumas exceções no padrão: José Smith de Vasconcelos,
negociante português e vice-provedor da Santa Casa, foi um dos recomendados a oficial da
Rosa. Um dos trechos mais detalhados do documento descrevia os serviços prestados por ele.
971 SILVA, op. cit., 2014, p. 258. 972 PINHEIRO, op. cit., 1884, p. 6. 973 Além das ordens honoríficas, Figueiredo Júnior sugeriu outra benesse adicional aos sacerdotes cearenses
destacados durante o cólera. Títulos de “Cônegos honorários da Capela Imperial” poderiam ser dado aos
“sacerdotes mencionados, e principalmente aqueles que já tenham alguma condecoração”, ou “outra mercê,
segundo a importância dos serviços constantes desta minha exposição”. FIGUEIREDO JÚNIOR apud
VASCONCELO, op. cit., 1910, p. 99. 974 PINHEIRO, op. cit., 1884, p. 23-24.
248
O negociante estaria “sempre pronto a auxiliar o governo em qualquer ideia de proveito para a
província, em cujo desenvolvimento industrial tem tomado parte”975.
Outro dado a chamar a atenção no quadro é a quantidade de membros de comissões
sanitárias inclusos entre os candidatos à munificência imperial. Como indiquei anteriormente,
as comissões ocuparam papel de destaque na conjuntura epidêmica, sendo tema constante da
imprensa. Ao comparar os dados do quadro 2 – contendo a listagem da maior parte das
comissões sanitárias criadas pelo governo do Ceará – com as informações do documento usado
na elaboração do quadro 3, notei: das 49 pessoas indicadas às ordens honoríficas por Figueiredo
Júnior, 28 integraram juntas de socorros, equivalendo a 57%. Entre os 28, 8 tinham sido
presidentes de comissões. O número expressivo de comissionados candidatos às honrarias
corrobora minhas considerações a respeito de como ter o nome incluso nas juntas sanitárias era
símbolo de status, bem como poderia servir para aumento da notabilidade local e provincial,
inclusive com a possibilidade de concessão de graças imperiais.
O apontamento feito pelo presidente do Ceará não deixou também de refletir os espaços
políticos ocupados pelos aspirantes às distinções honoríficas. Dos 49 presentes no documento,
15 tiveram passagem pela Assembleia Legislativa. Destes, 3 foram deputados gerais976.
Em várias partes do documento, Figueiredo Júnior afirmava embasar as indicações em
relatos feitos por autoridades locais, fiadoras dos desempenhos individuais na epidemia.
Quando indicou o juiz de direito de Baturité, Luiz Cerqueira de Lima, por exemplo, afirmou
terem a Câmara Municipal e a comissão de socorros proclamado “aquele digno magistrado
como tendo prestado os mais relevantes serviços, quer na cidade, quer nos povoados de fora,
fazendo acudir a pobreza com prontos socorros”977. Desta forma, Figueiredo Júnior ancorava
as indicações em opiniões de terceiros, dando às mesmas uma fachada de imparcialidade.
Todavia, o poder discricionário dado ao presidente do Ceará na composição da lista,
enviada reservadamente ao Marquês de Olinda, não deixava de oferecer oportunidade para
favorecimento de homens sintonizados com o governo provincial. Como expus ao longo da
tese, as ações de Figueiredo Júnior durante o cólera serviram de mote para acirrada contenda
na imprensa cearense, simbolizada na campanha do Pedro II em desestabilizar o chefe do
executivo provincial e na reação dos jornais liberais na defesa deste.
975 FIGUEIREDO JÚNIOR apud VASCONCELO, op. cit., 1910, p 86. 976 Para chegar ao número de parlamentares, comparei os nomes indicados por José Bento da Cunha Figueiredo
Júnior com as listas de deputados provinciais e gerais feitas por PAIVA, op. cit., 1979, p. 83-108. 977 FIGUEIREDO JÚNIOR apud VASCONCELO, op. cit., 1910, p. 92.
249
Aliás, parte dos componentes do quadro 3 recorreu à imprensa para defender Figueiredo
Júnior das críticas do Pedro II. Um artigo de capa d’O Araripe, redigido por João Brígido,
afirmou ter o diário conservador de Fortaleza se portado como “órgão de um partido, que tem
interesses a pleitear, sem compromissos de ordem alguma para com a atual administração da
província”. Assim, O Araripe isentava o presidente de culpa, asseverando estar “no coração de
cada caririense [...] impresso o reconhecimento” pela ação da autoridade: “Seja, pois, ao menos
essa linguagem suscita e verdadeira o lenitivo às injustas acusações que sofre”978.
Também falando sobre o Cariri, Antônio Manoel de Medeiros foi outro a ecoar loas a
Figueiredo Júnior e vilipendiar os opositores deste. Em correspondência enviada ao presidente
da província, tornada pública pela Gazeta Official, Medeiros dizia ter “lido as acusações que o
diário Pedro 2º tem feito com relação ao serviço público durante a epidemia e em tempo
oportuno farei conhecer a injustiça, demonstrando que nenhum socorro faltou ao Cariri”.
Acrescentava ainda: “qualquer acusação a Vossa Excelência nesse sentido” seria “calúnia”,
“uma ingratidão que revolta”979.
Já José Lourenço de Castro e Silva, em balanço sobre a situação da epidemia em
Fortaleza, rendeu “homenagem ao Administrador da Província que nesta quadra tenebrosa, em
que lhe coube as rédeas da Presidência, soube aliar as conveniências, e a celeridade de todos os
socorros precisos a bem dos desvalidos; e dos quais também se aproveitaram alguns dos
favorecidos da fortuna”. Apresentando-se “como cidadão que jamais conspurcou seus lábios
com a mentira e a lisonja”, José Lourenço de Castro e Silva afiançava os “esforços generosos”,
a dedicação e celeridade do presidente. Não teria havido “nenhuma demora de sua parte sobre
qualquer exigência da situação”. Aliás, Figueiredo Júnior teria posto o bem-estar pessoal de
lado pelo comprometimento no combate à epidemia: “quase não repousava, com detrimento de
sua saúde que vi assaz comprometida”980.
Outra defesa do tipo veio de Maranguape, vila constantemente aludida pelo Pedro II
como prova da incompetência dos socorros provinciais. Na correspondência veiculada n’O
Cearense, o delegado Joaquim Felício de Almeida e Castro dava graças às atuações do bispo e
do presidente do Ceará, sem as quais os maranguapenses estariam “a chorar a desolação e
extermínio”. Classificava Figueiredo Júnior como “um administrador da província, nutrido –
até hoje – dos melhores desejos a respeito dos seus administrados”, lamentando o não
978 O Araripe, n. 286, 30 ago. 1862, p. 1-2. 979 Gazeta Official, n. 14, 30 ago. 1862, p. 1. 980 Gazeta Official, n. 21, 24 set. 1862, p. 4.
250
reconhecimento geral dos méritos do presidente. O “que fazer na época em que de tudo se quer
tirar partido?”, indagava981.
Os textos expostos acima evidenciam como, ao indicar os possíveis laureados,
Figueiredo Júnior tratou de incluir indivíduos fiéis a ele, ao rebaterem as acusações
desabonadoras do governo provincial. Não por acaso, três dos autores das notas citadas acima
– José Lourenço de Castro e Silva, João Brígido dos Santos e Joaquim Felício de Almeida e
Castro – eram ligados ao Partido Liberal. Entre os relacionados por serviços prestados no tempo
do cólera figuravam outros nomes reconhecidamente liberais, sendo a maioria padres: cônego
Antônio Pinto de Mendonça, padre Mathias Pereira de Oliveira, padre Félix Aurélio Arnaud
Formiga, padre José Tavares Teixeira, padre Miguel Francisco da Frota, padre Cláudio Pereira
de Faria, Lúcio Aurélio Brígido dos Santos e Bernardino Gomes de Araújo.
Para além destes, algumas autoridades que não se autodenominavam liberais, mas foram
acusadas de acossar conservadores, figuravam na relação dos concorrentes ao beneplácito
imperial. Dois casos exemplificam isso: Vicente Ferreira Gomes, juiz de direito de Aquiraz, e
seu colega Francisco Bernardo de Carvalho, da comarca de São João do Príncipe, teriam tomado
parte nos processos sob suas jurisdições, prejudicando correligionários do Pedro II982.
Ao indicar tal tendência, não quero afirmar terem sido liberais e simpatizantes de
Figueiredo Júnior os únicos correlacionados entre os sujeitos com maiores serviços prestados
durante a epidemia. Conservadores também figuraram na lista do presidente do Ceará: João
Severiano Ribeiro, Cordolino Barbosa Cordeiro, padre Pedro José de Castro e Silva, Joaquim
José de Sousa Sombra, Francisco Rodrigues Sette, Manoel Marrocos Teles e padre Raimundo
Francisco Ribeiro. A presença dos mesmos poderia ser usada para atestar a imparcialidade do
presidente do Ceará, disposto a reconhecer os méritos das ações prestadas durante a crise de
1862, independente dos posicionamentos partidários. A própria conjuntura nacional, discutida
no primeiro capítulo, com a ascensão da chamada “Liga Progressista”, justificava uma
composição equilibrada, mesclando os partidos.
Todavia, é interessante observar: nenhum dos conservadores arrolados tinham
manifestado publicamente críticas às ações de Figueiredo Júnior frente ao cólera. Pelo
contrário, houve mesmo quem publicou texto na imprensa em defesa do presidente, entrando
em choque com a linha editorial do Pedro II. O juiz de direito do Crato e presidente da junta de
socorros, Francisco Rodrigues Sette – a quem O Araripe costumava taxar de partidário
981 O Cearense, n. 1535, 29 jul. 1862, p. 3. 982 As acusações constam nas edições: Pedro II, n. 274, 29 nov. 1862, p. 1-2 e Pedro II, n. 105, 9 mai. 1862, p. 2.
251
conservador983–, recorreu ao O Cearense para rebater as críticas negativas a Figueiredo Júnior,
afirmando não ter faltado ao Crato “recursos de qualidade alguma em todo o tempo da
epidemia”984. Punha em dúvida, inclusive, a veracidade de carta publicada no Pedro II:
Não posso descobrir nesta cidade quem seja o seu autor, mas seja ele quem
for, deve estar convencido, de que se pensa ter descoberto no Crato um meio
de deprimir ao Excelentíssimo Presidente da província, errou o alvo
completamente. O Crato em peso é reconhecido a Sua Excelência pelas
prontas e acertadas medidas que tomou985.
Não deixa de ser irônico, também, a indicação de duas pessoas sucessoras de Manoel
Franco Fernandes Vieira, o principal inimigo de Figueiredo Júnior, em postos importantes na
capital. Como demonstrado no segundo capítulo, Manoel Franco fora demitido da Inspetoria
do Tesouro Provincial, após atritos com o presidente do Ceará, devido aos textos do Pedro II,
a respeito do cólera, trazendo críticas severas ao governo. Para o lugar de tesoureiro, Figueiredo
Júnior nomeou João Severiano Ribeiro. Incluso entre os candidatos à oficial da Rosa, Severiano
recebeu muitos elogios de Figueiredo Júnior, para quem o sucessor de Manoel Franco suportara
“o extraordinário trabalho que ocasionou a epidemia nesta extensa e populosa província, por
causa das informações que lhe cabia dar, pagamentos amiudados e liquidações de contas, que
ainda hoje correm por suas mãos”. Membro do Partido Conservador, João Severiano estaria
acima das parcialidades, “sendo aqui um dos homens que a imprensa mais tem respeitado,
mesmo em épocas de grandes exacerbações dos ânimos por motivos políticos”986. Ao destacar
o papel estratégico da tesouraria na crise epidêmica e exaltar o tesoureiro, ao representá-lo como
alguém a colocar o bem-público acima dos interesses partidários, Figueiredo Júnior não deixava
de atingir Manoel Franco Fernandes Vieira, inferiorizado na comparação com o sucessor.
Quando da chegada da epidemia, Manoel Franco ocupava, ainda, o posto de vice
provedor da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza, instituição nova, com cerca de um ano
de atividade. Pelo regimento dela, o posto de provedor era prerrogativa do presidente da
província, tendo como principal função garantir os interesses e funcionamento da Santa Casa,
especialmente na questão orçamentária. Já o vice provedor chefiava a mesa diretora da
irmandade e era o responsável direto pela administração do hospital987. Desta forma, Manoel
983 O Araripe, n. 288, 13 set. 1862, p. 1. 984 O Cearense, n. 1540, 2 set. 1862, p. 4. 985 O Cearense, n. 1540, 2 set. 1862, p. 4. 986 FIGUEIREDO JÚNIOR apud VASCONCELO, op. cit., 1910, p. 83. 987 FERREIRA, op. cit., 2017, p. 51.
252
Franco estava num posto estratégico, ainda mais em momento de epidemia, na qual caberia à
Santa Casa ser o espaço central para acolhimento e tratamento dos coléricos de Fortaleza.
Contudo, Manoel Franco renunciou ao cargo de provedor a 28 de agosto de 1862.
Provavelmente, a saída decorria do agravamento do conflito com o presidente do Ceará, a quem
o vice-provedor deveria corriqueiramente dirigir-se para tratar das necessidades do hospital.
Alegando “se achar doente”988, Franco solicitou à mesa diretora da irmandade o afastamento
do posto. Para sucedê-lo, a mesa indicou o negociante português José Smith de Vasconcelos.
Assim como fizera em relação ao novo inspetor de tesouraria, Figueiredo Júnior não
poupou elogios ao indicar o substituto de Manoel Franco na Santa Casa de Misericórdia ao
oficialato da Rosa. Arrolava ações caridosas dele durante a epidemia, bem como o empenho
em “aumentar o patrimônio daquele utilíssimo estabelecimento, promovendo subscrições até
na Europa”989. Ressaltava, ainda, a organização de uma exposição de produtos provinciais, a
arrecadar mais de 2 contos de réis para a instituição, com o leilão dos objetos expostos990.
Caso as indicações de Figueiredo Júnior fossem atendidas pelo governo imperial,
Manoel Franco Fernandes Vieira poderia se sentir atingido ao ver os novos ocupantes da
tesouraria provincial e da vice provedoria da Santa Casa laureados com a ordem da Rosa, e,
talvez, interpretasse as nomeações como mais um capítulo do conflito com o presidente do
Ceará. Todavia, o Ministério do Império não levou a cabo a premiação. Se em 1858 centenas
de pessoas receberam hábitos da Rosa e de Cristo pelos serviços prestados quando da chegada
do cólera ao Brasil, o mesmo não ocorreu com os cearenses atuantes na epidemia de 1862. Não
houve nomeações relativas ao assunto no 2 de dezembro de 1863, nem nos anos seguintes. A
lista de Figueiredo Júnior, elaborada tão minunciosamente para premiar não só quem se
destacara nos socorros aos coléricos, mas também aos defensores do presidente, no contra-
ataque ao Pedro II, quedou esquecida.
Ao comparar os 49 nomes do documento escrito por Figueiredo Júnior em 1863 com os
perfis biográficos escritos pelo Barão de Studart991 e com as relações dos “cearenses titulares e
condecorados”, publicadas por Paulino Nogueira, em 1901992, notei: apenas 8 pessoas
receberam ordens honoríficas. Todavia, os prêmios foram dados individualmente e não tendo
os serviços prestados em 1862 como justificativa central. O médico José Lourenço de Castro e
988 Pedro II, n. 211, 16 set. 1862, p. 2. 989 FIGUEIREDO JÚNIOR apud VASCONCELO, op. cit., 1910, p. 86. 990 FIGUEIREDO JÚNIOR apud VASCONCELO, op. cit., 1910, p. 86. 991 STUDART, op. cit, 1910; STUDART, op. cit, 1913; e STUDART, op. cit, 1915. 992 NOGUEIRA, Paulino. Relação dos cearenses titulados e condecorados. Revista do Instituto do Ceará.
Fortaleza, tomo XV, p. 122-136, jan-jun., 1901; NOGUEIRA, Paulino. Relação dos cearenses titulados e
condecorados. Revista do Instituto do Ceará. Fortaleza, tomo XV, p. 289-303, jul.-dez., 1901.
253
Silva, por exemplo, foi promovido de cavaleiro a comendador de Cristo por conta “dos longos
e prestantíssimos serviços em épocas diversas”993, com destaque para os postos de médico da
pobreza, inspetor de saúde pública, diretor geral de instrução pública e deputado provincial em
quatro legislaturas994. O oficialato da Rosa, reivindicado por três presidentes da província em
1862, nunca foi concedido ao médico e político liberal.
Outro premiado pela carreira no funcionalismo foi João Severiano Ribeiro. Funcionário
público desde 1839 – tendo, inclusive, atuado na Inspetoria do Tesouro de Alagoas em 1856,
prestando “serviços mui relevantes durante o tempo em que reinou o cólera morbo naquela
província”995 –, João Severiano já tinha o hábito de Cristo antes da epidemia do Ceará de 1862.
Pelos serviços nesta ocasião, tivera o nome indicado a oficial da Rosa por Figueiredo Júnior.
Nos anos seguintes, Severiano ocupou série de cargos públicos em Pernambuco e Ceará. Foi,
ainda, vice-provedor da Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza e deputado provincial por
quatro vezes996. Como reconhecimento pelo histórico profissional, o governo imperial lhe
concedeu a honra de cavaleiro da Rosa, a qual João Severiano recusou997. Não há registro a
respeito do motivo da recusa. Já cavaleiro de Cristo, talvez quisesse poupar gastos com o
diploma e a joia da nova comenda.
Já o médico Antônio Manoel de Medeiros atuou em diversas epidemias, sendo
constantemente enviado pelo governo provincial ao interior do Ceará a tratar dos doentes.
Inclusive, faleceu enquanto atuava numa comissão de socorros no Cariri, em 1879998. Entre
1877 e 1879, uma seca atingiu fortemente a província. Numa conjuntura de fome, de migração
em massa, de maus alojamentos e péssimos hospitais disponíveis, a varíola encontrou espaço
para desenvolver-se como nunca, tanto no interior como na capital. Cerca de 180.000 pessoas
morreram no Ceará durante o período, por conta da fome, da varíola e outras doenças999. Nessa
conjuntura, faleceu Antônio Manoel de Medeiros. Quando da morte, era cavaleiro da Rosa,
honraria menor em comparação ao oficialato solicitado por Figueiredo Júnior para premiação
das ações do médico em 1862, ocasião na qual teria tratado os coléricos do Cariri e Maranguape
de modo exemplar: “Não houve médico na província que o igualasse em atividade e diligência,
sendo para notar o zelo que mostrou em economizar os dinheiros públicos”1000.
993 O Cearense, n. 66, 15 ago. 1874, p. 1. 994 STUDART, op. cit, 1913, p. 142-143; PAIVA, 1979, op. cit., p. 95. 995 FIGUEIREDO JÚNIOR apud VASCONCELO, op. cit., 1910, p. 82. 996 STUDART, op. cit, 1910, p. 514; PAIVA, 1979, op. cit., p. 92. 997 NOGUEIRA, op. cit., 1901, p. 128. 998 STUDART, op. cit., 1910, p. 108. 999 STUDART, op. cit., 1997b, p. 45. 1000 FIGUEIREDO JÚNIOR apud VASCONCELO, op. cit., 1910, p. 95.
254
Já Pompílio da Rocha Moreira e o padre José Cândido da Guerra Passos foram
agraciados como cavaleiros de São Bento de Avis, uma das antigas ordens portuguesas
adaptadas ao Brasil, tornando-se, no Segundo Reinado, condecoração destinada exclusivamente
aos integrantes do Exército e da Armada1001. Figueiredo Júnior havia solicitado os hábitos da
Rosa e de Cristo, respectivamente, para os militares pelos serviços prestados na epidemia de
1862. O hábito de Avis veio como reconhecimento das carreiras de Pompílio e José Cândido,
somadas às respectivas patentes de capitão e coronel1002, pela atuação numa conjuntura de
ascensão dos militares nos rumos do Império, especialmente após a Guerra da Tríplice Aliança
contra o Paraguai (1864-1870)1003.
Por fim, os cônegos Raimundo Francisco Ribeiro e Antônio Pinto de Mendonça
receberam o hábito de Cristo. Como a comenda de cavaleiro desta ordem era comumente
entregue a religiosos, especialmente aos bem situados na hierarquia1004, ela veio premiar aos
dois padres. Raimundo Ribeiro, por exemplo, foi vigário de Baturité por 49 anos1005, enquanto
Pinto de Mendonça, além do vicariato de Quixeramobim, ocupou o posto de governador do
Bispado do Ceará, por determinação de Dom Luiz Antônio dos Santos. Para além das atividades
religiosas, eles foram também políticos, atuando como deputados provinciais e gerais e, como
era comum no oitocentos, chefes de família, com filhos formados na Faculdade de Direito de
Recife e ocupantes de cargos públicos e eletivos1006.
Portanto, os 8 cearenses agraciados com ordens honoríficas, que constavam na lista de
49 indicados ao beneplácito imperial pelos atos durante a epidemia do cólera de 1862,
receberam comendas pela trajetória, e não, especificamente, pela atuação naquele momento de
calamidade pública. Se o cólera motivou a concessão de mais de 800 comendas em 18581007,
não pareceu ser suficiente para premiar as pessoas indicadas por Figueiredo Júnior pelos
serviços de 1862. Para além da lista, a falta de despachos imperiais sobre a questão também
deve ter frustrado as dezenas de pessoas cujos atos de filantropia e caridade foram amplamente
anunciados na imprensa cearense de 1862. A “epidemia dos elogios”1008 foi em vão: para quem
esperava distinções pelos atos praticados e propagandeados, não haveria recompensas.
1001 PINHEIRO, op. cit, 1884, p. 5. 1002 NOGUEIRA, op. cit., 1901, p. 130-135. 1003 O padre José Cândido da Guerra Passos recebeu a patente de coronel por conta da atuação no Paraguai.
STUDART, op. cit, 1913, p. 82. 1004 SILVA, op. cit., 2014, p. 258. 1005 STUDART, op. cit., 1915, p. 71. 1006 STUDART, op. cit., 1910, p. 117-118; STUDART, op. cit., 1915, p. 71-73. 1007 Jornal do Commercio, n. 331, suplemento, 2 dez. 1858, p. 1. 1008 O Cearense, n. 1543, 25 set. 1862, p. 3.
255
Algumas questões, penso eu, podem explicar a razão do cólera no Ceará não ter rendido
as distinções almejadas por parte das elites locais envolvidas com os socorros de 1862. A
primeira diz respeito ao impacto do cólera entre 1855-1856. Se, em 1849, a epidemia de febre
amarela tinha assustado o Império, o cólera a superou em tragédia. A primeira manifestação
desta doença no Brasil foi avassaladora, atingindo quatorze províncias, de norte a sul, incluindo
a Corte, em pouco mais de um semestre. Os cerca de 200 mil óbitos computados à época
demonstram a amplitude do problema. A decisão política do governo imperial, ao recorrer à
“meia enchente”1009 de comendas de 1858, refletia, portanto, o impacto da doença no Brasil.
Perto da estreia do cólera no país, a epidemia de 1862, no Ceará, pareceu fato isolado e irrisório,
malgrado ter matado cerca de 2% da população provincial.
As várias críticas recebidas pelo Marquês de Olinda pelos despachos de 2 de dezembro
de 1858, quando estava prestes a ser substituído na chefia do gabinete, também podem tê-lo
deixado mais atento às nuances da política de uso das comendas como pagamento por serviços
prestados durante crises sanitárias. Mesmo as centenas de honrarias dadas em 1858 não
satisfizeram segmentos sociais ávidos por prêmios para os seus correligionários, agregados,
amigos e familiares. Quando em 1862 retornou à chefia do governo, o marquês acionou o
presidente do Ceará para elencar as pessoas mais destacadas na conjuntura marcada pelo cólera.
Todavia, Olinda não repetiu a torrente de graças de 1858.
Ademais, quando no início de 1863 Figueiredo Júnior remeteu ofício relacionando os
aspirantes ao beneplácito imperial, as atenções do governo e do país estavam catalisadas para a
crise diplomática conhecida como “Questão Christie”. Segundo Marcelo Basile, o conflito deu-
se na conjuntura de choques recorrentes entre Brasil e Inglaterra, como a não renovação do
tratado comercial de 1827 e as controvérsias relativas ao tráfico negreiro. Mesmo após 1850,
quando o tráfico atlântico foi abolido oficialmente no Brasil, a Inglaterra não pôs fim ao Bill
Aberdeen Act, política naval focada na inspeção e apreensão de embarcações suspeitas de
tráfico ilegal. Enquanto os brasileiros criticavam o intervencionismo atlântico, os diplomatas
da rainha Vitória cobravam mais rigor das autoridades imperiais na fiscalização dos navios,
bem como cobravam compensações pelos gastos britânicos no contexto da Independência do
Brasil e Guerra Cisplatina1010.
Dois incidentes foram mote para o agravamento do conflito. O naufrágio de uma fragata
inglesa no Rio Grande do Sul, em junho de 1861, seguido da pilhagem da carga, e a acusação,
nunca comprovada, de terem tripulantes ingleses sido assassinados na ocasião, levou o
1009 O Cearense, n. 1185, 17 dez. 1858, p. 2. 1010 BASILE, op. cit., 1990, p. 256.
256
diplomata William Dougal Christie a pressionar as autoridades por agilidade na investigação,
enviando um capitão inglês para acompanhar o inquérito pessoalmente, no que foi atalhado pelo
presidente do Rio Grande do Sul1011.
O segundo incidente, em julho de 1862, foi a prisão de três oficiais ingleses,
alcoolizados e à paisana, após entrarem em atrito com uma sentinela brasileira na capital do
Império. Os marinheiros foram soltos no dia seguinte. Todavia, afirmando estarem os oficiais
sóbrios quando do conflito e alegando maus tratos sofridos na prisão, Christie exigiu punição
às autoridades policiais envolvidas, pedido formal de desculpas por parte do governo imperial
e indenização pelas perdas do naufrágio no Rio Grande do Sul1012.
Como as autoridades brasileiras não acataram as reivindicações, William Dougal
Christie ordenou bloqueio ao porto do Rio de Janeiro, fato ocorrido entre 31 de dezembro de
1862 e 5 de janeiro de 1863, quando houve, ainda, a captura de cinco navios da marinha
mercante brasileira. O clima de agitação tomou as ruas da Corte. O governo imperial aceitou
pagar, sob protesto, indenização pelo incidente de 1861, rejeitando as outras exigências de
Christie e cobrando desculpa e compensação britânica pela violação ao território brasileiro. O
governo inglês recusou-se a atender as cobranças, levando ao rompimento das relações
diplomáticas entre os países1013.
A crise diplomática despertou onda patriótica no Brasil. No Ceará não foi diferente. Os
jornais deram amplo espaço ao assunto a partir de fins de janeiro de 1863, reproduzindo
correspondências do governo imperial com a legação inglesa, comunicações do Marquês de
Olinda aos presidentes de província, publicando notas de apoio ao Imperador, informando sobre
manifestações de câmaras municipais, propondo a organização de subscrições para doação ao
Imperador, recursos a serem usados em eventual guerra, entre outras questões1014.
Os ofícios de Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda também passaram a ser tomados
pela questão Christie. Se a epidemia de cólera de 1862 fez a imprensa cearense se dividir entre
ataques e defesas ao governo provincial, a crise diplomática parecia ao presidente do Ceará uma
oportunidade para sossegar ânimos e apaziguar os partidos em nome do dever patriótico:
Tenho a maior satisfação em afiançar a Vossa Excelência que os sentimentos
patrióticos manifestados pelo povo dessa capital, sem distinção de posições
sociais, nem de opiniões políticas, tem tido eco nesta província, cujos
1011 BASILE, op. cit., 1990, p. 256. 1012 BASILE, op. cit., 1990, p. 256-257. 1013 BASILE, op. cit., 1990, p. 257. 1014 Pedro II, n. 18, 23 jan. 1863, p. 1-4; O Cearense, n. 1560, 23 jan. 1863, p. 2-3; O Sol, n. 312, 25 jan. 1863, p.
3; Gazeta Official, n. 54, 28 jan. 1863, p. 1-4.
257
habitantes estou bem certos, se unirão como um só corpo e rodearão o Augusto
Trono de Sua Majestade, O Imperador, sempre que se tratar do decoro e
dignidade da Nação Brasileira. As manifestações da imprensa aqui servem de
confirmação ao meu juízo1015.
Ante a repercussão do caso Christie, Figueiredo Júnior dizia pôr em prática as
orientações de Olinda, em circular de 10 de janeiro, na qual o ministro teria orientado os
presidentes de província a aproveitar “as boas disposições e os sentimentos de patriotismo”
decorrentes do conflito, de modo a “promover a concórdia e harmonia entre os habitantes” das
províncias, fazendo-os “esquecer as inimizades e os ódios originados pelas lutas políticas; pois
que agora, mais do que nunca, necessita o Império da união de todos os brasileiros”1016.
Apenas a 31 de janeiro de 1863, Figueiredo Júnior enviou cinco diferentes
correspondências ao Marquês de Olinda, dando conta da reação dos habitantes de Fortaleza às
notícias vindas da Corte. O fervor cívico do Ceará, afirmou, não seria superado “por nenhuma
outra Província”1017. Chegou a aventar a possibilidade dos partidos conservador e liberal
fecharem acordo na eleição para escolha do sucessor do senador Miguel Fernandes Vieira, líder
carcará morto em 1862: “adversários políticos se mostram dispostos a prestarem
reciprocamente seus sufrágios”1018.
Em ofício classificado como confidencial, o chefe do executivo cearense revelava como
agia nos bastidores naqueles dias. Comentava a circular enviada por Olinda, em 10 de janeiro
de 1863, na qual o ministro teria recomendado aos presidentes de província que, “com a
necessária reserva, e sem dar a perceber de modo nenhum” terem recebido “ordem ou
insinuação do Governo”, estimulassem “o patriótico empenho que se manifesta de agenciar
subscrição para ser aplicado o seu produto a bem da defesa do Brasil, do modo que melhor
entender o Governo Imperial”. Figueiredo Júnior afirmava estar empenhado na questão.
Todavia, ponderava sobre possível dificuldade, advinda da crise epidêmica de 1862:
Os calamitosos efeitos da epidemia do cólera morbo, e as frequentes
subscrições e esmolas a que deu lugar nesta província o sentimento de
caridade que se despeitou durante a quadra epidêmica, desfalcou um pouco a
fortuna dos particulares e mesmo dos negociantes: pelo que não se obterá
provavelmente quantia muito avultada, a menos que alguma declaração de
1015 ANRJ. Ofício n. 11. 30 jan.1863. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1863). Notação IJJ 9-182. 1016 ANRJ. Ofício n. 12. 31 jan.1863. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1863). Notação IJJ 9-182. 1017 IHGB. Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda. 31 jan. 1863. Coleção Marquês
de Olinda. Lata 213, Doc. 104. 1018 ANRJ. Ofício n. 12. 31 jan.1863. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1863). Notação IJJ 9-182.
258
guerra ao Brasil exija novos sacrifícios dos cidadãos que estejam no caso de
fazê-lo1019.
Não obstante tal questão, o presidente do Ceará asseverava “obrar de um modo mui
direto para o fim de obter auxílios mais eficazes”. Tendo em vista a “consideração e deferência”
recebidas pelo presidente por parte de alguns cearenses influentes, estabeleceu “conversa íntima
com algumas pessoas de inteira confiança”, tratando de “dar toda a possível animação à ideia
patriótica da subscrição”. Uma das estratégias foi acionar os jornais liberais da capital, aqueles
que, como demonstrei ao longo desta tese, apoiaram sobremaneiramente a Figueiredo Júnior na
conjuntura do cólera: “Neste intuito, influenciei discretamente para que o ‘Cearense’ e o ‘Sol’
se pronunciassem de modo a despertar o entusiasmo dos que podem ajudar o Governo, a bem
da dignidade nacional”1020. Do mesmo modo, orientou a Gazeta Official a, “com a prudência
necessária”, transcrever “certos artigos, convenientes dos periódicos da Corte”1021, com vistas
ao incentivo às contribuições. Desta forma, o presidente do Ceará confessava a proximidade
estabelecida com os liberais, bem como o agenciamento do jornal oficial da província para os
fins políticos de interesse do governo.
Quando a “Questão Christie” ocorreu, os casos de cólera no Ceará mostravam-se poucos
e espaçados. A fase crítica, com milhares de doentes e mortos espalhados por toda a província,
estava superada. Desta forma, a epidemia, mote central da politização dos jornais liberais e
conservadores do Ceará em 1862, deixava de ser tema premente na imprensa. Em seu lugar,
surgia a crise diplomática, colocada acima dos partidos. Simbolicamente, a comissão
provincial, formada para coordenar a arrecadação de doações na província, era composta pelo
presidente Figueiredo Júnior e por Thomaz Pompeu e Manoel Fernandes Vieira, os respectivos
líderes dos partidos Liberal e Conservador e proprietários dos jornais O Cearense e Pedro II1022.
Das câmaras municipais, vinham votos de felicitação ao Governo Imperial pela postura
adotada na crise. A de Telha, afirmava ter Pedro II justificado “gloriosamente o título de
Defensor Perpétuo do Brasil” e o governo imperial não desmentia “sua alta missão fazendo
sentir a poderosa Nação Britânica que o Brasil posto que novo e fraco, não trepida defender
briosamente seus direitos por amor dos quais não duvida sacrificar-se quando a honra da Nação
1019 ANRJ. Ofício confidencial. 31 jan.1863. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1863). Notação IJJ 9-182. 1020 ANRJ. Ofício confidencial. 31 jan.1863. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1863). Notação IJJ 9-182. 1021 ANRJ. Ofício confidencial. 31 jan.1863. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1863). Notação IJJ 9-182. 1022 O Cearense, n. 1569, 27 mar. 1863, p. 1.
259
o exigia”1023. Já as câmaras de Quixeramobim e Fortaleza nomearam comissão com cearenses
residentes no Rio de Janeiro, encabeçadas pelo deputado geral José de Alencar1024, para
transmitir ao Marquês de Olinda mensagem de congratulação a Pedro II: “Os grandes Monarcas
fazem os grandes povos. O exemplo aí está no entusiasmo e patriotismo com que a Nação
Brasileira à voz de seu Imperador se ergueu diante da prepotência britânica, e cercou o Trono
de Vossa Majestade Imperial, seguro paládio da honra e dignidade nacional”1025.
Se o cólera tinha mobilizado atos de caridade e filantropia, agora era chegada a hora de
fortificar as manifestações de patriotismo. Não por acaso, muitos indivíduos tratavam de
propagandear atos em prol do governo imperial. Os jornais foram tomados por anúncios de
doações e por listas com nomes de participantes de subscrições1026. O já conhecido José
Lourenço de Castro e Silva, por exemplo, ofereceu os doze meses de salário do ano de 1863,
do cargo de Inspetor de Saúde Pública, ao governo imperial, “para ser aplicado às despesas do
armamento naval contra a agressão do governo inglês”1027. A ação rendeu novos elogios de
Figueiredo Júnior, que remeteu cópias dos ofícios trocados com o médico ao Marquês de
Olinda. A Castro e Silva, o presidente falou da “satisfação de ainda esta vez reconhecer o
louvável desinteresse e patriotismo com que Vosmecê se mostra sempre disposto a prestar os
seus serviços em bem do país, até com sacrifícios pecuniários”1028.
Como demonstrei, desde o começo de 1862, a presidência da província buscava nova
distinção honorífica para José Lourenço. A justificativa para o prêmio foi reforçada pelo
desempenho do médico durante a epidemia do cólera. Desta forma, o pretenso “desinteresse”
do médico ao doar o ordenado, podia esconder algo mais. Talvez, após tentar tomar partido do
cólera, chegava a hora de fazer o mesmo com a Questão Christie.
1023 ANRJ. Felicitações enviadas pela Câmara Municipal de Telha ao Marquês de Olinda. 18 fev. 1863. Série
Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1863).
Notação IJJ 9-182. 1024 ANRJ. Ofício de José Martiniano de Alencar ao Marquês de Olinda, com felicitações da Câmara Municipal
de Quixeramobim. 14 abr. 1863. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1863). Notação IJJ 9-182. 1025 ANRJ. Ofício de José Martiniano de Alencar ao Marquês de Olinda, com felicitações da Câmara Municipal
de Fortaleza. 29 mar. 1863. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1863). Notação IJJ 9-182. Para além das câmaras, algumas felicitações reuniam
mais indivíduos. O documento organizado no Icó, por exemplo, partia das “pessoas mais importantes da cidade”,
reunindo 11 páginas de assinaturas de deputados gerais e provinciais, sacerdotes, juízes, vereadores, militares,
médicos, bacharéis, comerciantes e proprietários rurais. ANRJ. Felicitações enviadas do Icó ao Marquês de Olinda.
17 abr. 1863. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas autoridades. Ofícios do Governo
do Ceará (1863). Notação IJJ 9-182. 1026 Exemplos de publicações do tipo se encontram nas edições seguintes: Pedro II, n. 31, 8 fev. 1863, p. 3; O
Cearense, n. 1562, 6 fev. 1863, p. 2; Gazeta Official, n. 60, 18 fev. 1863, p. 4; O Sol, n. 316, 22 fev. 1863, p. 3. 1027 O Sol, n. 315, 15 fev. 1863, p. 3. 1028 ANRJ. Ofício n. 23. 17 abr. 1863. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1863). Notação IJJ 9-182.
260
Mas outro assunto tomou a atenção dos jornais cearenses em 1863: as eleições para
senador e deputado geral. Os resultados dos pleitos, simbolicamente, refletiram muito dos jogos
políticos e partidários a marcar a imprensa em 1862, tempo do cólera, “Liga” e conflitos
internos no Ceará. É o que exibirei a seguir.
4.3 – O “Cólera morbo psíquico e moral”
Haviam chegado à capital dois dos mais empenhados candidatos à senatoria,
os deputados Raimundo e Figueira de Mello, este último sob a forma de chuva
de ouro, trazendo 10:280$ [dez contos e duzentos e oitenta mil réis] de uma
subscrição que promovera na corte, em benefício dos pobres, que sofreram
do cólera. Se não se achasse em vésperas de uma eleição, se não fora um
pretendente do sufrágio público, há muito boa parte se atribuiria este serviço
à humanidade; mas em tal ocasião só enxergam cálculo político, no que o
ilustre cearense supõe ver somente generosidade1029.
Publicado originalmente na coluna “Noticiário” do semanário O Araripe, a citação
acima aludia ao retorno à Fortaleza dos deputados gerais Raimundo Ferreira de Araújo Lima e
Jerônimo Martiniano Figueira de Mello, então candidatos ao Senado. Como já tratado
anteriormente, em agosto de 1862, o senador Miguel Fernandes Vieira, liderança do Partido
Conservador no Ceará e proprietário do diário Pedro II, faleceu no Rio de Janeiro. A morte do
político “carcará” anunciava o advento da campanha eleitoral. Se ao longo do segundo semestre
daquele ano, as notícias relativas ao cólera permaneceram constantes nos jornais cearenses, não
faltaram, também, textos sobre os candidatos à câmara vitalícia.
O Araripe centrava-se no desembargador Figueira de Mello. Comentava o fato dele ter
voltado ao Ceará com quantia destinada aos “que sofreram do cólera”1030. A iniciativa de
Figueira de Mello em organizar subscrição na Corte para doação à pobreza vitimada pela
epidemia repercutiu na imprensa provincial. Em meados de outubro de 1862, a Gazeta Official
anunciou terem Figueira de Mello e o irmão, João Capistrano Bandeira de Mello, promovido
“entre as pessoas do comércio da corte uma subscrição que já montava a 8.000$000 e que
poderá subir ao dobro”. A destinação dos recursos seria o socorro “às viúvas e crianças vítimas
do cólera”1031. Elogiando a iniciativa dos deputados, O Sol afirmou ser ela “prova de muita
dedicação desses dois ilustres cavaleiros pela sua província”, sugerindo: “melhor aplicação teria
a cifra subscrita se fora destinada à instituição de um colégio de educandos órfãos” em
1029 O Araripe, n. 293, 22 nov. 1862, p. 2. 1030 O Araripe, n. 293, 22 nov. 1862, p. 2. 1031 Gazeta Official, n. 27, 15 out. 1862, p. 3.
261
Fortaleza, pois seria “uma fonte de mais perene auxílio para a orfandade”1032. Já o Pedro II
transcreveu ofício de Figueira de Mello e Bandeira de Mello encaminhando à presidência do
Ceará a subscrição, a ser gasta conforme orientação do presidente e do bispo. Na publicação,
constava ainda a lista de mais de setenta doadores, entre os quais destacavam-se: Visconde de
Abrantes, Visconde de Ipanema, Visconde de Bonfim, Visconde de Estrela, Barão de Mauá,
Barão de Nova Friburgo, Barão de Itamaraty e Barão de Itaguaí1033.
Malgrado o teor elogioso dado aos jornais de Fortaleza à doação, o cratense O Araripe,
adotou tom mais áspero, indicando ser a subscrição levantada por Figueira de Mello não um
ato filantrópico desprovido de interesses, mas “cálculo político” com vistas à sua candidatura
ao Senado. Para justificar a interpretação, O Araripe insinuava ter a campanha de Figueira de
Mello encontrado resistência entre os Fernandes Vieira, o núcleo conservador “carcará”, ávido
por fazer de alguém do clã o sucessor de Miguel Fernandes Vieira. O Araripe provocava: nem
mesmo a indicação do “consistório” em favor de Figueira de Mello teria demovido os carcarás
da decisão de não patrocinar efetivamente a candidatura do desembargador1034.
Ao falar em “consistório”, O Araripe apropriava-se de termo irônico usado para se
referir ao núcleo do Partido Conservador na Corte. Em fins de agosto de 1862, repercutiu no
Ceará documento assinado por cinco lideranças do partido, constando entre eles a chamada
“trindade saquarema”, formada pelo Visconde de Itaboraí, Visconde do Uruguai e Eusébio de
Queiroz. Os dois primeiros eram recorrentemente chamados “cardeais”, enquanto o último era
tido como o “papa” saquarema1035. Além da “trindade”, o Barão de Muritiba e Manoel Felizardo
de Sousa e Mello completavam a lista a firmar o documento enviado ao Ceará. O Cearense,
transcreveu “a encíclica do consistório oligárquico da Corte”1036, indicando ter sido endereçada
à província “a pedido do desembargador Figueira de Mello”.
Segundo a “encíclica”, a eleição para sucessão de Miguel Fernandes Vieira no Senado,
oportunizaria aos “nossos amigos políticos” demonstrarem a “união e maioria em que se”
achavam os conservadores na Província do Ceará, oferecendo “à escolha do poder moderador
três cidadãos que pelos seus serviços ao país representem a consistência dos nossos princípios,
e por sua ilustração possam defender-nos no combate da discussão parlamentar”. Assim,
orientava votos em favor dos deputados gerais Jerônimo Martiniano Figueira de Mello,
Raimundo Ferreira de Araújo Lima e Domingos José Nogueira Jaguaribe, “cidadãos
1032 O Sol, n. 297, 12 out. 1862, p. 4. 1033 Pedro II ̧n. 243, 23 out. 1862, p. 2. 1034 O Araripe, n. 293, 22 nov. 1862, p. 2. 1035 HOLANDA, op. cit., 2010, p. 96. 1036 O Cearense, n. 1541, 9 set. 1862, p. 1, grifos da fonte.
262
vantajosamente conhecidos no país”, cuja inclusão na lista tríplice, a ser enviada ao Imperador,
corresponderia “à expectativa da opinião conservadora”1037.
A manifestação do “consistório” desagradou aos Fernandes Vieira. Não por acaso, o
jornal dos “carcarás” publicou carta, assinada pelo pseudônimo “Plínio”, comentando a chapa
sugerida. Segundo o missivista, “por mais respeitáveis que sejam os Doutores apresentados”,
haveria “ingratidão para com a família Fernandes Vieira, porquanto nenhum membro foi
lembrado para um lugar na lista”1038. Ademais, punha em dúvida os “recursos” disponíveis aos
indicados pela Corte para “organizar uma chapa excluindo aqueles que dispõem de elementos
muito valiosos” para a empreitada eleitoral. Segundo Plínio, “os homens de verdadeiros
recursos são os Doutores [Francisco] Domingues da Silva e [Manoel] Fernandes Vieira”.
Somente uma chapa com tais nomes inclusos exprimiria “os sentimentos da província”, pois
“nenhum eleitor do partido conservador do Ceará deixará de abraçar com satisfação os ilustres
nomes que acabo de nomear” 1039.
Nota-se, portanto, a pretensão do grupo responsável pelo Pedro II de organizar a lista
de candidatos conservadores da província e, especialmente, garantir na mesma a presença de
Manoel Fernandes Vieira, desconsiderando assim as orientações enviadas da Corte pela direção
do partido. Colocado de lado na pretensão à senatoria pelos carcarás, o desembargador Figueira
de Mello faria campanha sem apoio efetivo do Pedro II. Ante tal cenário, O Araripe acusava o
magistrado de querer descolar-se da “seita eusebiana” – em alusão a Eusébio de Queiroz, colega
de turma de Figueira de Mello no Curso Jurídico de Olinda1040 –, tentando apresentar-se como
“ligueiro”1041. Assim, a candidatura do desembargador adotava a “Liga” como forma de superar
o boicote carcará, contando, ainda, com a expectativa de conseguir apoio dos diferentes partidos
ao seguir a senda, teoricamente, mais conciliatória. Por isso, O Araripe, diante do cenário
político, acusava Figueira de Mello de usar o cólera para se promover eleitoralmente1042.
A insinuação d’O Araripe acerca de Figueira de Mello fazia sentido. Alguns textos
escritos em defesa da candidatura dele usavam a epidemia como principal exemplo de bom
serviço para com o Ceará. O Sol, por exemplo, em capa dedicada à pretensão do desembargador
à câmara vitalícia, fez apanhado da trajetória do “cidadão nosso patrício, que por muitos títulos
se faz digno de ser um dos três que as urnas devem contemplar e oferecer a escolha da coroa”.
1037 O Cearense, n. 1541, 9 set. 1862, p. 1. 1038 Pedro II, n. 226, 3 out. 1862, p. 2. 1039 Pedro II, n. 226, 3 out. 1862, p. 2. 1040 STUDART, op. cit., 1910, p. 396. 1041 O Araripe, n. 293, 22 nov. 1862, p. 2. 1042 O Araripe, n. 293, 22 nov. 1862, p. 2.
263
Destacava, particularmente, a coleta de donativos feitas no Rio de Janeiro em prol das “viúvas
e órfãos que a epidemia do cólera deixou, ou para servir de asilo a órfãs, em um colégio de
educandas, como se tem pensado, visto que para o sexo masculino já o temos na capital”1043.
Para a redação d’O Sol, somente um ato dos cearenses poderia retribuir tamanha generosidade:
[...] a contribuição alcançada de mais de 12 contos de réis se for devida e
vantajosamente aplicada é um benefício tão real a essa classe desvalida, e tão
imorredouro para o nome daqueles que o promoveram, que a província grata
a esta dedicação, a este zelo do Sr. Figueira de Mello não pode deixar de
contemplá-lo como mui digno de ser na câmara vitalícia seu representante1044.
Em janeiro de 1863, a Gazeta Official noticiou baile realizado na capital do Ceará em
honra de Figueira de Mello e irmão, João Capistrano: “os dois distintos cearenses tiveram a
feliz inspiração de socorrer suas coprovincianas mais desventuradas na quadra em que uma
terrível calamidade as reduzia à viuvez e orfandade”1045. Para além da subscrição, revelava a
redação da Gazeta Official ter o desembargador posto “à disposição da presidência a quantia de
300$000 com o fim mui louvável de socorrer os indigentes de diversas localidades”. O tom
laudatório marcava a notícia:
[...] o Sr. Figueira de Mello deu mais de um exemplo edificante, mostrando
que o homem verdadeiramente patriota não deve perder o ensejo de estender
a mão ao patrício desditoso. É principalmente nas grandes calamidades que o
axioma res non verba [fatos e não palavras] adquire maior valor para quem
não acredita na eficácia de simples palavras desacompanhadas de fatos
significativos dos bons sentimentos que a ditaram1046.
O baile, inclusive, arrecadou mais um conto de réis, com doações dos “amigos do Exm.
Sr. Desembargador”1047, para o projeto de criação de instituição voltada a viúvas e órfãos.
Notadamente, o baile e a notícia da Gazeta Official faziam parte da estratégia eleitoral de
Figueira de Mello, afinal a realização da homenagem ocorreu cerca de três semanas antes da
eleição, marcada para 8 de fevereiro de 1863. Ademais, a publicação na folha oficial do Ceará
de loas aos atos do desembargador durante o cólera não deixava de indiciar a preferência da
presidência pelo candidato. A relação entre Figueira de Mello e a família Cunha Figueiredo era
de conhecimento público. Como mostrei no segundo capítulo, em 1856, José Bento da Cunha
Figueiredo, então presidente de Pernambuco, foi acusado de intervir na quarentena portuária, a
1043 O Sol, n. 301, 9 nov. 1862, p. 1-2. 1044 O Sol, n. 301, 9 nov. 1862, p. 2. 1045 Gazeta Official, n. 52, 21 jan. 1863, p. 3. 1046 Gazeta Official, n. 52, 21 jan. 1863, p. 3. 1047 Gazeta Official, n. 52, 21 jan. 1863, p. 4.
264
fim de liberar o desembarque de caixão, trazido ocultamente do Rio de Janeiro, com o cadáver
do filho de Figueira de Mello. O corpo da criança “exalava mau cheiro”, havendo, inclusive, a
suspeita de ter finado por cólera1048.
Se Cunha Figueiredo desconsiderou os riscos sanitários para ajudar o amigo
desembargador em hora tão delicada, a perda de um filho, era de supor que Figueira de Mello
se colocasse ao lado de Figueiredo Júnior quando este governava o Ceará. Em debate ocorrido
na Câmara Geral, a 31 de maio de 1862 – reproduzido na Gazeta Official cerca de noventa dias
depois, justamente no período no qual José Bento da Cunha Figueiredo Júnior estava sob ataque
do Pedro II – , Domingos José Nogueira Jaguaribe fez apanhado da situação epidêmica no
Ceará, anunciando ter pedido esclarecimentos ao gabinete sobre as medidas tomadas pelo
governo imperial no socorro da província1049.
Tomando a palavra, Figueira de Mello procurou rebater a insinuação de estar Figueiredo
Júnior “embaraçado em empregar os dinheiros públicos para opor-se à marcha do cólera morbo
e evitar os inconvenientes e desgraças que costuma fazer esse hóspede em todas as partes em
que apareceu”. Segundo a acusação, implícita no discurso de Jaguaribe, as ordens do gabinete
a respeito da parcimônia com os gastos durante a crise estariam fazendo o presidente agir sem
vigor no combate à epidemia. Rebatendo a tese, Figueira de Mello asseverava ter nenhuma
recomendação passada pelo governo geral “influído no ânimo daquele presidente para não
gastar dinheiros públicos”. Figueiredo Júnior teria “bastante tino, bastante consciência de sua
posição para não faltar a ela”, sabendo gastar com responsabilidade. Disse Figueira de Mello:
[...] consta-me mesmo que ele havia empregado todos os meios e dado as
ordens precisas para se fazerem as convenientes despesas. Portanto, à vista
das informações que tenho, particularmente daquelas que deduzo dos jornais
de nossa província, e finalmente do caráter do digno administrador do Ceará,
suponho que ele não faltará ao seu dever, e que está na altura de sua missão1050.
Destarte, a proximidade entre Figueira de Mello e os Cunha Figueiredo era notória.
Sem afirmar apoiá-lo oficialmente, Figueiredo Júnior não deixava de dar sinais da preferência
pelo desembargador na campanha ao Senado. Não por acaso, a Gazeta Official, órgão
subordinado a Figueiredo Júnior, publicava transcrições de discursos do desembargador na
Câmara dos Deputados1051. Em um dos debates parlamentares, chegou a usar o cólera para
1048 ANRJ. Carta do Dr. Joaquim d’Aquino Fonseca ao Ministro dos Negócios do Império, Luiz Pedreira de Couto
Ferraz. 23 fev. 1856. Fundo Saúde Pública. Notação IS4-25. 1049 Gazeta Official, n. 15, 3 set. 1862, p. 2. 1050 Gazeta Official, n. 15, 3 set. 1862, p. 3. 1051 Exemplos disso são encontrados nas edições: Gazeta Official, n. 15, 23 set. 1862, p. 2-3; Gazeta Official, n.
18, 13 set. 1862, p. 3; Gazeta Official, n. 21, 24 set. 1862, p. 4; e Gazeta Official, n. 23, 1 out. 1862, p. 3-4.
265
reivindicar a concessão de novos recursos para o Ceará, com vistas à criação de um seminário
na província. O número de sacerdotes vitimados pela epidemia foi o mote da solicitação:
[...] a província do Ceará, hoje vítima do cólera, vem sofrendo
extraordinariamente no número dos seus ministros; não menos de 10 ou 12
tem sucumbido a essa terrível enfermidade no exercício do santo mistério,
prestando consolações aos enfermos confessando-os, sacramentando-os e,
enfim, satisfazendo tudo quanto a nossa religião manda em ocasiões
críticas1052.
Quando em março de 1863 o resultado do escrutínio para o Senado veio a público, não
pareceu surpresa estar Figueira de Mello na primeira colocação. A eleição envolveu mais de
dez candidatos. Entre os liberais, figuravam pessoas destacadas durante a crise epidêmica, como
o médico José Lourenço de Castro e Silva e o cônego Pinto de Mendonça, sobre quem dissertei
anteriormente. Todavia, o nome mais importante do Partido Liberal na disputa foi o de Thomaz
Pompeu de Souza Brasil, líder “chimango” na província e proprietário d’O Cearense.
Como era de se esperar, a folha em questão foi a principal porta-voz da candidatura.
Logo após a morte do senador Miguel Fernandes Vieira ser anunciada, O Cearense passou a
veicular cartas anônimas ou firmadas por pseudônimos, além de textos publicados em jornais
de outras províncias, com elogios ao “cearense de grande ilustração e moralidade, um brasileiro
que fez honra à sua pátria”1053. O papel do sacerdote e líder partidário era representado, nas
publicações do jornal, quase como missão religiosa: “Sua palavra ungida pela fé de Deus
desperta o remorso no coração do forte e cai como as gotas do bálsamo sobre as chagas do
oprimido”1054. O candidato era descrito como o único capaz de iniciar nova fase política no
Ceará, pois a “vitória do Sr. Pompeu será o primeiro protesto contra o feudalismo carcará”1055.
Além de clérigo, Pompeu era doutor pelo curso jurídico de Olinda e reconhecido como
intelectual pelos estudos geográficos, históricos e estatísticos realizados no Ceará,
transformados em livros ou publicados na imprensa. Era, inclusive, sócio correspondente do
IHGB. A faceta intelectual foi explorada na série de publicações a respeito da candidatura dele
ao Senado. Uma das missivas asseverava: somente o “invejoso negará a sua ilustração, e
possibilidade de ser útil à sua província natal”1056. A preocupação de Pompeu em investigar
problemas locais também foi acionada no agenciamento de votos: “As causas que determinam
1052 Gazeta Official, n. 21, 24 set. 1862, p. 4. 1053 O Cearense, n. 1541, 9 set. 1862, p. 3. 1054 O Cearense, n. 1543, 23 set. 1862, p. 2. 1055 O Cearense, n. 1543, 23 set. 1862, p. 2. 1056 O Cearense, n. 1544, 30 set. 1862, p. 1.
266
as secas que tantas vezes têm assolado o Ceará não tem escapado às suas investigações”1057. Ao
debruçar-se sobre o fenômeno mais impactante e recorrente na província, o “Sr. Dr. Pompeu
tem estudado e proposto os meios conducentes se não a um pronto remédio ao menos à
minoração dos males”1058 decorrentes das secas.
No conjunto dos textos dedicados à exaltação dos méritos políticos e intelectuais de
Thomaz Pompeu de Souza Brasil, depreende-se a insinuação de que a ascensão da “Liga” na
Corte trazia possibilidade concreta do resultado do escrutínio ao Senado trazer a “verdade”1059
sobre os desejos da província. Em eleições ao senado anteriores, dominadas pelos
conservadores, especialmente o núcleo “carcará”, os candidatos liberais nunca conseguiam
figurar na lista tríplice. O próprio Pompeu alcançava ser bem sufragado nas votações, mas
ficava distante do topo. Todavia, o momento político vivido no Império no despontar dos anos
1860 anunciava mudanças nas regras dos jogos eleitorais, engendrando expectativas entre os
liberais a respeito do pleito ao Senado:
Hoje, porém, que uma política de moderação e tolerância parece inaugurar-se
e querer realizar as promessas da constituição, temos fé que os seus serviços
serão galardoados [...].
Não nos iludimos: o nome do Sr. Dr. Thomaz Pompeu de Souza Brasil há de
se levado agora perante o trono imperial em lista tríplice1060.
A crença na possibilidade do resultado da eleição trazer uma mescla dos partidos nos
três primeiros lugares, motivou O Cearense a imprimir carta enviada de Saboeiro, berço dos
“carcarás”, sugerindo o pragmatismo aos eleitores da província, votando em chapa composta
por dois liberais (Thomaz Pompeu e Hipólito Pamplona) e um conservador (Manoel Fernandes
Vieira): “Apresento homens de mérito de um, e de outro lado; ponho de parte suas opiniões, e
aprecio-os pelas suas luzes, pelo seu caráter, e por outras qualidades, que únicas devem merecer
nossos sufrágios”1061.
Se entre os liberais a esperança estava depositada na possibilidade do padre Pompeu se
beneficiar da conjuntura, entre os conservadores candidatos à senatoria, os mais destacados
eram: Manoel Fernandes Vieira, Domingos José Nogueira Jaguaribe e Raimundo Ferreira de
Araújo Lima. Se O Cearense foi o espaço promotor da candidatura de Thomaz Pompeu, a
redação do Pedro II, tratou de defender interesses políticos e familiares, sendo porta-voz da
1057 O Cearense, n. 1551, 18 nov. 1862, p. 2. 1058 O Cearense, n. 1551, 18 nov. 1862, p. 2. 1059 O Cearense, n. 1541, 9 set. 1862, p. 3. 1060 O Cearense, n. 1551, 18 nov. 1862, p. 2. 1061 O Cearense, n. 1545, 7 out. 1862, p. 3.
267
campanha de Manoel Fernandes Vieira. O momento era delicado para os “carcarás”. As mortes
sucessivas do Visconde de Icó e dos filhos, o senador Miguel Fernandes Vieira e o deputado
geral José Fernandes Vieira, entre junho e agosto de 1862, enfraqueceram politicamente o clã.
Além disso, o conflito entre Manoel Franco Fernandes Vieira e José Bento da Cunha Figueiredo
Júnior, ocasionado pelas críticas veiculadas ao Pedro II a respeito do desempenho do presidente
da província na crise do cólera, rompeu as pontes do grupo político com o governo provincial,
peça importante de qualquer eleição. O diário, claramente, tentou derrubar Figueiredo Júnior
do cargo, dedicando muitas páginas ao cólera, como demonstrado no segundo capítulo.
Havia, ainda, a notória relação entre o presidente do Ceará e Figueira de Mello. A
candidatura do desembargador contava ainda com as simpatias do núcleo saquarema da Corte.
Como apontado recentemente, o “consistório” tinha preterido Manoel Fernandes Vieira da
chapa sugerida ao escrutínio, optando por Figueira de Mello, Domingos Jaguaribe e Raimundo
de Araújo Lima1062.
Com tantos pontos somando contra a campanha “carcará”, o Pedro II ironizava o fato
da eleição atrair candidatos de outras províncias, meio claro de provocar Figueira de Mello,
cuja trajetória política, nos últimos anos, era mais pernambucana que cearense1063: “A vaga que
deixou no senado o nosso sempre chorado, e nunca esquecido senador Miguel Fernandes Vieira,
veio de novo trazer à província um aluvião de candidatos a esta cadeira”1064. Ante tais aspirantes
externos, o Pedro II recomendava a tradição, ou seja, os votos dos eleitores conservadores
deveriam recair sobre:
o nome de um cearense que tem todos os predicados, e que por vós não é
desconhecido, este cearense é o Dr. Manoel Fernandes Vieira, magistrado
probo e honrado no último ponto, membro importante duma das primeiras
famílias da província, mano de nosso falecido senador Miguel Fernandes
Vieira1065.
Os bastidores da eleição eram observados de perto pelo presidente da província. Poucas
semanas após a morte de Miguel Fernandes Vieira, Figueiredo Júnior, em carta na qual
atualizava o Marquês de Olinda a respeito dos atritos com o Pedro II, chamava a atenção para
a necessidade de “proceder-se brevemente a eleição de senador para preencher a vaga do Dr.
1062 O Cearense, n. 1541, 9 set. 1862, p. 1. 1063 No começo dos anos 1860, Figueira de Mello residia em Recife. Sua carreira em Pernambuco foi alavancada
quando atuou na repressão ao movimento praieiro, em 1848, sendo, recompensado, na sequência com o cargo de
Chefe de Polícia, passando ao Tribunal da Relação de Pernambuco e à chefia de Polícia da Corte, em 1855. Em
suas passagens pela Câmara dos Deputados, representou ora Pernambuco e ora Ceará. CADENA, op. cit., 2018,
p. 208; STUDART, op. cit., 1910, p. 396. 1064 Pedro II, n. 2, 3 jan. 1863, p. 2. 1065 Pedro II, n. 2, 3 jan. 1863, p. 2.
268
Miguel”. Após tocar no assunto, fez apanhado sobre os jogadores interessados em ocupar o
tabuleiro eleitoral, apontando as posições ocupadas por eles, dentro e fora do Ceará:
Apresentam-se candidatos, segundo me consta, os deputados Jerônimo
Martiniano Figueira de Mello, Raimundo Ferreira de Araújo Lima, e
Jaguaribe, assim como o juiz de direito de Recife, Francisco Domingos da
Silva, e o Dr. Thomaz Pompeu de Sousa Brasil, o chefe do partido liberal, e
redator do “Cearense”. Ainda não sei se se apresentarão o Dr. Manoel
Fernandes Vieira (deputado) e o atual Presidente da Paraíba, Francisco Araújo
Lima1066.
O presidente do Ceará dissertava, especialmente, sobre o “Dr. Pompeu que conta
também com o terço dos eleitores (do seu credo)”. O padre teria procurado Figueiredo Júnior
para comunicar a decisão de concorrer ao pleito, solicitando a “coadjuvação moral”1067 do
presidente. É importante recordar: naquele momento, a imprensa liberal tinha se colocado ao
lado de Figueiredo Júnior na pendenga com o ex-tesoureiro e redator do Pedro II, Manoel
Franco. Partia dela a defesa das ações do presidente frente ao cólera, rebatendo as acusações do
diário conservador, a culpar pessoalmente a autoridade provincial pela grave crise sanitária.
Portanto, ao demandar o apoio de Figueiredo Júnior, Thomaz Pompeu indicava como a adesão
entusiasmada d’O Cearense poderia ser recompensada pelo apoio na eleição.
Ora, diante da solicitação e não podendo indispor-se com apoiador importante na
província, num momento de crise, restou a Figueiredo Júnior tentar desconversar: “Tive meio
de iludir à resposta, sem prometer-lhe causa alguma”. Para o presidente do Ceará, como eram
“muitos os candidatos” e não havia como “prever com bom fundamento quais serão os
vencedores”, ao governo conviria “a neutralidade no pleito, tanto mais quanto nenhum dos
candidatos” adotava postura claramente “hostil ao Gabinete e à administração provincial”. Não
obstante, em tom submisso, solicitava orientações ao Marquês de Olinda, indicando como
poderia tomar o lado do candidato do agrado do ministro:
Rogo a Vossa Excelência que a este respeito se digne manifestar-me a sua
encarecida opinião, porque neste negócio, como em qualquer outro, eu desejo
seguir à risca o pensamento do Governo; e quando não puder satisfazer este
meu desejo me apressarei em resignar o meu posto; porque eu teria remorsos
1066 IHGB. Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda. 25 ago. 1862. Coleção Marquês
de Olinda. Lata 216, doc. 60. 1067 IHGB. Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda. 25 ago. 1862. Coleção Marquês
de Olinda. Lata 216, doc. 60.
269
se porventura, ainda que inocentemente, criasse embaraços a quem me honra
com a sua confiança1068.
As relações respeitosas entre Figueiredo Júnior e o padre Pompeu permaneceram pelo
resto de 1862. Mesmo não acatando o pedido de apoio do padre, o presidente do Ceará
permanecia a receber o líder liberal e a conversar sobre a eleição. Numa das correspondências
com o Marquês de Olinda, Figueiredo Júnior revelava ter sabido pelo padre Pompeu que
Francisco Xavier Paes Barreto, pernambucano e ex-presidente do Ceará, tinha feito uma
sondagem para avaliar se lançaria candidatura nesta província, mas os resultados não teriam
sido muito animadores1069.
Se Figueiredo Júnior absteve-se de favorecer Pompeu na eleição a senador, não deixou
de buscar recompensá-lo pelo apoio dado na crise epidêmica. Em 27 de setembro de 1862, o
presidente do Ceará endereçou à corte documento no qual elogiava o “Ensaio estatístico da
Província do Ceará”, então no prelo. A obra reunia dados históricos, geográficos, políticos e
estatísticos da província, tendo sido impressa em dois volumes, somando mais de mil e cem
páginas. Ela fora encomendada a Thomaz Pompeu pelo governo provincial em 1855, na
administração de Vicente Pires da Motta1070.
Figueiredo Júnior classificou o ensaio como “obra de laboriosas investigações”,
“trabalho de grande mérito literário, porventura o primeiro neste gênero até hoje publicado no
Império” e “fecundo auxiliar para os estudos administrativos”1071. Para além dos “trabalhos
literários”, Pompeu apresentaria “serviços meritórios na qualidade de empregado público”,
como quando ocupou a Diretoria Geral de Instrução Pública. Segundo Figueiredo Júnior, na
secretaria da presidência da província, não faltavam documentos atestando o “patriotismo e
solicitude com que o Dr. Thomaz Pompeu se presta em tudo quanto diz respeito ao serviço
público, quando invocado pelo governo”.
Ante tais atributos, Figueiredo Júnior anunciava ter incumbido o padre da tarefa de
escrever a “história da epidemia do cólera morbo”, a partir de “documentos oficiais e outros
dados”1072. Aliás, Pompeu teria tido destaque “como membro de uma comissão sanitária da
1068 IHGB. Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda. 25 ago. 1862. Coleção Marquês
de Olinda. Lata 216, doc. 60. 1069 ANRJ. Ofício confidencial. 11 out. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 1070 BRASIL, op. cit., 1997a, p. v. 1071 ANRJ. Cópia anexa ao ofício n. 86. 1 out. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de
diversas autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 1072 Aparentemente, a obra não foi publicada. Talvez o manuscrito de Thomaz Pompeu que José Pereira Rego diz
ter consultado no IHGB sobre a epidemia do cólera no Ceará, referenciado no livro do futuro Barão do Lavradio,
fosse um esboço do estudo encomendado por Figueiredo Júnior (REGO, op. cit., 1873, p. 168). Infelizmente, não
achei o manuscrito durante a pesquisa no IHGB.
270
capital durante a epidemia do cólera”, quando “teve novas ocasiões de prestar seus bons
serviços”. Após apanhado tão elogioso da trajetória intelectual e pessoal de Thomaz Pompeu
de Souza Brasil, o presidente requeria ao Marquês de Olinda: levasse “à Augusta Presença de
Sua Majestade O Imperador” o pedido de prêmio para o “prestimoso cidadão”, para quem
solicitava a “comenda da Ordem de Cristo”1073.
Como demonstrei no tópico anterior, as ordens honoríficas eram importantes símbolos
de distinção, bem como um dos meios do governo imperial premiar serviços destacados dos
súditos. Ao solicitar a comenda, Figueiredo Júnior desejava retribuir os favores de Pompeu com
o hábito de Cristo, especialmente os prestados pelo grupo político do padre durante o surto do
cólera. Tal intepretação era, inclusive, veiculada pelos opositores do presidente. Em 1863, em
artigo intitulado, “O comendador do cólera”, A Constituição, folha de Domingos Jaguaribe,
criticava a pretensão de Figueiredo Júnior em conseguir a distinção para Pompeu “pelos
serviços prestados durante a quadra do cólera morbo nesta província”. Para o jornal, o
presidente desconsiderava os méritos de outras pessoas destacadas na epidemia para priorizar
o padre Pompeu. Ao fazer isso, estaria querendo retribuir não as ações de Pompeu frente ao
cólera, mas os “serviços prestados à pessoa do presidente com os elogios do Cearense à sua
administração. É por isso talvez que o Sr. Pompeu alega hoje, que não poucos favores têm feito
ao Sr. Figueiredo Júnior”1074.
Não obstante a busca de comenda por parte do presidente do Ceará, Thomaz Pompeu
desejava mais: a câmara vitalícia. Quando no princípio de março de 1863 foram apuradas as
urnas da eleição ao senado, o desembargador Figueira de Mello obteve o primeiro lugar,
Thomaz Pompeu o segundo e Domingos Jaguaribe fechou a lista tríplice. Os maiores derrotados
do escrutínio foram os Fernandes Vieira. Isolados pela campanha maciça de oposição a
Figueiredo Júnior, durante a epidemia, viram o maior inimigo político, Pompeu, figurar na
seleta lista dos vencedores. Ademais, os conservadores eleitos, Figueira de Mello e Jaguaribe,
estavam longe de seguir a cartilha “carcará”, trilhando caminhos próprios. Aliás, Jaguaribe
afastava-se cada vez mais dos Fernandes Vieira, inclusive fundando o jornal A Constituição,
em 1863, rompendo o exclusivismo do Pedro II como órgão conservador da província1075.
Se a relação amistosa entre liberais e o presidente Figueiredo Júnior tinha sido a tônica
da segunda metade de 1862, o resultado eleitoral do padre Pompeu estremeceria os ânimos entre
1073 ANRJ. Cópia anexa ao ofício n. 86. 1 out. 1862. Série interior. Negócios de províncias e estados. Ofícios de
diversas autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181. 1074 A Constituição ̧n. 8, 12 nov. 1863, p. 2-3. 1075 NOBRE, op. cit., 2006, p. 96.
271
as partes em 1863. O ano da crise Christie, que o presidente do Ceará, tolamente, julgou ser
capaz de apaziguar as disputas partidárias1076, seria marcado por tensionamentos entre o grupo
político do padre Pompeu e Figueiredo Júnior. Os motivos da crise eram claros. Em primeiro
lugar, os liberais, fortalecidos pela campanha ao Senado e pela crise do Partido Conservador no
Ceará, mormente no núcleo “carcará”, desejavam conquistar mais espaços de poder.
A conjuntura nacional era alvissareira para os liberais cearenses e de outras províncias.
Em maio de 1863, estava previsto o início do ano legislativo nas câmaras provisória e vitalícia
da Corte. Não obstante, Paulo Cadena demostrou como, ainda em abril de 1863, Sinimbu, então
Ministro da Justiça, escreveu ao Marquês de Olinda anunciando a chegada dos “grandes atores
do drama de maio”1077. Os “atores” aludidos na metáfora eram os parlamentares e o “drama”
seria encenado no início da sessão legislativa: no dia 12 de maio de 1863, deu-se a leitura do
decreto 3092, dissolvendo a Câmara provisória, com convocação de eleição. A nova legislatura
teria início a 1 de janeiro de 18641078. O Imperador, que resistira à dissolução duas vezes em
1862, quando das quedas de Caxias e Zacarias, cedia agora, aliviando o Marquês de Olinda do
convívio com uma câmara hostil. Desta forma, abria-se a oportunidade para a eleição de um
parlamento de tez mais liberal e conservadora moderada, articulados sob a “liga progressista”,
e menos conservadora “emperrada”1079.
Quando no segundo semestre de 1863 a província do Ceará agitou-se com as eleições
para escolha de deputados gerais, o padre Pompeu pressionou Figueiredo Júnior em busca de
mais apoio aos candidatos liberais. O resultado eleitoral em alguns distritos desagradou ao líder
chimango, passando a publicar críticas ao presidente por meio d’O Cearense, levando a
autoridade a responder via Gazeta Official. Os jornais irmanados na crise epidêmica na defesa
do governo provincial, agora trocavam altercações. Explicando o conflito ao Marquês de
Olinda, Figueiredo Júnior afirmou: Pompeu “pretendia fazer sem despesas e sacrifícios” oito
“deputados mediante os recursos oficiais”, por isso mostrava-se:
despeitado porque não escrevi (como ele desejava) intervindo em seu favor na
eleição do 3° distrito. Em particular declara aos amigos que me deve atenção
e que eu sou um dos Presidentes mais honestos que tem tido a Província: mas
pela sua folha, querendo explicar a derrota moral que sofreu, faz-me censuras
1076 ANRJ. Ofício n. 12. 31 jan.1863. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1863). Notação IJJ 9-182. 1077 SINIMBU apud CADENA, op. cit., 2018, p. 255. 1078 CADENA, op. cit., 2018, p. 255. 1079 HOLANDA, op. cit., 2012, p. 32-33.
272
tão inconsistentes que desde certo tempo não têm merecido a contestação da
“Gazeta”1080.
Se não faltavam elogios a Thomaz Pompeu no ofício no qual Figueiredo Júnior solicitou
o hábito de Cristo para o padre, a correspondência oficial de 1863 trazia apenas depreciações.
Para o presidente do Ceará, o clérigo “ultimamente desmereceu muito o conceito de seus
próprios correligionários”1081. Ele teria lançado “insinuações odiosas ao Coronel João Antônio
Machado cuja probidade é incontestada, e a quem o mesmo Pompeu deve favores que agora
esquece só porque o Coronel Machado não quer ser seu instrumento dócil”. Figueiredo Júnior
dizia-se admirado da “facilidade com que o Padre Pompeu faz asseverações inverídicas,
censurando algumas vezes, por aquilo mesmo que ele praticou, de um modo injustificadamente
ou já teve a ocasião de solicitar ou louvar”1082. Além disso, o presidente do Ceará acusava o
padre de ter fraudado a eleição, “subtraindo no Crato três votos e na Barbalha dezenove a outro
candidato liberal, o Dr. Bernardo Duarte Brandão”, futuro Barão do Crato1083.
Para além das disputas eleitorais de 1863, um segundo fator azedou a relação de Pompeu
com o chefe do executivo provincial: a acusação de ter Figueiredo Júnior favorecido Figueira
de Mello na eleição ao Senado. Tendo recusado o apoio a Thomaz Pompeu, o presidente, nos
bastidores, sustentaria a candidatura do amigo desembargador. Tal ilação era pública,
repercutindo, sem meias palavras, na Corte, quando o resultado do pleito eleitoral veio à tona.
Em 9 de março de 1863, o texto de capa do Diário do Rio de Janeiro foi dedicado à eleição no
Ceará. O artigo comentava o segundo lugar conquistado pelo “Reverendo Doutor Thomaz
Pompeu de Souza Brasil”, a quem o Ceará deveria “uma brilhante reparação a esse distinto
cavalheiro, que por tantos e tão valiosos serviços se recomendava à sua província natal”1084.
Na sequência, o texto tecia loas ao caráter e saber de Pompeu, “uma dessas inteligências
que se acrisolam no ostracismo político e cujos dotes intelectuais e morais crescem e se apuram
na luta dos partidos”. O líder liberal cearense seria um “homem de convicções inabaláveis, tão
moderado na manifestação de seu pensamento quanto firme na sustentação dos princípios que
abraçou por convicção”. Argumentava ser o nome do padre na lista tríplice não resultado de
“imposição, nem em virtude de barganhas ou transações menos confessáveis”, mas sim,
1080 IHGB. Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda. 14 out. 1863. Coleção Marquês
de Olinda. Lata 113, doc. 106. 1081 IHGB. Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda. 15 dez. 1863. Coleção Marquês
de Olinda. Lata 113, doc. 106. 1082 IHGB. Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda. 15 dez. 1863. Coleção Marquês
de Olinda. Lata 113, doc. 106. 1083 IHGB. Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda. 14 out. 1863. Coleção Marquês
de Olinda. Lata 113, doc. 106. 1084 Diário do Rio de Janeiro, n. 67, 9 mar. 1863, p. 1.
273
derivado de uma eleição “livre e espontânea”, sendo “manifestação solene, feita pelos eleitores
cearenses a um cidadão benemérito”1085.
Malgrado destacar a espontaneidade da votação, se a vitória de Pompeu brotava dos
méritos pessoais, como intelectual e político, o Diário do Rio de Janeiro punha em dúvida a
forma como os dois outros integrantes da lista tríplice foram eleitos: “O Sr. Dr. Pompeu teve
de lutar na sua candidatura contra a influência do presidente da província, que sustentava
abertamente a candidatura do Sr. desembargador Figueira de Mello e contra a do chefe de
polícia que advogava a do Sr. Dr. Jaguaribe”1086. Assim, Figueiredo Júnior era acusado de
favorecer Figueira de Mello, enquanto o chefe de polícia, Francisco de Farias Lemos, teria
agido em prol do candidato Jaguaribe.
A proximidade entre Figueira de Mello e Figueiredo Júnior levantava suspeitas por
todos lugares. Por outro lado, a relação entre os políticos também inspirava pedidos de favor.
A 31 de outubro de 1862, mais de três meses antes da eleição, João Capistrano Bandeira Filho,
sobrinho de Figueira de Mello, escreveu desejando o “melhor caminho possível” na candidatura
senatorial, apresentada como “legítima aspiração” do tio. Informava estar empenhado em
conseguir “com o Silvério de Sousa e com o Paes Barreto”, algumas “cartas a favor de sua
candidatura”. Após falar dos esforços na busca das declarações, rogava ao tio “um obséquio
que muito penhorará a minha gratidão”. O favor envolvia o pedido de um cargo:
O meu primo e amigo, Dr. João de Albuquerque Rodrigues, natural desta
província, deseja encetar a sua vida pública em uma Promotoria, e como me
consta que está vaga a da Comarca de Vila Viçosa, eu peço a Vossa Excelência
que intervenha para com o nosso amigo Dr. José Bento Júnior para que seja o
meu parente nomeado para ali. É um moço inteligente, muito honesto, e a
quem sou verdadeiramente afeiçoado, e que, espero muito nos ajudará naquela
comarca.
Conto que Vosmecê atenderá devidamente o meu pedido, e que mais uma vez
beijarei as suas mãos em sinal de minha gratidão1087.
Aparentemente, Figueira de Mello levou o pedido do sobrinho ao “amigo” presidente
do Ceará. Figueiredo Júnior concedeu o favor: a Gazeta Official publicou, entre as portarias de
27 de junho de 1863, a nomeação de João de Albuquerque Rodrigues como “promotor público
da comarca de Vila Viçosa”1088.
1085 Diário do Rio de Janeiro, n. 67, 9 mar. 1863, p. 1. 1086 Diário do Rio de Janeiro, n. 67, 9 mar. 1863, p. 1. 1087 BNRJ. Carta de João C. Bandeira Filho a Jerônimo Martiniano Figueira de Mello. 31 out. 1862. Divisão de
Manuscritos. Fundo Figueira de Mello. I-29, 24, 187. 1088 Gazeta Official ̧n. 87, 8 jul. 1863, p. 4.
274
Passada a eleição ao Senado, cartas de congratulação foram remetidas a Figueira de
Mello. Nelas, também havia rogativas envolvendo Figueiredo Júnior. Uma das missivas tinha
como remetente João Brígido. Personagem citado ao longo de toda a tese, o editor d’O Araripe,
foi um dos apoiadores do presidente no Ceará durante a epidemia do cólera. Por meio do seu
jornal ou de cartas reproduzidas n’O Cearense, Brígido defendera Figueiredo Júnior dos
ataques perpetrados pelo Pedro II, corroborando a ação dos outros jornais de inspiração liberal
na campanha de confronto com o diário “carcará”, como mostra o trecho a seguir:
Tenho lido no Pedro II uma carta, em que o Sr. Dr. José Bento é horrivelmente
acusado de omisso em relação ao Crato. Ela vai assinada daqui; mas afirmo-
lhe que é apócrifa, porque não vejo alguém que pudesse rabiscar esse papel:
todos são agradecidos ao presidente que realmente se portou o melhor possível
dando todas as providências que eram compatíveis com suas forças1089.
O apoio de João Brígido a Figueiredo Júnior pode ter sido um dos motivos que fizeram
o presidente do Ceará incluir aquele na lista dos candidatos às honrarias honoríficas pelos
serviços prestados pelo cólera, como analisei anteriormente. Para o redator d’O Araripe,
Figueiredo Júnior solicitou a comenda de cavaleiro da Rosa1090. Todavia, João Brígido parecia
desejar recompensa mais concreta pela manifesta fidelidade ao presidente do Ceará na
conjuntura epidêmica: um cargo de professor público para o irmão Constantino Brígido dos
Santos. Para conseguir o intento, recorreu a Figueira de Mello.
Em março de 1863, Brígido escreveu ao desembargador afirmando ter recebido carta,
de 23 de fevereiro, “na qual me dava já a lisonjeira notícia de haver entrado na lista tríplice”.
Pela vitória na eleição, João Brígido parabenizava a Figueira de Mello, afirmando ter o Ceará
o “bom senso de preferi-lo aos candidatos carcarás, cujo merecimento está muito aquém do de
Vossa Excelência”. Na sequência, elucubrava sobre a quem caberia a “honra da escolha” do
monarca. Brígido afirmava ser a “vontade da província” uma “bela garantia para Vossa
Excelência”, dando a entender que Figueira de Mello seria Senador nessa ocasião ou em outra:
“não deverá descrer de um dia ter assento na câmara vitalícia”1091.
Após tais afagos, Brígido solicitou “um bem importante favor, que por acanhamento
reservei para agora”. Informava estar a cadeira de latim de Crato para ser suprimida.
Argumentava ser a cidade “um lugar muito populoso e central, que, portanto, a não pode
dispensar”. Segundo o remetente, Figueiredo Júnior não estava querendo prover a cadeira, “por
1089 O Cearense ̧n. 1540, 2 set. 1862, p. 1. 1090 VASCONCELOS, op. cit., 1910, p. 96. 1091 BNRJ. Carta de João Brígido dos Santos a Jerônimo Martiniano Figueira de Mello. 10 mar. 1863. Divisão de
Manuscritos. Fundo Figueira de Mello. I-29, 33, 270.
275
economia dos dinheiros públicos”. Diante disso, Brígido solicitava a intervenção de Figueira
de Mello: “Meu mano Constantino Brígido dos Santos, professor aposentado da cadeira de latim
de Imperatriz, pretende este lugar, com proveito para os cofres provinciais, pois que sendo-lhe
ela dada, perde o seu ordenado de aposentadoria em favor deles”1092.
Brígido alegava não ter “outros empenhos na província”, ou seja, nenhuma aspiração ou
demanda, meio de reforçar o pedido de emprego para o familiar. Assim, demandava a Figueira
de Mello: se dirigisse “ao senhor Dr. José Bento, pedindo-lhe que faça a nomeação do meu
mano para esta cadeira, independentemente de concurso”, alegando ser “mais que ocioso” tal
recurso para obtenção do cargo, visto ter Constantino sido professor. Pela gentileza do
desembargador no caso, João Brígido afiançava hipotecar a “gratidão e serviços, esperando que
Vossa Excelência fará o seu pedido com a maior presteza, e com todas as instâncias que se
fizerem mister”. Um pós-escrito encerrava a missiva: “PS: Dirigindo-se ao Senhor Dr. José
Bento, Vossa Excelência tenha a bondade de me avisar na mesma ocasião”1093.
Apesar da súplica enfática dirigida a Figueira de Mello, João Brígido não conseguiu o
emprego para o parente: a vaga da cadeira de latim de Crato seria preenchida em fevereiro de
1864, sendo aprovado, por concurso, o professor Joaquim Correia Lima de Macedo1094. Haveria
o agastamento das relações de Figueiredo Júnior com a liderança do Partido Liberal no Ceará,
em 1863, determinado a recusa do emprego a Constantino Brígido? Ou Figueira de Mello não
se empenhou no caso, por ter sabido da publicação d’O Araripe, acusando o desembargador de
usar a subscrição em prol dos órfãos e viúvas do cólera como “cálculo político”1095 para
promover-se na eleição ao Senado? A partir das fontes consultadas na pesquisa não há como
responder tais perguntas.
Todavia, uma coisa fica clara na documentação: os liberais souberam canalizar a seu
favor a conjuntura provincial e nacional dos anos 1862 e 1863. A ascensão da “Liga” na Corte
1092 BNRJ. Carta de João Brígido dos Santos a Jerônimo Martiniano Figueira de Mello. 10 mar. 1863. Divisão de
Manuscritos. Fundo Figueira de Mello. I-29, 33, 270. 1093 BNRJ. Carta de João Brígido dos Santos a Jerônimo Martiniano Figueira de Mello. 10 mar. 1863. Divisão de
Manuscritos. Fundo Figueira de Mello. I-29, 33, 270. A demanda de João Brígido chegou aos ouvidos dos
conservadores no Ceará em fins de junho de 1863. O Pedro II publicou texto assinado pelo pseudônimo “O
Imparcial”, comentando ter Brígido requerido a Figueiredo Júnior a cadeira de latim do Crato para o irmão
“apresentando para isso os documentos necessários, que comprovam a razão do seu pedido. O texto não poupou
críticas ao caso: “Este moço [Constantino Brígido], que foi aposentado por falta de juízo, e que ainda hoje se
conserva no status quo, não pode de modo algum ser aproveitado para a instrução pública atenta à sua
incapacidade”, prejudicando “esse ramo importante de serviço, e inutilizar assim o concurso de pretendentes
habilitados.” A conclusão do texto afirmava: Figueiredo Júnior não deveria “se deixar levar por informações
oficiais com que se pretende pagar favores particulares”, dando a entender que a nomeação só seria explicada
como recompensa da presidência pelo apoio dado por João Brígido durante a celeuma da imprensa entorno do
cólera em 1862. Pedro II, n. 140, 23 jun. 1863, p. 3, grifos da fonte. 1094 Gazeta Official, n. 126, 10 fev. 1864, p. 3. 1095 O Araripe, n. 293, 22 nov. 1862, p. 2.
276
fragilizou o Partido Conservador no Ceará, tão acostumado a deter o domínio pela relação
umbilical mantida com os presidentes da província. Já a epidemia do cólera, com forte impacto
social, foi apropriada politicamente. No embate entre o Pedro II, dos Fernandes Vieira, e o
presidente do Ceará, os jornais O Cearense de Thomaz Pompeu, coadjuvado por O Araripe, de
João Brígido, a Gazeta Official e O Sol postaram-se ao lado de Figueiredo Júnior, conquistando,
num primeiro momento, a simpatia e benesses do chefe do executivo provincial. Contaminados
pela rixa com o presidente, por obra das críticas de Manoel Franco Fernandes Vieira à gestão
da crise, os “carcarás” sofreram, ainda, com a morte de lideranças importantes do clã e viram o
controle do Partido Conservador na província ser contestado. A exclusão de Manoel Fernandes
Viera da lista tríplice para o Senado era indício claro da nova situação política.
Com a dissolução da Câmara em maio de 1863, anunciava-se um pleito favorável aos
liberais. Os opositores deles não poderiam contar com a simpatia do presidente Figueiredo
Júnior, com poder para intervir na composição das mesas de qualificação de votantes e nas
ações das forças policiais no momento da eleição. Assim, os conservadores perderam a
oportunidade de acionar a seu favor os instrumentos corriqueiramente utilizados para garantir
a proeminência política no Ceará. Como em 1863 haveria eleição de oito deputados gerais, o
Partido Conservador viu-se instado a negociar com o Liberal uma partilha, a permitir a cada
parcialidade eleger 4 deputados. As negociações naufragaram por conta de Thomaz Pompeu, a
recusar a divisão de eleitores por distrito proposta pelos adversários, pois desejava fazer
deputados nos locais onde julgava serem os liberais mais fortes1096.
Portanto, os conservadores jogavam em desvantagem. Às vésperas da eleição, O Pedro
II, inclusive, acusou o governo de promover demissões de delegados e inspetores de quarteirão
com vistas ao pleito eleitoral, prejudicando os conservadores1097. Além disso, teria havido
fraude no processo de qualificação dos eleitores na capital e em outros pontos da província. Em
artigo assinado pelo pseudônimo “O velho do povo”, o Pedro II publicou interessante leitura
da situação. Afirmava terem os quatorze anos de domínio conservador sido responsáveis pelo
abrandar das tensões partidárias no Brasil e no Ceará, a ponto de quase extinguir “a diferença
entre os partidos políticos”, com suposta nomeação indistinta de “pessoas de todas as crenças”
para a “magistratura, a guarda nacional, a administração, as repartições, e mais empregos”1098.
A versão punha em xeque a “Liga”, sem citá-la diretamente, ao representar a situação
política do país e do Ceará como a melhor possível. Por isso, o artigo indicava não haver razão
1096 Pedro II, n. 153, 10 jul. 1863, p. 2. 1097 Pedro II, n. 167, 26 jul. 1863, p. 3. 1098 Pedro II, n. 177, 7 ago. 1863, p. 2.
277
para, “de repente”, os “partidos extremados e os homens decaídos pela revolução de 48”
voltarem à cena. Estes estariam “furiosos”, intentando “vingar velhos agravos, dissimulados,
mas não esquecidos”. Por essa chave de leitura, o movimento político ascendente desde 1862,
não significaria avanço em prol da distensão partidária, e sim o contrário. Fazendo referências
ao processo de qualificação dos eleitores em Fortaleza, em 1863, acusava os liberais de “poluir
a igreja de Deus [onde se deu os trâmites eleitorais] com uma desordem premeditada”1099.
Se em 1862 o Pedro II fez do cólera o mote para o ataque ao presidente da província,
voltava a citar a doença, dessa vez como metáfora para explicar o momento político vivido,
apresentado como um “vírus” da raiva, a debilitar a razão, com consequências tão nocivas
quanto a epidemia vivida no ano anterior: “não se pode deixar de sentir e perceber como causa
de tudo isto um certo vírus rábido, ou espécie de cólera morbos psíquico e moral, que terá de
fazer tantas vítimas como o cólera físico”1100.
A leitura dramática do cenário político feita pelo Pedro II, comparando as mudanças
agenciadas pela Liga ao cólera, refletia a situação delicada vivida pelo Partido Conservador
local e nacionalmente. O resultado do escrutínio não foi alvissareiro para os conservadores.
Como afirmou Sérgio Buarque, as províncias deram, nas eleições parlamentares, ampla vitória
à Liga ou ao “Progresso, como já se intitulava” o movimento1101. No Ceará, o saldo não foi
diferente: os liberais ganharam 5 das 8 vagas em disputa1102. Derrotado na eleição ao Senado,
Manoel Fernandes Vieira sofreu novo golpe: não conseguiu reeleger-se deputado geral, indício
de como os “carcarás” enfrentavam má fase.
Atingidos pelo contexto geral desfavorável, os conservadores na província direcionaram
as críticas, mais uma vez, ao presidente do Ceará. Domingos Jaguaribe, um dos eleitos para a
liste tríplice ao Senado no começo de 1863, usou as páginas do A Constituição para acusar
Figueiredo Júnior de favorecer os liberais nos distritos, especialmente na capital, onde a
qualificação dos votantes teria sido tumultuada. A mesa responsável pelo trabalho chegara a
propor adiar a eleição. Todavia, o presidente da província teria imposto à mesa a lavra das “atas,
dando a eleição por feita, e fazendo caber aos liberais uma boa parte no eleitorado”1103.
Nos anos seguintes, Jaguaribe permaneceria acusando Figueiredo Júnior de
imparcialidade, como mostra o opúsculo deste, de 1866, no qual rebate discurso proferido por
aquele na câmara dos deputados. Na publicação, Figueiredo Júnior afirmava ter sido imparcial
1099 Pedro II, n. 177, 7 ago. 1863, p. 2. 1100 Pedro II, n. 177, 7 ago. 1863, p. 2. 1101 HOLANDA, op. cit., 2012, p. 34. 1102 Gazeta Official, n. 103, 14 out. 1863, p. 2. 1103 A Constituição, n. 2, 1 out. 1863, p. 3.
278
na eleição, o que seria comprovado pelas críticas conjuntas recebidas de liberais e
conservadores na ocasião. Defendendo o suposto legado de sua administração, afirmava:
“Colocado no centro da luta política, atravessei a crise epidêmica, promovi os melhoramentos
que pude, e fiz diversas eleições sem derramamento de sangue e sem a mínima intervenção
(sucessos virgens na província do Ceará)”1104.
Quando 1863 terminou, Figueiredo Júnior vivia situação peculiar: era criticado por
conservadores, a indicar na derrota das urnas a intervenção do presidente da província, e por
liberais, que, malgrado as vitórias eleitorais do ano, cobravam mais apoio do chefe do executivo
cearense. Quando assumiu a província, em maio de 1862, o tabuleiro da política do Ceará era
bem diferente. O jogo era monopolizado pelos conservadores, liderados pela facção “carcará”,
cabendo aos liberais derrotas sucessivas. A epidemia de cólera, com forte impacto social,
também afetou os jogos políticos. As forças em disputa reorganizaram-se, à luz dos interesses
pessoais e das leituras feitas da conjuntura, marcada também por conflitos nacionais,
prometendo readequar as disputas partidárias. No caso do Ceará, um grupo tomou o lado do
presidente, ao perceber os erros de estratégia dos opositores e as possibilidades abertas pelas
proposições vindas da Corte. Passada a epidemia, os competidores que usaram o cólera para
fazer oposição a Figueiredo Júnior acabaram derrotados, atropelados pela indisposição do
governo local em auxiliá-los e pela renovação parlamentar promovida pelo governo imperial.
A virada simbólica dos liberais cearenses seria coroada a 9 de janeiro de 1864, sendo,
mais uma vez, beneficiados pelo contexto político nacional. Contrariando as expectativas, a
indicar vantagem de Figueira de Mello, onze meses após a eleição, o Imperador escolheu
Thomaz Pompeu de Souza Brasil para a vaga no Senado1105. Pompeu foi nomeado senador no
mesmo dia de Teófilo Ottoni. Liberal histórico, Ottoni tinha sido eleito para a lista tríplice por
Minas Gerais em dezembro de 1862, sendo confirmado rapidamente pelo Imperador1106.
O Diário do Rio de Janeiro saudou a dupla nomeação, afirmando ter o “ato imperial”
despertado “júbilo sincero” em todo país, demonstrando o “alto pensamento político que serve
ao mesmo tempo para definir uma situação e demonstrar a sinceridade da coroa”1107. A escolha
dos dois liberais refletia o momento político e o patrocínio do Imperador aos “ligueiros”.
Segundo Holanda, para além da maioria esmagadora da Câmara, os opositores aos
1104 FIGUEIREDO JÚNIOR, op. cit., 1866, p. 4. 1105 STUDART, op. cit., 1915, p. 143. 1106 HOLANDA, op. cit., 2010, p. 119. 1107 Diário do Rio de Janeiro, n. 9, 9 jan. 1864, p. 1.
279
“conservadores emperrados” conseguiram os tão cobiçados “assentos no Senado, e não apenas
três ou quatro”1108.
Portanto, Thomaz Pompeu, o padre liberal, dono d’O Cearense, substituía na câmara
vitalícia a maior liderança “carcará”, Miguel Fernandes Vieira. Se este gozou menos de dois
meses da câmara vitalícia, Pompeu teve treze anos nela, morrendo em 18771109: uma dupla
derrota para o clã do Pedro II.
A nomeação de Pompeu ocorreu alguns dias antes do término do Gabinete Olinda. A 15
de janeiro de 1864, Zacarias de Góis assumiu o governo1110. O “Ministério dos velhos”
terminava. O novo gabinete encontrava um parlamento de “heterogênea composição” 1111, com
significativa presença de liberais históricos e progressistas1112. O Marquês de Olinda saía de
cena, provisoriamente1113. Com a troca no ministério, a 19 de fevereiro de 1864, José Bento da
Cunha Figueiredo Júnior foi exonerado da presidência da província do Ceará, após um ano e
oito meses de governo, sendo substituído pelo liberal Lafayette Rodrigues Pereira1114.
A exoneração pegou Figueiredo Júnior de surpresa. Em carta escrita a Figueira de Mello,
anunciava o retorno aos “pátrios lares [Recife] depois de tão longa e difícil peregrinação”.
Segundo o missivista, os “homens do progresso despediram-me à francesa, como têm feito a
muita gente boa”. Na sequência, lamentava ter sido Thomaz Pompeu escolhido senador pelo
Imperador, em vez do amigo Figueira de Mello: “Depois de tanta lida por amor da pátria e até
com sacrifício de minha saúde, não me restou ao menos o prazer de vê-lo no Senado. Eu lhe
falo com toda sinceridade: senti muito esta decepção, a única que sofri no Ceará”. Nem a
exoneração do cargo de presidente teria pesado tanto quanto ver o desembargador preterido.
Sobre a nova situação política da província, lamentava a força adquirida por Pompeu e a
conjuntura política nacional:
Já há de saber da reação que se vai operando naquela Província, que afinal
constituiu-se feudo do Pompeu, como foi dos Vieiras. Nem o Ceará para
escapar ao progresso, nem eu era Presidente próprio para esta quadra de
reviramento. Entretanto é de lamentar que por menos de meia dúzia de
1108 HOLANDA, op. cit., 2010, p. 118. 1109 STUDART, op. cit., 1915, p. 143. 1110 CADENA, op. cit., 2018, p. 262. 1111 BASILE, op. cit., 2000, p. 256. 1112 HOLANDA, op. cit., 2012, p. 35. 1113 Em maio de 1865, Pedro II chamou o Marquês de Olinda para chefiar o governo mais uma vez. O último
ministério organizado pelo político teve espaço durante a Guerra de Tríplice Aliança com o Paraguai. O marquês
permaneceu no cargo até 3 de agosto de 1866. O estadista faleceu pouco tempo depois, em 1870, aos 77 anos de
idade. CADENA, op. cit., 2018. 1114 PAIVA, op. cit., 1979, p. 112.
280
garimpeiros se transtorne a situação calma e criadora que a Província
apresentava1115.
Malgrado as críticas expostas, Figueiredo Júnior, ao longo do governo no Ceará,
contribuiu para o rearranjo das forças políticas provinciais e, como alguém subordinado ao
ministério Olinda, fora agente promotor de medidas garantidoras da vitória liberal na eleição
de 1863. Acolheu com vontade o apoio da imprensa “chimanga” em 1862, quando era atacado
pelo Pedro II. Como reconhecimento pelo apoio, indicou vários dos liberais, inclusive Thomaz
Pompeu às ordens honoríficas pelos supostos serviços prestados no cólera. Todavia, quando
este grupo político demandou mais apoio e recompensas, a partir do começo de 1863, os
choques tiveram início. A aliança era tênue, feita ao sabor dos interesses momentâneos de
ambos os lados.
Ao cabo do governo, Figueiredo Júnior deixava os maiores opositores durante o cólera
– o Partido Conservador, especialmente o núcleo “carcará” – destroçados, e os aliados na crise
epidêmica – os liberais, que passara a relegar em 1863 – em situação favorável na província e
no parlamento. Exonerado do cargo, apeado do poder político, o ex-presidente do Ceará, cujo
governo fora marcado pelo cólera, terminou a carta ao amigo desembargador com um lamento
sobre sua situação em 1864: “Acho-me com escritório de advocacia, que é o recurso dos
proscritos”1116.
Os liberais cearenses gozaram de situação política vantajosa na província por quatro
anos. Entre janeiro de 1864 e julho de 1868, quatro presidentes governaram o Ceará, todos
liberais: Laffayette Rodrigues Pereira; Francisco Ignácio Marcondes Homem de Mello; João
de Sousa Mello e Alvim; e Pedro Leão Velloso1117. A alta rotatividade dos presidentes refletia
a instabilidade dos gabinetes na Corte: foram cinco os ministérios formados entre 1864 e
18681118. As esperanças a respeito da liga progressista, tornada “Partido do Progresso”, de
conseguir garantir a conciliação no parlamento e dar estabilidade ao governo imperial, não se
concretizou, ainda mais com o aprofundamento da guerra contra o Paraguai e suas
consequências econômicas e sociais desastrosas1119.
A queda do “progresso” não tardou. Chefiando pela terceira vez o ministério, Zacarias
de Góis entrava em choque constante com Caxias a respeito do comando do conflito. O militar
1115 BNRJ. Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior a Jerônimo Martiniano Figueira de Mello. 20 mar.
1864. Divisão de Manuscritos. Fundo Figueira de Mello. I-29, 23, 208. 1116 BNRJ. Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior a Jerônimo Martiniano Figueira de Mello. 20 mar.
1864. Divisão de Manuscritos. Fundo Figueira de Mello. I-29, 23, 208. 1117 PAIVA, op. cit., 1979, p. 112. 1118 JAVARI, op. cit., 1889, p. 134-150. 1119 BASILE, op. cit., 2000, p. 265.
281
conservador, derrubado do gabinete por Zacarias em 1862, era uma das lideranças centrais da
guerra, ascendendo mais ainda no cenário político nacional1120. Além do mais, a decisão do
Imperador de fazer senador a Sales Torres Homem, um ex-liberal convertido ao Partido
Conservador, aborreceu a Zacarias, aumentando o desgaste do gabinete. Diante da situação,
Pedro II resolve trazer os conservadores de volta ao poder, nomeando o Visconde de Itaboraí,
a 16 de julho de 18681121.
No Ceará, Diogo Velho Cavalcante de Albuquerque, conservador paraibano, assumiu a
presidência em agosto de 1868, pondo fim ao predomínio liberal na província. O tabuleiro
político reorganizou-se rapidamente, com reposicionamento dos jogadores na disputa.
Algo simbólico marcou a mudança de conjuntura. Pivô das polêmicas na imprensa de
1862, Manoel Franco Fernandes Vieira, que fez do cólera arma na guerra travada com o
presidente Figueiredo Júnior, retorna à cena pública: seis anos após ter sido demitido da
Tesouraria Provincial, Manoel Franco voltava ao posto de inspetor da repartição1122. Cerca de
uma semana antes da nomeação tornar-se pública, o Pedro II, que perdera o contrato de folha
oficial da província, voltou a ser responsável pela publicação do expediente do governo do
Ceará1123. O cólera tinha passado, Figueiredo Júnior caído, a “Liga” não mais existia e os
“carcarás” davam a volta por cima.
1120 Em 1869, Caxias seria nomeado duque, o único do Segundo Reinado a portar tal distinção. SCHWARCZ, op.
cit., 1998, p. 175. 1121 BASILE, op. cit., 2000, p. 265. 1122 O retorno de Manoel Franco ao posto de chefia foi noticiado no Pedro II, n. 166, 12 ago. 1868, p. 3. 1123 A 4 de agosto, o Pedro II anunciou sua recontratação como folha oficial. Pedro II, n. 160, 4 ago. 1868, p. 1-2.
282
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo dessa tese – utilizando jornais cearenses, de diferentes matizes partidárias,
bem como a correspondência oficial da presidência da Província do Ceará com o governo
imperial e outras fontes –, busquei demonstrar como uma epidemia do cólera foi sendo
apropriada nas disputas políticas provinciais entre 1862 e 1863. A ideia era aprofundar a
compreensão da historicidade do fenômeno doença, ao vinculá-lo ao cotidiano partidário
provincial, marcado por choques constantes entre os segmentos conservadores e liberais do
Ceará. Por meio da crise epidêmica, entrevi uma oportunidade para vislumbrar os jogos
políticos locais do período e as estratégias adotadas naquela conjuntura com vistas a manter ou
melhorar a posição dos jogadores no tabuleiro provincial.
Conforme discorri, o estouro do cólera no Ceará de 1862 coincidiu com a posse de um
novo presidente de província, José Bento da Cunha Figueiredo Júnior. À época uma conjuntura
de instabilidade política era visível no governo imperial, decorrente de questões delineadas ao
longo dos anos 1850 e princípios de 1860, ligadas às reformas iniciadas no Gabinete da
Conciliação, do Marquês de Paraná, responsáveis por uma recomposição do parlamento na
Corte. A ascensão da “Liga Progressista”, em 1862, indiciava como a Câmara dos Deputados
estava cindida, ofertando pouca sustentação aos gabinetes: ao longo do ano, três ministérios
governaram o país.
A instabilidade política era, assim, um elemento complicador para o presidente
Figueiredo Júnior. Com a posse do Marquês de Olinda no posto de presidente do Conselho de
Ministros, a 30 de maio de 1862, o presidente do Ceará teve de mostrar-se fiel ao novo gabinete,
para assim manter-se no cargo, significando assumir uma atitude conciliatória na província.
Se a complexidade definia o cenário nacional, o provincial também não era tranquilo. O
presidente do Ceará teve que entrar em contato com as disputas partidárias entre “chimangos”
e “carcarás”, buscando vislumbrar as particularidades delas para definir as estratégias a adotar
em seu governo e para cumprir as determinações ministeriais recebidas. Desde a década de
1840, a política provincial era dominada por uma hegemonia dos conservadores, a expurgar os
liberais dos cargos públicos mais proeminentes e, via fraude e violência nas eleições, das boas
colocações no legislativo provincial e nacional.
O cólera veio adicionar mais desafios à conjuntura. A manifestação espetacular da
epidemia colocou o presidente no centro das decisões e atenções. Vendo o drama da peste sobre
a província, e buscando ler as atitudes da presidência durante a quadra da moléstia, os grupos
políticos e sua imprensa partidária acabaram tomando a epidemia como mote para desestabilizar
283
o presidente ou para conseguir seu apoio, e, por conseguinte, usar o poder do chefe do executivo
para garantir benesses nas disputas pelo poder provincial.
Enquanto o diário Pedro II, órgão conservador, dos “carcarás” Fernandes Vieira, tomou
o cólera para opor-se a Figueiredo Júnior, os jornais “chimangos”, O Cearense, Gazeta Official,
O Sol e O Araripe, trataram de escudar o presidente. Se na folha “carcará”, Figueiredo Júnior
era o culpado pelas cenas dramáticas da epidemia, por não enviar recursos antecipadamente, ou
por encaminhar parcos valores às localidades afetadas pelo cólera, nas gazetas liberais, o
presidente era um “salvador”, atuando com agilidade, não negando recursos e, ao mesmo
tempo, mantendo responsabilidade sobre os gastos excessivos da fazenda pública, sendo a
cobertura do Pedro II classificada como fruto do ressentimento, devido à demissão do redator
Manoel Franco Fernandes Vieira do posto ocupado na Tesouraria Provincial. Tanto o Pedro II
quanto os jornais liberais embasavam seus textos numa conjecturada “opinião pública”, forma
de justificar as posturas editoriais particulares, ancorando-as na suposta aceitação geral dos
cearenses.
Demonstrei, também, como José Bento da Cunha Figueiredo Júnior procurou defender-
se das críticas veiculadas no Pedro II. Na correspondência oficial à Corte, especificamente ao
ministro Marquês de Olinda, o presidente do Ceará insistiu na versão de ser alvo de perseguição
política, por conta da demissão de Manoel Franco e pelo rompimento do contrato que fazia do
Pedro II à folha oficial da província. Na busca de embasar tal tese, utilizou-se fartamente dos
artigos publicados na imprensa liberal cearense, defensora dos atos da presidência no socorro
às localidades afetadas pelo cólera e crítica mordaz do conjunto de textos enunciados pelo diário
dos Fernandes Vieira.
O intenso debate sobre a atuação do presidente do Ceará durante a crise epidêmica,
presente na imprensa e na correspondência oficial, não deixou de repercutir na Corte, entre os
ministros e o próprio Imperador. As autoridades máximas do Império chegaram a estudar a
troca do presidente do Ceará.
Ao contrário do pai, José Bento da Cunha Figueiredo, que saiu da presidência de Minas
Gerais, Figueiredo Júnior acabou mantido no cargo de chefe do executivo cearense, talvez um
prêmio de consolação dado pelo Marquês de Olinda, devido à rede de relações a ligar os Cunha
Figueiredo com figurões da política imperial.
Para além do presidente da província, outras autoridades públicas com atuação durante
a epidemia foram alvos dos textos da imprensa. Foi o caso dos delegados de polícia. Com o
estouro do cólera, o governo provincial deu às autoridades policiais certo protagonismo na
organização da situação sanitária das localidades, nomeando-as para comissões de socorro e
284
orientando-as para agirem na manutenção da ordem, no uso da força para transporte de doentes
aos hospitais improvisados e na organização dos serviços de sepultamento dos mortos.
Como os delegados detinham funções estratégicas nos jogos políticos do Império,
especialmente quando das eleições, a ação deles na quadra epidêmica ganhou cobertura
apaixonada da imprensa, defendendo-os ou agredindo-os de acordo com a coloração partidária
de cada autoridade.
Os usos políticos da epidemia na imprensa também incidiram sobre as comissões de
socorros montadas pelo governo provincial. Ao publicar artigos de opinião e correspondências
de correligionários, os jornais tornaram mais visíveis os problemas práticos, as tensões
partidárias, disputas internas, a busca por favorecimento e outras questões a permear as
comissões no contexto de crise instaurado pelo cólera. Os elogios ou críticas às juntas de
socorros foram usados para enaltecer ou diminuir personalidades com atuação partidária
reconhecida pelos órgãos de imprensa, bem como serviram para corroborar as posturas
editoriais a respeito da atuação do governo provincial na gestão da crise epidêmica.
O cólera também ensejou atos caridosos e filantrópicos, nem sempre desinteressados. A
imprensa cearense foi pródiga em elogios a ações de determinadas pessoas durante a epidemia.
As ordens honoríficas imperiais – importante mecanismo de premiação de serviços prestados
ao Estado, bem como instrumento político de troca entre o Imperador e as elites espalhadas
pelo país – foram distribuídas em demasia no ano de 1858, como retribuição às pessoas
destacadas, e bem relacionadas, durante as primeiras manifestações do cólera no Brasil (1855-
1856). Isso gerou expectativas entre as elites cearenses envolvidas com os socorros aos pobres
atingidos pelo cólera em 1862, daí a razão de uma “epidemia dos elogios” tomar as páginas da
imprensa provincial.
Figueiredo Júnior, por sua vez, usou a prerrogativa de indicar ao Ministro do Império
os possíveis agraciados com as ordens honoríficas para recompensar indivíduos colocados ao
seu lado durante a quadra epidêmica, especialmente liberais que usaram a imprensa para defesa
da presidência da província.
Por fim, através da análise das eleições para o Senado e para a Câmara Geral, em 1863,
analisei a reconfiguração dos jogos políticos no Ceará, com a ascensão dos liberais e a derrota
dos conservadores, especialmente dos “carcarás”. Devido a fatores internos – como a
indisposição do Pedro II com o presidente da província, tendo o cólera como pano de fundo,
rompendo relação responsável pelo sucesso eleitoral dos conservadores no Ceará, desde 1840
– e a externos – a fortificação da “Liga Progressista” e a correlata elevação dos liberais e
285
conservadores menos “emperrados” nas casas legislativas da Corte –, no final do governo de
Figueiredo Júnior, a política provincial do Ceará apresentava outra faceta.
Simbolicamente, os segmentos políticos a tomarem a defesa da presidência do Ceará,
durante o cólera de 1862, gozavam os louros da vitória, enquanto aos “carcarás” do Pedro II
restava esperar que as viradas constantes promovidas pelo Poder Moderador não tardassem.
Respondendo à pergunta que dá título à tese, a epidemia do cólera não poderia estar sob
o controle de um grupo social específico do Ceará de 1862. Suas cenas dramáticas não tinham
um diretor. A doença performou de modo relativamente autônomo, coadjuvada pelas mazelas
sociais dos lugares por onde passou, agindo com força e deixando um rastro de morte. Todavia,
não faltou quem tentasse se apropriar do fenômeno natural e histórico da epidemia. Diferentes
grupos e indivíduos usaram o cólera em seus discursos, especialmente na imprensa, no ataque
a adversários ou na busca de benesses pessoais e políticas. Portanto, o cólera não serviu a
nenhum partido, mas, ao mesmo tempo, não faltou quem tentasse usá-lo nos jogos políticos
daquela conjuntura.
286
REFERÊNCIAS
a) Documentos
Fontes hemerográficas:
- Jornais da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro:
A Constituição (Fortaleza)
Correio Mercantil (Rio de Janeiro)
Diário de Pernambuco (Recife)
Diário do Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)
Gazeta Official (Fortaleza)
Jornal do Commercio (Rio de Janeiro)
Jornal do Recife (Recife)
O Araripe (Crato)
O Cearense (Fortaleza)
O Comercial (Fortaleza)
O Sol (Fortaleza)
Pedro II (Fortaleza)
Fontes Manuscritas:
- Arquivo Nacional do Rio de Janeiro:
Série Interior
Ofício s/n. 31 jan. 1862. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
Ofício n. 14, 26 mai.1862. Negócios de Províncias e Estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
Ofício n. 28, 15 mar.1862. Negócios de Províncias e Estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
Ofício n. 33. 11 abr. 1862. Negócios de províncias e estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
Ofício n. 35, 4 mai. 1862. Negócios de Províncias e Estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
287
Ofício s/n. 5 mai. 1862. Negócios de Províncias e Estados. Ofícios de
diversas autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
Ofício 36 a. 13 mai. 1862. Negócios de Províncias e Estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
Ofício 41. 26 mai. 1862. Negócios de Províncias e Estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
Ofício 41 a. 5 jun. 1862. Negócios de Províncias e Estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
Ofício n. 47. 9 jun. 1862. Negócios de Províncias e Estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
Ofício 49. 18 jun. 1862. Negócios de Províncias e Estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
Ofício n. 51. 23 jun. 1862. Negócios de Províncias e Estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
Ofício n. 52. 27 jun. 1862. Negócios de Províncias e Estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
Ofício n. 53. 30 jun. 1862. Negócios de Províncias e Estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
Ofício confidencial. 8 jul.1862. Negócios de Províncias e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
Ofício s/n. de 9 jul. 1862. Negócios de Províncias e Estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
Ofício n. 56. 11 jul. 1862. Negócios de Províncias e Estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
Ofício n. 57. 28 jul.1862. Negócios de Províncias e Estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
Ofício n. 60. 28 jul. 1862. Negócios de Províncias e Estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
Ofício s/n. 2 ago. 1862. Negócios de Províncias e Estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
Ofício n. 65. 12 ago. 1862. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
Ofício n. 72 de 20 ago. 1862. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
288
Ofício n. 77. 30 ago. 1862. Negócios de Províncias e Estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
Ofício n. 82. 9 set. 1862. Negócios de Províncias e Estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
Ofício n. 83, 11 set. 1862. Negócios de Províncias e Estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
Ofício n. 84. 12 set. 1862. Negócios de Província e Estados - Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
Ofício confidencial. 11 out. 1862. Negócios de Províncias e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
Ofício confidencial. 26 out. 1862. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
Ofício confidencial. 30 out. 1862. Negócios de Províncias e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1861-1862). Notação IJJ 9-181.
Ofício n. 11. 30 jan. 1863. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1863). Notação IJJ 9-182.
Ofício n. 12. 31 jan.1863. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1863). Notação IJJ 9-182.
Ofício confidencial. 31 jan.1863. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1863). Notação IJJ 9-182.
Ofício Reservado. 11 fev. 1863. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1863). Notação IJJ 9-182.
Ofício n. 28. 12 fev. 1863. Negócios de Províncias e Estados. Ofícios de diversas autoridades.
Ofícios do Governo do Ceará (1862). Notação IJJ 9-182.
Felicitações enviadas pela Câmara Municipal de Telha ao Marquês de Olinda. 18 fev. 1863.
Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas autoridades. Ofícios do Governo do Ceará
(1863). Notação IJJ 9-182.
Ofício de José Martiniano de Alencar ao Marquês de Olinda, com felicitações da Câmara
Municipal de Fortaleza. 29 mar. 1863. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1863). Notação IJJ 9-182.
Ofício de José Martiniano de Alencar ao Marquês de Olinda, com felicitações da Câmara
Municipal de Quixeramobim. 14 abr. 1863. Negócios de Província e Estados. Ofícios de
diversas autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1863). Notação IJJ 9-182.
289
Felicitações enviadas do Icó ao Marquês de Olinda. 17 abr. 1863. Negócios de Província e
Estados. Ofícios de diversas autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1863). Notação IJJ 9-
182.
Ofício n. 23. 17 abr. 1863. Série Interior. Negócios de Província e Estados. Ofícios de diversas
autoridades. Ofícios do Governo do Ceará (1863). Notação IJJ 9-182.
Fundo Visconde do Bom Conselho
Carta de Luís Pedreira do Couto Ferraz a José Bento da Cunha Figueiredo. 14 nov. sem ano.
Doc. 10.
Carta de Luís Pedreira do Couto Ferraz a José Bento da Cunha Figueiredo. 25 nov. sem ano.
Doc. 11.
Carta de Luís Pedreira do Couto Ferraz a José Bento da Cunha Figueiredo. 11 jan. 1855. Doc.
20.
Carta de Luís Pedreira do Couto Ferraz a José Bento da Cunha Figueiredo. 08 mar. 1856. Doc.
33.
Fundo Saúde Pública
Carta do Dr. Joaquim d’Aquino Fonseca ao Ministro dos Negócios do Império, Luiz Pedreira
de Couto Ferraz. 23 fev. 1856. Notação IS4-25.
- Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro:
Carta de João Brígido dos Santos a Jerônimo Martiniano Figueira de Mello. 10 mar. 1863.
Divisão de Manuscritos. Fundo Figueira de Mello. I-29, 33, 270.
Carta de João C. Bandeira Filho a Jerônimo Martiniano Figueira de Mello. 31 out. 1862.
Divisão de Manuscritos. Fundo Figueira de Mello. I-29, 24, 187.
Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior a Jerônimo Martiniano Figueira de Mello. 20
mar. 1864. Divisão de Manuscritos. Fundo Figueira de Mello. I-29, 23, 208.
- Departamento Histórico Diocesano Padre Antônio Gomes de Araújo (Crato-CE):
Correspondências
Carta do Pe. Antônio de Almeida a Dom Luís Antônio dos Santos (Bispo do Ceará). 18 jul.
1862. Pasta CRA 19, 127.
290
Carta do Pe. Felix Aurélio Arnaud Formiga a Dom Luís Antônio dos Santos. 21 mai. 1862.
Pasta CRA 15, 47.
Carta do Padre Joaquim de Sá Barreto a Dom Luís Antônio dos Santos, s/d.
Carta do Pe. José Tavares Teixeira a Dom Luís Antonio dos Santos. 22 mai. 1862. Pasta CRA,
19, 120
Carta do Pe. Manoel Francisco de Araújo a Dom Luis Antônio dos Santos (Bispo do Ceará). 31
mai. 1862. Pasta CRA 19, 127.
Registros Paroquiais
Livro de Óbitos da Paróquia de Nossa Senhora da Penha de Crato (1853-1859).
Livro dos Coléricos da Paróquia de Nossa Senhora da Penha de Crato (1862-1864).
Livro de Tombo da Paróquia de Nossa Senhora da Penha de Crato.
- Instituto Arqueológico Histórico e Geográfico de Pernambuco:
Carta do Padre Pinto de Campos ao Visconde de Camaragibe. Rio de Janeiro, 05 jun. 1854.
Caixa 1. Fundo Visconde de Camaragibe
- Instituto Cultural do Cariri (Crato-CE):
ICC. Cópia - Reservado. Juízo Municipal da Vila de Milagres. 20 jul. 1867. Manuscritos
diversos, século XIX. Disponível no site: https://institutoculturaldocariri.com.br/wp-
content/uploads/2018/09/manuscritusilovepdf_merged.pdf. Acesso a 16 jun. 2019.
- Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro:
Coleção Marquês de Olinda
Carta de Luís Pedreira do Couto Ferraz ao Marquês de Olinda. Sem data. Lata 213, doc. 68.
Carta do Barão de Cairu ao Marquês de Olinda. Dez. 1862. Lata 213, doc. 68.
Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda. 28 ago. 1862. Lata 216,
doc. 20.
Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda. 10 nov. 1862. Lata
213, doc. 103.
291
Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda. 03 dez. 1862. Lata
213, doc. 103.
Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda. 15 dez. 1862. Lata
213, doc. 103.
Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda. 23 dez. 1862. Lata
213, doc. 103.
Carta de José Bento da Cunha Figueiredo Júnior ao Marquês de Olinda. 31 jan. 1863. Lata 213,
doc. 104.
Carta do Visconde de Maranguape ao Marquês de Olinda. Sem data. Lata 213, doc. 68.
Coleção Instituto Histórico
Atestado do Bispo do Grão Pará de que o Barão de Arari socorreu a pobreza durante a epidemia
de cólera na província. 24 março de 1856. Lata 179, Pasta 73.
Fontes impressas:
Brochuras:
FIGUEIREDO JÚNIOR, J. B. da Cunha. O Bacharel J. B. da Cunha Figueiredo Júnior e o Sr.
Deputado Domingos José Nogueira Jaguaribe. Ceará: Tipografia da Aurora Cearense, 1866.
MEDEIROS, Antônio Manoel de. Relatório apresentado ao Ilm. Exm. Sr. Dr. José Bento da
Cunha Figueiredo Júnior, presidente da Província do Ceará pelo Dr. Antônio Manoel de
Medeiros, 1º cirurgião do corpo de saúde do exército, em comissão nas comarcas do Crato, e
Jardim, durante a epidemia do cólera-morbo em 1862. Ceará, Imp. na Typ. Brazileira, 1863.
Relatórios dos Presidentes da Província do Ceará:
BARRETO, Francisco Xavier Paes. Relatório com que o excelentíssimo senhor doutor
Francisco Xavier Paes Barreto passou a administração da província ao segundo vice-
presidente da mesma, o excelentíssimo senhor Joaquim Mendes da Cruz Guimarães, em 9 de
abril de 1856. Fortaleza: Typographia Cearense, 1856. Disponível no site http://www-
apps.crl.edu/brazil/provincial/ceará. Acesso a 20 ago. 2018.
______. Relatório com que o excelentíssimo senhor doutor Francisco Xavier Paes Barreto
passou a administração da província ao terceiro vice-presidente da mesma, o excelentíssimo
senhor Joaquim Mendes da Cruz Guimarães, em 25 de março de 1857. Fortaleza: Typographia
292
Cearense, 1857. Disponível no site http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial/ceará. Acesso a
20 ago. 2018.
CUNHA, Herculano Antonio Pereira da. Relatório com que abriu a Assembla Legislativa
Provincial do Ceará, o 1º Vice-Presidente da mesma o Excelentíssimo Senhor Doutor
Herculano Antonio Pereira da Cunha, no dia 1º de julho de 1856. Tipografia Cearense, 1856.
Disponível no site http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial/ceará. Acesso a 31 ago. 2018.
MACHADO, José Antônio. Relatório com que o 4º vice-presidente comendador José Antônio
Machado passou a administração da província ao excelentíssimo senhor doutor José Bento da
Cunha Figueiredo Júnior, em 5 de maio de 1862. Ceará: Typographia Cearense, 1862.
Disponível no site: http://ddsnext.crl.edu/titles/166#?c=0&m=34&s=0&cv=1&r=0&xywh=-
1414%2C-1%2C4859%2C3420. Acesso a 23 set. 2019.
b) Bibliografia:
ABREU, Júlio. A velha Academia de Olinda. Revista do Instituto do Ceará. Ano LX. Fortaleza,
1946, p. 86-110.
______. A velha Academia de Olinda. Revista do Instituto do Ceará. Ano LXIII. Fortaleza,
1949, p. 20-48.
ADAM, Philippe; HERZLICH, Claudine. Sociologia da doença e da medicina. EDUSC, 2001.
ALENCAR, José de. Escritos políticos. Brasília: Edições do Senado Federal, 2011.
______. Como e porque sou romancista. Rio de Janeiro: Typographia de G. Leuzinger &
Filhos, 1893. Disponível no site:
https://digital.bbm.usp.br/view/?45000018504&bbm/4647#page/1/mode/2up. Acesso a 3 dez.
2019.
ALENCASTRO, Luiz Felipe de. Vida privada e ordem privada no Império. In.
ALENCASTRO, Luiz Felipe de (org.). Império: a corte a modernidade nacional (Coleção
História da Vida Privada, vol. 2). São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 11-93.
ALEMÃO, Francisco Freire. Índole e costumes dos indígenas. Anais da Biblioteca Nacional.
Vol. 81. 1961.
ALEXANDRE, Jucieldo Ferreira. Quando o anjo do extermínio se aproxima de nós:
representações sobre o cólera no semanário cratense O Araripe (1855-1864). Dissertação
(Mestrado em História). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2010.
293
ANDRADE, Gilberto Osório de. A cólera-morbo: um momento crítico da história da medicina
de Pernambuco. Recife: Secretaria de Educação e Cultura, 1956.
ARAÚJO, Reginaldo Alves de. A parte no partido: relação de poder e política na formação do
Estado Nacional Brasileiro, na província do Ceará (1821-1841). Tese (Doutorado em História).
Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2018.
ARIÈS, Philippe. História da morte no Ocidente: da Idade Média aos nossos dias. Rio de
Janeiro: Ediouro, 2003.
BARBOSA, Francisco Carlos Jacinto. As doenças viram notícia: imprensa e epidemias na
segunda metade do século XIX. In. NASCIMENTO, Dilene Raimundo do & CARVALHO,
Diana Maul de (Orgs.). Uma história brasileira das doenças. Brasília: Paralelo 15, 2004, p. 76-
90.
BARBOSA, Lydia Marina Fonseca Dias. As Catilinárias de Cícero: tradução e estudo retórico.
Dissertação (Mestrado em Letras Clássicas). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.
BARBOSA, Marialva. História cultural da imprensa: Brasil (1800-1900). Rio de Janeiro:
Mauad X, 2010, p. 44-45.
BARBOSA, Plácido; REZENDE, Cássio Barbosa de. Os serviços de saúde pública no Brasil,
especialmente na cidade do Rio de Janeiro de 1808 a 1907: esboço histórico e legislação. Vol.
I. Rio de Janeiro: Imprensa Oficial, 1909, p. 64. Disponível no site do acervo digital de Obras
Raras Fiocruz: https://www.obrasraras.fiocruz.br/media.details.php?mediaID=243. Acesso a 8
ago. 2019.
BARMAN, Roderick J. Imperador cidadão. São Paulo: Editora Unesp, 2012.
______. A formação dos grupos dirigentes políticos do Segundo Reinado: a aplicação da
prosopografia e dos métodos quantitativos à história do Brasil Imperial. Anais do Congresso de
História do 2º Reinado (1975) - Comissão de História Política e Administrativa. Vol. 2. Rio de
Janeiro: IGHB, 1984, p. 61-86.
BASILE, Marcello Otávio N. de. O império Brasileiro: panorama político. In. LINHARES,
Maria Yedda (Org.). História Geral do Brasil. 9ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2000, p. 188-
301.
______. O laboratório da nação: e era regencial (1831-1840). In. GRINBERG, Keila e
SALLES, Ricardo (Orgs.). O Brasil Imperial. Vol. II (1808-1831). Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2009, p. 53-119.
BATISTA, Henrique Sérgio de Araújo. Assim na morte como na vida: arte e sociedade no
Cemitério São João Batista (1866-1915). Dissertação (Mestrado em História). Universidade
Federal do Ceará, Fortaleza, 2003.
294
BEDIAGA, Bergonha. Discreto personagem do império brasileiro: Luís Pedreira do Couto
Ferraz, visconde do Bom Retiro (1818-1886). Topoi. V. 18, n. 35, p. 381-405, maio/ago. 2017.
BELTRÃO, Jane Felipe. Cólera, o flagelo do Grão Pará. Tese (Doutorado em História).
Universidade Estadual de Campinas, Capinas, 1999.
______. A arte de curar dos profissionais de saúde popular em tempo de cólera: Grão-Pará do
século XIX. História, Ciências, Saúde – Manguinhos, vol. 6, pp. 833-866, set/2000.
Bíblia: Novo Testamento – Os quatro Evangelhos. Vol. 1. Tradução do grego, apresentação e
notas por Frederico Lourenço. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.
BLAKE, Augusto Victorino Alves Sacramento. Dicionário bibliográfico brasileiro. Vol. 1. Rio
de Janeiro: Tipografia Nacional, 1883.
______. Dicionário bibliográfico brasileiro. Vol. 2. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1893.
______. Dicionário bibliográfico brasileiro. Vol. 3. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1895.
______. Dicionário bibliográfico brasileiro. Vol. 4. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1898.
______. Dicionário bibliográfico brasileiro. Vol. 5. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1899.
______. Dicionário bibliográfico brasileiro. Vol. 6. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1900.
______. Dicionário bibliográfico brasileiro. Vol. 7. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1902.
BLOCH, Marc. Os reis taumaturgos. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
BLUTEAU, Rafael. Vocabulario portuguez, e latino, aulico, anatomico, architectonico,
bellico, botanico ...: autorizado com exemplos dos melhores escritores portuguezes , e latinos;
e offerecido a El Rey de Portugal D. Joaõ V. Coimbra, Collegio das Artes da Companhia de
Jesus: Lisboa, Officina de Pascoal da Sylva, 1728. Disponível no site:
https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm-ext/598. Acesso a 1 out. 2019.
BOCAGE, Manuel Maria Barbosa Du. Soneto e outros poemas. São Paulo: FTD, 1994.
BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Lisboa: Difel, 1989.
______; CHARTIER, Roger. A leitura: uma prática cultural. In. CHARTIER, Roger (org.).
Práticas de Leitura. 4ª ed. São Paulo: Estação Liberdade, 2009, p. 231-253.
BRASIL, Thomaz Pompeo de Souza. Ensaio Estatístico da Província do Ceará. Tomo I. Ed.
fac. sim. (1863). Fortaleza: Fundação Waldemar de Alcântara, 1997.
BRAUDEL, Fernand. O Mediterrâneo e o mundo mediterrâneo na época de Filipe II. São
Paulo: Edusp, 2016.
BRIGGS, Asa. Cholera and Society in the Nineteenth Century. Past e Present, n. 19, pp. 76-
96, abr. 1961.
BRIGIDO, João. O Ceará (lado cômico): algumas chronicas e episódios. Typographia Moderna
a vapor – Ateliers-Louis, Ceará, 1899.
295
______. Apontamentos para a história do Cariri. Typ. da Gazeta do Norte, 1888.
CADENA, Paulo Henrique Fontes. O vice-rei: Pedro de Araújo Lima e a governança do Brasil
no século XIX. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal de Pernambuco, Recife,
2018.
______. Ou há de ser Cavalcanti, ou há de ser cavalgado: trajetórias políticas dos Cavalcanti
de Albuquerque (Pernambuco, 1801-1844). Recife: Editora Universitária da UFPE, 2013.
CÂNDIDO, Antônio. Um funcionário da monarquia: ensaio sobre o segundo escalão. 2ª ed.
Rio de Janeiro: Ouro Sobre o Azul, 2007.
CAPELATO, Maria Helena Rolim. A imprensa na história do Brasil. São Paulo:
Contexto/Edusp, 1988.
CARVALHO, Jáder de (org.). Antologia de João Brígido. Fortaleza: Terra de Sol, 1969.
CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem/Teatro de Sombras. 4ª ed. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.
CARVALHO, Marcus J. M. de. Movimento Sociais: Pernambuco (1831-1848). In.
GRINBERG, Keila; SALLES, Ricardo (orgs.). O Brasil Imperial: 1831-1870. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2009, p. 121-183.
______; CADENA, Paulo Henrique Fontes. A política como “arte de matar a vergonha”: o
desembarque de Sirinhaém em 1855 e os últimos anos do tráfico para o Brasil. Topoi. Rio de
Janeiro, v. 20, n. 42, p. 651-677, set/dez. 2019 Disponível no site:
http://www.scielo.br/pdf/topoi/v20n42/2237-101X-topoi-20-42-651.pdf. Acesso a 28 nov.
2019.
CASCUDO, Luís da Câmara. Geografia dos mitos brasileiros. São Paulo: Global, 2002.
CERTEAU, Michel de. A escrita da História. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1982.
CHALHOUB, Sidney. Cidade Febril: cortiços e epidemias na Corte Imperial. São Paulo:
Companhia das Letras, 1996.
CHANDLER, Billy Jaynes. Os Feitosas e o Sertão dos Inhamuns: a história de uma família e
uma comunidade no Nordeste do Brasil – 1700-1930. Fortaleza: Edições UFC; Rio de Janeiro:
Civilização Brasileiras, 1980.
CHEVALIER, Jean; GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos: mitos, sonhos, costumes,
gestos, formas, figuras, cores, números. 27 ª ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 2015.
COOPER, Donald B. The new “black death”: cholera in Brazil, 1855-1856. Social Science
History. V. 10, n. 4, pp. 467-488, 1986.
CORDEIRO, Celeste. O Ceará na segunda metade do século XIX. In. SOUZA, Simone de
(org). Uma nova história do Ceará. 4ª ed. Fortaleza: Demócrito Rocha, 2007, p. 135-161.
296
CORTEZ, Ana Sara Parente Ribeiro. Cabras, caboclos, negros e mulatos: a família escrava no
Cariri Cearense (1850-1884). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do
Ceará, Fortaleza, 2008.
COSTA, Jurandir Freire. Ordem médica e norma familiar. Rio de Janeiro: Graal, 1983.
CZERESNIA, Dina. Do contágio à transmissão: uma mudança na estrutura perceptiva de
apreensão da epidemia. História, Ciências, Saúde – Manguinhos. Vol. IV (I), mar.-jun. 1997,
p. 75-94. Disponível no site: http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v4n1/v4n1a04.pdf. Acesso a 15
ago. 2018.
DARNTON, Robert. O beijo de Lamourette: mídia, cultura e revolução. São Paulo: Companhia
das Letras, 2010.
______; ROCHE, Daniel (orgs.). Revolução impressa: a imprensa na França (1775-1800). São
Paulo: Edusp, 1996.
DAVID, Onildo Reis. O inimigo invisível: epidemia na Bahia no século XIX. Salvador:
Edufba/Sarah Letras, 1996.
DEFOE, Daniel. Um diário do ano da peste. 3ª ed. Porto Alegre: Artes e Ofícios, 2014.
DELLA CAVA, Ralph. Milagre em Joaseiro. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976.
DELUMEAU, Jean. História do medo no Ocidente: 1300-1800, uma cidade sitiada. São Paulo:
Companhia das Letras, 1989.
DINIZ, Ariosvaldo da Silva. As artes de curar nos tempos do cólera: Recife, 1856. In.
CHALHOUB, Sidney et al. Artes e ofícios de curar no Brasil. Campinas: Editora Unicamp,
2003, p.331-385.
______. Medicina e curandeirismo no Brasil. João Pessoa: Editora Universitária da UFPB,
2011.
DOLHNIKOFF, Miriam. O pacto imperial: origens do federalismo no Brasil do século XIX.
São Paulo: Editora Globo, 2005.
ESCRAGNOLLE, Doria. Relação dos principais cearenses representantes do Ceará na vida
política do Império do Brasil. Revista do Instituto do Ceará. Ano XXXVI. Fortaleza, 1922, p.
361-376.
ESTEFANES, Bruno Fabris. Conciliar o Império: Honório Hermeto Carneiro Leão, os partidos
e a política de Conciliação no Brasil monárquico (1842-1856). Dissertação (Mestrado em
História). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.
EVANS, Richard J. Death in Hamburg: society and politics in the cholera years. New York:
Penguin Books, 2005.
297
FARIAS, Rosilene Gomes. O Khamsin do deserto: cólera e cotidiano no Recife (1856).
Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal de Pernambuco, Recife, 2007.
FERNANDES, Ana Carla Sabino. A imprensa em pauta: jornais Pedro II, Cearense e
Constituição. Fortaleza: Museu do Ceará / Secretaria de Cultura, 2006.
FERREIRA, Luciana de Moura. A Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza: acolhimento de
enfermos e educação para a saúde pública (1861-1889). Tese (Doutorado em Educação
Brasileira). Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2017.
FIGUEIREDO FILHO, J. de. História do Cariri. Vol. 3. Crato: Faculdade de Filosofia do
Crato, 1966.
FOUCAULT, Michel. O nascimento da clínica. 6ª ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária,
2008.
______. Microfísica do Poder. Organização e tradução: Roberto Machado. 21ª ed. Rio de
Janeiro: Edições Graal, 2005.
FURTADO, Junia Ferreira. Testamento e inventários: a morte como testemunho da vida. In.
PINSKY, Carla Bassanezi; LUCA, Tania Regina de (Orgs.). O historiador e suas fontes. São
Paulo: Editora Contexto, 2009, p. 94-118.
FRAGOSO, João; GOUVÊA, Maria de Fátima (orgs.). Na trama das redes: política e negócios
no Império Português, séculos XVI-XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010.
FRANCO, Sebastião Pimentel. O terribilíssimo mal do oriente: o cólera na província do
Espírito Santo (1855-1856). Vitória: EDUFES, 2015.
FREITAS, Bruno Cordeiro Nojosa de. A exaltação dos eleitos: evolução eleitoral e política do
Império (Ceará, 1846-1860). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do
Ceará, Fortaleza, 2011.
FREYRE, Gilberto. Sobrados e mocambos. 15ª ed. São Paulo: Global, 2004.
GALENO, Cândida. Ritos fúnebres no interior cearense. Fortaleza: Editora Henriqueta Galeno,
1977.
GARDNER, George. Viagem ao interior do Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: Edusp,
1975.
GENOVEZ, Patrícia Falco. Os cargos do paço Imperial e a Corte no Segundo Reinado. Métis:
história & cultura. V. 1, n. 1, p. 215-237, jan./jun. 2002.
GIRÃO, Valdelice Carneiro. O Ceará no Senado Federal. Brasília: Editora do Senado, 1992.
GOUVÊA, Maria de Fátima Silva. O império das províncias: Rio de Janeiro, 1822-1889. Rio
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008.
298
GRAHAM, Richard. Clientelismo e política no Brasil do século XIX. Rio de Janeiro: Editora
da UFRJ, 1997.
HESPANHA, António Manuel. Caleidoscópio do Antigo Regime. São Paulo: Alameda, 2012.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Capítulos de história do Império. São Paulo: Companhia das
Letras, 2010.
______. O Brasil Monárquico: do Império à República 10ª ed. Rio de Janeiro, 2012 (História
Geral da Civilização Brasileira t.2, v.7).
HOMEM DE MELLO, Barão. Relação dos presidentes e vice-presidentes que tem administrado
a Província do Ceará, desde 1824 até 1866. Revista do Instituto do Ceará. Ano IX. Fortaleza,
1895, p. 55-59.
IMÍZCOZ BEUNZA, José Maria; OLIVERI KORTA, Oihane (eds.). Economía doméstica y
redes sociales en el Antiguo Régimen. Madrid: Sílex, 2010.
INSTITUTO HISTÓRICO E GEOGRÁFICO DE ALAGOAS. Viagens do Excelentíssimo
Senhor Doutor José Bento da Cunha Figueiredo Júnior a cidade de São Miguel e vila de
Coruripe, as comarcas de Camaragibe e Porto Calvo, Penedo e Mata Grande, ao Rio São
Francisco até Piranhas e as comarcas de Imperatriz, Anadia e Atalaia. Maceió-AL:
Grafmarques, 2010.
JAVARI, Barão de. Organizações e programas ministeriais. Rio de Janeiro: Imprensa
Nacional, 1889.
KIPLE, Kenneth F. Cholera and race in the Caribbean. Journal of Latin American Studies, v.
17, n. 1, pp. 157-177, 1985.
KODAMA, Kaori. Os índios no Império do Brasil: a etnografia doo IHGB entre as décadas de
1840 e 1860. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz; São Paulo: Edusp, 2009.
______ et al. Mortalidade escrava durante a epidemia de cólera no Rio de Janeiro (1855-1856).
História, Ciências, Saúde – Manguinhos. Rio de Janeiro, v. 19, supl., p. 59-79, dez. 2012.
Disponível no site: http://www.scielo.br/pdf/hcsm/v19s1/05.pdf. Acesso a 15 ago. 2018.
LEMOS, Mayara de Almeida. Terror no sertão do Ceará: o cólera e seus flagelos. Fortaleza:
EdUECE, 2016.
______. O terror se apoderou de todos: os caminhos da epidemia de Cólera em Quixeramobim
(1862-1863). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza,
2013.
LEWINSOHN, Rachel. Três epidemia: lições do passado. Campinas: Editora da Unicamp,
2003.
299
LUCA, Tânia Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In. PINSKY, Carla
Bassanezi (org.). Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2005, p. 111-153.
LUSTOSA, Isabel. Insultos impressos: o nascimento da imprensa no Brasil. In. MALERBA,
Jurandir (org.). A independência brasileira: novas dimensões. Rio de Janeiro: Editora FGV,
2006.
______. O nascimento da imprensa no Brasil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2004.
LUZ, Madel. Medicina e ordem política: política e instituições em saúde, 1850-1930. Rio de
Janeiro: Graal, 1982.
MACHADO, Humberto Fernandes. Palavras e brados: José do Patrocínio e a imprensa
abolicionista do Rio de Janeiro. Niterói: Editora da UFF, 2014.
MACHADO, Roberto et al. Danação da Norma: medicina social e constituição da psiquiatria
no Brasil. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1978.
MACIEL, Dhenis Silva. Dos sujeitos, dos medos e da espera: a construção social do cólera-
morbus na província cearense (1855-1863). Tese (Doutorado em História). Universidade
Federal do Ceará, Fortaleza, 2017.
______. Valei-me, São Sebastião: a epidemia de cólera morbo na Vila de Maranguape (1862).
Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2011.
MALERBA, Jurandir. A Corte no exílio: civilização e poder no Brasil às vésperas da
independência. São Paulo: Companhias das Letras, 2000.
MARTINS, Ana Luiza; LUCA, Tania Regina de (orgs.). História da imprensa no Brasil. São
Paulo: Editora Contexto, 2012.
MATTOS, Ilmar Rohloff de. O tempo saquarema: a formação do Estado Imperial. 6ª ed. São
Paulo: Hucitec Editora, 2011.
MCNEILL, Willian. H. Plagues and peoples. New York: Anchor Press, 1976.
MELLO, Evaldo Cabral de. O norte agrário e o Império: 1871-1889. 2ª ed. Rio de Janeiro:
Topbooks, 1999.
MENEZES, Antonio Bezerra de. Descrição da cidade de Fortaleza. Revista do Instituto do
Ceará. Ano IX. Fortaleza, 1895, p. 153-221.
MIRANDA, Carlos Alberto Cunha. Os curandeiros e a ofensiva médica em Pernambuco na
primeira metade do século XIX. Clio: Revista de Pesquisa Histórica. N. 19, p. 95-110, Recife,
2001.
MOLLAT, Michel. Os pobres na Idade Média. Rio de Janeiro: Campus, 1989.
MONTENEGRO, João Alfredo. João Brígido: uma revisão histórica. Revista do Instituto do
Ceará. Tomo CXIII. Fortaleza, p. 173-185, 1999.
300
MOREL, Marco. As transformações dos espaços públicos: imprensa, atores políticos e
sociabilidades na cidade imperial (1820-1840). São Paulo: Hucitec, 2010.
______. O Período das Regências (1831-1840). Rio de Janeiro: Zahar, 2003.
______. Os primeiros passos da palavra impressa. In. MARTINS, Ana Luiza; LUCA, Tania
Regina de (orgs.). História da imprensa no Brasil. São Paulo: Editora Contexto, 2012, p. 23-
43.
NABUCO, Joaquim. Um estadista do Império. Vol. 1. 5ª ed. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997.
NASCIMENTO, Dilene Raimundo do; SILVEIRA, Anny Jackeline Torres. A doença
revelando a história: uma historiografia das doenças. In. NASCIMENTO, Dilene Raimundo do;
CARVALHO, Diana Maul de (Orgs.). Uma história brasileira das doenças. Brasília: Paralelo
15, 2004, p. 13-51.
NEEDELL, Jeffrey D. Formação dos partidos políticos no Brasil da Regência à Conciliação,
1831-1857. Almanack Braziliense. São Paulo, n°10, p. 5-22, nov. 2009a. Disponível em:
http://www.revistas.usp.br/alb/article/view/11719/13492. Acesso a 20 jul. 2018.
_____. Formação dos Partidos Brasileiros: questões de ideologia, rótulos partidários, liderança
e prática política, 1831-1888. Almanack Braziliense. São Paulo, n°10, p. 54-63, nov. 2009b.
Disponível em: https://www.revistas.usp.br/alb/article/view/11722/13496. Acesso a 30 ago.
2018.
NEVES, Lúcia Maria Bastos Pereira das. Corcundas e constitucionais: a cultura política da
Independência (1820-1822). Rio de Janeiro: Editora Revan/Faperj, 2003.
NOBRE, Geraldo da Silva. Introdução à história do jornalismo cearense. ed. fac-sim. (1975).
Fortaleza: Nudoc/Secult, 2006.
NOGUEIRA, Octávio (Org.). 1824. Coleção Constituições Brasileiras. Vol. 1. 3ª ed. Brasília:
Coordenação de Edições Técnicas/Senado Federal, 2015.
NOGUEIRA, Paulino. Presidentes do Ceará - Segundo Reinado. Revista do Instituto do Ceará.
Ano XVI. Fortaleza, 1902, p. 7-29.
______. Presidentes do Ceará - Segundo Reinado. Revista do Instituto do Ceará. Ano XIX.
Fortaleza, 1905, p. 155-281.
______. Presidentes do Ceará - Segundo Reinado. Revista do Instituto do Ceará. Ano XX.
Fortaleza, 1906, p. 148-171.
______. Presidentes do Ceará - Segundo Reinado. Revista do Instituto do Ceará. Ano XXI.
Fortaleza, 1907, p. 3-11.
______. Relação dos cearenses titulados e condecorados. Revista do Instituto do Ceará.
Fortaleza, tomo XV, p. 122-136, jan-jun., 1901.
301
______. Relação dos cearenses titulados e condecorados. Revista do Instituto do Ceará.
Fortaleza, tomo XV, p. 289-303, jul.-dez., 1901
OLIVEIRA, Almir Leal de. A construção do Estado Nacional no Ceará: autonomias locais,
consensos políticos e projetos nacionais. In. SOARES, Igor de Menezes; MORAIS, Ítala
Byanca (orgs.). Cultura, política e identidades: Ceará em perspectiva. Vol. 2. Fortaleza:
IPHAN, 2017, p. 15-40.
______; BARBOSA, Ivone Cordeiro. (Org.). Leis provinciais: Estado e cidadania (1835-1846)
Tomos I, II e III. Fortaleza: Instituto de Estudos e Pesquisas para o Desenvolvimento do Ceará
INESP, 2009. CD-ROM.
OLIVEIRA, Carla Silvino. Cidade (in)salubre: ideias e práticas médicas em Fortaleza (1838-
1853). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2007
PAIVA, Maria Arair Pinto. A elite política do Ceará Provincial. Rio de Janeiro: Tempo
Brasileiro, 1979.
PEDRO II. Diário de 1862. Anuário do Museu Imperial. Petrópolis: Ministério da Educação e
Cultura, vol. XVII, 1956.
PEDROSA, Manuel Xavier de Vasconcelos. A cólera-morbo e a Ordem da Rosa. Anais do
Congresso de História do 2º Reinado (1975) - Comissão de História Política e Administrativa.
Vol. 2. Rio de Janeiro: IGHB, 1984, p. 143-168.
PIMENTA, Tânia Salgado. O exercício das artes de curar no Rio de Janeiro (1828 a 1855).
Tese (Doutorado em História). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2003.
______. Doses infinitesimais contra a epidemia de cólera em 1855. In: NASCIMENTO, Dilene
Raimundo do; CARVALHO, Diana Maul de (Orgs.). Uma história brasileira das doenças.
Brasília: Paralelo 15, 2004, p. 31-51.
PINHEIRO, Artidóro Augusto Xavier. Organização das Ordens Honoríficas do Império do
Brazil. São Paulo: Typographia a vapor de Jorge Seckler & c, 1884.
PINHEIRO, Irineu. O Cariri: seu descobrimento, povoamento, costumes. Fortaleza: edição do
autor, 1950.
_____. Efemérides do Cariri. Fortaleza: Imprensa Universitária do Ceará, 1963.
PINTO, Luís Maria da Silva. Diccionario da lingua brasileira. Ouro Preto, Typographia de
Silva, 1832. Disponível: https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm-ext/598. Acesso a 1 out. 2019.
POLIANO, Luiz Marques. Ordens honoríficas no Brasil: história, organização, padrões,
legislação. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1943.
RAMINELLI, Ronald. Nobreza do novo mundo: Brasil e ultramar hispânico, séculos XVII e
XVIII. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015.
302
REGO, José Pereira. Memória histórica das epidemias da febre amarella e cholera-morbo que
têm reinado no Brasil. Rio de Janeiro: Typographia Nacional, 1873. Disponível no site da
Biblioteca Digital Luso Brasileira:
http://objdigital.bn.br/objdigital2/acervo_digital/div_obrasraras/or1467051/or1467051.pdf.
Acesso a 8 ago. 2019.
REIS, João José. A Morte é uma Festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século
XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.
RÉMOND, René. Uma história presente. In. RÉMOND, René (org.). Por uma história política.
2ª ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003.
______. O século XIX: introdução à história do nosso tempo. São Paulo: Cultrix, 1989, p. 145.
REVEL, Jacques & PETER, Jean-Pierre. O corpo: o homem doente e sua história. In. LE
GOFF, Jacques & NORA, Pierre. Historia: novos objetos. 4ª ed. Rio de Janeiro: Francisco
Alves, 1995.
RIBEIRO, Gladys Sabina; MOMESSO, Beatriz Piva. Ideias que vão e que vem: o diálogo entre
Nabuco de Araújo e Justiniano José da Rocha. In. BESSONE, Tânia et al (orgs.). Imprensa,
livros e política no oitocentos. 1ª ed. São Paulo: Alameda, 2018, p. 241-278.
RIOS, Renato de Mesquita. João Brígido e sua escrita de uma história para o Ceará: narrativa,
identidade e estilo (1859-1919) Dissertação (Mestrado em História). Universidade Estadual do
Ceará, Fortaleza, 2013
ROCHA, Justiniano José da. Ação; Reação; Transação: duas palavras acerca da atualidade
política do Brasil (1855). São Paulo: Edusp, 2016.
RODRIGUES, Claudia. Nas fronteiras do além: a secularização da morte no Rio de Janeiro
(séculos XVIII e XIX). Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2005.
ROSEN, George. Uma história da saúde pública. São Paulo: Hucitec; Editora da Unesp; Rio
de Janeiro: Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva, 1994.
ROSENBERG, Charles E. The cholera years: the United States in 1832, 1849, and 1866.
Chicago: University of Chicago, 1987.
______. Explaining epidemics and other studies in the history of medicine. Cambridge:
Cambridge University Press, 1992.
SAMPAIO, Gabriela dos Reis. Nas trincheiras da cura: as diferentes medicinas no Rio de
Janeiro imperial. Campinas / SP: Editora da Unicamp, 2001.
SANGLARD, Gisele; FERREIRA, Luiz Otávio. Caridade e filantropia: elites, estado e
assistência à saúde no Brasil. In. TEIXEIRA, Luiz Antonio; PIMENTA, Tânia Salgado;
303
HOCHMAN, Gilberto (orgs.). História da saúde no Brasil. São Paulo: Hucitec, 2018, p. 145-
181.
SANTOS NETO, Amâncio Cardoso. Sob o signo da peste: Sergipe no tempo do cholera (1855
- 1856). Dissertação (Mestrado em História). Universidade Estadual de Campinas, Campinas,
2001.
SANTOS, Ricardo Augusto dos. Representações sociais da peste e da gripe espanhola. In:
NASCIMENTO, Dilene Raimundo do; CARVALHO, Diana Maul de (Orgs.). Uma história
brasileira das doenças. Brasília: Paralelo 15, 2004, p. 126-144.
SCHWARCZ, Lilia Moritz. As barbas do Imperador: D. Pedro II, um monarca nos trópicos.
São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
______. Retrato em branco e negro: jornais, escravos e cidadãos em São Paulo no final do
século XIX. São Paulo: Círculo do livro, 1988.
SEVCENKO, Nicolau. A revolta da vacina: mentes insanas em corpos rebeldes. São Paulo:
Cosac Naify, 2010.
SILVA, Antonio de Morais; BLUTEAU, Rafael. Diccionario da lingua portugueza composto
pelo padre D. Rafael Bluteau, reformado, e accrescentado por Antonio de Moraes Silva natural
do Rio de Janeiro. 1. ed. Lisboa, Simão Tadeu Ferreira, 1789. Disponível no site:
https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm-ext/598. Acesso a 1 out. 2019.
SILVA, Camila Borges da. As ordens honoríficas e a Independência do Brasil: o papel das
condecorações na construção do Estado Imperial brasileiro (1822-1831). Tese (Doutorado em
História). Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2014.
SILVA, Wlamir. A imprensa e a pedagogia liberal na Província de Minas Gerais (1825-1842).
In. NEVES, Lúcia Maria Bastos P.; MOREL, Marco; FERREIRA, Tânia Maria Bessone da C.
(orgs.). História e imprensa: representações culturais e práticas de poder. Rio de Janeiro: DP&A
Editora, 2006, p. 37-59.
SNOW, John. Sobre a maneira da transmissão do cólera. Rio de Janeiro: USAID, 1967.
SONTAG, Susan. Doença como metáfora/AIDS e suas metáforas. São Paulo: Companhia das
Letras, 2007.
SOURNIA, Jean-Charles & RUFFIE, Jacques. As epidemias na história do homem. Lisboa:
Edições 70, 1986.
STRZODA, Michelle (org.). O Rio de Joaquim Manuel de Macedo: jornalismo e literatura no
século XIX – Antologia de crônicas. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2010.
STUDART, Dr. Barão de. Datas e factos para a história do Ceará. Ed. fac-sim. (1896).
Fortaleza: Fundação Waldemar de Alcântara, 1997a.
304
______. Climatologia, epidemias e endemias do Ceará. Ed. fac-sim. (1909). Fortaleza:
Fundação Waldemar Alcântara, 1997b.
______. Dicionário Bio-bibliográfico cearense. Vol. 1. Fortaleza: Typo-Lithographia a vapor,
1910.
______. Dicionário Bio-bibliográfico cearense. Vol. 2. Fortaleza: Typo-Lithographia a vapor,
1913.
______. Dicionário Bio-bibliográfico cearense. Vol. 3. Fortaleza: Typografia Minerva, 1915.
______. Os jornais do Ceará nos primeiros 40 anos. Revista do Instituto do Ceará. Tomo
Especial. Fortaleza, 1924, p. 48-117.
TEÓFILO, Rodolfo. A Fome/Violação. Rio de Janeiro: Livraria José Oympio; Fortaleza:
Academia Cearense de Letras, 1979.
THÉBERGE, Dr. P. Esboço histórico sobre a Província do Ceará. Vol. 3. Ed. fac-sim. (1895).
Fortaleza: Fundação Waldemar de Alcântara, 2001.
TROSTLE, James A. Epidemiologia e cultura. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2013.
VASCONCELOS, Barão de. Um documento official relativo ao Cholera-morbus no Ceará em
1862. Revista do Instituto do Ceará. Fortaleza, tomo XXIV, 1910, p. 79-99.
______. Pedro Pereira da Silva Guimarães (documentos históricos). Revista do Instituto do
Ceará. Tomo XX. Fortaleza, 1906, p. 187-189.
VEIGA, Gláucio. Estudos: O Gabinete Olinda e a política pernambucana; O desembarque de
Sirinhaém. Recife: Editora Universitária de Pernambuco, 1977.
VIEIRA JÚNIOR, Antônio Otaviano. Entre paredes e bacamartes: história da família no sertão
(1780-1850). Fortaleza: Demócrito Rocha/Hucitec, 2004.
WITTER, Nikelen Acosta. Males e Epidemias: sofredores, governantes e curadores no sul do
Brasil (Rio Grande do Sul, século XIX). Tese (Doutorado em História Social). Universidade
Federal Fluminense, Niterói, 2007.