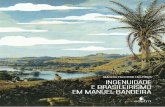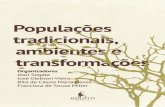DireitoSaúdePolítica_Silva_2012.pdf - UFRN
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of DireitoSaúdePolítica_Silva_2012.pdf - UFRN
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO
FRANCISCO LIVANILDO DA SILVA
O DIREITO À SAÚDE E A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA:
Uma análise a partir da crescente judicialização dos medicamentos antineoplásicos
NATAL/RN
2012
FRANCISCO LIVANILDO DA SILVA
O DIREITO À SAÚDE E A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA: Uma análise a partir da crescente judicialização dos medicamentos antineoplásicos
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito - PPGD do Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como requisito para a obtenção do título de Mestre em Direito.
Orientador: Prof. Doutor Artur Cortez Bonifácio
NATAL
2012
Catalogação da Publicação na Fonte.
UFRN / Biblioteca Setorial do CCSA
Silva, Francisco Livanildo da.
O direito à saúde e a política nacional de atenção oncológica: uma
análise a partir da crescente judicialização dos medicamentos
antineoplásicos / Francisco Livanildo da Silva. - Natal, RN, 2012.
303 f.
Orientador: Profº. Dr. Artur Cortez Bonifácio.
Dissertação (Mestrado em Direito) - Universidade Federal do Rio
Grande do Norte. Centro de Ciências Sociais Aplicadas. Departamento de
Direito. Programa de Pós-graduação em Direito.
1. Direitos fundamentais - Dissertação. 2. Direitos sociais -
Dissertação. 3. Direito à saúde - Brasil - Dissertação. 4. Sistema único de
Saúde (SUS) – Políticas públicas – Dissertação. I. Bonifácio, Artur Cortez.
II. Universidade Federal do Rio Grande do Norte. III. Título.
RN/BS/CCSA CDU 342.7
DEDICATÓRIA
Dedico o produto deste trabalho aos meus entes queridos e inestimáveis - minha esposa (Olívia), meus filhos (Victor Thiago, Ian César e Hanna Letícia) e minha mãe (Helena) –
que souberam aceitar a minha ausência e a minha falta de tempo, ao longo de todo o período em que estive dedicado à elaboração deste estudo.
AGRADECIMENTOS
Primeiramente, a DEUS, ser supremo e de imenso amor, por permitir a minha existência e por me conceder o dom da busca incessante de conhecimentos.
Aos meus familiares, amigos e amigas, que compartilharam comigo o desejo de realizar este projeto de vida.
A todos os operadores do direito, aos gestores e técnicos que se dedicam ao labor diário, na tentativa de aperfeiçoar o Sistema Único de Saúde (SUS), em nosso país.
“Primeiramente deve-se considerar que os desafios éticos, políticos e operacionais nestes 20 anos de Sistema Único de Saúde (SUS) talvez sejam agora maiores do que foram no inicio,
quando nossos tão caros companheiros da saúde coletiva o idealizaram. Muitos fatos mudaram neste trecho do caminho que repercutiram para além do que se havia imaginado e
que se mostram agora como de difícil conciliação. Dentre esses, cito o que guiará minha linha de pensamento, que é a grande (gosto de pensar que não insuperável) dificuldade de
conciliar uma constituição sociodemocrata com um Estado liberal (Bussinguer, 2008). Outra placa indicativa é a construção de pontes entre a gigantesca valoração do capital,
entendido aqui como toda atividade econômica guiada pelo lucro, que tem sido um fim em si mesmo, e o valor da vida humana, que tem sido uma atividade meio no intenso balcão de
negociação entre Estado, cooperativas, planos privados e mercado farmacêutico”. (Ethel Leonor Noia Maciel)
RESUMO
A Constituição Federal brasileira de 1988 ao apresentar o catálogo dos direitos e garantias fundamentais (Título II), traz, expressamente, que tais direitos alcançam os direitos sociais, econômicos e culturais (art. 6° da CF/88), como forma não só de ratificar os direitos civis e políticos, mas, também, de fazê-los efetivos e concretos na vida do povo brasileiro, especialmente diante da previsão de aplicação imediata dos referidos direitos e garantias. Nesse sentir, a saúde passa à condição de direito de todos e dever do Estado, o qual deverá ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos, além de garantir acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da CF/88). Alcançar os fins almejados pelo constituinte para a área da saúde é o grande desafio que se impõe ao Sistema Único de Saúde e aos seus gestores. Para tanto, diversas políticas públicas têm sido estruturadas na tentativa de estabelecer ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação de doenças e agravos de saúde. Em meados da década de 90, e procurando atender as diretrizes e princípios estabelecidos pelo SUS, foi instituída a Política Nacional de Atenção Oncológica – PNAO, na tentativa de esboçar uma política pública que buscasse atingir o máximo de eficiência e que fosse capaz de dar respostas efetivas ao integral atendimento aos pacientes com câncer, com ênfase na prevenção, detecção precoce, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos. No entanto, muitas ações judiciais têm sido propostas com pedidos de medicamentos antineoplásicos. Essas ações vêm cercadas de muita complexidade, tanto nos aspectos processuais quanto nos aspectos materiais, especialmente em razão dos altos custos dos fármacos mais solicitados nessas demandas, bem como pela necessidade de serem balizadas as evidências científicas desses medicamentos em relação aos tratamentos propostos. A jurisprudência nessa área, apesar dos contornos já delineados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, ainda está em pleno processo de construção, razão pela qual o presente estudo se coloca na perspectiva de contribuir para a efetiva, eficaz e eficiente prestação jurisdicional nessas ações, com foco na concretização dos direitos fundamentais sociais. Diante desse cenário e utilizando-se da pesquisa explicativa, bibliográfica e documental, foram analisadas 108 ações judiciais em trâmite perante a Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, buscando identificar como os órgãos do Poder Judiciário se portam diante das ações judiciais que pleiteiam medicamentos oncológicos (ou antineoplásicos), procurando compatibilizar os princípios e normas constitucionais e infraconstitucionais que envolvem a temática, na tentativa de contribuir para uma racionalização dessa prática judiciária. Ao final, considerando o Uso Racional de Medicamentos e a ideia de pertencimento do SUS ao povo brasileiro, conclui-se que, nas demandas de saúde, o Judiciário pátrio necessita lastrear suas decisões em parâmetros de medicina baseada em evidências, compatibilizando nessas decisões os princípios constitucionais que albergam o direito à saúde e as conclusões científicas de eficácia, efetividade e eficiência dos medicamentos oncológicos, quando em comparação aos tratamentos oferecidos pelo SUS.
PALAVRAS-CHAVES: Direitos fundamentais sociais – direito à saúde – efetivação – judicialização – contornos jurisprudenciais
ABSTRACT
The 1988 Federal Constitution of Brazil by presenting the catalog of fundamental rights and guarantees (Title II) provides expressly that such rights reach the social, economic and cultural rights (art. 6 of CF/88) as a means not only to ratify the civil and political rights, but also to make them effective and practical in the life of the Brazilian people, particularly in the prediction of immediate application of those rights and guarantees. In this sense, health goes through condition of universal right and duty of the State, which should be guaranteed by social and economic policies aimed at reducing the risk of disease and other hazards, in addition to ensuring universal and equal access to actions and services for its promotion, protection and recovery (Article 196 by CF/88). Achieving the purposes aimed by the constituent to the area of health is the great challenge that requires the Health System and its managers. To this end, several policies have been structured in an attempt to establish actions and services for the promotion, protection and rehabilitation of diseases and disorders to health. In the mid-90s, in order to meet the guidelines and principles established by the SUS, it was established the Política Nacional de Atenção Oncológica – PNAO, in an attempt to sketch out a public policy that sought to achieve maximum efficiency and to be able to give answers integral to effective care for patients with cancer, with emphasis on prevention, early detection, diagnosis, treatment, rehabilitation and palliative care. However, many lawsuits have been proposed with applications for anticancer drugs. These actions have become very complex, both in the procedural aspects and in all material ones, especially due to the high-cost drugs more requested these demands, as well as need to be buoyed by the scientific evidence of these drugs in relation to proposed treatments. The jurisprudence in this area, although the orientations as outlined by the Parliament of Supreme Court is still in the process of construction, this study is thus placed in the perspective of contributing to the effective and efficient adjudication in these actions, with focus on achieving the fundamental social rights. Given this scenario and using research explanatory literature and documents were examined 108 lawsuits pending in the Federal Court in Rio Grande do Norte, trying to identify the organs of the Judiciary behave in the face of lawsuits that seeking oncology drugs (or antineoplastic), seeking to reconcile the principles and constitutional laws and infra constitutional involving the theme in an attempt to contribute to a rationalization of this judicial practice. Finally, considering the Rational Use of health demands and the idea of belonging to the Brazilian people SUS, it is concluded that the judicial power requires ballast parameters of their decisions on evidence-based medicine, aligning these decisions housing constitutional principles that the right to health and the scientific conclusions of efficacy, effectiveness and efficiency in oncology drugs, when compared to the treatments offered by SUS. Key-words: Social Fundamental Rights. Right to Health. Effectiveness. Judicialization. Jurisprudential Orientation.
LISTA DE ILUSTRAÇÕES E GRÁFICOS
Figura 1: interação entre os níveis de atenção no SUS.......................... 139 Figura 2: Mapa contendo os estabelecimentos credenciados à PNAO, distribuídos pelos Estados da federação.......................................... 185 Figura 3: Distribuição percentual da frequência realizada x Distribuição percentual do valor gasto pelo SUS entre os estabelecimentos públicos e privados.................................................... 215 Figura 4: Evolução temporal dos medicamentos pleiteados em ações judiciais perante a Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, tendo a União como ré................................................ 231
LISTA DE TABELAS
Tabela 1: Gastos realizados pelo Ministério da Saúde – 2006/2009..... 157 Tabela 2: Número de estabelecimentos credenciados à PNAO, distribuídos pelos Estados da federação.......................................... 186 Tabela 3: Produção Hospitalar e Ambulatorial – SUS - 2010................. 215 Tabela 4: Gastos Federais com serviços oncológicos no SUS.................... 217
ABREVIATURAS
ABRASCO - Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva ADCT - Atos das Disposições Constitucionais Transitórias ADIn - Ação Direta de Inconstitucionalidade AE - Avaliação Econômica AES - Avaliação Econômica em Saúde AIH - Autorização para Internação Hospitalar AIS - Ações Integradas de Saúde ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária APAC - Autorização para Procedimentos de Alta Complexidade ATS - Avaliação Tecnológica em Saúde CACON - Centros de Assistência de Alta complexidade em Oncologia CAPs - Caixas de Aposentadorias e Pensões CEAF - Componente Especializado da Assistência Farmacêutica CEBES - Centros Brasileiros de Estudos da Saúde CEME – Central de Medicamentos CF/88 - Constituição Federal de 1988 CFM - Conselho Federal de Medicina CIB - Comissão Intergestores Bipartite CIT - Comissão Intergestores Tripartite CITEC - Comissão de Incorporação de Tecnologia CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde CNJ - Conselho Nacional de Justiça CNS - Conselho Nacional de Saúde CONASEMS - Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde CONASP - Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária CONASS - Conselho Nacional de Secretários de Saúde CPC - Código de Processo Civil CPMF - Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e
de Créditos de Natureza Financeira CRACON - Centro de Referência de Alta Complexidade em Oncologia DESC - Direitos Econômicos, Sociais e Culturais DMP - Departamento de Medicina Preventiva DNSP - Departamento Nacional de Saúde Pública EC- Emenda Constitucional EMAD - Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar EMAP - Equipes Multiprofissionais de Apoio FAEC - Fundo de Ações Estratégicas e Compensação FPO - Ficha de Programação Orçamentária GM/MS - Gabinete do Ministro/Ministério da Saúde IAPs - Institutos de Aposentadorias e Pensões IARC - Agência Internacional para Pesquisa em Câncer
INAMPS - Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social INCA - Instituto Nacional do Câncer INPS - Instituto Nacional de Previdência Social LOPS - Lei Orgânica da Previdência Social MAC - Média e Alta Complexidade no SUS MBE - Medicina Baseada em Evidências MES - Ministério da Educação e Saúde MESP - Ministério da Educação e Saúde Pública NOAS - Normas Operacionais de Assistência à Saúde NOBs - Normas Operacionais Básicas OMS - Organização Mundial de Saúde PCDTs - Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS PIB - Produto Interno Bruto PNAD - Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios PNAF - Política Nacional da Assistência Farmacêutica PNAO - Política Nacional de Atenção Oncológica PNM - Política Nacional de Medicamentos PNS - Plano Nacional de Saúde PPA - Plano de Pronta Ação PPI - Programação Pactuada Integrada PSF - Programa Saúde da Família RHC - Registros de Casos de Câncer SAS/MS - Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde SCTIE - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da
Saúde SESP - Serviço Especial de Saúde Pública SIA/SUS - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS SICAU - Sistema Integrado de Controle das Ações da União SIOPS - Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde SNC - Serviço Nacional de Câncer STF - Supremo Tribunal Federal SUDS - Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde SUS - Sistema Único de Saúde SVS - Secretaria de Vigilância em Saúde TCU - Tribunal de Contas da União TFD - Tratamento Fora do Domicílio UNACON - Unidades de Assistência de Alta complexidade em Oncologia UNICEF - Fundo das Nações Unidas para a Infância
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO....................................................................................................... 14 2 O DIREITO À SAÚDE À LUZ DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS - DELINEANDO CONCEITOS - DELINEANDO CONCEITOS........................................................ 21 2.1 OS DIREITOS SOCIAIS ENQUANTO CATEGORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988......................... 44 2.1.1 A fundamentalidade formal e material dos direitos sociais............................. 50 2.1.2 A abertura material do catálogo dos direitos sociais....................................... 55 2.1.3 A eficácia, a efetividade e a justicialidade dos direitos sociais no direito brasileiro............................................................................................................. 61 2.2 DIREITO À SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL.............................. 67 3 O DIREITO À SAÚDE NO BRASIL ANTES DA CONSTITUIÇÃO C IDADÃ DE 1988 – UMA NECESSÁRIA LEMBRANÇA......................................................... 70 3.1 A SAÚDE NO BRASIL DURANTE O PERÍODO COLONIAL E IMPERIAL... 72 3.2 DA PRIMEIRA REPÚBLICA ATÉ 1920: O RECONHECIMENTO DA NECESSÁRIA INSTITUIÇÃO DE UMA POLÍTICA NACIONA DE SAÚDE..... 76 3.3 A SAÚDE PÚBLICA: DA REVOLUÇÃO DE 1930 AO PERÍODO DEMOCRÁTICO DE 1964.......................................................................................... 82 3.4 A SAÚDE DURANTE OS GOVERNOS MILITARES..................................... 92 3.5 DOS MOVIMENTOS SANITARISTAS E SOCIAIS QUE ANTECEDERAM A CONSTITUIÇÃO DE 1988..................................................... 99 4 O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO ENFOQUE SOBRE A POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE EM NOSSO PAÍS...... 108 4.1 FINALIDADES E OBJETIVOS........................................................................... 110 4.2 PRINCÍPIOS REITORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)............... 112 4.2.1 Princípio da universalidade................................................................................. 115 4.2.2 Princípio da equidade ou da igualdade no SUS................................................ 117 4.2.3 Princípio da integralidade da assistência à saúde no SUS............................... 119 4.2.4 princípio da descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo............................................................................................ 124 4.2.5 princípio da participação popular..................................................................... 127 4.3 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO SUS............................................................. 131 4.4 REPARTIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES/COMPETÊNCIAS.................................. 141 4.5 FINANCIAMENTO DO SUS............................................................................. 148
5 A RELAÇÃO ENTRE A POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ UTICA DO SUS E A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA. ........... 160 5.1 FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE ENSEJARAM A IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA... 169 5.1.1 Eventos ou agravos cobertos................................................................................... 176 5.2 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA............................................................................................................ 182 5.3 PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DOS HOSPITAIS E CLÍNICAS CONVENIADAS E AVALIAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS.............. 188 5.4 PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DOS PROTOCOLOS E DIRETRIZES TERAPÊUTICAS NO SUS............................................................. 192 5.4.1 Iniciativa.......................................................................................................... 197 5.4.2 Formalização.................................................................................................... 198 5.4.3 Finalização do procedimento de formalização dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas no SUS.................................................................................. 201 5.5 FORMAS E PROCEDIMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO SUS........................................................ 208 5.6 SISTEMA DE AFERIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA ONCOLOGIA.......................................................................................... 218 6 A "JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE" E DA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA: UMA ANÁLISE A PARTIR DA JURISPRUDÊNCIA E DA PRAXE JURÍDICA....................................................................................................................... 223 6.1 ASPECTOS GERAIS DESSE TIPO DE DEMANDA JUDICIAL..................... 228 6.2 A POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DEFININDO OS CONTORNOS PARADIGMÁTICOS DA PRAXE JURÍDICA.................................. 240 6.2.1 O delineamento jurisprudencial no tocante às questões processuais e procedimentais ........................................................................................................... 247 6.2.1.1 Quanto à constituição dos pólos ativo e passivo das demandas de saúde........ 248 6.2.1.2 O papel e a importância da instrução probatória nas demandas de saúde........ 261 6.2.2 o delineamento jurisprudencial no tocante às questões de ordem material......................................................................................................... 266 6.3 PONTOS VULNERÁVEIS DA PNAO QUE INFLUENCIAM NAS DECISÕES JUDICIAIS QUE PLEITEIAM MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS.................... 275 6.4 QUEM TEM MEDO DA VERDADE - GOVERNO OU CREDENCIADOS? 278 6.5 A "JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE" E SEUS REFLEXOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE..................................................................................... 282 6.5.1 Reflexos positivos............................................................................................... 283 6.5.2 Reflexos negativos............................................................................................ 284 6.5.2.1 Afetação ao princípio da descentralização político-administrativa do sus...... 284 6.5.2.2 Natureza predominantemente individual das demandas de saúde X Princípios da universalidade e equidade do SUS................................................... 286 6.5.2.3 Perda do controle do tratamento e dos recursos nele empregados pelo sus 288 7 CONCLUSÃO...................................................................................................... 291 REFERÊNCIAS...................................................................................................... 299 ANEXOS.................................................................................................................. 311
14
1 INTRODUÇÃO
A Carta Constitucional de 1988, fruto de uma participação popular mais efetiva,
contém normas (aqui entendidas no seu sentido mais amplo, englobando regras e princípios)
que garantem e asseguram os Direitos Fundamentais e Sociais, razão pela qual veio despertar
um novo olhar dos cidadãos e cidadãs brasileiras sobre determinados temas ou problemas
sociais, os quais, apesar de existirem ao longo da história deste País, não eram submetidos ao
crivo da exigência ou de obrigação positiva por parte do Estado Brasileiro, tampouco eram
levados à apreciação do Poder Judiciário, por um pensamento então reinante no sentido de
que o Sistema Jurídico pátrio não lhe dava guarida.
Assim aconteceu com alguns direitos sociais, entre eles o Direito à Saúde e a sua
efetividade. Em seu artigo 5º, § 1º, a vigente Carta Constitucional Brasileira admite o
alargamento das hipóteses de eficácia imediata das normas que compõem o complexo de
direitos fundamentais, inclusive os sociais.
E é exatamente nesse panorama sócio-jurídico que se origina um despertar social
para essa problemática, ao ponto de estarmos presenciando um crescente número de
reclamações administrativas nos diversos órgãos de ouvidoria relacionados a essa questão
(Ministério da Saúde, Conselhos de Saúde, Órgãos do Ministério Público Estadual ou Federal,
entre outras), bem como um número cada vez mais significativo de ações judiciais
envolvendo esse tema.
Nas ações judiciais têm sido veiculados pedidos envolvendo diversos objetos em
torno da questão da saúde, desde medicamentos de valor ínfimo (que são pedidos porque o
usuário vai ao Posto de Saúde próximo de sua casa e não encontra tal medicamento no
estoque daquele órgão de saúde), passando por solicitação ou autorização judicial para a
realização de procedimentos médicos ou cirúrgicos, de média e alta complexidade, além de
medicamentos de alto custo, especialmente aqueles utilizados para tratamento oncológicos.
15
Todas essas demandas judiciais vêm fundadas em preceitos constitucionais, de modo
particular, invocam a garantia do Direito à Saúde e a Dignidade da Pessoa Humana –
assegurados no texto constitucional.
Aliás, ante essa crescente procura pelo Poder Judiciário com pedido de concessão de
antecipação de tutela, os magistrados e demais operadores direito – especialmente os
advogados públicos -, se veem envoltos em preocupações que exigem cada vez mais
conhecimentos técnicos acerca dos objetos trazidos nessas ações, especialmente porque se
está a tratar – muitas vezes – diretamente com iminentes riscos de vida dos demandantes.
A comunidade jurídica pátria tem divergido acerca da possibilidade e limites da
intervenção do Poder Judiciário em relação às ações judiciais que têm por objeto bens ou
serviços da área saúde e ao fornecimento gratuito de medicamentos. Não obstante as
divergências doutrinárias e jurisprudenciais, nesse particular, admitir-se-á no presente estudo
a intervenção do Judiciário nas políticas de saúde, especialmente no tocante à apreciação de
demandas judiciais que objetivem a prestação de tutela envolvendo medicamentos,
procedimentos e insumos da área da saúde, ainda que essa atuação deva ter como elemento
norteador a autocontenção do Poder Judiciário.
Assim, caberá ao Poder Judiciário atuar sob três grandes linhas: a) para fazer
respeitar e/ou concretizar as opções legislativas e administrativas formuladas pelos demais
Poderes da União, relativamente às políticas públicas de saúde; b) retirar do mundo jurídico o
que estiver em desacordo com os princípios e normas que regem o direito à saúde em nosso
direito pátrio; ou c) em não havendo lei ou ato administrativo-normativo implementando as
normas constitucionais, sua atuação deve se pautar no sentido de dar concretude e efetividade
às regras e princípios constitucionais, especialmente os garantidores de direitos fundamentais.
A prática judiciária tem demonstrado que as diversas ações judiciais que tratam de
matéria sobre a saúde - a maior parte delas proposta pela Defensoria Pública da União contra
16
a União, Estado e Municípios -, vêm sempre amparadas ou subsidiadas por receituário
médico, prescrito por médicos pertencente a quadro de pessoal do próprio Sistema Único de
Saúde – SUS ou de estabelecimentos a ele credenciados, o qual tem sido utilizado pelos
julgadores como fundamento para a concessão de pedidos de tutela antecipada.
Não se pode perder de vista que não é possível impor limitações às inovações
tecnológicas em saúde, especialmente no que diz respeito às novas formulações
farmacológicas, órteses, próteses e constantes descobertas nas áreas médicas, genética e
biociência, porque tais descobertas e avanços é que permitem o desenvolvimento e
aprimoramento na qualidade de vida dos povos.
Mas também, não se pode deixar de reconhecer que, diferentemente de outras áreas
do conhecimento, a descoberta de novas tecnologias em saúde não determina o abandono das
terapias ou tratamentos já utilizados, de maneira que é preciso que tanto a comunidade
científica, bem assim, os operadores do Direito (aqui com ênfase nos órgãos do Poder
Judiciário) percebam que muitas vezes os novos procedimentos e medicamentos são
incorporados pelos profissionais da saúde, mesmo quando não se tem comprovação de
evidências científicas de superioridade do novo sobre os medicamentos e procedimentos já
utilizados na prática médica. Aliás, é comum que as novas descobertas em saúde sejam
utilizadas, concomitantemente como as antigas, como é o caso dos exames de ressonância
magnética que não excluem o uso das tomografias computadorizadas, para a descoberta de
determinados agravos.
Por outro lado, as novas e inacabáveis prestações de saúde, incessantemente em
movimento, muitas vezes trazem consigo o valor econômico dessas descobertas, o que
implica em seus elevados custos - principalmente para sistemas públicos de saúde como o
brasileiro, pautado pela universalidade e integralidade - colocando em confronto dois valores
que necessitam de adequação: benefícios versus custos.
17
Encontra-se também em evidência a crescente necessidade de melhoria na qualidade
de vida dos seres humanos. Nesse contexto, sobrelevam-se os valores circundantes do
também e não menos expressivo crescimento do mercado de medicamento, cujos lucros são
fabulosos e movimentam diversas economias ao redor do mundo, trazendo por consequência
altos investimentos da indústria farmacêutica nesse setor produtivo.
Por sua vez, a questão econômica que circunda o pedido de fornecimento de
medicamento para tratamento oncológico não pode ser desconsiderada, ainda que não se
queira, a princípio, restringir a discussão em torno da mera aplicação do princípio da reserva
do possível, em sua versão estritamente econômica.
Assim, necessário se faz compatibilizar todos estes parâmetros (jurídicos, sociais, de
saúde pública, econômicos entre outros) como forma de viabilizar não apenas o direito à
saúde de cada brasileiro ou brasileira, mas, principalmente, como forma de racionalizar e até
se for o caso, reduzir o crescente número de demandas judiciais – agravando cada vez mais o
retardo na prestação jurisdicional pátria –, garantindo o atendimento igualitário, necessário e
suficiente à plena realização da cidadania em nosso país.
O que se busca através deste estudo é, exatamente, analisar como a doutrina e a
jurisprudência pátria se portam diante das ações judiciais que pleiteiam medicamentos
oncológicos (ou antineoplásicos), sob a ótica dos princípios e normas constitucionais e
infraconstitucionais, procurando compatibilizá-las com os parâmetros jurídicos, econômicos e
sociais relacionados à temática.
Utilizando-se da pesquisa explicativa, através da pesquisa bibliográfica e documental
(legislativa e jurisprudencial), buscar-se-á apontar caminhos para uma racionalização das
demandas judiciais envolvendo medicamentos oncológicos (antineoplásicos) ou permitindo
maior clareza dos reais motivos que dão sustentação a essa prática judiciária, possibilitando a
tomada de decisão pelos Órgãos Administrativos das diversas esferas do SUS e a elaboração
18
de políticas públicas voltadas para a plena realização do Direito à Saúde e da Dignidade da
Pessoa Humana.
Cônscio dos limites impostos ao presente estudo, em razão da complexidade da
matéria de fundo – direito à saúde - e com a pretensão de fazer apenas uma abordagem
panorâmica, localizada e sistêmica, optou-se por efetuar um corte metodológico na referida
matéria, focando a análise apenas sobre a Política Nacional de Atenção Oncológica do SUS,
vista sob a ótica da jurisprudência pátria e dos pedidos de medicamentos oncológicos.
Outrossim, dado o caráter pontual de que o presente estudo se reveste, e na tentativa de não
deixar de apontar as suas restrições, optou-se pelo resgate das questões basilares relativas à
área geral da saúde pública em nosso país, com ênfase para as questões suscitadas em cada
texto constitucional que teve vigência no Brasil.
Na tentativa de alcançar os objetivos acima propostos, estabelecemos um
procedimento organizacional do texto, de maneira que a análise perpassasse num primeiro
momento as ideias conceituais da teoria dos direitos fundamentais, numa sequência lógico-
formal, que vai desde a conceituação de direitos fundamentais e engloba os demais conceitos
e temáticas voltadas para as normas jusfundamentais sociais, entre elas o direito à saúde.
No intuito de permitir maior compatibilidade entre as informações dos dados
colhidos na pesquisa doutrinária, jurisprudencial e documental, num segundo momento será
feita uma análise descritiva acerca do tratamento constitucional dado à temática do direito à
saúde, em cada um dos períodos históricos do Brasil, até a vigência da atual Carta Magna,
onde expressamente o direito à saúde foi incorporado ao catálogo de direitos fundamentais.
Na sequência, aprofundando as novidades advindas do novel texto constitucional de
1988, serão traçadas as características conceituais, principiológicas, estruturais,
organizacionais e de repartição de competências dos entes federados, na viabilização do então
criado Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse sentido, será dada ênfase ao novo enfoque das
19
políticas públicas de saúde implantadas no país após a vigência da CF/88, principalmente com
a promulgação da Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080/90.
A partir desse aporte jurídico-administrativo, trazido pelo Sistema Único de Saúde
(SUS), serão estabelecidas as bases e o delineamento da Política Nacional de Atenção
Oncológica (PNAO), na tentativa de clarificar os seus objetos, procedimentos e forma de
execução, especialmente no que concerne aos elementos que diferenciam essa política pública
da mera execução das demais políticas de assistência farmacêutica do SUS.
Estabelecidas as premissas jusfundamentais e do direito à saúde, as bases filosóficas
e principiológicas do sistema público de saúde no Brasil (SUS), bem assim os contornos da
Política Nacional de Atenção Oncológica, buscar-se-á compreender o fenômeno da
“judicialização da saúde”, tomando como ponto de inflexão, a construção jurisprudencial em
torno das ações judiciais cujos objetos estejam relacionados à área da oncologia. Para a
consecução deste capítulo, foram feitas consultas aos bancos de dados dos diversos tribunais
pátrios, especialmente o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, além da
análise das peças e atos processuais produzidos nas 108 ações judiciais com objetos
vinculados à oncologia, em trâmite perante as diversas varas que compõem a Justiça Federal -
Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte -, nas quais a UNIÃO FEDERAL tenha
sido citada ou intimada até 30/06/2010. A delimitação do campo de pesquisa apenas às ações
judiciais em trâmite perante as diversas Varas Federais da Seção Judiciária do Estado do Rio
Grande do Norte e nas quais a União Federal (Administração Direta) integrasse o polo
passivo se deveu ao fato desses processos encontrarem-se digitalizados, na íntegra, no
Sistema Integrado de Ações Judiciais da União (SICAU) e, portanto, de fácil acesso para
pesquisa e análise dos dados, objeto do presente estudo. Por sua vez, o estabelecimento de um
marco final (citação ou intimação até 30/06/2010) também se deu em função da necessidade
de se limitar, temporalmente, a análise dos dados.
20
Nesse desiderato, serão balizados os conhecimentos jurídicos obtidos (a partir da
pesquisa bibliográfica) e os dados da pesquisa documental, na perspectiva de se estabelecerem
os elementos da crítica (positiva e negativa) e se construírem perspectivas de melhoria não
apenas da praxe forense, mas, principalmente, da efetividade do direito à saúde.
21
2 O DIREITO À SAÚDE À LUZ DOS DIREITOS FUNDAMENTAI S –
DELINEANDO CONCEITOS
O estudo, ora levado a efeito, tem por finalidade analisar o direito à saúde e a
dispensação de medicamentos1 oncológicos (ou antineoplásicos) sob a ótica do atual sistema
constitucional brasileiro, temática que tem sido enquadrada entre os direitos sociais da Carta
Magna em referência (caput do art. 6º da CF/88). Em razão disso, necessário se faz uma
análise panorâmica do enquadramento dessa temática entre os direitos fundamentais
decorrentes desse mesmo sistema jurídico2.
Para que se possa trilhar nessa árdua tarefa, e tendo em vista a complexidade com
que tem sido tratado o estudo dos direitos fundamentais3, impõe-se o delineamento (ainda que
para efeito didático) de alguns elementos conceituais que circundam a matéria4, possibilitando
não apenas a compreensão do tema a que se propõe a discorrer5, mas, principalmente, como
fonte de sedimentação dos conhecimentos jurídico-filosóficos alicerçados pela doutrina e
estudiosos que se dedicam ao tema dos direitos fundamentais ou do estabelecimento de uma
teoria geral desses mesmos direitos.
1 “Dispensación (dispensing, prescription dispensing). Acto profesional farmacéutico de proporcionar uno o más medicamentos a un paciente, generalmente como respuesta a la presentación de una receta elaborada por un profesional autorizado” Tradução livre: “A dispensação é o ato farmacêutico de distribuir um ou mais medicamentos a um paciente em resposta a uma prescrição elaborada por um profissional autorizado” (ARIAS, Thomas D., Glossário de medicamentos: desarrollo, evaluación y uso, p. 74). 2 Eros Grau define sistema jurídico como uma ordem teleológica de princípios gerais de direito, como um sistema aberto, não fechado. Aberto no sentido de que é incompleto, evolui e se modifica. E complementa: “Desde essas verificações e com esse significado é que devemos reconhecer o direito como um sistema, o que o transforma em objeto de um pensar sistemático e, em especial, permite-nos interpretá-lo no contexto sistêmico, ou seja, sistematicamente”. (Eros Roberto Grau, O direito posto e o direito pressuposto, p. 22-23). 3 Nesse sentido merece destaque as considerações de Nagibe de Melo Jorge Neto, O controle jurisdicional das políticas públicas: concretizando a democracia e os direitos sociais fundamentais, p. 29. 4 Referindo-se à necessidade de se estabelecerem conceitos, principalmente no âmbito do discurso jurídico científico, João dos Passos Martins Neto chega a afirmar que “As palavras constituem, então, armadilhas perigosas para o discurso científico. O seu uso, neste, desacompanhado da preocupação em fixar com precisão o significado atribuído dentre as várias possibilidades de escolha, ameaça debilitar a coerência do raciocínio, expondo-o a toda sorte de objeções, bem como, e mais que tudo, prejudica a eficácia da comunicação e do entendimento” (João dos Passos Martins Neto, Direitos fundamentais : conceito, função e tipos, p. 17). 5 “La claridad del vocablo o definición que se estipule es un prerrequisito de la claridad de todo lo que luego se exponga sobre el tema”. (Agustín Gordillo, Tratado de derecho administrativo, p. 1-19).
22
A primeira dificuldade se revela a partir das discussões acerca da escolha de uma
expressão que possa representar e identificar o objeto em estudo. Apesar do presente tópico,
aqui em análise, trazer a expressão “direitos fundamentais”, outras denominações são
utilizadas (tanto pela doutrina, pela jurisprudência e até mesmo nos textos legais positivados),
tais como direitos humanos, direitos subjetivos públicos, liberdades públicas, direitos do
homem, direitos fundamentais do homem6.
Boa parte dessas terminologias, e suas variações, vêm sendo rechaçadas pela
moderna doutrina constitucional, dado o reconhecimento de que estes termos apresentam-se
genéricos, anacrônicos ou dissociados da evolução histórico-social dos direitos fundamentais
(internacionalmente ou no plano de cada Estado)7.
É bem verdade que a designação do presente instituto jurídico não se desnatura com
a mera indicação ou opção por qualquer das denominações acima explicitadas, mas a
definição por uma delas pode revelar como o estudioso compreende e admite o significado
técnico-jurídico desse instituto8, também pode apontar para concepções jurídicas
diferenciadas, no que diz respeito à teoria geral dos direitos fundamentais, tema sobre o qual
serão tecidas considerações no desenvolvimento da referida temática.
A designação “direitos fundamentais” tem obtido uma maior aceitação dos
estudiosos desse assunto, talvez pela correlação que se faz entre essa expressão e a própria
conceituação do instituto jurídico em apreço9. No que diz respeito à novel Carta
6 Esse posicionamento compartilha do entendimento de Marcus Vinicius Ribeiro, Direitos Humanos e Fundamentais, p. 17. 7 Assim tem entendido Ingo Wolfgan Sarlet, A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional, p. 28. 8 “O estudo dos direitos fundamentais implica, contudo, necessariamente, uma tomada de posição quanto ao enfoque adotado, bem como no que diz com o método de trabalho. Há que optar por uma (ou algumas) das múltiplas possibilidades que se oferecem aos que pretendem se dedicar ao enfrentamento de tão vasto e relevante universo temático” (Ingo Wolfgan Sarlet, ibid., p. 22) 9 Adotam essa designação: Robert Alexy, Teoria dos direitos fundamentais; João dos Passos Martins Neto, Direitos fundamentais : conceito, função e tipos; Paulo Thadeu Gomes da Silva , Direitos fundamentais : contribuição para uma teoria geral; Paulo Gilberto Cogo Leivas, Teoria dos direitos fundamentais sociais; Mariana Filchtiner Figueiredo, Direito Fundamental à saúde – parâmetros para sua eficácia e efetividade, entre outros.
23
Constitucional brasileira, tal expressão foi a escolhida pelo constituinte pátrio para descrever e
encabeçar, explicitamente, o catálogo de direitos instituídos no Título II do referido texto
constitucional10.
Alguns autores, porém, têm optado pela expressão “direitos humanos fundamentais”
e, embora tal terminologia não venha a pacificar a celeuma aqui delineada, dá relevo à
fundamentalidade11 material do referido termo, principalmente por englobar direitos
fundamentais de matriz do direito interno quanto do direito internacional12.
O fato é que “os direitos fundamentais são, de certo modo, direitos humanos porque
o seu titular sempre será o ser humano”13, daí decorrer a existência de relação de gênero e
espécie entre tais expressões, onde, majoritariamente, tem se admitido que os direitos
fundamentais (espécie) são os direitos humanos (gênero) positivados – afirmação que será
melhor explicitada ao final deste tópico.
Aliás, Artur Cortez Bonifácio14, examinando as diversas expressões utilizadas para
designar os direitos fundamentais conclui que elas não devem ser vistas de forma isolada, mas
10 Embora Ingo Wolgang Sarlet, não deixe de consignar que o texto constitucional brasileiro de 1988 também se caracteriza, nesse particular, pela diversidade semântica, utilizando diversos termos para ao se referir aos direitos fundamentais: direitos humanos (art. 4º, II), direitos e garantias fundamentais (epígrafe do Título II, e art. 5º, § 1º), direitos e liberdades constitucionais (art. 5º, LXXI) e direitos e garantias individuais (art. 60, § 4º, IV) (Ingo Wolgang Sarlet, A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional, p. 27). 11 Aliás, talvez aqui resida a maior necessidade de se estabelecer um elemento conceitual que ajude a reconhecer e diferenciar os direitos “fundamentais” dos “não-fundamentais” num mesmo texto constitucional. Nesse sentido: “De fato, a incorporação do adjetivo fundamental ao substantivo direito, quando empregada essa palavra no sentido subjetivo, não só indica que existem direitos subjetivos fundamentais e direitos subjetivos não-fundamentais, como também que o segredo a diferenciação entre uns e outros está na fundamentalidade dos primeiros e na não-fundamentalidade dos segundos. Por isso, uma primeira aproximação à temática dos direitos fundamentais requer a iluminação do significado do adjetivo fundamental, porque é nele, ao indicar uma qualidade das muitas posições subjetivas correspondentes. Assim, há que começar examinando o que, afinal, significa para um direito subjetivo o seu ser fundamental em confronto com aqueles outros que não o são, ou então, o que dá no mesmo, qual é o sentido dessa qualidade acrescida que permite extremar uns e outros. (João dos Passos Martins Neto, op. Cit., p. 79) 12 “[...] Neste mesmo contexto, seguimos entendendo que o termo “direitos humanos fundamentais”, embora não tenha o condão de afastar a pertinência da distinção traçada entre direitos humanos e direitos fundamentais (com base em alguns critérios, como já frisado), revela, contudo, a nítida vantagem de ressaltar, relativamente aos direitos humanos de matriz internacional, que também estes dizem com o reconhecimento e proteção de certos valores e reivindicações essenciais de todos os seres humanos, destacando, neste sentido, a fundamentalidade em sentido material, que – diversamente da fundamentalidade formal – é comum aos direitos humanos e aos direitos fundamentais constitucionais [...]”. (Ingo Wolgang Sarlet, op. Cit., p. 33) 13 Fahd Medeiros Awad, Crise dos direitos fundamentais sociais em decorrência do neoliberalismo, p. 37. 14 O direito constitucional internacional e a proteção dos direitos fundamentais, p. 73.
24
de forma complementar e convergentes, em função da dignidade da pessoa humana. Essa,
portanto, deve ser a postura que merece ser privilegiada no presente estudo, qual seja,
aglutinar todos os conhecimentos já sedimentados pela cultura jurídico-constitucional, de
forma complementar e convergente, com ênfase sempre na dignidade humana.
Não obstante toda essa gama de expressões, que poderiam designar o instituto
jurídico em análise, opta-se pela expressão “direitos fundamentais”, seja pelo fato de ter sido
esta a gravada na Constituição brasileira de 1988, seja porque tal termo facilitará a correlação
que se buscará fazer entre o objeto em estudo e o texto constitucional vigente em nosso país,
berço da análise que ora se pretende realizar.
Em função dessa diversidade de expressões e da multidisciplinariedade com que a
temática tem sido tratada pelas diversas ciências humanas15, a conceituação de “direitos
fundamentais” também tem apresentado algumas dificuldades para ser estabelecida16. Porém,
apesar de ser objeto de estudo ou tangenciar o âmbito de diversas ciências humanas, o
delineamento da conceituação aqui buscada deve se voltar para a teoria jurídica dos direitos
fundamentais, mais precisamente para aqueles direitos assim designados no âmbito da vigente
constituição brasileira17.
Mas tais dificuldades (as de definir os direitos fundamentais), não chegam a ser um
entrave para os estudiosos dessa matéria. Pelo contrário, elas são revertidas em elementos de
discussão, de aprofundamento e de sedimentação teóricos, principalmente porque os direitos
15 Na esteira do que alerta Alexy, “sobre os direitos fundamentais é possível formular teorias das mais variadas espécies. Teorias históricas, que explicam o desenvolvimento dos direitos fundamentais, teoria filosóficas, que se empenham em esclarecer seus fundamentos, e teorias sociológicas, sobre a função dos direitos fundamentais no sistema social, são apenas três exemplos. Difícil haver uma disciplina no âmbito das ciências humanas que, a partir de sua perspectiva e com seus métodos, não esteja em condições de contribuir com a discussão acerca dos direitos fundamentais” (Robert Alexy, Teoria dos direitos fundamentais, p. 31). 16 João Maurício ressalta que a controvérsia em torno do conceito de direito fundamental espelha a herança da modernidade. (João Maurício Adeodato, A Retórica Constitucional, p. 190). 17 Poder-se-ia dizer, no presente estudo, que estamos a falar de uma teoria dos direitos fundamentais da Constituição brasileira, razão pela qual esta “seria uma teoria acerca de determinados direitos fundamentais positivos vigentes” (Robert Alexy, op. Cit., p. 32) p. Outra vertente para a delimitação desse conceito se deve ao Estado constitucional institucionalizado pela Carta Magna brasileira de 1988, onde a “A supremacia da Constituição é uma realidade e dela se têm de tirar as devidas consequências” (Paulo Ferreira da Cunha, Fundamentos da República e dos direitos fundamentais, p. 114)
25
fundamentais “em que pese reconduzíveis a um núcleo axiológico básico, de extração
internacional, eles formalizam-se nos pactos constitucionais locais com significativas e
perceptíveis variações de número, forma e conteúdo”18, o que conduz a que essa
conceituação19 tome por base não apenas os aspectos comuns já traçados pela doutrina e
dogmática (externa e interna)20, mas que também leve em consideração as peculiaridades do
constitucionalismo pátrio, ou seja, da história constitucional do Estado onde se pretende
analisar tais direitos.
Nagibe de Melo Jorge Neto chega a afirmar, utilizando-se de uma veia poética, que
os direitos fundamentais são netos dos direitos naturais e filhos dos direitos humanos, ou seja,
que os direitos fundamentais são uma decorrência histórico-evolutiva dos direitos naturais, até
a sua positivação no âmbito internacional ou no ordenamento jurídico de um Estado. Embora
em seguida, esse mesmo autor conclua que a construção desse conceito histórico-evolutivo
ajude a “discernir, mas não soluciona, de modo definitivo o problema da definição e da
capitulação dos direitos fundamentais”, dada a necessidade de caracterizar a
fundamentalidade com a qual tais direitos são gravados 21.
18 Conforme detalha João dos Passos Martins Neto, op. cit, p. 9. 19
A conceituação dos institutos jurídicos tratados no presente estudo não é absoluta ou inflexível, ressalvando que “a imprecisão ou a fluidez das palavras constitucionais não lhes retiram a imediata aplicabilidade dentro do campo induvidoso de sua significação” (Celso Antonio Bandeira de Mello, Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais, p. 28). 20 “A dogmática tem por objeto o estudo de problemas jurídicos, a serem resolvidos mediante a aplicação, sobre as situações a que respeitam, das normas desse direito. Está voltada, assim, à indicação de critérios a serem adotados para a solução dos litígios”. (Eros Roberto Grau, O direito posto e o direito pressuposto, p. 38) 21 O controle jurisdicional das políticas públicas: concretizando a democracia e os direitos sociais fundamentais, p. 29. Essa necessidade de delimitar o que seja fundamental também é sentida na exposição de João dos Passos Martins Neto, Ibid, p. 79.
26
É possível trazer à baila algumas definições ou conceituações acerca dos direitos
fundamentais22, embora caiba registrar, a exemplo do que preceitua Sarlet, que qualquer
conceituação que almeje abranger de forma definitiva, completa e abstrata o conteúdo
material dos direitos fundamentais está fadada, no mínimo, a um certo grau de dissociação da
realidade de cada ordem constitucional, individualmente considerada23.
Nesse contexto, as definições de Direitos Fundamentais trazem como elementos
comuns, o fato de serem direitos público-subjetivos de pessoas (físicas ou jurídicas), contidos
em dispositivos constitucionais e, portanto, possuírem caráter normativo supremo dentro do
Estado que os instituem24, além de serem imprescindíveis à dignidade do homem (enquanto
homem) e “reconhecidos como tais pelo Estado e pela sociedade em qualquer circunstância de
tempo e lugar, os quais não se destinam a privilegiar castas ou setores sociais
individualizados, antes se dirigindo a todos os homens”25. Também caberia trazer a esse
contexto a nota da intangibilidade dos direitos fundamentais, capitaneada como direito
protegido contra a possibilidade de abolição legislativa e, atraindo, por esse caráter, as
22Analisando o conceito de direitos fundamentais para o sistema jurídico brasileiro: “De toda sorte, embora não possamos atingir o núcleo do conceito de uma maneira bem detalhada, podemos rodeá-lo e delimitá-lo com razoável precisão. Entre nós, os direitos fundamentais são aqueles listados no Título II, da Constituição da República Federativa do Brasil, mas não somente eles. Além destes, incluem-se todos os outros necessários para preservar e promover a dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil” (João dos Passos Martins Neto, op. Cit., p. 35). “Segue-se daí que, considerando a ordem jurídica nacional, verdadeiros direitos fundamentais (enquanto direitos subjetivos pétreos) serão somente aqueles que: a) configurarem relações de atribuição entre bens e pessoas geradas segundo normas jurídicas positivas, nessa medida incorporando todas as propriedades logicamente implicadas nesta idéia: prerrogativa de aproveitamento, correlação com um dever e possibilidade de reação coativa; b) e, além disso, estiverem ao abrigo da cláusula de rigidez absoluta prevista no art. 60, § 4º, da Constituição do Brasil de 1988, que declara inadmissível a proposta de emenda constitucional tendente a abolir ‘direitos e garantias individuais’” (João dos Passos Martins Neto, ibidem, p. 123). 23 Ingo Wolgang Sarlet, A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional, p. 76. 24 Na esteira do proposto por Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins, Teoria geral dos direitos fundamentais, p. 54. Também dando ênfase ao caráter de reconhecimento dos direitos humanos no plano constitucional: “Todos os direitos fundamentais – tanto os direitos sociais como os direitos de defesa da tradição liberal, os direitos democráticos, o direito à igualdade e os direitos de organização e procedimento – são uma institucionalização dos direitos humanos no plano constitucional” (Carlos Bernal Pulido, Conceitos e Estrutura dos Direitos Sociais: Uma Crítica a “Existem direitos sociais?” de Fernando Atria, p. 142) 25 Conf. Artur Cortez Bonifácio, op. Cit., p. 59.
27
seguintes propriedades: variáveis no tempo e no espaço; tendência a ser direito inerente à
condição humana; tendência à igualdade e direitos vocacionados à inalienabilidade26.
Porém, não se pode deixar de consignar que a exigência de positivação constitucional
não pode ser levada ao extremo de se querer que todos os enunciados de direitos fundamentais
estejam, expressamente, estampados no texto da Carta Magna. Nesse sentir, a conceituação de
direitos fundamentais, sob a ótica do constitucionalismo implantado pela Carta Magna
brasileira de 1988, não poderia deixar de abarcar a fundamentalidade formal e material dos
direitos fundamentais encartados nesse texto constitucional, elevadas que foram à condição de
necessárias e suficientes para tal delimitação.
Por sua vez, é a fundamentalidade material que permitirá a abertura da Constituição
para estender tal conceituação aos direitos que se encontram expressamente elencados no
catálogo dos direitos fundamentais27, àqueles expressos em outras partes do texto
constitucional, àqueles que integram os tratados internacionais de que o Brasil seja signatário,
bem como aqueles implícitos ou decorrentes do regime e dos princípios adotados pela própria
Constituição28.
26 Ver João dos Passos Martins Neto, ibid, p. 90-96. 27 Aprofundando o sentido da fundamentalidade formal e material, Ingo Sarlet foi enfático ao asseverar: “A fundamentalidade formal encontra-se ligada ao direito constitucional positivo e resulta dos seguintes aspectos, devidamente adaptados: a) como parte integrante da Constituição escrita, os direitos fundamentais situam-se no ápice de todo o ordenamento jurídico, de tal sorte que – neste sentido – se cuida de direitos de natureza supralegal; b) na qualidade de normas constitucionais, encontram-se submetidos aos limites formais (procedimento agravado) e materiais (cláusulas pétreas) da reforma constitucional (art. 60 da CF), cuidando-se, portanto (...) de direitos pétreos (...); c) por derradeiro, cuida-se de norma diretamente aplicáveis e que vinculam de forma imediata as entidades públicas e privadas (art. 5º, § 1º, da CF). A fundamentalidade material, por sua vez, decorre da circunstância de serem os direitos fundamentais elemento constitutivo da Constituição material, contendo decisões fundamentais sobre a estrutura básica do Estado e da sociedade”. (ibidem, p. 74-75) 28“Numa única linha, podemos então identificar os direitos fundamentais como direitos subjetivos pétreos. Naturalmente, com isso não se quer sugerir que fundamental seja sinônimo de pétreo, porque de fato, no nível semântico corrente, fundamental quer dizer essencial, vital, indispensável e pétreo quer dizer resistente, duro, intrépido. O que se postula, no entanto, é que ambos os termos estão, um para o outro, numa relação essencial e determinante, de modo tal que somente serão verdadeiramente fundamentais aqueles direitos subjetivos imunizados contra o constituinte reformador por obra de uma cláusula pétrea” (João dos Passos Martins Neto, op. Cit., p. 87). Assim, “todas as posições subjetivas asseguradas no Título II (Dos direitos e garantias fundamentais) estão abrangidas, o que inclui os direitos implícitos, na forma do § 2º, do art. 5º, entre os quais se contam sobretudo aqueles relativos ao exercício do poder de polícia estatal para fins de proteção dos indivíduos entre si, de modo a prevenir ou reprimir lesões nas relações intersubjetivas a outros bens jurídicos fundamentais (tratados no Capítulo 7), bem como os direitos cuja especificação foi transferida para fora do catálogo propriamente dito, com destaque para os direitos sociais (tratados no Capítulo 8).” (ibidem, p. 93-94).
28
Os direitos fundamentais implícitos estão entre aqueles não escritos, ou seja, aqueles
que não foram objeto de previsão expressa pelo direito positivo (constitucional ou
internacional), e são entendidos como posições fundamentais subtendidas nas normas
definidoras de direitos e garantias fundamentais29.
Como se vê, na esteira do que até aqui se expôs, é de se destacar que os direitos
fundamentais nascem e se desenvolvem com as Constituições nas quais foram reconhecidos e
assegurados30, e este parece o núcleo diferencial nesta conceituação.
Assim, ao fim de aprofundado estudo sobre a concepção dos direitos fundamentais
na Constituição de 1988, e apoiando-se nos ensinamentos de Alexy, Ingo Sarlet31 consegue
delinear um conceito de direitos fundamentais que vem a atender aos parâmetros acima
explicitados, o qual é tomado para o fim aqui almejado, estando o mesmo assim vazado:
Direitos fundamentais são, portanto, todas aquelas posições jurídicas concernentes às pessoas, que, do ponto de vista do direito constitucional positivo, foram, por seu conteúdo e importância (fundamentalidade em sentido material), integradas ao texto da Constituição e, portanto, retiradas da esfera de disponibilidade dos poderes constituídos (fundamentalidade formal), bem como as que, por seu conteúdo e significado, possam lhes ser equiparados, agregando-se à Constituição material, tendo, ou não, assento na Constituição formal (aqui considerada a abertura material do Catálogo).
Estabelecida tal conceituação, passa-se à análise dos elementos constitutivos da
teoria dos direitos fundamentais, o que será feito de forma sucinta, como forma de estabelecer
as devidas conexões com a temática a que ora se propõe neste estudo.
Parte-se da pressuposição de que a garantia e efetividade dos direitos fundamentais
(e também os fundamentais sociais) são coisas desejáveis e fins que merecem ser perseguidos
29
(Ingo Sarlet, op. Cit., p. 87). Em reforço a essa temática: “A ideia de abertura resulta de, por um lado, nenhum catálogo constitucional pretender esgotar o conjunto ou determinar o conteúdo dos direitos fundamentais, aceitando-se a existência de direitos não escritos ou de faculdades implícitas, e, por outro, de se esperarem gerações sucessivas de novos direitos ou de novas dimensões de direitos antigos, conforme as ameaças e as necessidades de protecção dos bens pessoais nas circunstâncias de cada época” (José Carlos Vieira de Andrade, Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976, p. 69) 30 Acompanhando posição de Ingo Sarlet, op. Cit., p. 35. 31 ibidem, p. 77.
29
pelo Estado e pelas próprias sociedades, mas que apesar dessa desejabilidade, muitos deles
ainda não foram reconhecidos ou, muitos até, mesmos reconhecidos, ainda aguardam
ansiosamente por efetividade e eficácia, o que exigirá da sociedade um longo caminho em sua
construção, sempre na perspectiva de vê-los amplamente reconhecidos e devidamente
concretizados, como bem assinalado por Norberto Bobbio32 ao tratar do reconhecimento dos
direitos humanos.
É de se registrar, inicialmente, que a história dos direitos fundamentais coincide com
a história das civilizações e da limitação do poder estatal33, tornando-se a partir de certos
momentos históricos até os dias atuais, uma realidade concreta e uma constante imposição,
ante a necessidade de promovê-los e protegê-los34. Complementando esse entendimento, Ana
Paula de Barcellos35 conclui que “em última análise, tanto o Estado como o Direito existem
para proteger e promover os direitos fundamentais, de modo que tais estruturas devem ser
compreendidas e interpretadas tendo em conta essa diretriz”. Aliás, essa é a premissa sob a
qual se assenta a presente análise e na qual se construirão as ideias relacionadas aos direitos
fundamentais aqui perquiridas.
Não se pode perder de vista que as evoluções ocorridas nas sociedades impuseram,
ao Estado, o estabelecimento de novos modelos jurídico-positivos ou de instrumentos legais
que garantissem a satisfação e realização dessas necessidades sociais36.
32 Norberto Bobbio, A era dos direitos, p. 35. 33 Ingo Sarlet, ibidem, p. 36. 34 Conforme Paulo Thadeu Gomes da Silva, Direitos fundamentais: contribuição para uma teoria geral, p. 13. 35 Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático, p. 104. 36 Para Eros Grau, a explicação dos fenômenos jurídicos há de ser compreendida a partir da consideração das condições históricas da sociedade na qual ele se manifesta (Eros Roberto Grau, Direito posto e direito pressuposto, p. 43). Também se registra que “As grandes conquistas da humanidade resultam, sem dúvida, de lutas ingentes, de afirmação popular contra ao arbítrio, de imposição, por parte da sociedade, de novos comandos legais para regulação das atividades do Estado” (Paulo Lopo Saraiva, Garantia constitucional dos direitos sociais no Brasil, p. 5).
30
Nesse sentido, e considerando que a positivação dos direitos fundamentais é produto
das lutas37 e conquistas sociais ao longo da história das civilizações38, é possível associar
essas conquistas às diversas fases jurídico-constitucionais no estabelecimento desses direitos,
denominados pela doutrina de “gerações” ou “dimensões”39. Deve-se desde logo registrar que
cada uma dessas fases não ocorre de forma dissociada da anterior, tampouco anula ou se
sobrepõe a cada uma delas. Pelo contrário, elas se interligam, mutuamente, e servem de base à
estruturação, sedimentação e ampliação do rol de direitos jusfundamentais já conquistados em
um determinado Estado40. Aliás, a ideia de acumulação dos direitos em cada momento da
história, como reforço aos direitos fundamentais já assegurados nas gerações anteriores é bem
delineado por José Carlos Vieira de Andrade41, quando este elenca, como ideias-força ou
37 Reforçando essa ideia, cabe trazer à baila as palavras do constitucionalista português quando do exame da historicidade dos direitos fundamentais: “É evidente que os direitos fundamentais surgem como resultado da luta histórica e que a sua consagração exprime o poder directo ou indirecto que os seus titulares e beneficiários dispõem na sociedade”, (José Carlos Vieira de Andrade, Os direitos fundamentais na Constituição portuguesa de 1976, p. 109) 38 Esse caráter dinâmico é bem descrito por AWAD quando afirma que “[...] conforme a sociedade vai evoluindo, vão surgindo novas exigências para a satisfação e realização das necessidades básicas do homem. Tal realidade leva a que a transformação dos direitos fundamentais seja dinâmica e acompanhe as evoluções sociais. Os direitos, dessa forma, crescem conforme o desenvolvimento das ambições humanas, evoluindo na medida da expansão cultural do homem. Assim, o homem pode concretizar os mais intrínsecos objetivos, como a liberdade e a igualdade, idealizados por ele. (Fahd Medeiros Awad, Crise dos direitos fundamentais sociais em decorrência do neoliberalismo, p. 30) 39 Defendendo a utilização da expressão GERAÇÕES em substituição à DIMENSÕES: “Tradicionalmente, os direitos fundamentais têm se classificado em ‘gerações’, termo este considerado impróprio por alguns autores, entre os quais se destaca Ingo Wolfgang Sarlet, por entenderem que a expressão ‘dimensão’ seria a mais adequada na medida em que substitui, com vantagem qualitativa, além de lógica, a palavra ‘geração’, na hipótese de significar essa mera sucessão cronológica, importando extinção dos direitos das anteriores gerações, o que não é correto. Não há exclusão ou extinção de direitos, senão, permanência e acumulação. Os direitos das gerações anteriores continuam com eficácia, formando a base sobre a qual se assentam novos direitos. Na verdade, trata-se, essencialmente, de uma confusão de ordem cronológica, não havendo, a rigor, contradição, pois não há, em princípio, discussão em relação à permanência ou ao conteúdo das dimensões ou gerações de direitos”(Fahd Medeiros Awad, Crise dos direitos fundamentais sociais em decorrência do neoliberalismo, p. 32). 40 “No Estado de Direito, a justiça ex-surgida do ordenamento se apresentava apenas formalmente. Garantiam-se as aspirações individuais de liberdade, fundada esta no dualismo Estado-Indivíduo. Impunha-se a maior abstenção do Poder Público como requisito da realização das prerrogativas fundamentais do homem. A essa concepção do Estado de Direito – supremo garantidor das aspirações individuais – acrescentou-se mais recentemente uma outra, qual seja, a de que ao Estado cabe não somente dispor formalmente sobre os direitos e garantias individuais, como também intervir normativa, administrativa e operacionalmente, visando concretamente tutelar as prerrogativas individuais”. (Modesto Souza Barros Carvalhosa, A ordem econômica na Constituição de 1969, p. 65). Reforçando esse argumento: “Gordillo assevera que o traço diferencial entre o pensamento liberal clássico e o do Estado Social (ele chama Estado de Bem-Estar) reside no fato de o primeiro apenas criar obstáculos ao Estado (preceitos negativos), enquanto que o segundo, sem elidir tais preceitos, imprime obrigações positivas (preceitos positivos)” (Paulo Lopo Saraiva, op. Cit., p. 17). 41 Ibid., p. 68.
31
palavras-chave da história evolutiva dos direitos fundamentais, a acumulação, a variedade e a
abertura do rol desses direitos.
Considerando o entendimento supra e porque não é intenção deste estudo o
aprofundamento das discussões acima apontadas, utilizar-se-á a expressão “gerações” para
designar os direitos fundamentais e suas fases jurídico-constitucionais42, ratificando que tal
posicionamento se deve ao fato de se compreender que tal expressão abrange, fortalece e
amplia os direitos fundamentais sedimentados ao longo da história da humanidade, mantendo
a dinamicidade jurídica que os acompanha.
Tendo em vista que as diversas gerações de direitos – descritas e apresentadas pela
Teoria dos Direitos Fundamentais – se destinam, em última análise, a promover e resguardar a
dignidade da pessoa humana, da qual são autênticas manifestações43, não se pode deixar de
fazer uma descrição, ainda que sumária, destas, como forma de situar, a posteriori, a questão
do direito à saúde (a ser enfocada neste estudo).
É bem verdade que as gerações dos direitos fundamentais não podem ser vistas de
maneira estáticas, como se pudéssemos, a exemplo do que ocorre com um fotógrafo, dar
algumas paradas na história da humanidade e, em cada uma dessas paradas, identificar no
espaço e no tempo, a realização de determinados direitos fundamentais, de forma estanque44.
Isso se afirma porque é a dinamicidade da vida que faz os direitos fundamentais não apenas
surgirem – diante das necessidades e das especificações históricas da vida humana -, mas,
acima de tudo, fornecem elementos para que tais direitos sejam viabilizados e concretizados,
mesmo que esse processo leve décadas para se sedimentar.
42 O constitucionalista Paulo Bonavides prefere utilizar a expressão “gerações” (Paulo Bonavides, Curso de Direito Constitucional, p. 571-572). 43 Clarice Sampaio Silva. Direitos fundamentais e relações especiais de sujeição: o caso dos agentes públicos, p. 51. 44 Aliás, João Maurício Adeodato ao tratar das gerações de direito chama à atenção para o fato destas serem construções culturais, relativamente homogêneas para determinados ambientes sociais, embora conclua que “a dificuldade filosófica é enxergar uma escatologia e ontologizar a própria historicidade dos direitos” (João Maurício Adeodato, A retórica Constitucional – sobre a tolerância, direitos humanos e outros fundamentos éticos do direito positivo, p. 177-179).
32
Como a seguir se delineará, as gerações dos direitos fundamentais devem servir de
guia para que a sociedade (e principalmente os estudiosos e aplicadores do direito) possa
verificar o grau de concretização e de constitucionalização dos direitos fundamentais na
história universal, bem como em determinado Estado, identificando os direitos fundamentais
que recebem relevo, ênfase ou prevalência em cada uma dessas fases da história, bem assim
podendo dissecar os elementos característicos desses direitos, a partir das suas finalidades e
objetivos.
Poder-se-ia até dizer que as primeiras fases da história da humanidade registram
fatos e situações que poderiam nos levar a pensar numa completa ausência de garantia de
direitos fundamentais nas sociedades primitivas e, até mesmo nas sociedades pré-modernas.
Mas só se poderia chegar a essa conclusão, se tomássemos, restritivamente, os direitos
fundamentais tão somente a partir da formalização desses direitos em textos legais e/ou
constitucionais. Mas se levarmos em consideração que os direitos fundamentais guardam
intrínseca relação de pertinência com o ser humano, razão única de sua existência,
chegaremos à conclusão de que tais direitos encontram proteção desde os tempos mais
remotos da história das civilizações.
Não se deve afirmar que nesse período da história das civilizações – período
primitivo e pré-moderno - houve, de fato, uma completa ausência de direitos fundamentais, na
medida em que os valores cristãos já eram praticados na vida em comunidade. O que
podemos registrar nessa fase histórico-social é a ausência de direitos fundamentais formais e
materialmente reconhecidos pela ordem jurídica e constitucional.
33
É a Revolução Francesa de 178945 que estabelece os objetivos e fins a serem
alcançados pelos direitos fundamentais: a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Esses são os
pilares sob os quais se estruturam, histórica e universalmente, os direitos fundamentais. E
como bem apontou Bonavides, descoberta a fórmula da generalização e universalidade,
restava apenas fazer com que estes postulados fossem insculpidos na ordem jurídica
constitucional de cada Estado, positivando os direitos e conteúdos materiais ali declarados46.
Com as revoluções liberais, ocorridas por volta do final do século XVIII47, é possível
traçar um marco distintivo para o surgimento dos direitos fundamentais, em cujas ordens
jurídicas passam a constar as denominadas liberdades48, caracterizadas pela garantia de
abstenção estatal (em sua quase totalidade49) na vida privada, econômica e social.
Na verdade, não foram apenas as revoluções liberais que impuseram o
reconhecimento das liberdades como instrumento de realização do homem (enquanto
homem), mas este é fruto de todo o pensamento jurídico (e também político) então vigente
naquela fase da história universal, de modo especial, em função da nova classe social que
atingia o poder governamental: a classe burguesa.
Sob o amparo do constitucionalismo do Estado de Direito e ante a ruptura com o
sistema jurídico antigo-medieval, há uma afirmação de “uma sociedade que descobre a
45 Tratando do constitucionalismo implantado pela Revolução Francesa, Michel Rosenfeld destaca: “A Revolução Francesa foi realmente uma ruptura do ponto de vista de um regime constitucional bem-sucedido. Houve uma ruptura radical com o passado e a ideia da revolução contínua, de que a revolução tem uma vida própria, não tem ponto de parada, simplesmente deve continuar operando a revolução através da revolução”. (Michel Rosenfeld, A identidade do sujeito constitucional e estado democrático de direito, p. 38) 46 Paulo Bonavides, Curso de Direito Constitucional, p. 563. 47 Nesse sentido, Paulo Bonavides chega a afirmar que “A Revolução do Século XVIII, com as divisas da liberdade, igualdade e fraternidade, foi desencadeada para implantar um constitucionalismo concretizador de direitos fundamentais”. (Paulo Bonavides, O Estado Social e sua Evolução Rumo à Democracia Participativa, p. 70) 48 Na esteira do que se afirma: “São liberdades sem mais, puras autonomias sem condicionamentos de fim ou de função, responsabilidades privadas num espaço autodeterminado. (José Carlos Vieira de Andrade, Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 51) 49 Quando aqui se fala em liberdade “em sua quase totalidade”, é que nesse modelo histórico-constitucional, a segurança pública se apresenta como uma obrigação estatal, portanto passível de intervenção do Estado, embora sua natureza jurídica era direcionada, exclusivamente, às funções estatais, dissociada da ideia de “direito dos particulares”. Esse posicionamento encontra-se corroborado pelo constitucionalista português José Carlos Vieira de Andrade, ibidem, p. 53.
34
possibilidade de se instituir sem a escravidão e sem a servidão, a possibilidade de se afirmar
pela primeira vez na história que todos os homens são livres, iguais e proprietários”, em
confronto com a “ideia antiga de que liberdade era precisamente eu domar os meus instintos
internos e ser capaz de não ser escravo da matéria, de ascender, de ter controle sobre os meus
próprios instintos; uma liberdade interna, da qual até mesmo o escravo poderia gozar”50.
Nesse momento histórico-social e dando respostas às necessidades essenciais dos
povos, as Constituições liberais dão relevo aos direitos civis e políticos, com ênfase para os
direitos de personalidade e aos direitos de propriedade, elevando-os, assim, à condição de
direitos fundamentais, demarcando o que se passou a denominar direitos de primeira geração.
Também fruto das transformações sociais e econômicas (advindas da forma de
organização das sociedades liberais), o poder político é reivindicado pelas classes sociais não
proprietárias e o mundo burguês tem de buscar saídas para as exigências do novo modelo
social então em ebulição, marcadamente caracterizado pela necessidade de participação dos
cidadãos no processo jurídico-político, como forma de se garantir a igualdade no contexto das
relações indivíduo-Estado51.
O constitucionalista português José Carlos Vieira de Andrade bem descreve os
direitos políticos designando-os como direitos de participação (Mitwirkungsrechte) na vida
política, bem como fazendo sua distinção relativamente aos direitos de defesa, característicos
das liberdades e garantias tradicionais52. Neste contexto, esse mesmo autor conclui que “os
direitos de intervenção na vida política passam a ser considerados como manifestações
indispensáveis da dignidade do cidadão, que tem de ser igualmente reconhecida a todos os
indivíduos nacionais com um mínimo de idade”53, revelando o acoplamento e alargamento do
âmbito dos direitos fundamentais até então já reconhecidos (os direitos de defesa).
50 Menelick de Carvalho Netto, Público e Privado na Perspectiva Constitucional Contemporânea, p. 11. 51 José Carlos Vieira de Andrade, Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 54. 52 Ibid., mesma página. 53 Ibid. p. 54-55.
35
Aliás, a base ideológica do Estado Liberal assentava-se no pressuposto de que “a
sociedade está integrada por indivíduos dotados de um elevado grau de poder; de adultos,
aptos para o trabalho, capazes de satisfazer por si mesmos suas necessidades e de empreender
projetos úteis para seus interesses”54. Esse pressuposto, como facilmente se verifica, parte de
uma falsa ideia social, na medida em que os detentores do poder – nesse momento histórico a
burguesia – cada vez mais concentrava poderes em suas mãos, pelo fato de serem detentores
dos fatores de produção55, e, mesmo que garantidas as liberdades civis e políticas, uma grande
massa de excluídos se formava às margens dessa mesma sociedade. Homens e mulheres
apenas com nomes e nacionalidades, mas totalmente sem dignidade, especialmente quanto ao
fato de não terem acesso aos diversos bens da vida, já existentes e disponíveis para uma
determinada camada social (os burgueses).
Paulo Bonavides bem apresentou os caracteres desses direitos, ao afirmar que “os
direitos de primeira geração ou direitos da liberdade têm por titular o indivíduo, são oponíveis
ao Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos da pessoa e ostentam uma subjetividade
que é seu traço mais característico”56.
Nesse quadro social, afloram as fragilidades do ser humano, na medida em que,
apesar do Estado Liberal haver cumprido o seu papel de garantidor das liberdades civis, por
meio do denominado dever de abstenção e até de proporcionar o direito de sufrágio aos
cidadãos, as relações sociais conduziram ao subjugo de muitos homens e mulheres, fruto da
ausência de intervenção estatal nas relações privadas. Por sua vez, surgem, claramente,
54 Carlos Bernal Pulido, Fundamentos, Conceitos e Estrutura dos Direitos Sociais: Uma Crítica a “Existem direitos sociais?” de Fernando Atria, p. 144. 55 Em economia “a satisfação das necessidades individuais e coletivas é feita com o consumo de bens e serviços. Esses bens e serviços compõem, juntos, a produção econômica, que é obtida com a combinação de recursos naturais, equipamentos e trabalho. Tais elementos, pelo fato de serem necessários à produção, recebem o nome de fatores de produção e agrupam-se, tradicionalmente, em três itens: • trabalho: é a contribuição do ser humano, na produção, em forma de atividade física ou mental; • capital: é o conjunto de equipamentos, ferramentas e máquinas, produzidos pelo homem, que não se destinam à satisfação das necessidades pelo consumo,mas concorrem para a produção de bens e de serviços, aumentando a eficiência do trabalho humano;• recursos naturais: são os elementos da natureza utilizados pelo homem coma finalidade de criar bens” (César Roberto Leite da Silva e Luiz Synclayr, Economia e mercados: introdução à economia, p. 3). 56 Paulo Bonavides, Curso de Direito Constitucional, p. 563-564.
36
necessidades básicas até então despercebidas tanto do Estado quanto das forças sociais, as
quais revelavam “a situação de carência dos bens indispensáveis para subsistir e para exercer
as liberdades, em que se encontram vastos setores da população dos Estados”57. Assim, a
fome (e com ela, todas as suas consequências – inicialmente as doenças), a escassez de
recursos financeiros, a falta de postos de trabalho, desencadearam uma instabilidade social e
chamava a atenção do poder estatal para a necessidade de tomada de decisão, no sentido de
buscar uma solução para essa problemática, e isso passava, inicialmente, pela cooperação dos
que detinham bens e poder aquisitivo, de maneira que dessa cooperação pudesse se
vislumbrar uma (re)distribuição desses bens com aqueles homens e mulheres, cujas
necessidades básicas impediam ou dificultavam a realização da sua condição humana58.
As ciências sociais, entre elas, o Direito, presenciaram, no final XVIII, o declínio do
mero Estado de Direito do Estado liberal e os primeiros sinais de um novo paradigma político,
social e jurídico, a que se denominou de Estado Social59.
Tratando acerca dos fundamentos sobre os quais se assentaram o Estado Social, em
estudo realizado na década de 50 – prefácio à monografia Do Estado Liberal ao Estado Social,
publicada em 1958, e que foi a tese de concurso de cátedra a que se submeteu o Autor na
Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará -, Paulo Bonavides ressalta que o
principal deles foi a impotência do Estado Liberal em vencer as devastadoras crises e os
imensos problemas de justiça social que se instalaram no seio da sociedade durante e após a II
57 Carlos Bernal Pulido, op. Cit., p. 146. 58 “Essas regras de cooperação desenvolvem o princípio da solidariedade, conformam os direitos fundamentais sociais e prescrevem deveres de atuar que têm um duplo efeito de irradiação. Ditos deveres se projetam em primeiro lugar sobre o próprio afetado – a quem o seu status inicial como pessoa autônoma impõe uma obrigação de auto-ajuda -, e sobre seus familiares e semelhantes, que têm com o afetado um vínculo de solidariedade muito estreito. Sem embargo, se estes deveres positivos não podem ser satisfeitos nesta primeira instância, se traspassam, de modo subsidiário, a todos e a cada um dos membros da sociedade, que se unem no Estado para procurar o correspondente dever prestacional que satisfará o direito social”. (Ibid., mesma página) 59 Menelick de Carvalho Netto bem descreveu os motivos que levaram ao declínio do Estado de Direito: “Aquela ideia de que o Estado mínimo deveria garantir o máximo de liberdade aos indivíduos, do livre curso da sociedade civil, levou a consequências bastante radicais. A exploração do homem pelo homem que ocorreu, conduziu a uma riqueza e a uma miséria sem precedentes na história da humanidade, a toda a reação que já conhecemos bastante e a muita luta social”. (Menelick de Carvalho Netto, Público e Privado na Perspectiva Constitucional Contemporânea, p. 14).
37
Grande Guerra Mundial60. Também destaca o mesmo constitucionalista paraibano (radicado
cearense) a situação de fragilidade e de impotência do Estado Liberal e que a implantação de
um novo modelo de Estado (inclusive constitucional) se fazia necessário, sob pena de se por
em risco a própria ideia de sociedade organizada: “Não podia, pois, a Sociedade liberal achar
outra fórmula de sobrevivência senão a que apontava para os termos participativos,
consensuais e pacíficos de democratização progressiva da cidadania”61.
As palavras de Paulo Bonavides dão o tom do processo de transição entre esses
modelos políticos, com ênfase na participação social, na consensualidade, na pacificidade e,
principalmente no caráter progressivo com que a democracia viria a se constituir no novo
modelo que se propunha para a sociedade, não mais sob o controle exclusivo da classe
burguesa.
A história constitucional demonstra que o Estado Social sobrelevou e ampliou a
tábua dos direitos fundamentais, para alcançar agora os direitos sociais, econômicos e
culturais, como forma não só de ratificar os direitos civis e políticos, mas, também, de fazê-
los efetivos e concretos na vida dos povos. Mas não se trata de uma mera ampliação da tábua
60 “[...] Conservava-se viva a memória da tragédia da II Grande Guerra Mundial: os imensos problemas de justiça social haviam gerado ressentimentos e ódios contra a decrepitude de uma espécie de capitalismo cujos erros graves se acumulavam ao redor de uma forma de Estado impotente para vencer crise de tão vastas proporções qual aquela do Estado liberal, condenado, já, a transformar-se. Deu lugar ao Estado social”. (Paulo Bonavides, O Estado Social e sua Evolução Rumo à Democracia Participativa, p. 73). Reforçando esse entendimento de Bonavides: “O Estado começa a ser cada vez mais solicitado a intervir na vida social e a Administração ultrapassa definitivamente a sua condição aparente de esquadra de polícia e repartição de finanças. Não foi apenas uma intervenção de necessidade, que durasse apenas enquanto as guerras mundiais desarticularam a sociedade privada e mobilizaram os recursos para uma administração marcial. Terminadas as guerras, verifica-se que a sociedade mudou: a paz social não se reduz já à ordem nas ruas, pressupõe e responsabiliza a Administração na caminhada para um Bem-Estar susceptível de medida (<a matter of social engineeering>), com base nos critérios de determinação do futuro que os conhecimentos técnicos vão pondo à disposição das vontades colectivas. Exigem-se do Estado medidas de planejamento econômico e social, uma intervenção directa e dirigente na economia, um sistema complexo de prestações nas várias áreas da vida social. (José Carlos Vieira de Andrade, Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 57-58) 61 Paulo Bonavides, supra, p. 73.
38
de direitos fundamentais, mas de uma mudança de paradigma, a exigir uma mudança total da
visão de mundo e constitucionalismo62.
Os estudiosos da teoria geral dos direitos fundamentais costumam identificar essa
fase como direitos de segunda geração. Apesar de nas constituições europeias (Constituições
Francesas de 179363 e 184864 e da Constituição Alemã de 1849) já se poder inferir
determinadas disposições que se direcionassem para os aqui apontados direitos sociais, coube
à Constituição Mexicana de 1917 a introdução e incorporação dos direitos sociais - como
matéria constitucional -, e à Constituição de Weimar de 1919, a explicitação desses direitos,
com a proclamação de um rol de direitos e garantias individuais nela inserido65, não mais de
forma indutiva ou preocupado apenas com uma matéria em específico, mas, de maneira
expressa e com significação definida no contexto da realidade político-social sob a qual fora
constituído, atingindo vários âmbitos e necessidades sociais66.
Caracteriza-se por outorgar direitos de cunho positivo e liberdades sociais ao
indivíduo, razão pela qual a natureza prestacional desses direitos torna-se relevante. Isto
porque, diferentemente do que acontecia com os direitos civis e políticos, “tais direitos não
62 É o constitucionalismo social, que redefine os direitos fundamentais liberdade e igualdade, materializando‐os, e ao fazê‐lo, amplia a tábua de direitos. Assim é que, na verdade, não temos uma mera edição de uma segunda geração de Direitos, que seriam sociais, coletivos, mas temos uma mudança de paradigma que redefine o conceito de liberdade e igualdade. (Menelick de Carvalho Netto, Público e Privado na Perspectiva Constitucional Contemporânea, p. 14-15). 63 “Na verdade, a afirmação do caráter social dos direitos do homem encontra-se de maneira explícita nos trabalhos do Comitê de Mendicância da Constituinte, que considera, em seu plano de trabalho de 1790, que ‘todo homem tem direito à sua subsistência’. Nesse sentido, o Comitê declara que ali onde se encontrem homens sem meios de subsistência, existe uma violação aos direitos do homem. Num discurso de junho de 1792, Bernard precisa que o direito à subsistência apresenta dois aspectos: o trabalho, se o homem é apto, ou os auxílios gratuitos, se não tem a possibilidade de fazê-lo. Quando a Constituição de 1793 proclama, no artigo 21 de sua célebre Declaração, um ‘direito aos auxílios públicos’ para aqueles que não estão em condições de trabalhar, não faz mais que seguir uma das linhas de evolução presentes desde o início na Revolução de 1789, aquela justamente que associa este direito a uma categoria social, a indigência”. (Carlos Miguel Herrera, Estado, Constituição e Direitos Sociais, p. 8) 64 “É assim que, em 1848, o problema dos direitos sociais concentra-se na discussão sobre um ‘direito ao trabalho’, fórmula de origem fourierista que conhece uma grande popularidade neste momento. O caráter integral do ‘direito ao trabalho’ aparece já no projeto constitucional de 1848, em que são reconhecidas como garantias essenciais a esse direito, entre outras, a liberdade, a liberdade de associação, a igualdade, o ensino gratuito. (Carlos M. Herrera, idem, p. 9) 65 Fahd Medeiros Awad, Crise dos direitos fundamentais sociais em decorrência do neoliberalismo, p. 28. 66 Carlos Miguel Herrera denominou essa fase como “constitucionalismo social”, correspondendo ao movimento de incorporação de cláusulas programáticas de conteúdo econômico e social nos textos constitucionais. (Carlos Miguel Herrera. op.Cit., p. 13)
39
são, em si, direitos contra o Estado (contra a lógica estadual), mas sim direitos através do
Estado”67. Eles estão a exigir, também, comportamentos estatais positivos68, no sentido de um
fazer, de agir ou de concretizá-los. O Estado até então visto como absenteísta, passa à
condição de Estado Intervencionista.
Deve-se destacar, também, que os direitos de segunda geração concebem o ser
humano como integrante de uma dada realidade, não de forma isolada, ou seja, toma-se o ser
humano inserido numa dada comunidade (guardados os âmbitos de atuação de cada forma de
organização político-constitucional). Apesar disso, os direitos fundamentais de segunda
geração, não perdem de vista a condição do sujeito ativo enquanto pessoa individual, eis que
se dirigem ao ser humano nessa condição.
À guisa de exemplo, é possível extrair das cartas constitucionais os seguintes direitos
fundamentais sociais ou prestacionais: direitos à seguridade social (assistência social, saúde e
previdência social), educação, trabalho, segurança, habitação, liberdade de sindicalização,
limites à jornada de trabalho, reconhecimento do salário mínimo, direito a férias, repouso
entre e intra jornada de trabalho, repouso semanal remunerado, entre outros.
Mas a implementação desses novos direitos fundamentais, por não se constituir
apenas de intervenção negativa, por parte do Estado, mas por exigir, exatamente, uma postura
ativa do Estado frente aos reclamos dos direitos e garantias estabelecidas nas cartas
constitucionais - a Constituição Mexicana de 1917, a Constituição de Weimar de 1919 e a
67 José Carlos Vieira de Andrade, Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 59. 68 Quando aqui se fala que os direitos de segunda geração estão a exigir, também, uma postura positiva do Estado, é para se destacar que trata-se apenas de um maior relevo dessa postura estatal, eis que, dada a complexidade dos objetos e interesses envolvidos na seara dos direitos fundamentais, é muito difícil fazer uma separação estanque entre “direitos estritamente negativos” e “direitos estritamente positivos”. Tal posicionamento comunga com o pensamento de Christian Courtis quando assevera: “Não há um traço ou característica comum capaz de definir tanto os direitos civis e políticos como os DESC, como se tais direitos formassem catálogos perfeitamente consistentes de direitos. O esforço para reduzir direitos civis e políticos a ‘direitos negativos’ – ou seja, direitos que requerem abstenção Estatal - e os DESC a ‘direitos positivos’ – ou seja, direitos que requerem ação Estatal – é claramente errado. Todo direito – independentemente de sua classificação como direito civil, político, econômico, social ou cultural – requer tanto abstenção quanto ação Estatal, e não há praticamente direito algum que não demande recursos para ser implementado e protegido.” (Christian Courtis, Cristérios de Justicialidade dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: uma Breve Exploração, p. 490)
40
Declaração Soviética dos Direitos do Povo Trabalhador e Explorado de 191869 -, trouxe sérios
problemas e dificuldades para a implementação e concretização desses direitos. Atualmente,
ainda se vivenciam os reflexos dessas dificuldades, seja pela resistência do Poder Público em
reconhecer os limites dos direitos sociais, econômicos e culturais – especialmente o limite
mínimo -, seja pela conflituosidade que o estabelecimento de tais limites traz aos demais
atores sociais – de um lado, a grande massa de espoliados e excluídos sociais (pobres,
miseráveis, analfabetos, moradores de rua; sem-tetos; sem-terra; idosos; menores e maiores
abandonados, entre outros); de outro, a classe abastada (grandes latifundiários, empresários,
industriais, banqueiros, etc) -, principalmente diante do caráter solidário que essa atuação
estatal está a exigir: erradicação de toda forma de pobreza e miséria; erradicação do
analfabetismo; distribuição de riquezas e bens econômicos; universalização dos direitos e
garantias sociais; amparos assistenciais e sociais, entre outras.
Não se pode perder de vista que “o Estado social nasceu de uma inspiração de
justiça, igualdade e liberdade; é a criação mais sugestiva do século constitucional, o princípio
governativo mais rico em gestão no universo político do Ocidente”70. E a busca incessante de
concretização dos direitos de segunda geração, pela ínsita imposição de justiça, igualdade e
liberdade materiais, concretas e irrecusáveis, levou a sociedade a perceber e a reconhecer que
não adianta se falar em garantia de liberdades, sem que estas venham acompanhadas de
garantias essenciais à própria sobrevivência. Ninguém pode ser livre – tampouco exercitar os
direitos dela decorrentes -, se não tiver, pelo menos a garantia de condições de existência
concreta, contínua e efetiva. Daí o destaque que essa fase histórico-constitucional dá à
solidariedade enquanto valor e realização do ser humano, inserido numa comunidade, razão
pela qual o aspecto coletivo e de coletividade assume a condição diferenciadora das
69 Fahd Medeiros Awad, Crise dos direitos fundamentais sociais em decorrência do neoliberalismo, p. 28. 70 Paulo Bonavides, O Estado Social e sua Evolução Rumo à Democracia Participativa, p. 74.
41
liberdades civis e políticas até então vivenciadas no constitucionalismo liberal, cujas
características eram marcantemente individualistas.
Embora os direitos de segunda geração tenham representado um alargamento ao
catálogo de direitos fundamentais, estes não conseguiram esbarrar (e nem seria crível
imaginar que isso fosse ocorrer) os avanços e os progressos sociais, os quais impunham um
novo paradigma para a solução de problemas então surgidos no seio da sociedade.
Aliás, historicamente, o Estado de Bem Estar também não se consolidou como
Estado concretizador dos direitos e garantias formalmente positivados, pois, apesar de
formalmente prometer saúde, educação, assistência social, tais disposições constitucionais não
passavam de “letras mortas”, quando muito, serviam apenas como objetivos a serem
alcançados pelo Poder Público, com pouquíssima realização e concretude das normas ali
expendidas.
É diante desse desafiador contexto social que emerge um novo constitucionalismo71,
o qual tem sido identificado como constitucionalismo do Estado Democrático de Direito, cujo
novo olhar se volta para a efetividade e concretização dos direitos fundamentais já
consolidados ao longo da história.
Há, aqui também, uma nova mudança de paradigma, uma releitura das disposições
constitucionais de proteção aos direitos fundamentais – direitos e garantias civis, políticas e
direitos sociais, econômicos e culturais -, principalmente pelo fato de que tais dispositivos e
normas se voltavam para o indivíduo (considerado em si mesmo) e as demandas que passam
agora a buscar respostas, se caracterizam pela marca da indeterminação dos indivíduos
envolvidos ou pela natureza difusa dos objetos que eles passam a proteger.
71 A expressão “constitucionalismo” deve ser aqui entendida como um processo histórico de aprendizagem, que permite reconhecer uma linha de permanência (ou de continuidade subjacente) na mudança que podemos localizar na história constitucional, especialmente diante das grandes rupturas (históricas, políticas, jurídicas ou sociais) ocorridas na história universal, com reflexos marcantes sobre o surgimento e fortalecimento dos direitos fundamentais, bem como sobre a formação e organização dos Estados. (Menelick de Carvalho Netto, Público e Privado na Perspectiva Constitucional Contemporânea, p. 3-5).
42
É no contexto de uma clara divisão geopolítica e social do mundo - polarizada entre
nações desenvolvidas e nações subdesenvolvidas ou em fase de precário desenvolvimento72 -,
marcadamente no final do século XX, que exsurgem os direitos de terceira geração, também
denominados de direitos de fraternidade ou de solidariedade73. Os direitos ditos de terceira
geração trazem como elementos caracterizadores – frente aos direitos já reconhecidos direitos
fundamentais de primeira e segunda gerações – a proteção dos direitos do gênero humano
mesmo, ou seja, rompe-se com a visão até então vigente, onde os direitos fundamentais
serviam de garantia e proteção dos direitos do homem, enquanto indivíduo ou até mesmo
enquanto coletividade.
Como bem afirmado por Paulo Bonavides, estes direitos “têm por destinatário
primeiro o gênero humano mesmo, num momento expressivo de sua afirmação como valor
supremo em termo de existencialidade concreta”74.
Na verdade, poderíamos até dizer que, embora seja possível identificar inúmeros
direitos que se enquadram na descrição dos chamados direitos de terceira geração75, essa
tábua de direitos ainda se encontra em processo de maturação e expansão, dado que por
envolver interesses superiores - inclusive alguns até voltados para a garantia do próprio
Estado e de suas relações interestaduais – muitos deles ainda não foram definitivamente
incorporados às cartas de direitos, elaboradas e vigentes em cada Estado. Não obstante,
72 Curso de Direito Constitucional, p. 569 73 A ideia de solidariedade, como caracterizadora dos direitos de terceira geração, liga-se à ideia de direito ao desenvolvimento global, advinda de exposição feita por Etiene-R. Mbaya, direito este cujos contornos foram traçados pelo referido filósofo: a) o dever de todo Estado particular de levar em conta, nos seus atos, os interesses dos outros Estados (ou de seus súditos); b) ajuda recíproca (bilateral ou multilateral), de caráter financeiro ou de outra natureza, para a superação das dificuldades econômicas (inclusive com auxílio técnico aos países subdesenvolvidos e estabelecimento de preferências de comércio em favor desses países, a fim de liquidar déficits); c) uma coordenação sistemática de política econômica”. (MBAYA apud Paulo Bonavides, ibidem, p. 570) 74 Ibid., mesma página. 75 Nesse rol é possível contabilizar: direito à paz, à autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento, ao meio ambiente, à qualidade de vida, à conservação e utilização do patrimônio histórico e cultural, direito de comunicação, direito de informática (ou liberdade de informática), direito à mudança de sexo, direito de morrer com dignidade (Ingo Wolgang Sarlet, A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional, p. 48-50). Nesse mesmo sentido: Paulo Bonavides, Curso de Direito Constitucional, p. 569-570.
43
diversos tratados e documentos internacionais já consagram tais direitos em seus textos76, o
que sinaliza para o direito pátrio, com a possibilidade de albergá-los e reconhecê-los como
fundamentais, alargando e complementando os direitos de terceira geração expressamente
contemplados, em função da abertura material contida no art. 5º, § 3º, da Carta Constitucional
de 1988.
O constitucionalista Paulo Bonavides advoga a existência de uma quarta geração de
direitos77, voltada para o direito à democracia78, o direito à informação e o direito ao
pluralismo. Por sua vez, a doutrina já identifica sinais sociais da existência dos direitos de
quinta geração, os quais seriam os referentes à efetividade e à vida emocional do indivíduo
(mundo virtual e à cibernética)79. Ambas as posições – existência de quarta e quintas gerações
de direitos - ainda despertam enormes controvérsias no que diz ao reconhecimento e
existência dessas novas gerações de direitos fundamentais80, mas em função da complexidade
da controvérsia e pelo fato de não ser este o objeto do presente estudo, deixa-se de aprofundar
a contenda, ao tempo em que se ratifica a conclusão exarada por Ingo Sarlet quando examinou
a questão das gerações ou dimensões dos direitos fundamentais: o mais importante segue
76 À guisa de exemplo: “Os principais temas objeto de tratados ambientais internacionais relacionam-se à poluição transfronteiriça, poluição marinha, mudanças climáticas, contaminação do espaço aéreo, região Antártica, recursos aquíferos comuns, comércio internacional de animais, áreas sob especial regime de proteção, controle de pragas, dentre outros”. Disponível em <http://www.ecclesia.com.br/biblioteca/fe_e_meio_ambiente/principais_conferencias_internacionais_sobre_o_meio_ambiente_e_documentos_resultantes.html#IIA>. Acesso em 21 fev. 2012. 77 Para esse constitucionalista “a globalização política na esfera da normatividade jurídica introduz os direitos da quarta geração, que, aliás, correspondem à derradeira fase de institucionalização do Estado social.” (Paulo Bonavides, Ibid, p. 571). O mesmo autor demonstra a composição do rol de direitos fundamentais: “o Estado social contemporâneo compreende direitos da primeira, da segunda, da terceira e da quarta gerações numa linha ascendente de desdobramento conjugado e contínuo, que principia com os direitos individuais, chega aos direitos sociais, prossegue com os direitos da fraternidade e alcança, finalmente, o último direito da condição política do homem: o direito à democracia”. (Paulo Bonavides, O Estado Social e sua Evolução Rumo à Democracia Participativa, p. 78) 78 “Em suma, a norma democracia, tendo por titular o gênero humano, é, por conseguinte, direito internacional positivo em nossos dias. E o é porque se transforma a cada passo numa conduta obrigatória imposta aos Estados pelas Nações Unidas para varrer do poder, de forma legítima, os sistemas autocráticos e absolutistas que, perpetrando genocídios e provocando ameaças letais à paz universal, se fazem incompatíveis com a dignidade do ser humano”. (Paulo Bonavides, Ibid., p. 79) 79 Fahd Medeiros Awad, Crise dos direitos fundamentais sociais em decorrência do neoliberalismo, p. 36. 80 Para aprofundar essa discussão: Ingo Sarlet, op. Cit, p. 50-52.
44
sendo a adoção de uma postura ativa e responsável de todos, governantes e governados, no
que concerne à afirmação e efetivação dos direitos de todas as dimensões81.
Após essa revisitação pelas diversas gerações dos direitos fundamentais, faz-se uma
retomada do foco para a realidade nacional, partindo de uma análise dos direitos sociais no
constitucionalismo pátrio, para, num momento posterior, poder explicitar a normatividade e
efetividade do direito à saúde, contido na Constituição brasileira em vigor.
2.1 OS DIREITOS SOCIAIS ENQUANTO CATEGORIA DOS DIREITOS
FUNDAMENTAIS NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA DE 1988
Apesar da análise dos direitos fundamentais sociais considerar a base conceitual já
traçada para os direitos fundamentais (lato senso), é preciso não esquecer que, pelo fato da
primeira expressão ser espécie da qual a segunda é gênero, os elementos conceituais dos
direitos fundamentais sociais não absorvem toda a dimensão daquela que possui o gênero do
qual decorre. As principais premissas que necessitam ser desconsideradas dessa conceituação
foram bem delineadas por Paulo Gilberto Cogo Leivas82 ao tratar da matéria: a) nem todos os
direitos a ações positivas são direitos fundamentais sociais; b) o Estado não seria o único
destinatário desses direitos; e c) é necessário distinguir os direitos constitucionais sociais e os
direitos sociais oriundos ou decorrentes de instrumentos normativos infraconsticucionais.
Por sua vez, esse mesmo autor, considerando esses elementos restritivos, bem assim
os contornos da conceituação de direitos fundamentais, terminou por apresentar o seu próprio
conceito de direitos fundamentais sociais, o qual, por albergar as principais dimensões do
referido instituto e visto sob a ótica do texto constitucional pátrio vigente, passa a ser adotado
nesse estudo, cujo teor é o seguinte:
81 Ingo Sarlet, ibid., p. 57. 82 Teoria dos direitos fundamentais sociais, p. 87-88.
45
Apresento, então, a minha definição de direitos fundamentais sociais: eles são, em sentido material, direitos a ações positivas fáticas, que, se o indivíduo tivesse condições financeiras e encontrasse no mercado oferta suficiente, poderia obtê-las de particulares, porém, na ausência destas condições e, considerando a importância destas prestações, cuja outorga ou não-outorga não pode permanecer na mãos da simples maioria parlamentar, podem ser dirigidas contra o Estado por força de disposição constitucional83.
Nesse contexto, o desafio que ora se impõe é identificar, no constitucionalismo
pátrio, a presença dos direitos fundamentais sociais. Essa constatação será feita com a ajuda
da doutrina estrangeira e nacional, sobre a temática.
Após analisar as posições favoráveis e aquelas contrárias ao estabelecimento de
direitos fundamentais sociais prestacionais, Alexy84 chega a sugerir um modelo de validade
albergando ambas as posições, embora tenha afirmado que “a questão acerca de quais direitos
fundamentais sociais o indivíduo definitivamente tem é uma questão de sopesamento de
princípios”. E complementa essa assertiva asseverando que o modelo por ele proposto não é
capaz de determinar quais direitos fundamentais sociais o indivíduo tem, mas que somente a
dogmática de cada um dos direitos fundamentais será capaz de revelar a sua existência e o seu
conteúdo, não obstante apresente as condições que deverão, necessariamente, ser respondidas
para que se possa definir cada um deles como gravados com a garantia de direitos
fundamentais sociais.
É bem verdade que o modelo proposto por Alexy tinha como pano de fundo, o fato
da Constituição Alemã, então vigente, ter trazido, expressa e explicitamente, apenas um
dispositivo garantidor da categoria de direitos fundamentais sociais – direito da mãe à
proteção e à assistência da comunidade (art. 6º, § 4º da Constituição alemã). Daí, para esse
83 Paulo Gilberto Cogo Leivas, op.Cit., p. 89. 84 Para Robert Alexy, “uma posição no âmbito dos direitos a prestações tem que ser vista como definitivamente garantida se (1) o principio da liberdade fática a exigir de forma premente e se (2) o princípio da separação de poderes e o princípio democrático (que inclui a competência orçamentária do parlamento) bem como (3) os princípios materiais colidentes (especialmente aqueles que dizem respeito à liberdade jurídica de outrem) forem afetados em uma medida relativamente pequena pela garantia constitucional da posição prestacional e pelas decisões do tribunal constitucional que a levarem em consideração”. (Robert Alexy, Teoria dos direitos fundamentais, p. 511).
46
autor, tal constatação não conduzia, por si só, à conclusão de que a Constituição alemã não
assegurasse outros direitos subjetivos à prestações sociais. Pelo contrário, abria-se aos
estudiosos e operadores do direito, a “possibilidade de encontrar na Constituição uma série de
pontos de apoio, formulados de forma objetiva, para uma interpretação orientada a direitos a
prestações”85.
Sob essa matriz filosófica – uma interpretação orientada para encontrar no texto
constitucional vigente o apoio à garantia dos direitos sociais -, e antes mesmo da vigência da
Carta Constitucional de 1988, encontramos aqui no Brasil, obra do constitucionalista
norteriograndense, Paulo Lopo Saraiva, na qual o referido autor faz um estudo minucioso
sobre os direitos sociais – enquanto garantia constitucional – nas Constituições brasileiras. E,
por incrível que pareça, os objetivos que o levaram a pesquisar tal objeto constitucional (há
cerca de três décadas) são os mesmos que hodiernamente ainda servem de esteio ao estudo da
temática em questão, quais sejam86: estabelecer os limites constitucionais dos direitos sociais,
a solução para os problemas de sua eficácia (enquanto garantia constitucional), bem como os
avanços e entraves à plena concretização dos mesmos.
Diferentemente dos textos constitucionais até então vigentes no Brasil, a
Constituição de 1988 dedicou o Título II aos direitos e garantias fundamentais. Por sua vez,
disciplinou, expressa e explicitamente, por meio do Capítulo II desse mesmo Título, os
denominados direitos sociais, prescrevendo logo no caput do art. 6º:
São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição87.
85Garantia constitucional dos direitos sociais no Brasil, p. 434-435. 86 São dignas de registro o estabelecimento dos objetivos propostos pelo autor para o estudo dos direitos sociais no Brasil: “(...) entendemos ser de bom alvitre a pesquisa acerca dos direitos sociais no Brasil, ressaltando-se a visão constitucional do problema, a garantia constitucional desses direitos, além dos avanços obtidos, ao longo das mudanças constitucionais”. (Ibid., p. 2). 87 BRASIL, Código Civil; Código Comercial; CPC; CF, São Paulo : Saraiva, p. 15.
47
Os artigos do 7º ao 11 da atual Carta Constitucional brasileira trataram de explicitar
alguns dos direitos estabelecidos no rol descritivo do caput do art. 6º, muito embora não se
possa pensar que o constituinte de 1988 tenha restringido os direitos sociais à apenas aquelas
normas insculpidas no Capítulo II. Pelo contrário, pela amplitude com que foram elencados,
os direitos sociais se encontram espalhados por diversos outros capítulos e artigos do texto
constitucional, o que revela o caráter aberto dos direitos sociais, o seu não-enquadramento
num rol exaustivo e a não-circunscrição apenas às disposições do Título II88.
No entanto, apesar de toda a explicitação do catálogo de direitos fundamentais, o
reconhecimento dos direitos sociais como direito fundamental, especialmente em nosso país,
ainda guarda discussões doutrinárias suscitadas ainda durante a primeira década de vigência
da Carta Magna de 1988: alguns estudiosos não consideravam que os direitos sociais,
estampados na Constituição Brasileira de 1988, fossem enquadrados como direitos
fundamentais, a exemplo de Ricardo Lobo Torres89. Por sua vez, autores de nomeada, como
J.J. Gomes Canotilho, não tiveram dúvidas quanto ao reconhecimento de que os direitos
sociais, econômicos e culturais seriam verdadeiros direitos fundamentais90.
88 Nesse sentido, e pela compatibilidade com a questão aqui posta, em sede constitucional brasileira, merece registro a conclusão a que os doutrinadores alemães chegaram ao examinar a existência de direitos fundamentais sociais estabelecidos fora do catálogo dos direitos sociais na Constituição alemã: “Embora, da cláusula do Estado Social, a jurisprudência e a doutrina alemãs não associem, por si só, direitos fundamentais sociais, uma interpretação dessa cláusula em conjunto com outras normas constitucionais – em especial os direitos à liberdade fática, à vida e à integridade corporal – conduz ao reconhecimento de direitos fundamentais sociais não estatuídos expressamente” (Paulo Gilberto Cogo Leivas, Teoria dos direitos fundamentais sociais, p. 90) 89 Esse posicionamento pode ser sentido em várias de suas manifestações, especificamente quando expressamente consigna: “Os direitos sociais, que não são fundamentais, representam direitos prima facie, que necessitam da interpositio legislatoris para se tornarem definitivos” (O mínimo existencial como conteúdo essencial dos direitos fundamentais, p. 336-337). Carlos Miguel Herrera também registra um dos fundamentos utilizados por aqueles que defendem a não-fundamentalidade dos direitos sociais: “Uma vez definidos como obrigações (prestações) ligadas à atribuição de bens, considera-se que os direitos sociais não são direitos fundamentais no mesmo sentido que os direitos do homem, já que estes, por definição, precedem à sociedade, enquanto que os outros são obrigações que não existem até que se tenha constituído a sociedade, um Estado que permitirá que sejam colocados em funcionamento os serviços públicos destinados a satisfazer as necessidades sociais por meio de prestações materiais”. (Carlos Miguel Herrera, Estado, Constituição e Direitos Sociais, p. 6) 90 (José Joaquim Gomes Canotilho, Constituição dirigente e vinculação do legislador – contributo para a compreensão das normas constitucionais programáticas, p. 367-368). Nesse mesmo sentido: “Ocorre que se insere um dispositivo contemplando esses direitos como verdadeiros direitos fundamentais, introduzindo-o, portanto, no título adequado” (Clèmerson Merlin Clève, A eficácia dos direitos fundamentais sociais, p. 152)
48
Em razão dessas divergências ainda reinantes, necessário se faz identificar a
fundamentalidade dos direitos sociais na Carta Magna vigente no Brasil, adotando-se para tal
finalidade, as premissas e bases jurídico-filosóficas universalmente já sedimentadas, com as
devidas adaptações à realidade constitucional brasileira.
Há uma tendência doutrinária em identificar os direitos sociais como direitos
fundamentais de segunda geração, os quais constituirão verdadeiros direitos de crédito do
indivíduo em face do Estado, instituindo o dever correlato do Estado em prover sua
concretização.
No entanto, essa conceituação estaria restrita ao que tem se denominado direitos
sociais de natureza positiva (prestacional), preponderantes nesta categoria de direitos
fundamentais.
Não obstante, a doutrina reconhece, também, que os direitos prestacionais
apresentam uma dimensão negativa, bem como que existem outros direitos fundamentais
prestacionais contidos na Carta Constitucional brasileira que não se enquadram entre os
direitos sociais, o que leva à conclusão de que os direitos sociais prestacionais (em sentido
estrito), constituem espécies do gênero direito à prestação91.
Nesse mesmo sentido, ratificando o entendimento de que nem todos os direitos a
prestação são direitos sociais, preleciona Fahd Medeiros Awad que tal diferenciação ocorre
em razão desses direitos encontrarem-se ligados “às tarefas do Estado como Estado social, o
qual justamente deve zelar por uma adequada e justa distribuição e redistribuição dos bens
91 Cf. Paulo Gilberto Cogo Leivas, Teoria dos direitos fundamentais sociais, p. 87-89. Também Fernando Atria entende sem relevância a diferenciação entre direitos de primeira e segunda gerações, especialmente tomando-se por referência o caráter negativo ou positivo desses direitos (ATRIA, Fernando. Existem Direitos Sociais? p. 15. Disponível em http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01826630549036114110035/015570.pdf?incr=1. Acesso em 20 maio 2011). Ao tratar dos direitos de segunda geração, Clèmerson Merlin Clève chama à atenção para o fato de que estes também apresentam caráter duplo: “A teoria constitucional brasileira não desconhece que apontados direitos em princípio exigem a abstenção do poder público. Diz-se em princípio, porque o Estado não pode deixar, igualmente, de atuar para proteger os direitos fundamentais, inclusive normativamente (dever de proteção), e de implantar políticas públicas voltadas à afirmação dos direitos que, em sua configuração mais singela, não exigem mais do que a iniciativa do seu titular. Admita-se que é duplo o papel do poder público nesse particular”. (Clèmerson Merlin Clève, op. Cit., p. 152)
49
existentes. Esses direitos não formam um conjunto homogêneo, não podendo ser definidos
restritivamente como direitos a prestações estatais”92.
Assim, dada a heterogeneidade dos direitos sociais93, a análise pretendida no presente
tópico, levará em consideração apenas as disposições encartadas na atual Constituição
brasileira.
Cabe, destacar, a princípio, que a doutrina pátria tem reconhecido a adequada
localização das normas garantidoras dos direitos sociais no texto constitucional vigente,
ressaltando que essa escolha referenda o caráter fundamental desse catálogo de direitos94,
principalmente porque não apenas inova em relação aos textos constitucionais anteriores –
que em regra traziam os direitos sociais no capítulo da ordem econômica e social -, mas
porque tal postura tende a afastar a preponderância do caráter programático de tais normas95.
Os direitos sociais, como dimensão dos direitos fundamentais do homem, são
prestações positivas estatais, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam
melhores condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualdade de
situações sociais desiguais96.
Portanto, sob essa ótica, é perfeitamente compreensível a conclusão de que os
Direitos Sociais enquadram-se entre os direitos e garantias fundamentais consagrados na
Constituição cidadã brasileira (de 1988). Aliás, de há muito não se escuta mais qualquer
92 Crise dos direitos fundamentais sociais em decorrência do neoliberalismo, p. 71. 93 Essa heterogeneidade, como bem reconheceu Ingo Sarlet, decorre da opção do constituinte pátrio em “acolher e conciliar posições e reivindicações nem sempre afinadas entre si, resultantes das fortes pressões políticas exercidas pelas diversas tendências envolvidas no processo Constituinte”. (Ingo Sarlet, A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional, p. 65) 94 Assim conclui Clemerson Cléve, op. cit, p. 152. 95 Na condução desse entendimento: Ingo Sarlet, op. cit., p. 66. 96Essa posição está bem definida por Mariana Filchtiner Figueiredo, Direito Fundamental à saúde – parâmetros para sua eficácia e efetividade, p. 63. Acerca da função jurídico-político dos direitos sociais, assim se manifesta João dos Passos Martins Neto: “O sentido do processo de formação do Estado Social na Europa capitalista no começo do século XX imediatamente indica que, quando entraram em cena, os direitos sociais foram, em sua generalidade, concebidos como mecanismos de compensação de situações humanas de hipossuficiência numa sociedade de classes. Pode-se dizer que essa finalidade intrínseca, ou seja, servir de defesa contra os riscos inerentes a uma condição de fragilidade, é precisamente o fator de semelhança ou ponto de encontro que permite reconduzir todos os direitos sociais em particular a uma unidade elementar, justificando a sua classificação em um grupo a parte dentro da classe maior dos direitos fundamentais” (João dos Passos Martins Neto, Direitos Fundamentais: conceito, função e tipos, p. 166-167).
50
discussão doutrinária ou jurisprudencial acerca desse enquadramento, o qual está aqui
registrado apenas para efeito didático e de reafirmação jurídico-cultural.
No entanto, faz-se necessário traçar o quadro jurídico-constitucional dos direitos
sociais – ainda que de forma não devidamente aprofundada, dada as limitações do objeto do
presente trabalho dissertativo -, buscando dissecar alguns aspectos de extrema relevância para
o estudo ora postulado, quais sejam: a) a fundamentalidade material e formal dos direitos
sociais; b) a abertura material do catálogo dessa espécie de direitos fundamentais; e, c) os
limites de eficácia, efetividade e justicialidade dos direitos sociais na vida jurídica nacional.
2.1.1 A fundamentalidade formal e material dos direitos sociais
É preciso não perder de vista que, pelo fato dos direitos fundamentais sociais
decorrerem dos denominados direitos fundamentais (de segunda geração), absorvem desses
últimos as suas bases fundantes, restando-lhe tão somente a complementação no tocante às
suas próprias especificidades. E no que diz respeito à fundamentalidade (formal e material)
dos direitos sociais a questão passa, necessariamente, pela mesma matriz que reconhece que
os “direitos fundamentais – tanto os direitos sociais como os direitos de defesa da tradição
liberal, os direitos democráticos, o direito à igualdade e os direitos de organização e
procedimento – são uma institucionalização dos direitos humanos no plano constitucional”97.
Dessa forma, segundo Ingo W. Sarlet98, a fundamentalidade formal liga-se ao
direito constitucional positivo e ao constitucionalismo de um determinado Estado, devendo
atender, para sua caracterização, aos seguintes pressupostos: a) já que integrantes da
Constituição escrita, os direitos fundamentais devem estar situados no topo do ordenamento
97 Carlos Bernal Pulido, Conceitos e estrutura dos Direitos Sociais: uma crítica a “Existem direitos sociais?” de Fernando Atria, p. 142. 98A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional, p. 74-75.
51
jurídico do país, ocupando, pois, natureza supralegal; b) pelo fato de serem normas
constitucionais, ficam submetidas aos limites formais e materiais impostos à reforma do texto
constitucional; c) são direitos diretamente aplicáveis e de vinculação imediata das entidades
públicas e privadas. Vê-se, assim, que o principal traço característico da fundamentalidade
formal é que tais direitos fundamentais saem da esfera de disponibilidade dos poderes
constituídos.
Neste particular, cabe ressaltar que, o simples fato da doutrina só admitir como
direitos fundamentais formais, aqueles que forem reconhecidos e integrados à Constituição,
não há como se entender que tal exigência possa ser o único elemento caracterizador de tal
situação (devendo, pois, a positivação ser aqui entendida apenas como elemento
preponderante dessa categoria de direitos fundamentais), principalmente quando o mundo
jurídico se depara, cotidianamente, com textos constitucionais que admitem, expressamente, a
existência de outros direitos fundamentais além dos arrolados em título próprio nela
estabelecido. Confirmando essa tendência, a carta constitucional brasileira vigente “admite
expressamente a existência de outros direitos fundamentais que não os integrantes do
Catálogo (Título II da CF), seja com assento na Constituição, seja fora desta”99.
Por sua vez, a fundamentalidade material caracteriza-se por decorrer “da
circunstância de serem os direitos fundamentais elemento constitutivo da Constituição
material, contendo decisões fundamentais sobre a estrutura básica do Estado e da
sociedade”100. Para se aferir a materialidade das normas fundamentais constitucionais é
necessário perscrutar o seu conteúdo, procurando identificar em cada uma delas, a existência
de decisões fundamentais acerca da estrutura do Estado ou da sociedade, especialmente, o
nível de compromisso da norma analisada para com os bens e os valores voltados à pessoa
humana daquele Estado. Nesse aspecto, cabe ressaltar, ainda, que a fundamentalidade material
99 Ingo Sarlet, ibidem, p. 76. 100 Ingo Sarlet, op. cit., p. 75.
52
dos direitos sociais traz ínsita a ideia de justiça e de legitimação social, na medida em que
essas normas asseguram a tutela de interesses ou carências, cuja agressão causa a morte ou o
sofrimento, ou atinge o núcleo essencial da autonomia101 dos direitos postos.
No entanto, como bem lembrado por Ingo Sarlet102, a tarefa de aferir a
fundamentalidade material (e também formal) dos direitos fundamentais não pode prescindir
de que tal análise deve ser feita sempre levando em consideração uma ordem jurídico-
constitucional específica e concreta, ou seja, vinculada ao texto constitucional de um
determinado Estado. Por isso, é comum que um direito fundamental seja formal e
materialmente reconhecido na Constituição de um país, e esse mesmo direito possa não ter a
mesma fundamentalidade na carta constitucional de outros países103. Aliás, o caráter não-
universalizante dos direitos fundamentais foi bem descrito por Conrado Hesse ao apontar que
“o conteúdo concreto e a significação dos direitos fundamentais para um Estado depende de
numerosos fatores extrajurídicos, especialmente da idiossincrasia, da cultura e da história dos
povos”104.
Superada a questão da inclusão dos direitos sociais no rol dos direitos fundamentais,
outra celeuma que se instalou entre os doutrinadores de escol é quanto ao enquadramento dos
direitos sociais na condição de “cláusula pétrea” e, pois, alcançados pela exegese do art. 60, §
4º, inciso IV, da Carta Constitucional de 1988.
No Brasil, um dos temas ainda não pacificado pela doutrina (e diretamente ligado às
questões de fundamentalidade dos direitos sociais), diz respeito ao fato de os direitos
101 Robert Alexy, Direitos Fundamentais no Estado Constitucional Democrático, p. 61. 102 Op. cit., p. 76. 103 Fazendo referência ao magistério de F. J. Bastida Freijedo, Ingo W. Sarlet aponta que esse tipo de situação decorre da relevância que os constituintes dão a determinados bens ou objetos, ao assim asseverar: “[...] um determinado direito é fundamental não apenas pela relevância do bem jurídico tutelado em si mesma (por mais importante que o seja), mas pela relevância daquele bem jurídico na perspectiva das opções do Constituinte, acompanhada da atribuição da hierarquia normativa correspondente e do regime jurídico-constitucional assegurado pelo Constituinte às normas de direitos fundamentais” (Ingo Sarlet, ibidem, mesma página) 104 Tradução livre do trecho: “El contenido concreto y la significacion de los derechos fundamentales para, um Estado dependen de numerosos factores extrajuridicos, especialmente de La idiosincrasia, de la cultura y de la historia de los pueblos”. (Conrado Hesse, Significado de los derechos fundamentales, p. 85)
53
fundamentais sociais integrarem o núcleo das cláusulas pétreas. O principal elemento de
dissenso entre os doutrinadores encontra-se na literalidade da própria norma constitucional
(art. 60, § 4º, inciso IV), que ao trazer em sua parte final a expressão “direitos e garantias
individuais”, fez suscitar dúvidas quanto à restrição da condição de cláusulas pétreas apenas
ao rol descritivo dos denominados “direitos e garantias individuais”, afastando dessa condição
os demais direitos fundamentais (direitos sociais e direitos políticos).
Os fundamentos da primeira corrente de pensamento, ou seja, daquela que defende
que a interpretação do art. 60, § 4º, inciso IV deva se restringir tão-somente ao rol dos
“direitos e garantias individuais”, tal como insertos no art. 5º da CF/88 foram bem
delimitados por Rodrigo Brandão e podem se restringir aos seguintes: a) adoção de uma
interpretação literal do respectivo dispositivo constitucional; b) somente gozariam do status
de cláusula pétrea as ditas liberdades fundamentais; e c) em razão da heterogeneidade dos
demais direitos fundamentais105.
Em defesa do enquadramento dos direitos sociais enquanto “cláusulas pétreas” e,
destacando a necessidade de uma interpretação sistêmica da Constituição pátria, os
argumentos de Ingo Wolfgang Sarlet106 são suficientes para afastar a aplicação da corrente
contrária:
[...] Tal concepção e todas aquelas que lhe podem ser equiparadas esbarram, contudo, nos seguintes argumentos: a) a Constituição brasileira não traça qualquer diferença entre os direitos de liberdade (defesa) e os direitos sociais, inclusive no que diz com eventual primazia dos primeiros sobre os segundos; b) os partidários de uma exegese conservadora e restritiva em regra partem da premissa de que todos os direitos sociais podem ser conceituados como direitos a prestações materiais estatais, quando, em verdade, já se demonstrou que boa parte dos direitos sociais são equiparáveis, no que diz com sua função precípua e estrutura jurídica, aos direitos de defesa; c) para além disso, relembramos que uma interpretação que limita o alcance das ‘cláusulas pétreas’ aos direitos fundamentais elencados no art. 5º da CF acaba por excluir também os direitos de nacionalidade e os direitos políticos, que igualmente não foram expressamente previstos no art. 60, § 4º, inc. IV, de nossa lei Fundamental.
105 Rodrigo Brandão, São os direitos sociais cláusulas pétreas? Em que Medida?, p. 462. 106 Ingo W. Sarlet, ob. cit., p. 423.
54
Procurando dar resposta ao questionamento – São os direitos sociais cláusulas
pétreas? – Rodrigo Brandão107, após minucioso estudo sobre a matéria, concluiu que embora o
STF não tenha se posicionado de forma positivamente, a decisão proferida por aquela Corte
Constitucional nos autos da ADI nº 1946/DF sugere que o órgão de cúpula do Judiciário
Brasileiro, para dizer o mínimo, simpatiza com a tese de que os direitos sociais integram as
denominadas “cláusulas pétreas”.
Ao concluir que os direitos sociais encartados na CF/88 são fundamentais e pétreos,
João dos Passos Martins Neto108 apresenta os argumentos que entende necessários para se
contrapor ao pensamento adverso e ratificar a condição de cláusulas pétreas dos direitos
sociais brasileiros: a) a literalidade da expressão ‘direitos e garantias individuais’ não exclui,
necessariamente, os direitos sociais (tendo em vista que existem direitos que integram os
direitos sociais e que são gozados ou exercidos, individualmente); b) o Estado Social
representou uma das mais cruciais decisões do poder constituinte originário na elaboração da
Carta Magna brasileira, de forma que sua abolição por meio de emenda, terminaria por
possibilitar ao poder constituinte derivado a revisão da ordem constitucional em sua mais
essência; c) os direitos sociais cumprem uma decisiva função de complementação, à medida
em que postulam tornar reais os objetivos prometidos pelos direitos liberais e políticos,
formalmente proclamados, formando com estes, uma unidade indivisível.
Assim, acolhem-se os fundamentos doutrinários expendidos pela segunda corrente,
para reconhecer que os direitos sociais consagrados na vigente Carta Magna brasileira foram
alçados à categoria de “cláusulas pétreas”, na medida em que são valores que dão amparo ao
Estado Democrático de Direito e estão fundados na dignidade da pessoa humana.
Outrossim, afastando-se das modernas Constituições, a Carta constitucional
brasileira de 88 adotou uma sistemática própria no tocante à incorporação dos direitos sociais
107 Ibid., p. 467. 108 João dos Passos Martins Neto, Direitos Fundamentais: conceito, função e tipos, p. 173-174.
55
em seu texto, preferindo fazer constar numa norma básica os elementos gerais da opção do
constituinte, norma esta que expressamente coloca a medida dos direitos sociais, embora
deixando sua regulamentação sob a dependência de outras especificações trazidas em
disposições constitucionais adicionais (e no mesmo texto)109.
Embora se reconheça que a delimitação geral (e material) dos direitos sociais tenha
sido plasmada no rol estabelecido no art. 6º da Carta Magna de 1988 (educação, saúde,
trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e infância e a
assistência aos desamparados), também não há dúvidas de que, à exceção dos denominados
direitos dos trabalhadores, todos os demais direitos sociais em espécie tiveram a sua disciplina
remetida para fora do catálogo concentrado dos direitos fundamentais. Essa sistemática
terminou por dar relevo à busca e identificação de direitos fundamentais sociais
expressamente positivados no próprio catálogo ou fora dele (quer em outras partes do texto,
quer os insculpidos em tratados internacionais de que o país seja signatário), bem assim
daqueles não-escritos no texto constitucional, os implícitos e os direitos decorrentes do
regime e dos princípios constitucionais.
A análise da ampliação do catálogo de direitos fundamentais (e também sociais) é
feita sob a égide da abertura material dos direitos sociais, a seguir trabalhada.
2.1.2 A abertura material do catálogo dos direitos sociais
Já foi dito nos tópicos antecedentes, que a Constituição brasileira de 1988 foi
bastante pródiga no tocante à positivação e reconhecimento dos direitos fundamentais,
principalmente daqueles denominados direitos fundamentais sociais110. Não obstante o
109 Nesse sentido, são as considerações tecidas por João dos Passos Martins Neto, op. cit., p. 169/170. 110 Em reforço a essa assertiva, importa registrar as exaltações ao texto constitucional vigente no país, feitas por Sarlet: “A amplitude do catálogo dos direitos fundamentais, aumentando, de forma sem precedentes, o elenco dos direitos protegidos, é outra característica preponderantemente positiva digna de referência. Apenas para
56
constituinte pátrio tenha estabelecido uma ampla concentração da matéria atinente aos direitos
fundamentais, reunindo-os e dissecando-os ao longo de todo o Título II da vigente Carta
Magna brasileira, essa concentração não ocorreu, nessa mesma gradação, com os
denominados direitos sociais.
Houve, com os direitos sociais, uma espécie de desconcentração no que diz respeito
ao disciplinamento constitucional das suas espécies, já que somente o art. 7º teve uma
explicitação minuciosa e centralizada (junto aos demais direitos fundamentais individuais) no
texto constitucional111, deixando que os demais bens jurídicos protegidos pelos direitos
sociais terminassem por se espalhar por todo o texto constitucional, o que para João dos
Passos Martins Neto conduziria ao entendimento de que o teor do art. 6º da CF/88 teria
apresentado apenas, de forma genérica, “uma tábua geral dos vários ramos em que os direitos
sociais se subdividem”112, a qual viria a ser complementada pela também denominada
cláusula de reserva113, embora esse disciplinamento tivesse sido remetido para fora do
catálogo reservado aos direitos fundamentais.
Da mesma forma que os direitos fundamentais sociais expressos (art. 6º da CF/88)
tiveram seus detalhamentos deferidos para fora do catálogo de direitos (Título II) na atual
Constituição brasileira, outros direitos sociais têm sido enquadrados (pela doutrina) como
direitos fundamentais, ainda que não constem, expressa e explicitamente, no texto
exemplificar, o art. 5º possui 78 incisos, sendo que do que o art. 7º consagra, em seus 34 incisos, um amplo rol de direitos e garantias fundamentais [...]. Neste contexto, cumpre salientar que o catálogo dos direitos fundamentais (Título II da CF) contempla direitos fundamentais das diversas dimensões, demonstrando, além disso, estar em sintonia com a Declaração Universal de 1948, bem assim com os principais pactos internacionais sobre Direitos Humanos, o que também deflui do conteúdo das disposições integrantes do Título I (dos Princípios Fundamentais)”. (Ingo Sarlet, op. cit., p. 67) 111 “De todos aqueles referidos na norma básica (CRFB-88, art. 6º), somente o direito ao trabalho ganhou desdobramento pormenorizado no interior da declaração jusfundamental propriamente dita (CRFB-88, Título II, do art. 5º ao 17). Todos os demais, na ausência de detalhamento imediatamente subsequentes, tiveram a sua disciplina remetida para fora do catálogo, assim instaurando-se uma situação de dispersão extra-sistemática. A primeira questão que então se coloca respeita à localização constitucional dos redutos normativos concernentemente aos campos deixados em aberto, pois dela depende a identificação dos direitos sociais na suas projeções singulares”. (João dos Passos Martins Neto, op. cit., p. 171) 112 João dos Passos Martins Neto tem denominado essa tábua geral de “norma básica” (op. cit, p. 169). 113 Essa expressão tem sido utilizada para indicar o contido na parte final do art. 6º da CF/88, quando condiciona que são direitos sociais os ali elencados, “na forma desta Constituição” (João dos Passos Martins Neto, op. cit., p. 168-169).
57
constitucional. Esse panorama jurídico-constitucional tem sido possível em sociedades nas
quais tanto as Constituições, bem assim os direitos fundamentais, sejam concebidas como
sistema aberto de regras e princípios ou sistema aberto de normas114.
No Brasil, a admissão e reconhecimento de direitos fundamentais (aqui incluídos os
direitos sociais), explicitamente não positivados na carta constitucional, têm amparo na
disposição contida no art. 5º, § 2º da Carta Constitucional vigente, significando que “na
Constituição também está incluído o que não foi expressamente previsto, mas que implícita e
indiretamente pode ser deduzido”115. As hipóteses elencadas no art. 5º, § 2º da CF/88
conduzem ao que a doutrinária tem chamado de abertura material do catálogo de direitos
fundamentais116.
Após minucioso estudo acerca do significado e alcance do art. 5º, § 2º da CF/88,
Ingo Sarlet conclui que “o citado preceito abrange, além dos direitos fundamentais escritos
fora do catálogo (com ou sem assento na Constituição), os direitos não-escritos, ou, se
preferirmos a terminologia usual, os direitos ‘implícitos’ ou ‘decorrentes’”117. Não obstante,
destaca o eminente professor, que esta conclusão passa, necessariamente, pelo
114 Seguindo as definições dadas por Robert Alexy, Teoria dos direitos fundamentais, p. 123-144. Nesse mesmo sentido: “A análise interpretativa da Constituição não pode, por conseguinte, prescindir do critério evolutivo, mediante o qual se explicam as transformações ocorrentes no sistema, bem como as variações de sentido que tanto se aplicam ao texto normativo, como à realidade que lhe serve de base – a chamada realidade constitucional, cuja mudança é, não raro, lenta e imperceptível ao observador comum” (Paulo Bonavides, Curso de Direito Constitucional, p. 138). 115 Utilizando-se do pensamento de Ingo Sarlet, op. cit., p. 79. 116 “A ideia de abertura resulta de, por um lado, nenhum catálogo constitucional pretender esgotar o conjunto ou determinar o conteúdo dos direitos fundamentais, aceitando-se a existência de direitos não escritos ou de faculdades implícitas, e, por outro, de se esperarem gerações sucessivas de novos direitos ou de novas dimensões de direitos antigos, conforme as ameaças e necessidades de protecção dos bens pessoais nas circunstâncias de cada época”. (José Carlos Vieira de Andrade, Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976., p. 69). Ao tratar da abertura material do catálogo dos direitos fundamentais na Constituição brasileira: “a abertura do sistema de direitos fundamentais, nas palavras de José de Melo Alexandrino, abrange tanto a previsão expressa de uma abertura a direitos não enumerados, quanto a dedução de posições jusfundamentais por meio da delimitação do âmbito de proteção a dedução de normas de direitos fundamentais de outras normas constitucionais”. (José de Melo Alexandrino, A estruturação do Sistema de Direitos, Liberdades e Garantias na Constituição Portuguesa, vol. II, Coimbra : Almedina, 2006, apud Ingo W. Sarlet, ob. cit., p. 86). Nesse particular, tratando da abertura constitucional, André Ramos Tavares assim conclui: “Em suma, a Constituição e a abertura de suas disposições permite que haja uma conjugação entre o real e o normativo, que finda por evitar que a Constituição e suas normas se tornem letra morta”. (André Ramos Tavares, Abertura epistêmica do direito constitucional, p. 23) 117 Op. cit., p. 85.
58
reconhecimento de que, para fins de estabelecimento de um diferencial entre direitos formal e
materialmente fundamentais, o constitucionalismo brasileiro filiou-se a uma ordem de valores
e de princípios. É, pois, a partir dos valores e princípios, democraticamente elevados à ordem
suprema, por uma comunidade, bem assim das circunstâncias sociais, políticas, econômicas e
culturais que serão formulados os conteúdos dos direitos fundamentais materiais daquela
ordem nacional.
Num quadro esquemático descritivo, Ingo Wolfgang Sarlet identifica e divide os
direitos jusfundamentais em dois grupos: o primeiro deles foi subdividido em categorias
distintas, a saber, os direitos fundamentais expressamente previstos no catálogo dos direitos
fundamentais de um país ou em qualquer outra parte do texto de uma Constituição ou ainda,
encartados em tratados internacionais de que o país integra.
Por sua vez, o segundo grupo será composto de duas categorias diversas: os direitos
fundamentais implícitos e aqueles decorrentes do regime e dos princípios118 adotados pelo
Estado brasileiro (na literalidade do art. 5º, § 2º, da CF/88).
É bem verdade que a tarefa de estabelecer os contornos acerca de um conceito
material para os direitos fundamentais é bastante árdua, principalmente em razão de muitos
deles não integrarem o núcleo direto do catálogo de direitos fundamentais, elencados no texto
constitucional pátrio ou integrarem a constituição em disposição fora do catálogo básico ou
ainda, terem reconhecida a materialidade de uma norma constitucional que sequer integra o
texto de uma dada Carta Magna.
Tentando minimizar essa tarefa, Sarlet119 propõe que o intérprete (e aplicador das
normas constitucionais) busque identificar a materialidade das normas fundamentais a partir
118 Princípio aqui deve ser compreendido como definido por Robert Alexy: “O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por conseguinte, mandamentos de otimização,que são caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida devida de sua satisfação não depende somente das possibilidades fáticas, mas também das possibilidade jurídicas. O âmbito das possibilidades jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes” (ob. cit., p. 90)
59
das seguintes diretrizes, entre outras: a) somente podem ser tidos por direitos fundamentais,
em sentido material, aqueles direitos em cuja substância e importância possam ser
equiparados aos constantes do catálogo; b) toda e qualquer posição jurídica não integrante do
catálogo básico, seja ela enquadrada em direitos implícitos ou recorrentes, seja ela encontrada
na própria Constituição (mais fora do catálogo) ou em tratados internacionais (no qual o
Brasil seja signatário), para ser reconhecida como direito fundamental deverá equivaler (no
conteúdo e dignidade) a um dos direitos fundamentais já constante do catálogo de direitos; c)
quando do balizamento dos direitos, nunca perder de vista o grau de importância comunitária
que levou o constituinte a erigir o paradigma à condição de direito fundamental.
Por fim, considerando que o mesmo dispositivo constitucional reconhece a
fundamentalidade material como decorrente da aplicação do regime e dos princípios adotados
na própria Constituição, Sarlet apesar de apresentar um desenho referencial dos princípios do
Estado social e democrático de Direito a que se vinculou a República brasileira, bem como os
fundamentos, objetivos e princípios fundamentais de regência do Estado, termina por
conduzir toda a discussão para o princípio de maior envergadura no contexto dos direitos
fundamentais do constitucionalismo pátrio: o princípio da dignidade da pessoa humana120.
Daí, após passar em revista às diversas construções doutrinárias e filosóficas acerca
do princípio da dignidade da pessoa humana, bem assim estabelecer críticas a algumas formas
de interpretação e de aplicação do referido princípio, na consecução dos direitos
fundamentais, o mestre gaúcho encerra sua brilhante análise, dando relevo não apenas ao
princípio da dignidade da pessoa humana, mas também aos demais princípios constitucionais
fundamentais que sedimentam o Estado social e democrático de Direito, como bem se verifica
no trecho abaixo:
119 Op. cit., p. 74-127. 120 Cf. Ingo W. Sarlet, op. cit., p. 94.
60
Não é difícil, portanto, perceber que, com algum esforço argumentativo, tudo que consta no texto constitucional pode – ao menos de forma indireta – ser reconduzido ao valor da dignidade da pessoa humana. Não é, contudo, neste sentido que este princípio fundamental deve ser considerado, na condição de elemento integrante da matéria dos direitos fundamentais, pois, se assim não fosse (convém ressaltá-lo), toda e qualquer posição jurídica estranha ao catálogo poderia, seguindo a mesma linha de raciocínio, ser guindada (em face de um suposto conteúdo de dignidade da pessoa humana) à condição de materialmente fundamental. O que se pretende com os argumentos ora esgrimidos é demonstrar que o princípio da dignidade da pessoa humana pode, com efeito, ser tido como critério basilar – mas não exclusivo – para a construção de um conceito material de direitos fundamentais [...] É justamente neste contexto que assumem relevo os demais princípios fundamentais, visto que, a exemplo da dignidade da pessoa humana, também cumprem função como referencial hermenêutico, tanto para os direitos fundamentais, quanto para o restante das normas da Constituição. Além de atuarem como fundamento para eventual dedução de direitos não-escritos (mais especificamente dos direitos decorrentes dos quais fala o art. 5º, § 2º, da CF), deverão servir de referencial obrigatório para o reconhecimento da fundamentalidade material dos direitos garimpados fora do catálogo, que, consoante já frisado, devem guardar sintonia com os princípios fundamentais de nossa Carta121.
Assim, estabelecidos os contornos básicos da presente matéria, é possível concluir
que o estudo dos direitos fundamentais sociais se insere neste contexto, tanto pelo fato do
próprio art. 6º da CF/88 ter, deliberadamente, condicionado que seriam direitos sociais os ali
elencados, embora condicionados à forma prevista na Constituição, como também pela
elasticidade e amplitude do objeto dos direitos sociais, frente aos princípios do Estado
democrático de direito.
Porém, diante da constatada existência formal e material de um amplo catálogo de
direitos fundamentais sociais - expressamente contemplados na carta constitucional brasileira
de 1988 (bem assim os implícitos e os decorrentes do regime, dos princípios) -, nada
representará para a plena cidadania se esses direitos não tiverem efetividade. É, pois, esse o
intuito do próximo tópico, avaliar os direitos fundamentais sociais sob a ótica da eficácia e
efetividade.
121 Ingo Sarlet, ibidem, p. 111.
61
2.1.3 A eficácia, efetividade e justiciabilidade dos direitos sociais no direito brasileiro
Apesar das expressões efetividade, eficácia e justicialidade das normas
constitucionais possuírem pontos de convergência, o que muitas vezes enseja algumas
incertezas terminológicas na doutrina e jurisprudência122, cada uma delas possui não apenas
sua própria significação, mas também sua própria funcionalidade dentro do sistema jurídico-
constitucional pátrio.
Como bem arremata Luís Roberto Barroso123, “classicamente, os atos jurídicos
comportam análise científica em três planos distintos e inconfundíveis: o da existência, o da
validade e o da eficácia”. Na esteira desse entendimento, tendo um determinado ato jurídico
preenchido os elementos ou pressupostos de existência e validade, espera-se dele a produção
de seus efeitos ou a irradiação das consequências que lhe forem intrínsecas. Essas noções
podem ser transportadas para o âmbito das normas jurídicas, mantendo-se íntegra em suas
bases terminológicas e de significação.
De maneira didática e para os fins do presente estudo, poder-se-ia estabelecer as
seguintes considerações acerca dos termos acima explicitados: a eficácia de uma norma
jurídica deve ser analisada sob o prisma da sua aptidão e idoneidade para produzir os efeitos
por ela pretendidos, ou seja, não há que se perquirir, nessa análise, se a norma em apreço
produziu, de fato, os efeitos por ela almejados124.
122 Essas incertezas terminológicas são bem identificadas no estudo desenvolvido por José Afonso da Silva (Aplicabilidade das normas constitucionais, p. 63). 123 Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora, p. 246-247. 124 José Afonso da Silva (Aplicabilidade das normas constitucionais, p. 66) bem traduz a ideia de eficácia das normas jurídicas: “Eficácia é a capacidade de atingir objetivos previamente fixados como metas. Tratando-se de normas jurídicas, a eficácia consiste na capacidade de atingir os objetivos nela traduzidos, que vêm a ser, em última análise, realizar os ditames jurídicos objetivados pelo legislador. Por isso é que se diz que a eficácia jurídica da norma designa a qualidade de produzir, em maior ou menor grau, efeitos jurídicos, ao regular; desde logo, as situações, relações e comportamentos de que cogita”.
62
Por sua vez, a efetividade de uma norma jurídica será medida pela extensão ou
produção dos objetivos alcançados125, ou seja, como bem dimensionado por Barroso, “ela
representa a materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e simboliza a
aproximação, tão íntima quanto possível entre o dever-ser normativo e o ser da realidade
social”126.
Um dos debates mais significativos ocorridos na doutrina diz respeito à posição que
as disposições constitucionais relativas a direitos sociais devem assumir perante o mundo
jurídico, qual seja, se esses direitos são exigíveis judicialmente – assumindo a condição de
direitos subjetivos – ou se traduzem apenas disposições com sentido político – orientadoras e
não vinculantes das ações do Poder Legislativo e da administração pública. Essa análise tende
a aprofundar os elementos da eficácia das normas de direito fundamental social.
A leitura do texto constitucional brasileiro revela que existem diversos direitos
sociais ali encartados que não reclamam qualquer regramento posterior – art. 7º, incisos XIII,
XV; art. 8º, III -, podendo tais direitos ser exercidos, diretamente pelos seus beneficiários,
bem assim, possibilitam a exigência destes, ante a omissão do Poder Público ou do particular.
No entanto, outros direitos constitucionais (sociais ou não) estão a exigir a
intervenção do legislador infraconstitucional para seu completo aperfeiçoamento e a plenitude
dos seus efeitos no mundo jurídico. Não se quer com isso dizer que tais direitos, pelo simples
fato de postergarem a sua completa fruição ou a concretude, estejam completamente
desprovidos de efeitos jurídicos, já que todas as disposições constantes do texto constitucional
125 “O fundamento é o valor ou fim objetivado pela regra de direito. E a razão de ser da norma, ou ratio júris. Impossível é conceber-se uma regra jurídica desvinculada da finalidade que legitima sua vigência e eficácia” (Miguel Reale, Lições preliminares de direito, p. 115) 126 Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora, p. 248.
63
são capazes de, por si só, deflagrar efeitos no mundo jurídico, dado que não há norma
constitucional desprovida de eficácia127.
Aliás, examinando a eficácia ínsita a cada norma contida em texto constitucional
brasileiro, Celso Antonio Bandeira de Mello chega a descrever que se as normas
constitucionais não proporcionarem, imediatamente, uma utilidade positiva, proporcionarão e
impedirão comportamentos antinômicos ao que estiverem ali estatuídos128.
O estabelecimento de parâmetros de eficácia das normas de direitos fundamentais,
contidas na Carta Magna brasileira de 1988, tem sido objeto de aprofundamento pela doutrina
pátria, podendo-se afirmar que diversas classificações têm sido propostas pelos estudiosos da
matéria, dentre os quais se destaca o estudo acerca da aplicabilidade das normas
constitucionais. Nele, o eminente José Afonso da Silva129 classifica as normas constitucionais,
quanto à eficácia e aplicabilidade, da seguinte maneira: a) normas diretivas, ou programáticas,
dirigidas essencialmente ao legislador; b) normas preceptivas, obrigatórias, de aplicabilidade
imediata; e, c) normas preceptivas, obrigatórias, mas não de aplicabilidade imediata.
Embora a doutrina venha se firmando cada vez mais no que diz respeito às diversas
classificações quanto á eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais, as discussões
acerca da eficácia das normas de direito fundamental encontram seu núcleo basilar na
disposição contida no artigo 5º, § 1º, da vigente Constituição Federal de 1988, quando o
constituinte fez questão de consignar, expressamente, que “as normas definidoras dos direitos
e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. A partir desse núcleo fundamental é que
127 Nesse sentido José Afonso da Silva, em estudo sobre a aplicabilidade das normas constitucionais chega a afirmar que “(...) não há norma constitucional alguma destituída de eficácia. Todas elas irradiam efeitos jurídicos, importando sempre uma inovação da ordem jurídica preexistente a entrada em vigor da Constituição a que aderem e a ordenação instaurada”. (op. cit., p. 81). 128 Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais, p. 15. 129 O referido autor chega ao final de seu estudo, propondo o seguinte esquema para classificar as normas constitucionais quanto à eficácia e aplicabilidade: 1) normas de eficácia plena e aplicabilidade direta, imediata e integral; 2) normas de eficácia contida e aplicabilidade direta e imediata, mas possivelmente não integral; 3) normas de eficácia limitada, nas modalidades, (a) declaratórias de princípios institutivos ou organizativos; e (b) declaratórias de princípio programático. (op. cit., p. 80-86)
64
serão estruturadas as posições jurídico-constitucionais que buscam enquadrar as normas de
direito fundamental encartadas na Constituição de 1988 sob a égide de sua eficácia.
Clèmerson Clèves entende que, embora os direitos sociais sejam direitos de eficácia
progressiva, isso não significa que eles devam ser considerados como meras normas de
eficácia diferida, programática ou limitada, na medida em que, sua existência determina uma
eficácia mínima, qual seja, uma eficácia negativa130.
Nessa direção, merece ser registrado que já nos idos de 1980 a doutrina pátria já se
preocupava com a eficácia e concretização dos direitos sociais no Brasil, a ponto de Paulo
Lopo Saraiva131 buscar identificar, em seus estudos, uma garantia constitucional para os
direitos sociais, ao tempo em que esse constitucionalista chegou a afirmar que: “Sem a
interpretação adequada dos direitos sociais, é impossível a formulação de uma teoria de suas
garantias. E isto quer dizer: é impossível tornar eficaz o direito”.
Essa preocupação do constitucionalista potiguar encontrou eco no texto da Carta
Constitucional de 1988, onde consta, expressamente, um vasto catálogo de direitos sociais e
de garantias fundamentais, não havendo mais como se afastar a aplicação e eficácia imediata
130 “Se é certo que os prestacionais são direitos de eficácia progressiva, isso não significa dizer que possam ser considerados como meras normas de eficácia diferida, programática, limitada. Certamente não. São direitos que produzem, pelo simples reconhecimento constitucional, uma eficácia mínima. Produzem, antes de tudo, uma eficácia negativa. Por isso, constituem parâmetro de constitucionalidade, invalidando atos, inclusive normativos, posteriores e anteriores à Constituição (por inconstitucionalidade ou por revogação), quando contrastantes. Cuida-se, aqui, do campo da dimensão objetiva. Do ponto de vista subjetivo, são capazes de criar situações jurídicas subjetivas negativas de vantagem. O mais importante, porém, é verificar a eficácia positiva decorrente da disposição constitucional. Ingressemos no campo da dimensão subjetiva. Ora, deferidos direitos criam, desde logo, também, posições jurídico-subjetivas positivas de vantagem (embora limitadas). São posições que decorrem da incidência dos direitos em questão, mas, igualmente, da irradiação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Da confluência dos dois sustenta-se a obrigação do Estado consistente no respeito ao mínimo existencial (não há dignidade humana sem um mínimo necessário para a existência). Ou seja, as prestações do poder público decorrentes do reconhecimento dos direitos fundamentais poderão ser progressivamente incrementadas. Todavia, o mínimo existencial implica, desde logo, o respeito a uma dimensão prestacional mínima dos direitos sociais. O definir esse mínimo não é tarefa fácil. O que se afirma, porém, é que, para a observância desse mínimo (que haverá de ser definido pó meio da disputabilidade processual), pode o cidadão recorrer, desde logo, ao Poder Judiciário, estando o Judiciário, do ponto de vista constitucional, autorizado a decidir a respeito. É evidente que os direitos fundamentais não são absolutos, razão pela qual o juiz deverá sempre de proceder à ponderação dos bens constitucionais, princípios e direitos em jogo, para melhor decidir a questão”. (A eficácia dos direitos fundamentais sociais, p. 159-160) 131 Garantia Constitucional dos direitos sociais no Brasil, p. 2.
65
das normas que compõem o complexo dos direitos fundamentais sociais132 uma vez que as
normas constitucionais que tratam dessa matéria se encontram bem delineadas em seus
objetos133, dependendo, na maior parte, apenas de regulamentação interna ou
administrativa134, por meio dos atos jurídicos ou administrativos admissíveis em nosso
sistema jurídico pátrio.
Nesse sentir, a grande maioria das normas fundamentais sociais já estaria apta a
alcançar os objetivos para elas traçadas pelos constituintes de 87/88, restando delimitar apenas
a extensão e os limites da eficácia real de tais normas, aprofundando o conceito de
efetividade.
A análise a respeito da efetividade dos direitos sociais, não pode deixar de consignar
que o problema de efetividade não se circunscreve apenas aos direitos sociais, em função do
seu já apontado caráter prestacional frente ao Estado. Também os demais direitos que
integram as outras gerações de direitos fundamentais passam por esse problema de
efetividade, embora nos direitos de primeira geração esse déficit de efetividade seja menos
sentido, face à natureza de direitos subjetivos públicos e da ampla exigibilidade que lhe é
reconhecida no mundo jurídico.
Na esteira do afirmado por Barroso, as normas fundamentais sociais não foram
elevadas ao nível constitucional para não serem cumpridas135. Pelo contrário, a
fundamentalidade (formal e material) com que tais normas são gravadas, lhes confere a
132 Cf. Enzo Bello, Cidadania e Direitos Sociais no Brasil: Um Enfoque Político e Social, p. 183. 133 Tratando do aperfeiçoamento das normas de direitos fundamentais na Constituição de 1988, Paulo Bonavides assim preleciona: “os direitos de primeira, de segunda e da terceira gerações abriram caminho ao advento de uma nova concepção de universalidade dos direitos humanos fundamentais, totalmente distinta do sentido abstrato e metafísico de que se impregnou a Declaração dos Direitos do Homem de 1789” e reforça, ‘a nova universalidade dos direitos fundamentais os coloca assim, desde o princípio, num grau mais alto de juridicidade, concretude, positividade e eficácia’” (Paulo Bonavides, Curso de Direito Constitucional, p. 573). 134 Como bem defendido nestas considerações: “Desse modo, acreditamos que as previsões constitucionais sobre vida e saúde versam sobre direito fundamental individual, de natureza social, dotadas de aplicabilidade imediata, até porque, em grande parte de suas previsões, a concretização depende tão somente de atos administrativos ou privados, desvinculadas de edição de lei (e, em assim sendo necessário, o mandamento constitucional potencialmente seria norma de eficácia contida ou relativa restringível).” (José Carlos Francisco, Dignidade Humana, Custos Estatais e Acesso à Saúde, p. 863) 135 Cf. Luís Roberto Barroso, Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora, p. 251.
66
condição de relevantes bens jurídicos e de valores hierarquicamente superiores de uma
determinada sociedade. Em razão dessas características, as normas fundamentais sociais são
incorporadas ao catálogo de direitos, na condição de serem vivificadas no seu maior grau de
eficácia e de efetividade.
Quando se fala em justicialidade dos direitos sociais se quer, sob essa denominação,
examinar, a “possibilidade de pessoas que se consideram vítimas de violações a esses direitos
ajuizarem demandas perante uma autoridade imparcial e requererem remédios legais ou
reparação adequadas em face de uma violação ou ameaça de violação a esses direitos”136.
Duas grandes correntes se formaram em relação à temática da justicialidade dos
direitos sociais: uma a favor e outra contra137. Em minucioso estudo sobre a temática,
Christian Courtis138 aponta para as seguintes objeções, comumente utilizadas para se negar a
justiciabilidade dos direitos sociais: a) direitos formulados de forma vaga e indeterminada, os
quais não oferecem parâmetros inteligíveis sobre o que requerem, razão pela qual não podem
servir de base para julgamento sobre o cumprimento ou não de um dever legal; b) esses
direitos são meramente “aspiracionais” ou “programáticos”, ou seja, devem ser
compreendidos apenas como orientações para a ação legislativa ou administrativa, mas não
como regras ou princípios concretizáveis em juízo.
Não obstante os fundamentos em sentido contrário, a justicialidade dos direitos
sociais vem tomando corpo em nosso país, a ponto da doutrina não mais controverter sobre
essa questão. Isso se deve às constantes e elevadas discussões jurídicas travadas em torno da
questão da viabilidade dos órgãos do Poder Judiciário puderem apreciar e julgar demandas
136 Cf. Christian Courtis, Critérios de Justicialidade dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: uma Breve Exploração. Tradução Roberta Arantes Lopes, p. 487. 137 Conrado Hesse (Significado de los derechos fundamentales, p. 98), ao tratar dos direitos sociais fundamentais, associou-se à corrente dos que defendem que esses direitos não podem ser invocados de forma direta perante o Poder Judiciário, reconhecendo que somente após a regulamentação pelo legislador é que podem nascer pretensões jurídicas bem determinadas e invocáveis antes os poderes públicos. 138 Op. cit., p. 488.
67
judiciais envolvendo direitos sociais relevantes, garantidos pela nova ordem constitucional,
onda que foi denominada de ativismo judicial139.
É, pois, sob esse alicerce jurídico-constitucional que se insere a eficácia, a
efetividade e a justicialidade de cada uma das espécies de direitos sociais explicitamente
elencadas no caput do art. 6º da CF/88. Neste particular, será feito um corte metodológico e
material, voltando-se o presente estudo para uma análise do direito à saúde, na condição de
direito fundamental social.
2.2 O DIREITO À SAÚDE COMO DIREITO FUNDAMENTAL
O Constituinte de 1988 elencou a “dignidade da pessoa humana” como um dos
Princípios Fundamentais do Estado Democrático de Direito, e listou, dentre os Direitos
Sociais (art. 6º, caput), o direito à saúde. Por sua vez, em seu art. 196 e seguintes, dissecou
sua pretensão, ao explicitar que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”, estabelecendo
e criando um sistema público de saúde, integrando uma rede regionalizada e hierarquizada,
constituindo um Sistema Único de Saúde (SUS) como forma de viabilizar essa vontade
constitucional.
A doutrina e a jurisprudência pátrias já sedimentaram o entendimento de que o
direito à saúde (enquanto direito social) integra o rol dos direitos e garantias fundamentais dos
cidadãos e cidadãs brasileiras.
139 Discorrendo sobre o ativismo judicial, aqui traduzido no sentido de justicialidade de direitos constitucionais, Edilson Pereira Nobre Júnior afirma que “o ativismo decorrente da interpretação da Lei Maior é imprescindível para a atualização dos seus princípios” (ativismo judicial: possibilidades e limites, p. 8). Esse mesmo autor, em outro estudo sobre a jurisdição constitucional, chama à atenção para o fato de que “a jurisdição constitucional representa importantíssimo fator para que uma Constituição seja realmente vivida” (Edilson Pereira Nobre Júnior, A jurisdição constitucional e os direitos fundamentais: uma análise em torno do direito ao desenvolvimento, p. 8)
68
Reforçando essa linha de enquadramento dos direitos sociais (e entre eles o direito à
saúde) como direitos fundamentais, Wal Martins140 assim assevera:
A Constituição de 1988 dispõe sobre os direitos econômicos, sociais e culturais, pela primeira vez no rol dos direitos fundamentais e, com o intuito de preordenar meios de tornar eficazes esses direitos, traz em seu bojo diversos dispositivos que versam sobre a matéria, tais como a previsão de fonte de recursos para a seguridade social, com aplicação obrigatória nas ações e serviços de saúde e às prestações previdenciárias e assistenciais (...).
É consabido que as apontadas gerações de direitos fundamentais não consubstanciam
movimentos estanques ao longo da história das civilizações, tampouco são realidades
imediatamente concretizadas na vida do povo brasileiro. Aliás, Norberto Bobbio141 chama à
atenção para a pressuposição de que a garantia e efetividade dos direitos fundamentais (dentre
eles os sociais) ainda exigirá da sociedade um longo caminho em sua construção, sempre na
perspectiva de vê-los amplamente reconhecidos. É nesse sentido que também Clève entende
serem os direitos fundamentais sociais “direitos de satisfação progressiva, cuja realização
encontra-se estreitamente ligada ao PIB (Produto Interno Bruto) e, portanto, à riqueza do
país”142.
O direito à saúde, enquanto direito social à prestação, tem sido considerado como
direito fundamental de cunho procedimental, na medida em que seu exercício ou
cumprimento está a exigir a participação (ou intervenção) dos Poderes constituídos,
140 Wal Martins, Direito à Saúde. p. 24-25. 141 “Partimos do pressuposto de que os direitos humanos são coisas desejáveis, isto é, fins que merecem ser perseguidos, e de que, apesar de sua desejabilidade, não foram ainda todos eles (por toda a parte e em igual medida) reconhecidos; e estamos convencidos de que lhes encontrar um fundamento, ou seja, aduzir motivos para justificar a escolha que fizemos e que gostaríamos fosse feita também pelos outros, é um meio adequado para obter para eles um mais amplo reconhecimento” (Norberto Bobbio, A Era dos Direitos, p. 35-36). 142 A eficácia dos direitos fundamentais sociais, p. 156.
69
especialmente para que lhe sejam traçados os limites para o conteúdo estampado no texto
constitucional143.
Dessa forma, embora a atual Constituição brasileira tenha positivado o direito
fundamental à saúde (enquanto direito social), este direito necessita ser materializado, sob
pena de se parar no tempo e no espaço, mantendo-se preso aos estritos limites do paradigma
do Estado de Bem-Estar Social, onde, como bem ressaltou Menelick de Carvalho Netto, as
“Constituições prometem saúde e educação para todos, mas precisamente o que não há nesse
momento é o acesso de todos à saúde e à educação”144.
É pois, na perspectiva desse olhar concretizador dos direitos fundamentais, que serão
apreciadas as bases jurídico-políticas das políticas públicas de saúde no Brasil, procurando
construir, a partir das diversas fases do constitucionalismo brasileiro, aquelas que melhor
realizem esse direito fundamental social, aqui considerando os aspectos da eficácia e
efetividade.
143 O cunho procedimental dos direitos fundamentais é bem definido por Andrade quando assevera que “Noutras hipóteses, ainda, fala-se de direitos fundamentais de cunho procedimental, para designar aqueles direitos ou faculdades cujo exercício ou cumprimento impliquem a participação de outrem, em especial quando sejam direitos a prestações, que não são pensáveis sem uma organização e um procedimento, ainda que estes possam ser de dimensão e intensidade muito diversas – cabem aqui as liberdades “institucionais”, como a liberdade científica e a liberdade de comunicação social, e a generalidade dos direitos sociais a prestações, como os direitos à saúde, à segurança social e à educação e cultura”. (José Carlos Vieira de Andrade, Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 151-152) 144 Público e privado na perspectiva constitucional contemporânea, p. 15.
70
3 O DIREITO À SAÚDE NO BRASIL ANTES DA CONSTITUIÇÃ O CIDADÃ
DE 1988 – UMA NECESSÁRIA LEMBRANÇA
A história da humanidade revela que todo direito é construído utilizando-se dos
alicerces ou dos escombros da história vivida por determinado povo. Assim, o estudo da
história da saúde pública em nosso país se torna condição sine qua non para a compreensão
do direito à saúde traçado pelo atual texto constitucional brasileiro. Esse percurso histórico
será feito através de um retrospecto nas Constituições e nos normativos que trataram do
assunto, até a implantação do atual Sistema Único de Saúde (SUS).
Mas essa busca deve iniciar, é claro, com o resgate da história político-social da
saúde pública no Brasil, em cada uma das suas principais fases, na medida em que são esses
registros históricos que serviram de base para construir as ideias dos movimentos sociais que
lançaram contribuições e participaram, ativamente, das discussões travadas na constituinte
87/88 e possibilitaram a construção desse modelo de saúde pública no texto constitucional
brasileiro de 1988.
Passados mais de 20 anos da vigência da Constituição brasileira de 1988, é comum
que a sociedade brasileira como um todo – e de modo peculiar as novas gerações de juristas
que se seguiram à promulgação da carta constitucional aqui referida - trate de alguns temas ali
contidos como algo comum e pacífico, sem se aperceber que muitas dessas temáticas foram
alvo de inúmeras contendas e acirrados debates políticos e ideológicos durante o processo
constituinte. E mais, que em função dos acordos, ajustes e concessões de ambos os blocos que
compunham a assembleia constituinte, a redação dos dispositivos constitucionais pode
corresponder a complexos e contraditórios interesses, os quais terminam por estimular a
propositura de ações judiciais com o objetivo de obter do Poder Judiciário os delineamentos e
contornos das normas constitucionais, conteúdos estes cujas delimitações não se tornaram
71
possíveis ao longo do processo de redação e aprovação dos diversos dispositivos
constitucionais que passaram a compor a vigente Carta Magna.
Na verdade, a indeterminação de certos dispositivos constitucionais não se deve tão
somente à falta de consenso entre os então parlamentares constituintes, mas, principalmente a
uma tomada de decisão do próprio constituinte de 1987 em contemplar a novel constituição
com normas de caráter principiológico, as quais estão a exigir intensa carga argumentativa no
campo das ciências jurídicas.
Com o direito à saúde não foi diferente (e continua não sendo). O crescente número
de ações judiciais, que têm por objeto pedido de bens ou serviços de saúde, demonstra a
necessidade de os operadores do direito compreenderem o processo de construção histórico-
social do direito à saúde, possibilitando assim, maior sedimentação e concretização desses
direitos e, acima de tudo, permitindo a construção de elementos críticos para a análise do
fenômeno da judicialização dessa política pública145.
É por esse motivo que a seguir serão lançados alguns fatos históricos e sociais que
contribuíram para que em nosso país o direito à saúde saísse de um estágio de completa
ausência de política pública e pudesse chegar a um requintado e complexo sistema de saúde
pública, que já começa a servir de referencial para outros países do mundo.
É possível traçar o perfil da história da saúde em nosso país levando em consideração
seis períodos distintos da história política brasileira: a) o Brasil colonial e imperial; b) da
Primeira República até 1929; c) da Revolução de 1930 ao período democrático de 1964; d) a
saúde durante a ditadura militar; e) dos movimentos sanitaristas e sociais que antecederam a
145 “Todo direito fundamenta-se em sua historicidade” (MORAIS, José Luis Bolzan de; SCHWARTZ, Germano André D.; PILAU SOBRINHO, Liton Lanes. Análise jurídico-constitucional do direito à saúde, p. 627). “O conteúdo de um direito fundamental não dispensa sua raiz histórica” (Edilson Pereira Nobre Júnior, ativismo judicial: possibilidades e limites, p. 12).
72
Constituição de 1988 à vigência da Lei Orgânica dos SUS (Lei nº 8.080/90); por fim, o f) a
judicialização da saúde e os seus reflexos no sistema de saúde pública brasileira146.
A referência à classificação histórica, acima apontada, é feita em função da estreita
relação com o pensamento político e jurídico, que marcam a história constitucional brasileira
em cada uma dessas fases, ênfase sob a qual se buscará fazer no resgate histórico a seguir
empreendido.
3.1 A SAÚDE NO BRASIL DURANTE O PERÍODO COLONIAL E IMPERIAL
Os primeiros relatos históricos acerca das terras descobertas por Pedro Álvares
Cabral, em 1500, descrevem as impressões do navegador diante dos aspectos geográficos,
paisagísticos e humanísticos encontrados na então terra descoberta. Porém, uma coisa que
chama à atenção dos descobridores é o aspecto saudável dos índios e dos povos nativos. Pelas
descrições, os índios eram robustos e ágeis, parecendo desconhecer qualquer tipo de
enfermidade, especialmente aquelas que já se alastravam pelo continente europeu147.
A descrição feita nos idos de 1500 não demorou muito para ser radicalmente
desmistificada, já que no início do século XVII a colônia portuguesa já recebia a denominação
146 Giovanni Gurgel Aciole (A saúde no Brasil : cartografia do público e do privado, p. 120) divide a história da saúde brasileira em quatro períodos: o primeiro, percorre os anos que vão da Primeira República à Revolução de 1930; o segundo, inicia-se com a ascensão getulista e vai até a experiência democrática que elegeu, sucessivamente, o próprio Getúlio, Juscelino, Jânio e João Goulart; o terceiro, corresponde à longa noite da ditadura militar e o seu ocaso, com a nova República; o quarto período corresponde às últimas duas décadas do século XX. São os anos que iniciam a emergência da Reforma Sanitária e chegam à institucionalização do SUS e a regulamentação do Sistema Privado de Saúde. Outra divisão da história da saúde pública em nosso país é feita por Claudio Bertolli Filho (História da saúde pública no Brasil, p. 4), cujos períodos históricos estão assim definidos: a) Da colonização à República: a raiz histórica da doença; b) Na República o Brasil ‘civiliza-se’; c) A saúde pública na era Vargas (1930-1945); d) A democratização e a saúde (1945-1964); e) A saúde no regime militar de 1964; e e) A saúde nos anos 80 e 90. 147 Cf. Claudio Bertolli Filho, História da saúde pública no Brasil, p. 5. Essa mesma ideia se faz sentir nas palavras de Nísia Trindade de Lima (O Brasil e a Organização Pan-Americana da Saúde: uma história em três dimensões, p. 38) quando analisa a saúde pública no Brasil: As imagens que associam o Brasil a doenças, especialmente às de natureza transmissível, ao contrário do que a primeira impressão pode indicar, são relativamente recentes em nossa história. Até a segunda metade do século XIX, prevalecia a ideia de "um mundo sem mal", caracterizado por uma natureza e um clima benévolos e pela longevidade de seus habitantes, conforme expressão utilizada por Sérgio Buarque de Holanda, em Visões do Paraíso, para se referir às impressões suscitadas pelos textos de cronistas e viajantes.
73
de “inferno”, tendo em vista as poucas chances de sobrevivência de brancos e escravos
africanos nessas terras. Talvez o problema não estivesse no relato inicialmente feito pelos
descobridores - no que respeita à fidelidade às reais condições de saúde do povo indígena que
ocupavam as terras no Brasil -, mas na ausência de reconhecimento histórico de que foram os
brancos e escravos africanos que disseminaram entre os nativos muitas das doenças em farta
ascensão no continente europeu de onde eram egressos. Não se quer com isso afirmar que se
não tivesse ocorrido a miscigenação das raças, em território nacional, o povo nativo estivesse
a salvo de doenças típicas das regiões tropicais e/ou decorrentes das condições de vida que
levavam antes de o Brasil ser colonizado.
Durante o período colonial, as epidemias148 dizimaram muitos índios, colonizadores
e escravos vindos da África. Esse quadro se agravou devido ao reduzido número de
médicos149, à ausência de serviços de saúde eficientes e, principalmente, ao desconhecimento
sobre os agentes causadores das diversas doenças epidêmicas e formas terapêuticas de
tratamento e cura para tais agravos. De uma forma geral, para tratarem de seus problemas de
saúde, a população colonial (aqui tanto ricos como pobres) recorria aos tratamentos
recomendados pelos curandeiros (negros ou indígenas) ou às prescrições dos padres da
Companhia de Jesus. No entanto, diante dos surtos epidêmicos, a população não tinha com
quem contar, pois tanto os médicos quanto os curandeiros quase nada conheciam sobre as
doenças infecto-contagiosas (de modo especial sobre a varíola, que castigou o território
brasileiro no período colonial), salvo a orientação para que ficassem isolados, em ambiente
afastado das pessoas sadias.
Logo após a chegada da Família Real ao Brasil foram instituídas, por determinação
do Reino, as Academias-cirúrgicas nos Estados do Rio de Janeiro (1813) e da Bahia (1815),
148 O termo diz respeito ao “aparecimento e difusão rápida e passageira de uma doença – infecto-contagiosa ou não – que atinge um grande número de pessoas ao mesmo tempo” (Claudio Bertolli Filho, História da saúde pública no Brasil, p. 7) 149 “Em 1746, em todo o território dos atuais estados de São Paulo, Paraná, Mato Grosso do Sul e Goiás, havia apenas seis médicos graduados em universidades européias” (Claudio Bertolli Filho, op. cit. p. 6)
74
as quais, posteriormente, seriam transformadas nas duas primeiras escolas de medicina do
país. Também nesse período foi criada a Junta de Higiene Pública, posteriormente
denominada de Junta Central de Higiene Pública, cujas funções se voltavam mais para
atividades essencialmente administrativas, entre elas: o controle do exercício da medicina, a
fiscalização dos navios nos portos, inspeção da vacinação e polícia sanitária da terra.
A Constituição Política do Império do Brazil150, datada de 25 de março de 1824, não
tratou especificamente do tema saúde (tampouco saúde pública), e seu texto continha apenas a
garantia ao “socorro público”, insculpida no inciso XXXI do art. 179. É fácil constatar que o
termo era por demais amplo e indefinido, sem falar na ausência de qualquer norma que lhe
desse efetividade e/ou exigibilidade. Isto é apenas um reflexo de que o governo imperial
restringia sua atuação apenas à possibilidade e ocorrência de “socorro público”, cuja
característica preponderante era a ocorrência de calamidades públicas.
A história registra que, em 1829, D. Pedro I instituiu a Imperial Academia de
Medicina (integrada pelos principais clínicos que atuavam no Rio de Janeiro) e que uma das
suas atribuições era funcionar como órgão consultivo do imperador nas questões ligadas à
saúde pública nacional151.
Essas medidas administrativas tiveram pouca influência sobre o alastramento dos
casos de varíola por toda a extensão do território brasileiro, bem assim sobre o surgimento de
novos surtos epidêmicos, a exemplo do que ocorreu com o surto de febre amarela, peste
bubônica e febre tifóide.
Mesmo no quadro endêmico generalizado que assolou o Brasil imperial, onde a
doença não escolhia a classe social do indivíduo doente (englobava tanto os ricos como os
pobres), era possível identificar que a busca de tratamento por parte dos ricos, em muito se
150 Mantida a ortografia e forma de escrita originária. 151 Não se pode perder de vista que a ideia de saúde pública, aqui apontada, estava ligada à idéia de “higiene pública” e não de política pública. Nesse sentido: Claudio Bertolli Filho, História da saúde pública no Brasil, p. 8-10.
75
diferenciava da forma de tratamento a que se submetiam as pessoas pobres: os primeiros
buscavam assistência médica na Europa ou em clínicas particulares que começavam surgir na
região serrana do Rio de Janeiro; aos pobres, só restavam os curandeiros negros, até porque
havia, por parte deles, uma recusa generalizada à internação nos raros hospitais públicos e
Santas Casas existentes no país, em função das péssimas condições de higiene desses
estabelecimentos hospitalares e pelo fato das internações serem feitas em quartos coletivos,
local onde eram misturados pacientes de todos os tipos, sendo comum que dois ou mais
doentes dividirem o mesmo leito152.
Desde o início da história da saúde no Brasil a diferença de tratamento entre ricos e
pobres é bem caracterizada. Também é flagrante que a estrutura dos poucos estabelecimentos
de saúde pública ou congênere (Santas Casas de Misericórdia) já sinalizava com o que viria a
se manter ao longo de toda essa história: superlotação de leitos; mistura de diversas
enfermidades; falta de higiene dos hospitais, entre outros problemas que ainda são objeto de
denúncias e de reportagens veiculadas na imprensa nacional.
Como se depreende do até aqui exposto, no Brasil colonial e imperial, os sinais da
existência de uma saúde pública são pouco significantes, tendo prevalecido até o final do
século XIX uma preocupação quase exclusiva com a higiene pública e com a luta incessante
contra as grandes epidemias que assolavam a população brasileira. Nesse período histórico, a
principal preocupação com a saúde, se voltava para o controle sanitário mínimo, tendo
sedimentado no seio da sociedade as ideias de higiene pública, tão necessária ao controle das
epidemias, embora não se pudesse falar em saúde pública, tendência que acompanhou a
administração pública até final do século XIX.
152 Claudio Bertolli Filho, ob. cit., p. 10.
76
3.2 DA PRIMEIRA REPÚBLICA ATÉ 1929: O RECONHECIMENTO DA
NECESSÁRIA INSTITUIÇÃO DE UMA POLÍTICA NACIONAL DE SAÚDE
O marco inicial desse período se dá com a Proclamação da República em 15 de
novembro de 1889, advinda de um golpe militar do Exército, através do qual fora implantada
a República Federativa e o Sistema Presidencialista no Brasil. Trata-se, pois, de um período
de ruptura com o modelo monárquico até então vivenciado em nosso país, onde além da
mudança de forma de governo e de Estado, há também a substituição da mão-de-obra
produtiva – até então predominantemente escrava – por trabalhadores livres e regime de
trabalho assalariado.
O poder político central passava a ser exercido pelos oligarcas, grandes capitalistas
e/ou latifundiários, especialmente aqueles concentrados nos Estados mais ricos da nação (São
Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais). Não custou muito para que os capitalistas percebessem
a necessidade de controle das doenças endêmicas que assolavam a região geográfica onde se
localizavam seus centros de produção, de maneira que a massa de trabalhadores pudesse
produzir mais e melhor, gerando-lhes lucros e riquezas.
Paralelamente ao acelerado crescimento da população urbana - decorrente dos
investimentos feitos pelos oligarcas nas cidades, do estabelecimento de fábricas e indústrias
nas regiões urbanas e da expansão das atividades comerciais, além da crescente massa de
imigrantes que ingressavam no país -, as oligarquias da República Velha buscaram manter a
população livre das doenças prevalentes, utilizando-se para isso da ciência da higiene153.
Em 1892, ocorreu a renovação do Serviço Sanitário paulista, e, em pouco tempo,
essa instituição se “tornou a mais sofisticada organização de prevenção e combate às
enfermidades do país, servindo de modelo para os outros estados”. Mas o trabalho
153 Claudio Bertolli Filho, História da saúde pública no Brasil, p. 16.
77
desenvolvido pelos higienistas, de modo especial na capital paulista e no porto de Santos, foi
possível, graças aos investimentos financeiros feitos pelas oligarquias locais, os quais
possibilitaram a aquisição de equipamentos e a contratação de profissionais especializados
para que a fiscalização pudesse ser efetivada em todas as ruas, casas e nos estabelecimentos
públicos e privados154.
Essa preocupação com o controle das doenças não se dava de modo linear entre os
diversos Estados brasileiros, principalmente porque em muitos deles não havia disposição dos
governantes em investir grandes quantias na busca de saúde pública, razão pela qual os efeitos
das campanhas higienistas são mais visíveis nos principais centros urbanos dos Estados de
São Paulo e Rio de Janeiro, ficando os habitantes das cidades do interior do país a mercê das
avassaladoras enfermidades epidêmicas.
Assim, a situação acima descrita demonstra que apesar de haver uma preocupação de
alguns Estados em resolver o grave quadro de doenças reinantes no início da República
Velha, as soluções apresentadas ainda se mostravam bastante dicomotizadas, isoladas, sem
que houvesse uma condução da problemática de forma integrada, como se as causas ou
origens das doenças tivessem uma relação direta com uma determinada população ou área
geográfica, sem qualquer integração ou correlação com os demais Estados da federação.
As discussões e reflexões, ocorridas no seio do movimento sanitarista, conduziram à
conclusão de que o estabelecimento de uma política de saúde - capaz de fazer frente ao
quadro sanitário existente no País – não poderia deixar de considerar que tais problemas
estavam associados à questão de integração nacional, bem assim do fato de que havia uma
154 idem, mesma página.
78
interdependência gerada pelas doenças transmissíveis155. Esses pressupostos abriram caminho
para o enfrentamento da crise de saúde no país como um problema de caráter nacional,
devendo haver, por parte do governo federal, o estabelecimento de uma tomada de decisão
que conseguisse o apoio dos Estados federados, baseada em plano de erradicação geral das
doenças epidêmicas, embora o plano nacional não pudesse desprezar as experiências exitosas
levadas a cabo pelos higienistas nos Estados do Rio de Janeiro e São Paulo156. Eis a base para
a paulatina construção do que hoje chamamos de política de saúde no Brasil.
Nesse contexto, a questão federativa passa a ter uma influência bastante
significativa, na medida em que, ao executarem a política formalizada no âmbito do Governo
Federal, os Estados-membros perderiam um pouco do poder político local, embora a
centralização da política de saúde pelos órgãos do governo central implicasse, em
contrapartida, a introdução da ideia de que a União se constituía em maior financiador dessas
políticas de saúde, liberando os Estados quase completamente da sua condição de co-
financiadores das políticas de saúde em nosso país – característica que ainda se mantém muito
presente na atualidade.
Para dar impulso ao processo de formalização dessa cultura nacional da área da
saúde, foi criado o Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), no ano de 1920,
vinculado administrativamente ao Ministério da Justiça e Negócios Interiores, o qual fora
dirigido até 1926, pelo médico sanitarista Carlos Chagas. Ficara sob a responsabilidade desse
departamento, a extensão dos serviços de saneamento urbano e rural, além da higiene
industrial e materno-infantil. Pelo fato das propostas oriundas do Departamento Nacional de
155 Cf. BRASIL, Sistema Único de Saúde, 2007, p. 18. Em reforço a essa ideia, interessantes as considerações lançadas por André Campos quando analisando o surgimento da política de saúde no Brasil: “(...) as ‘configurações complexas’ — como as sociedades capitalistas modernas — criam interdependências também complexas e geram consequências que afetam todos os seus membros, sejam eles indivíduos, grupos ou instituições. A resposta aos problemas gerados pela interdependência humana foi dada pelo Estado nacional através das políticas sociais”. (André Campos, Construindo a saúde pública e o Estado nacional na era do saneamento, 1999). 156 Neste período dois personagens tiveram papel estratégico no desenvolvimento destas políticas, Oswaldo Cruz no Rio, e Emílio Ribas em São Paulo. (Lenir Santos e Luiz Odorico Monteiro de Andrade, Vinte Anos de SUS: O Sistema de Saúde no Brasil no Século XXI, p. 780)
79
Saúde Pública terem se visibilizado em caráter nacional, cuja exequilibidade exigia a
integração e atuação das diversas áreas do governo federal (e por consequência, dos governos
estaduais e municipais), a saúde pública brasileira passou a ser considerada como questão
social. Também merece ser destacado o modelo de gestão centralizado de saúde que se
instaurou com o DNSP, modelo esse que levaria muitas décadas para ser suplantado, fato que
só veio formalmente a ocorrer com a aprovação do texto da Constituição de 1988, em cujo
modelo se destacou a descentralização das políticas de saúde no país.
O período de expansão das atividades urbanas estimulou o surgimento das
associações de classes, dos sindicatos e das ligas operárias, cuja atividade principal se
constituía na luta por melhores condições de trabalho de cada categoria representada. No
entanto, essas mesmas organizações coletivas criavam, entre si, um sistema de ajuda mútua,
que tinha por finalidade precípua a cobertura de agravos de saúde dos trabalhadores, a elas
vinculadas, especialmente a assistência médica. A prestação de serviços de assistência
médica, pelas entidades de ajuda mútua, se caracterizava por ser bastante restrita, face aos
limites financeiros que tinham, além de ser organizada de forma estritamente civil e
administrada por uma gestão bipartite (através de representantes das empresas e dos
empregados). Todo esse processo se dava às margens do poder estatal, que na visão liberal
não intervinha nas atividades dos particulares, sem falar que tais entes privados muitas vezes
acabavam por não conseguir se manter financeira e/ou organizacionalmente, com prejuízos
financeiros e de cobertura para os seus co-participantes, que não conseguiam obter qualquer
retorno quanto aos investimentos que haviam feitos nesse sistema.
Um dos principais feitos administrativos ocorrido nesse período foi a criação legal da
Caixa de Aposentadoria e Pensão (CAP) dos trabalhadores das Estradas de Ferro, instituída
pelo Decreto nº 4.682, de 14/01/1923 – conhecida por Lei Elói Chaves-, posteriormente
seguida por outras categorias profissionais. Os trabalhadores dessas categorias, ao constituir
80
Caixa de Aposentadoria e Pensão, se comprometiam a contribuir com um percentual de sua
remuneração, para a formação do fundo de reserva que cobrisse os eventos de suas futuras
aposentadorias ou pensões157. E mais, a lei de regência da Caixa de Aposentadoria e Pensão
dos Ferroviários também tinha previsão de cobertura de “socorros médicos em casos de
doença em sua pessoa ou pessoa de sua família, que habite sob o mesmo tecto e sob a mesma
economia” e “a medicamentos obtidos por preço especial determinado pelo Conselho de
Administração”158. Mas essa assistência médica não era ampla e irrestrita, eis que a
contratação dos serviços médicos era baseada nos valores financeiros destinados à cobertura
dessa obrigação da CAP, que por representar grandes quantias, eram eleitos os tratamentos
das doenças mais comuns e simples, ficando fora dessa cobertura as denominadas doenças
graves.
É bem verdade que as Caixas de Aposentadorias e Pensões apesar de terem por foco
principal o estabelecimento de garantias mais previdenciárias, representaram um avanço na
expansão da cobertura do atendimento à saúde à população brasileira, já que foi a primeira
legislação brasileira a garantir, expressamente, a cobertura não só de tratamento aos seus
filiados e dependentes, mas também incluiu a cobertura de medicamentos. Não se pode perder
de vista que esses benefícios (ainda que com restrição) eram oferecidos apenas aos
trabalhadores ou operários que tivessem seu contrato de trabalho formalizado junto a uma das
estradas de ferro existentes no país, não se aplicando aos demais empregados das outras
157 Eis o que dispunha o Art. 3º do Decreto nº 4.682, de 24/01/1923 (DOU de 28/01/1923): “ Formarão os fundos da Caixa a que se refere o art. 1º: a) uma contribuição mensal dos empregados, correspondente a 3% dos respectivos vencimentos; b) uma contribuição annual da empresa, correspondente a 1% de sua renda bruta; c) a somma que produzir um augmento de 1,5% sobre as tarifas da estrada de ferro; d) as importancias das joias pagas pelos empregados na data da creação da caixa e pelos admitidos posteriormente, equivalentes a em mez de vencimentos e pagas em 24 prestações mensaes; e) as importancias pagas pelos empregados correspondentes à diferença no primeiro mez de vencimentos, quando promovidos ou aumentados de vencimentos, pagas tambem em 24 prestações mensaes; f) o importe das sommas pagas a maior e não reclamadas pelo público dentro do prazo de um anno; g) as multas que attinjam o público ou o pessoal; h) as verbas sob rubrica de venda de papel velho e varreduras; i) os donativos e legados feitos à Caixa; j) os juros dos fundos accumulados” - Ortografia conforme o texto original (http://www81.dataprev.gov.br/sislex/paginas/23/1923/4682.htm. Acesso em 06 de julho 2011) 158 Cf. art. 9º, itens 1 e 2, da Lei Elói Chaves. Transcrição, conforme o texto original.
81
categorias. A Lei Elói Chaves159 tem sido considerada por alguns como o berço da
previdência social em nosso país, embora a previsão legal de criação da Caixa de
Aposentadoria e Pensão tivesse natureza jurídica de direito privado e administração
diretamente por um Conselho de Administração, sem qualquer previsão de participação direta
do Poder Público, o que conduz à ideia de ente privado.
Não obstante, o Estado brasileiro continuava voltado para a busca de solução para os
agravos da população que ainda sofria com o alastramento das doenças transmissíveis e
pestilenciais, agora sob uma visão da doença como coletiva e de âmbito nacional, e tendo
como arrimo as teorias bacteriológicas (da Escola Pasteuriana), que se contrapunham às
teorias miasmáticas.
Dessa forma, poder-se-ia afirmar, que a partir das primeiras décadas do século XX
surgem preocupações com a institucionalização de um sistema de saúde no Brasil, embora
esse modelo ainda não estivesse bastante desenhado, nem se pudesse compará-lo ao que viria
a ser um verdadeiro modelo de saúde pública, mas as características de tal política estão bem
delineadas por Giovanni Gurgel Aciole160 ao fazer um quadro analítico da situação desse
período:
A esta altura, convém deixar mais uma vez assinalado os traços característicos que marcam os primórdios das preocupações com a Saúde em nosso País, a partir das primeiras décadas do século XX. A primeira delas é a prevalência de uma visão higienista como foco principal de uma saúde pública, e que não indo muito além do campanhismo sanitarista apregoa um leque de ações centradas da educação e na higiene. A segunda delas é que o Estado, como executor de políticas e de prestação de serviços, encontra-se completamente incipiente, sendo marcante o fato de que a definição das políticas públicas para a área estará sob domínio dos setores oligárquicos e dos intelectuais dirigentes. Uma terceira, mas não última, característica, é a da organização médica perseguindo a definição de suas bases profissionais e explicitando a defesa de um papel para a ação estatal, e a segmentação do mercado, reservado como um território livre e a salvo de qualquer interferência externa, em que a medicina se afirmará com sua cientificidade e ética próprias. Além destas características, o que marca a saúde, a partir da década de 1920 é o nascimento de uma organização que constitui a base da previdência social de nossos dias. [...]
159 O Decreto legislativo nº 5.109, de 20/12/1926 estendeu os benefícios da Lei Eloy Chaves aos empregados portuários (Sérgio Pinto Martins, Direito da Seguridade Social, p. 28). 160 A saúde no Brasil: cartografia do público e do privado, p. 135.
82
Todo esse cenário também teve influência na tomada do poder político pela
denominada Revolução de 1930, através da qual Getúlio Vargas assume a Presidência da
República e impõe mudanças na forma de administração do país, especialmente com a
implantação de políticas de âmbito nacional, marcantemente centralizadas e com total
desprezo pelas políticas regionalizadas.
3.3 A SAÚDE PÚBLICA: DA REVOLUÇÃO DE 1930 AO PERÍODO
DEMOCRÁTICO DE 1964
Os indicadores sócio-políticos e econômicos que se apresentavam no início do
Governo Provisório, instalado pela Revolução de 1930, dão a tônica das medidas político-
administrativas adotadas pelo então Presidente da República, Getúlio Vargas: a) a ruptura
com o modelo agroexportador e, consequentemente, a ascensão da burguesia industrial e
exportadora ao comando do poder central; b) crescente industrialização no país, tendo por
consequência, o redimensionamento da população urbana e o surgimento de postos de
trabalhos na área industrial; c) submissão dos países a uma crise econômica mundial; d)
movimentos de insurgência no âmbito nacional, especialmente, comandados pelos oligarcas
que haviam perdido o poder.
Para fazer frente a todo esse cenário, o governo provisório adotou um pacote de
medidas de controle, cujo enfoque se dava na centralização das questões políticas e
econômicas, além de voltar-se para o estabelecimento de políticas sociais que visavam atender
os anseios das diversas classes operárias em ascensão, medidas estas consideradas populistas,
pois não tinham por finalidade a assunção dessas prestações pelo Estado, mas como forma de
dar sustentação ao projeto do grupo político que comandava o país.
83
A área sanitária, como não poderia ser diferente, fez parte desse conjunto de
reformas trazidas pelo Governo Provisório de Getúlio Vargas. Uma das primeiras inovações
nesse setor se deu com a criação do Ministério da Educação e da Saúde Pública (MESP),
instalado em novembro de 1930, pasta ministerial ocupada pelo advogado Francisco Luís da
Silva Campos. O recém-criado Ministério anunciava como compromisso na área da saúde
“zelar pelo bem-estar sanitário da população”161. Em função disso, foi determinada uma
ampla remodelação dos serviços sanitários do país, mas tal medida se caracterizou pela
efetiva centralização político-administrativa do setor saúde, em consonância com o
pensamento político que deu suporte à administração de Getúlio Vargas, marca que se
manteve vinculada ao sistema público de saúde brasileiro e que ainda mantém reflexos no
atual modelo de gestão pública do setor162.
Já no início de sua gestão, Getúlio Vargas ampliou o sistema de Caixas de
Aposentadorias e Pensões (instituídas pela Lei Elói Chaves), estendendo-a a diversas outras
categorias profissionais163. Mais essa extensão se deu não sob a forma de instituição de
natureza estritamente particular, mas agora sob o controle político destas pelo Poder Público.
Foram criadas diversas Caixas de Aposentadoria e Pensões, as quais viriam a constituir,
posteriormente, os denominados Institutos de Previdência.
A exemplo do que já ocorria com a CAP dos Ferroviários, havia a previsão de
cobertura de assistência médica e de medicamentos para os filiados às novas Caixas de
Aposentadoria e Pensão, mas essa prestação de serviços era limitada e irregular, dada a
capacidade contributiva dos seus associados, assim como as condições da CAP em suportar os
161 Cf. Claudio Bertolli Filho, História da saúde pública no Brasil, p. 31. 162 “O fato é que, a partir da década de 1920, com a criação do Departamento Nacional de Saúde Pública, começou a ser gestado o modelo centralizado de longa sobrevivência na área. Após a criação do Ministério de Educação e Saúde, em 1931, e principalmente com a reforma implementada pelo ministro Gustavo Capanema, em 1941, a estrutura verticalizada e centralizadora encontraria expressão com a criação dos Serviços Nacionais de Saúde”. (Nísia Trindade Lima, O Brasil e a Organização Pan-Americana da saúde: uma história em três dimensões, p. 45) 163 O Decreto nº 20.465/31 reformulou a legislação das Caixas. Estas na época já eram extensivas a outros serviços públicos, como aos telégrafos, água, portos, luz etc. (Sérgio Pinto Martins, Direito da Seguridade Social, p. 28)
84
custos com esses benefícios. Os operários tuberculosos, por exemplo, apesar de contribuírem
para a seguridade social, não tinham facilidade para receber os serviços médicos-assistenciais,
após a confirmação da doença, já que para eles os institutos previdenciários só ofereciam duas
opções: receber uma parte do salário e tratar da saúde por conta própria, ou submeter-se ao
isolamento em sanatórios localizados nas regiões montanhosas (longe do convívio social),
abrindo mão de qualquer ajuda econômica164.
A expansão das CAPs implicou numa crescente melhoria na prestação de serviços
médicos e assistenciais, já que uma expressiva camada da população empregada passou a
contar com tais prestações, inclusive essa garantia estimulava os empregados a se filiarem às
suas respectivas Caixas de Pensão, pois só assim passariam a ter cobertura da assistência
médica quando do seu adoecimento ou dos seus dependentes.
É de se ressaltar, outrossim, que esse processo não contava com o incremento
financeiro da Administração Pública, eis que o financiamento dessas prestações sociais eram
oferecidas pelas Caixas de Pensão, com verbas próprias, oriundas da co-participação dos
empregados e empregadores.
Mas, em função das crises econômicas e da política de centralização desenvolvida
por Getúlio Vargas, as Caixas de Aposentadorias e Pensões sofreram influxos nesse período,
a começar pela intervenção do Estado em seu modelo de gestão e, paulatinamente, começa a
ocorrer a transformação das Caixas em Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), o que
veio a se dar, inicialmente, com a criação do Instituto de Aposentadoria e Pensão dos
ferroviários e empregados em serviços públicos. A principal diferença entre os Institutos e as
Caixas de Aposentadorias e Pensões estava no fato da primeira abranger categorias
profissionais165, ao passo que as segundas eram estruturadas por empresas.
164 Cf. Claudio Bertolli Filho, História da saúde pública no Brasil, p. 33. 165 O Decreto nº 22.872/33 criou o Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Marítimos (IAPM). O Decreto nº 24.273/34 instituiu o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comerciários (IAPC), reorganizado pelo Decreto nº 2.122/40. O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários (IAPB) foi criado pelo Decreto nº 24.615/34.
85
Apesar dos avanços obtidos na área da assistência médica – em função da larga
abrangência das CAPs e dos IAPs166 - a população brasileira ainda era vítima de diversas
doenças, principalmente as infecto-contagiosas e as parasitárias, muitas delas em função do
baixo nível educacional do nosso povo. O analfabetismo dificultava o entendimento das
mensagens dos higienistas, veiculadas nos nascentes meios de comunicação surgidos no
Brasil, e para tentar contornar esse problema, as campanhas de educação popular foram
realizadas por meio de folhetos e cartazes, com destaque para as ilustrações coloridas neles
constantes, facilitando, assim, com que essas mensagens pudessem ser compreendidas,
mesmo pelos que não soubessem ler.
A administração pública investiu nos cursos de formação de enfermeiras sanitárias,
cuja principal missão era percorrer os bairros, visitando todas as famílias carentes, ensinando-
lhes as regras básicas de higiene, ao tempo em que faziam o encaminhamento dos doentes
mais graves aos hospitais públicos ou filantrópicos167. Essa experiência pode ser considerada
a base para o que atualmente objetiva o Programa Saúde da Família (PSF)168, já que guardada
a realidade histórica de cada um deles, ambos os programas se voltam para a educação da
população para evitar os agravos de saúde, bem assim acompanhar, tratar e encaminhar as
pessoas doentes, para um efetivo tratamento em centros especializados.
A Constituição de 1934 tratou do tema da saúde pública, mas os dispositivos que a
ela se referia se restringiram a colocar essa questão como matéria legislativa ou norma
A Lei nº 367/36 cria o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários (IAPI). O Decreto-lei nº 3.832/41 estendeu os benefícios do IAPM aos armadores de pesca e dos pescadores e indivíduos empregados em profissões conexas com a indústria da pesca. O Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Empregados em Transportes de Cargas (IAPETC) foi criado pelo Decreto-lei nº 775/38. (Sérgio Pinto Martins, Direito da Seguridade Social, p. 28-30) 166 Esse quadro é bem traçado por Giovani Gurgel Aciole (A saúde no Brasil: cartografia do público e do privado, p. 146) quando assevera que, apesar da expansão dos IAPs “a cobertura da população economicamente ativa não passava dos 23% entre as décadas de 1950 a 1960”. 167 Essa questão encontra-se bem explicitada por Claudio Bertolli Filho, op. cit., p. 35. 168 A Saúde da Família é entendida como uma estratégia de reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde. Estas equipes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes atuam com ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais freqüentes, e na manutenção da saúde desta comunidade. (http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=149. Acesso em 08 julho 2011).
86
programática, eis que aludiu à competência concorrente da União e dos Estados para cuidar da
saúde e da assistência públicas (art. 10, II, CF/34), assim como repassou à legislação
trabalhista a garantia da assistência médica e sanitária ao trabalhador e à gestante (art. 121, §
1º, h, da CF/34). Nessa mesma linha, foi dada incumbência à União, aos Estados e aos
Municípios para instituírem medidas legislativas e administrativas que assegurassem amparo
aos desvalidos, impedissem a propagação de doenças transmissíveis e estabelecessem
cuidados para com a higiene mental (art. 138, alíneas “a”, “f” e “g”).
No início do Governo Getulista o modelo de saúde pública adotado era o da
medicina germânica, embora esse paradigma tenha sido substituído pelo modelo norte-
americano no início da Segunda Grande Guerra Mundial (1942), em função da posição
assumida pelo Estado Brasileiro de se aliar aos Estados Unidos na luta contra a Alemanha,
Itália e Japão169.
Embora a história da saúde pública brasileira tenha registrado a redução das mortes
por enfermidades epidêmicas na era Vargas e a expansão do atendimento médico-hospitalar,
muitos brasileiros enfermos continuavam a morrem sem receber a ajuda médica necessária170.
Isto se deveu ao fato de que muitos dos doentes não eram vinculados a nenhum emprego
formal ou não trabalhavam para algumas das categorias beneficiárias das CAPs ou IAPs,
gerando uma massa de desvalidos, sem qualquer garantia constitucional dos poderes públicos.
Nesse caso, essa massa de excluídos era encaminhada aos poucos estabelecimentos
hospitalares públicos e/ou entidades filantrópicas, para que, havendo vaga, fosse-lhe
dispensado o tratamento e os medicamentos necessários à recuperação do seu quadro de saúde
debilitado.
169 Nesse sentido: “A partir de então, houve uma imediata alteração do teor dos conselhos sanitários. Eles passaram a adotar o povo norte-americano como modelo, inclusive no setor da saúde pública. Os educadores brasileiros divulgavam a organização dos serviços médicos e os hábitos da população norte-americana como garantia de bem-estar físico e mental”. (Claudio Bertolli Filho, História da saúde pública no Brasil, p. 36-37) 170 Conforme bem historiado por Claudio Bertolli Filho, ibidem, p. 38.
87
A dualidade existente na execução das políticas públicas de saúde no Brasil getulista
era flagrante: cabia ao Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio tratar das ações e
serviços de saúde para os que se encontrassem vinculados à área previdenciária, ficando para
o Ministério da Educação e Saúde Pública, “a prestação de serviços para aqueles identificados
como pré-cidadãos: os pobres, os desempregados, os que exerciam atividades informais, ou
seja, todos aqueles que não se encontravam habilitados a usufruir os serviços oferecidos pelas
caixas e pelos serviços previdenciários”171.
Nessa modelagem, a atuação do MESP na área da saúde pública focalizou-se no
combate às endemias172 e moléstias tropicais, com a finalidade de garantir o esforço de
guerra173 e para a expansão capitalista, posteriormente ratificada pelas ações de saneamento
urbano e rural, higiene industrial e higiene materno-infantil. É nítida a caracterização dessas
ações como de natureza assistencial-preventiva, sem que houvesse uma preocupação com a
saúde do indivíduo e da coletividade, enquanto seres humanos que necessitavam de
assistência médica tanto profilática quanto curativa.
Para atender as demandas relacionadas às questões de saúde, o sistema
previdenciário brasileiro optou, inicialmente, pela compra dos serviços de saúde a prestadores
privados. Essa prática administrativa acabou por tornar as prestações e os serviços de saúde
pública (bem assim os gestores públicos) reféns dos prestadores da iniciativa privada, com
diversas implicações negativas tanto à gestão pública desse setor, quanto ao controle,
fiscalização e acompanhamento dos serviços contratados e prestados à população.
171 Cf. BRASIL, Sistema Único de Saúde, 2007, p. 22. 172 “Tradicionalmente foram classificadas como doenças endêmicas aquelas que apresentavam entre suas características epidemiológicas a variação espacial, isto é, uma distribuição espacial peculiar associada a determinados processos sociais ou ambientais específicos. Do mesmo modo eram classificadas como epidêmicas as doenças que apresentavam variações no tempo, isto é, apresentavam concentração de casos em períodos determinados, sugerindo mudanças mais ou menos abruptas na estrutura epidemiológica”. (Luiz Roberto Barradas Barata e José Diniz Vaz Mendes, Uma proposta de política de assistência farmacêutica para o SUS, p. 334) 173 Nesse sentido, Giovani Gurgel Aciole (A saúde no Brasil: cartografia do público e do privado, p. 46) destaca que as regiões Norte e Nordeste passaram a ter importância: a primeira em função do extrativismo da borracha, a segunda, em função da sua posição estratégica de alguns Estados, principalmente a cidade do Natal/RN, durante a II Grande Guerra Mundial (escolhida para sediar a base militar americana no país).
88
Seguindo a sistemática das constituições anteriores, a Constituição Brasileira de 1937
se restringiu a estabelecer a competência legislativa para o tema da saúde, sem o
estabelecimento de qualquer garantia quanto a esse direito174.
Somente a partir da década de 1940 é que os IAPs começam a investir em uma rede
de prestação de serviços próprios, passando a construir, comprar e gerir hospitais e serviços
ambulatoriais próprios. No entanto, tal iniciativa era incipiente175 e incapaz de cobrir todos os
serviços assumidos junto ao crescente número de beneficiários dos IAPs, razão pela qual os
serviços próprios passam a conviver, paralelamente, com a aquisição dos serviços junto aos
prestadores privados.
Enquanto a previdência social se preocupava em criar uma rede própria de atenção
aos seus filiados e dependentes, cabia ao Ministério da Educação e Saúde a preocupação com
a saúde voltada para a coletividade. Para atingir tal fim, fora implantada uma rede de unidades
sanitárias, espalhadas por diversos municípios, cujo modelo se consubstanciava nas práticas
da prevenção. Por força desse modelo de saúde coletiva escolhido, fora instituído, em 1942, o
Serviço Especial de Saúde Pública (SESP), cuja função principal era a difusão das práticas
sanitárias preventivas, especialmente aquelas voltadas para evitar as endemias, epidemias e
174 Eis os dispositivos que tratam do tema da saúde na Constituição de 1937: Art 16 - Compete privativamente à União o poder de legislar sobre as seguintes matérias: [...] XXVII - normas fundamentais da defesa e proteção da saúde, especialmente da saúde da criança. Art 18 - Independentemente de autorização, os Estados podem legislar, no caso de haver lei federal sobre a matéria, para suprir-lhes as deficiências ou atender às peculiaridades locais, desde que não dispensem ou diminuam as exigências da lei federal, ou, em não havendo lei federal e até que esta regule, sobre os seguintes assuntos: [...] c) assistência pública, obras de higiene popular, casas de saúde, clínicas, estações de clima e fontes medicinais; 175 Basta verificar o pequeno número de estabelecimentos hospitalares e ambulatoriais próprios até 1964: “Fruto dessa política, a partir de 1945 e até 1964, os Institutos enveredarão pela compra e construção de hospitais e ambulatórios próprios. Especialmente nos anos de 1948 a 1949, são inaugurados quatro ou cinco além de dezenas de ambulatórios por todo o país, até atingir, em 1964 uma rede de serviços próprios composta de vinte e dois hospitais em atividade, quinhentos e cinco ambulatórios e vinte e oito consultórios médicos suficiente para atender 22% da população brasileira[...]” (Giovani Gurgel Aciole, A saúde no Brasil: cartografia do público e do privado, p. 144-145)
89
pandemias, além da inclusão de uma preocupação para com a saúde materno-infantil176. Nesse
modelo ganha importância o visitador sanitário.
As ações de saúde pública desempenhadas pelos profissionais do SESP, bem como o
modelo de saúde pública adotado por esses profissionais, foram alvo de severas críticas por
parte, principalmente, dos sanitaristas desenvolvimentistas, que “viam nos métodos de
trabalho das unidades do SESP uma rendição do problema da produção de saúde à dimensão
assistencial-preventiva, quando deveria estar alocada na questão econômica de distribuição de
renda, sendo menos dependente de serviço de saúde”177.
Apesar da Carta Constitucional brasileira de 1946 ser considerada como a primeira
constituição social do país, este marco normativo supremo não garantiu o direito à saúde.
Aliás, sequer tratou expressamente da matéria específica do direito à saúde. Ao tratar da
temática, o texto constitucional em comento se restringe a prevê a competência legislativa da
União para legislar sobre normais gerais de defesa e proteção da saúde178, o que em nada
avançava ante a posição dos constituintes anteriores179.
Ante esse quadro constitucional, poder-se-ia fazer o registro de alguns fatos
históricos, ocorridos no Brasil de 1950 a 1964, que contribuíram para o processo de
sedimentação da idéia de saúde enquanto direito: a) a criação do Ministério da Saúde, em
1953, pela divisão do antigo Ministério da Educação e Saúde; b) a vigência da Lei Orgânica
176 Em 1942, o epidemiólogo americano Charles Morrow Wilson, encarregado de avaliar as condições sanitárias nos países da América Latina, concluiu que “entre as causas de óbitos na América Latina persistiam as moléstias infecto-contagiosas e as parasitárias”. (Claudio Bertolli Filho, História da saúde pública no Brasil., p. 37) 177 Cf. Giovani Gurgel Aciole, A saúde no Brasil: cartografia do público e do privado, p. 147. 178 Art 5º - Compete à União: [...] XV - legislar sobre: a) [...] b) normas gerais de direito financeiro; de seguro e previdência social; de defesa e proteção da saúde; e de regime penitenciário; 179 Nesse sentido, Paulo Lopo Saraiva (Garantia constitucional dos direitos sociais no Brasil, p. 67) registra os elementos comparativos entre as Constituições de 1934 e 1946: “Não é mais admissível que as regras constitucionais continuem inócuas, conforme a crítica de Fábio Lucas, ao comparar as Constituições de 1946 e 1934. Sentenciou o mestre brasileiro: O espírito é o mesmo e a inocuidade das medidas sociais prometidas é idêntica. Prometem-se mundos e fundos, mas tão-só naqueles artigos sem força mandamental, que funcionam apenas como vaga aspiração e que, na verdade, não passam de meros aforismos, meras frases de bom senso, mas inteiramente desprotegidas de providências legais que lhes dêem execução”.
90
da Previdência Social (LOPS - Lei nº 3807 de 26/8/1960), posteriormente regulamentada pelo
Decreto nº 48.959, em setembro do mesmo ano, uniformizando as regras entre os IAPs; e c) a
realização da III Conferência Nacional de Saúde, em 1963.
O primeiro fato não trouxe, por si só, muitos reflexos diretos e imediatos para a
construção de uma nova concepção de saúde pública, na medida em que apesar de passar a ser
um Ministério exclusivo, não houve uma mudança de concepção na ideia de política de saúde
pública, que continuava a ser vista como obrigação estatal voltada para as atividades
assistenciais-preventivas e de controle de epidemias180. Ainda restava bastante determinada a
dicotomia entre saúde pública e assistência médica, seja no tocante ao estabelecimento de
políticas públicas, seja no tocante à organização administrativo-funcional e de financiamento.
As atividades tidas como saúde pública eram organizadas, desenvolvidas e financiadas no
âmbito do Ministério da Saúde, enquanto o disciplinamento, execução e financiamento da
assistência médico-ambulatorial ou médico-hospitalar continuava a cargo da previdência
social.
Uma primeira tentativa de unificação dos diversos Institutos de Aposentadorias e
Pensões (IAPs), existentes no país, veio com a promulgação da Lei Orgânica da Previdência
Social (LOPS - Lei nº 3807 de 26/8/1960) - posteriormente regulamentada pelo Decreto nº
48.959/60 -, a qual, ao tempo em que impôs aos diversos institutos previdenciários a
uniformização dos tipos de benefícios concedidos e a forma de contribuição para o
financiamento do sistema, também determinou os procedimentos administrativos a serem
seguidos por esses institutos. Essa saída legislativa foi o meio-termo encontrado para que não
180 Giovani Gurgel Aciole (A saúde no Brasil: cartografia do público e do privado, p. 148) consegue descrever bem essa dicotomia: “Essa diferença era decorrente das noções dicotômicas entre ações médicas e ações sanitárias já presentes, para cujas premissas a primeira era uma atividade curativa presa à possibilidade de intervenção sobre a doença, incapaz, portanto, de contribuir, por si, para a promoção e proteção da saúde, como seria, por excelência, a segunda. Dicotomia nunca suficiente ou pacífica, de modo que irá verificar-se, então, ora um predomínio do projeto de um modelo ‘vertical permanente especializado’, ora do projeto de uma ‘rede local permanente’ [...]. Essa distinção entre ações médicas e ações sanitárias ficava menos evidente quando se tratava de pensar a organização tecnológica e assistencial das ações. A diferença residia na maneira como colocavam o centro de saúde”.
91
ocorresse a efetiva unificação dos IAPs, face às disparidades normativas e de oferecimento de
benefícios entre os diversos institutos previdenciários existentes. No entanto, esse normativo
não foi capaz de resolver esses problemas, principalmente porque manteve a organização
institucional segmentada dos IAPs, que permaneciam ligados às condições financeiras e
forças sócio-políticas das categorias laborais que lhes davam origem181.
Em dezembro de 1963, com o apoio do governo de João Goulart e após 10 anos da
criação do Ministério da Saúde, realiza-se a III Conferência Nacional de Saúde, conclave que
reuniu profissionais da área da saúde, representantes governamentais das diversas esferas de
governo e representantes da sociedade civil, cujos temas em debate deixam transparecer as
bases filosóficas para o estabelecimento de uma política mais global para a área da saúde no
Brasil: a) avaliação crítica da situação sanitária da população brasileira; b) rediscussão da
distribuição de responsabilidades médico-sanitárias entre os Entes Federativos; c)
descentralização executiva dos serviços de saúde, com a efetiva participação dos municípios
na solução dos problemas de saúde pública, ou seja, a municipalização da saúde pública; e d)
a fixação de um Plano Nacional de Saúde182.
Observa-se da proposta temática levada à III Conferência Nacional de Saúde que as
discussões na área da saúde já haviam superado a ideia campanhista de saúde pública,
avançando-se para o estabelecimento de uma proposta de saúde pública mais abrangente,
inclusive com o envolvimento dos demais entes federativos, especialmente com a efetiva 181 Essa conclusão encontra-se bem delineada por Otávio Azevedo Mercadante ao tratar da matéria: “A vigência da LOPS, contudo, não corrigiu todas as distorções originárias da multiplicidade de institutos: após sua promulgação ainda prevalecia uma falta de uniformidade na distribuição dos gastos entre os diversos programas. Por exemplo, enquanto, o instituto dos bancários despendia 33% do seu orçamento em assistência médica, no instituto dos industriários esse percentual era inferior a 8,5%. Entretanto, havia ociosidade nos serviços de saúde oferecidos por certos institutos, sem que os trabalhadores pertencentes a outras categorias pudessem ter acesso a eles”. (Otávio Azevedo Mercadante et al., Evolução das políticas e do sistema de saúde no Brasil, p. 238). 182 Reforçam esse entendimento: “O Ministro da Saúde, Wilson Fadul, em 1963, na III Conferência Nacional de Saúde já levantava a bandeira da Municipalização dos Serviços de Saúde. O pensamento de uma reforma no Sistema de Saúde foi crescendo.” (Gilson de Cassia Marques Carvalho, O momento atual do SUS... a ousadia de cumprir e fazer cumprir a lei, p. 9). “A III Conferência Nacional de Saúde não faz mais parte, a rigor, de um período campanhista, por apresentar um perfil de propostas de planejamento mais global para a área de saúde, inclusive atribuindo a instâncias locais o poder de encontrar suas soluções [Jane Dutra Sayd; Luiz Vieira Júnior; Israel Cruz Velandia, Recursos Humanos nas Conferências Nacionais de Saúde (1941-1992), p. ,172). Também tratado em (BRASIL, Sistema Único de Saúde, 2009, p. 23-24).
92
participação dos municípios na solução dos problemas vinculados à saúde pública desse país.
Não obstante, as conclusões dessa conferência não conseguiram ser implementadas pelo
Governo de João Goulart, em função da tomada do poder político pelos Militares em 1964.
3. 4 A SAÚDE DURANTE OS GOVERNOS MILITARES
Esse período da história política brasileira se notabilizou pelos traços característicos
dos governos militares que assumiram o poder político, através de um golpe militar,
permanecendo sob o comando do país por mais de 20 anos. Esse período é denominado de
“ditadura militar”, pela ruptura com o processo de construção democrático-social que vinha se
dando no período de 1937 a 1964, pela forte centralização do poder político – autonomia do
Poder Executivo e limitação dos demais Poderes Públicos - e, principalmente, pela grave
situação sócio-econômica criada e deixada por esses governos.
As primeiras décadas de gestão dos governos militares foram marcadas por uma
extrema e radical repressão às ideologias contrárias ao regime implantado, além de um
intenso controle sobre os movimentos sociais e dos meios de comunicação, o que implicou
em um processo de centralização política como jamais se tinha visto no país. Os meios de
comunicação foram utilizados como instrumento de reforço às bases ideológicas do regime
ditatorial, sem falar que era através deles que os governos militares difundiram as ideias de
supostos avanços do Estado brasileiro, com campanhas que reforçavam e mantinham o poder
político então vigente.
Também o setor saúde não deixou de sofrer os efeitos e as consequências desse
modelo político/ideológico adotado e implementado durante o período em que o país fora
governado pelos militares. Aliás, é possível perceber, através de registros históricos, que as
bases fundamentais para o surgimento da atual concepção de saúde pública brasileira são
93
estabelecidas - ainda que por vias transversas - ao longo desse período, na medida em que as
imposições político-filosóficas do regime conduziam ao refreamento dos movimentos sociais,
as crises sócio-econômicas (entre elas a crise do setor da saúde) impulsionavam os atores
sociais a formatarem um projeto social que se contrapusesse àquele modelo político então em
vigor.
Mas antes é necessário traçar um panorama histórico dos principais acontecimentos
que marcaram a saúde pública ao longo desse período, principalmente porque estes fatos têm
relação muito estreita com os princípios e diretrizes do atual sistema público de saúde.
Ao longo da ditadura militar o Ministério da Saúde teve uma drástica redução nos
seus orçamentos (o que já não era suficiente anteriormente), ocasionando uma piora
substancial na prestação dos serviços de saúde coletiva, já que os serviços médico-
hospitalares ficavam a cargo do Ministério da Previdência Social. Talvez por isso, houve um
aumento significativo das epidêmicas como a dengue, a meningite e a malária, cujo controle
encontrava dificuldades não apenas financeiras, mas também pela censura imposta aos meios
de comunicação, impedidos que eram de alertar a população sobre a expansão e formas de
prevenção de tais doenças em nosso país.
Um dos fatos históricos que marcaram a história da saúde no Brasil foi a criação do
Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), ocorrido em 02 de janeiro de 1967. Na
verdade, o processo de unificação dos Institutos de Aposentadorias e Pensões vinha sendo
gestado desde 1941 (no primeiro governo de Getúlio Vargas), mas por pressão de diversos
segmentos sociais não conseguiu ser implementado pelos governos democráticos que
administraram o país até 1964. Nas décadas seguintes esse processo ganha impulso com a
promulgação da Lei Orgânica da Previdência Social – LOPS (Lei n° 3.087/60), a qual
impusera a unificação do regime geral da previdência social e avança com a tomada do poder
central pelos militares em 1964, ocasião em que o governo militar promove intervenção em
94
todos os IAPs, por meio de juntas interventoras por ele indicadas. Esse movimento termina
por conduzir, em 1967, à unificação dos seis IAPs, do Serviço de Assistência Médica e
Domiciliar de Urgência (SAMDU) e da Superintendência dos Serviços de Reabilitação da
Previdência Social, no Instituto Nacional de Previdência Social (INPS)183.
Por sua vez, a centralização dos institutos previdenciários numa única instituição ao
invés de trazer benefícios para os contribuintes do novo regime previdenciário, acabou por
apresentar distorções que ainda hoje sequer é possível aferir suas causas: o aumento no
volume de arrecadação conduziu a investimentos financeiros, por parte dos governantes, em
áreas diversas da previdência social; o aumento de beneficiários do sistema médico-
hospitalar, agora vinculado ao INPS, impossibilitava a prestação de serviços que atendesse a
todas as demandas existentes, bem assim impunha a necessidade de tomada de decisão
governamental quanto à contratação de serviços ou estabelecimento de rede própria de
hospitais e clínicas; foi estabelecido um processo de contratação de serviços aos prestadores
privados, por meio de convênios, pagos proporcionalmente aos atendimentos e serviços
prestados, o que levou à existência de muitas fraudes e desvios de dinheiro da previdência184;
mantinha-se a disparidade de tratamento entre os empregados formais e os demais
trabalhadores, já que os serviços continuavam vinculados àqueles que contribuíam com o
regime de previdência.
Em 1968, o então Ministro da Saúde, apresenta um projeto para a saúde pública do
Brasil, sob a denominação de Plano Nacional de Saúde (PNS). Nele há sinais de modificações
na concepção da saúde pública, com ênfase para a integração da assistência médica ao
183 Com a criação do INPS, houve um reforço à idéia de privatização dos serviços médico-hospitalares, como bem descreve Marcus Vinicius Polignano (História das políticas de saúde no Brasil – uma pequena revisão, p. 12-14): “O Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), produto da fusão dos IAP’s, sofre a forte influência dos técnicos oriundos do maior deles, o IAPI. Estes técnicos, que passam a história conhecidos como “os cardeais do IAPI”, de tendências absolutamente privatizantes criam as condições institucionais necessárias ao desenvolvimento do “complexo médico-industrial” , característica marcante deste período (NICZ, 1982)”. 184 Desta forma, foram estabelecidos convênios e contratos com a maioria dos médicos e hospitais existentes no país, pagando-se pelos serviços produzidos (pro-labore),o que propiciou a estes grupos se capitalizarem, provocando um efeito cascata com o aumento no consumo de medicamentos e de equipamentos médico-hospitalares, formando um complexo sistema médico-industrial. (Marcus Vinicius Polignano, ibidem, p. 15)
95
Ministério da Saúde e também para a universalização do acesso aos serviços de saúde no país.
No entanto, devido à possibilidade de modificação desses dois pontos, houve resistências e
não aceitação da referida proposta – por parte de alguns governos estaduais e da reação de
setores da área médica e da mídia -, o que levou o governo a rejeitar e cancelar o referido
plano. Em contrapartida, o Plano Nacional de Saúde previa a privatização total da rede
pública de saúde, com pagamento dos serviços aos prestadores privados, tomando por base o
número de pessoas atendidas e a complexidade dos procedimentos realizados185. Interessante
é que, na prática, a ideia de privatização dos serviços públicos de saúde permeou todo o
período dos governos militares, tanto que nessa época houve muitos investimentos e
financiamentos para a construção de hospitais de propriedade privada186. Contrariamente, a
ideia de universalização dos serviços de saúde não teve qualquer influência sob as gestões
militares, eis que a prestação de serviços de atendimento médico-hospitalar continuou sendo
feita apenas àqueles vinculados ao sistema previdenciário, ou seja, os trabalhadores com
vínculo formal.
Apesar das posições políticas contrárias - quando da apresentação da proposta do
Plano Nacional de Saúde -, a ideia de universalização dos serviços de saúde foi introduzida
por meio do Plano de Pronta Ação (PPA), instituído pelo Ministério da Previdência, na
medida em que estabelecia que os estabelecimentos credenciados por aquele Ministério,
pudessem fazer os atendimentos a pacientes, em caso de urgência e emergência,
independentemente deles serem beneficiários do sistema previdenciário. Nesse caso, a
previdência social cobria os custos do tempo em que o paciente ficasse internado, fosse ele
segurado ou não da previdência187. É visível que essa pequena modificação abriu espaço,
posteriormente, para a demonstração da real necessidade do sistema público de saúde passar a
185 Otavio Azevedo Mercadante et al. Evolução das políticas e do sistema de saúde no Brasil, p. 240-241. 186 Do total de recursos transferidos para a área da saúde, no período de 1975 a1977, 73,8% foram utilizados para a construção de hospitais, sobretudo de tamanho médio e de propriedade privada. (Giovani Gurgel Aciole, A saúde no Brasil: cartografia do público e do privado, p. 166) 187 Otávio A. Mercadante, ibid., p. 242.
96
prestar atendimento médico-hospitalar a todos os cidadãos, independentemente de serem ou
não contribuintes do regime de previdência do país, bem assim afastando apenas os
atendimentos de urgência e emergência. Mas a concretização desse ideal ainda levaria alguns
anos para se realizar, como veremos ao longo desse retrato histórico.
Nos anos seguintes, a ideia de saúde pública brasileira ficou muito voltada para o
atendimento médico-hospitalar individualizado, especificamente aos beneficiários e
dependentes do INPS, ficando a saúde coletiva relegada à quase inexistência, da mesma forma
que a grande massa de cidadãos que não possuíam emprego formal. Essa diretriz conduziu o
sistema de saúde público a efetivar diversos convênios e contratos com os prestadores de
serviços de saúde privado do país, já que a sua rede própria não era suficiente para oferecer
serviços médico-hospitalares aos beneficiários e dependentes do INPS. Na verdade, muito
mais do que firmar convênios e contratos, a previdência social passou a financiar (com
recursos próprios) a construção, reforma e melhorias dos estabelecimentos médico-
hospitalares desses prestadores privados, na maioria das vezes, a fundo perdido. Como se vê,
o sistema público deixava de investir na construção e expansão da rede pública de saúde, para
investir na estruturação dos prestadores privados (com investimentos sem juros ou até a fundo
perdido), para depois contratá-los para prestar os serviços médicos, pagando conforme a
produtividade de cada um deles188.
A contratação de prestadores privados, em detrimento do investimento na expansão e
melhoria da rede de saúde pública, terminou por criar alguns dividendos para o sistema
público pátrio, com reflexos acentuados ainda no presente, principalmente nas ações judiciais
188 Em 1974 o sistema previdenciário saiu da área do Ministério do Trabalho, para se consolidar como um ministério próprio, o Ministério da Previdência e Assistência Social. Juntamente com este Ministério foi criado o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Social (FAS). A criação deste fundo proporcionou a remodelação e ampliação dos hospitais da rede privada, através de empréstimos com juros subsidiados. A existência de recursos para investimento e a criação de um mercado cativo de atenção médica para os prestadores privados levou a um crescimento próximo de 500% no número de leitos hospitalares privados no período 69/84, de tal forma que subiram de 74.543 em 69 para 348.255 em 84. (Marcus Vinícius Polignano, ob. cit., 15)
97
vinculadas à saúde: “propiciou a estes grupos se capitalizarem, provocando um efeito cascata
com o aumento no consumo de medicamentos e de equipamentos médico-hospitalares,
formando um complexo sistema médico-industrial” e terminou por impor a criação do
Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) em 1978, órgão
administrativo específico – dentro do INPS - para gerir os contratos e convênios, bem assim
os recursos financeiros destinados a essas contratações189 e do Conselho Consultivo de
Administração da Saúde Previdenciária (CONASP) ligado ao INAMPS, cuja principal função
era a fiscalização das faturas apresentadas pelos prestadores privados, na tentativa de
combater as fraudes ao sistema previdenciário190.
Por outro lado, diante da quase total privatização da assistência médica (ocorrida ao
longo do período ditatorial), por meio da qual o INPS e/ou o INAMPS comprava cada vez
mais os serviços e procedimentos médico-hospitalares do setor privado, o setor público ficava
cada vez mais refém dos prestadores privados, o que acabava por sujeitá-lo às limitações
econômicas, decorrentes dos preços atribuídos aos serviços, resultando em restrições
diferenciadas de acesso para muitos usuários. Como a seguir também se delineará, nenhum
sistema público de saúde no mundo oferece cobertura completa e irrestrita para todos os seus
compatriotas, mas o que aqui se está a levantar é que o próprio sistema acabava por fazer
sérias restrições a alguns serviços e prestadores, em função dos custos desses serviços e por
não haver contrapartida orçamentária capaz de suportar esses gastos. Essa é uma decorrência
lógica não apenas do sistema brasileiro, mas da grande maioria dos sistemas públicos, em
189 Cf. Marcus Vinícius Polignano, História das políticas de saúde no Brasil – uma pequena revisão, p. 15. 190 Na tentativa de conter custos e combater fraudes o governo criou em 1981 o Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária(CONASP) ligado ao INAMPS. O plano inicia-se pela fiscalização mais rigorosa da prestação de contas dos prestadores de serviços credenciados, combatendo-se as fraudes. O plano propõe a reversão gradual do modelo médico-assistencial através do aumento da produtividade do sistema, da melhoria da qualidade da atenção, da equalização dos serviços prestados as populações urbanas e rurais, da eliminação da capacidade ociosa do setor público, da hierarquização, da criação do domicílio sanitário, da montagem de um sistema de auditoria médico-assistencial e da revisão dos mecanismos de financiamento do FAS. (Marcus Vinícius Polignano, op. cit., p. 20)
98
oferecer cobertura aos serviços que estejam em consonância com os parâmetros de custo-
efetividade191.
Apesar de anunciarem um tempo áureo da economia brasileira, os governos militares
acabaram por conduzir o país a uma série de crises, a começar pela economia, seguido por um
quadro social de extrema pobreza, com um endividamento externo descontrolado, uma das
maiores concentrações de renda nas mãos dos mais ricos, altos índices de desemprego e
analfabetismo. Assim, diante das sucessivas crises e dos novos cenários regionais
(principalmente da América Latina) em que os governos ditatoriais eram substituídos, os dois
últimos governantes militares iniciam o que ficou denominado de “redemocratização do país”
ou “abertura política”, com um lento e gradual retorno dos inúmeros brasileiros exilados, com
a ruptura do sistema bipartidário e criação de outros partidos políticos, restabelecimento da
liberdade de imprensa, reorganização de sindicatos e dos movimentos sociais.
Nesse contexto, o setor da saúde pública não poderia está diferente: baixos
investimentos no setor192; queda de arrecadação previdenciária, com reflexos na cobertura dos
serviços médico-hospitalares prestados pelo sistema; desvio de dinheiro da previdência para
outros setores sociais; submissão do sistema público aos prestadores privados;
191 A expressão custo-efetividade deve ser entendida nesses sentidos: “O indicador de custo-efetividade de um projeto, programa ou ação na área da saúde fornece um índice do ganho de saúde por unidade monetária aplicada. Ao se compararem projetos ou ações, os que apresentarem cifras mais elevadas serão os mais custo-efetivos, eficientes e, portanto, deveriam ser escolhidos!” (Denise C. Cyrillo e Antonio Carlos C. Campino, Gastos com a saúde e a questão da judicialização da saúde, p. 28). Complementando: “avaliação ou análise de custo-efetividade: análise através da qual os resultados/consequências do emprego de uma determinada tecnologia em saúde são mensurados em parâmetros físicos, por exemplo, anos de vida ganhos, capacidade de diagnosticar casos novos de uma doença. Há preocupação em se alcançar os resultados com o menor custo possível ou alternativamente, entre as opções disponíveis, isto é, qual das alternativas tem a capacidade de maximizar os benefícios atrelados a recursos financeiros a eles destinados. Ou seja, procura indicar opções que minimizam custos e maximizam resultados”. (Altacílio Aparecido Nunes, A avaliação econômica de fármacos e outras tecnologias em saúde instrumentalizando o poder público e judiciário para a tomada de decisão: potencialidades e limitações, p. 149) 192 Para se ter uma ideia, até 1964 o orçamento do Ministério da Saúde oscilava entre 3,65 a 4,57% do orçamento geral da União. A partir de 1968 até 1980 o orçamento destinado para o Ministério da Saúde esse percentual não atingiu a marca do 2% do orçamento geral da União. (Fontes: Para a década de 60: Buss, Paulo Marchiori et al. Ministério da Saúde e saúde coletiva. Rio de Janeiro, Instituto de Medicina Social da UERJ, 1976, p. 20. Para a década de 70: Campos, Gastão Wagner de Souza et al. – Planejamento sem normas. São Paulo, Hucitec, 1969. P. 107). Citado por Claudio Bertolli Filho, História da saúde pública no Brasil, p. 51.
99
superfaturamento dos valores por serviços prestados193; ausência de controle sobre as
endemias, epidemias e indicadores de saúde194.
Por isso, a questão da saúde brasileira passa a constar das pautas não apenas dos
profissionais da saúde, mas se insere nas discussões dos diversos movimentos sociais que se
organizavam e lutavam pela democratização e pela implementação de políticas públicas que
superassem umas das graves crises econômicas e sociais a que o Brasil se encontrava
sucumbido.
3.5 DOS MOVIMENTOS SANITARISTAS E SOCIAIS QUE ANTECEDERAM A
CONSTITUIÇÃO DE 1988
Ainda durante a ditadura militar, alguns setores da sociedade agem nos bastidores
sociais, não apenas como forma de resistência à ideologia instaurada pela ditadura, mas como
forma de subsistência de algumas práticas profissionais e sociais necessárias e
imprescindíveis à população. Uma dessas resistências será encontrada nos seios de alguns
cursos de medicina, oferecidos pelo sistema público de ensino. A história registra que nos
Departamentos de Medicina Preventiva (DMPs) - especialmente de algumas universidades
públicas -, através da disciplina de medicina preventiva, surge a organização do movimento
sanitário, que conciliando a produção do conhecimento científico à prática, terminou por se
envolver e contribuir com as demais organizações sociais nas suas lutas pela abertura política
193 Eis um retrato das fraudes perpetradas pelos prestadores: “Os baixos preços pagos pelos serviços médico-hospitalares e a demora na transferência das verbas do INPS para as entidades conveniadas determinaram a fragilidade desse sistema de atendimento á população. Enquanto o governo reduzia ou atrasava os recursos para a rede conveniada, hospital e clínicas aumentavam as fraudes para receber aquilo a que tinham direito, e muito mais” (Claudio Bertolli Filho, História da saúde pública no Brasil, p. 55). 194 “A definição do termo "indicador", do ponto de vista científico, varia pouco de um autor para outro. Em geral, os pesquisadores consideram que os indicadores constituem parâmetros quantificados ou qualitativos que servem para detalhar se os objetivos de uma proposta estão sendo bem conduzidos (avaliação de processo) ou foram alcançados (avaliação de resultados). Como uma espécie de sinalizadores da realidade, a maioria dos indicadores dá ênfase ao sentido de medida e balizamento de processos de construção da realidade ou de elaboração de investigações avaliativas”. (Maria Cecília de Souza Minayo, Construção de indicadores qualitativos para avaliação de mudanças, p. 84)
100
do Brasil e da sua redemocratização195. É inegável a contribuição que o movimento sanitário
ofertou ao movimento social de resistência à ideologia militar, na medida em que suas ações
eram confundidas com a mera atuação acadêmica, ao tempo que suas práticas difundiam uma
nova concepção de saúde pública nas comunidades atendidas pelos programas de extensão
universitária196. Mais que isso, a grande importância desses grupos de atuação se dava na
transformação das condições sanitárias da população brasileira, seu padrão de
morbimortalidade e melhoria da qualidade de vida dos grupos atendidos197.
Também é destacada a contribuição que o movimento sanitário deu à concepção de
saúde pública, afastando-a da mera oferta de ações e serviços individuais (como vinha se
dando ao longo da história brasileira), e passando a conceituar o processo de saúde e doença
em torno de suas determinantes estruturais198.
195 Giovani Gurgel Aciole (A saúde no Brasil: cartografia do público e do privado, p. 190-191) bem descreveu as diretrizes, metas e objetivos do movimento sanitário brasileiro: “Em síntese, podemos assinalar a existência das âncoras que davam suporte e direção ao movimento de reforma sanitária, que podem ser assim resumidos: a) uma intenção reformadora do setor Saúde, principalmente em busca de um outro agir, talvez ancorado em outra racionalidade, que rompesse as práticas dicotômicas entre o prevenir e o curar, entre o assistir a doença e o promover a saúde; b) uma intenção reformadora do Estado, na direção democratizante e de ampliação da porosidade deste em responder às demandas e aos reclamos da sociedade na busca de seus direitos sociais, considerados sob o prisma de constituintes de cidadania; c) ênfase na organização de um sistema que considerava o Estado como prestador e como o elemento que melhor representava o reconhecimento e a garantia efetivadora do que é público, ou seja, do interesse coletivo; d) aposta de mudança na prática de gestão e de concepção do Estado que o tinha colocado como elemento de classe a serviço de capturar parte do interesse público e transferir seu usufruto e apropriação em interesse privado; e) centralidade da questão democrática, que se bifurca em dupla intenção: de um lado, o aprimoramento institucional consolidando permeabilidade às políticas públicas pela participação popular e coletivização das instâncias decisórias; de outro, a busca de amplo acesso e assistência qualificada à saúde da totalidade social brasileira, elevada à condição de direito de cidadania; f) qualificação matriciada pela adoção da integralidade na assistência, que tanto pode ser interpretada e traduzida na integração institucional de todos os serviços e ações das várias esferas de governo, como na organização da assistência que rompesse a visão fragmentária e especializada que fatia a assistência ao usuários em procedimentos médico-centrados, e não no atendimento às necessidades de saúde”. 196 “Atuando sob forte pressão do regime autoritário, o movimento sanitário caracterizou-se, gradualmente, como uma força política construída a partir da articulação de uma série de propostas contestatórias ao regime. Nesses primeiros anos do movimento sanitário, a ocupação dos espaços institucionais caracterizou-se pela busca do exercício e da operacionalização de diretrizes transformadoras do sistema de saúde” (BRASIL, Sistema Único de Saúde, 2007, p. 28) 197 Cf. Claudio Bertolli Filho, História da saúde pública no Brasil, p. 185. “Alguns desses projetos tornaram-se modelos de serviços oferecidos pelo sistema de saúde. Entre eles, o Projeto Montes Claros (MOC) cujos princípios, mais tarde, servirão para nortear a proposta do SUS. O Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (Piass) propunha a ‘interiorização das ações de saúde’ e teve como sua área privilegiada a região Nordeste. Abrangendo 10 estados, tornou-se viável por haver contado, a partir de certo momento, com o apoio de Secretários de Saúde e da própria Previdência Social” (BRASIL, ibid, 2007, p. 28) 198 ClaudioBertolli Filho, ibidem, p. 185.
101
Ademais, ainda durante o processo de democratização do país, muitos sanitaristas
passaram a ocupar postos estratégicos de gestão estatal da saúde pública, o que terminou por
contribuir para a disseminação dessa nova concepção de saúde pública e para criar as bases
políticas para a reforma sanitária brasileira que adviria com a Constituição brasileira de 1988.
Além da contribuição oferecida pelos Departamentos de Medicina Preventiva das
faculdades de medicina, outra grande contribuição para a construção de um nova concepção
de saúde pública no Brasil adveio do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES)199 -
formado por intelectuais e pesquisadores da área da saúde, estudantes de medicina, médicos
sanitaristas, sindicalistas e integrantes dos movimentos sociais – e da Associação Brasileira de
Pós-Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO).
Como decorrência lógica desse momento histórico, de reabertura do país à
democracia, bem assim do ressurgimento dos movimentos sociais organizados e,
principalmente, diante das bases político-filosóficas construídas pelos que se dedicavam à
saúde pública (DMPs, CEBES, ABRASCO, entre outros), foi sendo constituída uma pauta de
reivindicações para o setor saúde, incluindo a necessidade de reconhecimento da saúde como
um direito de cidadania e um dever do Estado200. Eis aqui o nascedouro da concepção de
saúde como direito de cidadania, em nosso país, que vingará no texto constitucional alguns
anos depois.
Em 1978, a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF), reúnem 134 países-membros na I Conferência Internacional sobre
a Atenção Primária à Saúde, ocorrida em Alma-Ata (atual Cazaquistão). Fruto dessa
conferência, a OMS publicou, em 1979, a Declaração de Alma-Ata, na qual exsurge a
199 “O CEBES, como passa a ser mais conhecido, constituir-se-á num espaço divulgador da concepção de democrática como valor e articulador das posições político-ideológicas presentes no movimento. É lançada uma revista, a Saúde em Debate, a partir do último trimestre de 1975, em São Paulo, por um grupo de jovens sanitaristas recém-saídos dos cursos de formação que, a partir desta década, logo se disseminariam pelo País inteiro.” (Giovani Gurgel Aciole, A saúde no Brasil: cartografia do público e do privado, p. 187) 200 Conferir em Giovani Gurgel Aciole, op. cit., p. 188.
102
reafirmação de ser a saúde um dos direitos fundamentais do homem201 (o qual deve ser
concretizada por meio de políticas governamentais) e de que a saúde deve ser vista de modo
intersetorial (tanto no plano interno, quanto no plano externo), razão pela qual fora afirmado
que “todos os países devem cooperar, num espírito de comunidade e serviço, para assegurar
os cuidados primários de saúde a todos os povos, uma vez que a consecução da saúde do povo
de qualquer país interessa e beneficia diretamente todos os outros países”202.
O lema da Conferência de Alma-Ata era SAÚDE BÁSICA PARA TODOS OS
POVOS, e a meta fixada para que tal fim fosse alcançado seria até o ano 2000. Passados mais
de 10 (dez) anos do prazo final estabelecido pela OMS, ainda temos países que ainda não
conseguiram atingir essa meta, inicialmente pela diversidade de interpretações dadas pelos
países-membros (e outras organizações internacionais relacionadas à temática) acerca do
termo “saúde básica” - seja para restringir sua abrangência, seja para focar suas ações em
menor escala e para determinados segmentos da sociedade – e, também, por entraves
políticos, especialmente no que diz respeito a interesse de grupos econômicos que se
opuseram às orientações da referida declaração203.
È nesse contexto político interno e externo que as pressões sociais por uma
reformulação no sistema de saúde tomam corpo, a ponto de o governo brasileiro ter designado
uma coordenação interministerial para a elaboração de um projeto de reordenamento do setor,
inicialmente designado de Pró-Saúde (nome dado a sua primeira versão), chegando ao final
201 No item I da Declaração de Alma-Ata há o reconhecimento, expresso, do direito à saúde como direito fundamental do homem: “I) A Conferência enfatiza que a saúde - estado de completo bem- estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade - é um direito humano fundamental, e que a consecução do mais alto nível possível de saúde é a mais importante meta social mundial, cuja realização requer a ação de muitos outros setores sociais e econômicos, além do setor saúde”. Disponível em: http://www.opas.org.br/coletiva/uploadArq/Alma-Ata.pdf. Acesso em 22 set 2011. 202 Item IX da Declaração de Alma-Ata. Disponível em: http://www.opas.org.br/coletiva/uploadArq/Alma-Ata.pdf. Acesso em 22 set 2011. 203 Segundo Gustavo Corrêa Matta (A organização mundial de saúde: do controle de epidemias à luta pela hegemonia, p. 381-382), “o não cumprimento das metas propostas em Alma-Ata não foi resultante da incapacidade gerencial da OMS em monitorar o processo, estimular pactos e apoiar e orientar os países em ações estratégicas, mas, sim, da complexidade da conjuntura política e econômica da década de 1980 e da incompetência dos sistemas nacionais de saúde em conduzir, adaptar e aplicar as orientações de Alma-Ata”.
103
como Prev-Saúde, o qual incorporava não apenas as metas traçadas na Conferência de Alma-
Ata, mas também absorvia algumas experiências de saúde pública com esse novo viés,
implantado pelo movimento sanitário brasileiro, como se depreende das características abaixo
traçadas:
Na sua primeira versão, o Prev-Saúde apresentava-se, aparentemente, como um plano que, inspirado em programas de atenção primária, como os projetos de Sobradinho, MOC e Piass, tinha como seus pressupostos básicos a hierarquização das formas de atendimento por níveis de complexidade, fossem de origem pública ou privada, e a regionalização do atendimento por áreas e populações definidas. Contudo, não passava de uma proposta de investimento no nível primário de atenção, que não tocava significativamente na rede hospitalar privada204.
Apesar de o Prev-Saúde não ter sido efetivamente concretizado, mas serviu como
fórum de discussão para algumas propostas alternativas advindas do movimento social que
contestação o modelo de sistema público de saúde, adotado pelo Brasil. Entre estas questões
estavam o apelo à democratização da saúde pública, a necessária participação popular na
condução desse sistema, a universalização e descentralização dos serviços de saúde, bem
assim uma definição clara e expressa do caráter público que deveria ser adotado pelo governo
brasileiro frente ao sistema de saúde.
O processo de amadurecimento social das questões de saúde pública também ganha
força com a implantação das Ações Integradas de Saúde (AIS), que nada mais eram de que
convênios firmados entre os entes federativos – inicialmente foram assinados convênios entre
a União e os Estados, posteriormente vários Municípios também aderiram a esse tipo de
instrumento -, nos quais eram pactuadas ações que fortalecessem e ampliassem a rede básica
ambulatorial, assumindo a União a obrigação de repassar recursos financeiros e orientações
técnicas, cabendo aos Estados e Municípios a execução dessas políticas, com prestação de
contas dos recursos empregados e executados. As Ações Integradas de Saúde (AIS), na forma
204 BRASIL, Sistema Único de Saúde, 2007, p. 29.
104
como concebidas e executadas, servem como indicativos para o surgimento da ideia de
descentralização e municipalização dos serviços de saúde205, que viria a ser absorvido pelo
constituinte brasileiro de 1987.
Porém, todo esse processo de construção de um novo modelo de sistema de saúde
para o Brasil desemboca na preparação e realização da VIII Conferência Nacional de Saúde,
ocorrida entre os dias 17 a 21 de março de 1986, em Brasília/DF, conclave que reuniu mais de
4.000 participantes entre representantes e técnicos das três esferas de Governo, além de
pesquisadores, estudiosos, professores e alunos advindos do movimento de reforma sanitária,
líderes sindicais e representantes da sociedade civil organizada, entre outros.
A VIII Conferência Nacional de Saúde se constitui num marco fundamental da
história da saúde pública brasileira, seja pelo fato de ter sido um encontro para onde
convergiram as reivindicações, em torno das necessárias e urgentes reformas no sistema
público de saúde – reivindicações estas desatendidas e amordaçadas durante os governos
militares -, mas, principalmente, pelo fato de possibilitar a centralização das experiências, dos
estudos e das propostas de solução para os problemas, acumulados pelos diversos atores
sociais que passaram a se dedicar ao tema da saúde no Brasil, ao longo da sua história
política206.
As conclusões da VIII Conferência Nacional de Saúde foram encaminhadas à
comissão de elaboração do novo texto da Constituição brasileira, servindo de base para as
discussões travadas ao longo da Assembleia Nacional Constituinte. Entre as principais
205 Corroborando essas ideias: “Apesar de todos os problemas em sua implementação, as AIS significaram avanços consistentes no fortalecimento da rede básica ambulatorial, na contração de recursos humanos, na articulação com os serviços públicos municipais, na revisão do papel dos serviços privados e, em alguns casos, na participação da população na gestão dos serviços.” (BRASIL, Sistema Único de Saúde, 2007, p. 30) 206 “Este evento é considerado o momento mais significativo do processo de construção de uma plataforma e de estratégias do ‘movimento pela democratização da saúde em toda sua história’ (BRASIL, Sistema Único de Saúde, 2007, p. 30)
105
sugestões estavam: a) o reconhecimento e a adoção de um conceito amplo de saúde207, bem
assim da noção do direito à saúde208, enquanto conquista social, ou seja, com o
reconhecimento da saúde como direito de cidadania; b) como decorrência, a necessidade de
uma reformulação mais profunda do sistema nacional de saúde, incluindo nesse caso a
ampliação do conceito de saúde e sua correspondente ação institucional209; c) a criação de um
sistema único de saúde, sob um novo paradigma institucional, separando saúde de
previdência, por meio de uma ampla reforma sanitária; e d) a constituição de um novo sistema
de financiamento para o setor saúde, com recursos de diversas áreas sociais, além de criação
de percentuais mínimos sobre as receitas públicas para fins de investimentos na saúde, sem
falar na necessidade de criação de fundos de saúde nos diferentes níveis, geridos
conjuntamente com a participação colegiada de membros do setor público e da sociedade
organizada.
Mais o simples fato do relatório da VIII Conferência Nacional de Saúde ter delineado
o novo sistema público de saúde brasileiro não significou que o texto constitucional não tenha
recebido todos os influxos e adaptações dos blocos formados pelos constituintes que faziam a
defesa do sistema privado de saúde. Daí se poder afirmar que as vitórias obtidas pelo
movimento de reforma sanitária – bem assim dos participantes da VIII Conferência Nacional
207 Segundo o Relatório Final da VIII Conferência Nacional de Saúde, “Em seu sentido mais abrangente, a saúde é a resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio-ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. É, assim, antes de tudo, o resultado das formas de organização social da produção, as quais podem gerar grandes desigualdades nos níveis de vida” (BRASIL, Relatório final da VIII conferencia nacional de saúde, p. 4) 208 Eis os parâmetros traçados para o reconhecimento do direito à saúde como direito de cidadania: Direito à saúde significa a garantia, pelo Estado, de condições dignas de vida e de acesso universal e igualitário às ações e serviços de promoção, proteção e recuperação de saúde, em todos os seus níveis, a todos os habitantes do território nacional, levando ao desenvolvimento pleno do ser humano em sua individualidade.Esse direito não se materializa, simplesmente pela sua formalização no texto constitucional. Há, simultaneamente, necessidade do Estado assumir explicitamente uma política de saúde consequente e integrada às demais políticas econômicas e sociais, assegurando os meios que permitam efetivá-las. Entre outras condições, isso será garantido mediante o controle do processo de formulação, gestão e avaliação das políticas sociais e econômicas pela população. (BRASIL, Relatório final da VIII conferência nacional de saúde, p. 4) 209 Nesse contexto: “O ambiente constitucional era de forte rejeição à centralização imposta pelo regime militar (1964-1985). Por isso, associou-se descentralização com democratização e ampliaram-se os direitos sociais da cidadania, integrando, sob o conceito de seguridade social, a proteção dos direitos individuais (previdência) à proteção dos direitos coletivos (saúde e assistência social)” (BRASIL, 2009b, p. 18)
106
de Saúde - se tornaram visíveis com a expressa previsão no texto constitucional dos seguintes
direitos e garantias: o reconhecimento da saúde enquanto direito fundamental social e
estabelecimento de garantias para a sua efetivação; a saúde como integrante da seguridade
social, em igualdade de condições com a previdência e a assistência social; a criação do
Sistema Único de Saúde, com ações e serviços públicos prestados por uma rede regionalizada
e hierarquizada, com base nos princípios da descentralização, atendimento integral e
participação da comunidade; financiamento com recursos advindos de várias fontes
orçamentárias, desde os orçamentos da seguridade social advindos da União, Estados,
Municípios e Distrito Federal – com estabelecimento de percentuais mínimos pré-definidos
para cada um dos entes federativos -, bem assim por meio de outras fontes que tiverem
relação com a questão da saúde; cobertura tanto para as ações preventivas como os serviços e
prestações assistenciais à saúde dos cidadãos.
Nessa mesma linha, o êxito do programa de Desenvolvimento de Sistemas
Unificados e Descentralizados de Saúde (SUDS) - implantado pelo Decreto Federal nº
94.657, de 20/7/1987 – em alguns Estados da federação, também representou marco
significativo para a sedimentação dos princípios fundantes do novel modelo de sistema de
saúde pública que viria a ser explicitado na Carta Constitucional de 1988.
Com a vigência do SUDS houve um avanço significativo no que diz respeito à
unificação operacional das três esferas de governo, na medida em que as ações e serviços de
saúde passaram a ser prestadas diretamente pelos Estados, devendo Estes coordenar o
processo de municipalização desses serviços, o que fora iniciado ainda quando da efetivação
do SUDS e se estenderia já com a criação do SUS, após a promulgação da Constituição
cidadã de 1988. Ademais, o princípio da universalização de acesso ao sistema público de
saúde já transparecia no SUDS, eis que a ideia principal era de que os recursos federais
devessem ser empregados para viabilizar o acesso de toda a população brasileira aos serviços
107
e ações de saúde, independentemente de serem ou não contribuintes do sistema previdenciário
pátrio.
É clarividente que a Carta Constitucional brasileira de 1988 fez uma opção por um
modelo de saúde pública voltada para as necessidades da população, consolidando a saúde
como direito fundamental de cidadania, construído sob a base da democracia participativa,
com ênfase na integração entre saúde coletiva e prestação de ações e serviços assistenciais a
toda a população210.
Assim, todo o quadro histórico acima retratado demonstra que a luta pela instituição
de uma política pública de saúde em nosso país é marcada por uma grande meta ou objetivo: a
inclusão dos desvalidos sociais. Talvez por isso, ainda seja tão presente em nossa sociedade o
senso-comum de desvalorização das políticas públicas de saúde em nosso país, o pensamento
de que o Sistema Único de Saúde (SUS) é ruim, que só oferece cobertura para aquilo que há
de pior no mercado de saúde e que só os pobres é que se submetem a ele, porque não teria
condição de arcar com os custos de contratação de um serviço de saúde privada ou plano de
saúde.
Não há dúvidas de que o Sistema Único de Saúde (SUS) - traçado no texto
constitucional em 1988 – ainda se encontra em processo de construção no Brasil, o que vem
se dando por meio de normas legais e infra-legais ou regulamentares, disciplinando as linhas
mestras insculpidas pelo constituinte nacional de 1988. Dissecar esse disciplinamento é,
exatamente, o que se procurará discorrer no tópico seguinte.
210 Marcus Vinícius Polignano, História das políticas públicas de saúde no Brasil – uma pequena revisão, p. 22. Discorrendo sobre os motivos que levaram os constituintes de 1988 a incorporarem as ideias e fundamentos do movimento sanitário acerca da instituição de um novo paradigma para a saúde pública no Brasil, Ramiro Nóbrega Sant’ana assevera: “Esse é o ponto diferencial para que a visão do movimento sanitarista sobre a saúde tenha sido incorporada de forma predominante na Constituição de 1988. Não foi apenas a força política deste movimento que permitiu tal incorporação, mas o fato de suas reivindicações serem compatíveis com o que se exige o constitucionalismo (Estado de Direito e respeito aos direitos fundamentais) e com um princípio deontológico que deve ser respeitado em qualquer Constituição ou na interpretação de normas constitucionais: a igualdade.” (Ramiro Nóbrega S’antana, A SAÚDE AOS CUIDADOS DO JUDICIÁRIO:A Judicialização das Políticas Públicas de Assistência Farmacêutica no Distrito Federal a partir da jurisprudência do TJDFT , p. 45)
108
4 O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) E A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO
ENFOQUE SOBRE A POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE EM NOSSO PAÍS
Uma das críticas que vem sendo lançada contra as decisões judiciais que impõem a
prestação de saúde, pelo Estado brasileiro, seja no tocante a bens e serviços, seja quanto à
dispensação de medicamentos, é a de que tais decisões podem colocar em risco as bases
filosóficas e principiológicas estabelecidas para a implementação e criação do Sistema Único
de Saúde – SUS, enquanto modelo de saúde pública em nosso país211.
Fala-se dos riscos de retrocessos institucionais desse sistema, especialmente quando
se afirma que as decisões judiciais impõem o retorno da centralização das ações de saúde, em
total descompasso com uma das principais conquistas do movimento impulsionador das
mudanças na política pública de saúde, ocorridas no texto constitucional brasileiro de 1988.
A previsão constitucional de que as ações e serviços de saúde devam integrar um
Sistema Único de Saúde (SUS) pode ser considerada como uma das garantias institucionais212
previstas e delineadas pelo constituinte brasileiro de 1988, na medida em que o texto
constitucional traçou seu perfil básico, dando-lhe os fundamentos, princípios e diretrizes, ao
tempo que deixou ao legislador ordinário a função de conformá-lo à plena realização do
elencado direito fundamental à saúde.
211 Essa preocupação se encontra bem registrada nas considerações tecidas por Lenir Santos e Luiz Odorico Monteiro de Andrade (Vinte Anos de SUS: O Sistema de Saúde no Brasil no Século XXI, p. 791): “E o Poder Judiciário vem acolhendo todos os pedidos, sem se dar conta de que está rompendo com a organização do SUS e com o princípio da igualdade daqueles que, cumprindo seus deveres, acessam o SUS pela porta de entrada”. 212 Para o constitucionalista português José Carlos Vieira de Andrade (Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976, p. 143), as chamadas garantias institucionais, referem-se a um conjunto jurídico-normativo que regula um determinado setor da realidade econômica, social ou administrativa em torno de um direito fundamental e em vista da sua realização. Mas esse mesmo autor chama à atenção para o fato de que as garantias institucionais se referem ao complexo jurídico-normativo na sua essência, não à realidade social em si. (ibidem, p. 145) Essa conceituação se encaixa, perfeitamente, na formatação constitucional trazida na Carta Magna brasileira ao dar vida ao Sistema Único de Saúde (SUS), como instituição viabilizadora do direito à saúde pública no Brasil, a partir de então.
109
Porém, dada a condição de garantia institucional do SUS, e levando-se em
consideração que tal garantia deve estar adstrita ao complexo jurídico-normativo que lhe dá
sustentação e vivifica a escolha constitucional a respeito do direito fundamental à saúde, a
preocupação com a possibilidade das decisões judiciais virem a colocar em risco a
subsistência do SUS, ou até mesmo a possibilidade de descaracterização ou desfiguração
dessa instituição jurídico-constitucional deve nos levar a refletir sobre o fenômeno da
“judicialização da saúde”, buscando compreender se há, de fato, esse apontado risco e se a
crítica tem procedência, nesse sentido.
Mais antes de adentrarmos na judicialização das políticas de saúde, necessário se faz,
conhecer o sistema público de saúde vigente no Brasil, ou seja, é preciso delinear o Sistema
Único de Saúde (SUS), traçando um perfil da sua constituição jurídico-administrativo, bem
assim dos objetivos, finalidades, princípios regentes, financiamento e âmbito de cobertura.
Apesar da previsão constitucional de estruturação de um Sistema Único de Saúde,
para prestação de ações e serviços públicos de saúde no Brasil, somente em 1990 é que tal
sistema público de saúde veio a ser concretamente regulamentado, o que fora feito por meio
da promulgação da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, também conhecida como “Lei
Orgânica da Saúde”.
O Sistema Único de Saúde (SUS) foi definido como sendo “o conjunto de ações e
serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e
municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder
Público213”. É, por assim dizer, a aglutinação de todas as formas de prestação de serviços e
ações de saúde que já vinham sendo desenvolvidos, de forma isolada ou em parceria, pelos
213 Na conformidade do contido no art. 4º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.080/90, também estão inclusas no SUS, “as instituições públicas federais, estaduais e municipais de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde” e, de forma complementar, os estabelecimentos privados que desempenhem ou prestem ações ou serviços de saúde.
110
diversos entes federados, passando a constituir, a partir de então, um sistema ordenado e
orientado na condução das políticas públicas de saúde no país.
Embora pudesse parecer que para a efetiva implementação do Sistema Único de
Saúde (SUS) bastassem apenas as normas contidas na Seção da Saúde da Constituição
Federal de 1988 e na Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/90), a realidade demonstra, no
entanto, que passados mais de vinte anos da vigência desses normativos, o Sistema Único de
Saúde (SUS) ainda continua em permanente processo de construção, cujas ações se voltam
para viabilizar e efetivar as diretrizes, objetivos e princípios delineados tanto pelo texto
constitucional quanto pela Lei Orgânica da Saúde, os quais serão perfunctoriamente
analisados a seguir.
4.1 FINALIDADES E OBJETIVOS
O Sistema214 Único de Saúde (SUS) é considerado uma das maiores estruturas
públicas de saúde existente no mundo, e seu objetivo maior é oferecer cobertura para todos os
190 milhões de brasileiros, aqui incluídos aqueles cerca de 49 milhões de habitantes que
possuem plano de saúde privado215, já que por expressa determinação constitucional encontra-
se sedimentado pelos princípios da universalidade e da igualdade.
214
Sistema deve ser entendido em sua perspectiva orgânica, como sendo um conjunto complexo de partes interligadas e interdependentes, as quais precisam estar em constante interação com o meio social, pois sabe-se que sistemas fechados rumam para a entropia ou para a destruição, ou seja, como sistema aberto, que se concretiza nas trocas e busca de equilíbrio. (Tânia Margarete Mezzomo Keinert, Direitos fundamentais, direito à saúde e papel do executivo, legislativo e judiciário: fundamentos de direito constitucional e administrativo, p. 175). Acerca da definição de ‘sistema’ Paulo Bonavides assim disciplina: “A noção de sistema – convém sempre frisar – não representa nenhuma novidade. Desde os períodos clássicos da antiguidade foi familiar ao pensamento científico e filosófico. Sistema é palavra grega; originariamente significa reunião, conjunto ou todo. Esse sentido se ampliou porém de tal modo que por sistema veio a entender-se, a seguir, o conjunto organizado de partes, relacionadas entre si e postas em mútua dependência” (Paulo Bonavides, Curso de Direito Constitucional, p. 108). 215 Segundo dados constantes do PNAD-2008, no Brasil cerca de 140. 766.000 habitantes não possuem plano de saúde privado, enquanto que cerca de 49.187.000 (25,89%) estão vinculados a um tipo de plano ou seguro privado. (BRASIL, PNAD – Um panorama da saúde no Brasil. Acesso e utilização dos serviços, condições de saúde e fatores de risco e proteção à saúde – 2008, p. 77).
111
Não resta dúvida que foi destinado ao Sistema Único de Saúde (SUS) a missão de
garantir o acesso às ações e serviços tanto no que diz respeito à promoção, à proteção e à
recuperação da saúde216. Mais essa complexa missão não foi reservada apenas e
exclusivamente ao SUS, mas foi estendida também às ações do indivíduo, de sua família e de
toda à sociedade. Isto porque não é possível imaginar que somente as ações do Estado,
isoladamente, possam conduzir ao pleno conceito de saúde, tomado em sua acepção jurídico-
constitucional217. Poder-se-ia argumentar, de forma objetiva, que a concretização de ações e
serviços tendentes à realização da promoção, proteção e recuperação da saúde só poderá obter
êxito se for feita com a participação conjunta do poder público, do cidadão (individualmente)
e da sociedade, sempre numa atuação contínua e direcionada a esses fins.
É, portanto, o oferecimento de serviços e ações voltados à promoção, prevenção e
recuperação da saúde a toda à população brasileira, com elevado nível de qualidade, que deve
conduzir o trabalho e os esforços de governantes, técnicos e servidores do sistema de saúde
pública em nosso país. Essa, decerto, não é uma tarefa fácil de executar, considerando a
complexidade da matéria e as crescentes exigências e necessidades de saúde da sociedade
brasileira, em cada momento de sua história político-social.
Por sua vez, a concretização e operacionalização de um sistema público de saúde, tal
como delineado pelo constituinte brasileiro de 1988, exige uma constante orquestração entre
diversas áreas do setor público e da sociedade civil, num trabalho articulado e de parceria
216 Carece ser feita uma definição dos termos “promoção, proteção e recuperação”, para os fins do presente estudo: a “promoção à saúde se materializa com ações e serviços voltados para elevar a qualidade de vida dos indivíduos e da coletividade; já a proteção à saúde pressupõe ações e serviços que previnem o risco de agravo à saúde; por sua vez, a recuperação compreende o conjunto de ações e serviços que visam ao tratamento de doenças e agravos à saúde, incluindo o diagnóstico e a recuperação da pessoa doente” (Lenir Santos, Sociedade e Direito no SUS, p. 182). 217 Entre as diversas acepções da expressão “saúde” adota-se aqui a definição jurídico-constitucional descrita por Lenir Santos (ibidem, p. 181): “O Artigo 196 tem uma dimensão plena da saúde, exatamente o estado de bem-estar físico, mental, social, decorrentes de políticas sociais e econômicas, que evitem o risco do agravo à saúde em toda a sua dimensão: meio ambiente, trabalho, renda, moradia, saneamento, então, são os fatores biológicos, genéticos, a qualidade de vida, estilo de vida, o serviço de saúde, tudo isso com essa grande, digamos, dimensão do que seria o conceito de saúde’.
112
mútua, onde o setor público, sentindo as necessidades e anseios dos cidadãos e cidadãs (em
suas individualidades e de forma coletiva), responde-os, oferecendo, inicialmente, ações e
serviços que promovam e protejam a saúde – evitando ou afastando risco de agravamento à
saúde individual ou coletiva – ou que possibilite a reabilitação e a cura daqueles que
porventura vierem a ser atingidos por qualquer agravo em seu quadro de saúde.
Os objetivos e finalidades do SUS encontram-se arrolados nos artigos 5º e 6º da Lei
nº 8.080/90, e estão marcados pela abrangência e interdependência com as diversas áreas
sociais, especialmente as do campo da educação, ciência e tecnologia, meio ambiente,
saneamento, saúde do trabalhador, alimentação, entre outras. Talvez, por essa ampla
abrangência e interligação com diversas áreas culturais e do conhecimento, tais objetivos e
finalidades não sejam tão fáceis de serem alcançados ou concretizados pelo SUS.
Porém, além de observância aos objetivos e finalidades propostos para o SUS, a
concretização desse sistema deve levar em consideração os diversos princípios eleitos pelo
constituinte pátrio, quando da sua criação no texto constitucional vigente em nosso país.
4.2 PRINCÍPIOS REITORES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)
Considerando que a saúde foi enquadrada no capítulo dos Direitos Fundamentais,
todos os princípios vinculados a esses direitos lhe foram outorgados e lhes são aplicáveis,
tanto na órbita administrativa quanto na judiciária. Não obstante a seção própria da saúde, no
texto constitucional, estabeleça as diretrizes que deverão ser atendidas pelo SUS, a Lei
Orgânica da Saúde elenca os princípios específicos que devem dar sustentáculo à
concretização dessas diretrizes, na forma assim delineada:
113
Art. 7 - As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde - SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no Art.198 da Constituição Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: I - universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; II - integralidade de assistência, entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; III - preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral; IV - igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie; V - direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde; VI - divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário; VII - utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática; VIII - participação da comunidade; IX - descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. X - integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico; XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população; XII - capacidade de resolução dos serviços em todos os níveis de assistência; e XIII - organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.
Todo esse conjunto de princípios deve estar constantemente à frente e,
fundamentando, todas as decisões em sede de políticas públicas de saúde, em qualquer esfera
de poder (Legislativo, Executivo e/ou Judiciário). Por se constituírem em princípios com
berço no sistema constitucional pátrio, estes princípios devem ser postos conjuntamente,
numa relação dialética com a realidade, numa perspectiva de se evitar construções unilaterais
ou unidimensionais dentro do SUS, onde um dos princípios possa estar em desequilíbrio em
relação aos demais218. Portanto, não se pode perder de vista a necessidade de integração
desses princípios, de maneira a se manter sempre um sistema jurídico que preserve os valores
constitucionais democráticos.
Na realidade, a experiência cotidiana vem mostrando que alguns dos princípios que
estão diretamente vinculados ao estudo do direito à saúde ainda não possuem carga normativa
218 Paulo Bonavides, Curso de Direito Constitucional, p.131-132.
114
definida pelos juristas ou pelas áreas técnicas da saúde. Essa dificuldade está ligada a uma das
grandes discussões da filosofia do direito e que diz respeito à definição da expressão
“princípios” na esfera jurídica219. Tal situação traz reflexos que dificultam não apenas o
trabalho dos profissionais das áreas específicas da saúde - com influência direta sobre a
execução das políticas de medicamentos no Brasil -, mas também têm influenciado as
decisões judiciais que envolvem essa matéria.
Robert Alexy destaca que há diversos critérios para se distinguir regras de princípio e
condensa esses critérios em três teses: a primeira sustenta que toda tentativa de diferenciar as
normas em duas classes (a das regras e dos princípios) seria, diante da diversidade existente,
fadada ao fracasso. A segunda tese é definida por aqueles que, embora aceitem que as normas
possam ser divididas de forma relevante em regras e princípios, salientam que essa
diferenciação é somente de grau. A terceira tese, por sua vez, sustenta que as normas podem
ser distinguidas em regras e princípios e que entre ambos não existe apenas uma diferenciação
gradual, mas uma diferença qualitativa220.
Não se constituindo em objeto central do presente estudo, tomar-se-á aqui a
expressão “princípios jurídicos” como sendo normas que ordenam que algo seja realizado na
maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes, ou seja, como
mandamentos de otimização221.
219 Eis as ideias que representam essa afirmação: “A definição de princípios jurídicos e sua distinção relativamente às regras depende do critério em função do qual a distinção é estabelecida. [...] Por isso mesmo é mais difícil haver uma só definição de princípio [...]” (Humberto Bergmann Ávila, A distinção entre princípios e regras e a redifinição do dever de proporcionalidade, p. 154). Para Luño, um dos critérios utilizados para distinguir princípios das normas específicas tem sido o relativo às sedes materiais de sua positivação no texto constitucional, mas esse critério não lhe parece convincente, tendo em conta que na maior parte das Constituições modernas existem normais principais disseminadas por distintas partes de seus textos, ao tempo que incluem em sua parte dogmática normas de caráter específico ou casuístico. (Antonio Enrique Perez Luño, Derechos Humanos, Estado y Constitución, p. 286-295). Também Ronald Dworkin ofereceu grande contribuição nessa discussão acerca da definição de princípio jurídico. (Ronald Dwork, Levando os direitos a sério, p. 35-72) 220 Robert Alexy, Teoria dos direitos fundamentais, p. 89-90. 221 Robert Alexy, Teoria dos direitos fundamentais, p. 90.
115
Nessa condução, torna-se imprescindível a análise dos princípios basilares do SUS,
procurando delinear não apenas seus elementos conceituais, mas, buscando fazê-la com foco
na observância desses princípios quando da implementação das políticas públicas de saúde, na
aplicabilidade aos casos concretos e na busca de soluções para os possíveis entraves na seara
administrativa e judicial.
4.2.1 Princípio da Universalidade
O primeiro princípio destacável do texto constitucional é o do acesso universal às
ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Esse princípio foi bem
dimensionado pelos operadores do direito à saúde222, principalmente porque estabeleceu a
grande mudança de paradigma frente ao direito anteriormente vigente em nosso país, que só
permitia o acesso às políticas públicas de saúde – especialmente as ações e serviços médico-
assistenciais - àqueles que possuíam vínculo previdenciário, ou seja, só havia direito de acesso
às políticas de saúde pública para aqueles que contribuíam com a seguridade social.
Assim, pelo princípio da universalidade, todos os residentes no Brasil (inclusive os
estrangeiros residentes no país) têm direito de acesso às ações e serviços prestados pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), não devendo existir distinção e independentemente de serem
ou não contribuintes do sistema de seguridade social.
222 Tratando sobre o princípio da universalidade no SUS: Fátima Vieira Henriques, Direito prestacional à saúde e atuação jurisdicional, p. 829-831; Mariana Filchtiner Figueiredo, Direito fundamental à saúde – parâmetros para sua eficácia e efetividade, p. 170-173; Adriana Maria de Vasconcelos Feijó, A importância dos conselhos de saúde para a efetivação dos princípios constitucionais relativos à saúde, p. 68.
116
Necessário se faz chamar à atenção para o fato de que a universalidade de acesso não
se confunde com a gratuidade das ações e serviços prestados pelo sistema público de saúde223.
Nos sistemas públicos de saúde é comum a existência de modelos universais (todos podem ter
acesso, ainda que não contribuintes da seguridade social) nos quais há co-participação dos
usuários quando da utilização dos serviços ou aquisição de medicamentos, são os chamados
sistema de pagamento compartilhado224.
A razão de ser do sistema de pagamento compartilhado está centrada na ideia da
racionalização do uso dos serviços e ações disponíveis, ou seja, dá-se relevo ao possível
caráter pedagógico dessa partilha, na medida em que a participação financeira do usuário
desestimularia o consumo desnecessário. Esse fundamento acerca da racionalização dos
serviços de saúde, a partir do compartilhamento no pagamento desses serviços, é explicitado
por Ronald Dworkin quando examina os motivos pelos quais os Estados Unidos gastam tanto
com a saúde, chegando este a afirmar que se as pessoas tivessem que pagar, de fato, pelos
serviços de saúde que utilizam (sem qualquer subsídio do governo), evitariam se submeter,
desnecessariamente, a alguns desses serviços225.
223 Essa distinção encontra-se bem delineada por Sarlet quando assevera que: “[...] ao contrário do que pretende expressiva doutrina, não há como deduzir do princípio da universalidade do acesso um princípio da gratuidade do acesso, visto que acesso igualitário e universal (como expressamente enuncia o art. 196 da CF) não se confunde – pelo menos não necessariamente – com um acesso totalmente gratuito”. Em seguida explicita os fundamentos da sua diferenciação (Ingo W. Sarlet, A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional, p. 326-328). 224 O sistema de pagamento compartilhado (também conhecido como co-pagamento ou co-financiamento) é o mecanismo mediante o qual o sistema de saúde público paga uma parte do preço e o usuário a outra. É baseado no reconhecimento da conveniência de que o sistema de saúde financie o fornecimento de medicamentos, mas prevê que o usuário participe no pagamento por duas razões: para que contribuía com o financiamento do sistema (co-pagamento) e para que o pagamento sirva como moderador do consumo e desestimule o consumo desnecessário (evitar o que em economia de saúde é conhecido como risco social). Sua desvantagem consiste em que a parte que cada pessoa deve desembolsar não é proporcional a sua renda, mas a sua condição de doença e ao preço dos medicamentos. (Organização Pan-Americana de Saúde, O acesso aos medicamentos de alto custo nas Américas: contexto, desafios e perspectivas, p. 34) 225 Para Ronald Dworkin (A virtude soberana: a teoria e a prática da igualdade, p. 436), os custos com a medicina são altos “[...] porque as decisões de quanto pagar em assistência médica são feitas pelo paciente e pelo médico, porém são pagas por um terceiro, a companhia de seguros, portanto quem toma as decisões não tem um incentivo direto para economizar. Os prêmios dos seguros são dedutíveis e, ademais, a contribuição do empregador não é tratada como parte da renda tributável do emprego. Assim, o seguro-saúde torna os pacientes insensíveis ao custo no momento da decisão, e o verdadeiro preço do seguro é subsidiado pela nação”.
117
Ainda que se reconheça a pertinência dos fundamentos acima explicitados, é fácil
constatar que os efeitos negativos da adoção do sistema de compartilhamento superam
possíveis vantagens, na medida em que não consegue estabelecer critérios objetivos validados
que possam atingir as situações peculiares de todos os grupos sociais, acarretando uma farda
exclusão para a grande massa de desprivilegiados socialmente, com consequências
desastrosas para as políticas públicas de controle dos agravos da saúde, a posteriori.
Aliás, no caso brasileiro, temos uma acertada opção do legislador infraconstitucional,
quando previu no art. 43 da Lei nº 8.080/90 (conhecida como Lei Orgânica da Saúde) a
conjugação da universalidade e da gratuidade de acesso às ações e serviços prestados pelo
SUS, ampliando o acesso de todos os residentes no país às políticas de saúde disponibilizadas
pelo sistema público, de maneira que restou vedada qualquer cobrança pelas ações e serviços
fornecidos pelo SUS (e aqui se incluem os medicamentos dispensados pelo SUS),
independentemente da condição socioeconômica apresentada pelo usuário226.
4.2.2 Princípio da equidade ou da igualdade no SUS
O Princípio da igualdade de acesso encontra-se previsto, expressamente, no art.
196 do texto constitucional e delineado no inciso IV do art. 7º da Lei 8.080/90 quando
estabeleceu o princípio da igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios
226 Essa questão encontra-se bem enfocada por Fátima Vieira Henriques (Direito Prestacional à Saúde e Atuação Jurisdicional, p. 830). Por outro lado, sem querer desmerecer a finalidade do Programa Farmácia Popular do Brasil, instituído pelo Governo Federal em junho/2004 (principalmente por não ser o objeto principal do presente estudo), mas se tomarmos por referência o princípio da gratuidade dos serviços e ações da saúde pública, o que se percebe é que a implantação desse programa traz algumas incongruências com as diretrizes da Política Nacional de Medicamentos do SUS. Ora, se esse programa disponibiliza para compra os denominados “medicamentos essenciais”, estes não deveriam ser comercializados pelo sistema público de saúde (ainda que sob o regime de co-pagamento), pois todos esses medicamentos deveriam estar elencados nas listas de medicamento dos diversos componentes que integram a Política Nacional de Medicamentos do SUS, principalmente o Componente da Assistência Básica - dispensados gratuitamente aos usuários que deles necessitarem. Dessa forma, ou o próprio Governo desconhece a lógica da política SUS na área farmacêutica ou parte do reconhecimento da ineficiência das políticas públicas na área da assistência farmacêutica. Quaisquer das hipóteses são inaceitáveis dentro do sistema jurídico pátrio, por sua incompatibilidade com os princípios e diretrizes constitucionais e legais que tratam da matéria.
118
de qualquer espécie. Porém, no desenvolvimento das políticas de saúde – especialmente no
tocante às políticas de medicamentos – é necessário fechar alguns elementos conceituais, sob
pena de violação a esse princípio tão consagrado num Estado Democrático de Direito. Para
Dworkin, a igualdade é por si só um conceito muito controverso227 e em razão disso é preciso
balizar bem essa temática, principalmente chamando a atenção para o fato de que a igualdade
deve ser analisada não de forma isolada, individualizada, mas sempre considerando a
demanda diante de todo o sistema público: se todos os usuários do sistema público de saúde
devem receber cuidados idênticos e gozar dos mesmos serviços, o oferecimento de
medicamento a um dos usuários (independentemente da decisão ser administrativa ou por
determinação judicial) deve ser estendido a todos aqueles que estejam em situação similar.
Caso não seja possível estender a decisão individual (administrativa ou judicial) por qualquer
motivo – em especial orçamentário - àqueles que estejam em idêntica situação fática ou se o
deferimento de uma pretensão individual inviabilizar o tratamento médico, devido a outro
usuário do sistema, haverá decerto, violação ao princípio da equidade228.
Uma preocupação que vem à tona quando se fala das ações judiciais envolvendo
pedidos de custeio de medicamentos, insumos e/ou procedimentos pelo SUS é, exatamente, se
a concessão de tais pedidos - fora da cobertura do sistema público de saúde brasileiro -, não
implicaria em violação ao princípio da isonomia.
227 “A igualdade é um conceito controverso: quem a louva ou deprecia discorda com relação àquilo que louvam ou depreciam. A teoria correta da igualdade é em si uma questão filosófica difícil [...]” (Ronald Dworkin, ob. cit., p. XI) 228 Esse é o entendimento de Fátima Vieira Henrique, ob. cit., p. 832.
119
Apesar de alguns estudos já apontarem nessa direção229, os dados econômico-
financeiros ainda são insipientes para conduzir a uma conclusão a esse respeito, mas não resta
dúvida de que essa preocupação deve fazer parte da pauta de acompanhamento dessa matéria,
razão pela qual tanto as áreas técnicas da saúde quanto o próprio Poder Judiciário deverão está
em constante vigilância, para, constatando a possibilidade da concretização da apontada
violação ao princípio da isonomia do SUS, buscar alternativas para afastá-la, sob pena de não
haver apenas violação a disposição constitucional, mas descaracterização e desvirtuamento do
próprio SUS.
4.2.3 Princípio da Integralidade da assistência à saúde
Por sua vez, a diretriz que mais tem suscitado controvérsias diante do SUS e do
direito à saúde é a que trata do atendimento integral. O texto constitucional, no art. 198, II,
apresenta a integralidade como diretriz, embora a Lei Orgânica da Saúde - nos arts. 5º, III e
7º, II - tenha convertido tal diretriz em princípio . Conjugando-se a literalidade dos
dispositivos em questão, chega-se à conclusão de que a integralidade da assistência à saúde se
dará com a obrigatoriedade do SUS em adotar medidas e ações preventivas e curativas, mas
em caso de agravo da saúde, colocar à disposição do usuário os serviços necessários e
229 Em estudo sobre a “judicialização da política pública de assistência farmacêutica e equidade” Chieffi e Barata destacam dados que podem comprometer e indicar a possível violação ao princípio da isonomia no SUS: “O fornecimento de medicamentos por ação judicial tornou-se uma prática rotineira nos últimos anos. No Estado de São Paulo, Brasil, os números dessas demandas vêm aumentando consideravelmente. No ano 2006, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) gastou, com o cumprimento das decisões judiciais da comarca da capital, 65 milhões de Reais, para atender cerca de 3.600 pessoas. Em comparação, no mesmo ano, ela investiu 838 milhões de Reais no Programa de Medicamentos de Dispensação Excepcional (alto custo), atendendo 380 mil pessoas. Foram gastos aproximadamente 18 mil Reais por paciente com ações judiciais naquele ano, enquanto o Programa de Medicamentos de Dispensação Excepcional consumiu 2,2 mil Reais por paciente.” (Ana Luiza Chieffi e Rita Barradas Barata, Judicialização da política pública de assistência farmacêutica e equidade, p. 1839).
120
suficientes à cura do mal que lhe acomete. Daí surge a grande interrogação: o princípio da
integralidade impõe ao SUS o oferecimento de todo e qualquer tratamento ou medicamento?
A maioria dos estudiosos da questão tem oferecido resposta negativa para a questão
posta230, amparando-se em situações que demonstram a inaplicabilidade irrestrita do princípio
da integralidade, como nos seguintes casos: a) nos casos de custeio de tratamentos clínicos ou
cirúrgicos experimentais e a respeito dos quais não há sequer consenso mínimo na
comunidade científica ou médica; b) ao fornecimento de medicamentos não registrados na
ANVISA; c) fornecer medicamentos escolhidos pelo usuário, pela marca, quando o SUS o
dispensa pelo seu princípio ativo; d) dispensar medicamentos para fins de pesquisas
laboratoriais ou a usuários utilizados como objeto de pesquisa por determinados laboratórios
farmacêuticos231.
É evidente que nenhum sistema público pode acompanhar, pari passus, bem assim
incorporar em suas coberturas, todas as inovações tecnológicas que surgem diuturnamente na
área da medicina e da saúde, seja porque não terá orçamento para tal cobertura, seja pelo fato
de que muitas dessas inovações não trazem, com o passar do tempo, qualquer vantagem ou
benefício efetivo ao tratamento para o qual foi estabelecido e, em certos casos, se mostram até
prejudiciais à saúde e integridade dos pacientes.
230 “[...] parece inviável conceber um sistema público de saúde que seja capaz de oferecer e custear, para todos os indivíduos, todas as prestações de saúde disponíveis. Com efeito, é difícil imaginar que a sociedade brasileira seja capaz de pagar (ou deseje fazê-lo) por toda e qualquer prestação de saúde disponível no mercado para todos os seus membros. Ou seja: por vezes, a rede pública de saúde não oferecerá à população determinadas prestações já disponíveis na tecnologia diagnóstica e/ou terapêutica.” (Ana Paula de Barcellos, O Direito à Prestações de Saúde: Complexidades, Mínimo Existencial e o Valor das Abordagens Coletiva e Abstrata, p. 805). Também assume posição semelhante: Fátima Vieira Henriques, Direito Prestacional à Saúde e Atuação Jurisdicional, p. 835. Ratificando esse entendimento: “[...] a integralidade regulada impõe-se no SUS e expressar-se-á na definição e na oferta, a todos o brasileiros, de um conjunto de serviços, discutido com base técnica na efetividade e na segurança das tecnologias, no seu conteúdo ético, em sua conformidade com as necessidades de saúde da população e em sua aceitabilidade social” (BRASIL, O Sistema Único de Saúde e a qualificação do acesso, 2009a, p. 50). 231 As restrições impostas ao princípio da integralidade aqui destacadas encontram amparo na recente jurisprudência do STF (STF – PLENÁRIO – AG. REG. STA 175/CE – Decisão unânime, Publicada no DJE 30/04/2010 - ATA Nº 12/2010. DJE nº 76, Rel. Min. GILMAR MENDES. Disponível em: <http://www.stf.jus.gov.br/acompanhamento processual>. Acesso em 02 de mai. 2010).
121
Aqui cabe registrar a posição firmada pelo médico americano e diretor de bioética
dos Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, Ezekiel Emanuel, ao tratar da questão
da impossibilidade dos sistemas públicos oferecem cobertura para todo e qualquer tipo de
tratamento ou medicamento, bem assim das escolhas que esses sistemas têm de fazer para
que, com os recursos disponíveis, possam atender àqueles que mais necessitam. Aqui reside a
complexidade da questão, segundo o médico entrevistado, na medida em que embora exista
um princípio ético de que todas as vidas humanas tem o mesmo valor e mereçam o mesmo
tratamento, outros princípios também existem em confluência com este primeiro, de forma
que, para ser ético (quando se trata de saúde da população de um país), é preciso pensar em
salvar o maior número de vidas possíveis, deixando de lado o pensamento que garantiria a
salvação uma vida apenas232.
Ora, diante desse quadro descritivo, como realizar o princípio da integralidade? É
necessário afastar, inicialmente, a ideia muito presente no meio social e, também no
Judiciário, de que o SUS deixa de oferecer cobertura a determinados procedimentos, insumos
ou medicamentos, baseando-se, unicamente no elemento econômico-orçamentário, ou seja, no
impacto financeiro que tais coberturas poderão trazer ao sistema de saúde. Essa análise não
pode ser tomada como elemento principal dessa discussão, não de maneira exclusiva, pois ao
tomarmos o SUS como sistema jurídico-constitucional e a saúde como direito fundamental,
não poderemos deixar de exigir que as tomadas de decisão passem, necessariamente, pela
conjugação e realização de todos os princípios que regem essa instituição constitucional,
ainda que para isso seja necessário aplicar as regras de sopesamento233 entre esses princípios.
Independentemente daqueles que rechaçam a tese da limitação da cobertura dos
serviços e ações do SUS em função da necessidade de equilíbrio macroeconômico, a
232 Cf. Ezekiel Emanuel, Entre a vida e a morte, p. 17/21. 233 A ideia de SOPESAMENTO encontra-se bastante difundida por Robert Alexy, em sua obra sobre a Teoria dos Direitos Fundamentais (ob. cit., p. 163-179).
122
integralidade no SUS sempre foi entendida pela grande maioria dos estudiosos da matéria,
como instrumento de racionalização e oferta de ações e serviços gratuitos a todos os
beneficiários do sistema público de saúde, tomados e referenciados em comprovação
científica de eficácia, efetividade, segurança e conteúdo ético, desde que apresentem
resolutividade às necessidades de saúde da população234, com a condição de que o paciente
opte pelo atendimento integral disponível no sistema público (SUS), o que pressupõe a
prestação de serviços desde o diagnóstico, passando a partir de então, ao fornecimento de
todas as ações e serviços de saúde (inclusive medicamentos) necessários para a recuperação
do seu agravo, em todos os graus de complexidade por ele exigidos. Nessa condição, o SUS
fica obrigado a oferecer ao paciente todos os serviços disponíveis para o seu tratamento – não
esquecendo de que estes devem estar validados pela marca da comprovação científica de
eficácia, efetividade e segurança -, ainda que para isso tenha que contratar e pagar serviços da
iniciativa privada, complementando os serviços do próprio SUS235.
Ratificando esse entendimento, a Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011 (publicada no
DOU de 29/04/2011) ao tempo que altera a Lei nº 8.080/90 - acrescendo diversos dispositivos
-, passou a definir, expressamente, a assistência terapêutica integral prevista no art. 6º, I, “d”
da Lei Orgânica da Saúde, nela se incluindo a dispensação de medicamentos, produtos e/ou
procedimentos de interesse para a saúde, desde que a prescrição médica esteja em
conformidade com as diretrizes terapêuticas definidas em protocolos clínicos para a doença
ou agravo a ser tratado ou, na falta de protocolos, conforme listas de medicamentos,
referenciadas por qualquer dos entes federados que compõe o Sistema Único de Saúde
(SUS)236.
234 BRASIL, Sistema Único de Saúde, 2007, p. 241. 235 Lenir Santos, Sociedade e Direito no SUS, p. 67. 236 Nesse sentido cabe a leitura dos artigos 19M e 19P da Lei nº 8.080/80, com a redação dada pela Lei nº 12.401/2011.
123
Ainda segundo as novas disposições legais (trazidas pela Lei n° 12.401/2011), na
falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação deverá ser feita com base
na RENAME (Relação Nacional de Medicamentos), na REME (Relação Estadual de
Medicamentos) e na REMUME (Relação Municipal de Medicamentos), sempre guardadas as
responsabilidades de cada um dos entes do SUS na elaboração das referidas relações de
medicamentos, bem assim, a necessária aquiescência e pactuação nas Comissões Intergestores
CIT (no âmbito federal), CIB (no âmbito estadual), bem como no Conselho Municipal de
Saúde (no âmbito municipal).
Adotou o legislador pátrio, agora de maneira explícita, o princípio da integralidade
regulada, no qual todos os serviços e ações – aqui em especial os medicamentos - no SUS (e
para o SUS), devem está em conformidade com os protocolos clínicos e diretrizes
terapêuticas237, elaborados pelos especialistas de determinadas áreas de conhecimento da
medicina e/ou profissionais médicos, ratificados pela sociedade e homologados pelo poder
público.
Na verdade, as modificações legais além de melhor parametizar a integralidade da
assistência à saúde no SUS, também se constituem em exceções a esse mesmo princípio -
exigência de tratamento de todo e qualquer paciente, integralmente, dentro do SUS -, já que
essa nova disciplina legal não condicionou o oferecimento de ações e serviços de saúde
apenas quando a prescrição for feita por profissionais do SUS, exigindo, tão somente, que
qualquer solicitação de cobertura pelo SUS devesse obedecer aos Protocolos Clínicos e
Diretrizes Terapêuticas (PCDTs), devidamente reconhecidos, homologados e publicados pelo
237 “Esses Protocolos têm o objetivo de, ao estabelecer claramente os critérios de diagnóstico de cada doença, o tratamento preconizado com os medicamentos disponíveis nas respectivas doses corretas, os mecanismos de controle, o acompanhamento e a verificação de resultados, e a racionalização da prescrição médica, os Protocolos têm, também, o objetivo de criar mecanismos para a garantia da prescrição segura e eficaz”. “A criação de Protocolos para Medicamentos Excepcionais envolveu a formação de uma equipe de trabalho que contou com médicos, professores universitários com formação em farmacologia clínica e epidemiologia, farmacêuticos e um serviço de apoio [...]” (BRASIL, Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas: medicamentos excepcionais, 2002a, p. 13/14)
124
Sistema Único de Saúde. Essa exigência legal se justifica, na medida em que muitas das ações
judiciais são instruídas com prescrições médicas feitas por profissionais do setor privado e
totalmente dissociadas dos PCDTs reconhecidos pelo SUS ou, muitas vezes, com inversão do
tratamento previsto pelo sistema público, sem especificar qualquer justificativa técnica para
afastar a aplicabilidade do protocolo previsto para tal doença, ocasionando não apenas quebra
do princípio da integralidade, bem como do princípio da equidade, ambos pilares do SUS.
Assim, o princípio da integralidade deve ser interpretado à luz do Sistema Único de
Saúde (SUS), para o qual foi destacado para reger: o sistema público de saúde brasileiro só
assegura a integralidade dentro dos regramentos do próprio sistema, ou seja, no tocante à
dispensação de medicamentos, todo e qualquer usuário deverá cumprir as exigências e
pressupostos estabelecidos para o acesso a tal serviço, sob pena de esfacelamento do SUS,
ocasionando um fracionamento da atenção e transformando o sistema público integral em
sistema complementar ao sistema privado238.
4.2.4 Princípio da descentralização político-administrativa, com direção única em cada
esfera de governo
Uma das principais bandeiras de luta do movimento de reforma sanitária - ao longo
da ditadura militar e do período que antecedeu a redemocratização do Brasil - era a
descentralização das ações e serviços da saúde, de modo especial com indicação para a
municipalização da saúde. Esse pleito foi objeto de experiências em diversos municípios do
país, seja por meio das Ações Integradas de Saúde (AIS) seja pela implantação do SUDS,
238 Lenir Santos, SUS: Contornos jurídicos da integralidade da atenção à saúde, p. 66.
125
tomadas como parâmetros para o novel Sistema Único de Saúde (SUS) que viria a ser
definido na Carta Constitucional de 1988 e pela Lei Orgânica da Saúde, em 1990.
O princípio em tela tem duplo viés: atua como fomentador da descentralização das
políticas de saúde do âmbito do Governo Central (aqui entendido como Ministério da Saúde),
veemente combatida ao longo da história da saúde em nosso país, tanto no plano da
macropolítica, quanto no tocante à execução destas; por outro lado, funciona com o
estabelecimento de uma direção única em cada esfera de governo, garantindo autonomia
político-administrativa a cada ente da federação na condução das ações e serviços de saúde no
SUS.
O grande desejo dos que compunham o movimento de reforma sanitária era que a
construção das políticas de saúde se desse no plano piramidal invertido, ou seja, que as
grandes discussões e decisões no SUS não viessem prontas e decididas pelos tecnocratas do
Ministério da Saúde, apenas para execução e cumprimento pelos órgãos da saúde dos Estados
e Municípios, mas que fossem feitas ouvindo não apenas os demais entes estatais, mas
também os principais beneficiários do sistema público, a população em geral. Haveria, por
assim dizer, um contra-fluxo na elaboração das políticas de saúde no país: as decisões e/ou
deliberações seriam submetidas, inicialmente, à população dos Municípios (base do sistema
público), posteriormente seriam catalogadas no âmbito regional ou estadual, e seriam, por
fim, consolidadas, em nível nacional, pelo Ministério da Saúde. É a ideia de participação
popular na condução do SUS, o que redunda, também em descentralização das políticas de
saúde.
É bem verdade que o princípio da descentralização político-administrativa vem se
constituindo como marco fundamental do SUS, principalmente no tocante à execução das
políticas de saúde enquadradas na atenção básica, praticamente desenhadas pelos Municípios
e suas populações. Porém, no que diz respeito às políticas de média e alta complexidade do
126
SUS, o papel dos gestores municipais (bem assim de suas populações) ainda é muito
incipiente, salvo nos municípios sede de capitais ou aqueles de grande porte geográfico ou
economicamente significante.
Mais é preciso deixar claro que a descentralização deve passar pela questão da
descentralização de competências e atribuições e também da descentralização financeira dos
recursos para Estados e Municípios, só assim será possível construir uma realidade histórica e
social capaz de atender às políticas públicas de promoção e proteção da saúde, bem assim dar
resposta aos principais problemas epidemiológicos e agravos da saúde dos concidadãos
brasileiros, tomados em sua realidade histórico-geográfica.
Como a seguir se detalhará, a aprovação do Pacto pela Saúde – consolidação do
SUS239 -, em 2006, firmado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios vem,
exatamente, na busca de se concretizar a descentralização político-administrativa, como forma
de elastecer e delinear as competências e atribuições de cada ente federativo no sistema e,
principalmente, consolidar o Sistema Único de Saúde (SUS).
No tocante a esse princípio, é necessário não perder de vista que o fato de que cada
esfera de governo terá uma direção única dentro do sistema, não pode conduzir à ideia de
mero trabalho de cooperação entre os entes federados, mas de compartilhamento das ações e
serviços da saúde entre tais entes da federação240. Diferentemente da estrutura político-
administrativa instaurada pelo federalismo brasileiro, onde, apesar de haver um sistema de
cooperação entre os entes federados, cada um deles age, dentro do federalismo, como uma 239 No início do ano de 2006 foi aprovado o Pacto pela Saúde – Consolidação do SUS, Portaria GM/MS n. 399, de 22 de fevereiro de 2006, um movimento de mudança que não é uma norma operacional, mas um acordo interfederativo articulado em três dimensões: o Pacto pela Vida, o Pacto em Defesa do SUS e o Pacto de Gestão. (BRASIL, Legislação Estruturante do SUS, 2011b, p. 25-26) 240 Nesse sentido, Lenir Santos tece as seguintes considerações: “Nosso federalismo é cooperativo, sempre tem o Estado cooperando com o município, a União cooperando com o Estado, mas isso é uma coisa um tanto quanto estanque. No momento em que a União faz uma cooperação com o Estado ou se delega uma atribuição que a União tem, para o Estado fazer, ou se passa o recurso para o Estado poder incrementar uma ação ou serviço público que ele vai fazer. O SUS não é isso, tem que compartilhar, decidir conjuntamente, como fazer tais e quais coisas, porque é um sistema único, e a integralidade se dá dentro do sistema; não se dá isoladamente.” (Sociedade e Direito no SUS, p. 183)
127
unidade autônoma, o Sistema Único de Saúde (SUS) possui gestão compartilhada, em todos
os sentidos, pois nele haverá compartilhamento de saberes, de condução técnico-científica, de
decisões e de financiamento.
4.2.5 Princípio da participação popular
Embora a expressão “participação popular ou comunitária” possa conduzir a
diferentes concepções, não há dúvida de que na saúde, ela pode ser tida como a relação
existente entre o Estado, os trabalhadores da saúde e a sociedade (em geral), numa
interlocução que permita estabelecer planejamentos, capazes de atender às definições e aos
objetivos setoriais da saúde, bem como acompanhar e fiscalizar a execução desses
planejamentos, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros.
No âmbito da saúde pública brasileira, este princípio tem sua origem histórica ainda
quando das primeiras iniciativas do movimento sanitário-campanhista, quando se buscava
apoio popular para disseminar os cuidados de higiene e estimular os brasileiros a aceitarem
participar das campanhas de vacinação, como política pública de saúde para o controle e
tratamento das principais doenças endêmicas que assolavam o país até a década de 60. A
participação popular ganhou impulso e deu uma contribuição importantíssima ao movimento
de reforma sanitária241, ainda na década de 70, na medida em que esse movimento tinha base
na participação democrática e na luta para combater todas as formas de ditadura. Até pode
parecer um princípio utópico, mas, hodiernamente, cada vez mais ele se faz necessário, em
241 Agasalhando essa concepção: “Entende-se, obviamente, que o momento histórico privilegiado, de ampla participação política da sociedade e de resgate das reformas de base reprimidas desde o golpe de 1964, foi determinante da franca incorporação oficial das formulações da sociedade, especialmente no caso da saúde, cuja reforma de base seria impedida no nascedouro. Tratava-se da Municipalização da Saúde, aprovada pela 3ª Conferência Nacional de Saúde, a qual se dera de 9 a 15 de dezembro de 1963, cujas deliberações seriam postas em marcha pelo governo Goulart e seus ministros [...]” (BRASIL, SUS 20 anos, 2009b, p. 148)
128
função da crescente necessidade de afirmação da participação democrática na elaboração, na
execução e avaliação das políticas públicas de saúde no Brasil.
Apesar de ter berço constitucional, a participação popular no SUS sofreu restrições
quando da promulgação da Lei Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080/90, ocasião em que foram
vetados - pelo então Presidente da República, Fernando Collor de Melo - o artigo 11 (e seus
parágrafos) e o artigo 41, ambos da respectiva lei, dispositivos legais que disciplinavam a
participação da sociedade no SUS, por meio da Conferência de Saúde e do Conselho de
Saúde, em cada esfera de governo.
Naquele momento histórico, pós-constitucional e início do primeiro mandato de
Presidente da República (pelo voto direto e universal), os movimentos sociais organizados
permaneciam vigilantes e participativos e, nesse sentido, o movimento de reforma sanitária
ainda era muito presente242, reagindo contra o veto presidencial e retomando a luta legislativa
pela regulamentação e constituição jurídica das Conferências de Saúde e dos Conselhos de
Saúde em cada esfera do SUS.
Não tardou muito e já em dezembro de 1990 fora publicada a Lei nº 8.142 – fruto de
expressiva reação da sociedade civil organizada -, a qual dispunha sobre a participação da
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), restabelecendo, pois, o mesmo teor
do texto legal vetado na Lei nº 8.080/90 e criando, em cada uma das esferas de governo, como
fóruns do SUS, as seguintes instâncias colegiadas: a conferência de saúde e o conselho de
saúde.
Pode parecer, numa análise menos desavisada, que a Conferência de Saúde e o
Conselho Nacional de Saúde – trazidos pela Lei n° 8.142/90 - não tenham se constituído em
242 Para se ter uma idéia da dimensão e influência política assumida pelo movimento de reforma sanitária nesse período: “Entre as muitas lições aprendidas nesse movimento de reforma sanitária, uma merece ser destacada: a mudança foi alcançada por um longo e duro movimento de politização da saúde que articulou movimentos sociais, profissionais de saúde, partidos políticos, universidades, instituições de saúde e políticos, especialmente parlamentares” (BRASIL, Legislação Estruturante do SUS, 2011a, p. 16)
129
novidades para o sistema público de saúde brasileiro, pois tais órgãos já constavam do acervo
jurídico da área da saúde243. Mais essa conclusão deve ser relativizada, na medida em que
somente a partir da 8ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em Brasília em 1986, é que
se pode falar em efetiva participação popular, eis que tal conclave contou com cerca de quatro
mil pessoas, de diferentes segmentos sociais, onde mil deles possuíam direito a voz e voto na
referida plenária. Dessa forma, além da legislação em comento ter determinado a
periodicidade para realização das Conferências de Saúde, ainda traçou os objetivos a serem
alcançados por cada uma delas, qual seja, avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes
para a formulação da política de saúde nos respectivos níveis de governo244.
Cada Conferência de Saúde deve ser capaz de conduzir os participantes a identificar
as principais necessidades de saúde daquela população, vinculada à respectiva instância
realizadora e traduzi-las em ações e serviços de promoção, prevenção e recuperação da saúde,
elegendo, dentre essas necessidades, aquelas que deverão receber prioridades do SUS245. E
mais, as deliberações e diretrizes extraídas dessas conferências devem guardar estreita relação
com o nível hierárquico do ente estatal na estrutura do SUS, de maneira que quanto mais se
aproxima da população, tais diretrizes devem ser mais específicas, ao passo que em se
tratando de âmbito federal, estas devem ser mais genéricas, especialmente porque serão
aplicadas a todo o território nacional e devem respeitar, concomitantemente, as
especificidades regionais.
243 A Lei n° 378, de 13 de janeiro de 1937, ao criar o Ministério da Saúde e Educação trouxe no seu corpo a instituição do Conselho de Saúde. Daí em diante outros instrumentos normativos trataram de disciplinar a organização, composição e finalidade do Conselho Nacional de Saúde. Já a primeira Conferência Nacional de Saúde ocorreu no ano de 1941, seguido nos anos de 1950, 1963, 1967, 1975, 1977, 1980, 1986, 1992, 1996, 2000, 2003 e 2007 (BRASIL, As Conferências Nacionais de Saúde: Evolução e perspectivas, 2009, p. 12-19). 244 Art. 1°, § 1° da Lei n° 8.142/90. 245 “Estabelecer prioridade não significa considerar sem importância as demais ações que já são regularmente desenvolvidas, mas indicar áreas que devem ser objeto de atenção especial. Se as conferências não forem capazes de indicar o que é mais relevante e tudo se igualar em termos de importância, torna-se impossível identificar que ações devem ter precedência e fica comprometido o esforço de análise e acompanhamento do planejamento da ação governamental que deve ser realizado pelos Conselhos de Saúde”. (BRASIL, As Conferências Nacionais de Saúde: Evolução e perspectivas, 2009, p. 33)
130
Por sua vez, a Lei n° 8.142/90 também inovou ao determinar a criação de Conselho
de Saúde em cada instância de governo – União, Estados, Distrito Federal e Municípios -, até
então exclusividade da União (já que o Conselho Nacional de Saúde era vinculado ao
Ministério da Saúde), indicando a sua composição paritária entre representantes do governo,
prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, além de elencar as suas
finalidades246.
Não resta dúvida, pois, da necessidade de uma constante participação social na
condução das políticas de saúde em nosso país, e do constante diálogo que deve se estabelecer
entre os gestores do sistema, as diversas áreas técnicas, os prestadores de serviços e a
sociedade. Nessa dialética todos tendem a dar e a receber, mas, decerto, será o Sistema Único
de Saúde o fim dessas contribuições e intervenções dos diversos atores sociais.
Por fim, embora não haja sinais expressivos de uma participação da sociedade civil
organizada no planejamento, execução e fiscalização das ações e serviços que devam ser
prestadas pelo SUS, essa realidade tende a se modificar, diante das crescentes demandas por
acesso universal e melhoria na qualidade e eficiência da prestação dos serviços públicos de
saúde, das facilidades de comunicação e de disseminação de ideias nas redes sociais e,
principalmente, pela já conhecida força dos movimentos sociais organizados, que poderão
sempre lutar pelo cumprimento estatal do direito à saúde, contido na Carta constitucional
vigente.
246 Eis o previsto no § 2° do art. 1° da Lei n° 8.142/90: “§ 2° O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo”.
131
4.3 ESTRUTURAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SUS
A estruturação e organização técnico-administrativa do Sistema Único de Saúde
(SUS) se encontra ligeiramente traçada pelo texto constitucional brasileiro, embora tal
disciplinamento não esgote a complexidade desse sistema. Sua principal finalidade é cumprir
a missão constitucional que foi destinada ao SUS, qual seja, executar ações e serviços de
promoção, proteção e recuperação à saúde de toda a população brasileira247.
No plano infraconstitucional, a operacionalização dessas diretrizes vem sendo feita
por meio de Normas Operacionais Básicas (NOBs), Normas Operacionais da Assistência à
Saúde (NOAS)248 e, recentemente, por meio do Pacto pela Saúde, de 2006.
O Sistema Único de Saúde (SUS) é composto pela União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, atuando, de forma integrada, nas três esferas de governo. Os pilares sob os quais
se fundam a organização do SUS são: a descentralização, a regionalização e a hierarquização
em níveis crescentes de complexidade.
Essas três diretrizes, também denominadas de diretrizes organizativas do SUS,
guardam estreitas relações na condução de seus fins, podendo-se afirmar que as expressões
descentralização, regionalização e hierarquização no SUS estão umbilicalmente ligadas uma a
outra, numa simbiose perfeita.
247 “Portanto, o SUS deve enfrentar um duplo desafio: abrir as portas do sistema para garantir o atendimento à população historicamente desassistida em saúde (fato que tem alcançado sucesso no Brasil, por meio de ampla expansão da atenção primária em saúde, desde a implantação do sistema, em 1988) e, ao mesmo tempo, implantar redes de atenção à saúde que possam dar conta das necessidades de atendimento (quesito em que o SUS ainda não obteve sucesso, persistindo desigualdades de acesso significativas entre as diferentes regiões do país)”.(BRASIL, Assistência de Média e Alta Complexidade no SUS, 2011, p. 10) 248 Lenir Santos e Luiz Odorico Monteiro de Andrade (Vinte anos de SUS: o Sistema de Saúde no Brasil no século XXI., p. 785) bem descrevem a importância das Normas Operacionais Básicas para o processo de descentralização das ações e serviços do SUS, ao tempo que aponta as dificuldades que estas tiveram de serem mais efetivas na organização do sistema: “Contudo, esse modelo de regulação causou sérios embaraços aos Municípios e à descentralização, uma vez que exigia o cumprimento de regramentos nem sempre compatíveis com a realidade local. Com o esgotamento de todas essas regulamentações que organizavam o SUS á luz do financiamento federal, fortemente disciplinado pelo Ministério da Saúde, passou-se a discutir, de forma conjunta (União, Estados e Municípios), um novo documento, o Pacto pela Saúde 2006”.
132
A descentralização e regionalização têm por denominador comum, a ênfase na
municipalização da gestão dos serviços e ações de saúde. Assim, enquanto a primeira busca
garantir ao município a autonomia e a responsabilidade necessárias para que esse ente
federado possa prestar a maioria dos serviços de saúde, diretamente em sua área territorial, a
segunda, se dispõe a organizar e racionalizar esses mesmos serviços, distribuindo-os de
maneira que aqueles que não puderem ser prestados pelo município, sejam distribuídos,
preferencialmente, em regiões territoriais o mais próxima possível do município-base do
usuário.
Nesse sentir, a descentralização nada mais é do que o reflexo da regionalização das
ações e serviços de saúde, portanto, “o aprofundamento do processo de regionalização só é
possível em face dos avanços decorrentes do intenso processo prévio de descentralização,
com ênfase na municipalização”249. Em razão disso, quanto maior for o processo de
regionalização, mais sentida será a descentralização das ações e serviços de saúde em nosso
meio social. Daí, priorizar-se a análise da regionalização em curso em todos os níveis
federativos, a qual possibilitará uma visão global do processo de descentralização levado a
efeito no sistema público de saúde brasileiro.
Mas o que vem a ser “regionalização no SUS”? A ideia da regionalização no SUS
está muito ligada à de territorialidade250. A regionalização seria, por assim dizer, uma
“articulação entre os gestores estaduais e municipais na implementação de políticas, ações e
serviços de saúde qualificados e descentralizados, que possibilitem acesso, integralidade e
249 Cf. BRASIL, Regionalização da assistência à saúde: aprofundando a descentralização com equidade no acesso: Norma Operacional da Assistência à Saúde: NOAS-SUS 01/01 e Portaria MS/GM n.o 95, de 26 de janeiro de 2001 e regulamentação complementar, 2001. p. 5. 250 “O processo de regionalização deverá contemplar uma lógica de planejamento integrado, compreendendo as noções de territorialidade, na identificação de prioridades de intervenção e de conformação de sistemas funcionais de saúde, não necessariamente restritos à abrangência municipal, mas respeitando seus limites como unidade indivisível, de forma a garantir o acesso dos cidadãos a todas as ações e serviços necessários para a resolução de seus problemas de saúde, otimizando os recursos disponíveis”. (BRASIL, Regionalização da Assistência à Saúde: aprofundando a descentralização com eqüidade no acesso: Norma Operacional da Assistência à Saúde: NOAS-SUS 01/02 e Portaria MS/GM n.º 373, de 27 de fevereiro de 2002 e regulamentação complementar, 2002, p. 9)
133
resolutividade na atenção à saúde da população”251. Essa necessidade decorre não apenas de
previsão constitucional, mas também das dificuldades vivenciadas pelas três esferas de
governo na implementação e concretização do SUS.
A Portaria GM/MS nº 399/2006252, ao tempo que aprova as diretrizes operacionais
do Pacto pela Saúde 2006 - que é composto pelo Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e
Pacto de Gestão do SUS -, traz em seu anexo II, os objetivos que o SUS pretende alcançar
com a regionalização da atenção à saúde:
- Garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e serviços de saúde cuja complexidade e contingente populacional transcenda a escala local/municipal; - Garantir o direito à saúde, reduzir desigualdades sociais e territoriais e promover a equidade, ampliando a visão nacional dos problemas, associada à capacidade de diagnóstico e decisão loco–regional, que possibilite os meios adequados para a redução das desigualdades no acesso às ações e serviços de saúde existentes no país; - Garantir a integralidade na atenção a saúde, ampliando o conceito de cuidado à saúde no processo de reordenamento das ações de promoção, prevenção, tratamento e reabilitação com garantia de acesso a todos os níveis de complexidade do sistema; - Potencializar o processo de descentralização, fortalecendo estados e municípios para exercerem papel de gestores e para que as demandas dos diferentes interesses loco–regionais possam ser organizadas e expressadas na região; - Racionalizar os gastos e otimizar os recursos, possibilitando ganho em escala nas ações e serviços de saúde de abrangência regional.
A principal finalidade da regionalização é aproximar as ações e serviços de saúde,
prestados pelo SUS, dos seus destinatários finais, os usuários. A meta sempre foi a completa
municipalização de todos os serviços e ações do sistema público, embora esse processo ainda
deva levar muitas décadas para ser atingido, principalmente em função das dificuldades
encontradas pelos municípios de pequeno e médio porte em atrair profissionais especializados
para prestação dos serviços de média e alta complexidade em seu território, bem assim de
251 O SUS DE A A Z. Disponível em: http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz/topicos/topico_det.php?co_topico=525&letra=R. Acesso em 26 out 2011. Nessa mesma linha: “A Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão e deve orientar a descentralização das ações e serviços de saúde e os processos de negociação e pactuação entre os gestores”. (BRASIL, Sistema Único de Saúde, 2011d, p. 122) 252 BRASIL, PORTARIA GM/MS nº 399, de 22 de fevereiro de 2006. Divulga o Pacto pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido Pacto.
134
poder adquirir e manter atualizados os equipamentos e instrumentos de alta tecnologia para
atender a essas especialidades médicas.
Embora a municipalização seja a matriz para onde caminha a descentralização do
SUS, a responsabilidade dos municípios para com seus cidadãos não pode ficar circunscrita
ao âmbito dos seus limites territoriais, eis que se houver necessidade de complementaridade
da assistência à saúde, não disponível em um dado município brasileiro, a oferta desses
serviços deve ser uma corresponsabilidade da gestão municipal onde residir o cidadão. Dessa
maneira, diante da ainda impossibilidade de alguns municípios brasileiros prestarem todos os
serviços e tratamentos disponíveis no SUS aos seus munícipes, surgiu a necessidade do
sistema se estruturar de maneira regionalizada, de forma a alcançar a finalidade de prestar tais
bens e serviços aos usuários do SUS, o mais próximo possível de seu domicílio, o que ocorre
por meio de pactuações com outros entes do SUS (estabelecimento de consórcios
intermunicipais ou pactuação com municípios maiores ou gestão pela Secretaria Estadual de
Saúde).
Além da descentralização e da regionalização, as ações e serviços do SUS são
dispostos de maneira hierárquica, em três níveis de atenção, os quais são constituídos
levando-se em consideração as diferentes composições tecnológicas aplicadas, sua densidade,
custo e viabilidade, na perspectiva de solucionar problemas de saúde e oferecer a
integralidade das ações e serviços de saúde, dentro desse sistema253.
Na verdade, toda essa preocupação se justifica na medida em que o SUS tem por
missão constitucional oferecer ações e serviços capazes de promover, proteger e recuperar a
saúde de todos os brasileiros ou residentes no país. Para dar cobro a esses objetivos, o SUS
está estruturado em três níveis: o primário, o secundário e o terciário.
253 Luciano Vasconcellos Quinellato, A diretriz de hierarquização do SUS: mudando a antiga perspectiva do modelo médico-assistencial privatista, p. 19.
135
É preciso lembrar, antes de qualquer coisa, que por se tratar de uma organização
sistêmica, esses três níveis se articulam entre si, de maneira que não há falar-se em cada um
deles de maneira estanque. Por sua vez, embora haja uma ascendência maior dessa
organização em níveis na prestação da assistência médica, também integram cada um desses
níveis o estabelecimento de ações voltadas para a prevenção e a promoção da saúde.
O nível primário, também conhecido como nível da atenção básica254 se constitui
num conjunto de ações de caráter individual ou coletivo que envolve a promoção da saúde, a
prevenção de doenças, o diagnóstico, o tratamento e a reabilitação dos pacientes. Nesse nível
ocorre o primeiro contato dos usuários com o SUS: pela atuação dos programas educativos de
prevenção à saúde (muitos deles executados pelas equipes do Programa Saúde da Família),
pelos programas de vacinação regular ou campanhas nacionais de vacinação, atendimentos e
consultas médicas realizados pelas especialidades básicas de saúde (clínica médica, pediatria,
obstetrícia, ginecologia e inclusive as emergências referentes a essas áreas), campanhas locais
ou nacionais de promoção à saúde, entre outras ações e serviços disponibilizados à população
de determinado município. A responsabilidade pela oferta de serviços da atenção básica à
saúde é da gestão municipal ou do Distrito Federal (item 2 da Portaria nº 648/GM de 28 de
março de 2006), não obstante a União e os Estados sejam responsáveis pelo estabelecimento
de metas, bem como pelo co-financiamento das ações e serviços desse nível de atenção.
Observa-se que a atenção primária à saúde deve receber tratamento especial, pois se
houverem bons programas nesse nível, muitas doenças e agravos à saúde serão controlados,
evitando muitas mortes, abruptas e precoces (como acontece com doenças simples como
diabetes, hipertensão, problemas relacionados à obesidade, entre outras).
O segundo nível, denominado de intermediário ou de média complexidade, compõe-
se de ações e serviços cuja prática clínica demanda disponibilidade de profissionais
254 A Portaria nº 648/GM, de 28 de março de 2006 aprova, institui e disciplina a Política Nacional de Atenção Básica, no SUS.
136
especializados e uso de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico. Os serviços
de média complexidade são prestados por centros de saúde (especializados), policlínicas
médicas, laboratórios especializados de análise, hemocentros, hospitais gerais, maternidade e
hospitais de trauma e emergência255. O rol de procedimentos e serviços cobertos é mais
abrangente do que aquele previsto na atenção básica, mas, em tese, deveria decorrer da
ineficácia, da inadequação ou da ausência de resposta às ações e serviços ofertados no nível
básico. Excepcionalmente, não está afastada a hipótese de utilização do nível intermediário
como porta de entrada no SUS, bastando que o agravo ou quadro de saúde do usuário esteja
em estágio avançado ou exija, diretamente, a prestação dos seguintes serviços e
especialidades: procedimentos especializados realizados por profissionais médicos, outros
profissionais de nível superior e nível médio; cirurgias ambulatoriais especializadas;
procedimentos relacionados à traumato-ortopedia; ações e serviços odontológicos
especializados; patologia clínica; anatomopatologia e citopatologia; radiodiagnóstico; exames
ultrassonográficos; diagnose; fisioterapia; terapias especializadas; próteses e órteses; além de
anestesia256.
A responsabilidade pela oferta de serviços de Média Complexidade é da gestão
municipal, sendo o financiamento responsabilidade das três esferas de governo.
O nível terciário, por sua vez, está ligado à ideia de alta complexidade no SUS, e este
nível de atenção se constitui num “conjunto de procedimentos que, no contexto do SUS,
envolve alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços
qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde (atenção básica e de média
complexidade)”257.
255 Claude Machline, A Assistência à saúde no Brasil, p. 3. 256 Disponível em: http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz/topicos/topico_det.php?co_topico=433&letra=M. Acesso em 01 nov 2011. 257 BRASIL, Assistência de Média e Alta Complexidade no SUS, p. 13.
137
É na alta complexidade que o SUS passa a exigir mais a regionalização das ações e
serviços, na medida em que estes são prestados por estabelecimentos hospitalares
especializados em tratamento mais complexos, além de realização de procedimentos com a
utilização de equipamentos tecnologicamente mais adequados (portanto com custo mais
elevado) e, muitas vezes, indisponíveis em pequenos e médios municípios, quando muito
inexistentes em alguns Estados da federação. A exemplo do que já foi dito quando da análise
da média complexidade, os serviços de alta complexidade devem ser uma continuidade às
linhas de tratamento já disponibilizadas nos níveis antecedentes, o que também não afasta a
possibilidade, excepcional, de ser a porta de entrada de usuários no SUS, considerando o
agravo em seu quadro de saúde e a forma de ingresso no sistema.
Mas não se pode perder de vista que o nível da alta complexidade não é um fim em si
mesmo, pois sua existência vem em complementaridade aos níveis secundários e primários.
Não há uma dicotomização, nem um grau de importância maior ou menor entre esses três
níveis, mais uma relação de interdependência e de inter-relação. Uma linha de cuidado será
utilizada até esgotar todas suas possibilidades, deixando ao outro nível a continuidade de todo
o trabalho já desenvolvido nos níveis anteriores. Em razão disso, não é possível pensar em
atacar os grandes problemas de saúde pública sem que o planejamento tenha que passar,
necessariamente, pelo estabelecimento de metas, objetivos e planos de ação que alberguem
todos os níveis de atenção à saúde.
Por sua vez, os gestores do SUS têm se voltado para o nível da alta complexidade, na
tentativa de equacionar e dar resolutividade aos problemas relacionados à integralidade da
assistência médica, dentro do sistema público. Para tanto, as áreas técnicas do Ministério da
Saúde têm instituído diversas políticas públicas envolvendo todas as esferas políticas
federativas na construção de redes estaduais que utilizem os serviços em todos os níveis de
138
atenção (primário, secundário e terciário)258. É nesse contexto que se insere a Política
Nacional da Atenção Oncológica (PNAO), que será analisada no próximo capítulo.
O esquema abaixo (figura 1) bem descreve a inter-relação existente entre os diversos
níveis de atenção à saúde no Sistema Único de Saúde, bem como delineia as ações e serviços
disponibilizados aos usuários em cada um deles. Os diagramas, individualmente, apontam
para cada nível e o seu campo de atuação específico. Por outro lado, a confluência entre eles,
demonstra, claramente, a unidade e complementaridade do sistema de prestação de saúde no
SUS.
É possível destacar os elementos comuns entre os níveis, principalmente no que diz
respeito a serem estes (individual ou em conjunto) portas de entradas para os usuários do
SUS. Já no sistema, os principais pontos de intersecção entre esses níveis são os diagnósticos
e os cuidados paliativos.
São exatamente as extremidades da assistência integral à recuperação da saúde: um
bom e precoce diagnóstico permite um tratamento eficaz, reduz as complicações do agravo
(exigindo menos utilização dos níveis superiores da atenção) e devolve a saúde e a qualidade
de vida ao usuário; não sendo possível a cura do agravo, os cuidados paliativos se prestam a
aliviar o sofrimento do usuário e a lhe ofertar cidadania ao longo da sua doença.
258 “O Ministério da Saúde, através do DARA, define Redes de atenção à saúde como arranjos organizativos de unidades funcionais e/ou pontos de atenção de diferentes densidades tecnológicas, que, integrados por meio de sistemas logísticos, de apoio diagnóstico e terapêutico e de gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. A porta de entrada e base para a organização do sistema é a estrutura de atenção primária da saúde”. (André Cezar Medici, Da Atenção Primária às Redes de Saúde: Novos Caminhos para a Regionalização do SUS, 2011. Disponível <http://monitordesaude.blogspot.com/2010/06/da-atencao-primaria-as-redes-de-saude_19.html>). Também Eugênio Villaça Mendes bem conceituou as Redes de Atenção à Saúde como sendo “a organização horizontal de serviços de saúde, com o centro de comunicação na atenção primária á saúde, que permite prestar uma assistência contínua a determinada população – no tempo certo, no lugar certo, com o custo certo e com a qualidade certa – e que se responsabiliza pelos resultados sanitários e econômicos relativos à essa população” (BRASIL, SUS 20 anos, 2009b, p. 215)
139
Figura 1: Interação entre os níveis de atenção no SUS259
Machline260, em estudo sobre o fluxo dos pacientes nos três níveis de atenção do
SUS, demonstrou que há uma discrepância muito grande entre o fluxo idealizado pelas áreas
técnicas que implantaram o SUS e a realidade vivida por esse sistema ao longo dessas duas
primeiras décadas de sua existência. Segundo esse estudo, os idealizadores do SUS pensavam
que os todos os usuários entrariam no sistema no nível primário (100%) e que nele seriam
resolvidos 80% dos casos que ali entrassem, sendo encaminhados apenas 20% ao nível
secundário. No segundo nível (secundário ou intermediário), dos 20% ali encaminhados, o
SUS resolvia 15% deles, ficando para o nível terciário apenas 5% dos casos. Na prática, isso
não ocorreu, seja porque os demais níveis foram utilizados como porta de entrada no SUS,
seja pelo fato do nível antecedente não ter apresentado resolutividade na percentagem pensada
pelos idealizadores do SUS. 259 Fonte: Ministério da Saúde/Secretaria de Atenção à Saúde - SAS/Departamento de Atenção Especializada - DAE/Coordenação-Geral da Média e Alta Complexidade - CGMA 260 Claude Machline, A Assistência à saúde no Brasil, p. 4/5.
Porta de Entrada
Porta de Entrada
Atenção Básica Promoção Prevenção Diagóstico Precoce Acompanhamento Cuidados Paliativos
Média Complexidade Especialidades Diagnóstico Precoce Diagnóstico Oportuno Tratamento /Acompanhamento Reabilitação Cuidados Paliativos
Alta Complexidade Diagnóstico
Tratamento/Acompanhamento
Reabilitação Suporte p/ Cuidados
Paliativos
Diagnóstico Cuidados Paliativos
Emergência
140
Essa discrepância apontada pela autora do estudo acima referenciado é o cerne dos
diversos problemas hoje enfrentados pelo SUS, principalmente no que diz respeito à formação
de filas para consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos, ocasionados pela ausência
da construção de redes de média e alta complexidade intermunicipais e interestaduais. Por
outro lado, também a organicidade do sistema termina por restringir demais as ações e
serviços do terceiro nível, represando e engessando, sobremaneira, a cadeia lógica, o que leva
muitas vezes ao descrédito desse sistema pela população em geral e pela mídia brasileira.
Enquanto não forem bem dimensionadas as Redes de Atenção à Saúde, com a
implementação de planejamentos capazes de perceber as necessidades epidemiológicas das
diversas realidades populacionais, projetando-os para dar resolutividade à baixa qualidade das
ações e serviços de saúde (em curto, médio e longo prazo), a população brasileira em geral,
não terá a real noção da abrangência e das possibilidades do SUS.
Na esteira do que até aqui se expôs, somente com a conjugação dos princípios
organizacionais do SUS – descentralização, regionalização e hierarquização – articulados em
uma “rede interfederativa será capaz de garantir a integralidade da atenção à saúde dos
cidadãos, matriz da conformação do SUS em rede interfederativa, operada por consenso e
consubstanciada em contratos interfederativos multilaterais”261 é que o SUS poderá alçar à
condição de sistema público de saúde eficiente e que oferece aos seus usuários, ações e
serviços de saúde de qualidade e de forma integral.
No entanto, para que se possa atingir esse estado de solidez, o sistema público de
saúde pátrio deve contar, imprescindivelmente, com a co-participação das três esferas de
governo (União, Estados e Municípios), de maneira ativa, integrada e contínua. Em razão
disso, faz-se necessário que sejam examinadas as atribuições e competências de cada ente
federado na construção, organização e manutenção do Sistema Único de Saúde (SUS),
261 Lenir SANTOS e Luiz Odorico Monteiro de Andrade, Vinte Anos de SUS: O Sistema de Saúde no Brasil no Século XXI, p. 785.
141
delineando os campos de atuação em que esses entes atuam conjuntamente e, procurando
estabelecer o campo de atuação exclusiva de cada um deles, nunca perdendo de vista que num
sistema interfederativo, mesmo quando se estabelecem atribuições e competências para cada
ente federado, estas devem está em consonância com os princípios e diretrizes estruturantes
desse sistema. É o que se pretende com o tópico seguinte.
4.4 REPARTIÇÃO DE ATRIBUIÇÕES/COMPETÊNCIAS
Partindo-se da premissa de que a organização e estruturação do SUS obedece a
diretrizes e princípios doutrinários e organizacionais (delineados no texto constitucional),
sendo que estes últimos se voltam para a operacionalização técnico-administrativa desse
sistema, consubstanciada na condução da descentralização, hierarquização e regionalização,
volta-se, nesse momento para a análise do papel de cada ente federativo – União, Estados,
Distrito Federal e Municípios – como partícipe do sistema interfederativo que é o SUS.
Cabe registrar, inicialmente, que o texto constitucional delineou (de maneira sutil)
apenas os traços básicos dessas competências quando disciplinou que caberia aos Municípios
a prestação de serviços de atendimento à saúde da população, com a cooperação técnica e
financeira da União e dos Estados262. Outrossim, o constituinte de 1988 previu a competência
legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal para a proteção e defesa da
saúde, deixando à União a competência para estabelecer normas gerais263.
Também é importante frisar que no Sistema Único de Saúde não há hierarquia entre
os entes federados, de maneira que ficam respeitadas as autonomias de cada um deles,
ressalvado apenas o comando único em cada esfera de governo. Nesse sentido, no âmbito da
União, a direção do SUS cabe ao Ministério da Saúde. Na esfera estadual e no Distrito
262 Art. 30, VII da Constituição Federal de 1988. 263 Art. 23, XII e §§ 1º ao 4º, da Constituição Federal de 1988.
142
Federal, a direção está adstrita à Secretaria Estadual de Saúde (ou órgão equivalente) e nos
municípios essa direção é afeta à Secretaria Municipal de Saúde (ou órgão congênere)264.
Dessa forma, coube à legislação infraconstitucional o detalhamento das
competências e atribuições de cada um dos entes federados. Ao longo da existência do SUS,
essas competências e atribuições vêm sendo sistematicamente objeto de análise e
aprofundamento, dada a dinamicidade das necessidades sociais na área da saúde e por
diversos problemas relacionados às próprias esferas de poderes governamentais. Coube à Lei
Orgânica da Saúde – Lei nº 8.080/90 disciplinar, em linhas gerais, as competência e
atribuições comuns e aquelas próprias e exclusivas de cada ente da federação265.
Numa análise mais detalhada do rol de competências e atribuições disciplinadas pela
Lei Orgânica da Saúde, fica claramente demonstrado o caráter da interdependência dos entes
federados, não obstante se possa aferir que à União foram destinadas, precipuamente, as
atribuições de coordenação geral do SUS, voltando suas atividades mais para as áreas de
formulação, definição, avaliação e coordenação das políticas públicas de saúde no país, bem
assim de co-financiadora dessas mesmas políticas, tendo-lhe sido restrita a atuação executiva
dessas políticas266.
Por força da Lei nº 8.080/90 coube aos Estados, as ações e serviços de saúde na área
geográfica de cada um deles, de modo especial para promover a descentralização destas ações
e serviços aos Municípios que o compõem; acompanhamento, controle e avaliação das redes
hierarquizadas do SUS, bem assim o apoio técnico e financeiro aos Municípios que integram
o respectivo Estado; acompanhamento, avaliação e divulgação dos indicadores de morbidade
264 É o que prescreve o 198, I da CF/88 c/c o art. 9º e seus incisos, da Lei nº 8.080/90. 265 Uma leitura da Lei nº 8.080/90 revela que o Capítulo IV foi reservado às competências e atribuições dos entes federados no SUS: o artigo 15 elenca as competências comuns (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), já o artigo16 traça as atribuições específicas da União, sendo que o artigo 17 trata das atribuições dos Estados e no artigo 18 encontram-se as atribuições próprias dos entes municipais. Por sua vez, ao Distrito Federal foram atribuídas as competências e atribuições próprias tanto dos Estados quanto dos Municípios. 266 A lei de regência da matéria de saúde – Lei nº 8.080/90 – só permitiu à União a execução direta das seguintes ações de saúde: a) vigilância epidemiológica; b) vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras; c) politica nacional de produção de insumos e equipamentos para a saúde.
143
e mortalidade no âmbito da unidade federada; além de atribuição de execução de ações e
serviços, de forma complementar ou suplementar (às execuções de atribuição da União, como
dos Municípios).
As competências e atribuições arroladas à direção do SUS municipal, embora não
exaustivas, apresentam o caráter preponderante de ente executivo das ações e serviços do
SUS, agindo o legislador em atenção ao princípio da descentralização e da municipalização
dessas ações e serviços. Como integrante do sistema interfederativo, não restou afastada a
possibilidade dos entes municipais poderem atuar de forma complementar ou suplementar em
relação às atribuições próprias de seu Estado e/ou da União.
A realidade demonstrou que o disciplinamento relativo às competências e atribuições
de cada ente federado que compõe o SUS (de forma comum ou exclusiva), trazido pela Lei nº
8.080/90, não foi suficiente para que o Sistema Único de Saúde pudesse ser implementado e
passasse a atuar de forma a garantir um sistema público de saúde com caráter universal e
distribuidor de ações e serviços de saúde com qualidade, eficiência e de maneira integral.
Buscando aprimorar e explicitar a disciplina legislativa, contida na Lei Orgânica da
Saúde, além de sensibilizar os gestores estaduais e municipais a aderirem à estrutura
organizacional ali proposta, o Ministério da Saúde instituiu diversas Normas Operacionais
Básicas (NOBs) e Normas Operacionais de Assistência à Saúde (NOAS), as quais viriam a se
constituir em instrumentos jurídico-administrativo de viabilização e de concretização do
sistema de saúde público previsto no texto constitucional brasileiro de 1988267.
As normas operacionais instituídas ao longo dessas duas décadas de existência do
SUS tiveram, sem sombra de dúvida, importância fundamental na sedimentação das diretrizes 267 “Essas Normas definiram competências de cada esfera de governo na implantação do SUS e as condições necessárias para que estados e municípios pudessem assumir as novas atribuições: as condições de gestão. Definiam também critérios para repasses de recursos do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Estaduais e Municipais de Saúde”. (BRASIL, Legislação Estruturante do SUS, 2011b, p. 18). Lenir Santos e Luiz Odorico Monteiro de Andrade (Vinte anos de SUS: O Sistema de Saúde no Brasil no Século XXI, p. 785) reconhecem a importância das normas operacionais como forma de descentralização das ações e serviços de saúde, ainda que os Estados e Municípios tivessem que se conformar, também, com a forma de financiamento proposto pela União nesses instrumentos administrativos.
144
organizacionais (hierarquização, descentralização e regionalização) do sistema, na medida em
que estabeleciam entre o órgão central do SUS (o Ministério da Saúde) e os demais entes
federados (Estados e Municípios) uma espécie de simbiose268, onde o primeiro entrava com
determinadas exigências para com os segundos, que se aceitas e concretizadas, seriam
retribuídas com mais financiamento para o setor saúde daquele ente acordante269.
Mas se é verdade que as normas operacionais contribuíram para a implantação do
SUS, também não é menos verdade que estas ainda não esgotaram o tema relacionado ao
estabelecimento das competências e atribuições de cada um dos entes federativos,
principalmente porque as mesmas não estão bem definidas em relação a Estados e municípios,
eis que esses entes parecem ainda não se sentirem com um papel ativo na formulação das
políticas de saúde do SUS, deixando ao Ministério da Saúde a condução ativa do processo de
construção desse sistema. Essa postura passiva dos Estados e Municípios tem contribuído,
negativamente, para retardar uma real descentralização das políticas públicas de saúde, não
obstante se reconheça que, em parte, essa passividade parece não inquietar o órgão central do
SUS (Ministério da Saúde).
Na tentativa de romper com esse panorama, “desde 2003, resultado das discussões e
consensos elaborados a partir do Seminário para Construção de Consensos e da carta de
Sergipe, o CONASS solicitou ao Ministério da Saúde a revisão do processo normativo do
SUS”270. Após diversos fóruns de discussão e aprofundamento acerca dos principais entraves
268 A respeito das trocas efetuadas no SUS, pelas normas operacionais: “As Normas Operacionais definiram critérios para que estados e municípios se habilitassem a receber repasses de recursos do Fundo Nacional de Saúde para seus respectivos fundos de saúde. A habilitação às condições de gestão definidas nas Normas Operacionais foi condicionada ao cumprimento de uma série de requisitos e ao compromisso de assumir um conjunto de responsabilidades referentes à gestão do sistema de saúde”. (BRASIL, Sistema Único de Saúde, 2011d, p. 52) 269 “Sucessivas normas operacionais induziram a organização do SUS. A cada edição de Portarias Ministeriais – NOB-SUS 01/91, NOB-SUS 01/92, NOB-SUS 01/93, NOB-SUS, 1996, NOAS-SUS 2001, NOAS-SUS 2002 -, os estados e municípios deveriam arranjar-se para organizar o sistema local e regional nos termos ali definidos, ainda que estes termos contrariassem aspectos das leis nacionais reguladoras do sistema e as normas editadas (por meio de portarias) inibissem fortemente a liberdade dos estados e municípios para dispor sobre seus planos de saúde, de acordo com sua realidade local e regional – respeitadas as diretrizes e os princípios do SUS e os consensos regionais e estadual”. (Lenir Santos e Luiz Odorico Monteiro de Andrade, ob. cit., p. 784) 270 Cf. BRASIL, Sistema Único de Saúde, 2011d, p. 62.
145
do SUS, com a participação de atores significativos nesse processo – técnicos do Ministério
da Saúde, das secretarias estaduais e municipais de saúde, CONASS, CONASEMS – foram
estabelecidas novas pautas e a propositura de um novo modelo de pactuação no SUS, onde se
fosse capaz de contribuir com um modelo de gestão e de atenção à saúde, embasado nos
princípios e diretrizes do SUS, mas adequado à realidade de cada ente integrante do sistema,
de maneira que houvesse uma completa integração das ações de promoção, prevenção e
recuperação à saúde (abrangendo todos os níveis de atenção), bem assim com o
reconhecimento institucional das deliberações tomadas nas Comissões Intergestoras Bipartites
e Tripartites.
Todo esse processo de discussão levou os gestores dos entes federativos a
despertarem para a necessidade de novo modelo de pactuação, no qual fossem estabelecidas
metas e objetivos sanitários a serem alcançados por cada um deles, e mais, levou à
compreensão da necessidade de uma maior participação popular não apenas na tomada de
decisão dentro do sistema, mais, também, no estabelecimento de políticas públicas adequadas
aos problemas loco-regionais e capazes de realizar os princípios e diretrizes constitucionais,
dando às ações e serviços de saúde efetividade, eficiência e qualidade.
Estabeleceu-se, então, em 2006, a organização do Pacto pela Saúde, subdividido em
três dimensões (Pacto em defesa do SUS, Pacto pela Vida e Pacto de Gestão), as quais foram
emolduradas na tentativa de dar respostas concretas aos desafios atuais da gestão e da
organização do SUS, descaracterizando o tema da saúde como política de governo e dando-
lhe um perfil de política de Estado271. Foi estabelecida, no caso, uma relação de gênero e
espécies, onde o Pacto pela Saúde é que se constitui no fim maior, inobstante a vida, o SUS e 271 BRASIL, Sistema Único de Saúde, 2011d, p. 62/63. Diferenciando política de governo e política de Estado: “Considera-se que políticas de governo são aquelas que o Executivo decide num processo elementar de formulação e implementação de determinadas medidas e programas, visando responder às demandas da agenda política interna, ainda que envolvam escolhas complexas. Já as políticas de Estado são aquelas que envolvem mais de uma agência do Estado, passando em geral pelo Parlamento ou por instâncias diversas de discussão, resultando em mudanças de outras normas ou disposições preexistentes, com incidência em setores mais amplos da sociedade”. (Dalila Andrade Oliveira, Das políticas de governo à política de estado: reflexões sobre a atual agenda educacional Brasileira, p. 329)
146
a sua gestão sirvam de esteio na condução das diversas pactuações que passarão a ser
firmadas entre os entes que compõem o sistema público de saúde do país. É imperioso
registrar que a pactuação prescinde consenso, fruto de discussões aprofundadas e de amplo
processo de negociação, levado a efeito entre as partes, de forma que não há falar-se em
imposição entre elas, mas de aceitação mútua de cláusulas estabelecidas em instrumento
jurídico-administrativo.
No Pacto pelo SUS buscar-se-á dar ênfase ao fortalecimento do SUS, enquanto
política de Estado, sendo que “os gestores reconhecem a necessidade de romper os limites
setoriais e levar a discussão sobre a política pública de saúde para a sociedade organizada,
tendo o financiamento público da saúde como um dos pontos centrais”272.
O Pacto pela Vida se constitui num conjunto de compromissos, firmados e aceitos
pelos entes federativos do SUS, com a finalidade de, sistemática e permanentemente, aferir
resultados e atingimento de metas na área sanitária. Essa modalidade de pactuação apresenta
dupla face: “de um lado, substitui pactos fortuitos por acordos anuais obrigatórios; de outro,
muda o foco, de mudanças orientadas a processos operacionais para mudanças voltadas para
resultados sanitários”273. Aqui há preponderância de uma cadeia de referenciação entre as
metas estabelecidas pelos entes que compõem o SUS, de modo que os pactos estaduais
deverão estar referenciados pelas metas e objetivos nacionais; enquanto que os pactos
regionais e municipais deverão estar referenciados pelas metas estaduais.
Por sua vez, o Pacto de Gestão consiste no estabelecimento das responsabilidades
dos gestores do SUS – reforçando todo o disciplinamento dessas responsabilidades, seja no
âmbito constitucional, seja no infraconstitucional -, com ênfase no processo de
regionalização, descentralização das atribuições, ações e serviços de saúde, de forma a que se
institua e fortaleça o modelo de gestão compartilhada e solidária entre os entes federativos
272 BRASIL, Sistema Único de Saúde, 2011d, p. 64. 273 BRASIL, Sistema Único de Saúde, 2011d, p. 65.
147
que integram o sistema. Enfatizou-se bastante a necessidade de territorialização da saúde, por
meio da criação de regiões sanitárias que possam responder às exigências e necessidades
locorregionais, ao tempo que inova com a possibilidade de instituição de colegiados de gestão
regionais. Propõe o estabelecimento de relações contratuais entre os entes federais
componentes do sistema, além de disciplinar os blocos de financiamento no âmbito federal.
Os novos paradigmas de gestão no SUS, trazidos pelo Pacto de Gestão, vão implicar
em maior autonomia e fortalecimento do processo de pactuação entre os entes federativos,
especialmente por meio de negociações e consensos firmados pelas Comissões Intergestores
Bipartite (CIB) – estaduais ou microrregionais - ou Comissão Intergestores Tripartite
(CIT)274. Dessa forma, é a pactuação estabelecida na CIB que definirá o modelo de gestão que
será implementado numa determinada região sanitária.
No entanto, uma das principais diretrizes do Pacto de Gestão está centrada no
modelo de financiamento nele estabelecido, onde além de reforçar os princípios gerais de
financiamento, já aplicados pelo SUS, passa a destinar recursos federais através de
determinados blocos de financiamentos, sendo que tais recursos devem ser aplicados
exclusivamente em ações e serviços de saúde, ligados a cada um destes blocos.
Passados mais de cinco anos da vigência do Pacto pela Saúde 2006, o que se verifica,
na prática, é que, apesar dos avanços já sentidos nas políticas públicas de saúde, muito ainda
precisa ser feito para que as diretrizes, objetivos e metas traçados pelo referido pacto se
transformem em realidade e permitam alcançar maior efetividade, eficiência e qualidade nas
ações e serviços de saúde em nosso país.
274 “A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) é constituída paritariamente por representantes da secretaria estadual de saúde e das secretarias municipais de saúde, indicados pelo Conselho de Secretários Municipais de Saúde (Cosems), ou similar, incluindo obrigatoriamente o Secretário de Saúde da Capital. A Comissão Intergestores Tripartite (CIT) é composta por representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems). Na CIT, são definidas diretrizes, estratégias, programas, projetos e alocação de recursos do SUS. Tem composição paritária formada por 18 membros, sendo seis indicados pelo Ministério da Saúde (MS), seis pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) e seis pelo Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems). A representação de estados e municípios nessa Comissão é regional, sendo um representante para cada uma das cinco regiões do país”. (BRASIL, Sistema Único de Saúde, 2011d, p. 43)
148
Ademais, não é possível pensar em Gestão da Saúde, principalmente em desenvolver
ações e serviços de prevenção, promoção e recuperação da saúde, com qualidade e que atenda
às exigências de integralidade, sem investimentos financeiros que possam oferecer coberturas
para essas ações e serviços. E isso é o que se buscará com o tópico a seguir.
4.5 FINANCIAMENTO DO SUS
A história da saúde pública em nosso país é fortemente marcada pela reduzida
destinação de recursos financeiros ou orçamentários para cobertura de programas ou políticas
públicas executadas pelos órgãos estatais ou entes federativos (União, Estados, Distrito
Federal e Municípios)275. A luta para que as ações e serviços de saúde ficassem a cargo
apenas do Ministério da Saúde - retirando da previdência social as ações e serviços médico-
assistenciais – e que para esse setor fossem destinados mais recursos públicos tornaram-se
bandeiras e pontos de pauta dos movimentos sanitários e sociais, traduzidos que foram nas
diversas conferências nacionais de saúde - antes e pós governos militares no Brasil -, e,
principalmente, na articulação política durante o período de elaboração da Carta
Constitucional de 1988.
Embora pudesse parecer que com a promulgação da Constituição de 88 a questão do
financiamento da saúde pública tivesse sido resolvida, já que o novo modelo jurídico-
constitucional deu novos direcionamentos para a saúde pública brasileira (incluindo a efetiva
separação entre saúde e previdência social, além de fontes de financiamento bem delineadas
275 “Até outubro de 1988, o sistema oficial de saúde disputava recursos, na esfera federal, em duas arenas distintas. Na primeira, situada na órbita previdenciária, a partição dos recursos entre as três áreas (benefícios previdenciários, assistência social e atenção médico-hospitalar) ocorria autonomamente: o orçamento do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social (Sinpas) não era apreciado pelo Congresso Nacional e, na prática, sua elaboração não sofria interferência do órgão orçamentário central. A maior parcela da receita do Sinpas era arrecadada pelo próprio Sistema, não se confundindo, portanto, com os recursos que compunham o orçamento fiscal. A contribuição da União para o Sinpas, retirada do orçamento fiscal, era relativamente pouco expressiva com tendência de queda. Entre 1971 e 1988, só em dois exercícios (1971 e 1984) correspondeu a mais de 10% da receita total do Sinpas. Os dois últimos anos desse período registraram as menores taxas (0,8% e 0,6%)” (BRASIL, O Financiamento da Saúde, 2011c, p. 12)
149
para cada um desses ramos da seguridade social), essa temática continua integrando a pauta
de discussão e se constituindo numa preocupação permanente por parte de todos os que
participam da construção do SUS. Diante das crescentes necessidades sociais e das
diversidades político-geográficas das diversas regiões brasileiras, há um consenso
generalizado de que os recursos financeiros destinados às políticas públicas de saúde ainda
estão muito longe de permitir e garantir o direito à saúde, tal como desenhado pelos
constituintes originários. O grande questionamento continua sendo o mesmo, mas com uma
dimensão bem maior, diante do novo texto constitucional: como garantir a universalidade e
integralidade, diante de um cenário de restrições orçamentárias e financeiras e alocar recursos
de forma equânime em um país de tantas desigualdades sociais e regionais?276.
Com a promulgação da Constituição brasileira de 1988 houve uma mudança de
paradigma no tocante ao financiamento do novo sistema público por ela implementado. Até
então, como os serviços médico-assistenciais eram prestados apenas aos conveniados ao
INAMPS (e seus dependentes) e à população rural, inexistia transferência de recursos entre os
entes federados, já que os pagamentos pela prestação de tais serviços eram feitos, diretamente,
pelo próprio INAMPS aos prestadores e/ou contratados. E mais, mesmo quando as ações e
serviços eram desenvolvidos na área preventiva – a cargo do então Ministério da Saúde -, os
repasses dos valores para cobertura destes ocorriam por meio de convênios firmados entre o
Ministério e os Estados e/ou Municípios.
Para atender às diretrizes e princípios vinculados ao SUS, especialmente aos
princípios da universalidade, integralidade e da descentralização da gestão e das ações e
serviços para Estados e Municípios, e tendo em vista que a saúde foi incluída como integrante
da seguridade social, os recursos para cobertura das ações e serviços que seriam executados
pelos Estados e Municípios, passariam a sair dos orçamentos da seguridade social de cada um
276 BRASIL, O Financiamento da Saúde, 2011c, p. 7.
150
desses entes federados, portanto, com fonte de receitas na arrecadação da União, dos Estados
e dos Municípios277, de forma integrada e interfederativa.
Nessa condição, sabendo que os recursos para financiamento do SUS serão
partilhados entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é importante tecer alguns
comentários acerca das fontes que poderão gerar, dentro do orçamento da seguridade social,
os recursos para a cobertura de ações e serviços de saúde no SUS.
A fonte de custeio e financiamento das ações e serviços no SUS – apontada pelo
constituinte de 1988 – seriam aqueles advindos do orçamento da seguridade social, além de
outras fontes (previstas na carta constitucional)278. Por outro lado, ficou estabelecido no art.
55 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias que até que fosse aprovada a lei de
diretrizes orçamentárias, seriam destinadas ao setor saúde, um mínimo de trinta por cento do
orçamento da seguridade social (excluído o seguro-desemprego). Porém, com o passar dos
anos, esses percentuais, embora obedecidos, não geraram um volume significativo de recursos
ao sistema de saúde em si, já que neles foram contabilizados custos com diversas rubricas não
relacionadas, diretamente, às ações e serviços de saúde pública279, ocasionando, pois, uma
significativa diminuição dos recursos destinados às ações e serviços desempenhados pelos
órgãos de execução do SUS.
277 “Atualmente, segundo dados do Siops, cerca de 43,5% dos recursos do SUS são originários do Ministério da Saúde e os outros 56,5% de estados, Distrito Federal e municípios. Essa partição já foi bem mais favorável ao Ministério da Saúde antes da implantação do SUS. Com o processo de construção do novo sistema, a hegemonia federal no financiamento foi sendo gradualmente reduzida”. (BRASIL, O Financiamento da Saúde, 2011c, p. 96) 278 Eis a literalidade do § 1° do art. 198 da CF/88: “O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 279 “A vinculação de recursos para a saúde (30%, no mínimo, do OSS, excluído o seguro-desemprego) ocorreu na Lei n. 8.211/1991 que dispôs sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 1992, mas para que o percentual fosse cumprido incluíram-se na conta da saúde gastos normalmente não considerados como de responsabilidade específica do setor, como por exemplo, assistência médica e odontológica a servidores da União, encargos com inativos e pensionistas do Ministério da Saúde (MS), saneamento básico etc”. (BRASIL, SUS 20 anos, 2009b, p. 50)
151
A Lei n° 8.142/1991, ao dispôs sobre as transferências intragovernamentais dos
recursos do setor saúde, definiu que os recursos financeiros serão repassados de forma regular
e automática para os Municípios, Estados e Distrito Federal, sempre de fundo a fundo.
Assim, para que um ente federativo possa receber recurso da área da saúde de outro
ente do SUS, deverá, necessariamente ter ativado o fundo próprio de saúde, de maneira que
estão em vigor o Fundo Nacional de Saúde, os Fundos Estaduais de Saúde e os Fundos
Municipais de Saúde, os dois últimos, após cumprir as exigências e pressupostos contidos no
art. 4° da Lei n° 8.142/91.
No âmbito federal, a apuração do montante que será encaminhado mensalmente,
fundo a fundo, aos Estados, Distrito Federal e Município, passa, necessariamente pelo exame
apurado de determinados critérios: o primeiro deles é pelo número de habitantes, onde metade
dos recursos destinados a Estados e Municípios será distribuída segundo o quociente de sua
divisão pelo número de habitantes; os outros cinquenta por cento são apurados, tomando em
consideração os seguintes aspectos e/ou critérios técnicos:
I - perfil demográfico da região; II - perfil epidemiológico da população a ser coberta; III - características quantitativas e qualitativas da rede de saúde na área; IV - desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior; V - níveis de participação do setor saúde nos orçamentos estaduais e municipais; VI - previsão do plano quinquenal de investimentos da rede; VII - ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo.
Após muitos anos de luta no campo legislativo, foi promulgada a Emenda
Constitucional n° 29/2000, a qual introduziu o art. 77 ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, ao tempo que delimitou, objetivamente, os percentuais de investimento mínimos
dos Estados, Distrito Federal e Municípios, na área da saúde, criando, com isso, um processo
de vinculação financeira de cada ente federado para com o custeio do sistema público de
152
saúde. Por força da Emenda Constitucional n° 29/2000, ficou determinado que, até que fosse
promulgada a Lei Complementar (regulamentadora da EC n° 29/2000), a União deveria
destinar à área da saúde pública o montante financeiro investido no ano anterior, acrescido
pela variação nominal do Produto Interno Bruto (PIB). Quanto aos Estados e Distrito Federal
ficou estipulado o investimento de doze por cento do produto da arrecadação dos impostos
estaduais ou da sua competência constitucional. No que pertine aos Municípios e Distrito
Federal, a regra constitucional é de aplicação, por esses entes, de quinze por cento dos tributos
que cobram.
Como se observa, essa foi a regra transitória trazida no bojo da EC nº 29/2000, que
deveria valer até 2004, embora se mantenha em vigor pela ausência de norma
regulamentadora da referida Emenda Constitucional, razão pela qual os percentuais contidos
no art. 77 do ADCT permanecem sendo aplicados à saúde, em função da previsão contida no
§ 4º desse mesmo dispositivo constitucional.
Em relação aos Estados, Distrito Federal e Municípios, há um controle e fiscalização
dos percentuais mínimos trazidos pelo art. 77 dos ADCT, inclusive com aplicação de
penalidade ao ente que descumprir tal exigência constitucional, sendo geralmente a suspensão
das transferências de recursos da União a primeira a ocorrer, em situação como a aqui tratada.
Esse controle é acompanhado através do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos
em Saúde (SIOPS), sistema que é alimentado pelos próprios entes federados, no qual deverão
ser lançadas todas as informações referentes aos gastos efetuados com o setor da saúde por
cada um deles. Assim, comprovado pelo gestor nacional do SIOPS280 que algum dos Estados,
Distrito Federal ou Municípios deixou de investir na saúde o mínimo constitucional
estabelecido, esse será punido com a não liberação dos recursos federais, não apenas para a
saúde, mas para todas as áreas e pastas ministeriais do Poder Executivo.
280 O Sistema de Informação Sobre Orçamentos Públicos em Saúde – SIOPS foi criado pela Portaria Interministerial nº 1.163, de outubro de 2000, do Ministério da Saúde e da Procuradoria Geral da República.
153
Por sua vez, a promulgação da EC n° 29/2000 foi de fundamental importância para a
sedimentação do SUS, especialmente porque permitiu um aumento nos investimentos em
saúde, sem falar na preocupação que Estados e Municípios hoje estão tendo, no sentido de
cumprir com as exigências constitucionais, pois uma suspensão nos repasses dos recursos
federais acabaria por impingir a esses entes, um problema de cunho muito maior.
Apesar da EC n° 29/2000 só ter vindo a ser regulamentada pelo Congresso Nacional
recentemente (13 de janeiro de 2012), na esfera administrativa do SUS, a matéria tinha sido
disciplinada por meio de Resoluções do Conselho Nacional de Saúde, homologadas pelo
Ministério da Saúde281. Embora o Conselho Nacional de Saúde (CNS) tenha entendido que os
dispositivos contidos na EC nº 29/2000 eram auto-aplicáveis, também reconheceu a
necessidade de esclarecimentos conceituais e operacionais destes, razão pela qual esse
disciplinamento veio sob a forma de diretrizes, permitindo um ordenamento da matéria,
garantindo eficácia e viabilizando sua perfeita aplicação pelos agentes públicos até que a
norma legal regulamentadora seja promulgada e entre em vigor282.
Não obstante, alguns Estados e Municípios, a pretexto de cumprirem os percentuais
estabelecidos na EC nº 29/2000, desobedecem o regramento da Resolução nº 322/2003 do
CNS283, incluindo na apuração desse percentual os gastos ou despesas com outras ações,
serviços, políticas ou programas públicos, que não estão abrangidos entre os parâmetros que
definem ações e serviços públicos de saúde, considerados como gastos para fins do previsto
281 A Resolução nº 316/2002 do Conselho Nacional de Saúde (aprovada pelo Ministro da Saúde por meio da PORTARIA Nº 2.047/2002) e, posteriormente, a Resolução nº 322/2003 do Conselho Nacional de Saúde (homologada pelo então Ministro da Saúde Humberto Costa) definem o que são gastos em saúde para fins de apuração desse mínimo a ser aplicado, além de orientar quais referências devem ser adotadas para apuração da aplicação mínima com a saúde anualmente. 282 BRASIL, O Financiamento da Saúde, 2011c, p. 51. 283 Rosa Maria Marques e Áquilas Nogueira Mendes (O Sistema único de Saúde e o processo de democratização da sociedade brasileira, p. 223), analisando a questão da desobediência de Estados e Municípios no tocante aos parâmetros da Resolução CNS nº 322/2002, destacam: “Alguns Estados, para cumprirem o disposto na EC 29, incluíram indevidamente como despesas em ações e serviços de saúde os gastos com inativos da área da saúde, empresas de saneamento, habitação urbana, recursos hídricos, merenda escolar, alimentação de presos e hospitais de “clientela fechada” (como hospital de servidores estaduais). Esses registros indevidos ocorreram apesar de anteriormente terem sido estabelecidos parâmetros que definiam quais ações e serviços poderiam ser considerados como gastos do SUS. Esses parâmetros foram acordados entre MS, os Estados e seus tribunais de contas”.
154
no art. 77 do ADCT. Em face da demora na regulamentação legal da EC 29/2000, as diretrizes
contidas na Resolução CNS nº 322/2003 não vinham se firmando como normativo cogente,
embora o SIOPS e alguns Tribunais de Contas Estaduais tenham seguido essas diretrizes, na
aferição dos percentuais aplicados pelos entes federados, na conformidade do art. 77 do
ADCT.
No entanto, acredita-se que com a promulgação da Lei Complementar n° 141, de 13
de janeiro de 2012, e na conformidade do rol que passou a integrar os artigos 3° e 4° da
respectiva lei, todos os entes federados passem a obedecer e observar as hipóteses de
enquadramento e não-enquadramento dos gastos como sendo despesas com ações e serviços
públicos de saúde.
Porém, o que se verifica é a grande dificuldade dos governantes em, livremente,
optarem por investir no setor saúde. Essa questão ficou bastante visível ao longo do processo
legislativo que tratou da vigente Lei Complementar 141/2012. Para se ter uma ideia, um dos
principais pontos de divergência no projeto de lei que tramitava no Congresso Nacional,
estava no pleito de que a União tivesse que investir 10% da sua receita corrente bruta na área
da saúde284. A sociedade civil organizada e a Frente Parlamentar da Saúde285 defenderam a
aprovação, no Senado, do projeto de lei vinculando tal percentual (10%) da receita corrente
284 “O Governo vai se mobilizar para impedir que o Senado ressuscite no projeto de lei complementar que regulamenta a destinação de recursos para a Saúde - a chamada Emenda 29 - o mecanismo que obriga a aplicação de 10% da receita corrente bruta da União no setor. A estimativa é que essa vinculação represente mais R$ 30 bilhões por ano de recursos na Saúde. A presidente Dilma Rousseff classificou ontem como ‘inaceitável’ a aprovação pelos senadores dessa proposta. ‘Temos de trabalhar para impedir que isso passe no Senado’, afirmou Dilma, durante reunião ontem pela manhã com a coordenação política do Palácio do Planalto. O Governo alega não dispor de recursos para fazer essa vinculação. "É inviável destinar 10% da receita da União para a Saúde. O Governo deixou isso bem claro", disse ontem o líder do PMDB na Câmara, Henrique Eduardo Alves (RN)”. (Disponível em http://www.senado.gov.br/noticias/senadonamidia/noticia.asp?n=609301&t=1. Acesso em 09 nov 2011) 285 Frente Parlamentar é uma associação suprapartidária destinada a aprimorar a legislação referente a um tema específico. As frentes podem utilizar o espaço físico da Câmara, desde que suas atividades não interfiram no andamento dos outros trabalhos da Casa, não impliquem contratação de pessoal nem fornecimento de passagens aéreas. As frentes parlamentares estão regulamentadas pelo ato 69/05, da Mesa Diretora. (http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/SAUDE/205034-FRENTE-PARLAMENTAR-DA-SAUDE-PROMOVE-REUNIAO-NO-SENADO.html). A Frente Parlamentar da Saúde, uma das mais representativas e importantes do Congresso Nacional, composta por mais de 250 deputados e 30 senadores, tendo o deputado Darcísio Perondi (PMDB-RS) como seu presidente no período de 2011/2013. (http://www.advsaude.com.br/noticias.php?local=1&nid=6240)
155
bruta dos recursos da União na saúde. O governo federal se utilizou de muitas manobras
políticas para evitar a aprovação do texto legal que regulamentava a EC nº 29/2000, fixando
um percentual de investimento financeiro, por parte da União, no SUS. Inicialmente
apresentou várias contrapropostas aos Projetos de Lei que tramitam pelo Congresso Nacional,
entre elas a que previa um escalonamento na implementação do percentual de 10% da receita
corrente bruta da União (aprovado pelo senado no bojo do Projeto de Lei nº 121/2007).
Depois, vem alegando que nenhuma despesa pode ser efetuada sem a correspondente
vinculação a fonte de receita.
Dessa forma, a Lei Complementar n° 141/2012 foi aprovada, promulgada e
publicada sem o acolhimento dos anseios da sociedade, que clamava por mais investimentos
da União na área da saúde.
Como se não bastasse, com o fim da cobrança da Contribuição Provisória sobre
Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira
(CPMF), ocorrida em 1º de janeiro de 2008, o SUS sofreu uma drástica redução dos já
insuficientes recursos para a saúde, pois, apesar de não ter cumprido o fim para a qual fora
criada – investimentos no setor da saúde pública brasileira286 -, carreou significativo volume
de dinheiro para as ações e serviços de saúde, passando agora a fazer muita falta ao sistema,
além de implicar em agravamento do quadro de cobertura que já sofria com baixos
investimentos. Desde então, as diversas esferas de governo, especialmente o governo federal,
vem tentando medidas alternativas que venham a substituir o montante financeiro perdidos
com a extinção da CPMF. Por outro lado, o setor saúde passou a sofrer com o
286 O jornal ESTADÃO publicou matéria jornalística veiculada em 13 de dezembro de 2007, onde demonstra a distribuição dos valores arrecadados, a título de CPMF, enquanto ela esteve em vigência: “Desde 1994, o imposto rendeu ao governo um total de R$ 258 bilhões – em valores atualizados. Dos 0,38% cobrados no imposto, 0,20% foram para Saúde, 0,10% para a Previdência e 0,08% para o Funda de Combate e Erradicação da Pobreza. Ou seja, para o setor saúde, o motivo alardeado para a criação do imposto, o governo destinava apenas pouco mais de metade do que arrecadou”. (Disponível em http://www.estadao.com.br/especiais/a-cpmf-da-origem-ao-fim,3929.htm. Acesso em 09 nov 2011).
156
subfinanciamento das ações e serviços públicos, tendo que administrar os parcos recursos,
diante da crescente demanda e da redução global de investimentos.
Mesmo que a lei regulamentadora da EC nº 29/2000 viesse a ser aprovada na forma
como pretendida pela frente parlamentar de defesa da saúde - ampliando a participação da
União no financiamento do SUS e permitindo maior controle sobre os percentuais
constitucionalmente exigidos para os Estados, Distrito Federal e Municípios -, ainda assim, o
problema de subfinanciamento do SUS ainda não estaria totalmente resolvido, já que nesse
patamar o gasto público brasileiro não chegaria a 5% do PIB, ainda bastante inferior aos
países que aderiram ao sistema público de saúde universal287.
A questão do financiamento de um sistema de saúde público, a exemplo do que foi
instituído no Brasil, deve passar, necessariamente, pela realização dos seus princípios reitores,
ou seja, os recursos empregados pelo setor público devem ser suficientes para assegurarem a
universalidade e a integralidade das ações e serviços de saúde. Nesse sentido, as análises
econômicas e os dados estatísticos concluem que o “Brasil tem uma composição de gasto em
saúde incompatível com o financiamento de um sistema público universal”288, principalmente
quando comparados com os gastos em saúde de outros países, independentemente do
parâmetro tomado como referência para essa comparação289.
Segundo estimativas, em 2007 o Brasil teve um gasto total de saúde 8,4% do PIB,
sendo que o SUS arcou com 41,6% desse total, o que implicou num investimento público per
capita de US$ 348.
287 Cf. Sérgio Francisco Piola e Solon Magalhães Vianna, Rompendo as amarras no financiamento das políticas públicas de saúde, p. 239/240. 288 BRASIL, SUS: avanços e desafios, 2006a, p. 65. 289 O Capítulo 2, do volume 2 da coleção para entender a Gestão do SUS/2011, publicado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde faz uma análise pormenorizada acerca dos gastos com saúde (pública e privada) no Brasil, com um panorama comparativo internacional, tomado sob diversos parâmetros. (BRASIL, O Financiamento da Saúde, 2011c, p. 29-46)
157
Em comparação com os países que adotam a universalidade do sistema de saúde
pública, esses percentuais são bastante reduzidos290. Essa situação tende a ser mais complexa
quando vista sob as perspectivas sócio-econômicas que assolam a realidade brasileira e que,
decerto, implicarão no agravamento do setor da saúde pública: disparidades econômicas e de
densidade demográfica entre as diversas regiões brasileiras, o crescimento e envelhecimento
da população brasileira e as constantes inovações tecnológicas em saúde291.
A Tabela abaixo traz um resumo dos gastos realizados apenas pelo Ministério da
Saúde nos últimos anos (2006/2009):
Tabela 1: Gastos realizados pelo Ministério da Saúde – 2006/2009
GASTOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – 2006/2009
BLOCOS 2006 2007 2008 2009
PAB FIXO 2.540.440.431 2.858.874.718 3.253.554.478 3.380.496.255
PACS -PSF 9.639.310 4.129.065.428 4.740.599.990 5.159.420.789
COMBATE ÀS CARÊNCIAS NUTRICIONAIS 20.173.952 40.989.310 34.564.519 27.773.507
FARMÁCIA BÁSICA 296.450.000 316.910.000 861.797.623 859.248.473
VACINAS E VACINAÇÃO 764.415.305 770.781.233 818.985.322 394.931.502
INCENTIVO PARA CONTROLE DE ENDEMIAS ( FNS ) 772.685.800 821.320.322 906.604.137 1.020.870.678
CONTROLE DE ENDEMIAS/ERRADICAÇÃO DO AEDES ( FUNASA ) 228.271.296 176.122.856 68.619.858 742.432
MAC 17.836.856.040 20.351.952.137 22.559.837.488 25.360.368.634
HOSPITAIS PRÓPRIOS 505.973.053 637.860.229 683.970.662 835.733.609
MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS 1.387.299.994 1.956.332.706 2.298.944.351 2.645.173.189
290 A estimativa para outros países que adotam o sistema público universal, nesse mesmo ano (2007), revela a discrepância aqui registrada: a Austrália tem 67,5% de gasto público em saúde, e per capita público de U$ 2.226; o Canadá que tem 70% de gasto público e investimento per capita público de U$ 2.730; Cuba tem 95,5% de gasto público no setor da saúde, com investimento per capita público de U$ 871; o Reino Unido tem 81,7% de gasto público na saúde e per capita público de U$ 2.446; e a Suécia com 81,7% de gasto público e investimento per capita público de U$ 2.716. (Fonte: World Health Report 2010 citado em BRASIL, O Financiamento da Saúde, 2011c, p. 39). 291
Sérgio Francisco Piola e Solon Magalhães Vianna, Rompendo as amarras no financiamento das políticas públicas de saúde, p. 238.
158
AQUISIÇÃO E DISTRIB. DE MEDICAMENTOS – ESTRATÉGICOS 841.355.531 880.097.828 121.116.360 129.317.467
AQUIS. E DISTRIB. MEDICAMENTOS/DST/AIDS 959.915.531 708.178.407 604.892.619 739.085.905
PESSOAL ATIVO 4.720.382.189 2.350.793.889 2.599.341.690 2.987.212.136
PESSOAL INATIVO E PENSIONISTA 3.267.170.889 2.864.164.203 3.050.522.969 3.635.610.269
AMORTIZAÇÃO 297.776.298 175.700.799 62.577.666 58.437.763
SUBTOTAL 34.448.805.619 39.039.144.065 42.665.929.732 47.234.422.607
DEMAIS (investimentos) 9.866.296.191 4.410.327.132 4.908.331.380 7.730.830.293
TOTAL MS 44.315.101.810 43.449.471.196 47.574.261.119 54.965.252.901 ORÇAMENTOS: 2010: R$ 64,4 bilhões 2011: R$ 71,4 bilhões Fonte: DATASUS/Ministério da Saúde - 2011
Os valores dos orçamentos destinados ao Ministério da Saúde para os anos de 2010
(R$ 67,4 bilhões), 2011 (78,5 bilhões) e 2012 (91,7 bilhões)292 demonstram o aumento
pecuniário dos gastos da área federal no setor saúde, embora a realidade vivenciada na
prestação de serviços e ações de saúde no país comprove não apenas a necessidade de um
maior nível no volume dos investimentos, mas acima de tudo, que o governo saiba investir
melhor os valores que forem destinados a esse setor, possibilitando efetivas respostas tanto de
acesso, quanto de eficiência dos serviços prestados.
Sob qualquer ângulo que se examine a questão do financiamento da saúde pública no
Brasil, a conclusão será sempre de que os recursos financeiros atualmente destinados à saúde
são insuficientes para permitir a concretização de um sistema público universal, integral e de
excelente qualidade – tal como previsto na Carta Constitucional de 1988 -, embora também se
possa concluir que é necessário aplicar mais e melhor os recursos já existentes, coibindo as
fraudes, os abusos, a má gestão desse dinheiro público e evitando jogar fora os poucos
recursos com gastos em ações e serviços de saúde que não apresentem eficácia, eficiência e
segurança, ou seja, sem comprovação de Medicina Baseada em Evidência.
292 Dados disponíveis no portal do Ministério da Saúde. http://portal.saude.gov.br/portal/aplicacoes/noticias/default.cfm?pg=dspDetalheNoticia&id_area=1529&CO_NOTICIA=13682. Acesso em 01 abr 2012.
159
Diante dessa problemática, é possível perceber que a questão do financiamento é
uma questão complexa, e como tal, exige solução também complexa e sistêmica293,
ultrapassando a questão da simples regulamentação da EC n° 29/2000. A solução passa,
também, pela criação de uma cultura de pertencimento ao SUS294, ainda inexistente em nosso
país. Essa ideia de pertencimento deve contagiar toda a sociedade, iniciando pelos
governantes das diversas esferas do Poder Executivo, estendendo-se aos legisladores e
envolvendo todos os cidadãos, cuja luta principal é a sedimentação do SUS, manutenção e
aprimoramento das ações e serviços ofertados por esse sistema de saúde pública, aproveitando
todos os recursos humanos, físicos, estruturais e financeiros, em prol de um sistema público
universal, gratuito, acessível e com prestação de serviços e ações eficazes e eficientes.
Nesse contexto é que se procurará analisar a Política Nacional de Atenção
Oncológica do SUS, objeto do tópico seguinte.
293 BRASIL, Capacitação_Estados_ceaf, 2010b, p. 88. 294 “Não há sentimento de pertencimento da população em relação ao SUS. Todos os segmentos sociais buscam para si garantir, de algum modo, um contrato de seguro-saúde, e os próprios secretários de saúde muitas vezes dirigem um sistema que não usam” (Lenir Santos e Luiz Odorico Monteiro de Andrade, Vinte Anos de SUS: O Sistema de Saúde no Brasil no Século XXI, p. 790)
160
5. A RELAÇÃO ENTRE A POLÍTICA DA ASSISTÊNCIA FARMAC ÊUTICA DO
SUS E A POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA (PN AO)
A denominada “judicialização da saúde”295 tem concentrado um elevado número de
ações judiciais que têm como objeto pedidos de fornecimento de medicamentos de alto custo
para tratar diversos agravos de saúde, entre estes se destacam os pedidos de medicamentos
para tratamento de doenças oncológicas.
Diversos fatores podem ter ensejado o aparecimento desse fenômeno jurídico, onde
cidadãos brasileiros batem à porta do Poder Judiciário, requerendo a intervenção desse poder,
para lhes garantir prestações na área da dispensação de medicamentos. Entre estes é possível
citar de forma exemplificativa, os seguintes: a ausência de política pública nesse setor; a
existência de política pública e a omissão administrativa em sua efetivação e concretização; o
constante desenvolvimento de novas tecnologias em saúde, com custos cada vez mais
elevados, em relação ao que já disponível no mercado; a impossibilidade econômica dos
indivíduos adquirirem, com recursos próprios, essas inovações tecnológicas em saúde; maior
consciência social acerca dos direitos fundamentais constantes da Carta constitucional de
1988; políticas públicas vinculadas a recursos finitos, com racionalização e adequação das
prestações ao orçamentariamente disponível.
Ao longo do presente trabalho essas hipóteses de surgimento das ações judiciais que
pleiteiam prestações de saúde – especialmente sobre medicamentos oncológicos - devem ser
examinadas (sob a ótica técnica, política e jurídica), na busca de se construir uma realidade
295
Este termo significa, “A intervenção do Poder Judiciário, mediante determinações à Administração Pública para que forneça gratuitamente medicamentos em uma variedade de hipóteses, procurar realizar a promessa constitucional de prestação universalizada do serviço de saúde” (Luís Roberto Barroso, Da Falta de Efetividade à Judicialização Excessiva: Direito à Saúde, Fornecimento Gratuito de Medicamentos e Parâmetros para a Atuação Judicial, p. 875).
161
constitucional, capaz de atender aos reclamos tanto de justiça social quanto dos direitos dos
cidadãos.
A primeira hipótese a ser examinada, neste caso, é a verificação da existência de
política pública296 que trate da distribuição gratuita de medicamentos em nosso país. Em caso
positivo, em que se lastreia essa política pública? Quais são as normas reguladoras e atos
administrativos de execução que dão sustentação e impulsionam a sua concretização?
Estando as políticas públicas de saúde vinculadas aos princípios constitucionais da
Administração Pública (art. 37, caput, da CF/88), não poderiam ser desempenhadas sem
obediência aos textos legais (constitucionais e infraconstitucionais) que disciplinam essa
matéria297, tampouco poderiam deixar de ter em mira os princípios da supremacia do interesse
público sobre o privado e da indisponibilidade do interesse público298, todos intrinsecamente
vinculados ao paradigma do Estado Democrático de Direito, explicitamente assumido pelo
constituinte pátrio de 1988 (art. 1º da CF/88).
Inicialmente cabe registrar que o modelo de saúde pública escolhido pelo
Constituinte de 1988 se afastou dos modelos até então vivenciados, nos quais o acesso ao
sistema público de saúde só era garantido àqueles que contribuíam com os cofres da
Previdência Social. Como se vê, houve uma abertura do sistema, no sentido de que qualquer
pessoa pudesse se beneficiar das ações e serviços públicos de saúde, abstraindo-se o fato dela
296 Maria Paula Dallari Bucci (Notas para uma metodologia jurídica de análise de políticas públicas, p. 21), reformulando entendimento anterior, assim define “políticas públicas”: “Em resumo, políticas públicas são arranjos institucionais complexos, expressos em estratégias ou programas de ação governamental, que resultam de processos juridicamente regulados, visando adequar meios e fins”. Por sua vez, Flávia Vieira Henrique (Direito Prestacional à Saúde e Atuação Jurisdicional, p. 841) complementa essa conceituação para afirmar que “Tais programas constituem-se de um complexo ordenado de normas reguladoras e atos administrativos de execução, apto a conjugar meios institucionais, financeiros e pessoais em prol de uma finalidade estabelecida pelo legislador constituinte ou ordinário”. 297 “Fernando Cupertino analisa a implantação do SUS, demonstrando que os atos normativos do Poder Público vão esculpindo esse sistema de saúde conquistado pela sociedade, um exercício de cidadania que alcança toda a população”. (BRASIL, CONASS - 25 anos, 2007a, p. 61). 298 Sueli Gandolfi Dallari chama atenção para o fato de que “o administrador público deve agir guiado por uma série de leis orientadas para o perfazimento do interesse público que, no que respeita aos cuidados sanitários, delimitam os objetivos da atuação do Estado na área da saúde e os meios a serem empregados para atingi-los” (Sueli Gandolfi, Direito Sanitário, p. 47).
162
ser ou não contribuinte da seguridade social299. Deu-se prevalência aos princípios da
universalidade, igualdade e integralidade do acesso às ações e serviços de saúde.
Essa necessidade de romper com o modelo em vigor se refletiu também no que diz
respeito à política pública de distribuição gratuita de medicamentos. Até a Constituição de
1988, a assistência farmacêutica era executada por meio da Central de Medicamentos,
conhecido por CEME300, cuja execução estava circunscrita à aquisição e distribuição de
medicamentos à população sem condições econômicas de adquiri-los – de forma centralizada
pelo Ministério da Saúde e distribuída em postos de saúde e hospitais vinculados ou
credenciados ao serviço público de saúde.
Interessante consignar que o parágrafo único do art. 1º, do Decreto nº 71.205/72 (que
consolidou a CEME), chegou a prever a possibilidade da “CEME estabelecer gratuidade na
distribuição de medicamentos ou, mediante abatimentos percentuais sobre o custo destes,
fixar preços para cada faixa de renda das populações a serem atendidas” o que revela o caráter
híbrido da CEME, já que a gratuidade poderia não ser a única modalidade de acesso ao
medicamento no sistema público de saúde brasileira então vigente.
Outra característica da Central de Medicamentos (CEME) era o fato de ter uma
listagem de medicamentos bastante reduzida e voltada para os agravos de saúde mais
prevalente no país. Essa lista de medicamentos, por sua generalidade e por não levar em
consideração as especificidades e peculiaridades de cada região geográfica do Brasil
terminava por deixar de atender a várias situações comuns de doenças regionalizadas, com
prejuízos e estrago de fármacos. Ademais, é possível dizer que a cobertura desse componente
medicamentoso era muita restrita, com indicação para doenças consideradas básicas. A
CEME executou a política pública de distribuição de medicamentos no Brasil até 1997
299 Ver Flávia Vieira Henrique, ob. cit. p. 829/830. 300 Criado pelo Decreto nº 68.806, de 25 de julho de 1971, consolidado pelo Decreto nº 71.205, de 04 de outubro de 1972.
163
quando foi desativada, tendo suas atribuições sido transferidas para diversos órgãos do
Ministério da Saúde301.
Apesar da Lei Orgânica da Saúde - Lei nº. 8080/90 - em seu artigo 6º, determinar
como campo de atuação do SUS, a formulação da política de medicamentos e atribuir ao setor
de saúde a responsabilidade pela execução de ações de assistência terapêutica integral,
inclusive farmacêutica, essas ações só foram regulamentadas anos posteriores à vigência da
referida norma legal.
Dando concretude às disposições constitucionais e da Lei nº 8.080/90, o Sistema
Único de Saúde (SUS) executa atualmente diversas políticas públicas de saúde302, atuando
todas elas de maneira interdependentes uma da outra, não havendo o que se falar em
autonomia ou dicotomia entre elas. Dentre essas políticas merecem destaque as seguintes: a)
Política Nacional de Medicamentos303; b) Política Nacional de Transplantes; c) Política
Nacional de DST/Aids; d) Política Nacional de Imunizações; e) Política Nacional de Atenção
Primária à Saúde; f) Assistência de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; g)
Política Nacional de Atenção Oncológica; h) Política Nacional da Assistência Farmacêutica;
e i) Política Nacional de Alimentação e Nutrição.
Dessa forma, pode-se responder positivamente à primeira indagação, no sentido de
que no Brasil existem políticas públicas de saúde voltadas, especificamente, para a
dispensação de medicamentos. Os principais contornos delas são encontrados nas
301 BRASIL, Assistência Farmacêutica no SUS, 2007b, p. 15. 302 “Política é um compromisso oficial expresso em documento escrito, no qual consta um conjunto de diretrizes, objetivos, intenções e decisões de caráter geral e em relação a um determinado tema em questão. Funciona como um guia para direcionar o planejamento e a elaboração de estratégias, cujo desdobramento é um plano de ação, programas e projetos, para sua efetiva implantação”. (BRASIL, Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções técnicas para sua organização, p. 09) . 303 “A Política Nacional de Medicamentos, como parte essencial da Política Nacional de Saúde, constitui um dos elementos fundamentais para a efetiva implementação de ações capazes de promover a melhoria das condições da assistência à saúde da população e contempla diretrizes e prioridades relacionadas à legislação – incluindo a regulamentação –, à inspeção, ao controle e à garantia de qualidade, seleção, aquisição e distribuição, uso racional de medicamentos, desenvolvimento de recursos e desenvolvimento científico e tecnológico”. (BRASIL, O Sistema Único de Saúde e a qualificação do acesso, p. 32-33).
164
denominadas Políticas Farmacêuticas304, as quais englobam, de forma conjunta e guardadas as
respectivas especificidades, a articulação necessária e imprescindível que se forma entre a
Política Nacional de Medicamentos (PNM) e a Política Nacional da Assistência Farmacêutica
(PNAF). O fornecimento de medicamentos, pelo seu caráter genérico, integra as ações de
praticamente todas as políticas nacionais de proteção, promoção e recuperação da saúde, eis
que na maioria dos casos é quase imprescindível a ministração de medicamentos para que
sejam atingidos os objetivos e as metas previstas nessas políticas públicas, desenvolvidas
pelos diversos níveis do Sistema Único de Saúde.
No entanto, essa característica é preponderante nas políticas farmacêuticas, tendo em
vista ser o fornecimento de medicamentos a atividade finalística das políticas que as integram.
Em razão disso, far-se-á uma explanação acerca da Política Nacional de Medicamentos e da
Política de Assistência Farmacêutica, até mesmo porque há uma nítida diferenciação da atual
concepção de fornecimento de medicamentos na área da oncologia, o que a seguir se
delineará.
A Política Nacional de Medicamentos (PNM) - disciplinada pela Portaria GM/MS nº
3.916/1998 do Ministério da Saúde - delineia e norteia todas as ações voltadas para a
execução da política pública de medicamento em nosso país, por meio do SUS. Essa política,
além de se contrapor ao modelo centralizado da CEME, foi formatada no sentido de garantir a
necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos distribuídos pelo SUS, o acesso
da população aos medicamentos considerados essenciais305 e ao uso racional306 destes, além
de buscar soluções para problemas relacionados com a qualidade dos medicamentos, a
304 BRASIL, Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções técnicas para sua organização, p. 9. 305 Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), essenciais são os “medicamentos que satisfazem as necessidades de saúde prioritárias da população, os quais devem estar acessíveis em todos os momentos, na dose apropriada, a todos os segmentos da sociedade” (BRASIL, SUS 20 anos, p. 133) 306 Já a PNM conceitua o “uso racional de medicamentos como o processo que compreende a prescrição apropriada; a disponibilidade oportuna e a preços acessíveis; a dispensação em condições adequadas; e o consumo nas doses indicadas, nos intervalos definidos e no período de tempo indicado de medicamentos eficazes, seguro e de qualidade.” (BRASIL, Assistência Farmacêutica no SUS, p. 34)
165
desarticulação da Assistência Farmacêutica e a desorganização dos serviços farmacêuticos no
SUS.
No entanto, não é a mera existência da Relação Nacional de Medicamentos que por
si só, garantirá uma eficaz política pública de acesso ao medicamento307. Necessário se faz,
também, a implantação de políticas de assistência farmacêutica em todos os níveis da
federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), de maneira articulada entre si,
além de fundamentada nas melhores práticas de gestão308, baseada na descentralização, na
promoção do uso racional de medicamentos, na articulação com as demais ações de saúde
pública (global e localmente), e tendo como meta a melhoria e eficiência do sistema público
de saúde como um todo.
Por sua vez, a Resolução nº 338, de 06/05/2004, do Conselho Nacional de Saúde,
aprovou a criação da Política Nacional da Assistência Farmacêutica, a qual veio fortalecer a
Política Nacional de Medicamentos, na medida em que apresenta um conjunto de
procedimentos de natureza técnica, científica e administrativa que não apenas racionaliza a
política de medicamentos, mas também possibilita melhor avaliação e acompanhamento dessa
política pública de saúde.
Na verdade, quando se fala em determinadas políticas na área da saúde, deve se
demonstrar desde logo que estas não nascem isoladas, compartimentadas, alheias ao sistema
de saúde pública. Pelo contrário, há sempre articulação ou interface com todas as demais
políticas setoriais, sempre na perspectiva de realizar a plenitude da garantia do direito à saúde.
Assim, as políticas farmacêuticas (PNM e PNAF) trazem consigo esse caráter
307 Apesar de atualmente cerca de 160 países contarem com listas de medicamentos essenciais, ainda é bastante grande a parcela da população mundial à margem de acesso universal aos medicamentos (Nelly Marin, Assistência farmacêutica para gerentes municipais, p. 288). 308 Adota-se o conceito de “gestão”, contido na Norma Operacional Básica do SUS (NOB 1/96) no sentido de ser “a atividade e a responsabilidade de comandar um sistema de saúde (municipal, estadual ou nacional) exercendo as funções de coordenação, articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria”. (BRASIL, SUS 20 anos, p. 27).
166
multidisciplinar, devendo ser analisada dentro desse contexto global que interliga todos os
serviços e áreas de atuação do SUS.
A Resolução nº 338/2004 do Conselho Nacional de Saúde, que aprovou a Política
Nacional de Assistência Farmacêutica, bem definiu a Assistência Farmacêutica:
A Assistência Farmacêutica trata de um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletivo, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e ao seu uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população.
Cabe ressaltar o caráter democrático e participativo da aprovação tanto da Política
Nacional de Medicamentos – que apesar de ter sido oficializada por meio de Portaria do
Ministro da Saúde, foi aprovada pela Comissão Intergestores e pelo Conselho Nacional de
Saúde – quanto da Política Nacional da Assistência Farmacêutica, na medida em que oriunda
de uma Resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS)309 que tem composição paritária, na
qual participam não apenas representantes de entidades e instituições governamentais, mas
também prestadores de serviços privados de saúde, profissionais de saúde e usuários.
Pela conceituação da Assistência Farmacêutica tem-se a amplitude com que a
referida política foi manejada, especialmente voltada para apoiar as ações de saúde na
309 O Conselho Nacional de Saúde é formado por 32 conselheiros titulares com seus respectivos suplentes, representantes de entidades e instituições dos segmentos governo, prestadores de serviços privados de saúde, profissionais de saúde e usuários. As entidades com representação no CNS foram definidas no Decreto 1.448, de 6 de abril de 1995. A composição é paritária a fim de manter equilíbrio dos interesses envolvidos. (Disponível em http://conselho.saude.gov.br/apresentacao/index.htm. Extraído em 27/05/2010)
167
promoção do acesso aos medicamentos essenciais e promover o seu uso racional, fortalecendo
os elementos estruturais já definidos na Política Nacional de Medicamentos.
No entanto, apesar das políticas públicas farmacêuticas já estarem em vigor há mais
de uma década, ainda se encontram em fase de implantação e/ou consolidação, dadas as
múltiplas realidades dos entes que compõem o Sistema Único de Saúde, como a seguir se
delineará.
Analisando as motivações que ensejaram a criação das denominadas políticas
farmacêuticas (PNM e PNAF), verificam-se preocupações com a garantia de acesso da
população aos medicamentos distribuídos pela rede pública de saúde, à qualidade e uso
racional dos medicamentos.
Nesse sentido, até 1998 todos os medicamentos para câncer (hormonioterápicos e
imunobiológicos antineoplásicos de uso contínuo) eram fornecidos em farmácias do SUS, por
meio das Secretarias de Saúde e dentro das normas estabelecidas para as políticas
farmacêuticas, bastando para tal que o cidadão apresentasse uma receita e um relatório de
algum médico, de consultório particular ou de hospital público ou privado.
Porém, visando ao cumprimento dos princípios e diretrizes do SUS, estabelecidos no
art. 7º da Lei n.º 8.080/90, e tendo em vista a complexidade e diversidade de esquemas
terapêuticos para tratamento dos diversos tipos de câncer, existentes nos manuais de
oncologia adotadas internacionalmente, as normas do Ministério da Saúde passaram a
estabelecer que todos os medicamentos para tratamento do câncer (inclusive aqueles de uso
oral) deveriam ser fornecidos pelo estabelecimento de saúde público ou privado (clínica ou
hospital), cadastrados e conveniados no SUS, para atendimento deste tipo de doença e
somente para os pacientes que estiverem recebendo o seu tratamento no próprio
estabelecimento de saúde.
168
Com isso, os medicamentos oncológicos – antes dispensados nas unidades da
assistência farmacêutica do SUS - foram excluídos da Tabela de Medicamentos Excepcionais
do SUS, por meio da Portaria SAS/MS n.º 184, de 16 de outubro de 1998 e republicada em 03
de novembro de 1998, passando a integrar o Sistema de Autorização para Procedimentos de
Alta Complexidade (APAC ONCO), no qual os prestadores de serviços fazem a dispensação
dos fármacos utilizados no tratamento do paciente e efetuam a cobrança ao SUS, por meio
desse sistema de cobrança.
Porém, se tomarmos por referência o problema trazido a cotejo – dispensação de
antineoplásicos para tratamento de pacientes na área da oncologia – vamos perceber que as
mesmas preocupações utilizadas para a criação e institucionalização das políticas de
assistências farmacêuticas (acesso, qualidade e uso racional dos medicamentos) se fazem
presentes na execução da dispensação de fármacos voltadas para a área oncológica, o que nos
leva a refletir sobre como essa política vem se desenvolvendo, quais os entraves que
dificultam a sua plena efetivação e o porquê dela ser objeto de ações judiciais.
Por uma questão didática e como o objeto aqui enfocado se volta para a dispensação
de medicamentos oncológicos, far-se-á uma análise acerca da Política Nacional de Atenção
Oncológica (PNAO), mapeando seus fundamentos, delimitação e campo de abrangência, com
destaque para a questão da cobertura dos medicamentos para tratar esse agravo de saúde, no
âmbito do sistema público brasileiro.
169
5.1 FUNDAMENTOS FÁTICOS E JURÍDICOS QUE ENSEJARAM A IMPLANTAÇÃO
DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA
A expressão “câncer”310 - seja tomada isoladamente, seja tomada em relação ao
agravo que acomete uma determinada pessoa – ainda é considerada uma palavra que a grande
maioria dos brasileiros ainda não gosta de pronunciar ou tem receio de utilizá-la, talvez por
desconhecimento acerca da matéria ou pela forma como o câncer foi disseminado no meio
sócio-cultural latino-americano311, sempre ligado a medo, incerteza, indefinição, sofrimento
e/ou morte.
No entanto, cada vez mais o câncer se torna uma realidade presente na vida dos
brasileiros, já que cresce o número de pessoas próximas que vêm sendo diagnosticadas com
algum tipo de câncer: na própria família, no trabalho, nas vizinhanças, amigos e
personalidades nacionais ou internacionais. Esse fato tem feito com que passemos a buscar
informações relacionadas ao câncer, permitindo o alargamento dos conhecimentos já
construídos pela medicina e das tecnologias envolvidas no tratamento desse agravo de saúde,
ainda que todas essas informações não constituam motivo para tranquilidade sobre a questão
em debate, pelo contrário, parece que quanto mais conhecemos, mais aumentam o pavor, as
incertezas e o sofrimento frente ao câncer312.
310 Câncer é um grupo de doenças que se caracterizam pela perda do controle da divisão celular e pela capacidade de invadir outras estruturas orgânicas. (Disponível em: http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=83. Acesso em 20 nov 2011) 311 Essa questão pode ser sentida nas observações lançadas por Luiz Antonio Teixeira “As primeiras campanhas procuravam causar medo nas pessoas para que elas rapidamente procurassem cuidados médicos. Como se pensava que o tratamento precoce era a melhor forma de se proteger contra a doença, o importante era fazer com que qualquer pessoa que desconfiasse ser portador de um tumor procurasse logo o médico”, explica o pesquisador. Na época, o câncer era uma doença cercada de mitos e desconhecimento, o que aumentava a aura de temor sobre ela. “Como a incidência da doença era pequena e muitos tipos de cânceres eram confundidos com outras doenças pensava-se que ela era uma doença de ricos. Certas pessoas identificavam somente grandes tumores, que devido à escassez de tratamento à época, muitas vezes alcançavam tamanho inimaginável em pacientes sem atenção médica. Por pensarem que a doença se resumia a esses casos muitas vezes a interpretavam como um castigo divino” (FONTE: http://blogdocancer.com.br/2011/05/19/pesquisa-traca-historia-das-campanhas-de-combate-ao-cancer-no-brasil/. Acesso em 20 nov 2011) 312 Essa também é a conclusão de estudo feito por Luiz Antonio Teixeira e Cristina M. O. Fonseca, De Doença desconhecida a problema de saúde pública: o INCA e o controle do Câncer no Brasil, p. 13.
170
O câncer, em si, não é uma doença de descoberta recente313, mas não se tem dúvida
de que quanto mais o tempo passa, mais se aperfeiçoam os estudos, as pesquisas e as
descobertas de novas tecnologias, tudo voltado para a cura e o controle de um mal que
acomete milhares de pessoas no Brasil e no mundo, sendo responsável por um percentual
muito elevado de mortes em todo o mundo. Segundo estimativas da Agência Internacional
para Pesquisa em Câncer (IARC) da Organização Mundial de Saúde (OMS), no ano de 2008
ocorreriam 12,8 milhões de casos novos e 7,6 milhões de óbitos no mundo, sendo que destes,
cerca de um milhão de casos novos e de 598 mil óbitos ocorrerá na América do Sul, Central e
Caribe314.
O câncer é parte integrante da história da saúde pública brasileira, acompanhando os
fatos históricos ocorridos na medicina e na política (local e mundial), passando desde a fase
da desinformação completa da área médica até o reconhecimento desses agravos como
questão de saúde pública315. Aliás, desde 1920 que Governo e profissionais especializados
têm se voltado para a questão do câncer no Brasil. Inicialmente investiu-se em campanhas
publicitárias massivas, cuja principal função era estimular a população a criar hábitos
saudáveis que contribuíssem para a prevenção dos cânceres mais comuns. Essas campanhas,
apesar da reconhecida natureza educativa, não conseguiram atingir vasta população, em razão 313 “A doença é conhecida desde longa data. Egípcios, persas e indianos, 30 séculos antes de Cristo, já se referiam a tumores malignos, mas foram os estudos da escola hipocrática grega, datados do século IV a. C., que a definiram melhor, caracterizando-a como um tumor duro que, muitas vezes, reaparecia depois de extirpado, ou que se alastrava para diversas partes do corpo levando à morte. Então denominado de carcicoma ou cirro, o câncer era visto pelos hipocráticos como um desequilíbrio dos fluidos que compunham o organismo. No início do período cristão, a medicina galênica reforçou a idéia do câncer como desequilíbrio de fluidos. Essa noção manteve-se presente na medicina ocidental até o século XVII, sendo que, a partir do século XV, a descoberta do sistema linfático fez com que a doença fosse relacionada ao desequilíbrio da linfa nos organismos. Pensar a doença como desequilíbrio de fluidos representava pensá-la como um problema orgânico mais geral, em que os tumores eram apenas as manifestações visíveis. Tal concepção desaconselhava intervenções cirúrgicas ou medicamentosas, postulando que as terapêuticas voltadas para a obtenção do equilíbrio corpóreo – como as sangrias – eram mais adequadas ao restabelecimento completo do doente. Somente no século XVIII, o câncer passou a ser visto como uma doença de caráter local. Para essa mudança mostrou-se fundamental o desenvolvimento da anatomia patológica e dos conhecimentos sobre as células”. (Luiz Antonio Teixeira e Cristina M. O. Fonseca, De Doença desconhecida a problema de saúde pública: o INCA e o controle do Câncer no Brasil, p. 13) 314 Dados constantes da Estimativa 2010 para incidência de câncer no Brasil, elaborado pelo INCA (BRASIL, 2009c, p. 23) 315 A história do câncer no Brasil encontra-se bem desenvolvida por Luis Antonio Teixeira na obra “De Doença desconhecida a problema de saúde pública: o INCA e o controle do Câncer no Brasil”.
171
dos meios utilizados para a divulgação dessas mensagens (cartazes e rádios). Posteriormente,
os especialistas da área passaram a reconhecer a impossibilidade de se controlar o avanço dos
cânceres apenas com ações preventivas, era necessário atuar, também, no espaço curativo e
paliativo.
Dessa maneira, tornara-se necessária a intervenção da figura do Estado, da área
médica especializada em oncologia e da sociedade, de forma conjunta e ativa, na consecução
de ações e serviços de saúde que pudessem, de forma articulada, prevenir, tratar e recuperar
os doentes de câncer no país, pois a dimensão que essa área da saúde alcançara transformava
esse problema em questão de saúde pública, exigindo uma atuação estatal mais estruturada e
eficaz nesse desiderato316. Diversas ações políticas e práticas foram concretizadas pelos
governos e pela sociedade no sentido de responder às necessidades dos pacientes acometidos
por câncer no Brasil, embora “os níveis de sua incidência e o valor simbólico a ele atribuído
não se comparavam aos de outras doenças como a malária, a tuberculose e a sífilis, vistas
como empecilhos ao desenvolvimento do País e marca de seu atraso”317, razão pela qual
chegou-se aos anos 90 com ausência de uma política pública mais eficiente na prevenção,
proteção e recuperação das situações de câncer no país.
Esse quadro fático vem se agravando ao longo dos anos, tendo em vista o
crescimento populacional brasileiro, o consequente envelhecimento dessa mesma população e
316 “Para os cancerologistas do Serviço Nacional de Câncer (SNC), era indiscutível que o problema do câncer havia ultrapassado os limites dos hospitais, enfermarias e consultórios médicos, se constituindo, de fato, numa questão de saúde pública e, como tal, deveria ser enfrentado. A luta contra a doença também não poderia se restringir ao aspecto do tratamento hospitalar, pois seus crescentes índices de incidência mostravam a inviabilidade de uma política prioritariamente voltada para o aspecto curativo. Além disso, a detecção, a prevenção, o diagnóstico, o tratamento e a pesquisa do câncer demandavam especialistas altamente treinados, além da instalação de equipamentos custosos. Ao Governo federal, com o apoio dos estados e municípios, deveria caber a maior responsabilidade e participação, pois, os recursos provenientes de campanhas populares ou de doações não seriam capazes de suprir os meios necessários para o controle da doença (Araújo e Marsillac, 1969). Neste sentido, somente o Estado teria condições de assumir uma estrutura capaz de conduzir, com mais rigor, a luta contra o câncer em esfera nacional.” (Luiz Antonio Teixeira e Cristina M. O. Fonseca, De Doença desconhecida a problema de saúde pública: o INCA e o controle do Câncer no Brasil, p. 106-108) 317 Luiz Antonio Teixeira e Cristina M. O. Fonseca, ibidem, p. 33.
172
as exigências, hábitos e novos padrões da vida moderna (impostos pela forma de organização
geográfica e do trabalho), com severo impacto sobre o aparecimento de câncer no país.
O Instituto Nacional de Câncer (INCA) estimou para o ano de 2010 (estimativa
também válida para 2011) uma ocorrência de aproximadamente 489.270 casos novos de
câncer no Brasil, sendo esperados 236.240 casos novos para o sexo masculino e 253.030 para
o sexo feminino. “Estima-se que o câncer de pele do tipo melanoma (114 mil casos novos)
será o mais incidente na população brasileira, seguidos pelos tumores de próstata (52 mil),
mama feminina (49 mil), cólon e reto (28 mil), estômago (21 mil) e colo do útero (18 mil)”318.
Por sua vez, com a promulgação da Constituição brasileira de 1988, garantindo o direito à
saúde de forma universal, igualitária e integral a todos os brasileiros, restou garantido o
tratamento oncológico integral319 pelo SUS, para todas as espécies de neoplasias320 e para
todos os pacientes acometidos de câncer, restando, portanto ao sistema público de saúde se
estruturar para oferecer as ações e serviços que atendam a essa demanda da população.
À exceção do período ditatorial321, a área da oncologia sempre teve espaço
institucional na saúde pública brasileira - ainda que não tivesse uma grande expressão e
efetividade -, pois já no ano de 1923 o organograma do Departamento Nacional de Saúde
318 BRASIL, Instituto Nacional de Câncer. Estimativa 2010: incidência de câncer no Brasil, p. 24. 319 A Oncologia é também chamada de Cancerologia no Brasil. A Oncologia, nos últimos anos, tornou-se uma disciplina complexa e interessante e conta com o auxílio de outras especialidades, como cirurgia, pediatria, patologia, radiologia, psiquiatria e outras. Portanto, na Oncologia atual é de suma importância o tratamento multidisciplinar, envolvendo médicos (oncologistas, cirurgiões, radiologistas, radioterapeutas, patologistas...), enfermeiros, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas e muitos outros profissionais, devido à enorme complexidade da doença e suas diferentes abordagens terapêuticas porque cada tipo de câncer tem seu tratamento específico: cirurgia, radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia e outras inúmeras possibilidades. Muitas vezes é necessária a combinação de vários tratamentos. (http://www.oncoguia.com.br/site/interna.php?cat=2&id=474&menu=2) 320 “Neoplasia é uma proliferação anormal do tecido, que foge parcial ou totalmente do controle do organismo e tende à autonomia e à perpetuação, com efeitos agressivos sobre o hospedeiro” (Pérez-Tamayo, 1987; Robbins, 1984, citado por BRASIL, Manual de bases técnicas oncologia, p. 7) 321 “As dificuldades institucionais que atingiram o INCA a partir de 1968 causaram uma interrupção em seu processo de expansão institucional. A transferência para o Ministério da Educação e a restrição das atividades principalmente ao campo do ensino fizeram que o Instituto, entre o final da década de 1960 e o início da década seguinte, passasse por encolhimento de suas áreas de atuação.” (Luiz Antonio Teixeira e Cristina M. O. Fonseca, ob. cit., p. 117)
173
Pública (DNSP) trazia uma inspetoria voltada às doenças venéreas, à lepra e ao câncer322. No
primeiro governo de Getúlio Vargas, o Decreto-Lei nº 38/1937 ao tempo que transforma o
MESP em Ministério da Educação e Saúde (MES), também cria o Instituto de Câncer ou
Centro de Cancerologia (o qual viria a dar origem ao atual Instituto Nacional do Câncer –
INCA). Em 1941, foi instituído o Serviço Nacional de Câncer (SNC) como órgão central da
política de controle da doença, cabendo-lhe o papel de organizar, orientar, fiscalizar e
executar, em todo o país, as atividades relacionadas ao Câncer323. Com a criação do
Ministério da Saúde em 1953, a exemplo do que ocorrera com outros Serviços Nacionais de
saúde, o SNC passa por um processo de institucionalização de suas duas vertentes, a seção de
controle e o Instituto de Câncer. A primeira se volta mais especificamente para a formulação
de políticas de saúde nessa área, enquanto ao segundo coube desenvolver e modernizar as
suas atividades, transformando-se no mais importante centro de tratamento e pesquisa de
câncer na América Latina (atual INCA). Aliás, em 1954 houve a separação física do SNC
(este passou a integrar a estrutura do Ministério da Saúde, sendo para este prédio deslocado) e
do Instituto de Câncer (permaneceu utilizando o espaço físico que já ocupava)324. Porém,
como já frisado, inicialmente, durante o período de 1964 a 1970 as políticas públicas voltadas
para a oncologia, bem assim o INCA sofreram grande retrocesso, principalmente diante da
visão dos governos militares de que o câncer não era um problema de saúde pública, devendo
ficar a cargo da iniciativa privada o atendimento e o tratamento para esse agravo de saúde.
322 “Apesar do esforço dos sanitaristas em trazer o problema do câncer para a órbita da saúde pública, sua ação não logrou obter resultados imediatos, ficando a Inspetoria de Profilaxia da Lepra e das Doenças Venéreas com uma ação bastante limitada em relação ao câncer. Seu relatório referente ao ano de 1927 informava que a única medida com relação ao câncer que a saúde pública havia conseguido pôr em prática havia sido a ampliação de quesitos nos atestados de óbitos pela doença, com o objetivo de obtenção de dados mais confiáveis para as estatísticas (Sanglard, 2005)”. (Luiz Antonio Teixeira e Cristina M. O. Fonseca, ob. cit., p. 31-33) 323 “O Decreto que criou o Serviço Nacional de Câncer em seu artigo 2o dispunha que ele teria como objetivo orientar e controlar em todo o País a campanha contra o câncer, tendo suas ações centradas em cinco pontos principais: a investigação sobre a etiologia, a epidemiologia, a profilaxia, o diagnóstico e a terapêutica da doença; a execução de ações preventivas de natureza individual e coletiva; a propaganda das práticas dos exames periódicos de saúde para obtenção do diagnóstico precoce; o tratamento e vigilância dos recuperados; e o internamento dos cancerosos necessitados de amparo.” (Luiz Antonio Teixeira e Cristina M. O. Fonseca, ob. cit., p. 74) 324 Luiz Antonio Teixeira e Cristina M. O. Fonseca, ob. cit., p. 81-85.
174
Durante as décadas seguintes, a história da saúde no país registra um crescimento na
contratação de serviços à iniciativa privada, para atendimento dos filiados à previdência social
e seus dependentes.
O redirecionamento das ações e serviços públicos para o tratamento dos pacientes
com neoplasias, no sistema público, só viria a ser retomado com a nova Carta Constitucional
– agora tratando o direito à saúde como direito fundamental e estabelecendo ações e serviços
de saúde pública universal - e, especificamente com a promulgação da Lei nº 8.080/90, a qual,
no seu art. 41 elegeu as ações do INCA como referencial de prestação de serviços, formação
de recursos humanos e transferência de tecnologia no SUS.
Assim, em meados da década de 90, e procurando atender as diretrizes e princípios
estabelecidos pelo SUS, foi realizado um minucioso trabalho de revisão de normas,
procedimentos e da tabela da oncologia do SUS, procedido pelas instâncias técnicas internas
do Ministério da Saúde, em parceria com o Instituto Nacional de Câncer (INCA) e seus
membros consultivos325. Fruto desse trabalho foi instituída a Política Nacional de Atenção
Oncológica – PNAO no SUS. Não se constituía num projeto acabado, mas se apresentava
como um fórum democrático e com a participação de especialistas do governo, das
organizações técnicas ligadas à área da cancerologia e organizações civis, na tentativa de
325 O INCA conta, desde 1992, com um Conselho Consultivo – CONSINCA -, formado por entidades de âmbito nacional, representativas de vários setores, que contribui, de forma decisiva, para elaboração de atos normativos relativos à estrutura e financiamento da atenção oncológica no país. O CONSINCA é presidido pelo Diretor Geral do INCA. Em 2003, o Conselho foi reformulado e ampliado, cabendo-lhe pronunciar-se, quando solicitado, sobre: a política de controle do câncer; o desenvolvimento das ações de controle do câncer das entidades públicas e privadas que integram o SUS, elaborando recomendações; a avaliação de projetos de incentivo, e a supervisão e controle das ações de controle do câncer; a avaliação de estudos e pesquisas na área de controle do câncer e os critérios de aprimoramento que permitam uma melhor resolutividade, visando à incorporação de avanços científicos e tecnológicos (http://www.inca.gov.br/conteudo_view.asp?id=67). Na época da revisão das normas e tabelas de procedimentos oncológicos realizado pelo Ministério da Saúde, o CONSINCA era formado pelas seguintes instituições: Sociedade Brasileira de Cancerologia (SBC), Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica (SBCO), Sociedade Brasileira de Oncologia Pediátrica (SOBOPE), Setor de Radioterapia do Colégio Brasileiro de Radiologia (CBT/RT), Fundação Oncocentro de São Paulo (FOSP), Associação Brasileira de Instituições Filantrópicas de Combate ao Câncer (ABIFICC), Hospital AC Camargo, da Fundação Antonio Prudente, de São Paulo e Hospital Erastro Gaertner, da Liga Paranaense de Combate ao Câncer (BRASIL, Manual de Bases Técnicas Oncologia – SAI/SUS - Sistema de Informações Ambulatoriais, p.4)
175
esboçar uma política pública que buscasse atingir o máximo de eficiência e que fosse capaz de
dar respostas efetivas ao integral atendimento aos pacientes com câncer, com ênfase na
prevenção, detecção precoce, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos.
Os principais instrumentos normativos elaborados por esse grupo de trabalho foram
as portarias estruturantes do que viria a ser, posteriormente, a Política Nacional de Atenção
Oncológica, quais sejam: a) a Portaria GM/MS nº 3.535/98 (que estabeleceu a organização da
rede hierarquizada para atendimento, pelo SUS, aos pacientes com neoplasias malignas, além
de atualizar os critérios mínimos para o cadastramento desses estabelecimentos hospitalares
como Centros de Alta Complexidade em Oncologia); b) a Portaria GM/MS nº 3.536/98
(tratando sobre a autorização, por APAC, para os procedimentos de radioterapia e
quimioterapia); e c) a Portaria SAS/MS nº 145/98 (incluindo procedimentos de quimioterapia
e radioterapia e seus respectivos valores na Tabela SIA-SUS). Ao longo da história, outras
portarias foram publicadas substituindo, alterando ou modificando o teor dessas portarias
estruturantes, de maneira que essa política pública vem sendo fortalecida e ampliada pelas
diversas gestões do Ministério da Saúde.
Atualmente toda a política pública na área da cancerologia e da oncologia está
desenhada a partir da Portaria GM/MS nº 2.439, de 08/12/2005 que instituiu a Política
Nacional de Atenção Oncológica (a ser implantada em todas as unidades federadas,
respeitadas as competências das três esferas de gestão) e a Portaria SAS/MS nº 741, de
19/12/2005, que regulamentando a Portaria nº 2.439/2005 estabelece os contornos conceituais
e as diretrizes técnicas para a organização e implantação das redes estaduais e ou regionais da
atenção oncológica no SUS, além de elencar as exigências e pressupostos para habilitação dos
prestadores e estabelecimentos de saúde que integrarão as referidas redes, no âmbito do SUS.
Não se pode nunca perder de vista que por se tratar de uma política pública do SUS,
ela se mantém ligada a todos os princípios e diretrizes gerais desse sistema, razão pela qual
176
todo o disciplinamento específico que lhe foi destinado, deve ter por fonte esses princípios e
diretrizes, não podendo deles se afastar ou contrariá-los, sob pena de violação constitucional
e/u infraconstitucional.
Nesse sentido, faz-se necessário adentrar sob essa política pública, buscando
identificar os seus horizontes e descortinar a sua efetividade no SUS, iniciando pelo
estabelecimento de sua cobertura, estrutura e organização, além dos prestadores e forma de
financiamento.
5.1.1 Eventos ou agravos cobertos
Segundo a Portaria GM/MS nº 2.439/2005, a Política Nacional de Atenção
Oncológica compreenderá ações e serviços de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento,
reabilitação e cuidados paliativos, devendo tais ações e serviços serem implementadas em
todas as unidades da federação, respeitadas as competências das três esferas de gestão.
A promoção e a prevenção andam de mãos dadas e devem ocorrer, continuamente,
em toda e em qualquer área da saúde, pois mesmo que a promoção à saúde seja mais ampla e
atinja outras áreas que não as exclusivamente da saúde, a promoção à saúde e à sua
prevenção, engloba ações que proporcionem a redução de fatores de riscos para determinados
agravos à saúde (aqui em especial para o aparecimento de cânceres), os estímulos às boas
práticas para uma vida saudável, disseminação de informações e orientações para que a
população não venha a ser acometida por determinados males, além da conscientização
pessoal sobre a necessidade de realização de determinados procedimentos prévios e/ou
participação em determinadas campanhas governamentais, com o fito de prevenir doenças ou
diagnosticá-las logo em seu início (possibilitando um tratamento mais eficaz, quando de sua
confirmação).
177
No que diz respeito ao câncer, as ações de promoção e de prevenção são essenciais,
principalmente quando os dados estatísticos demonstram que no Brasil há prevalência dos
cânceres de pele (do tipo melanoma), de próstata, mama feminina e de pulmão, todos com
bastante chance de serem evitados ou melhor tratados com campanhas de prevenção e com a
adesão da população às ações preventivas vinculadas a cada um destes, especialmente com
relação ao primeiro, cujas medidas protetivas são bastante simples e de fácil manuseio, como
a utilização de protetor solar e a não exposição nos horários de maior radiação solar. Da
mesma forma, os cânceres de mama feminino e de próstata, podem ser rastreados,
acompanhados e melhor tratados se forem realizados os exames preventivos, periodicamente,
pela mulher e pelo homem, respectivamente. Por sua vez, a adesão às campanhas publicitárias
de não utilização de cigarro, diminuirá, sensivelmente, os casos de câncer de pulmão.
Outro campo de abrangência dessa política pública é exatamente a cobertura e o
acesso aos exames diagnósticos dos diversos tipos de cânceres, pois com essa prática é
possível aos sistemas públicos de saúde não apenas o acompanhamento e levantamentos
estatísticos voltados para a área da cancerologia, mas acima de tudo possibilitará o
planejamento de políticas públicas voltadas para o tratamento adequado, no tempo certo e
com chances de mais sucesso nesse tratamento. Em recente auditoria operacional realizada
pelo Tribunal de Contas da União (TCU) na PNAO, apesar de reconhecerem que os bancos de
dados sobre câncer no Brasil não vêm sendo utilizados para calcular a tempestividade dos
tratamentos oncológicos oferecidos pelo SUS, os auditores concluíram, a partir dos dados
existentes, que “os tratamentos oncológicos providos pelo SUS não têm sido tempestivos”,
principalmente quando comparado com esse mesmo critério em países que adotam o sistema
público universal (Reino Unido e Canadá). Segundo o TCU essa falha pode ocorrer tanto na
atenção básica – por falta de habilidade das equipes do PSF ou médicos clínicos em não
identificarem os casos de câncer, precocemente, e encaminharem para a atenção especializada
178
- quanto na média complexidade – pela ausência de estabelecimentos credenciados em
número suficiente para a realização de exames diagnósticos para a identificação de câncer nos
pacientes do SUS326.
Diagnosticado um caso de câncer, o seu tratamento ocorrerá por meio de
procedimento cirúrgico, quimioterapia327 e radioterapia328. Essas modalidades de tratamento
geralmente são utilizadas em conjunto, dependendo do estágio em que se encontra o paciente.
O Ministério da Saúde estima que, para cada 1.000 casos novos de câncer, 500 a 600 deles
necessitarão de cirurgia oncológica, 700 casos necessitarão de quimioterapia e 600 deles
necessitarão de radioterapia329.
Em razão disso, uma política pública que se proponha a prestar assistência integral
aos acometidos por câncer, não pode descurar da cobertura integrada dos serviços de cirurgia,
radioterapia e quimioterapia, serviços gerais e de reabilitação, procedimentos diagnósticos e
terapêuticos, além de apoio multidisciplinar aos pacientes, todos eles existentes nas estruturas
dos prestadores desses serviços.
326 Acórdão TCU nº 2843/2011-Plenário. No que diz respeito à intempestividade entre o diagnóstico e o início do tratamento dos pacientes com câncer no SUS, foram feitas as seguintes considerações no referido acórdão do TCU: “A pesquisa realizada por correio eletrônico com médicos oncologistas também evidenciou problemas de tempestividade para o atendimento da demanda por diagnóstico e por tratamentos de câncer. Para 88% dos respondentes, a demora na realização de exames e de outros procedimentos para diagnóstico tem dificultado a prestação da assistência oncológica” e vem reforçado pela posição das associações de apoio a pacientes com câncer, também participantes da pesquisa do TCU, “As respostas das associações de apoio a pacientes que participaram da pesquisa também revelaram problemas de tempestividade. Destas, 90,9% apontaram a demora na realização de exames para diagnóstico como o maior fator que dificulta o acesso dos pacientes à atenção oncológica”. (BRASIL, TCU, Relatório de auditoria operacional Política Nacional de Atenção Oncológica, p. 21) 327 Quimioterapia “é a forma de tratamento sistêmico do câncer que usa medicamentos denominados genericamente de ‘quimioterápicos’ (sejam eles quimioterápicos propriamente ditos, hormonioterápicos, bioterápicos, imunoterápicos, alvoterápicos) que são administrados continuamente ou a intervalos regulares, que variam de acordo com os esquemas terapêuticos” (BRASIL, Manual de Bases Técnicas Oncologia – SAI/SUS - Sistema de Informações Ambulatoriais, p. 25). 328 Por sua vez, “a radioterapia é o método de tratamento local ou loco-regional do câncer, que utiliza equipamentos e técnicas variadas para irradiar áreas do organismo humano, prévia e cuidadosamente demarcadas. A radioterapia externa (roentgenterapia, cobaltoterapia e radioterapia por acelerador linear) consiste na aplicação diária de uma dose de radiação, expressa em centigray (cGy) ou em gray (Gy), durante um intervalo de tempo pré-determinado, a partir de uma fonte de irradiação localizada longe do organismo (telerapia)”. (BRASIL, Manual de Bases Técnicas Oncologia – SAI/SUS - Sistema de Informações Ambulatoriais, p. 61-62) 329 Item 2 do Anexo III da Portaria nº 741/2005.
179
Quando se falar em apoio multidisciplinar na área da oncologia, deve ser este
compreendido como sendo as atividades técnico-assistenciais realizadas em regime
ambulatorial e/ou de internação abrangendo as seguintes áreas: a) psicologia clínica; b)
nutrição; c) cuidados de ostomizados; e) fisioterapia; f) reabilitação exigível conforme as
respectivas especialidades; g) odontologia; h) psiquiatria; e i) terapia renal substitutiva330.
A PNAO também traz cobertura para oferecimento de cuidados paliativos aos
pacientes com câncer331, o que pode ser feita tanto na própria estrutura hospitalar credenciada
à rede estadual de oncologia ou, de forma integrada, com outros estabelecimentos da rede de
atenção à saúde, devidamente reconhecido e formalizado perante o Gestor do SUS na
respectiva área de atuação dos prestadores e/ou credenciados.
A prestação dos serviços e cuidados paliativos aos pacientes oncológicos, tratados no
SUS, ainda não está bem definido pelos estabelecimentos conveniados e que integram a rede
de atenção oncológica nos Estados. Apesar de os cuidados paliativos332 serem reconhecidos
pela Organização Mundial de Saúde (OMS) desde 2002, aqui no Brasil somente no último
mês de agosto, o Conselho Federal de Medicina reconheceu-os como especialidade médica333.
Assim, alguns estabelecimentos hospitalares, credenciados ao SUS para prestação de serviços
330 Cf. Portaria SAS/MS nº 741/2005. 331 A Portaria SAS/MS nº 741/2005 dar os contornos para a prestação dos CUIDADOS PALIATIVOS, ao assim estabelecer: “conjunto de ações interdisciplinares, associado ao tratamento oncológico, promovido por uma equipe de profissionais da saúde voltado para o alívio do sofrimento físico, emocional, espiritual e psico-social de doentes com prognóstico reservado, acometidos por neoplasias malignas em estágio irreversível, que se dão em forma de: a) assistência ambulatorial (incluindo o fornecimento de opiáceos); b) internações por intercorrências (incluindo procedimentos de controle da dor); c) internações de longa permanência; e d) assistência domiciliar”. 332 Discorrendo sobre a finalidade e objetivos dos cuidados ou tratamentos paliativos, para além dos pacientes acometidos de câncer, a professora Lenita Wannmacher fez questão de frisar os seguintes elementos: ‘O cuidado paliativo fornece suporte para alívio de dor e outros sintomas que ocasionam sofrimento. Não pretende pospor a morte e a encara como um processo normal. Mediante abordagem holística e integrada, permite aos pacientes viverem tão ativamente quanto possível até a morte. Ajuda a família a suportar a doença e o luto. Aumenta a qualidade de vida e pode afetar positivamente o curso da doença. Garante o respeito ao paciente, fazendo-o partícipe das decisões tomadas. No início da doença, coadjuva outros tratamentos que objetivam prolongar a vida, tais como radioterapia e quimioterapia”. Ao final, essa mesma autora propugna pela construção de um novo conceito para cuidados paliativos:“cuidado centrado no paciente que incorpora o respeito por seus valores e suas preferências, promove a autonomia na tomada de decisões, provê informação clara e compreensível e fornece conforto físico e suporte emocional”. (Lenira Wannmacher, Medicina Paliativa: Cuidados e Medicamentos. Uso Racional de Medicamentos: Temas Selecionados, p. 2-7) 333 Esse reconhecimento se deu por meio da RESOLUÇÃO CFM nº 1.973/2011, publicada no D.O.U de 01/08/2011, com vigência a partir de sua publicação.
180
na área da oncologia, agora é que estão começando a despertar para a necessidade de
integração de paliativistas às suas equipes multiprofissionais. Independentemente dos
cuidados e tratamentos paliativos que os estabelecimentos hospitalares (credenciados ao SUS)
deverão prestar aos pacientes, durante todo o período de internação e/ou tratamento em suas
dependências, o Governo Federal começa a investir numa área mais abrangente na prestação
desses serviços no SUS, estimulando a criação de Equipes Multiprofissionais de Atenção
Domiciliar (EMAD) e Equipes Multiprofissionais de Apoio (EMAP) – ao instituir a Atenção
Domiciliar no SUS, nos termos da Portaria GM nº 2.029, de 24/08/2011 -, ampliando, dessa
maneira, o acesso de mais pacientes oncológicos aos cuidados paliativos, por profissionais
próximos de suas residências.
De qualquer maneira, ainda que os cuidados paliativos possam ser realizados pelas
Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD), o que representa um ganho de
qualidade para o paciente, já que estes serão prestados diretamente em sua residência,
subsistem as obrigações dos estabelecimentos credenciados à rede estadual da oncologia para
a elaboração de planos de cuidados paliativos (quando da alta médica) – o que decerto
contribuirá para orientar a atuação dessas Equipes Domiciliares -, o oferecimento de suporte à
distância e a responsabilização pelo atendimento de doentes contra-referidos para cuidados
paliativos e de todas as intercorrências que a eles forem dirigidas, principalmente os casos de
urgência, além de colaborar com os Gestores do SUS para o treinamento específico para os
profissionais que irão desenvolver ações e serviços na área da medicina paliativa.
Não há dúvida de que o controle, por parte dos Gestores do SUS, quanto à prestação
dos serviços e cuidados paliativos não é tão fácil de ser feito, principalmente diante do fato de
que boa parte dessa prestação ocorre quando o paciente já não mais se encontra internado e,
muitas vezes, distante do estabelecimento que acompanha o seu tratamento. No entanto, é
preciso investir, seriamente, nesse trabalho de prestação dos cuidados em seus domicílios, já
181
que os hospitais credenciados à rede de atenção oncológica são tidos por terciários, os quais
necessitam do maior número de leitos livres para poder atender a demanda crescente nessa
área, sem falar que a boa e qualificada prestação de serviços paliativos domiciliares contribui
para que os familiares possam estar mais presentes na vida do doente, nessa fase tão difícil de
sua vida, e possam, juntamente com as equipes multiprofissionais, se prepararem para
possíveis casos de perda do seu ente familiar.
Outrossim, não se pode deixar de referenciar que o medicamento integra toda e
qualquer uma dessas fases e/ou estágio da cobertura ao tratamento integral ao paciente com
câncer no SUS, já que em quase todas elas há uma relação intrínseca com os fármacos. Não
obstante, como já anteriormente mencionado, na área da oncologia, o SUS não mais refere
medicamento, de maneira que os fármacos utilizados em qualquer uma das fases do
tratamento são informados aos SUS como procedimentos quimioterápicos – por meio de
Autorização de Procedimento de Alta Complexidade (APAC), do Sistema de Informações
Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS) - e, por esta razão, devem ser padronizados, adquiridos,
prescritos e fornecidos aos pacientes, livremente, pelos próprios estabelecimentos de saúde
credenciados ao SUS para a prestação dessa modalidade de tratamento e que efetuam o
tratamento de determinado paciente.
Nesse sentir, a Política Nacional de Atenção Oncológica do SUS oferece cobertura
para o integral diagnóstico e tratamento de todos os tipos de câncer. Portanto, resta analisar
agora como a prestação desses serviços está organizado no sistema público de saúde
brasileiro.
182
5.2 ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO ONCOLÓGICA
A exemplo do que ocorre com todas as ações e serviços do SUS e para que se possa
alcançar os objetivos e metas traçados na Portaria GM/MS nº 2.439/2005, a instituição da
Política Nacional de Atenção Oncológica deverá ser organizada de forma articulada pelos
órgãos da administração pública que representam os três entes federados que compõem o
Sistema Único de Saúde (Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde dos Estados e Secretarias
de Saúde dos Municípios). Por sua vez, deverá obedecer aos princípios e diretrizes
constitucionalmente estabelecidos para o SUS, se constituir, basicamente, por redes estaduais
ou regionais de atenção oncológica (formalizadas nos planos estaduais de saúde), nas quais
estejam contemplados os níveis hierárquicos, bem como estabelecidos os fluxos de referência
e contra-referência, possibilitando, assim, a plenitude de acesso e o atendimento integral às
ações e serviços de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados
paliativos na área da oncologia, a todos os brasileiros e residentes no país.
O plano estadual de saúde deve contemplar ações e serviços de saúde na área da
oncologia. A partir desse plano, a Secretaria Estadual de Saúde, em conjunto com as
Secretarias Municipais, deverá estruturar a rede estadual ou regional de atenção oncológica,
levando em consideração as necessidades de atuação na realidade estadual ou regional
existente, seja no tocante às ações de promoção e de prevenção aos diversos tipos de câncer,
seja no que diz respeito ao oferecimento de serviços de diagnósticos, tratamento, reabilitação
e cuidados paliativos para com os pacientes acometidos pelo agravo de saúde em comento.
Assim, não é possível pensar na estruturação da rede estadual ou regional de atenção
oncológica sem levar em conta os níveis de atenção à saúde que integram o Sistema Único de
Saúde (SUS), pois as ações integradas, descentralizadas e hierarquizadas é que permitirão o
alcance dos objetivos e metas estabelecidas, tanto para a redução do número de casos de
183
câncer no país, como para o oferecimento de tratamento universal e integral aos pacientes que
já foram diagnosticados com câncer.
Nessa perspectiva, voltando o nosso olhar apenas para as hipóteses em que o
paciente apresentar diagnóstico clínico ou diagnóstico definitivo de câncer, impõe-se, dentro
dessa política pública, a necessidade de instituição de rede estadual ou regional para o
oferecimento dos serviços de diagnóstico diferencial do câncer e o tratamento dos pacientes já
diagnosticados com o referido agravo de saúde. Para o estabelecimento dessa rede estadual de
serviços oncológicos leva-se em consideração as estimativas anuais de casos novos de câncer,
para determinado Estado ou região da federação, além da existência de estabelecimentos
hospitalares ou de saúde que preencham as condições de habilitação e credenciamento
estabelecidos pelo SUS.
A Portaria GM/MS nº 2.439/2005, dispõe que os serviços para tratamento dos
pacientes com diagnóstico clínico ou definitivo de câncer serão garantidos e cobertos pela alta
complexidade do SUS, e prestados por meio de Unidades de Assistência de Alta
Complexidade em Oncologia (UNACON) e Centro de Assistência de Alta Complexidade em
Oncologia (CACON). Além deles ainda estão autorizados o Centro de Referência de Alta
Complexidade em Oncologia (CRACON), os Serviços Isolados de Radioterapia e/ou
Quimioterapia que já estavam credenciados ao SUS (embora essa prorrogação deva ser
mantida apenas até o final de dezembro de 2011334) e os hospitais gerais (para realização de
cirurgias oncológicas)335.
Poderá ser enquadrado como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia
(UNACON) no SUS, todo estabelecimento hospital que possua condições técnicas,
instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à prestação de assistência
especializada de alta complexidade para o diagnóstico definitivo e tratamento para os
334 Conforme disposto no § 9º do art. 1º, da Portaria SAS/MS nº 62, de 11 de março de 2009. 335 Art. 1º da Portaria SAS/MS nº 361, de 25 de junho de 2007.
184
cânceres mais prevalentes no Brasil. Já para a habilitação e o credenciamento de um Centro
de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) o estabelecimento hospitalar deve atender
aos requisitos e condições já estabelecidos para uma UNACON, com a diferença de que este
nosocômio deve estar apto à prestação de assistência especializada de alta complexidade para
o diagnóstico definitivo e tratamento para de todos os tipos de câncer. Além disso, tanto a
UNACON quanto o CACON devem oferecer consultas e exames de média complexidade
para o diagnóstico diferencial do câncer336.
Ademais, esses mesmos serviços podem ser prestados por Centro de Referência de
Alta Complexidade em Oncologia, que se constitui num CACON que tem a função de
auxiliar o gestor do SUS na implementação da política de atenção oncológica, além de ter que
ser hospital de ensino certificado pelos Ministérios da Saúde e da Educação, de acordo com a
Portaria Interministerial MEC/MS n.º 1000, de 15 de abril de 2004.
Por sua vez, os Serviços Isolados de Quimioterapias e Radioterapias são as clínicas
autorizadas pelo Ministério da Saúde para realizar tratamento restritivamente à quimioterapia
e/ou radioterapia. Porém, caso o paciente esteja sendo vinculado a um Serviço Isolado e
necessite de internação, dentre outros, a clínica deverá ter contrato formal com uma
UNACON ou uma CACON para referenciar o paciente. Essa exigência foi quem motivou a
determinação da área técnica do Ministério da Saúde no sentido de não mais contratar
Serviços Isolados de quimioterapia e radioterapia, além de determinar a extinção dessas
habilitações e credenciamentos até dezembro de 2011, possibilitando assim a completa
integração do Serviço à estrutura organizacional e funcional desses serviços, a um
estabelecimento hospitalar, o qual seria credenciado como UNACON.
Esses centros de alta complexidade podem pertencer à rede própria ou ser de caráter
privado conveniado ao SUS, exigindo-se apenas que estes estejam cadastrados e habilitados
336 Portaria SAS/MS nº 741, de 19/12/2005.
no sistema público de saúde, após preenchidas as condições técnicas e os requisitos
estabelecidos nos normativos do SUS que regem essa matéria.
Segundo dados fornecidos pela Coordenação
do Departamento de Atenção Especial
nacional de atenção oncológica contava 42 CACONs, 214 UNACONs, 9 Hospitais
com cirurgia oncológica e 14 Serviços Isolados de Radioterapia, distribuídos pelas Unidades
da Federação, conforme mapa
Figura 2: Mapa contendo os estabelecimentos credenciados à PNAO, distribuídos pelos Estados da Federação
o sistema público de saúde, após preenchidas as condições técnicas e os requisitos
estabelecidos nos normativos do SUS que regem essa matéria.
Segundo dados fornecidos pela Coordenação-Geral da Média e Alta Complexidade,
do Departamento de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, até maio de 2011 a rede
nacional de atenção oncológica contava 42 CACONs, 214 UNACONs, 9 Hospitais
com cirurgia oncológica e 14 Serviços Isolados de Radioterapia, distribuídos pelas Unidades
da Federação, conforme mapa e tabela abaixo:
Figura 2: Mapa contendo os estabelecimentos credenciados à PNAO, distribuídos pelos Estados da
185
o sistema público de saúde, após preenchidas as condições técnicas e os requisitos
Geral da Média e Alta Complexidade,
izada do Ministério da Saúde, até maio de 2011 a rede
nacional de atenção oncológica contava 42 CACONs, 214 UNACONs, 9 Hospitais-Gerais
com cirurgia oncológica e 14 Serviços Isolados de Radioterapia, distribuídos pelas Unidades
Figura 2: Mapa contendo os estabelecimentos credenciados à PNAO, distribuídos pelos Estados da
186
Tabela 2: Número de estabelecimentos credenciados à PNAO, distribuídos pelos Estados da Federação
UF CACON UNACON com RT
UNACON sem RT
HG com CO Serviços isolados de RT
AC 0 1 0 0 0 AL 2 0 2 0 0 AP 0 0 1 0 0 AM 0 1 0 0 0 BA 1 5 5 0 4 CE 2 2 5 0 2 DF 1 1 1 0 1 ES 1 1 2 1 0 GO 1 1 3 0 0 MA 1 0 1 0 0 MT 0 2 2 0 0 MS 0 3 2 0 0 MG 3 18 9 0 1 PA 1 1 0 0 0 PB 1 1 2 0 0 PR 5 6 11 0 1 PE 0 2 7 0 0 PI 1 0 0 0 0 RN 1 0 4 0 0 RS 3 12 12 0 0 RJ 2 6 13 2 1 RO 0 1 0 0 2 RR 0 0 1 0 0 SC 1 5 8 0 2 SP 15 18 32 6 0 SE 0 2 0 0 0 TO 0 1 1 0 0
Total 42 90 124 9 14 Fonte: CGMAC/DAE/SAS/MS – maio/2011.
Esse quadro distributivo demonstra que existem Estados da federação que ainda não
dispõem, sequer, de uma UNACON com serviços de radioterapia. Tomando-se por referência
a estimativa feita pelo Ministério da Saúde, de que a cada 1.000 novos casos de câncer
confirmado, pelo menos 600 necessitarão de radioterapia, chega-se à conclusão de que nos
Estados que não contam com serviços de radioterapia, mais da metade dos pacientes
oncológicos do SUS aí residentes, terminarão por suportar um ônus muito maior do que seus
187
pares nos Estados de que dela dispõe, mesmo que para o uso desses serviços o sistema
disponibilize o Tratamento Fora do Domicílio (TFD), onerando, sobremaneira o SUS e
também o usuário, que terá que se deslocar do seu município para receber as aplicações de
radioterapia em outro município, muitas vezes distante do seu domicílio originário e por
período bastante prolongado.
Ademais, a auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União concluiu que “a
rede de atenção oncológica não se mostra suficiente para atender a toda a demanda dos
pacientes por diagnóstico e tratamento de câncer”, isto porque estima-se um déficit de
estabelecimentos habilitados, na ordem de 44 unidades para procedimentos cirúrgicos, 39
unidades para quimioterapia e 135 unidades para realização de radioterapia337.
Outro fato que chama à atenção nos dados acima demonstrados é que do total de
estabelecimentos credenciados e habilitados para prestação de serviços na área da atenção
oncológica no SUS, em torno de 66,67% são de natureza não-pública (neles incluídos os
filantrópicos e os estritamente privados), ficando à rede própria o percentual de 35,13%. Essa
constatação conduz à conclusão de que a PNAO, desenvolvida pelo Sistema Único de Saúde,
é fortemente marcada pela dependência da iniciativa privada e, por essa razão, muitas
consequências negativas poderão advir aos usuários, na medida em que estes ficam
dependendo da medição de forças entre esses prestadores e os órgãos de gestão
governamentais. É verdade, também, que o poder de barganha e de mobilização dos
profissionais que integram os estabelecimentos hospitalares privados, não tem se revelado
capaz de impor determinados avanços nessa política, frente aos gestores do SUS, o que tem
feito com que eles optem pelo caminho mais fácil, encaminhando o paciente ao Poder
Judiciário, para solicitar do Estado-Juiz a solução que não consegue obter na via
337 Dados constantes do acórdão 2843/2011- plenário do TCU.
188
administrativa, preservando-se de um enfrentamento técnico com aqueles que compõem a
estrutura administrativa do Ministério da Saúde.
Cabe registrar, neste tópico, que segundo os levantamentos feitos pelos auditores do
TCU, os serviços de radioterapia oferecidos pelo SUS no ano de 2010 só conseguiram fazer a
cobertura de 65,9% das necessidades estimadas, deixando fora desses serviços milhares de
usuários em vários Estados brasileiros. Os supostos motivos para que se instaurasse esse
déficit nos serviços de radioterapia passam pelo crescimento desordenado das demandas em
oncologia, a necessidade de mais e melhores profissionais especializados nessa área da
medicina, aquisição de mais equipamentos e ampliação dos serviços (tanto pelos prestadores
públicos, quanto pelos da iniciativa privada), criação de novos serviços, promoção de cursos
de formação e qualificação profissional, além da regulamentação da atividade profissional de
físico para atuação em radioterapia338.
É indiscutível e urgente a necessidade de ampliação dos credenciamentos e
habilitações de estabelecimentos hospitalares para atender às reais necessidades das redes
estaduais de atenção oncológica, especialmente com oferecimento de condições para que, pelo
menos as Unidades de Atenção Oncológica com serviços de radioterapia cheguem aos
Estados que ainda não possuem credenciados SUS para a cobertura dessa política pública. E
como é que se dá esse processo de credenciamento?
5.3 PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DOS HOSPITAIS E CLÍNICAS
CONVENIADAS – OBRIGAÇÕES DOS CONVENENTES
Antes de adentrarmos ao procedimento utilizado pelo SUS para autorização,
habilitação e credenciamento dos estabelecimentos hospitalares (UNACON, CACON e
338 Acórdão TCU 2843/2011, p. 12/15.
189
CRACON) que integrarão a rede estadual ou regional de atenção oncológica, é necessário
fazer a diferenciação conceitual entre essas expressões, facilitando a compreensão de todo
esse processo.
O credenciamento é o ato pelo qual o gestor pleno do SUS (que tanto pode ser
municipal ou estadual) contrata um estabelecimento hospitalar, inscrito no Cadastro Nacional
de Estabelecimentos de Saúde (CNES), para prestação dos serviços de média e alta
complexidade, desde que apresente perfil e atenda às exigências impostas pela Portaria
SAS/MS n° 741/2005. Já a habilitação é o ato do gestor federal ratificando o credenciamento
efetuado pelo gestor pleno do SUS e devidamente encaminhado ao Ministério da Saúde, pelo
gestor estadual. Por sua vez, a autorização se dá através de licenciamento, pelo Ministério da
Saúde, seja para atuação de Centro de Referência de Alta Complexidade em Oncologia, seja
para prestação de procedimentos de cirurgia oncológica, desde que cumpridas as exigências
estabelecidas na Portaria que regulamenta a atenção oncológica no SUS339.
O processo de credenciamento, por si só, não é a garantia da efetiva contratação dos
serviços pelo Gesto local do SUS, tendo em vista este ato administrativo só se aperfeiçoa e
passa a ter efeito concreto dentro do SUS, após a sua ratificação, pelo órgão central do SUS (o
Ministério da Saúde), quando ocorre a habilitação do estabelecimento de saúde para a
prestação dos serviços da área da oncologia, conforme o perfil que lhe for destinado. Neste
contexto, o credenciamento se reveste da condição de ato administrativo vinculado e
complexo, na medida em que o Gestor local deverá cumprir todo o procedimento estabelecido
no item 2 do Anexo I, da Portaria SAS/MS nº 741/2005, o qual impõe obrigações próprias ao
Gestor do SUS local (solicitação/aceitação de credenciamento, vistorias in locu,
documentação comprobatória de regularidade técnica e de adequação às exigências de
vigilância sanitária, parecer conclusivo acerca do credenciamento, aprovação do
339 Estas definições constam do Item 1 do Anexo I da Portaria SAS/MS n° 741/2005.
190
credenciamento pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB, além de informação sobre o
impacto financeiro no custeio do estabelecimento credenciado)340 e, por consequência,
também determinando o cumprimento de obrigações aos estabelecimentos para os quais se
buscam o credenciamento341, sem as quais não será possível, sequer, dar sequência ao
procedimento de credenciamento ao SUS.
Dessa maneira, após a emissão de parecer favorável pelo Gestor local do SUS e
aprovada pela CIB, a Secretaria de Estado da Saúde encaminhará o formulário de vistoria
devidamente preenchido e assinado pelo Secretário Estadual de Saúde, diretamente para a
Coordenação Geral da Alta Complexidade Ambulatorial, da Secretaria de Atenção à Saúde do
Ministério da Saúde, onde será avaliado e, obtido avaliação favorável, será encaminhado para
publicação da habilitação.
Em se tratando de processo formalizado por Secretaria de município em Gestão
Plena do Sistema Municipal de Saúde, deverá constar, além do parecer do Gestor Municipal,
o parecer do Gestor estadual do SUS, que será responsável pela integração da Unidade ou
CACON à rede estadual e a definição dos fluxos de referência e contra-referência dos
pacientes342.
Caso seja verificada alguma pendência, o Ministério da Saúde (por seu setor
competente) encaminhará ao Secretário de Estado da Saúde, relatório de vistoria do
340 Neste sentido, buscam-se as definições delineadas por Hely Lopes Meirelles, quando assim explicita: “Atos vinculados ou regrados são aqueles para os quais a lei estabelece os requisitos e condições de sua realização. Nesta categoria de atos, as imposições legais absorvem, quase por completo, a liberdade do administrador, uma vez que sua ação fica adstrita aos pressupostos estabelecidos pela norma legal, para validade da atividade administrativa. Desatendido qualquer requisito, compromete-se a eficácia do ato praticado, tornando-se passível de anulação pela própria Administração, ou pelo Judiciário, se assim o requerer o interessado” (Direito administrativo brasileiro, p. 143). Por sua vez, define o ato administrativo complexo como sendo “o que se forma pela conjugação de vontade de mais de um órgão administrativo. [...] No ato administrativo integram-se as vontades de vários órgãos para a obtenção de um mesmo ato; [...] o ato complexo só se aperfeiçoa com a integração da vontade final da Administração e a partir deste momento é que se torna atacável por via administrativa ou judicial; [...]” (ob. cit., p. 148) 341 Os estabelecimentos hospitalares deverão comprovar além da regularidade jurídica, o cumprimento de todas as exigências técnicas, na conformidade dos Anexos que integram a Portaria SAS/MS nº 741/2005, de modo especial os contidos nos itens 4.1 a 4.4, do Anexo I, que tratam das disposições gerais e específicas para o credenciamento de UNACON e CACON. 342 item 2.4 do Anexo I, da Portaria SAS/MS n° 741/2005.
191
estabelecimento que se pretende ver habilitado à rede de atenção oncológica, para fins de
manifestação, providências e submissão à Comissão Intergestores Bipartites (CIB) da referida
unidade federada.
Cabe destacar, neste tópico, que ao solicitarem pedido de credenciamento ou
aceitarem proposta de credenciamento ao SUS, para prestação de serviços na área da
oncologia, o estabelecimento de saúde assina o Termo de Compromisso relativamente ao
número de atendimento (ambulatorial, hospitalar e de realização de exames) que se propõe a
efetuar para o Sistema Único de Saúde (SUS), conforme sua capacidade de atendimento e em
razão dos recursos financeiros do teto MAC que é destinado à contratação dos respectivos
serviços. Outrossim, fica claro que o estabelecimento de saúde que pretende se credenciar e
habilitar, deverá prestar serviços integrais aos pacientes do SUS, acometidos por câncer,
estando incluído nessa prestação os serviços de consultas clínicas, exames diagnósticos,
procedimentos cirúrgicos, quimioterapia (com inclusão de todos os antineoplásicos adequados
e com comprovação técnica de medicina baseada em evidência), radioterapia, atendimento
por intercorrências, tratamento e orientação paliativos, entre outras.
Assim, estando o estabelecimento de saúde credenciado e habilitado ao SUS
(UNACON, CACON, CRACON, Serviços Isolados de quimioterapia e radioterapia), para
prestação de serviços de atenção a pacientes com câncer, devem estes oferecer todos esses
serviços, respaldando-os em diretrizes terapêuticas ancoradas nas melhores práticas médicas,
nas diretrizes terapêuticas dos manuais de oncologia internacionais e do INCA, especialmente
nas práticas reconhecidas pela Medicina Baseada em Evidências (MBE)343.
343 “A Medicina Baseada em Evidências é o uso consciente, explícito e judicioso das melhores evidências atuais disponíveis para a tomada de decisões acerca do cuidado com os pacientes. Isso exige mais do que entender a fisiopatologia da doença, ter experiência clínica (pessoal ou do serviço) ou contar com a opinião de peritos (professores, palestrantes de congressos, autores de capítulos de livros-texto bem-conceituados). Sempre que possível, as decisões devem ser baseadas em evidências de investigações clínicas que quantificam benefícios, riscos e custos.” (Bruce B. Duncan, Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseada em evidências, p. 31)
192
Aliás, é com base na relação entre as evidências científicas e o custo-efetividade que
o Sistema Único de Saúde (SUS) estabelece os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas,
utilizados no tratamento dos diversos agravos de saúde, bem como para subsidiar as tabelas de
custeio e cobertura dos serviços, em todas as áreas da saúde pública brasileira.
5.4 PROCEDIMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DOS PROTOCOLOS E DIRETRIZES
TERAPÊUTICAS NO SUS.
A cada ano surgem inúmeras inovações tecnológicas344 nas diversas áreas da saúde e,
por consequência, na área da oncologia345 podem ser tidos por exemplos: equipamentos,
insumos, antineoplásicos e mudanças nas diretrizes terapêuticas. Muitas dessas inovações são
logo absorvidas na prática médica, dada a rapidez com que as informações hoje circulam ao
redor do mundo, fruto do avançado estágio em que se encontra a tecnologia da informação e
as redes sociais.
Por sua vez, os investimentos nas descobertas de novas tecnologias em saúde,
especialmente no que diz respeito à área farmacêutica, impõem um ônus aos destinatários
dessas inovações (o doente ou paciente), impactando os custos da saúde e impondo aos
gestores dos sistemas públicos de saúde uma tomada de decisão acerca dos limites financeiros
344 “Inovação tecnológica em saúde representa a aplicação de novos conhecimentos, que tanto podem aparecer de forma concretamente incorporada num artefato físico (um equipamento, dispositivo ou medicamento, por exemplo) quanto podem representar “ideias”, na forma de novos procedimentos (ou práticas) ou de (re)organização dos serviços”. (BRASIL. Ciência e Tecnologia em Saúde, p. 55). 345“As últimas décadas têm presenciado um processo de transformação e de inovação tecnológica sem precedentes na área da saúde. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que cerca de 50% de todos os avanços terapêuticos disponíveis hoje em dia não existiam há dez anos. Anualmente, novas tecnologias médicas são colocadas à disposição do sistema de saúde e incorporadas à prática clínica, muitas vezes sem uma avaliação sistemática sequer de sua eficácia e segurança. Muitos serviços de saúde, em especial os de média e alta complexidade, precisam ter uma abordagem regional, dado que a economia de escala é fundamental para um funcionamento racional dessas unidades e para sua adequada manutenção econômica. Além disso, a multiplicação desordenada e acrítica favorece a duplicidade de meios para fins idênticos, transferindo custos desnecessários para a sociedade e gerando ineficiência do sistema”. (BRASIL, Ciência e Tecnologia em Saúde, p. 52)
193
disponíveis para a cobertura dessas tecnologias, bem assim o estabelecimento de critérios para
sua incorporação.
Nesse sentido, os sistemas públicos de saúde, principalmente aqueles que adotam a
universalidade e a integralidade das ações e serviços, têm um grande desafio a cumprir, qual
seja: construir e implementar políticas públicas de saúde que venham atender essas duas
diretrizes, compatibilizando-as com os serviços e insumos lançados e disponibilizados,
cotidianamente, no mercado da saúde e os recursos orçamentários disponíveis para a
cobertura pública desses sistemas. Assim, alguns questionamentos se impõem: Como esses
sistemas têm concebido a integralidade e a universalidade? Eles oferecem, indistintamente,
todo e qualquer serviço de saúde disponível no mercado aos seus cidadãos? Quais os
parâmetros utilizados para o estabelecimento de cobertura nesses sistemas? É possível
compatibilizar os agravos de saúde da população com os orçamentos públicos, de maneira que
não sejam impostas restrições injustificadas ou fira direitos fundamentais ao direito à saúde?
Não há dúvida de que o simples fato de um sistema de saúde pública ser enquadrado
como universal e integral não implica, necessariamente, que ele tenha que oferecer todo e
qualquer serviço, insumos e procedimentos disponíveis na área da medicina moderna346. E
assim tem ocorrido em qualquer dos países desenvolvidos que adotam a universalidade no
sistema público de saúde347. No entanto, há que se estabelecer um fio condutor ou um
elemento diferencial que permita aos gestores públicos transitar nesse campo de atuação, sem
que direitos fundamentais sejam banalizados e/ou violados.
346 Ressaltando a impossibilidade dos sistemas públicos de saúde oferecerem todo e qualquer inovação disponível em saúde, assim se manifesta Ana Paulo de Barcellos: “Como é corrente, novas prestações de saúde estão em constante desenvolvimento (felizmente) a custos cada vez maiores: parece inviável conceber um sistema público de saúde que seja capaz de oferecer e custear, para todos os indivíduos, todas as prestações de saúde disponíveis. Com efeito, é difícil imaginar que a sociedade brasileira seja capaz de pagar (ou deseje fazê-lo) por toda e qualquer prestação de saúde disponível no mercado para todos os seus membros.” (Ana Paula de Barcellos, O Direito à Prestações de Saúde: Complexidades, Mínimo Existencial e o Valor das Abordagens Coletiva e Abstrata, p. 807) 347 As restrições aos serviços, medicamentos e às coberturas feitas pelos sistemas públicos de saúde de diversos países da Europa e das Américas estão bem descritas no Documenta n° 19 do CONASS. (BRASIL, O Sistema Único de Saúde e a qualificação do acesso, p. 51/54)
194
As principais condutas que vêm sendo utilizadas pelos países que adotam sistema
universal de saúde têm sido a instituição de um órgão estatal responsável pela avaliação e
incorporação das tecnologias em saúde, bem assim o estabelecimento de critérios técnico-
científicos para subsidiar tanto a permissão de uso e comercialização desses produtos (no
âmbito interno), quanto a efetiva absorção e incorporação desses bens, serviços e insumos
para cobertura pelos sistemas públicos de saúde. Via de regra, são as evidências científicas
que determinam a inclusão ou exclusão de um produto, insumo, procedimento ou
medicamento nos sistemas públicos de saúde. Mas essa busca pela comprovação de
evidências ocorre através das constantes comparações entre aquilo que já era utilizado pela
prática médica (ou assistência farmacêutica) e as apontadas inovações nessas mesmas áreas da
saúde.
O processo de avaliação das tecnologias em saúde tem sido acompanhado por meio
das avaliações tecnológicas (ATS) e avaliações econômicas em saúde (AES). A Avaliação
Tecnológica em Saúde (ATS) se volta para as pesquisas acerca das consequências técnicas,
econômicas e sociais (de curto e longo prazo) da utilização das tecnologias em saúde, além
dos seus efeitos diretos, indiretos, desejáveis e indesejáveis348. Já a Avaliação Econômica em
Saúde (AES) tem por escopo estabelecer a relação custo/resultado entre as diferentes
alternativas de intervenção que se afigurem existentes, dando ênfase aos aspectos da
eficácia349 e efetividade das inovações avaliadas. Hodiernamente, essas modalidades de
avaliação têm sido bastante utilizadas pelos gestores dos sistemas públicos de saúde (no
mundo inteiro), na medida em que estas avaliações têm auxiliado no processo de incorporação
das novas tecnologias nesses sistemas, eliminando inseguranças, efeitos danosos aos usuários
348 INSTITUTE OF MEDICINE. Committee to advise the public health service on clinical practice guidelines. FIELD, M. J.; LOHR, K. N. (Eds.). Clinical practice guidelines: directions for a new program. Washington DC: National Academy, 1990 apud BRASIL, Ciência e Tecnologia em Saúde, p. 56. No Ministério da Saúde, a ATS é uma das atribuições da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, através da atuação do Departamento de Ciência e Tecnologia, com o objetivo de institucionalizar a ATS no SUS (art. 1º, § 2º, da Portaria GM/MS nº 152 de 19/01/2006) 349 BRASIL, Ciência e Tecnologia em Saúde, p. 59.
195
e profissionais da saúde, ao tempo em que racionaliza a aplicação dos limitados recursos
públicos, adequando-os aos perfis epidemiológicos e às necessidades de expansão ou redução
de determinados serviços pelo sistema público.
A linha condutora utilizada pelos gestores públicos em saúde para incorporação e
cobertura de inovações tecnológicas na área da saúde (medicamentos, tratamentos,
equipamentos e/ou insumos), aos sistemas públicos, principalmente aqui no Brasil, tem sido
balizada pelos níveis ou graus de evidência científica, os quais são os melhores indicadores de
eficácia, eficiência, efetividade e custo-efetividade.
O Ministério da Saúde no Brasil, a exemplo do que já ocorre em diversos sistemas
públicos de saúde no mundo350, tem procurado adotar para o Sistema Único de Saúde (SUS)
políticas públicas com base em medicina baseada na melhor evidência científica, para tanto
estabeleceu que a incorporação, a exclusão ou a alteração de novos medicamentos, produtos
ou procedimentos no SUS, bem assim o estabelecimento ou alteração de qualquer protocolo
clínico ou diretriz terapêutica só poderá ser efetuada pelo Ministério da Saúde, após ouvida a
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS351.
Antes mesmo da vigência da Lei nº 12.401/2011, a incorporação, exclusão ou
alteração nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas no SUS (advinda de inovações
tecnológicas em medicamentos, produtos ou procedimentos) era apreciada, previamente, pela
Comissão de Incorporação de Tecnologias (CITEC) da Secretaria de Ciência, Tecnologia e
Insumos Estratégicos (SCTIE) do Ministério da Saúde, cuja composição era feita por
membros titulares e suplentes dos seguintes órgãos e entidades: Secretaria de Atenção à Saúde
350 Em 2007, o então Ministro da Saúde de Portugal Antonio Correia de Campos, em discurso proferido no Seminário organizado pela Ordem de Médicos e Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), defendeu que o Sistema Nacional de Saúde de Portugal deve ser construído com base na evidência científica, pois segundo ele, “Decidir, politicamente, de forma alheada da evidência científica disponível, ou não a procurando, teria consequências desastrosas: aumento da ineficiência e injustiça do sistema, piores resultados em saúde e aumento da despesa (p. ex. despesa com medicamentos não sujeitos à devida avaliação fármaco-económica)” (Disponível em http://www.min-saude.pt/Portal/printversion?ContentGUID={51301A4E-515E-4264-AD1E-AD56EF02D1E9}. Acesso em 04 nov 2011). 351 Em conformidade com o art. 19-Q da Lei nº 8.080, com a redação dada pela Lei nº 12.401/2011.
196
(SAS), Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE), Secretaria de
Vigilância em Saúde (SVS), Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS)352.
Por força da Lei nº 12.401/2011, fora instituída a Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologia no Sistema Único de Saúde (SUS), cuja composição e regimento
deverão constar em regulamento a ser aprovado pelo Ministro da Saúde, devendo contar com
um representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) e um representante
indicado do Conselho Federal de Medicina (CFM), desde que especialista na área. Para a
composição desse novo órgão, o Ministério da Saúde deverá absorver toda a experiência já
sedimentada da antiga Comissão de Incorporação de Tecnologia do Ministério da Saúde,
fazendo apenas os ajustes necessários e a ampliação determinada pela nova Lei nº
12.401/2011.
Não obstante a nova lei tenha estabelecido um fluxo mínimo a ser cumprido para o
procedimento de incorporação, exclusão ou modificação de procedimentos, insumos e/ou
medicamentos no SUS, inclusive com aplicação do procedimento previsto na Lei nº 9.789/99
(Regular o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal), estabeleceu
a necessidade de serem respeitadas as especificidades da matéria e os prazos para sua
conclusão353. Guardadas as adaptações necessárias, o disciplinamento legal veio a aprimorar o
fluxo anteriormente existente no Ministério da Saúde para tal finalidade, com ênfase na
iniciativa procedimental, na instrumentalização e conclusão dos trabalhos referentes aos
pedidos de incorporação, modificação ou exclusão de novas tecnologias no SUS, como a
seguir se delineará.
352 Na conformidade do art. 3º da Portaria GM/MS nº 2.587, de 30/10/2008. 353 Nos termos do art. 19-R e seus incisos, da Lei nº 8.080/90 (com a redação dada pela Lei nº 12.401/2011).
197
5.4.1 Iniciativa
As solicitações para a incorporação e retirada de tecnologias de saúde, de revisão de
diretrizes clínicas, protocolos terapêuticos e assistenciais poderão ser feitas por qualquer
pessoa física, jurídica ou pelo próprio Ministério da Saúde.
Na vigência da Portaria nº 2.587/2008, as solicitações advindas de pessoa física e de
pessoa jurídica só poderiam ser protocoladas nos períodos compreendidos entre 1º de
fevereiro e 31 de março e entre 1º de agosto e 30 de setembro de cada ano, enquanto as
solicitações encaminhadas pelo próprio Ministério da Saúde poderiam ser proposta a qualquer
tempo, sem qualquer restrição354.
A nova lei de regência da matéria não impôs nenhuma limitação temporal para a
iniciativa e formalização de procedimento administrativo com o objetivo de ver incorporado,
alterado ou excluída qualquer inovação tecnológica ao SUS, de forma que parece não haver
razoabilidade que norma regulamentar venha a estabelecer limitação nesse sentido.
Ademais, também não houve qualquer restrição à titularidade para a propositura e
solicitação de incorporação de novas tecnologias ao SUS, de maneira que qualquer cidadão,
entidade representativa (aqui incluídas as entidades que representam os pacientes acometidos
pelos diversos agravos de saúde, bem como as sociedades médicas e de especialistas nas
inúmeras áreas do conhecimento médico e da saúde em geral), órgão público (também aqui
qualquer dos entes federados que compõem o SUS) ou privado (aqui com ênfase para os
prestadores de serviços e estabelecimentos hospitalares conveniados ou não ao SUS) estariam
aptos a solicitar a incorporação de medicamentos (aqui com especial atenção para os
antineoplásicos – objeto deste estudo), procedimentos, órteses, próteses e demais insumos
relacionados à saúde, no Sistema Único de Saúde (SUS).
354 Essa é a dicção que se extrai da leitura conjunta dos §§1º ao 3º do art. 1º, do Anexo I da Portaria GM/MS nº 2.587/2008.
198
Como se verifica, este é um dos principais fóruns de participação democrática no
SUS, na medida em que a amplitude de sua abrangência permite além da propositura de
solicitações para inclusão, incorporação, modificação ou exclusão de cobertura pelo SUS, por
qualquer cidadão ou pessoa jurídica, também traz previsão de consultas e audiências públicas
antes da tomada de decisão pelos órgãos do Ministério da Saúde, estabelecendo um amplo
debate com a sociedade e com os setores técnicos específicos das áreas da saúde, nas quais se
buscam efetuar as alterações sugeridas.
No entanto, como a solicitação necessita muitas vezes de uma apreciação técnico-
científica355 – especialmente no que diz respeito à incorporação de medicamentos aos
protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas do SUS -, a formalização do processo
administrativo para incorporação, exclusão ou alteração de coberturas no SUS se reveste de
especial relevância, questão essa a ser apreciada no tópico seguinte.
5.4.2 Formalização
O inciso I do art. 19-R da Lei nº 8.080/90 estabelece que regulamento deverá
disciplinar a exigência de documentos e, se for o caso, de amostras de produtos, com
informações necessárias à elaboração do parecer técnico pela Comissão Nacional de
Incorporação de Tecnologias no SUS.
O anexo II da Portaria nº 2.589/2006 continha um rol de documentos e exigências
para fins de avaliação acerca de pedido de incorporação de novas tecnologias no SUS, estando
ali elencados os seguintes:
355 Segundo dados da Comissão de Incorporação de Tecnologia do Ministério da Saúde, no período de 2006 a julho de 2010 foram apresentadas 219 propostas junto àquele setor, sendo que 42 tecnologia foram incorporadas ao SUS; 25 delas não foram incorporadas ao SUS; 4 propostas foram consideradas fora do campo de atuação da CITEC; 1 proposta de exclusão de tecnologia fora rejeitada; 4 tecnologias foram excluídas do elenco do SUS; 12 protocolos de doenças genéticas estavam com protocolo clínico em elaboração; 74 estudos apoiados pelo Ministério da Saúde estavam em andamento; 24 quimioterápicos estavam em análise e 86 PCDTs estavam em processo de revisão (sendo 53 para atualização e 33 para elaboração).
199
I - Assunto - Descrição sintética das principais características da tecnologia e suas aplicações. II - Identificação do responsável/ instituição pela proposta: a) pessoa jurídica: nome da instituição, CNPJ, endereço de contato, telefone e e-mail; e b) pessoa física: nome, CPF, endereço de contato, telefone e e-mail. III - Informar o número do registro com 13 dígitos na ANVISA, no caso de medicamentos e produtos para a saúde. IV - Preço aprovado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), no caso de medicamentos. V - Apresentar relatório técnico com as evidências científicas relativas à eficácia, acurácia, efetividade e segurança, comparativas em relação a tecnologias já incorporadas. VI - Estudos de avaliação econômica - custo-efetividade ou custo-utilidade ou custo-benefício-, quando houver alegação pelo demandante de Benefícios Terapêuticos e Custos Adicionais em relação às tecnologias já incorporadas. VII - Estimativas de impacto econômico estimado para tecnologia proposta e correspondente comparação com a tecnologia incorporada.
Assim, a regulamentação já existente no Sistema Único de Saúde pode muito bem
ser aproveitada pelo Ministério da Saúde para atender ao preceituado no inciso I do art. 19-R
da Lei Orgânica da Saúde, já que atende a todos os parâmetros necessários à elaboração de
parecer técnico acerca da incorporação ou não da nova tecnologia que se pretende ver coberta
pelo SUS.
Ademais, cada um dos itens ali elencados tem uma finalidade específica para orientar
a tomada de decisão tanto pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS
como pelo próprio gestor do Ministério da Saúde, sempre orientado pela medicina baseada na
melhor evidência, bem assim nos parâmetros de custo-efetividade, custo-benefício e custo-
utilidade.
Inicialmente é exigido de qualquer modalidade de incorporação de nova tecnologia
em saúde, especialmente dos fármacos e produtos de saúde, que estes estejam devidamente
registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), condição precedente e
essencial quando se trata de avaliar a possibilidade de sua incorporação e cobertura pelo SUS,
200
já que inaceitável que um produto ou insumo pudesse ser aplicado em toda a população
brasileira, pelo sistema público de saúde, quando o órgão regulador da vigilância sanitária
tivesse indeferido pedido administrativo ou tivesse ofertado parecer contrário aos itens de
eficácia, efetividade e segurança desses medicamentos, produtos ou insumos.
Uma interpretação restrita acerca da incorporação de novos medicamentos poderia
levar à conclusão de que o simples registro do medicamento na Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA), órgão da Administração Federal responsável pela regulação
desse setor, seria suficiente para garantir a incorporação, integração e distribuição nos
programas públicos de saúde existentes em nosso país, eis que os fundamentos exigidos para
cada uma dessas apreciações, em muito se diferenciam: à Agência Nacional de Vigilância
Sanitária – ANVISA – caberia, tão somente, a análise sobre a segurança e a eficácia da
medicação, ou seja, sua análise ficaria restrita à segurança na utilização do medicamento (se o
uso do fármaco traz mais benefícios do que efeitos colaterais ao paciente), bem assim se há
estudo comprovante que o medicamento tem eficácia no combate à doença para a qual está
sendo pedido registro para comercialização, conforme disciplina o inciso IX do artigo 7º da
Lei Federal nº 9.782/99 (artigo 3º, inciso IX do Decreto 3.029/99). Vê-se, pois, que as
exigências impostas para o registro e comercialização de certo medicamento no país ficam
restritas ao grupo de pacientes que integraram a pesquisa para desenvolvimento do referido
fármaco, qual seja, a aplicação e a aferição de resultados em ambiente ideal, sem a devida
comprovação de estudo que confira os resultados ou efeitos colaterais encontrados em
ambiente real, após a comercialização e utilização pelos pacientes, nos tratamentos para os
quais esses medicamentos foram registrados.
Essa análise pós-comercialização, que prescinde o registro oficial do medicamento
no país, é que se constitui no estudo da medicina baseada em evidências, objeto da exigência
estabelecida no item V do anexo II acima referenciado.
201
O item V exige que o proponente instrua o processo com “relatório técnico com as
evidências científicas relativas à eficácia, acurácia, efetividade e segurança, comparativas em
relação a tecnologias já incorporadas”. A exigência não se restringe à comprovação de
evidência apenas com relação a placebo, mas em relação a tecnologias já existentes,
incorporadas e cobertas pelo SUS. Essa exigência se justifica porque o que se pretende é a
incorporação de uma nova tecnologia ao SUS, a qual deverá ser capaz de apresentar ganhos
significativos, já demonstrados pela prática e pela ciência da saúde, que é, exatamente, o que
se pretende com a hipótese em comento.
Além disso, em sendo caso de pedido de incorporação de medicamento, é necessário
compatibilizar as exigências de indicação do preço do referido fármaco na Câmara de
Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), com a comprovada avaliação econômica
e os impactos dos custos globais no sistema público de saúde. Somente nessa relação dialética
entre esses elementos é que a gestão do SUS poderá definir pela adequação e introdução da
nova tecnologia em saúde.
De qualquer forma, sempre haverá necessidade de efetiva comprovação de avaliação
econômica favorável e dos possíveis impactos financeiros que a proposta pode trazer para o
SUS. É comum a dificuldade em se estabelecer esses elementos diferenciais, mas decerto
serão eles que mais definirão o posicionamento da Comissão Nacional de Incorporação do
SUS pela incorporação ou não de novas tecnologias em saúde.
5.4.3 Finalização do procedimento de formalização dos Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas no SUS
Encontrando-se devidamente instruído o processo administrativo, segue o mesmo
para a área técnica do Ministério da Saúde, conforme sua organização institucional, a fim que
202
seja feita a avaliação acerca da relevância da incorporação proposta aos programas ou
políticas públicas já existentes no SUS, o que é feito por meio de parecer técnico-científico.
Para elaboração desse parecer, a área técnica deverá se pautar, inicialmente, em revisão
sistemática, ou seja, em levantamento de toda a literatura médico-científica mundial acerca da
tecnologia proposta, onde se demonstre que essa literatura já evidencia eficácia, efetividade e
segurança na prática médica ou de saúde, com a utilização desse bem que se pretende incluir
nas políticas do SUS. Para tanto, a área técnica poderá contar com o apoio do Departamento
de Ciência e Tecnologia (DECIT/SCTIE/MS), bem assim com a contratação de instituições
externas ao Ministério da Saúde, de indiscutível capacidade técnica e isenta de conflito de
interesses, para a realização da revisão sistemática requerida. Somente de posse das
informações quanto ao grau de evidência científica do medicamento, é que é elaborado o
parecer técnico.
Após a emissão de parecer avaliando a relevância da incorporação ao SUS, pela área
técnica do Ministério da Saúde, essa análise é encaminhada ao Grupo Técnico Assessor da
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no Sistema Único de Saúde e, em seguida,
apreciado pelo seu Colegiado, que se manifestará conclusivamente ao Ministro da Saúde,
quanto à recomendação ou não da inclusão da nova tecnologia.
Caberá ao Ministro da Saúde a tomada de decisão final, embora se houver
contraposição à decisão proferida pela Comissão Nacional de Incorporação, esta será
fundamentada em parâmetros técnicos, jurídicos ou econômicos, possibilitando o
conhecimento dos fundamentos que o levaram a tal decisão.
Caso haja decisão pela incorporação da nova tecnologia ao SUS, faz-se necessária,
via de regra, a elaboração de um novo protocolo clínico e diretrizes terapêuticas (PCDT),
revisão ou reformulação de PCDT existente, adequando-os à nova tecnologia incorporada às
políticas públicas de saúde do SUS. A correlação dessa nova tecnologia a um PCDT se
203
justifica na medida em que nele são estabelecidos, de modo claro e seguro, “os critérios de
diagnóstico de cada doença, o algoritmo de tratamento das doenças com as respectivas doses
adequadas e os mecanismos para o monitoramento clínico em relação à efetividade do
tratamento e a supervisão de possíveis efeitos adversos”, sem falar que a fiel observância da
prescrição médica, a partir desses protocolos clínicos, cria mecanismos garantidores de uma
prescrição segura e eficaz356.
O estabelecimento de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas não se constitui um
instrumento utilizado apenas pelos sistemas públicos de saúde, pelo contrário, a grande
maioria dos estabelecimentos hospitalares e especialidades médicas têm se valido de
procedimentos elaborados não apenas pelo SUS, pois, tornam-se elementos facilitadores e
garantidores de uma assistência médica e farmacêutica efetiva e de qualidade, o que se
consubstancia na aplicação racional dos recursos disponíveis em saúde, para o tratamento dos
agravos de saúde357.
De fato, acaso o Ministério da Saúde incorporasse um determinado medicamento
sem o respaldo da comprovada eficácia e efetividade da medicina de evidência, tampouco
sem o correspondente protocolo clínico, ter-se-ia a possibilidade de que o mero fornecimento
desse fármaco, sem critérios pré-estabelecidos pelo sistema público que o acoberta, pudesse
trazer muito mais riscos à população do que benefícios ou até mesmo se constituir em
instrumento de desvio de conduta de determinados prescritores (sem ética e sem escrúpulo).
Por outro lado, o processo de incorporação e de elaboração dos PDCTs permitirá que
os gestores do SUS, especialmente a área técnica do Ministério da Saúde, possam estabelecer
356 BRASIL, Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas: v. 2, 2010a, p. 10. 357 Acerca da importância dos protocolos clínicos para o uso racional dos recursos disponíveis e como facilitador do acesso na assistência à saúde: “Além de nortearem uma assistência médica e farmacêutica efetiva e de qualidade, os PCDTs auxiliam os gestores de saúde nas três esferas de governo, como instrumento de apoio na disponibilidade de procedimentos e na tomada de decisão quanto à aquisição e dispensação de medicamentos tanto no âmbito da atenção primária como no da atenção especializada, cumprindo um papel fundamental nos processos de gerenciamento dos programas de assistência farmacêutica, na educação em saúde, para profissionais e pacientes e, ainda, nos aspectos legais envolvidos no acesso a medicamentos e na assistência como um todo.” (BRASIL, ibidem, p. 10).
204
um processo de negociação com os laboratórios que fabricam os fármacos e insumos neles
contemplados, seja no que diz respeito à redução de preços, seja pela necessidade de
compromisso de adequação destes às dosagens e especificações constantes dos protocolos do
SUS. Por exemplo, muitas vezes os medicamentos são registrados na ANVISA e
comercializados no Brasil em apresentações com as dosagens em desacordo com o previsto
no protocolo clínico. Nesses casos, para que não houvesse desperdício de material e de
recursos financeiros do sistema público de saúde, com impacto negativo em outros programas
igualmente relevantes do SUS, o próprio Ministério da Saúde obtém do fornecedor ou
fabricante a garantia de que será requerido o registro do medicamento em embalagem que
favoreça o fracionamento e a melhor utilização do conteúdo de cada apresentação, conforme
especificado na linha terapêutica proposta em protocolo clínico.
Em outra frente, quando há o estabelecimento de certo produto, medicamento ou
insumo em um determinado PCDT, principalmente em agravo de saúde comum às diversas
regiões do país, a compra em larga escala ou a compra exclusiva a um único distribuidor no
Brasil conduz a uma negociação com os gestores do SUS para a redução do valor de
aquisição, com reflexo direto na amplitude do acesso a estes produtos, medicamentos e
insumos. Como se vê, a ausência dessa etapa na incorporação ao Sistema seria extremamente
prejudicial à garantia da integralidade no Sistema Único de Saúde.
Portanto, todas as fases acima elencadas são essenciais à incorporação de nova
tecnologia no SUS (ou em qualquer outro sistema público de saúde), seja em razão da
garantia e da segurança no uso destas inovações tecnológicas, seja no sentido de possibilitar a
correta utilização e racionalização dos recursos disponíveis à promoção da saúde no país.
Essa mesma concepção é utilizada para a incorporação de inovações na área da
oncologia no SUS e, embora a PNAO não referencie medicamento, a incorporação de
antineoplásicos ou qualquer outra inovação farmacológica para tratamento do câncer no
205
sistema, deve passar, necessariamente, por este procedimento, vindo, posteriormente, a dar
origem a novas diretrizes terapêuticas ou integrar as já existentes.
Assim, todo o trâmite que já vem sendo seguido pelo Ministério da Saúde, poderá
muito bem ser aprimorado e adaptado à nova metodologia prevista na Lei nº 12.401/2011 para
incorporação de novas tecnologias em saúde no SUS.
Por fim, importa destacar que a Portaria SAS/MS nº 741/2005 estabeleceu que num
prazo de 12 (doze) meses da publicação da referida norma regulamentar, a Secretaria de
Atenção à Saúde do Ministério da Saúde publicaria e divulgaria as diretrizes nacionais para a
atenção oncológica e para o tratamento das neoplasias malignas mais prevalentes no país,
elaboradas sob a coordenação do INCA e com observância pelos CACONs e UNACONs358.
Ficou determinado, também, que as diretrizes nacionais para a atenção oncológica seriam
atualizadas a cada quatro anos359.
Segundo relatório aprovado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), a Secretaria de
Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, ainda não conseguiu se desincumbir dessa
obrigação imposta pelo art. 19 da Portaria SAS/MS nº 741/2005, na medida em que desde a
sua vigência foram publicadas e divulgadas poucas diretrizes diagnósticas e terapêuticas para
a área da oncologia no SUS.
Dentre essas diretrizes podem ser citadas as seguintes: Tumor de Estroma
Gastroinstestinal (PORTARIA GM/MS n° 1.665/2002), Radioterapia Cerebral (PORTARIA
358 Conforme dicção trazida pelo art. 19 da Portaria SAS/MS nº 741/2005. 359 Sobre a necessidade de maior controle, acompanhamento e constante revisão dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêutica, pelo SUS: “As recomendações oficiais para a terapia antirretroviral no Brasil, assim como para o tratamento de outras doenças, devem seguir como fruto do consenso técnico e científico, de indicação de uso apoiadas pela prática médica e pelos resultados de ensaios clínicos e artigos científicos. Além da renovação periódica do documento, ressaltando as condutas terapêuticas mais seguras e eficazes, deve ser assegurada a composição plural dos comitês assessores, com a abordagem íntegra da saúde do paciente e participação de representante da população usuária de medicamentos. Devem passar a integrar pauta prioritária de discussões: a racionalidade terapêutica, a conciliação dos aspectos técnicos e econômicos, o controle de conflitos de interesses entre membros dos grupos de consensos e a indústria farmacêutica e os obstáculos de fazer valer as recomendações na prática cotidiana dos médicos e serviços”. (Mário Schefer, Judicialização e incorporação de tecnologias: o caso dos medicamentos para tratamento da AIDS no Sistema Único de Saúde, p. 137)
206
SAS/MS n° 757/2005), Iodoterapia do Carcinoma Diferenciado da Tireóide (PORTARIA
SAS/MS n° 466/2007), Leucemia Mieloide Crônica no Adulto (PORTARIA SAS/MS n°
469/2008), Carcinoma Colorretal (CONSULTA PÚBLICA n° 26/2010), Carcinoma de
Fígado (CONSULTA PÚBLICA n° 27/2010), Carcinoma de Pulmão (CONSULTA
PÚBLICA n° 28/2010), Linfoma Difuso de Grandes Células B no Adulto (CONSULTA
PÚBLICA n° 29/2010) e Tumor Cerebral no Adulto (CONSULTA PÚBLICA n° 29/2010)360.
Recentemente, a Secretaria da Atenção à Saúde, do Ministério da Saúde, publicou no
Diário Oficial da União, consultas públicas para atualização das diretrizes nacionais da
atenção oncológica361 no tocante às leucemias em crianças e adolescentes e no tocante ao
câncer de ovário. Essas consultas estão disponíveis para análise, crítica e contribuições por
um período de quarenta dias, contados a partir de suas publicações no Diário Oficial da
União. Como já frisado anteriormente, as consultas públicas para a formalização de diretrizes
diagnósticas e terapêuticas do SUS se revestem de importância singular, pois permite não
apenas conhecer o trabalho desenvolvido pelas áreas técnicas do SUS e dos especialistas por
elas contratados para a elaboração do texto base das referidas diretrizes, mas também se abre
para as críticas e aperfeiçoamento por parte das sociedades médicas especializadas, dos
movimentos sociais organizados e das associações de defesa dos portadores de câncer ou
doenças congêneres (para as quais estão sendo estabelecidas tais diretrizes), além de poder
receber manifestação e contribuição de médicos e profissionais individualmente, bem assim
dos órgãos e instituições públicas e privadas.
Não obstante a conclusão dos auditores do TCU tenha sua razão de ser - no sentido
de que as providências determinadas pelo art. 19 e seu parágrafo único da Portaria SAS/MS nº
360 Cf. BRASIL, Manual de Bases Técnicas Oncologia – SAI/SUS - Sistema de Informações Ambulatoriais. 361 CONSULTA PÚBLICA nº 2, de 25/11/2011 – Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas para o tratamento da Leucemia Aguda Cromossoma Philadelphia Positivo de crianças e adolescentes com Mesilato de Imatinibe (LLA); CONSULTA PÚBLICA nº 3, de 25/11/2011 – Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas para o tratamento do câncer de Ovário; CONSULTA PÚBLICA nº 4, de 25/11/2011 – Diretrizes Diagnósticas e Terapêuticas para o tratamento da Leucemia Mielóide Crônica de crianças e adolescentes com Mesilato de Imatinibe (fonte:
http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=35002)
207
741/2005 até o momento ainda não foram cumpridas -, já que caberia à Secretaria de Atenção
à Saúde publicar e divulgar as diretrizes diagnósticas e terapêuticas nacionais para a atenção
oncológica no SUS, na prática, essa lacuna vem sendo preenchida pelos elementos constantes
do Manual de Bases Técnicas Oncologia do SUS - no qual estão delineados todos os
procedimentos e coberturas da PNAO, bem assim os códigos para solicitação de autorização
para tratamento de pacientes no SUS, nas diversos tipos de neoplasias -, já que baseado nas
diretrizes terapêuticas elaboradas e executadas pelo INCA. Não se tem dúvida de que essa
prática não atende à obrigação daquele setor técnico do Ministério da Saúde em elaborar,
publicar e divulgar, nacionalmente (tanto para usuários quanto para os prestadores do SUS),
as diretrizes diagnósticas e terapêuticas para a assistência médica dos agravos de saúde
relacionados á oncologia. Aliás, talvez essa omissão possa ser considerada como uma das
possíveis causas da judicialização de demandas na área oncológica, na medida em que a
ausência de parâmetros claros e objetivos da terapêutica a ser seguida nos diversos
tratamentos, acabe por permitir que determinados CACONs ou UNACONs terminem por
estabelecer proposta de tratamento em descompasso com as diretrizes do INCA.
De qualquer forma, parece que a Secretaria de Atenção á Saúde do Ministério da
Saúde já despertou para a problemática, tendo iniciado o processo de formalização dessas
diretrizes diagnósticas e terapêuticas para as políticas oncológicas do SUS, não obstante esse
processo exija tempo para ser executado, ante a necessidade de serem fundamentos nas
melhores práticas médicas, baseadas em evidências científicas.
Assim sendo, atualmente a PNAO oferece cobertura para todos os agravos e eventos
estabelecidos nas diretrizes terapêuticas estabelecidas pelo Instituto Nacional do Câncer
(INCA) e constante do Manual de Bases Técnicas da Oncologia do SUS, nos protocolos e
diretrizes diagnósticas e terapêuticas aprovadas e publicadas pelo Ministério da Saúde ou
ainda em consulta pública. Daí, os prestadores de saúde que integram as redes estaduais de
208
oncologia do SUS, estarão aptos a oferecer e prestar as ações e os serviços de saúde
necessários à completa e integral assistência à saúde dos pacientes acometidos por qualquer
tipo de câncer no Brasil, desde que respeitadas as diretrizes diagnósticas e terapêuticas
estabelecidas pelo sistema, onde sedimentarão suas práticas e poderão receber a
contraprestação pelos serviços prestados, na forma a seguir estabelecida.
5.5 FORMAS E PROCEDIMENTO DE PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS
AOS BENEFICIÁRIOS DO SUS NA ÁREA ONCOLÓGICA
Como a Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO) integra o Bloco da Média
e Alta Complexidade do SUS, todo e qualquer pagamento relacionada a esta política pública
advém dessa rubrica orçamentária. Já foi visto, anteriormente, que o Bloco da Média e Alta
Complexidade é composto por ações e serviços que envolvem alta tecnologia e alto custo,
consequentemente, há um dispêndio financeiro compatível com as ações e serviços desse
componente do sistema público de saúde. No âmbito do SUS, esse bloco é bastante amplo e
contempla inúmeras ações e políticas tanto do setor secundário, quanto do terciário da
assistência à saúde.
Por sua vez, o financiamento do bloco acima citado é composto por dois
componentes: o componente limite financeiro da média e alta complexidade ambulatorial e
hospitalar (também conhecimento como Teto MAC) e o componente Fundo de Ações
Estratégicas e Compensação (costumeiramente identificado como FAEC)362. Os recursos
362 Na média e alta complexidade o FAEC destinará recursos financeiros para as seguintes ações e serviços de saúde no SUS: “Art. 16. O Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC, considerando o disposto no artigo 15, será composto pelos recursos destinados ao financiamento dos seguintes itens: I - procedimentos regulados pela Central Nacional de Regulação da Alta Complexidade – CNRAC; II - transplantes e procedimentos vinculados; III - ações estratégicas ou emergenciais, de caráter temporário, e implementadas com prazo pré-definido; e IV - novos procedimentos, não relacionados aos constantes da tabela vigente ou que não possuam parâmetros para permitir a definição de limite de financiamento, por um período de seis meses, com vistas a permitir a
209
orçamentários liberados através da ação 8585 (Atenção à Saúde da População para
Procedimentos de Média e Alta Complexidade) são “transferidos do Fundo Nacional de
Saúde aos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme a
Programação Pactuada e Integrada, publicada em ato normativo específico”363. Para o
estabelecimento do valor financeiro que integrará o Teto MAC de uma determinada unidade
federativa, são considerados entre outros elementos: a série histórica da produção
ambulatorial e hospitalar, a população residente e a capacidade instalada da respectiva
unidade da federação. Por sua vez, os recursos FAEC são distribuídos e liberados conforme a
produção informada por cada uma das unidades federativas364, embora estes recursos tenham
sido criados com previsão de serem gradativamente incorporados ao Componente Limite
Financeiro MAC dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (caput do art. 14 da
Portaria GM/MS nº 204/2007).
Assim, diante da demanda em cada área da média e alta complexidade, os recursos
transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) e recebidos pelos Fundos de Saúde
(estadual ou municipal) são rateados pelos gestores locais, procurando atender às
necessidades de contratação de prestadores nas diversas áreas da assistência à saúde e os
serviços efetivamente realizados pelos prestadores conveniados ou contratados. Geralmente é
a Programação Pactuada Integrada (PPI) que define os limites financeiros claros para todos os
municípios do Estado, para fins de cobertura da assistência à saúde na área de média e alta
formação de série histórica necessária à sua agregação ao Componente Limite Financeiro da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC. § 1º Projetos de Cirurgia Eletiva de Média Complexidade são financiados por meio do Componente FAEC, classificados no inciso III do caput deste artigo”. (PORTARIA GM/MS nº 204/2007) 363 § 2º do art. 14 da PORTARIA GM/MS nº 204/2007. 364 Os recursos do FAEC podem ser utilizados para cobertura dos seguintes procedimentos ligados à PNAO: “Mamografia bilateral para rastreamento, Radioterapia estereotáxica fracionada, Quimioterapia do tumor do estroma gastrointestinal avançado, Quimioterapia de carcinoma do fígado ou do trato biliar avançado, Quimioterapia de neoplasia maligna do timo avançada, Quimioterapia da leucemia mieloide crônica em fase blástica - marcador positivo - sem fase crônica ou de transformação anterior (1ª linha), Quimioterapia da leucemia mieloide crônica em fase crônica - marcador positivo - 1ª linha, Quimioterapia de leucemia mieloide crônica em fase de transformação - marcador positivo - sem fase crônica anterior (1ª linha), Quimioterapia de leucemia mieloide crônica em fase crônica - marcador positivo - 2ª linha, Alcoolização percutânea de carcinoma hepático,Tratamento de carcinoma hepático por radiofreqüência, Quimioembolização de carcinoma hepático”. (BRASIL, Assistência de Média e Alta Complexidade no SUS, p. 37/41)
210
complexidade do SUS. A PPI é complementada pela Ficha de Programação Orçamentária
(FPO)365, na qual são previstos, em termos quantitativos e de disponibilidade orçamentária, os
procedimentos que estarão cobertos e a referência de cada prestador ou contratado do sistema,
para fins de oferta e prestação dos serviços aos usuários que deles necessitarem.
Tendo em vista que a PNAO se organiza através de Rede Estadual ou Regional de
Atenção Oncológica, quando da elaboração da Programação Pactuada Integrada, os gestores
estaduais e municipais deverão observar quais os municípios têm prestadores que integram
essa rede estadual ou regional, bem assim as ações e serviços oncológicos que podem ser
prestados diretamente no próprio município, reservando recursos financeiros para tais
coberturas locais e destinando os demais recursos da rubrica em questão para fins de
referenciamento dos serviços a outros municípios.
Na verdade, quando da organização das Redes Estaduais de Atenção Oncológica (ou
de outras redes de atenção à saúde) deve ser dado preferência aos estabelecimentos de
natureza pública (por já integrarem o SUS), em segundo plano às entidades filantrópicas e,
somente não havendo condição desses entes atenderem à demanda do sistema público, deve o
gestor optar pelos estabelecimentos da iniciativa privada. Essa preferência inicial pelos
estabelecimentos que já integram o SUS tem sua razão de ser, em face da concepção sistêmica
e da finalidade da estruturação em rede, já que os estabelecimentos próprios do SUS operam
com mais capilaridade, com melhor aplicação dos princípios desse sistema e com redução de
custos (tendo em vista que todo o custeio de mão-de-obra, material e estrutura física, já está
contemplado nos orçamentos públicos). Isso sem falar no poder de gestão que é muito maior
365 “A programação dos procedimentos tem por objetivo garantir a oferta de serviços aos usuários do SUS, levando em conta a necessidade da população (parâmetros de cobertura), a capacidade instalada da unidade (recursos humanos e equipamentos registrados no CNES) e a disponibilidade de recursos financeiros do gestor para a cobertura do que está sendo programado”. (BRASIL, Assistência de Média e Alta Complexidade no SUS, p. 44)
211
nesses estabelecimentos de saúde, dada a descentralização e a gestão plena e única de cada
ente federal dentro do SUS.
Por sua vez, a contratação de entidades filantrópicas para prestação de serviços de
saúde ao SUS tem se revelado um elemento facilitador de acesso aos usuários do SUS, já que
esse tipo de prestador tem tido uma grande disseminação na área da saúde, especialmente no
campo da oncologia (em razão da estruturação e surgimento das Ligas Contra o Câncer, em
quase todos os Estados da federação), seja pela não previsão de lucros, seja pelo fato dos
benefícios que o sistema estatal lhes defere (isenções fiscais, investimentos públicos, entre
outros), o que contribui para a ampliação das redes de assistência à saúde, em todo o país.
Nessa ótica, a contratação de prestador privado só deveria ocorrer em situações
excepcionais: quando inexistissem serviços próprios do SUS ou de prestadores sem fins
lucrativos; ou quando mesmo existindo esses prestadores, estes não conseguem atender à
demanda da oncologia em uma determinada área geográfica.
Portanto, estando composta a Rede Estadual ou Regional de Atenção à Saúde
Oncológica (com o regular credenciamento e habilitação dos estabelecimentos indicados) e
estabelecida a Ficha de Programação Orçamentária (FPO) relativamente a cada prestador, a
execução dos serviços e a sua correspondente remuneração, junto ao SUS, deverá obedecer às
exigências e pressupostos contidos nas normas regulamentares desse sistema público de saúde
que tratam da matéria em estudo, bem assim a forma de pactuação, os valores das tabelas SUS
e a natureza jurídica do ente contratado.
Independentemente da natureza jurídica do ente contratado, o Sistema Único de
Saúde (SUS) possui tabelas de remuneração para todos os serviços, procedimentos e insumos
para os quais oferece cobertura. Os valores contidos nas referidas tabelas SUS é que são
tomados como referencial tanto para a contratualização dos serviços quanto para a efetiva
contraprestação dos serviços prestados ou realizados.
212
Os hospitais da rede pública são remunerados em conformidade com o orçamento
geral do ente sob os quais estiverem vinculados. Os hospitais públicos que aderiram ao
denominado Programa de Reestruturação dos Hospitais de Ensino no âmbito do SUS, têm os
serviços de média complexidade remunerados por uma parcela fixa (em razão das metas
físicas pactuadas), acrescidos de uma parcela variável (conforme cumprem as metas de
qualidade de gestão pré-estabelecidas)366. Nesse mesmo sentido estarão as entidades sem fins
lucrativos que prestem serviços ao SUS.
Em se tratando de serviços oncológicos (de média ou alta complexidade) executados
por prestador de serviço de natureza estritamente privada e com fins lucrativos, a
remuneração dos serviços contratados, levando em consideração a FPO, o limite dos recursos
MAC contratados e os previstos no FAEC, ocorrerá mensalmente, observados os
procedimentos realizados e/ou produzidos. A apuração mensal do montante financeiro, devido
a cada prestador, será efetuada através da emissão das Autorizações para Procedimentos de
Alta Complexidade (APAC)367 - em se tratando de atendimentos realizados em nível
ambulatorial – ou por Autorizações para Internação Hospitalar (AIH)368 – relativamente aos
serviços executados em caso de internação hospitalar.
A remuneração dos serviços prestados pelos estabelecimentos hospitalares
filantrópicos, sem fins lucrativos, pode ocorrer tanto na forma acima prevista (pelos
procedimentos produzidos e cobrados) ou na forma contida em convênios pactuados com a
gestão local do SUS. Por sua vez, apesar do poder público não está responsável, diretamente,
366 Tudo isto conforme previsto na Portaria GM/MS nº 1792/2004. 367 “Apac é, ao mesmo tempo, instrumento de coleta de dados, cobrança de procedimento, de autorização e de informações epidemiológicas importantes. [...] Atualmente a Apac é emitida por sistemas informatizados na maioria dos estados, não sendo mais necessária a confecção de impressos, cuja responsabilidade era do gestor estadual”. (BRASIL, Assistência de Média e Alta Complexidade no SUS, p. 44) 368 “O SIH/SUS, utilizado para o registro das internações, é também um sistema informatizado, de envio obrigatório para todos os gestores que tenham serviços públicos ou privados sob sua gestão. O instrumento de coleta de dados é a Autorização de Internação Hospitalar (AIH), documento emitido após análise do laudo de solicitação de internação. Até março de 2006, o processamento das informações do SIH era centralizado no Datasus e, a partir de abril de 2006, compete ao gestor estadual ou municipal o processamento por meio do Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado (SIHD)”. (BRASIL, ibidem, p. 44)
213
pelo custeio de pessoal, de material e da estrutura física desses estabelecimentos, há um
incremento financeiro do Estado, de forma indireta, que não pode ficar fora da concepção
sistêmica quando se fala em remuneração dos serviços por eles prestados. Isto porque os
estabelecimentos filantrópicos sem fins lucrativos, que atenderem às exigências legais, têm
direito à isenção fiscal (art. 150 da CF/88) e previdenciária (art. 195, § 7º, da CF/88),
recebimento de recursos, auxílios e subvenções públicos (art. 199 da CF).
Assim, quando o orçamento de um dos entes estatais (União, Estados ou Municípios)
contém emendas parlamentares para destinar recursos para aparelhamento de um determinado
setor de uma instituição filantrópica, prestadora de serviços públicos de saúde, esses
equipamentos serão utilizados pelos usuários do SUS, mas também de outros conveniados
privados daquela instituição, gerando uma espécie de remuneração indireta pelo SUS para
aquele dado estabelecimento de saúde.
Daí pode se concluir que a remuneração pelos serviços prestados ao SUS, pelas
entidades filantrópicas, sem fins lucrativos, deve ser vista de forma mais ampla e composta,
pelo menos com os seguintes componentes remuneratórios: ressarcimento por produção
(tabela SUS), incentivos, orçamentos públicos (federais, estaduais e municipais),
investimentos públicos (por meio de convênios) e isenção tributária. Essa concepção não pode
ser deixada de lado, principalmente pelos gestores e pelos membros do Ministério Público e
Judiciário quando da análise dos feitos administrativos ou judiciais que lhe são submetidos,
principalmente quando se alega que os valores constantes da tabela SUS são irrisórios,
quando comparados com os valores cobrados pela iniciativa privada. Ora, não é justo que esse
tipo de comparação seja feito de forma tão simplória, já que em se tratando de prestador do
próprio sistema, as tabelas SUS devem prevê que os profissionais da saúde, insumos,
materiais e toda a estrutura de apoio hospitalar já estarão cobertos por dinheiro público, não
fazendo sentido englobá-los, novamente, quando da contraprestação pelos serviços de saúde
214
ali executados. Por sua vez, em se tratando de prestação de serviços por instituições sem fins
lucrativos, também a ótica não pode ser apenas o valor constante da tabela SUS, mas,
principalmente, a remuneração indireta e a larga escala de produção contratada e a
diversidade de procedimentos ali realizados, o que permite elevar o montante global da
remuneração de um dado prestador, provocando uma efetiva compensação entre os recursos
públicos indiretamente aplicados, a correção de pequenos ganhos por procedimento, quando
incluso os procedimentos superavitários.
Como se observa, todas essas concepções demonstram a dificuldade em se tomar
como parâmetro a execução dos serviços de saúde pública por prestador estritamente privado,
já que a remuneração por esses serviços será, unicamente, os valores constantes da tabela
SUS, que não conseguem ser comparados com as tabelas utilizadas para cobranças dos
serviços da iniciativa privada, salvo se houver a contratualização de diversos serviços para um
mesmo prestador, de maneira que uma maior quantidade de serviços possibilite o ajustamento
dos valores da tabela SUS, possibilitando uma margem de lucro ao prestador privado.
Não obstante, a realidade demonstra que apesar dos atendimentos da média e alta
complexidade ocorrerem 80% em estabelecimentos da própria rede SUS, os gastos do sistema
para com esses atendimentos não chegam a 50%. Por outro lado, apesar dos usuários do SUS
utilizarem apenas 11% dos serviços prestados pelos estabelecimentos privados, mais da
metade dos gastos do SUS vai para reembolso e contraprestação dos serviços por estes
prestados ao SUS, como bem se verifica com os dados abaixo lançados, relativamente à
produção hospitalar e ambulatorial ocorrido no SUS no ano de 2010.
215
Tabela 3: Produção Hospitalar e Ambulatorial – SUS – 2010
Produção Hospitalar e Ambulatorial - Brasil – 2010
SIH SIA TOTAL
Freqüência Valor Total Freqüência Valor Total Freqüência Valor Total
% FREQ %VALOR
Privado 6.229.792 6.075.458.372,61 386.880.590 6.735.890.451,97 393.110.382 12.811.348.824,58 11,71% 50,22%
Público 5.465.287 4.647.197.402,52 2.958.803.737 8.054.236.696,29 2.964.269.024 12.701.434.098,81 88,29% 49,78%
Total 11.695.079 10.722.655.775 3.345.684.327 14.790.127.148 3.357.379.406 25.512.782.923 - -
Figura 3: Distribuição percentual da frequência realizada x Distribuição percentual do valor gasto pelo SUS entre os estabelecimentos públicos e privados
DISTRIBIÇÃO % DA FREQUÊNCIA REALIZADA DI STRIBIÇÃO % DO VALOR GASTO
PUBLICO X PRIVADO PUBLICO X PRIVADO
Fonte: DATASUS/Ministério da Saúde – 2011
Fica claro, portanto, como era de se esperar, que na média e alta complexidade, o
maior número de atendimentos é realizado pelos estabelecimentos públicos, cuja forma de
remuneração pelos serviços prestados não é feita diretamente por meio de contraprestação por
cada procedimento realizado, mas por meio de pactuação. Diferentemente, os
estabelecimentos privados prestam menos de 12% do atendimento, mas como recebem por
procedimento realizado, os gastos do SUS para com estes prestadores superam 50% do
orçamento destinado à média e alta complexidade.
216
Esses dados também revelam que os prestadores privados só se interessam pela alta
complexidade, onde as especialidades médicas concentram sua maior carga e,
consequentemente, os custos são mais elevados do que nas demais instâncias ou níveis de
atendimento à saúde (atenção básica e média complexidade). Até é possível identificar alguns
prestadores privados na média complexidade, mas essa participação é praticamente
inexistente na atenção básica. Dessa forma tem-se um sistema público de saúde com uma
predominância de prestadores públicos na atenção básica e uma baixa participação de
estabelecimentos próprios na alta complexidade.
Na área da oncologia, a participação pública é muito limitada – com ênfase para o
INCA e hospitais de ensino (vinculados a universidades federais e estaduais) -, estando a
grande maioria dos UNACONs e CACONs vinculados às entidades filantrópicas sem fins
lucrativos, bem como à iniciativa privada.
O quadro comparativo abaixo revela os gastos federais na última década, tomando-se
por referência o ano de 1999 e o de 2009, retratando a evolução desses gastos dentro dessa
década e, finalmente, comparando-os com o primeiro ano da década seguinte. Em qualquer
dos itens abaixo discriminados é possível verificar o crescimento dos investimentos feitos
pelo SUS na década 1999/2009, um aumento de quase 100% nesse setor. Por outro lado, a
comparação com o ano de 2010 mostra o reflexo tanto do crescimento dos investimentos que
o SUS vem fazendo na oncologia, como chama à atenção para o fato de que as tendências de
aumento do número de pacientes com câncer no Brasil só contribuem para que as escalas de
investimentos busquem acompanhar essas tendências, quais sejam, quanto mais pessoas são
acometidas por câncer no país, maiores serão os gastos do sistema público de saúde para
oferecer um atenção integral à saúde desses cidadãos.
217
Tabela 4: Gastos Federais com serviços oncológicos no SUS
GASTOS FEDERAIS COM SERVIÇOS ONCOLÓGICOS NO SUS Brasil - 1999 – 2009 - 2010
1999 2009 2010
Cirurgia Oncológica* R$ 87 milhões R$ 172,81 milhões ** R$ 173,19 milhões **
Radioterapia R$ 77 milhões R$ 163,72 milhões R$ 209,53 milhões
Quimioterapia R$ 306 milhões R$ 1.228,41 milhões R$ 1.473,61 milhões
Iodoterapia R$ 0,048 milhão R$ 4,15 milhões R$ 4,63 milhões
TOTAL R$ 470,5 milhões R$ 1,60 bilhão R$ 1,86 bilhão
* Só procedimentos cirúrgicos oncológicos de alta complexidade. ** Sem Ortopedia/Neurocirurgia/Oftalmologia. - Não computado o gasto federal com procedimentos cirúrgicos oncológicos de média complexidade em hospitais habilitados e não habilitados em Oncologia. - Não computado o gasto federal com “Intercorrências Clínicas de Doentes Oncológicos” e “Tratamento Clínico de Doentes Oncológicos”. Fonte: Ministério da Saúde/2011
No SUS, nenhum pagamento por serviço prestado é efetuado, sem que sejam
seguidos os procedimentos estabelecidos pelo próprio sistema: é necessário que o
estabelecimento credenciado efetue os registros das informações nos sistemas do Ministério
da Saúde (Sistema de Informações Ambulatoriais (SIA) e Sistema de Informações
Hospitalares (SIH), por meio de laudos de solicitação de procedimentos prévios (Laudo para
internação ou laudo para emissão de APAC), os quais, devidamente aprovados recebem o
documento de Autorização de Internação Hospitalar (AIH) ou Autorização de Procedimentos
de Alta Complexidade (APAC).
Em se tratando de cobrança de procedimentos ambulatoriais de média complexidade
(consultas médicas e exames diagnósticos) apresente o Boletim de Produção Ambulatorial;
para os procedimentos ambulatoriais de alta complexidade, como a quimioterapia e a
radioterapia, o credenciado deve apresentar a Autorização de Procedimentos de Alta
Complexidade/Custo (Apac); para as internações por intercorrências ou tratamentos clínicos
ou cirúrgicos do paciente oncológico, a cobrança é feita através da Autorização de Internação
Hospitalar (AIH).
218
Ora, se a estimativa de câncer no Brasil cresce a cada ano, se os investimentos e
gastos públicos com a oncologia também acompanham essa tendência, o SUS tem,
necessariamente, de estar atento para as necessidades dos usuários SUS nessa área de
especialidade da atenção à saúde, notadamente, voltando-se para o acompanhamento e
avaliação das políticas públicas instituídas pelo SUS (aqui incluindo-se os gastos e o bom
aproveitamento dos recursos públicos para a efetivação de melhorias nessa área da saúde),
bem como voltando-se para as necessárias atualizações e ampliações das políticas públicas
oncológicas, consoante o estabelecimento de padrões de tratamento (universalmente
admitidos), de objetivos e de metas a serem alcançados (a curto, médio e longo prazos) tanto
pelos gestores do SUS, quanto pelos prestadores da área oncológica.
5.6 SISTEMA DE AFERIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DA
ONCOLOGIA
A despeito de outras áreas da ciência médica, é possível estabelecer parâmetros para
aferir a prestação dos serviços na área da oncologia, isto baseado nas experiências já
sedimentadas por essa área da medicina. E a PNAO contempla os parâmetros básicos tanto
para a contratação de prestadores de serviços de oncologia pelas redes estaduais de atenção
oncológica, como também para a apuração de indicadores de produtividade, os quais são
imprescindíveis à elaboração das metas e dos objetivos que deverão ser alcançados por cada
uma dessas redes estaduais.
A cada ano, o INCA disponibilizará a estimativa de novos casos para o país,
distribuindo-os por Estado da federação. Dessa forma, para cada 1.000 casos novos anuais,
excetuados os casos de câncer de melanoma, os gestores da PNAO poderão solicitar
credenciamento de um UNACON ou CACON. Quando o estabelecimento credenciado tiver
219
capacidade para atender mais de 1.000 casos, poderá ser tomado apenas o acréscimo de sua
contratação, desde que possa dar resolutividade para todos os casos estimados. Em situação
onde já exista prestador com capacidade para atender a demanda trazida pela expectativa para
uma determinada rede estadual – especialmente estabelecimentos hospitalares da rede pública
ou entidade filantrópica sem fim lucrativo -, a área técnica do Ministério da Saúde tem
orientado a não solicitar a inclusão de um novo prestador, principalmente se este novo
prestador for de natureza privada, devendo ser apenas acrescido o teto financeiro daquele
prestador já existente, pois dessa forma estar-se-ia a estimular os CACONs e UNACONs,
aumentando-lhe o faturamento, ao tempo em que possibilita maior controle da prestação de
serviços pelo SUS, com maior probabilidade de aplicação dos princípios e diretrizes do SUS
para a atenção oncológica.
Outrossim, o número de casos novos também é tomado para se estabelecer o número
de procedimentos esperados pelo sistema público: para cada 1.000 novos casos de câncer, são
esperados de 500 a 600 cirurgias oncológicas, 4.200 a 6.300 procedimentos de quimioterapia
(aqui considerado o tempo médio de seis a nove meses de tratamento), 40.500 a 42.000
procedimentos de radioterapia.
Ademais, como é exigido dos prestadores da rede oncológica o lançamento de todos
os serviços prestados nos sistema de informações do Ministério da Saúde, esses dados têm
sido utilizado não apenas para o monitoramento da produção, mas, principalmente, para
acompanhar a execução da PNAO em cada Estado da federação, possibilitando a atuação
técnico-administrativa para corrigir distorções, fazer intervenções urgentes e necessárias nessa
política pública, estabelecer critérios de produtividade e de montante do teto da Média e Alta
Complexidade (teto MAC), além de servir de dados estatísticos tanto para o INCA como para
os demais indicadores sociais e de saúde pública.
220
Não obstante, os auditores do TCU, após análise das informações contidas nas bases
de dados do SIA/SUS – na área da oncologia - constataram que estas não são confiáveis, para
diversos fins (inclusive estatísticos), primeiro porque nem todos os estabelecimentos de saúde
credenciados para atendimento oncológico encaminham ao INCA os dados de registro de
casos de câncer (RHC), também pelo fato de que os sistemas SUS não possuem crítica em
relação à entrada de dados inconsistentes em campos das APACs ou em relação à
incompatibilidade entre estes dados369. O próprio Tribunal de Contas da União (TCU) fez
recomendações ao Ministério da Saúde para que adote medidas que assegurem a efetividade
do registro de casos de câncer (RHC) e que institua crítica na entrada de dados do sistema
SIA/SUS, permitindo, com isso, a coleta de dados confiáveis e consistentes que possibilitem o
planejamento dos gestores públicos, o estabelecimento de padrões de qualidade e de
atingimento das metas propostas para a PNAO e elementos estatísticos e comparativos da
produtividade dos estabelecimentos credenciados.
Em resumo, o tratamento de câncer, através do SUS, está desenhado no sentido de
ofertar toda a assistência necessária para o diagnóstico, tratamento e acompanhamento do
paciente, em todas as fases de sua doença. Como não há referenciamento a medicamento,
isoladamente, na área oncológica do SUS, mas a tratamento (incluindo aqui toda espécie de
quimioterapia), o fluxo para tratamento do paciente acometido de câncer está assim
estabelecido:
a) O paciente é atendido por médico em consulta clínica, hospital ou serviço
isolado de quimioterapia cadastrado no SUS, onde devem ser tomadas todas as
providências para a confirmação do caso de câncer;
369 Acórdão TCU – 2011 – p. 17/23.
221
b) Diagnosticada a hipótese de câncer, o médico ou a equipe médica que
acompanhará o paciente, avalia e prescreve o tratamento indicado, conforme as
condutas adotadas naquele hospital (credenciado ao SUS);
c) O paciente é submetido ao tratamento indicado, inclusive recebe do hospital ou
serviço isolado os quimioterápicos que irá fazer uso;
d) O médico preenche o laudo de solicitação de autorização para cobrança do
procedimento do SUS e o encaminha ao gestor local (Secretaria Estadual ou
Municipal de Saúde);
e) O gestor autoriza a cobrança conforme as normas vigentes do Ministério da
Saúde e fornece ao hospital ou serviço isolado um número de APAC;
f) O hospital ou serviço isolado de quimioterapia cobra do SUS no final do mês o
valor mensal do respectivo tratamento;
g) O SUS paga ao hospital ou serviço isolado de quimioterapia o valor relativo ao
procedimento.
Vê-se, pois, que o Sistema Único de Saúde (SUS) tem todo um disciplinamento, na
via administrativa, tanto no que diz respeito à responsabilização pela implantação e execução
dos seus programas como no tocante aos procedimentos técnicos e operacionais, necessários à
concretização da Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO).
Salvo quando decretada a nulidade dessas normas regulamentadoras, devem as
mesmas ser respeitadas e validadas, por todos aqueles que integram, utilizam e concretizam
toda essa rede de compartilhamento de informações e execução das políticas públicas de
saúde em nosso país. Também o Poder Judiciário deve ter esse disciplinamento administrativo
como base para a análise dos pedidos judiciais de medicamentos oncológicos
(antineoplásicos), de forma que nenhuma demanda judicial pudesse ser apreciada sem que
antes fossem analisadas as balizas do tratamento oncológico proposto e coberto pelo SUS.
222
Assim sendo, se a PNAO está tão bem desenhada administrativamente no SUS, resta
necessário um exame das ações judiciais que pleiteiam a concessão de medicamentos
oncológicos em desacordo com essa política pública, buscando identificar os elementos
caracterizadores dessas ações judiciais: seus fundamentos fáticos e jurídicos, a posição dos
autores e dos réus, a instrução probatória, a relevância dos parâmetros estabelecidos na via
administrativa e a tendência da jurisprudência pátria nessa matéria.
223
6. A “JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE” E DA POLÍTICA PÚBLIC A DE ATENÇÃO
ONCOLÓGICA: UMA ANÁLISE A PARTIR DA JURISPRUDÊNCIA E DA PRAXE
JURÍDICA
Temos de decidir: Queremos prevenir e detectar doenças e incluir um maior número de indivíduos, diagnosticando-os e tratando-os adequadamente, com a maior relação benefício/custo estabelecida, ou queremos, com os mesmos recursos, continuar tratando futilmente, como se diz em Bioética, um número bem menor de indivíduos? Essa questão não só implica uma decisão bioética, como uma oportunidade de crescimento técnico-científico de desenvolver soluções para os nossos próprios problemas. Pois continuar aplicando e consumindo procedimentos ofertados, apenas esperando a confirmação de erros e acertos, por incorporação passiva dessa oferta, em nada nos fará autores de nossa própria história médica e de saúde pública. (Jacob Kligerman - Diretor do Instituto Nacional de Câncer)370
A Constituição371 Brasileira de 1988 foi bastante enfática quanto à formalização de
diversos direitos de cidadania, especialmente delineados no título dos direitos e garantias
fundamentais, com ênfase para os direitos individuais e sociais372.
Dentre as garantias individuais está a de que “a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”373, também denominada de princípio da
inafastabilidade do controle jurisdicional ou direito de ação. Por ele, havendo pedido de
prestação jurisdicional, e preenchidas as condições da ação, cumpre ao Poder Judiciário
pronunciar-se sobre o objeto do direito litigioso, seja para concedê-lo ou negá-lo, buscando
com seu ato a pacificação social.
370 Jacob Kligerman, Assistência oncológica e incorporação tecnológica, 242-243. 371 A ideia de Constituição deve ser aqui talhada nas ilustres palavras de Ruy Samuel Espíndola “O que realmente vale ficar da ideia da Constituição, para os objetivos deste discurso, é que ela, de certa forma, é documento orientador da ação do Estado e da Sociedade; ela tem algo de utopia positivada; ela tem o que se aposta no futuro através da força revolucionadora das normas constitucionais. Ela é, no dizer de Canotilho, uma Constituição dirigente.” (Ruy Samuel Espíndola, A constituição como garantia da democracia: o papel dos princípios constitucionais, p. 62). 372 A esse respeito e ressaltando a extensa declaração de direitos e de mecanismos para efetivá-los: Francisco José Rodrigues de Oliveira Neto, O juiz como garantidor dos direitos fundamentais, p. 138-139. 373 Inciso XXXV do art. 5º da CF/88.
224
Por sua vez, os direitos sociais (entre ele o direito à saúde) foram alçados à categoria
de direitos fundamentais exigíveis do Poder Público, diante da omissão, falha ou ausência de
prestação desses serviços374.
Inicialmente ficou deferido aos poderes Legislativo e Executivo, por seus órgãos
estatais próprios, a formulação e implementação das políticas públicas relativas aos direitos
sociais estabelecidos pelo texto constitucional. A inatividade da Administração Pública ou do
Legislativo ou sua atuação em desacordo com os paradigmas constitucionais, bem assim
quando a regulamentação ou atividade executiva lesionarem ou privarem grupos ou
indivíduos de seus direitos (reconhecidos pela ordem jurídica interna), podem ser
questionados perante o Poder Judiciário, ocasião em que este Poder será chamado a se
pronunciar acerca da realização ou não do mandamento constitucional, pela Administração
Pública, também quanto ao fato da política pública ou o programa de governo questionado se
ajustar ou não aos estandares constitucionalmente fixados pelo constituinte pátrio, podendo
essa análise examinar se as ações governamentais estão sendo executadas de acordo com os
fins e objetivos assegurados375.
A associação entre o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional e o
princípio da imediata aplicação dos direitos e garantias fundamentais (expressamente
autorizados pelo texto constitucional vigente em nosso país), terminou por ensejar uma
atuação mais ativa dos agentes sociais376 perante o Poder Judiciário, na tentativa de obter a
viabilização de políticas sociais garantidas pela constituição, por meio de ações judiciais.
374 Nesse sentido está a disposição constitucional insculpida no § 1º do art. 5º da CF/88, quando assevera que “As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”. 375 Tratando a respeito da função do Poder Judiciário na realização dos direitos sociais num Estado de Direito, importantes as considerações de Alicia E. C. Ruiz, La realización de los derechos sociales em um estado de derecho, p. 41-48. 376 Aqui devem ser incluídas todas as associações de defesa da cidadania (consumidor, usuários do SUS, organizações não-governamentais etc), as defensorias públicas, os Membros dos diversos ramos do Ministério Público, a própria Administração pública (na defesa do patrimônio público, dos princípios constitucionais e dos interesses constitucionalmente supremos da ordem jurídica pátria).
225
Inicialmente o próprio Poder Judiciário assumiu uma postura mais neutra diante dos
pedidos contidos nas ações judiciais que tinham por objeto a implementação, concretização
e/ou execução de políticas públicas sociais, ao entendimento de que lhes faleceria
competência para apreciar tais demandas, já que muitas dessas matérias aguardavam
regulamentação legislativa para produzir efeitos no mundo jurídico, não estando, pois,
segundo esse entendimento inicial, gravadas com o selo da eficácia plena, da imperatividade e
da força vinculante377.
Essa postura inicial foi sendo deixada para trás, de maneira que hodiernamente o país
já sente os efeitos de um Poder Judiciário mais ativo, onde o juiz intervém para reparar as
injustiças sofridas, para tutelar os direitos contemplados no texto constitucional,
especialmente aqueles alçados à condição de direitos fundamentais.
Na área da saúde, inúmeras ações judiciais estão sendo propostas, pugnando pela
concessão de medidas jurisdicionais que garantam aos autores os seguintes objetos: a
realização de procedimentos cirúrgicos, recebimento de medicamentos para diversas doenças,
entrega de órteses e próteses, garantia de leitos hospitalares pelo sistema público, realização
de transplantes, custeio de tratamento fora do país, incorporação e/ou inclusão de cobertura de
determinados procedimentos, insumos e medicamentos pelo SUS entre outras.
Em recente levantamento parcial, feito pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ),
foram identificadas 240.980 ações judiciais na área da saúde, tramitando nas diversas
instâncias de 20 tribunais espalhados por esse Brasil afora. No geral, essas ações contêm
reivindicações que vão desde o acesso a medicamentos e a procedimentos médicos pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), bem como vagas em hospitais públicos e ações diversas,
movidas por usuários de seguros e planos privados. Em razão da diversidade de objeto dessas
demandas, somente com uma boa estatística será possível compreender as implicações dos
377 Nesse sentido, observar as seguintes decisões: STF, SS 3.078/RN, DJ Nr. 32 do dia 14/02/2007, Relatora Ministra Ellen Gracie; STJ, STA 59/SC, DJU de 02/02/2004, Rel. Min. Nilson Naves.
226
pedidos veiculados nessas demandas sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), bem assim sobre
os diversos prestadores da Saúde Suplementar, bem assim contribuir para a racionalização e
até redução desse tipo de ação pelos diversos órgãos do Poder Judiciário378.
Esses números poderiam até descaracterizar o que se denominou de “judicialização
da saúde” se fossem tomados apenas em relação ao número total de ações tramitando em todo
o Poder Judiciário brasileiro379. No entanto, como bem ponderou o próprio Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), é preciso não esquecer os aspectos relevantes que ensejam uma preocupação
do Judiciário para com essas demandas (e que justificam a instituição do Fórum da Saúde do
CNJ): a) o crescimento do número dessas ações judiciais; b) os valores financeiros
envolvidos; c) a complexidade das matérias que envolvem esses processos; d) a necessidade
de maior aprofundamento dos magistrados para com as questões envolvendo a saúde,
principalmente aquelas demandas voltadas para a concessão de pedidos contra o SUS; e, por
fim, e) as implicações que essas demandas têm trazido ao SUS.
A pretensão é fazer a análise de uma amostra dessas ações judiciais, particularmente
daquelas cujo objeto da demanda esteja abrangida pela Política Nacional de Atenção
Oncológica (PNAO), dentre as ações de rito ordinário propostas perante a Justiça Federal,
Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, e cuja citação ou intimação inicial da
UNIÃO FEDERAL tenha sido feita até 31 de junho de 2010. Essa amostra será colhida a
partir dos dados lançados no Sistema Integrado de Controle das Ações da União (SICAU), da
Advocacia-Geral da União (AGU), no período temporal aqui demarcado.
A opção pelas ações judiciais do rito ordinário (desconsiderando os procedimentos
em trâmite perante o Juizado Especial Federal) se justifica, na medida em que os pedidos
378 Giselle Souza, Estatísticas podem ajudar a diminuir demandas judiciais na área da saúde. Agência CNJ de Notícias. Disponível em http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/17458:estatisticas-podem-ajudar-a-diminuir-demandas-judiciais-na-area-da-saude&catid=223:cnj. Acesso em 26 dez 2011. 379 O mesmo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estima que existam 80 milhões de ações judiciais no país, conforme CAVALCANTI, Hylda. SP, RS e RJ são estados que mais concentram processos na área de Saúde. Agência CNJ de Notícias. Disponível em http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/15675-sp-rs-e-rj-sao-estados-que-mais-concentram-processos-na-area-de-saude. Acesso em 26 dez 2011.
227
voltados à oncologia geralmente atingem valores superiores a 60 salários mínimos e
apresentam elevado nível de complexidade da demanda, afastando a incidência das normas
contidas na Lei nº 10.259/2011. Como se não bastasse, o polo ativo desse tipo de demanda é
muito mais abrangente do que o previsto no inciso I do art. 6º da Lei nº 10.259/2011.
Também foram excluídas da presente análise, as ações judiciais cujos pedidos se
voltem para a área da oncologia, propostas perante a primeira instância da Justiça Estadual,
tendo em vista que a UNIÃO não integra o polo passivo desses processos, não constando
pois, na base de dados do SICAU. Pressupõe-se que o maior número de ações voltadas à
oncologia possa se encontrar na esfera estadual, tendo em vista que o Estado do Rio Grande
do Norte é composto por 167 municípios e que até muito recentemente as Varas da Justiça
Federal se concentravam nos grandes centros urbanos do Estado, o que facilitava o acesso à
justiça através das Comarcas estaduais (em razão do domicílio dos pacientes). Por sua vez,
também a inexistência da defensoria pública (na esfera estadual e/ou federal) poderia conduzir
a que os cidadãos optassem por se utilizar dos serviços da justiça gratuita fornecidos por
prefeituras, instituições filantrópicas, serviços jurídicos de sindicatos e associações
representativas de diversas categorias de empregados, pela proximidade geográfica e pelo
pronto-atendimento que esses grupos oferecem aos necessitados.
Será feita a análise processual e material destas demandas judiciais, procurando
verificar quais os principais aspectos dessa política pública têm sido atacado na esfera judicial
e de que forma o Poder Judiciário tem se posicionado na condução desses feitos380.
380 Aqui podem ser aproveitadas as considerações feitas por HOFFMANN e BENTES acerca da generalidade das ações judiciais de saúde: “Embora reduzam um pouco a abrangência do estudo, estas limitações certamente não comprometem as descobertas gerais e as conclusões dele extraídas. O motivo, como se acentuou, é que, apesar do grande número de casos, o rol de argumentos jurídicos é limitado, as atitudes judiciais são bem conhecidas e os desfechos das causas relativamente previsíveis”. (Florian F. Hoffmann e Fernando R. N. M. Bentes, A litigância judicial dos direitos sociais no Brasil: uma abordagem empírica, p 391)
228
6.1 ASPECTOS GERAIS DESSE TIPO DE DEMANDA JUDICIAL – ANÁLISE DE
CASOS
Segundo os dados constantes do Sistema Integrado de Ações da União (SICAU), até
31 de junho de 2010, houve citação ou intimação inicial da UNIÃO FEDERAL em 196
processos do rito ordinário, com pedidos voltados para as diversas áreas da saúde
(medicamentos, procedimentos cirúrgicos, órteses e próteses, insumos, pedidos de vagas em
leitos hospitalares, custeio de tratamento fora do domicílio autoral e até no exterior, entre
outros). Dentre essas ações, 108 se referem a pedidos ligados à oncologia, representando,
pois, 55,1% das ações de saúde em trâmite durante o lapso temporal aqui estabelecido.
Para melhor compreensão das questões materiais e processuais contidas nas ações
que envolvem objeto da oncologia, apresenta-se, a seguir, um quadro descritivo das 108 ações
examinadas no presente estudo e que subsidiarão a análise técnico-jurídica acerca da
concretização da Política Nacional de Atenção Oncológica executada pelo Sistema Único de
Saúde (SUS).
Quanto ao objeto, as ações analisadas estão assim distribuídas: 102 delas tinham por
objeto medicamentos, 2 pediam realização de exames oncológicos, 2 requeriam realização de
procedimentos cirúrgicos e 2 tratavam de questões administrativas.
Há predomínio da autoria individual nessas ações judiciais, sendo estas propostas por
pessoas físicas, em sua grade maioria. A única ação civil pública, proposta pelo Ministério
Público Federal381, apesar de conter pedido de natureza coletiva, sua principal finalidade foi
alcançar direitos individuais, oriundo de representação ou procedimento investigatório aberto
perante aquele Órgão ministerial, a partir de relato de um caso pessoal. Também constam 2
381 Trata-se da Ação Civil Pública nº 0008487-85.2009.4.05.8400, em trâmite perante a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, que tem por pedido o custeio, pelo SUS, da “quimioterapia baseada em 5FU”, inicialmente em relação a uma paciente, em específico, estendo tal pedido a todos os pacientes que dela necessitarem.
229
ações propostas por uma mesma pessoa jurídica, o Conselho Regional de Farmácia, em defesa
dos interesses e direitos dos seus associados, sem qualquer vinculação com defesa de direitos
dos pacientes ou da coletividade em geral382.
No entanto, embora haja predominância de ações de natureza individuais383, nas 106
processos enquadrados nessa hipótese, apenas 31,13% dos autores declararam renda própria
ou familiar, sendo que nesse universo 4 autores declararam não possuir nenhum tipo de renda,
enquanto os demais 29 autores declararam possuir renda entre 1 até 3 salários mínimos,
vigentes ao tempo da propositura da ação. Os outros 68,87% sequer fizeram qualquer menção
quanto à existência de renda própria ou familiar. Mesmo assim, a considerar que a maioria
dessas ações foi proposta pela Defensoria Pública da União é possível se presumir que os
representados possuem renda própria ou familiar até o limite de isenção do imposto de renda
ou, se ganham acima desse limite, comprovaram perante aquela instituição que não podem
pagar por um advogado, sob pena de comprometer o sustento próprio ou da sua família384.
No que diz respeito aos entes que são chamados a compor o polo passivo dessas
demandas, verifica-se que 91,66% delas foram propostas contra a União, o Estado do Rio
Grande do Norte e os municípios de domicílio da parte autora, conjuntamente. Há também
ações em que somente a União foi escolhida como ré, outras em que o polo passivo é
382 Essas demandas estão registradas sob os números 97.0004855-1 e 97.0010832-5, sendo a primeira ação cautelar preparatória e a segunda, a ação principal, cujo pedido está assim redigido: “que seja JULGADA PROCEDENTA a presente AÇÃO, proibindo a vigência da Resolução 1473/97 de lavra do CFM em todo o Estado do Rio Grande do Norte, bem como determinando que a UNIÃO e o ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, ministrem feitura de lei específica que trata de prevenção de câncer de cólo de útero e correlatos, permitindo no citado diploma a realização de exames citopatológicos por profissionais farmacêuticos e outros que venham a exercer as análises clínicas, quando formados pelas Faculdades da República, declarando por sentença que os exames citopatológicos realizados por profissionais farmacêuticos, respeitadas as permissibilidades curriculares de outros profissionais das análises clínicas, quer sejam os biomédicos e biólogos, devem ser aceitos, autorizando ainda a coleta do material colpocitológico por todos os profissionais enfermeiros, nos termos das orientações da Lei vigente, determinando que os Conselhos Federal e Regionais de Medicina abstenham-se de recusar o recebimento de exames citológicos realizados por farmacêuticos ou profissionais, que a lei habilite ao exercício das análises clínicas, bem como, esclarecendo que o exame citopatológico não é atividades privativa da área médica, obrigando ao cumprimento da dita SENTENÇA, as SOCIEDADES MÉDICAS DE PATOLOGIA E CITOPATOLOGIAS CLÍNICAS”. 383 Das 108 ações analisadas, apenas 2 foram propostas por pessoa jurídica, sobressaindo-se as 106 ações propostas por pessoas físicas (aqui se incluem as ações civis públicas que mesmo propostas pelo Ministério Público Federal tinham como finalidade a obtenção de direitos estritamente individuais). 384 Conforme informações contidas na página eletrônica da Defensoria Pública da União – www.dpu.gov.br.
230
composto somente da União e do Estado do Rio Grande do Norte ou da União e outros entes
privados385.
A documentação existente nos autos comprova que, em 11 dessas ações (o que
equivale a 10,19% delas), a parte autora está vinculada a plano ou seguro de saúde privado,
embora em apenas 1 das ações esse plano de saúde tenha sido arrolado como corréu. Até
parece um contrassenso, eis que os medicamentos antineoplásicos386 são utilizados como
quimioterápicos no tratamento de paciente com neoplasia, não se justificando que o plano de
saúde privado não ofereça tal tratamento aos seus segurados.
A representação judicial da parte autora, em sua grande maioria (87,96%), tem sido
feita pela Defensoria Pública da União, nos termos da Lei Complementar nº 80, de 12 de
janeiro de 1994. Um fato que chama a atenção em muitas das ações, especialmente as que
pleiteiam medicamentos, é que os pacientes são encaminhados à Defensoria Pública da União,
diretamente pelo setor de assistência social dos estabelecimentos hospitalares, credenciados
ao SUS, utilizando-se de formulário pré-estabelecido, cujo texto afirma que aquele paciente
teve prescrição de determinado fármaco, para tratamento de seu agravo de saúde, embora o
SUS não contemple esse medicamento em suas tabelas de ressarcimento junto àquele
nosocômio. Também os advogados privados, embora de maneira bastante pulverizada, têm
uma participação expressiva na propositura desses feitos judiciais, sendo responsáveis pela
condução de 12,04% delas.
385 2,17% das ações foram propostas apenas contra a UNIÃO; 2,17% foram propostas apenas contra a UNIÃO e o Estado do RN; 1,85% delas tiveram no pólo passivo a UNIÃO, o Estado e outros entes e 0,92% trouxe como rés apenas UNIÃO e outro ente privado. 386 Antineoplásicos, utilizados no tratamento do câncer, são agentes que interferem nos mecanismos de sobrevivência, proliferação e migração celular (Henrique Neves da Silva Bittencourt; Ana Flávia Tibúrcio Ribeiro e Letícia Carvalho Neuenschwander, Antineoplásicos, p. 646). Segundo o MANUAL DE BASES TÉCNICAS ONCOLOGIA, do Ministério da Saúde, “Existem três formas de tratamento do câncer: cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Elas são usadas em conjunto no tratamento das neoplasias malignas, variando apenas quanto à importância de cada uma e a ordem de sua indicação”. (BRASIL, op. cit., p. 16)
231
Ao longo do período pesquisado foram identificadas 12 espécies diferentes de
medicamentos (antineoplásicos) pedidos nas referidas ações, embora um mesmo fármaco
pudesse ter sido prescrito para diversas subespécies de neoplasias malignas387.
É possível analisar a evolução temporal de cada um desses medicamentos, conforme
o ano de propositura da demanda, como se depreende do gráfico abaixo:
Figura 4: Evolução temporal dos medicamentos pleiteados em ações judiciais perante a Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, tendo a União como ré.
Fonte: SICAU/AGU
387 (1) ALEMTUZUMABE (CAMPATH®) com prescrição para Linfoma Não Hodgkin das células T SOE; (2) BORTEZOMIBE (VELCADE®) indicado para Linfoma Não-Hodgkin de células do manto e Mieloma Múltiplo; (3) Bevacizumabe (AVASTIN®) para glioma cerebral; neoplasia maligna coróide; neoplasia de cólon; (4) CETUXIMABE (ERBITUX®) prescrito para Adenocarcinoma de colo recidivado e metastático; (5) ERLOTINIBE (TARCEVA®) com indicação para Adenocarcinoma metastático de Linfonodo Subcarinal; (6) O IMATINIBE (GLIVEC®) fora receituado para Leucemia Mielóide Crônica; Neoplasia de fígado; Neoplasia de íleo; Tumor estromal gástrico; hepatocarcinoma avançado; (7) TOSILATO DE SORAFENIBE (NEXAVAR®) com prescrição para Hepatocarcinoma (câncer de fígado); (8) PEMETREXEDE DISSODICO (ALIMTA®) indicado para Câncer de Pulmão; (9) RITUXIMABE (MABTHERA®) foi prescrito para as os seguintes cânceres: Linfoma Não-Hodking difuso de grandes células B adultas; Linfoma anaplásico de grandes células/pulmão; Linfoma Não-Hodking/linfócitos de células B/Leucemia Linfóide Crônica; Linfoma Não-Hodkgin das células B da zona do manto; Linfoma folicular Grau III; (10) SUNITINIBE (SUTENT®) prescrito para neoplasia maligna de rim e carcinoma de células claras; (11) TEMOZOLOMIDA (TEMODAL®) com prescrição para astrocitoma anaplásico; gioblastoma multiforme; neoplasia neuroepitelial de alto grau; astrocinoma linfoma maligno encefálico; meduloblastoma metastático; (12) TRASTUZUMABE (HERCEPTIN®) com prescrição para a Neoplasia Maligna de Mama.
0
5
10
15
20
25
2004
2007
2008
2009
2010
232
Apesar de ser considerada peça imprescindível à instrução processual, apenas
86,11% das ações revisadas tinham receituário médico acostado, legível e detalhado. Um
número considerável desses processos tramita sem que seja juntado aos autos tal documento,
necessário e imprescindível à concessão de tutela antecipada e decisão de mérito. Por vezes, a
ausência de receituário médico legível (fato constatado em 13,89% dos processos
examinados), dificulta, retarda ou inviabiliza o cumprimento de possível decisão concessiva
de antecipação de tutela, eis que a área técnica do Ministério da Saúde (que é quem
encaminha o cumprimento dos julgados) necessita do quantitativo do medicamento que
deverá ser adquirido, a dosagem prescrita, o estabelecimento do ciclo e a regularidade da
dispensação, sob pena de assim não o fazendo, vir a causar prejuízos financeiros ao SUS e
colocar em risco até a vida do paciente (já que muitos dos medicamentos são tomados em
regime de monoterapia), sem falar que o preenchimento desse requisito dá concretude ao
postulado internacional do uso racional de medicamentos388.
Outra particularidade da oncologia é a necessidade que os setores técnicos têm de
terem acesso ao relatório descritivo do quadro de saúde da parte autora, tornando-se
imprescindível que o processo judicial venha instruído com as seguintes informações: a
indicação da idade, altura, peso, data do diagnóstico, localização do tumor e CID-10,
diagnóstico cito- ou histopatológico, grau histopatológico, estádio (UICC), localização da (s)
metástase (s): tratamentos anteriores, performance status e outras doenças associadas. É que a
partir dessas informações é possível estabelecer os parâmetros para elaboração de parecer ou
nota técnica, específica, acerca do objeto dos pedidos autorais.
Recentemente o Ministério da Saúde criou alguns modelos de formulários descritivos
para as ações de oncologia, dependendo do tipo ou subtipo de câncer trazido nas demandas, os
388 Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde “um indicador do uso racional de medicamentos num país é definido pela existência e atualização periódica das mencionadas listas ou formulários de medicamentos essenciais” (OPAS, O acesso aos medicamentos de alto custo nas Américas: contexto, desafios e perspectiva, p. 21).
233
quais são juntados aos autos, pela União, solicitando que a parte autora ou a Defensoria
Pública da União inste o médico prescritor a ofertar as respostas ali solicitadas, a partir das
quais são elaboradas as notas técnicas ou pareceres pelos setores do Ministério da Saúde.
O relatório descritivo da situação do paciente-autor nesse caso se traduz, não apenas
em um mero instrumento probatório, mas permite a abertura do diálogo técnico entre o
prescritor e a área técnica do SUS – na medida em que o discurso entre esses agentes se faz
com base nos conhecimentos específicos -, ao tempo que delimita a abrangência da demanda
judicial, permitindo que o debate técnico intra-autos, possa trazer elementos de convicção ao
julgador, acerca dos elementos contraditórios trazidos à lide, ainda que para tanto seja
necessária a intervenção de expert, estranho ao processo.
Ora, levando em consideração apenas os elementos contidos no relatório descritivo
do paciente, é possível que um determinado profissional da medicina prescreva um
procedimento ou um medicamento e a área técnica do SUS, após a análise do caso clínico que
lhe é submetido através desse relatório, possa identificar a incompatibilidade ou inadequação
entre a situação do paciente e a proposta de tratamento, bem como a impropriedade temporal
ou médica para a utilização ou execução do referido tratamento ou procedimento.
Pois bem, além do relatório médico descritivo se revelar essencial a uma efetiva
prestação jurisdicional, faz-se necessário, também, que esse relatório venha acompanhado de
exames laboratoriais, diagnósticos ou de imagem, permitindo a compatibilidade entre os
registros médicos e o quadro de saúde apresentado pelo paciente. As ações judiciais
analisadas demonstraram que deve haver uma preocupação com uma boa instrução
processual, já que ainda é muito elevado o número de ações judiciais em que sequer a parte
234
autora traz aos autos a comprovação do alegado agravo de saúde com lastro em exames
laboratoriais, diagnósticos ou de imagem389.
A considerar essa exigência, em 54,63% das demandas de oncologia estudadas foi
identificada a juntada de exames pela parte autora, especialmente em suas peças vestibulares,
podendo ser arrolados os seguintes exames: biópsia gástrica, ressonâncias magnéticas em
diversas partes do corpo, herceptest, biópsia e estudo imuno-histoquímico, tomografias
computadorizadas de diversas partes e/ou órgãos, cintilografia óssea, laudo de
broncofibroscopia, ultrassonagrafias, hemogramas, entre outros. A contrário senso, 45,37%
das demandas foram propostas sem o acompanhamento de nenhum tipo de exame da parte
autora. Quando muito consta uma declaração do médico que assiste a parte autora de que a
mesma encontra-se acometida de um determinado agravo de saúde ou um tipo específico de
neoplasia.
Outro aspecto importante - verificado na análise processual em comento - foi o fato
de que em 53 dessas ações, a petição inicial veio com a indicação de fonte de evidência
científica, feita pelo médico prescritor, como forma de justificar a sua conduta médica e
alicerçar a base científica da proposta de tratamento. Além da indicação expressa de fonte de
estudos científicos, também foram juntadas cópias de artigos científicos acerca da utilização e
resultados obtidos com os medicamentos e/ou exames pleiteados em juízo. Essa ferramenta se
constitui em elemento primordial no trabalho judicial, ao permitir que o julgador ou seu
assistente técnico (perito ou comissão de assessoramento) possa fazer a consulta às bases de
saúde indicadas e, a partir dos dados científicos ali encontrados, poder pautar suas decisões
em medicina baseada em evidências.
Merece destaque, também, o valor atribuído à causa pelos autores, permitindo a
análise posterior dos possíveis impactos financeiros que essas demandas podem trazer ao
389 Segundo os dados do SICAU aqui em estudo, das 108 ações judiciais de saúde, em trâmite perante a Justiça Federal do Rio Grande do Norte, em que a União é parte integrante da lide, em 49 delas não foi juntado qualquer documento relativo a exame laboratorial, diagnóstico ou de imagem, o que equivale a 45,47% dessas ações.
235
SUS. Verificou-se que os autores se utilizaram de uma operação aritmética simples, para fins
de apuração do valor da causa. Consultaram o valor do fármaco que pretendem obter, em sítio
eletrônico específico, multiplicando esse valor pela quantidade prescrita do referido
medicamento. É bem verdade que o valor tomado como referência é o valor de venda ao
consumidor, não considerando possíveis reduções de preço, em razão da aquisição por
qualquer dos entes estatais que integram o SUS. Constatou-se que 14 ações têm valor da
causa de até R$ 50.000,00; 35 delas apresentaram valores compreendidos entre R$ 50.001,00
e R$ 100.000,00; por sua vez, 28 ações têm valores entre R$ 100.001,00 e R$200.00,00 e, por
fim, que 31 delas têm valores acima de R$ 200.000,00.
Arregimentadas pelos elementos acima descritos, constatou-se que houve pedido de
antecipação dos efeitos da tutela em todas as ações analisadas, sendo que em 75 delas houve
deferimento total da tutela requerida, em 17 delas houve deferimento parcial e somente em 16
delas foi o pedido de antecipação de tutela negado. Em sua grande maioria, o deferimento de
tutela antecipada é feita sem a oitiva dos réus, levando-se em consideração apenas os
elementos constantes dos autos: a descrição fática, a apontada urgência do caso clínico que é
submetido a juízo, a prescrição médica juntada e a experiência do juízo em reiteradas decisões
já proferidas em relação ao objeto da demanda.
As tutelas antecipadas concedidas se constituem em obrigação de fazer aos entes
públicos envolvidos no feito, especialmente à União e ao Estado do Rio Grande do Norte,
cujos conteúdos trazem obrigação de inscrever o autor na política pública de oncologia
(prestadas pelo SUS), bem assim obrigam os entes a custearem, adquirirem e dispensarem os
medicamentos deferidos. Em muitas delas, a condenação é dirigida exclusivamente a apenas
um dos entes (União ou o Estado), determinando que este ente arque com os custos, adquira e
dispense o medicamento, diretamente ao paciente ou em outro local indicado pela decisão. No
entanto, é comum que a obrigação de fazer seja direcionada à União e ao Estado, em conjunto
236
(neste caso a União repassa os valores para que o Estado adquira o medicamento ou o Estado
adquire os medicamentos e apresenta as notas fiscais para que a União repasse os valores),
bem como aos três entes que compõem o sistema público de saúde (União, Estado e
Município), conjunta e solidariamente390.
Ao estabelecer a obrigação de fazer, as decisões concessivas de tutela têm
consignado prazos exíguos para cumprimento - os quais não passam de 15 dias para repasse e
30 dias para aquisição e entrega do medicamento –, pelos entes federados, ao tempo que já
estabelecem multa diária, dirigidas tanto ao ente do SUS como aos gestores da área da saúde.
As multas diárias, contidas nas decisões de tutela estão compreendidas entre R$ 200,00 a R$
1.000,00.
É bem verdade que as decisões que deferem parcialmente o pedido de tutela, apenas
para que o paciente seja inscrito na política pública de oncologia do SUS, não trazem
nenhuma consequência prática aos entes públicos, na medida em que esses pacientes já estão
vinculados ao SUS, sendo atendidos por estabelecimentos de saúde credenciados ao sistema
para o tratamento de câncer (CACONs ou UNACONs), o que é revelado pelo receituário
médico ou pelo encaminhamento feito por setor desses nosocômios.
Por outro lado, as decisões que indeferem o pedido de tutela, apesar de poucas, são
reformadas pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, em sede de agravo de instrumento
interposto pela parte autora. Por sua vez, os agravos de instrumentos interpostos pelas rés,
quando admitidos como tal (já que na sua grande maioria é convertida em agravo retido), têm
indeferido o pedido de efeito suspensivo e, no mérito, não têm tido acolhimento pela instância
regional.
390 Pelos dados apurados tem-se: 25% das tutelas foram direcionadas para cumprimento apenas da União; 37,03% apenas pelo Estado do RN; 16,66% pela União e Estado, em conjunto; 5,55% foram direcionadas contra os três entes do SUS (União, Estado e Município), conjuntamente; 0,96% foi direcionada ao plano de saúde privado e em 14,81% das ações, não houve deferimento de tutela antecipada.
237
Prosseguindo, verificou-se que em todas as ações propostas foram apresentadas
contestação ao pedido autoral: em alguns casos houve contestação apenas da União, em
outros processos constatou-se a existência de contestações apenas da União e do Estado ou
apenas da União e Município e, por fim, aqueles casos em que todos os entes (União, Estado e
Município) apresentaram suas contestações. A única ação em que não houve contestação foi
exatamente aquela em que o plano de saúde privado firmou acordo com a parte autora391.
As contestações, além de trazerem questões processuais, especialmente a preliminar
de chamamento ao feito do CACON ou UNACON, como litisconsorte passivo necessário (eis
que prestadores de serviços do SUS no qual estão lotados os profissionais médicos que
prescreveram os medicamentos pedidos em juízo), bem assim a preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam de cada um dos entes que compõe o SUS. No mérito, aponta-se para a
existência de política pública de saúde do SUS que contempla todo o tratamento para as
diversas neoplasias (PNAO), a ausência de comprovação de eficácia e eficiência do
medicamento solicitado, necessidade de apuração da evidência científica do medicamento
para o tratamento proposto (em contraposição ao único receituário existente nos autos),
violação ao princípio da separação dos poderes e aos princípios específicos do SUS. Também
tem sido pugnado pela realização de prova técnica. Em 78 ações foram anexados, pelos réus,
pareceres técnicos elaborados pelo setor de saúde do Ministério da Saúde, com oferecimento
de elementos de evidência científica acerca do medicamento pleiteado, ante o tratamento para
o qual está sendo proposto. São indicações de fontes científicas e de bancos de dados em
saúde, em níveis nacionais e internacionais, as quais possibilitarão ao julgador, se for do seu
interesse, poder aferir, pessoalmente ou por intermédio de sua assessoria técnica, em qual
nível de medicina baseada em evidência se encontra o fármaco prescrito em relação ao
tratamento do agravo de saúde a que se propõe.
391 Trata-se da ação ordinária nº 0009413-42.2004.4.05.8400, a qual tramitou perante a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do RN.
238
Além das indicações de fontes de pesquisas, são carreados aos autos com as
contestações, outros elementos substanciais como artigos de revistas especializadas em saúde
ou de revistas comuns de circulação nacional, análises acerca de não incorporação de
medicamentos, procedimentos ou insumos pela então Comissão de Incorporação de
Tecnologia no SUS (CITEC)392.
Apesar da complexidade das questões postas nessas demandas judiciais,
complexidade essa que passa desde a utilização de termos estritamente técnicos, cujos
operadores do direito (advogado dos autores, advogados dos réus e o próprio magistrado)
quase sempre se restringem a transcrever o que foi exposto pelos médicos e pelos técnicos da
área da saúde, sem muita compreensão dos significados dessas expressões e da compreensão
dos mesmos no contexto da medicina.
Não obstante se reconheça a imprescindibilidade de realização de prova técnica nesse
tipo de ação judicial, ainda que seja para esclarecimento dos dissensos técnicos apontados
pelas partes adversas – evidência científica que comprovem a eficácia, efetividade, eficiência
e segurança do medicamento, em relação ao tratamento a ele relacionado –, à exceção de 2
processos que integraram as audiências públicas de instrução na área oncológica393, as demais
ações tiveram todo o seu curso, inclusive com julgamento de mérito, sem que fosse
determinada a realização de prova técnica.
Para o julgamento de mérito das 96 ações já apreciadas, os magistrados de primeira
instância da Justiça Federal do Estado do Rio Grande do Norte se utilizaram apenas das
392 Por força da Lei n° 12.401/2011 foi criada a “A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, cuja composição e regimento são definidos em regulamento, contará com a participação de 1 (um) representante indicado pelo Conselho Nacional de Saúde e de 1 (um) representante, especialista na área, indicado pelo Conselho Federal de Medicina”. 393 Nos dias 22 e 23 de setembro de 2010 foram realizadas diversas audiências com processos de medicamentos oncológicos, com a participação de médicos dos autores, bem como de médicos da área da oncologia do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde. Essas audiências fizeram parte da programação do I Ciclo de Debates sobre Oncologia no SUS, organizado pelo Comitê Interinstitucional de Resolução Administrativa de Demandas da Saúde (CIRADS), entidade da qual fazem parte as Defensorias Públicas da União e do Estado, a Procuradoria da União, a Secretaria Municipal de Saúde de Natal, a Secretaria Estadual de Saúde e as Procuradorias Gerais do Estado e do Município do Natal/RN.
239
provas trazidas aos autos pelas partes (autora e rés). Houve julgamento de procedência do
pedido autoral em 50 dessas ações, 13 julgamentos em que o juiz acolheu, parcialmente, o
pleito autoral394, 9 casos de improcedência do pleito e 24 processos extintos, sem resolução de
mérito395.
Em havendo procedência do pleito autoral, as tutelas antecipadas foram confirmadas,
embora tenha ocorrido modificação significativa no dispositivo da sentença quanto ao ente
estatal designada para cumprir a obrigação de fazer. Em razão dessas modificações, a União,
isoladamente, foi condenada em 26 ações. Reduziu-se o número condenações em que o
Estado do Rio Grande do Norte foi obrigado a cumprir, isoladamente, obrigação de fazer
(passando de 20 para 5 dessas ações). Por sua vez, a União e o Estado do RN, conjuntamente,
foram condenados em 16 feitos, enquanto em 15 deles houve condenação contra os três entes
que integram o SUS (União, Estado e Município). Não houve condenação dos entes
federativos em 33 dessas ações, fruto dos casos de improcedência do pedido e das hipóteses
de extinção do feito, sem resolução de mérito.
Chama a atenção o fato de que nas sentenças de mérito haja majoração da multa
diária contra entes ou gestores, em caso de descumprimento da condenação ali imposta, tanto
no tocante ao objeto deferido quanto ao tempo concedido para o respectivo cumprimento da
condenação.
Constatou-se, ainda, que 12 ações judiciais se encontram pendentes de julgamento de
mérito, porém, algumas delas já tiveram tutela antecipada deferida pelo juízo condutor do
feito, o que permite a parte autora aguardar o julgamento do mérito da demanda.
394 A procedência parcial (12 ações) foi no sentido de que os entes do SUS apenas inscreva a parte autora na política pública que oferece tratamento para os pacientes oncológicos. 395 A principal causa de extinção do feito, sem julgamento do mérito, ocorreu em razão do falecimento da parte autora, antes de proferida sentença de mérito. Foram enquadradas nessa condição 20 ações judiciais (equivalente a 18,52% delas). As demais causas foram a ocorrência de acordo firmado entre as partes (1 processo), desistência pedida pela própria parte autora (2 casos) e ausência de interesse (1 caso).
240
No que pertine à distribuição dos feitos pelas diversas varas federais da Seção
Judiciária da Justiça Federal neste Estado, o panorama detectado foi o seguinte: 32 ações
tramitam perante a 1ª Vara Federal; 2 tiveram trâmite pela 3ª Vara Federal (anteriormente à
sua conversão em Juizado Especial Federal); 28 correm no Juízo da 4ª Vara Federal, 36 estão
sob a tutela do Juízo da 5ª Vara Federal, 2 na 8ª Vara Federal (Mossoró/RN) e 3 na 9ª Vara
Federal (Caicó/RN).
É, pois, a partir das informações acima explicitadas que, guardadas as
especificidades de algumas realidades locais, refletem não apenas a realidade dos processos
da área da oncologia em tramitação na Seção Judiciária Federal deste Estado, mas servem de
paradigma para as ações desse mesmo jaez propostas e em trâmite perante todo o Poder
Judiciário Federal, de forma que serão examinados os contornos e a praxe jurídica extraídas
das decisões proferidas nesse tipo de demanda judicial.
6.2 A POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DEFININDO OS CONTORNOS
PARADIGMÁTICOS DA PRAXE JURÍDICA
Nas duas últimas décadas, a sociedade brasileira tem acompanhado de perto (e
podido sentir) a influência da jurisprudência nacional, na solução dos grandes temas
decorrentes da carta constitucional de 1988. Muitas dessas querelas surgiram da existência de
conflitos oriundos do próprio texto constitucional, outras da ausência de regulamentação
infraconstitucional requerida pelos constituintes de 88, algumas em razão da necessidade de
compatibilização entre a ordem jurídica até então vigente e a entrada em vigor do novo texto
constitucional e muitas delas aparecem quando da efetivação e concretização das normas e
princípios nela encartados.
241
Diversos temas já foram apreciados pelo Supremo Tribunal Federal, tendo obtido
pronunciamento e disciplinamento, pelo próprio Poder Judiciário, independentemente da
adoção das medidas legislativas ou executivas396. Aliado a isso, tem crescido a consciência
nacional acerca da constitucionalização dos direitos e busca de seu reconhecimento pelos
Poderes do Estado. Assim, para além das descrenças nos poderes constituídos (Executivo,
Legislativo e Judiciário), a realidade demonstra que a sociedade civil ainda deposita nos
órgãos do Poder Judiciário suas esperanças de ver efetivada a concretização dos ideais
emancipatórios, presentes na carta constitucional vigente em nosso país.
O direito à saúde é um dos temas que atualmente tem sido direcionado aos diversos
órgãos do Poder Judiciário, na tentativa de resolução das inúmeras controvérsias surgidas na
vida cotidiana e na relação com o SUS ou com os diversos planos de saúde privados que
compõem a saúde suplementar no Brasil. No presente estudo, a atenção se volta,
especificamente, para as ações da oncologia, com foco direto para as ações em que há pedido
de fornecimento e custeio de medicamentos antineoplásicos. Porém, em razão da importância
de que se reveste, far-se-á um breve esboço histórico do que se denominou “judicialização da
saúde”, possibilitando uma melhor compreensão da temática e a retomada das questões
precedentes em sua fase conclusiva.
As primeiras ações judiciais voltadas para a realização do direito à saúde no Brasil,
especificamente para que o Estado brasileiro fosse condenado a adquirir e dispensar
medicamentos, foram propostas em 1996, pelas organizações sociais, em defesa dos direitos
396 “Naturalmente, a nova postura de ativismo judicial do STF estimula as forças sociais a procurá-lo com mais frequência e contribui para uma significativa alteração na agenda da Corte. Atualmente, ao lado das questões mais tradicionais do Direito Público, o STF tem se defrontado com novos temas fortemente impregnados de conteúdo moral, como as discussões sobre a validade de pesquisa em células-troncos embrionárias, aborto de feto anencéfalo e união entre pessoas do mesmo sexo. Ademais, o Tribunal passou a intervir de forma muito mais ativa no processo político, adotando decisões que se refletem de forma direta e profunda sobre a atuação dos demais poderes do Estado. Para citar apenas alguns casos, pode-se falar da decisão que assentou que a mudança de partido implica, salvo determinadas exceções, perda de mandato parlamentar, da que estabeleceu critérios rígidos para a fixação do número de vereadores de acordo com a respectiva população, e da intensificação do controle jurisdicional dos atos das CPI’s, bem como dos pressupostos de edição de medidas provisórias”. (Daniel Sarmento, O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades, p. 50-51)
242
dos portadores de HIV/Aids, cujo principal objetivo era que o SUS incorporasse, adquirisse e
dispensasse os medicamentos recém-lançados nos mercados internacionais, denominados
antirretrovirais, para tratamento e controle da AIDS397.
A partir do acolhimento dessas demandas, pelo Poder Judiciário, descortinou-se um
novo horizonte à realização e concretização do direito à saúde, constitucionalmente
assegurado pela carta magna vigente. Inúmeras ações judiciais chegaram a todas as esferas e
instâncias do Poder Judiciário, na busca de se ver acolhidos os diversos pleitos, cujos objetos
decorrem da área da saúde. A maioria dessas ações são propostas contra o Sistema Único de
Saúde (SUS), na perspectiva de que esse sistema público ofereça tratamentos, medicamentos,
procedimentos ou insumos ligados à saúde.
Como já demonstrado em capítulos anteriores, essa temática ganhou importância e
revelo tanto por parte da sociedade como do próprio Judiciário, a ponto de o Supremo
Tribunal Federal ter organizado e conduzido uma grande audiência pública398, tanto em razão
da complexidade das matérias que estavam aguardando julgamento, em processos sob a
jurisdição daquela Corte Suprema, como também para que os conhecimentos e informações
ali lançadas pudessem permitir uma melhor prestação jurisdicional pelas demais instâncias do
Poder Judiciário, na medida em que foram abertos espaços aos diversos segmentos que
integram ou estão envoltos nas questões postas nas ações judiciais da saúde.
397 “Dentre as ações ajuizadas pleiteando o fornecimento gratuito de medicamentos pelo Poder Público – que serão tratadas em capítulo à parte – uma teve especial importância: aquela movida pela advogada do Grupo de Apoio à Prevenção à Aids (GAPA-SP), Áurea Celeste da Silva Abbade, em favor da professora e ativista da luta contra a aids, integrante do Grupo de Incentivo à Vida (GIV), Nair Soares Brito, perante a 1ª Vara da Fazenda Pública do Estado de São Paulo, contra o Estado de São Paulo. Foi uma das primeiras ações do país a obter liminar favorável, determinando o imediato fornecimento da medicação solicitada, o que abriu precedente para o ajuizamento de outras demandas”. (BRASIL, O Remédio via Justiça: Um estudo sobre o acesso a novos medicamentos e exames em HIV/aids no Brasil por meio de ações judiciais, p. 24) 398 “A Audiência Pública, realizada em 2009, ouviu especialistas entre advogados, defensores públicos, promotores e procuradores de justiça, magistrados, professores, médicos, técnicos de saúde, gestores e usuários do Sistema Único de Saúde - SUS. Os esclarecimentos prestados durante a audiência são relevantes no julgamento de processos que versam sobre o direito à saúde em tramitação na Corte”. Disponível em: http://redir.stf.jus.br/livrariasupremo/produto.action?grupoId=produtoAudiencia. Acesso em 26 jan 2012.
243
Os frutos dessa audiência pública no STF terminaram por conduzir o voto do
Ministro Gilmar Ferreira Mendes, proferido nos autos dos Pedidos de Suspensão de Tutela
Antecipada 175, 178 e 224, reforçado e explicitado, posteriormente, por força do acórdão
proferido no Agravo Regimental interposto pela União399, cujos contornos são aqui tomados
como parâmetros jurisprudenciais já traçados pela corte constitucional brasileira, tendo
influência direta sobre os demais órgãos e instâncias jurisdicionais do país.
O voto em comento acabou por estabelecer marcos jurídicos-constitucionais, os
quais, além de ratificar a posição doutrinária e jurisprudencial já produzida sobre a temática
(saúde), passou a nortear o trabalho dos demais Poderes da República. Mas a experiência
forense tem demonstrado que o delineamento traçado pelo Supremo Tribunal Federal não foi
capaz de resolver as questões complexas que são trazidas nas demandas judiciais da saúde.
Essa complexidade está bem explicitada por Ana Paula de Barcellos, quando esta
estabelece que além das questões próprias dos processos comuns, há nessas demandas alguns
elementos intrínsecos, tanto objetivos quanto subjetivos, que vão desde a dificuldade de se
estabelecer gradações na concretização do direito à saúde, passando pela condição humana do
julgador frente ao drama vivido por aquele que pede (com possibilidade das decisões virem
carregadas de um excesso de subjetivismo), a falta de delimitação das macropolíticas de saúde
públicas executadas pelo Poder Executivo (em suas diversas instâncias governamentais), além
399 EMENTA: Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de Saúde – SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria da saúde. Fornecimento de medicamento: Zavesca (miglustat). Fármaco registrado na ANVISA. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF – PLENO, STA 175 AgR / CE – CEARÁ, decisão unânime, Publicada no DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00070, Rel. Min. GILMAR MENDES)
244
das dificuldades de domínio da linguagem e conhecimentos da medicina, por parte dos
operadores do direito400.
Uma discussão que precede e que circunda toda a problemática das tutelas
jurisdicionais envolvendo direito à saúde é a busca de resposta para a seguinte indagação: face
à natureza constitucional (e de direito fundamental) do direito à saúde no Brasil, é de se
entender que o SUS deve disponibilizar e oferecer todo e qualquer medicamento, insumo ou
procedimento cirúrgico, bastando que esteja prescrito por um profissional médico?
Existe uma corrente jurisprudencial tendente a reconhecer que o direito à saúde401, na
forma como prevista na atual carta constitucional brasileira, deve ser atendido de forma
irrestrita, bastando aos que dele necessitem comprovar que estão acometidos por determinada
moléstia ou agravo à saúde e, por consequência, necessitam de determinado medicamento
para debelá-la. Daí reconhecer a atuação jurisdicional no sentido de, reconhecendo tal direito,
impor à Administração Pública a obrigação de custear, adquirir e dispensar todo e qualquer
medicamento objeto de ação judicial, mesmo que não integrante dos programas e políticas do
SUS402.
Em sentido contrário, firma-se um entendimento no sentido de que o direito à saúde
não é pleno, razão pela qual, devem os órgãos do Poder Judiciário agir de forma comedida e
parcimoniosa - quando da apreciação de demandas judiciais, proposta contra o SUS, e que
400 Cf. Ana Paula de Barcellos, O Direito à Prestações de Saúde: Complexidades, Mínimo Existencial e o Valor das Abordagens Coletiva e Abstrata, p. 803-807. 401 Essa corrente está bastante presente na ementa da presente decisão, proferida pelo então Ministro LUIZ FUX, quando integrava o STJ. (STJ – 1ª TURMA, AGA 200800916382, unânime, publicada no DJE DATA:03/11/2008, Relator Min. LUIZ FUX). Disponível em www.jf.jus.br. Acesso em 10 jan 2012. 402 Também na doutrina é possível sentir uma tendência a admitir que o direito à saúde contempla todo e qualquer pedido, desde que necessários à defesa da saúde. Nesse sentido se posiciona José Carlos Francisco, ao asseverar que “Sobre o que pode ser reclamado pelos titulares no tocante a tratamentos voltados à vida e à saúde, o art. 196, caput, da Constituição, fala em ‘acesso universal’ indicando todos os tratamentos e meios de proteção à saúde. O mesmo art. 196, II, do ordenamento de 1988, observa que as ações e os serviços públicos de saúde constituem um sistema único (embora regionalizado e hierarquizado) que visa o ‘atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas’, de maneira que devem alcançar tanto os tratamentos básicos e vitais, como também aqueles que envolvam os meios científicos mais eficazes e evoluídos para a defesa da saúde. Vale ainda acrescentar que as normas jurídicas sobre saúde são protegidas pela máxima efetividade, de maneira que devem ser compreendidas no sentido mais amplo para dar a maior cobertura possível” (Dignidade Humana, Custos Estatais e Acesso à Saúde, p. 864)
245
tenham por objeto o pedido de medicamentos, procedimentos e/ou insumos –, procurando
privilegiar as políticas públicas já existentes, respeitando o conjunto de opções legislativas e
administrativas formuladas acerca dessas matérias, pelos órgãos administrativos
competentes403.
As decisões proferidas pelos Juízes de primeira instância da Justiça Federal do
Estado do Rio Grande do Norte tendem a se alinhar à primeira corrente de entendimento
jurisprudencial, eis que a fundamentação trazida nas decisões concessivas de tutelas ou nas
próprias sentenças de mérito não adentra a qualquer dos fundamentos lançados nas
contestações, no sentido da existência de política pública do SUS para tratar os pacientes
acometidos por cânceres. As decisões se fundam em interpretação acerca do art. 196 da CF/88
e sua correlação com o direito à vida e à dignidade da pessoa humana, sem, contudo, fazer
qualquer menção às opções terapêuticas disponibilizadas pelo sistema público de saúde, seja
para reconhecer sua ineficácia ou inaplicabilidade aos casos trazidos às lides404.
Não há dúvida de que o delineamento dado pelo Supremo Tribunal Federal foi no
sentido de dar uma interpretação restritiva aos princípios constitucionais do acesso universal e
igualitário às ações e serviços de saúde, afastando a obrigação do SUS em financiar toda e
qualquer ação e prestação de saúde existente e pleiteada em juízo. Foram excluídas, ainda, da
403 Assim se posiciona Luís Roberto Barroso, Da Falta de Efetividade à Judicialização Excessiva: Direito à Saúde, Fornecimento Gratuito de Medicamentos e Parâmetros para a Atuação Judicial, p. 891. Nesse mesmo sentido é o voto do Ministro Gilmar Mendes nos pedidos de suspensão de tutela antecipada nºs 175, 178 e 224, quando assevera que: “A princípio, pode-se inferir que a obrigação do Estado, à luz do disposto no artigo 196 da Constituição, restringe-se ao fornecimento das políticas sociais e econômicas por ele formuladas para a promoção, proteção e recuperação da saúde.[...] Obrigar a rede pública a financiar toda e qualquer ação e prestação de saúde existente geraria grave lesão à ordem administrativa e levaria ao comprometimento do SUS, de modo a prejudicar ainda mais o atendimento médico da parcela da população mais necessitada. Dessa forma, podemos concluir que, em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente”. (STF – STA 175, 178 e 224, Despacho publicado no DJE nº 182 de 28/09/2009, Ministro-Presidente GILMAR MENDES FERREIRA). 404 Aliás, esse aspecto também foi bastante enfatizado em estudo de casos feito por Florian Hoffmann e Fernando Bentes, no qual foram analisadas as ações judiciais envolvendo o direito à saúde, tramitando em tribunais de cinco Estados do país, no STJ e no STF, tendo estes observados que “Nas ações individuais, os tribunais não buscam usualmente estabelecer culpabilidade individual nem negligência por parte da autoridade pública: tende, sim, a conceder o direito com base na responsabilidade objetiva do Estado, o que está de acordo com a tendência geral favorável á visão formal e não substancial”. (A litigância judicial dos direitos sociais no Brasil: uma abordagem empírica, p. 401).
246
obrigação estatal, as opções terapêuticas tidas por experimentais e os medicamentos não
registrados na ANVISA. Também ficou explicitada a opção da corte constitucional brasileira
no sentido de que a obrigação estatal contida no art. 196 da CF de 1988 deve ser inferida,
primariamente, pelas políticas sociais e econômicas formuladas pelo SUS para a promoção,
proteção e recuperação da saúde. Dessa forma, reforçou-se a prevalência dos Protocolos
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS, quando comparados a laudos ou receituários
médicos em desconformidade com estes, pelo fato desses protocolos e diretrizes estarem
baseadas em Medicina Baseada em Evidências, não obstante não os tenham tornados
absolutos ou inquestionáveis na esfera judicial405.
Seguindo a linha traçada pelo STF, a primeira indagação que deve ser feita quando o
julgador se depara com uma ação judicial que tenha por objeto pedido de medicamentos
antineoplásicos é a seguinte: o SUS tem política pública voltada para a promoção, proteção e
recuperação dos pacientes com câncer? Neste caso, em específico, a resposta vem a ser
afirmativa, tendo em vista a existência da Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO),
como já explicitado no capítulo anterior.
Dessa maneira, nas ações voltadas para a oncologia, o julgador não pode
desconsiderar o fato da existência de uma política pública específica para atender aos
pacientes do SUS acometidos de neoplasias, consubstanciada nas diretrizes traçadas pela
Portaria GM/MS nº 2.439, de 08/12/2005 e pela Portaria SAS/MS nº 741, de 19/12/2005.
Daí, considerada a Política Nacional de Atenção Oncológica do SUS, a discussão
judicial – trazida em ação que tenha por objeto pedido vinculado a tal área da medicina -
405 O plenário do STF, seguindo o voto do Min. Gilmar Mendes, afirmou que “[...] Dessa forma, podemos concluir que, em geral, deverá ser privilegiado o tratamento fornecido pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, sempre que não for comprovada a ineficácia ou impropriedade da política de saúde existente” (trecho extraído do voto do Min. Gilmar Mendes no acórdão proferido no processo STA 175 AgR / CE)
247
deverá ser contornada na tentativa de se obter respostas para as questões controversas, tanto
na esfera processual quanto na material.
Os questionamentos acima referidos, diga-se de passagem, num rol apenas
exemplificativo, dão a ideia da complexidade dessas demandas e da necessidade de um nível
de ponderação de valores que perpassam desde os aspectos processuais até alcançarem o bem
da vida pretendido pelos cidadãos. Por uma questão didática e também lógico-jurídica, far-se-
á, inicialmente, uma explanação acerca das questões processuais que circundam essas ações e,
num momento posterior, adentrar-se-á às questões de mérito nelas veiculadas, permitindo, ao
final, uma compreensão global da problemática.
6.2.1 O delineamento jurisprudencial no tocante às questões processuais e
procedimentais
Na esfera processual, várias questões têm sido suscitadas, entre elas, as seguintes: a)
é possível estabelecer alguma limitação ao deferimento do pedido, levando em consideração a
figura da parte autora?; b) quem deve integrar o polo passivo dessas demandas?; c) a
constituição do polo passivo conduzirá, necessariamente, à condenação conjunta dos seus
integrantes?; qual o papel e a importância da instrução probatória nesse tipo de demanda
judicial?
Esses questionamentos serão balizados a partir da construção doutrinária e
jurisprudencial pátrias, na tentativa de estabelecer as diretrizes norteadoras que têm sido
utilizadas na praxe forense.
248
6.2.1.1 Quanto à constituição dos polos ativo e passivo das demandas de saúde
Cabe registrar, inicialmente, que a exemplo das ações judiciais acima examinadas, a
grande maioria das ações judiciais da área da saúde é proposta por pessoa física, ou seja,
chega ao Poder Judiciário por meio de ações individuais. A despeito da jurisprudência pátria
já haver se sedimentado no sentido de que as ações de saúde possam ser reivindicadas tanto
individual quanto coletivamente406, o que tem sido verificado, na prática, é que em relação a
alguns dos objetos pretendidos nesse tipo de ação, a opção pela propositura de ações coletivas
poderia trazer mais efetividade, mais rapidez e concentração da instrução probatória, com
significativa redução de custos e de tempo para os operadores do direito407, o que será objeto
de análise em tópico posterior.
No que diz respeito à titularidade ativa dessas demandas, principalmente quando se
está diante de pedidos não cobertos ou custeados pelas políticas do SUS, dois elementos
limitativos têm sido trazidos a cotejo: a) a comprovação de que a parte autora não se enquadra
na condição de hipossuficiente, não para fins meramente processuais, mas, de fato, para obter
o bem jurídico por ele requerido na demanda proposta contra o SUS; e b) o fato de a parte
autora ser conveniada a plano de saúde privado.
Tomando por referências as ações de oncologia acima analisadas, as quais não fogem
muito do quadro fático trazido nas diversas ações dessa natureza, em trâmite nos demais
Estados do país, verifica-se, facilmente, tratar-se de demandas cujos objetos têm valores
econômicos expressivos – em sua grande maioria próximos ou superiores a R$100.000,00408 -
e não estão acobertados ou custeados pela política pública de oncologia do SUS. Nessa 406 Consta no voto condutor do Ministro Gilmar no STA – 175/CE, expressamente, “a omissão administrativa no tratamento de determinada patologia poderá ser objeto de impugnação judicial, tanto por ações individuais como coletivas”. 407 A defesa da utilização das ações coletivas para pedidos da área de saúde não contempladas nas lista oficiais do SUS é defendida por Luís Roberto Barroso, Da Falta de Efetividade à Judicialização Excessiva: Direito à Saúde, Fornecimento Gratuito de Medicamentos e Parâmetros para a Atuação Judicial, p. 899-902. 408 87,04% das ações pesquisadas tinham por ‘valor da causa’ montantes próximos ou superiores a R$100.000,00.
249
moldura, o argumento da hipossuficiência fica bastante fragilizado, embora essa constatação
não afaste, por si só, a exigência doutrinária e jurisprudencial da hipossuficiência para fins de
deferimento judicial de fornecimento de medicamento não incluído nas listagens ou em
desconformidade com os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS409.
Situação diversa ocorre quando se verifica na documentação constante dos autos que
a parte autora é beneficiária de plano privado de saúde, tendo realizado todo o tratamento
oncológico coberto pelo referido seguro saúde privado, vindo a juízo pedir a cobertura de
exames ou de medicamentos antineoplásicos. No tocante à cobertura de exames (clínicos ou
de diagnósticos), a jurisprudência vem se firmando no sentido de que é dever do plano de
saúde prestar o atendimento médico necessário ao restabelecimento da saúde de seu cliente
(incluindo os exames necessários ao alcance de tal fim), por decorrer tal obrigação da própria
natureza do contrato de seguro saúde. Assim, entende-se que constitui cláusula abusiva do
contrato entre eles firmado, a exclusão de realização de um determinado exame, sob o
fundamento de não haver previsão para a cobertura410, dando-se relevo à relação de consumo
existente entre a seguradora de saúde e o seu associado.
Esse mesmo raciocínio deve ser utilizado, em se tratando de ações judiciais
envolvendo medicamentos antineoplásicos, principalmente pelo fato de que tais fármacos
integram as diversas modalidades de quimioterapia (quimioterapia paliativa, quimioterapia
409 “Entretanto, remarque-se: se a gratuidade só é obrigatória no caso dos serviços amparados pela Lei nº 8.080/90 e sua regulamentação; consequentemente, se pleiteadas em juízo quaisquer outras prestações de saúde não abrangidas a priori – como, por exemplo, o fornecimento de medicamentos não incluídos nas listagens oficiais ou em desconformidade com os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas estabelecidos pelo Ministério da Saúde -, é requisito indispensável à concessão da ordem a demonstração pelo postulante de sua necessidade financeira”. (Fátima Vieira Henrique, Direito Prestacional à Saúde e Atuação Jurisdicional, p. 831). Por sua vez Andrea Carla Veras Lins, ratifica a necessidade de hipossuficiência daquele que pleiteia, em juízo, bens de saúde não disponível pelo SUS: “Entretanto, como visto, é difícil imaginar que atualmente o Brasil possa atender, indistintamente, a todos e todas as situações apresentadas, sem verificar se se trata de pessoa que possa arcar com os custos da aquisição de um fármaco ou tratamento”. (A produção da prova, o direito à saúde e a correlação nas ações individuais: uma visão pragmática, p. 110-111). A exigência de hipossuficiência, para deferimento de tutela jurisdicional da saúde, pode ser sentida na jurisprudência pátria, no teor do acórdão proferido no processo STJ – RESP 944105/RJ, DJ de 11/09/2008 – Rel. Min. LUIZ FUX. 410 Especificamente sobre exame relacionado à oncologia consultar os seguintes acórdãos: TJPR – AC 0662502-7 – 9ª C.Cív. – Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior – DJe 29.06.2010 – p. 201 E TJMG – AC 1.0701.08.232947-8/001 – 11ª C.Cív. – Rel. Marcelo Rodrigues – J. 29.06.2009.
250
para controle temporário de doença, quimioterapia prévia, quimioterapia adjuvante), devendo,
pois, ser incluída como tratamento oncológico e, portanto, coberto pelos planos de saúde
privado, se assim ficar provado ser tal medicamento essencial e eficaz ao tratamento do
referido paciente (sempre levando em consideração as informações obtidas pela medicina
baseada em evidências).
Cabe registrar aqui, ainda que para afastar a apontada ausência de exame, que a
jurisprudência pátria vem sedimentando o entendimento de que cabe aos órgãos do Ministério
Público a propositura de ação civil pública para defesa de direitos e interesses sociais
individuais indisponíveis, especialmente em relação a pedidos de medicamentos para
menores, idosos ou outros titulares, cuja defesa e interesse a legislação pátria impõe ao
Parquet411, em razão da indisponibilidade desses direitos. Essa matéria teve admitida a sua
Repercussão Geral em sede de Recurso Extraordinário, pelo STF, estando pendente de
apreciação conclusiva412 pelo plenário daquela Corte constitucional.
A constituição do polo passivo das demandas de saúde também apresenta acalorados
debates jurídicos, de modo especial em relação ao pleito de inclusão na lide, dos
estabelecimentos hospitalares credenciados ao SUS (CACON ou UNACON), como
prestadores de serviços na área da oncologia.
Segundo traçado no capítulo anterior, a Politica Nacional de Atenção Oncológica
oferece cobertura para todos os tipos de cânceres. Nessa cobertura estão englobadas as ações e
serviços de diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos dos pacientes. Também
não se deve deixar de referenciar que, diferentemente de outros programas e políticas do SUS,
411 STF – 2ª TURMA, RE-AgR 554088, Decisão unânime, Publicada no DJe-112 DIVULG 19-06-2008 PUBLIC 20-06-2008 EMENT VOL-02324-06 PP-01237 RCJ v. 22, n. 142, 2008, p. 90-91, Rel. Min. EROS GRAU. Contrariamente, acolhendo a tese da ilegitimidade ativa do MPF para propor ações de saúde, cujo pedido tenha limitação individual, conferir o teor do acórdão proferido pelo TRF2ª REGIÃO – QUINTA TURMA ESPECIALIZADA, AG 201002010061370, Decisão unânime, Publicada no E-DJF2R - Data::06/05/2011 - Página::584/585, Relator Desembargador Federal LUIZ PAULO S. ARAUJO FILHO. 412 STF – PLENO - RE 605533 RG / MG - MINAS GERAIS, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-09 PP-02040LEXSTF v. 32, n. 377, 2010, p. 243-246, Rel. Min. MARCO AURÉLIO.
251
na oncologia, o medicamento integra toda e qualquer uma dessas fases e/ou estágio da
cobertura ao tratamento integral do paciente com câncer, já que em quase todas elas há
necessidade de utilização de fármacos no referido tratamento.
Por esse pressuposto, a dispensação de qualquer fármaco que se fizesse necessário ao
tratamento do paciente com câncer deveria ser efetuada pelo estabelecimento hospitalar onde
este faz seu tratamento. Aliás, esta condição integra o termo de compromisso firmado entre o
prestador, instituição hospitalar credenciada, e os entes federados que compõem o Sistema
Único de Saúde413.
Na prática, essa obrigação contratual não vem sendo cumprida, por parte dos
estabelecimentos credenciados ao SUS para tratamento de pacientes com neoplasias
(CACONs ou UNACONs), na medida em que são esses nosocômios que têm encaminhado os
pacientes às defensorias públicas, com o objetivo de pleitearem judicialmente determinado
medicamento que segundo o médico prescritor - integrante do quadro de pessoal do
credenciado SUS - se faz necessário ao tratamento do paciente e que não está contemplado
nas políticas do SUS.
É interessante notar que no ato de encaminhamento do paciente à defensoria pública
não consta a verdadeira razão para a afirmação de que “tal medicamento não está
contemplado nas tabelas do SUS”. Esse quadro fático sugere, para o paciente, para a
sociedade e para os operadores do direito, algumas suposições negativas em relação ao SUS.
Entre essas suposições podemos elencar as seguintes: a) a primeira delas é de que não há
tratamento disponível para o paciente no SUS e, assim, o paciente estaria à margem de
qualquer tratamento (sensação de exclusão por parte do SUS); b) foram esgotadas as
alternativas disponibilizadas pelo SUS, sendo o medicamento prescrito a única alternativa
para o paciente; c) o SUS só oferece cobertura para medicamentos de baixo custo financeiro e
413 Consta no Art. 3º da PORTARIA SAS/MS nº 741/2005: Os Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) devem prestar atendimento em todos os serviços abaixo descritos: I. Serviço de Cirurgia Oncológica; II. Serviço de Oncologia Clínica; III. Serviço de Radioterapia; e IV. Serviço de Hematologia.
252
este preceituado, por ser de alto custo, não estaria coberto pelo sistema; d) os medicamentos
previstos no SUS são ineficazes em relação ao fármaco indicado para o paciente.
A ideia de suposição é aqui adotada, pelo fato de não constar dos autos qualquer
justificativa do estabelecimento credenciado ao SUS (CACON ou UNACON) acerca dos
motivos que o leva a, descumprindo o pactuado e contratado com tal sistema público
(oferecimento de tratamento integral ao paciente SUS), encaminhar o paciente ao Judiciário
para pleitear aquilo que estava sob sua obrigação fazer. A obrigação aqui deve se voltar para
os próprios CACONs ou UNACONs, não para os médicos que lhes prestam serviços, pois o
SUS não pactuou com estes, mas sim com os estabelecimentos hospitalares.
Dessa obrigação contratual deflui que os CACONs e os UNACONs são partes
legítimas para integrarem as lides que buscam cobertura ou custeio de qualquer objeto ligado
à política oncológica do SUS (medicamentos, exames, procedimentos e/ou insumos), pois se
realmente um fármaco for considerado essencial ou imprescindível ao tratamento de um
determinado tipo de câncer (a ponto de ser introduzido em protocolos ou diretrizes
terapêuticas desses estabelecimentos hospitalares), a integração à lide aqui apontada
possibilitará, pelo menos, que sejam demonstrados os fundamentos que levaram os
profissionais dessa instituição a constituir tais linhas de tratamento, as razões técnicas e éticas
que afastaram a aplicação das diretrizes terapêuticas estabelecidas pelo SUS, bem assim as
possíveis diferenças de custos financeiros que deveriam ser ressarcidas pelo SUS414.
O pedido de integração à lide do CACON ou UNACON, na condição de litisconsorte
passivo, não foi admitida em nenhuma das ações analisadas no presente trabalho (como
também tem sido refutada nas instâncias superiores). O principal argumento para afastar tal
pleito está no fato de que “não se formula pedido algum em desfavor da Liga Norte-
Riograndense contra o Câncer, devendo esta entidade apenas figurar na presente relação
414 Cabe registrar que os relatórios médicos se restringem a afirmar que o(a) paciente necessita de tal medicamento e que o mesmo não está contemplado nas tabelas do SUS.
253
jurídico-processual na condição de participante, nos moldes do art. 14, caput e inciso V, do
Diploma Processual Civil”415.
Parece incongruente que a parte autora pudesse fazer pedido contra o
estabelecimento hospitalar que lhe entregou o receituário ou laudo médico e lhe instruiu a
procurar o Judiciário para obter tal medicamento ou tratamento. Pior, é quase improvável que
um paciente se volte contra o hospital onde faz tratamento, principalmente na situação de
fragilidade psicológica em que fica a maioria dos que se tratam na oncologia, e seus
familiares. Por outro lado, não há que se exigir que a população em geral pudesse ter
conhecimento e consciência das obrigações assumidas pelos CACONs e UNACONs para
com o SUS.
Também não é sentido qualquer interesse dos advogados e defensores públicos
federais que prestam assistência jurídica aos autores das ações judiciais aqui tratadas, no
tocante à inclusão dos CACONs e UNACONs como réus em suas petições iniciais. Aliás,
quando instada a se manifestar, os membros da Defensoria Pública da União têm se colocado
em posição contrária a essa integração à lide dos CACONs e UNACONs, o que é
perfeitamente compreensível, considerando o papel constitucional que lhe foi confiado, bem
assim em razão do apoio técnico que recebe dos profissionais médicos cujas prescrições
servem de fundamentos para a construção de seus pleitos na esfera judicial.
Não obstante, o chamamento dos CACONs e UNACONs ao feito tem merecido
acolhimento, acertadamente, pela jurisprudência pátria416, por reconhecer que, no Termo de
415 Trecho extraído da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0010792-42.2009.4.05.8400, em trâmite perante a 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte. 416 “EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARANÁ. OCORRÊNCIA. 1. Os medicamentos necessários para o seu tratamento são fornecidos pelos Centros de Alta Complexidade em Oncologia - CACONs - cabendo ao Ministério da Saúde o repasse dos recursos para o custeio dos procedimentos. É de competência dos Estados a eleição dos CACONs, assim, este ente também possui legitimidade para ocupar o pólo passivo da lide. 2. Agravo de instrumento e embargos de declaração improvidos”. (TRF4ª REGIÃO – 3ª TURMA, AGRAVO DE INSTRUMENTO 200904000152162, Decisão unânime, publicada no DE 11/11/2009, Des. Federal JOÃO PEDRO GEBRAN NETO).
254
Acordo firmado junto ao SUS, é do estabelecimento hospitalar a obrigação de dispensar os
medicamentos ao longo de todo o tratamento oncológico. Essa integração se lastreia
principalmente na hipótese do inciso III do art. 70, do CPC, embora também tenha sido
admitido o instituto processual do chamamento ao processo.
Outra questão processual desse tipo de ação que foi bastante discutida e percorreu
todas as instâncias do Poder Judiciário pátrio, tratou de estabelecer quais os entes federativos
que devem ou podem compor o polo passivo das demandas de saúde (aqui incluídas as ações
de oncologia). O delineamento dessa questão terminaria por impor, inicialmente, a
competência jurisdicional para apreciar e julgar tais matérias, bem assim a responsabilização
desses entes para com as condenações proferidas nesses processos.
Apesar de muitas das ações voltadas para a oncologia estarem tramitando perante a
Justiça Federal, constata-se pelos dados fornecidos pelo CNJ que o maior número de ações da
área da saúde (aqui compreendida em seus aspectos gerais e também as da oncologia) é
proposta na justiça estadual, em razão da capilaridade dessa esfera jurisdicional, já que em
quase todos os municípios brasileiros existe uma comarca, facilitando o acesso à justiça. Daí
se poder concluir que indistintamente as partes têm escolhido, majoritariamente, para compor
o polo passivo dessas demandas apenas os Estados e Municípios, já que em razão da previsão
contida no art. 109, inciso I, da atual carta constitucional brasileira, a participação da União
determinaria a competência absoluta da Justiça Federal.
O fato do polo passivo da maioria das ações de saúde está formado apenas por
Estados e Municípios tem trazido reflexos financeiros significativos em desfavor desses entes
federativos, principalmente em ações de oncologia, onde os medicamentos pleiteados e
deferidos são de custos elevadíssimos, de maneira que é possível que a condenação de um
determinado município de pequeno porte ao custeio de um desses medicamentos, possa
inviabilizar inúmeras ações e programas de saúde municipais, em razão dos escassos limites
255
orçamentários que lhe são peculiares. Esse efeito também pode ser sentido pelos pequenos
Estados da federação, cujos orçamentos para a saúde já estão comprometidos com as
execuções das políticas públicas regulares417.
A ausência da União nas ações de saúde tem sido atacada pelos demais entes
federativos que integram o SUS, por meio de pedido de integração à lide, na condição de
litisconsorte passivo necessário e consequente deslocamento da competência para a Justiça
Federal. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, acolhendo recursos interpostos por aquele
Estado da federação, entendeu pelo acolhimento dessa tese, determinando que os feitos que
tramitassem nas varas comuns da justiça daquele Estado fossem deslocadas para as
competentes varas federais. Essas decisões, porém, foram derrogadas pela decisão proferida
pela 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal que reconheceu que embora houvesse
solidariedade passiva entre os entes federativos que integram o SUS, isso não implicava em
chamamento obrigatório da União ao feito, principalmente quando a parte autora assim não o
tivesse querido, já que o acolhimento de tal preliminar revelar-se-ia medida meramente
protelatória e sem nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito e se
mostrar inconstitucional para evitar o acesso aos remédios, mantendo-se, a competência da
417 Segundo noticia o ESTADÃO: “O governo de São Paulo gasta cerca de R$ 57 milhões por mês para atender a cerca de 25 mil ações judiciais ou processos administrativos relacionados à saúde que estão em andamento”. (BASSETE, Fernanda. Gastos do Governo Gasto do governo com remédios via ação judicial cresce 5.000% em 6 anos. O Estado de são Paulo. São Paulo, 28 abr 2011. Disponível em http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,gasto-do-governo-com-remedios-via-acao-judicial-cresce-5000-em-6-anos,711740,0.htm. Acesso em 01 fev 2012). Dados apresentados pelo Secretário Estadual de Saúde do Estado do Rio Grande do Norte demonstram os gastos em cumprimento de decisão judicial envolvendo questão de saúde e as dificuldades enfrentadas pelos pequenos Estados da federação: “O Rio Grande do Norte gasta mais do que o orçamento de um mês inteiro destinado à saúde pública com ações judiciais movidas para compra de materiais para procedimentos cirúrgicos e medicamentos não fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Isso ocasiona um problema ao planejamento orçamentário da Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap). Para se ter uma ideia da situação, nos seis primeiros meses de 2011 foram gastos R$ 8.527.742,96 com esse tipo de ação. No ano passado, a conta chegou a R$ 18.379.942,08. O valor chega a ser maior do que o gasto mensal de custeio da Sesap, de R$ 17 milhões”. (RN gasta R$ 8,5 milhões em ações judiciais na área de saúde. Diário de Natal, Natal, 9 jul 2011. Disponível em http://www.diariodenatal.com.br/2011/07/09/cidades1_1.php. Acesso em 09 jul 2011).
256
Justiça Estadual nas hipóteses em que as ações de saúde forem propostas apenas contra
Estado e/ou Municípios418.
Esse aspecto pode vir a sofrer alguma modificação com o processo de expansão da
Justiça Federal, com a criação e instalação de diversas varas federais em vários municípios do
interior dos Estados da Federação, fato denominado de interiorização da justiça federal,
principalmente em relação às ações com pedidos em oncologia, já que também há uma
expansão e descentralização dos estabelecimentos hospitalares especializados na área
oncológica em direção aos municípios do interior dos Estados.
Essa confluência, aliada à instalação de órgãos de representação da Defensoria
Pública da União nos mesmos municípios em que são criadas as novas varas federais, pode
conduzir a uma mudança de postura dos profissionais do direito, passando a incluir a União
no polo passivo da demanda (mesmo que em conjunto Estado e Municípios), direcionando as
causas para a competência da Justiça Federal.
A Resolução 102/2010, do Conselho da Justiça Federal (CJF), define os municípios
onde serão instaladas as 230 varas federais criadas pela Lei 12.011/2009, destinadas,
principalmente, às Varas dos Juizados Especiais Federais (JEFs). Essa medida tem se
418 EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE (ART. 196, CF). FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE PASSIVA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESLOCAMENTO DO FEITO PARA JUSTIÇA FEDERAL. MEDIDA PROTELATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 196 da CF impõe o dever estatal de implementação das políticas públicas, no sentido de conferir efetividade ao acesso da população à redução dos riscos de doenças e às medidas necessárias para proteção e recuperação dos cidadãos. 2. O Estado deve criar meios para prover serviços médico-hospitalares e fornecimento de medicamentos, além da implementação de políticas públicas preventivas, mercê de os entes federativos garantirem recursos em seus orçamentos para implementação das mesmas. (arts. 23, II, e 198, § 1º, da CF). 3. O recebimento de medicamentos pelo Estado é direito fundamental, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos, desde que demonstrada sua necessidade e a impossibilidade de custeá-los com recursos próprios. Isto por que, uma vez satisfeitos tais requisitos, o ente federativo deve se pautar no espírito de solidariedade para conferir efetividade ao direito garantido pela Constituição, e não criar entraves jurídicos para postergar a devida prestação jurisdicional. 4. In casu, o chamamento ao processo da União pelo Estado de Santa Catarina revela-se medida meramente protelatória que não traz nenhuma utilidade ao processo, além de atrasar a resolução do feito, revelando-se meio inconstitucional para evitar o acesso aos remédios necessários para o restabelecimento da saúde da recorrida. 5. Agravo regimental no recurso extraordinário desprovido. (STF – 1ª TURMA, RE-AgR 607381/SC, Decisão unânime, publicada no DJ/DJE de 17/06/2011, Rel. Min. LUIZ FUX). Acompanhando esse mesmo entendimento, em decisão recente, a 2ª TURMA do STJ, deu provimento a diversos recursos do Ministério Público de Santa Catarina, tratando sobre o mesmo tema. (STJ – 2ª TURMA, RESP 1009947, Rel. Min. CASTRO MEIRA. Notícia disponível em www.stj.jus.br. Acesso em 16 fev 2012)
257
constituído numa maior aproximação do Judiciário Federal aos cidadãos que se encontram
fora dos maiores centros urbanos419.
Os processos analisados no tópico anterior demonstraram que, em se tratando de
ações em cujos pedidos se voltem à área da oncologia, talvez pelo fato dos CACONs e
UNACONs estarem localizados nas Capitais dos Estados ou em municípios de maior porte, as
ações judiciais promovidas por advogados privados, diferentemente daquelas propostas pela
Defensoria Pública da União420, geralmente são propostas apenas contra a União,
isoladamente, ou contra a União e o Estado. Essa escolha até se justifica, em razão da maior
compreensão do sistema de saúde, por parte das defensorias públicas e, a contrário senso, a
ausência dessa compreensão por parte da sociedade como um todo, o que termina por implicar
em propositura de ações judiciais apenas contra um dos entes federados, isoladamente,
tendendo a que estas sejam propostas na Justiça estadual.
Ainda em relação ao polo passivo, tem sido comum os entes federativos alegarem,
em suas defesas, preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, dando a compreender que
nenhum deles quer ver apreciada a questão posta em juízo (pelo menos se voltando para si),
esquecendo a ideia de que o sistema de saúde pública brasileiro é composto pelos entes
federativos, de maneira que todos eles têm interesse em vê esse sistema funcionar de maneira
ordenada, eficaz e eficiente na prestação de suas obrigações legais e/ou constitucionais. Essa
419 “A Justiça Federal vai ficar mais perto do cidadão, sobretudo daqueles que vivem distantes dos grandes centros. O avanço do processo de interiorização será possível com a entrada em vigor da Resolução 102/2010, do Conselho da Justiça Federal (CJF). [...] A resolução também estabelece o cronograma de instalação das varas, que vai até 2014 (serão 46 varas a cada ano), sendo que para 2010 está prevista a instalação das 46 primeiras unidades. O presidente do CJF, também presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Cesar Asfor Rocha, agradeceu aos conselheiros do CJF o “elevado espírito público” demonstrado ao longo das reuniões que definiram o teor da resolução” (JUSTIÇA Federal se amplia pelo interior do país. Folha do CJF. Informativo do Conselho da Justiça Federal. Brasília, nº 18, p. 6-7, abr/mai 2010). 420 Tomando em consideração os dados da pesquisa de campo, todas as ações de oncologia propostas pela Defensoria Pública da União foram propostas em desfavor da União, Estado do RN e Município de domicílio da parte autora.
258
questão perdeu seu sentido, tendo em vista a jurisprudência já sedimentada no sentido de
afastar a ilegitimidade passiva de qualquer dos integrantes do SUS421.
Outro aspecto que a jurisprudência nacional firmou foi o reconhecimento da
existência de solidariedade entre a União, Estados, Distrito Federal e Municípios nas ações de
saúde, ratificada pelo plenário do STF422. Assim, independentemente da organização técnico-
administrativa e normativa, traçada pelo SUS para a execução e o financiamento de seus
programas e políticas públicas, poderá o julgador escolher qualquer um dos corréus (isolada
ou conjuntamente) para cumprir a condenação que for imposta nas decisões de antecipação de
tutela, liminares ou em sentença de mérito, na forma e no tempo por ele determinado423.
Não há dúvida de que em relação às medidas de urgência esse entendimento se
justifica, tendo em vista que a efetivação da tutela e do bem da vida não devem ser retardadas
em razão de questões de cunho administrativo. Porém, a prática judiciária tem demonstrado a
necessidade, pelo menos em sede de decisão antecipatória de tutela, de que o julgador, não
obstante reconheça a solidariedade entre os entes do SUS, estabeleça, expressamente, no ato
judicial prolatado, os parâmetros obrigacionais de cada ente, sob pena de surgimento de
entraves de natureza procedimental e administrativo.
Processualmente falando, o não estabelecimento explícito desses parâmetros
obrigacionais muitas vezes faz com que cada um dos entes acredite que o outro irá cumprir a
421 Corroborando o entendimento jurisprudencial, existe normativo no SUS reconhecendo a solidariedade da União, dos Estados e do Distrito Federal na média e alta complexidade do SUS: “A garantia de acesso aos procedimentos de alta complexidade é de responsabilidade solidária entre o Ministério da Saúde e as Secretarias de Saúde dos estados e do Distrito Federal. (PORTARIA N.º 373/GM DE 27 DE FEVEREIRO DE 2002. – NOAS 01/2002)”. (BRASIL, Regionalização da Assistência à Saúde: aprofundando a descentralização com eqüidade no acesso: Norma Operacional da Assistência à Saúde: NOAS-SUS 01/02 e Portaria MS/GM n.º 373, de 27 de fevereiro de 2002 e regulamentação complementar, p. 17). 422 O principal fundamento para a solidariedade entre os entes que compõem o SUS está, segundo a jurisprudência do STF, na disposição contida no art. 23, II, da CF/88, como se depreende do seguinte trecho: “A competência comum dos entes da Federação para cuidar da saúde consta no art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações da área da saúde”. (trecho extraído do acórdão proferido no STA 175/CE – aprovado, por unanimidade pelo Plenário do STF – Rel. Min. Gilmar Mendes) 423 Observa-se, na prática, que a escolha tem sido feita de forma aleatória, sem muito critério objetivo ou amparado em normas de organização do SUS.
259
obrigação solidária imposta e, sob o argumento de que poderá haver cumprimento em
duplicidade, nenhum deles cumpre com a determinação judicial, gerando descrédito para o
Judiciário, ineficácia e retardo na efetivação da tutela jurisdicional. Muitas vezes, porém,
temendo imposição de multa diária, em face de possível descumprimento, todos os entes
cumprem a obrigação de fazer, dispensando os medicamentos pleiteados ao paciente, com
desperdícios de dinheiro público e, às vezes, sem conhecimento desse dúplice ou tríplice
cumprimento.
Porém, independentemente dos parâmetros iniciais estabelecidos pelo juízo para
cumprimento da obrigação deferida em sede de antecipação de tutela ou em sede liminar,
quando do exame de mérito da demanda, havendo política pública que ofereça cobertura para
o bem pleiteado, é essencial que essa solidariedade se traduza em níveis de responsabilização
de cada ente do SUS, pois existem disciplinamentos normativos que estabelecem a
organização descentralizada das ações e serviços de saúde no SUS, bem como o
correspondente financiamento dessas ações e serviços. A solidariedade reconhecida pela
jurisprudência vai respeitar esse disciplinamento? Por exemplo: o Componente Básico da
Assistência Farmacêutica é financiado pelos três entes federados, sendo que desde janeiro de
2010, a União repassa a quantia de R$ 5,10/habitante/ano e os Estados e Municípios devem,
repassar cada um deles, no mínimo R$ 1,86/habitante/ano, com repasses mensais,
equivalentes a 1/12 (um doze avos), com base na população apurada pelo IBGE424. Em caso
de condenação solidária e designação de um deles, isoladamente (União, Estado ou
Município), ao custeio e fornecimento de um medicamento constante da lista do componente
da atenção básica, como e em que proporção irá pedir o ressarcimento aos demais corréus e
424 Em conformidade com o art. 2º da Portaria GM/MS nº 4.217, de 28/12/2010 (Publicada no DOU de 29/12/2010 – Seção I – p. 72), que “Aprova as normas de financiamento e de execução da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica” no SUS.
260
devedores solidários?425. Outrossim, se o ente escolhido para cumprir a obrigação de fazer,
determinada no comando judicial, estiver regularmente cumprindo com a sua obrigação no
financiamento desse componente, estaria sendo penalizado indevidamente e estaria
financiando a mesma política pública duplamente.
Hipótese diversa é aquela em que o pedido trazido pela ação de saúde não está
acobertado por nenhuma das políticas públicas do SUS ou a prescrição médica não se
enquadra nos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticos desse sistema de saúde. Neste caso,
não havendo previsão legal ou normativa que estabeleça formas de financiamento entre os
entes do SUS, terá que ser o comando jurisdicional que determinará possíveis ressarcimentos
dos valores despendidos pelo executado que cumprir, integralmente, a obrigação judicial ou
rateio financeiro dos custos pelos entes que não participaram da execução direta. A
inexistência dessa repartição de custos nas decisões e/ou sentenças dificultará os
ressarcimentos porventura existentes, na via administrativa, considerando que pelo princípio
da legalidade, os órgãos da administração pública só poderão efetuar ressarcimentos, se
houver norma legal que assim estabeleça ou por determinação judicial, o que poderá causar
prejuízos financeiros a um dos entes federativos, principalmente àqueles com menor poder
orçamentário, com reflexos diretos sobre a execução das políticas regulares de saúde de
responsabilidade do respectivo ente da federação.
Nas ações envolvendo pedidos da área da oncologia, acima analisadas, por se
tratarem de pedidos em desconformidade com as diretrizes terapêuticas do SUS, verificou-se
que em sede de decisão de antecipação de tutela, as seguintes modalidades de distribuição
obrigacional: a) em nenhuma delas o Município foi escolhido para adquirir e dispensar o
425 Situação semelhante ocorrerá toda vez que um dos entes federados for condenado, solidariamente, a custear e dispensar medicamento cuja responsabilidade no SUS esteja afeto ao outro ente da federação. Por exemplo, em se tratando de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), o art. 9º da Portaria GM/MS nº 2.981/2009 estabelece que os medicamentos do Grupo 1 são da responsabilidade da União, do medicamentos que compõem o Grupo 2 são da responsabilidade dos Estados e Distrito Federal e os do Grupo 3 são de responsabilidade do Distrito Federal e Municípios.
261
medicamento pretendido; b) em algumas delas a obrigação total foi deferida somente contra a
União (custear, adquirir e dispensar); c) por vezes somente contra o Estado (custear, adquirir e
dispensar); d) também em algumas das decisões impuseram o repasse dos recursos pela União
(antecipadamente) e a aquisição e dispensação pelo Estado do RN; e) aquisição e dispensação
pelo Estado do RN, com apresentação da nota fiscal ou fatura, para posterior ressarcimento
pela União (100% ou 50%). Quando do julgamento de mérito, pequenas modificações foram
efetuadas nas decisões de tutela, neste particular, quando muito há redefinição da
responsabilização dos custos, passando o Município a integrar o rateio, numa proporção de
1/3 (terça parte) para cada ente do SUS.
6.2.1.2 O papel e a importância da instrução probatória nas demandas de saúde
A processualística pátria tem reservado um lugar de destaque para o instituto da
prova, em qualquer um dos ramos do direito processual, dada a sua importância não apenas
como instrumento de demonstração dos fatos suscitados pelas partes, mas, principalmente,
como formador de convicção do julgador, materializando os princípios constitucionais do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Este postulado genérico se traduz num leque de opções legais, postos à disposição
dos litigantes, podendo estes se utilizarem dos meios de provas disponibilizados, com a
finalidade de demonstrar o que entendem lhe serem devidos, por meio do processo.
Dada a complexidade da causa, nem sempre as provas documentais e testemunhais
são suficientes para dar segurança jurídica ao julgador, no momento de decidir. Entram, em
cena, pois, os outros meios de prova reconhecidos pelo sistema jurídico nacional, entre elas,
estão a prova técnica ou pericial e a inspeção judicial.
262
Nas ações de oncologia, especialmente naquelas cujo objeto é medicamento
antineoplásico, a prova técnica tem um valor inestimável, eis que traz, além da complexidade
da causa que lhe é peculiar, a interpretação de informações técnicas controversas, juntadas
pelas partes (autor - mediante laudo médico circunstanciado, com indicação de fontes de
pesquisas científicas sobre o alegado – e os réus – mediante pareceres elaborados por suas
áreas técnicas).
Diferentemente de outras demandas em que a perícia técnica é mais voltada para o
exame clínico do paciente em si, na oncologia a perícia técnica se volta para um divisor de
águas entre as questões suscitadas pelas provas técnicas trazidas pela parte autora e pelas rés.
Além disso, essa prova pode também ser utilizada, pelo juízo, para auxiliá-lo na compreensão
dos termos técnicos utilizados na área oncológica e que, decerto, terão implicações no ato de
decidir.
Dando relevo à necessidade de robusta instrução probatória nas demandas da saúde,
o plenário do STF fez questão de atentar para o cuidado que os operadores do direito devem
ter para com essas demandas, evitando-se a produção padronizada de peças processuais
(iniciais, contestações e sentenças), com a consequente perda das “especificidades do caso
concreto examinado, impedindo que o julgador concilie a dimensão subjetiva (individual e
coletiva) com a dimensão objetiva do direito à saúde”426.
O que se reclama na praxe forense é a total ausência de utilização da prova técnica,
muitas vezes já constante dos autos, pois como visto nos processos tomados como referência
no presente estudo, as ações de saúde estão bastante instruídas com documentos, de ambas as
partes, os quais discutem a evidência científica do tratamento ou medicamento prescrito,
considerando o caso fático trazido na demanda.
426 STF – PLENÁRIO, STA-AgR 175/CE.
263
Não há dúvida da complexidade dessas informações técnicas, mas também não há
prescindir de sua compreensão, por parte dos operadores do direito, principalmente pelo
julgador, porque são elas que deverão estabelecer os fundamentos técnicos que devem
subsidiar os fundamentos jurídicos427.
É comum nas ações da área da oncologia a utilização de termos técnicos, específicos
dessa área da medicina, que o julgador deve deles se apropriar, permitindo uma real
compreensão dos limites da demanda. Aliás, poderíamos até dizer que uma ação judicial de
oncologia em que não se faz a análise da finalidade terapêutica do fármaco prescrito, passou
ao largo do problema social trazido na questão. Entre esses termos podemos destacar os
seguintes: quimioterapia adjuvante, quimioterapia para controle temporário de doença,
quimioterapia paliativa, quimioterapia curativa, cuidados paliativos, sobrevida livre de
doença, sobrevida total.
Assim, numa ação judicial cujo pedido se traduz em um dado medicamento, de custo
financeiro muito elevado (especialmente para um sistema público como o SUS), e fica
demonstrado pela prova de medicina baseada em evidência de que o referido fármaco tem
finalidade meramente paliativa (sem nenhuma possibilidade de cura, aumento de sobrevida ou
de sobrevida livre de doença), o julgador, analisando o mérito da demanda, poderá até proferir
julgamento de procedência, determinando que o sistema público custeie tal medicamento para
o tratamento paliativo da parte autora, mas deveria afastar os fundamentos técnicos (constante
da prova existente nos autos), por meio de princípios jurídicos de maior envergadura e de
maior prevalência.
427 Discorrendo sobre os cuidados que os Órgãos do Poder Judiciário devem ter para com o ativismo judicial: “Não se podem olvidar ainda outros cuidados. Um deles é a necessidade da corte constitucional em valorizar a atividade legislativa, pondo o tribunal em condições de conhecimento da realidade dos fatos, sendo salutar uma atividade de instrução, na qual se permita a participação de segmentos sociais e políticos para a coleta de informações sobre determinados aspectos da complexa vida coletiva a que se refere o ato normativo cuja validade é questionada” (Edilson Pereira Nobre Júnior, ativismo judicial: possibilidades e limites, p. 13-14)
264
Nesse mesmo sentido é necessário que haja uma compreensão técnica acerca dos
dados percentuais trazidos nas demandas de saúde, pois, por vezes, por incompreensão dos
operadores do direito, são feitas leituras precipitadas desses dados, ao ponto de se indicar
percentuais de cura e de sobrevida total que não condizem com os elementos estatísticos
contidos nas notas técnicas e estudos de evidência científica sobre a matéria.
As decisões, assim, quando se voltam para o aspecto técnico da questão,
supervalorizam o receituário médico trazido aos autos, elevando a opinião de especialista ao
nível mais elevado da certeza científica428, muitas vezes esquecendo ou desconsiderando que
em termo de Medicina Baseada em Evidências (MBE)429, a opinião do médico especialista
encontra-se localizada no último nível da pirâmide das evidências científicas430.
Ora, os órgãos do Poder Judiciário, quando da apreciação das ações de saúde, não
podem deixar de considerar os estudos científicos já sedimentados na área da medicina,
desprezando os conhecimentos que esta ciência consolidou ao longo de anos de estudos
validados, minuciosamente analisados e com qualidade comprovada.
Por essa razão, torna-se imprescindível que o próprio Poder Judiciário tenha em seus
quadros funcionais profissionais da área médica, com domínio em busca e análise de dados
428 Eis alguns exemplos de supervalorização do receituário médico, por parte dos Órgãos do Poder Judiciário: “Saliento ser essa profissional de saúde a pessoa realmente indicada para decidir qual é o tratamento eficaz a sua paciente, haja vista ser ela que a assiste, tendo, pois, conhecimento das particularidades do caso. Demais, frise-se que não há nos autos nenhum elemento que desabone os documentos médicos apresentados pela demandante, não havendo a alegada necessidade de perícia médica, veiculada pela União, pois os elementos constantes do caderno processual o instruem suficientemente. Destarte, entendo-os como sendo suficientemente idôneos a subsidiar o meu corrente entendimento” (Trecho da decisão proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0003796-91.2010.4.05.8400, em trâmite perante a 4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do RN). Dando relevo aos documentos firmados por profissionais da medicina, sob a suposição de parecer “ser a única medida considerada viável para a sobrevivência do paciente” conferir o teor do acórdão proferido pelo TRF2ª REGIÃO – 6ª TURMA ESPECIALIZADA, AC 200850010033720, Decisão unânime, Publicada no E-DJF2R - Data::21/06/2010 - Página::326, Relator Desembargador Federal GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA. 429 Tratando sobre a importância da Medicina Baseada em Evidências (MBE): “A medicina baseada em evidências (MBE) é definida como o elo entre a boa pesquisa científica e a prática clínica. Em outras palavras, a MBE utiliza provas científicas existentes e disponíveis no momento, com boa validade interna e externa, para a aplicação de seus resultados na prática clínica. Quando abordamos o tratamento e falamos em evidências, referimo-nos a efetividade, eficiência, eficácia e segurança”. (Regina Paolucci El Dib, Como praticar a medicina baseada em evidências, p. 1) 430 Regina Paolucci El Dib bem descreve a organização dos níveis na pirâmide da medicina baseada em evidências, mostrando que a opinião de especialistas pertencem ao nível VIII na referida ordem piramidal (op. cit, p. 2).
265
extraídos das bases de dados bibliográficos em saúde431, com a finalidade de poder prestar
assessoria técnica aos magistrados, especialmente quanto à validação dos medicamentos
requeridos em juízo, frente aos benefícios que o tratamento proposto poderá trazer à parte
autora, bem assim acerca da eficácia, efetividade, eficiência, segurança e custo-efetividade do
fármaco apreciado na demanda.
Como se observa, embora a prova pericial nos casos de oncologia se torne
imprescindível, nem sempre é fácil encontrar um profissional com experiência nas técnicas de
medicina baseada em evidências ou na utilização dos parâmetros avaliativos dessa área do
conhecimento da ciência médica, motivo pelo qual nem sempre a escolha do perito judicial
pode ser decidida pelo simples fato de o escolhido ser profissional de uma determinada área
específica da medicina. Necessário se faz que o perito judicial tenha conhecimento e
habilidade para interpretar os dados clínicos, farmacoterapêuticos e estatísticos contidos nos
laudos médicos (geralmente trazidos pela parte autora), nos pareceres das áreas técnicas do
SUS (comumente trazidos pelos entes do SUS), bem assim nas próprias pesquisas realizadas
pelo próprio perito nas bases de dados bibliográficos em saúde.
Segundo notícia veiculada no site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), duas
experiências exitosas (no que diz respeito a apoio técnico aos magistrados nas ações de saúde)
são: o Núcleo de Assessoria Técnica (NAT), no Rio de Janeiro, e o Plantão Judiciário no
Tribunal de Justiça da Bahia. O primeiro é formado por uma equipe de 26 profissionais (entre
eles farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, médicos e servidores da área administrativa do
TJRJ) os quais analisam e produzem laudos, num prazo de até 48 horas. Essa prática contribui
para uma prestação jurisdicional ágil e precisa nas demandas de saúde, além de trazer
benefícios diretos à população. No segundo, o “plantão instalado permite aos juízes que
recebem pedidos de liminar referentes à assistência à saúde, ter apoio e assessoramento,
431 As bases de dados bibliográficas são fontes de referência onde se encontram registros de citações ou referências bibliográficas e muitas vezes resumos de trabalhos publicados, e, mais recentemente, links para o acesso ao trabalho completo.
266
durante 24 horas do dia, de um profissional da área para orientações e informações sobre
medicamentos e necessidades exigidas por determinados casos clínicos” 432.
Reforçando a ideia da essencialidade da apreciação da prova técnica nas ações de
saúde mais complexas e sobre a necessidade de abertura do Poder Judiciário à colaboração de
outras áreas do conhecimento humano, aqui incluídas as ações da área da oncologia, merecem
elogios as considerações lançadas por André Ramos Tavares433, pela simplicidade, polidez e
segurança com que traz a questão à tona ao assim consignar:
Fica, claro, portanto, que a Constituição, em suas normas abertas, imprecisas, as quais findam por serem atreladas à realidade, demandam a multidisciplinaridade. A leitura da realidade somente será completa com a participação das outras ciências. O prisma jurídico é um prisma parcial e imperfeito. E seria hipocrisia dizer que não.
Diante desses pressupostos, e considerando o tipo de medicamento pleiteado ou a
complexidade da questão posta em juízo, a perícia técnica além de essencial nas ações que
envolvem medicamentos oncológicos, poderia ser feita por uma equipe multiprofissional,
integrada, pelo menos, por médicos especialistas e farmacêuticos, preferencialmente do
próprio quadro de pessoal dos Órgãos do Poder Judiciário, com especialização em Medicina
Baseada em Evidências e políticas públicas de saúde.
6.2.2 O delineamento jurisprudencial no tocante às questões de ordem material
Tendo feito um exame das primeiras questões jurídicas que circundam as ações da
área da saúde oncológica, volta-se, neste momento, para uma análise do objeto material desse
tipo de demanda judicial. Parte-se da premissa de que a análise objetiva das ações de saúde
432 (CAVALCANTI, Hylda. Núcleo de assistência às demandas judiciais no RJ já emitiu 2.800 pareceres. Agência CNJ de notícias. Brasília, 03 mai 2011. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/14208-nucleo-de-assistencia-as-demandas-judiciais-de-saude-do-rj-ja-emitiu-2800-pareceres>. Acesso em 18 fev 2012) 433 André Ramos Tavares, Abertura epistêmica do direito constitucional, p. 27.
267
que tratam da oncologia tem que ser no sentido de buscar respostas para as seguintes
indagações ou questionamentos: a) o pedido autoral aponta para a ocorrência de omissão,
inexecução ou ineficácia na prestação das ações e serviços previstos para a PNAO?; b) que
vantagens terapêuticas (ou benefícios) os medicamentos antineoplásicos trazidos nas ações
judiciais trazem ao paciente, quando comparados aos tratamentos disponibilizados e cobertos
pelo SUS?; c) as possíveis vantagens estão, de fato, comprovadas pela medicina baseada em
evidência e são suficientemente imprescindíveis à manutenção da vida do paciente, em sua
plenitude?; d) as razões do SUS para a não-incorporação dos fármacos judicializados estão
legitimados nos princípios e diretrizes que lhes dão sustentação?
Na verdade, a questão objetiva e central das demandas da área da oncologia gira em
torno da própria análise da efetivação e/ou concretização do direito à saúde,
constitucionalmente assegurado pela atual Carta Magna brasileira. Todas as demais questões
gravitam em torno dessa problemática central, embora a realidade judiciária tem demonstrado
que para se ter uma radiografia precisa do problema trazido a juízo, será preciso oferecer
respostas às questões secundárias, fazendo transparecer os fundamentos que dão sustentação à
tomada de decisão judicial.
As ações judiciais da área da oncologia podem ter por objeto jurídico tudo aquilo
que a Política Nacional de Atenção Oncológica se propõe a cumprir nessa área da ciência
médica: “linha de cuidados que perpasse todos os níveis de atenção (atenção básica e atenção
especializada de média e alta complexidade) e de atendimento (promoção, prevenção,
diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos)”434.
É visível, pois, que há um leque de opção objetiva que pode vir a ser objeto de
demandas judiciais, ante a amplitude e dimensão da PNAO. Aliás, os dados apurados pelo
Tribunal de Contas da União (TCU) e algumas notícias veiculadas pelos meios de
434 Art. 2º, inciso II combinado com o art. 3º e seus incisos, da PORTARIA GM/MS nº 2.439/2005.
268
comunicação de massa no país, dão conta da existência de diversos problemas e omissões do
Poder Público, na execução dessa política pública435. Como consequência desses entraves e
omissões na execução da PNAO muitas ações judiciais podem vir a ser propostas contra o
SUS, objetivando a efetivação e concretização dos fins estabelecidos na referida ação
governamental. Não obstante, a mostra representativa de processos aqui tomada por referência
demonstra que pelo menos no Estado do Rio Grande do Norte, o pedido que mais prevalece é
o de custeio, pelo SUS, dos medicamentos antineoplásicos que não estariam contemplados
pela política daquele sistema público de saúde.
Foi possível mapear, também, os medicamentos que têm sido objeto das demandas
judiciais, bem assim, o correspondente tratamento a que se propõe com cada um deles436.
Constata-se que, salvo poucas exceções, não há uma correlação entre o medicamento indicado
e única indicação de tratamento. Esse fato, por si só, conduz a que o julgamento da demanda
435 O Jornal do Comércio, de Pernambuco, traz a seguinte notícia: “O usuário do SUS Marcos Antônio Pereira Neto, 62 anos, foi submetido à biopsia para esclarecer tumor na próstata que compromete a função urinária. A resposta que o urologista queria receber em uma semana – pois, além da suspeita de câncer, Marcos é diabético e tem risco de complicações – só saiu em 67 dias, 37 além do prazo dado pelo serviço de patologia do Hospital Barão de Lucena, da rede estadual”. (Verônica Almeida, Paciente esperou 67 dias por laudo após biopsia. Jornal de Pernambuco. Recife, 19 jan. 2012. Disponível em: < http://jconlineblogs.ne10.uol.com.br/maissaude/paciente-esperou-67-dias-por-laudo-apos-biopsia>. Acesso em 30 jan 2012). Essa outra notícia traz a informação de ação proposta pelo MPF: “Pelo menos 350 pessoas esperam para fazer biópsias para diagnóstico de câncer. A fila em Uberlândia para esse procedimento é, em média, de sete meses. Uma ação movida pelo Ministério Público Federal (MPF) contra a União, Estado e município, responsáveis pelo gerenciamento do Sistema Único de Saúde (SUS) aponta que 312 homens com suspeita de câncer de próstata esperam, com sondas no corpo, a realização de exames e mais 30 pessoas encaminhadas pelas as Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) aguardam atendimento especializado para tratamento de câncer de fígado”. (Clarice Monteiro, Fila de espera para biópsia de câncer é de até sete meses, Correio de Uberlandia. Uberlândia, 16 abr. 2011. Disponível em: http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade-e-regiao/fila-de-espera-para-biopsia-de-cancer-e-de-ate-sete-meses. Acesso em 25 nov. 2011). O conteúdo dessas notícias foram ratificadas pelos analistas do Tribunal de Conta da União (TCU), conforme consta no Acórdão TCU nº 2843/2011-Plenário, já tratado no presente trabalho, no capítulo anterior. 436 Segundo o que constava nas petições iniciais, os medicamentos foram pedidos para os seguintes tratamentos: 1) Trastuzumabe (Herceptin): neoplasia maligna de mama; 2) Rituximabe (Mabthera): Linfoma Não-Hodgkin de Células B – adultas, Linfoma Não-Hodgkin de grandes células do pulmão, Linfoma Não-Hodgkin – neoplasia de gânglios linfáticos, Linfoma Não-Hodgkin /linfócitos de células B/leucemia linfóide crônica, Linfoma Não-Hodgkin – células B da zona do manto, Linfoma folicular grau III; 3) Imatinibe (Glivec): Leucemia Mielóide Crônica, neoplasia de fígado, neoplasia de íleo, tumor estromal gástrico e hepatocarcinoma avançado; 4) Temozolomida (Temodal): astrocitoma anaplásico, gioblastoma multiforme, neoplasia neuroepitelial de alto grau, astrocinoma linforma maligno encefálico, meduloblastoma metastático; 5) Pemetrexede (Alimta): câncer de pulmão; 6) Bevacizumabe (Avastin): glioma cerebral, neoplasia maligna de coróide, neoplasia de cólon; 7) Cetuximabe (Erbitux): adenocarcinoma de colo recedivado e metastático; 8) Sunitinibe (Sutent): neoplasia maligna de rim, carcinoma de células claras; 9) Sorafenibe (Nexavar): câncer de fígado; 10) Alemtuzumabe: Linfoma Não-Hodgkin das células T SOE; 11) Erlotinibe (Tarceva): adenocarcinoma metastático de linfonodo subcarinal; 12) Bortezomibe (Velcade): Linfoma Não-Hodgkin do manto e mieloma múltiplo.
269
passe, necessariamente, por uma análise da prescrição médica, da finalidade do fármaco
preceituado e sua compatibilização com os princípios constitucionais que vierem a subsidiar a
decisão judicial.
A jurisprudência pátria, em todas as instâncias jurisdicionais, quando do julgamento
de mérito (também das decisões antecipatórias de tutela ou liminares) tem se orientado por
ignorar a existência da política do SUS para tratamento do paciente com câncer. Pouquíssimas
decisões judiciais chegam a traçar qualquer fundamento acerca da existência dessa política,
tampouco sobre o fato de que o comando sentencial estaria apenas a realizar as diretrizes e os
objetivos traçados por tal política pública (em razão da omissão ou inércia administrativa).
Também não se verifica uma análise sobre os benefícios que o medicamento deferido trará ao
paciente, quando em comparação ao tratamento disponibilizado e coberto, pelo SUS, para
aquela mesma enfermidade437.
Tais decisões, ao reconhecer o direito da parte autora em ter o medicamento custeado
pelo SUS, tomam como referencial fático o acometimento da doença pelo autor, o receituário
médico contendo determinado medicamento antineoplásico e a afirmação do profissional
médico de que este fármaco é essencial e necessário ao tratamento desse agravo à saúde, além
de informar sobre a inexistência de outro medicamento alternativo que possa cumprir a
finalidade terapêutica para a qual está sendo proposto438. Também integra o arcabouço fático,
437 Aqui merece destaque para a decisão que apreciou pedido de antecipação de tutela, proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0008904-38.2009.4.05.8400 – em trâmite perante o Juízo da 9ª Vara Federal/RN, com sede em Caicó/RN, a qual fez análise sumária da documentação acostada pela parte autora e pelas rés, reconhecendo que o parecer técnico juntado pela União demonstrava a ausência de comprovação de evidência científica do fármaco pleiteado e, aplicando os princípios constitucionais de regência do SUS, bem assim o princípio da proporcionalidade, terminou por indeferi-lo. Eis o trecho em que o julgador examina a questão: “Além disso, o medicamento pleiteado pelo requerente para o seu tratamento anual, na forma como pretende ser ministrado, possui valor por demais elevado (R$ 250.054,80), ainda mais quando não suficientemente comprovada a sua eficácia e imprescindibilidade de sua utilização para o tratamento da demandante”. 438 Interessante a análise traçada por HOFFMANN E BENTES ao tratar das características das ações judiciais relacionadas à saúde, com ênfase na ausência de análise da questão da efetividade e eficácia do medicamento ou procedimento requerido, tanto nas ações individuais quanto nas ações coletivas, ficando a análise presa às questões meramente formais trazidas no feito judicial. (Florian Hoffman e Fernando R. N. M. Bentes, A litigância judicial dos direitos sociais no Brasil: uma abordagem empírica, p. 406/407).
270
a informação de que as tabelas do SUS para a oncologia não contemplarem a cobertura para
medicamento.
O silogismo dessas assertivas fáticas conduz ao enquadramento dos argumentos
jurídico-constitucionais que dão sustentação ao posicionamento do julgador, nos seguintes
moldes: a) é inegável o direito do cidadão à assistência estatal direcionada à proteção da saúde
e ao tratamento médico-hospitalar prestado pelo Estado, em caso de ameaça à incolumidade
física ou mental de paciente que recebe atendimento por unidade que o integra (interpretação
do caput do art. 196 da CF/88); b) a situação demonstrada pela suplicante recai em típico
cenário que reclama a consagrada concretização constitucional de direito fundamental social
de natureza prestacional (direito fundamental de segunda dimensão), exigindo-se do
Judiciário, como órgão integrante da estrutura estatal, postura ativa e realizadora das cláusulas
constitucionais que implicam ações de prestação positiva do Estado, sob pena de transformar
o texto que as veicula em mera alegoria normativa carente de efetividade no mundo fático; c)
o princípio da dignidade de pessoa humana não deve ser visto somente na ótica meramente
negativa, impedindo eventual intromissão do ente estatal (Poder Público) no núcleo essencial
que o caracteriza, mas também como elemento-base de conteúdo axiológico norteador das
ações positivas ou dos direitos a prestações ativas; e d) fica evidente que o não fornecimento
do medicamento desejado, por parte do SUS, malfere o princípio da proporcionalidade e, em
última análise, o direito a esta prestação em formado do direito à saúde439.
Num primeiro plano é de se reconhecer que a base fundamental dos julgados na área
da saúde, de uma forma geral (e também na oncologia), tem centrado suas considerações na
preponderância dos preceitos constitucionais que regem a matéria da saúde, afastando toda e
qualquer restrição de ordem jurídico-administrativa suscitada em defesa do SUS (princípio da
439 Argumentos extraídos da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária nº 0005924-21.2009.4.05.8400, em trâmite perante a 1ª Vara Federal/RN.
271
separação dos poderes, mínimo existencial, reserva do possível440 e excassez de recursos
orçamentários) e têm sido balizadas pela garantia da incolumidade à vida e à dignidade da
pessoa humana.
Mesmo assim, é imprescindível destacar que nestas ações pelo menos dois interesses,
constitucionalmente tutelados, ganham relevância: o primeiro deles, trazido aos autos pelos
proponentes destas ações dá destaque à promoção da saúde, com reflexos sobre os princípios
da dignidade da pessoa humana e da garantia da vida e da incolumidade – com amparo nos
artigos 6ª; 7ª, IV; 34, VII; 35, III; 196; 197; 198; 199; 200 e 227, § 1º, todos da Carta
constitucional vigente no Brasil; o segundo, reiteradamente suscitado pelos réus, traz a cotejo
a alegação de dispêndio racional dos recursos públicos – fundamentados nos artigos 37, XVI;
70; 71; 72; 74; 84, XXIII; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 16; e 195, § 2o da Constituição
Federal de 1988.
Abstraindo-se das questões de limitação estritamente econômico-orçamentária - que
geralmente constitui um dos argumentos em favor do acolhimento da tese de dispêndio
racional de recurso público -, as quais devem ser interpretadas em conjunto com os demais
elementos de convicção do julgador, pois dada a complexidade das matérias e os aspectos
técnicos que circundam o objeto da lide dessas ações, torna-se imprescindível que o juiz se
valha de postulados aplicativos-normativos, capazes de estruturar uma solução otimizante
para cada caso, em particular, aplicando-se o postulado da proporcionalidade.
Assim, caso a caso, o magistrado deve verificar se o pedido de fornecimento de
medicamento está em consonância com o princípio da proporcionalidade, razão pela qual
440 “A simples alegação de escassez de recursos (reserva do possível) não justifica a omissão estatal na área da efetivação dos direitos fundamentais, sendo necessário demonstrar, de maneira legal, impessoal, moral e pública a eficiência da administração pública (art. 37, caput), por meio de uma maximização dos recursos, a efetiva indisponibilidade total ou parcial desses e o não desperdício dos fundos existentes; num primeiro momento. Posteriormente há que se verificar o atendimento da soma fixada na Constituição por cada nível de governo, sendo essa uma opção política, tendo em vista a finitude dos recursos, esses estarão sujeitos a escolhas e, portanto á prioridades políticas” (Tânia Margarete Mezzomo Keinert, Direitos fundamentais, direito à saúde e papel do executivo, legislativo e judiciário: fundamentos de direito constitucional e administrativo, p. 97-98)
272
deverá se utilizar do método de aplicação desse princípio constitucional, utilizando-se dos
seus subprincípios, através dos quais devem ser respondidas as seguintes indagações, de
forma sucessiva e excludente: a) entre os vários meios disponibilizados pelo Estado, o
remédio mencionado na petição inicial é o mais adequado a realizar o fim pretendido
(adequação)?; b) há meios alternativos para a promoção do mesmo fim com menor gasto para
o Estado (necessidade ou exigibilidade)?; c) a melhoria que o autor terá com o uso do remédio
justifica os gastos que o Estado terá, ou seja, os benefícios cientificamente comprovados
(comparados ao tratamento já fornecido pelo SUS) justificam o dispêndio financeiro que será
efetuado pelos entes da Administração Pública (proporcionalidade em sentido estrito)?
Sob esse enfoque, uma análise mais acurada das decisões proferidas nas ações de
oncologia, principalmente se essa análise levar em consideração as provas técnicas constantes
dos autos e for subsidiada por elementos das ciências correlatas441, poderá até ratificar as
conclusões fáticas e jurídicas nelas explicitadas, dando aos julgados mais legitimidade e
segurança jurídica, já que pautadas não apenas na realidade dos fatos, mas desses sobre os
direitos fundamentais.
Por sua vez, as conclusões fáticas poderiam colocar o julgador diante da efetiva
colisão de direitos fundamentais ou até mesmo demonstrar a inexistência de qualquer violação
aos apontados princípios da dignidade da pessoa humana e da manutenção da vida, fazendo
com que tais decisões tivessem que, explicita e concretamente, sopesar os valores envolvidos
no litígio. É o caso, por exemplo, quando as evidências científicas demonstram que um
medicamento tem eficácia comprovada na cura de um determinado agravo de saúde, mesmo
que em pequena percentagem. Ainda que o sistema público de saúde alegue que a
incorporação do referido fármaco é contra-indicado em razão da relação entre a pequena
percentagem de pessoas que seriam beneficiados com a cura e os custos do medicamento para
441 Destacando a importância de o novo constitucionalismo ser multidisciplinar: “A era iniciada pelo Constitucionalismo, ao contrário, demanda um maior conhecimento dos outros saberes, além do da simples letra do texto escrito”. (André Ramos Tavares, Abertura epistêmica do direito constitucional, p. 21)
273
o referido sistema. Nessa hipótese, o juízo de ponderação entre os interesses postos parece
não ser tão difícil, tendo em vista o bem que merece maior proteção nesse caso, a busca da
manutenção da vida, que prevalece sob qualquer outro bem ou fundamento de natureza
econômica ou jurídico-administrativa442.
Porém, em se tratando de medicamento em que as evidências científicas demonstrem
a impossibilidade de cura do paciente e fique comprovado, estatisticamente, que o benefício
trazido com a ministração do fármaco seria apenas um ganho de sobrevida de menos de 2 ou 3
meses, com um alto custo financeiro para o SUS, o juízo de ponderação já exigirá maior
aprofundamento acerca dos bens e interesses contrapostos, principalmente porque geralmente
esses fármacos são complementares ao tratamento disponibilizado pelo SUS, razão pela qual
parece não haver sentido falar-se, neste caso, em proteção direta à vida, ficando a ponderação
voltados para a dignidade da pessoa doente, frente aos princípios constitucionais que regem a
Administração Pública443.
Apenas para ilustrar a necessidade de ponderação (tanto da Administração Pública,
quando dos órgãos do Poder Judiciário) diante da ausência ou da fraca evidência científica de
um medicamento, ainda quando este já tenha aprovação até por agências internacionais de
442 Interessante as considerações firmadas por José Ruben de Alcantara Bonfim quando assevera que “ao se deparar com um solicitação apresentada sob forma de ação judicial, o magistrado, a um tempo em que considera o arcabouço jurídico-legal deveria ter em mente os fundamentos da farmacoterapêutica. Inicialmente, dever-se-ia entender que a farmacoterapêutica, isto é o desenvolvimento e utilização de especialidades farmacêuticas é uma tarefa de elevada complexidade e uma atividade social necessária”. (Demandas judiciais por fármacos no Sistema Único de Saúde: direitos dos pacientes e provas científicas para se realizar o acesso, p. 147) 443 Aqui vale citar a recomendação feita por DANIEL SARMENTO quando trata da questão do papel do Judiciário na concretização dos direitos constitucionais: “Mas, em outros campos, pode ser mais recomendável uma postura de autocontenção judicial, seja por respeito às deliberações majoritárias adotadas no espaço político, seja pelo reconhecimento da falta de expertise do Judiciário para tomar decisões que promovam eficientemente os valores constitucionais em jogo, em áreas que demandem profundos conhecimentos técnicos fora do Direito – como Economia, políticas públicas e regulação. Nesses casos, deve-se reconhecer que outros órgãos do Estado estão mais habilitados para assumirem uma posição de protagonismo na implementação da vontade constitucional”. (O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades, p. 58). Nesse mesmo contexto é necessário fazer o seguinte lembrete: “É sempre bom lembrar que o ‘negócio’ da indústria farmacêutica é vender remédios, principalmente se forem os mais caros e lucrativos, mesmo que eles não tenham resultados comprovadamente superiores, enquanto o do SUS é tratar os pacientes de forma mais eficiente, para que os recursos existentes possam atender às necessidades de medicamentos de todos”. (Luiz Roberto Barradas Barata e José Diniz Vaz Mendes, Uma proposta de política de assistência farmacêutica para o SUS, p. 74)
274
vigilância sanitária, traz-se à baila, o relato descritivo feito pelo Dr. Paulo Dornelles Picon444,
quando discorria sobre o tema “Evidência científica e o papel do médico”, no seminário “As
ações judiciais no SUS e a promoção do direito à saúde”:
A Anvisa em 2003 fez um painel de especialistas porque havia um pedido de registro de gefitinibe. Tratava-se de um medicamento específico para câncer de pulmão, já aprovado na FDA americana. E neste aspecto temos escutado muitas críticas: a Anvisa é muito lenta, a Anvisa é retrógrada, a Anvisa não registra, enquanto a FDA já liberou e a Anvisa não liberou ainda. Não é essa a crítica? É, nós somos lentos. Trouxe um exemplo, só para lembrar, para contextualizar, que nem sempre é assim, a lentidão de registro pode ser protetora. E não foi lentidão, foi muito rápido. A Anvisa avaliou as evidências, participei desse painel em torno desse medicamento que tinha sido apresentado para registro; estudos de fase 2, sem grupo controle, mostrando redução de tamanho tumoral. Reduzir o tamanho do tumor é um desfecho intermediário. Estes dados foram suficientes para convencer a FDA. Por que não foi suficiente para convencer a Anvisa? Porque questionamos, ao avaliar os dados dos estudos, que existia uma mortalidade associada ao medicamento de quase 30%. Fez-se a pergunta para os especialistas: existe algum trabalho que tenha demonstrado que esse produto salva alguém? Resposta: não, não existe como, porque não há grupo controle e não sabemos se aumenta a sobrevida. Então, não salva ninguém. Muito bem! Concordamos? Concordamos. Pois bem, registrado esse produto temos que assumir que vamos matar três em cada cem pacientes que temos no Brasil, e não vamos salvar ninguém. O medicamento não foi aprovado. E dois anos depois foi publicado o estudo de fase 3, duplo cego, com grupo controle, mostrando a ineficácia. Já havia casos fatais no Japão e em países que o tinham adotado. Todo o mundo então retira o gefitinibe do mercado e o Brasil não o retirou porque sequer o colocou no mercado. Apresentei isso como exemplo de eficiência do trabalho e do uso do paradigma da medicina baseada em evidência na Anvisa.
Dessa forma, a análise objetiva das demandas da área de oncologia, pela
complexidade das questões postas, pela controvérsia quanto aos elementos técnicos e pelo
fato de haver política pública específica para tratamento dos pacientes acometidos de câncer,
prescinde de uma instrução probatória mais aprofundada, procurando dar respostas às
indagações jurídico-constitucionais, a partir dos elementos técnicos trazidos à apreciação na
demanda.
Repise-se, uma efetiva prestação jurisdicional nas ações de saúde exige uma
qualificada instrução probatória, contemplando as especificidades do caso concreto
examinado, de forma que o julgador tenha elementos para conciliar a dimensão subjetiva
444 Evidência científica e o papel do médico, p. 202-203.
275
(individual e coletiva) com a dimensão objetiva do direito à saúde, como bem explicitado no
voto do Ministro Gilmar Mendes, aprovado por unanimidade pelo Plenário do STF445, ao
tratar da questão em comento.
6.3 PONTOS VULNERÁVEIS DA PNAO QUE INFLUENCIAM NAS DECISÕES
JUDICIAIS QUE PLEITEIAM MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS
Ainda que se reconheça que a grande maioria das ações judiciais que tratam da área
oncológica não tenha atacado, diretamente, a Política Nacional de Atenção Oncológica
(PNAO), não há como dela afastar essa pecha, especialmente pelo fato de tal política integrar
um sistema político, jurídico e administrativo, o SUS. E essa visão sistêmica não pode ser
deixada de lado, já que é a partir dela que são extraídos os fundamentos dessa específica
política de saúde, possibilitando que os órgãos do Poder Judiciário possam sob ela se
debruçar, tomando-a como paradigma para a apreciação das demandas que busquem a
oncologia como objeto do pedido.
Para além dessa função, são os fundamentos sociais, políticos e jurídicos que dão
sustentação à política pública atacada, que deverão ser utilizados na defesa em juízo. No
entanto, nem sempre a defesa judicial das políticas públicas consegue ser tão efetiva, dado
que nem sempre as letras frias contidas nas informações encaminhadas pelos órgãos da
administração pública, conseguem traspassar os limites da abstração, dando a conhecer, em
profundidade, os objetivos e metas traçadas por tal política, bem assim, os fins já alcançados
com a sua execução.
Algumas questões têm dificultado a defesa judicial do SUS, neste particular,
dificuldades estas que têm trazido reflexos diretos sobre as decisões proferidas nesses
445 (STF – PLENÁRIO, STA-AgR 175/CE)
276
processos. A busca de melhor direcionamento e de solução desses entraves poderá contribuir,
sobremaneira, para o fortalecimento do sistema, da relação deste para com os prestadores de
serviços e, consequentemente, com o Poder Judiciário.
O primeiro aspecto que chama a atenção e que tem influenciado na esfera judicial é a
ausência de cláusulas contratuais objetivas, delimitando as obrigações assumidas por ambas
as partes, quando do credenciamento e habilitação do CACONs e UNACONs. Fica tudo
muito subentendido entre os entes do SUS e o prestador habilitado446, embora, na prática, não
seja tão simples identificar até onde vão os limites de responsabilização do contratante e do
contratado. Em razão da ausência desse registro de formalização, o Poder Judiciário tem
indeferido os pedidos de integração do CACON e UNACON no feito e, por sua vez, não se
vislumbra nenhum tipo de instrumento legal ou administrativo que possibilite ao SUS a
buscar possível ressarcimento dos custos efetuados por qualquer dos entes que compõem o
sistema público, junto aos credenciados, considerada a sua condenação em demanda judicial
da qual aquele não integrou a lide.
Outro ponto vulnerável é a falta de definição clara e rápida acerca de cada droga
lançada no mercado. E quando se fala em ausência de definição, esta passa não apenas pela
questão da sua não-incorporação ao sistema público de saúde, mas, passa, necessariamente
pela quase omissão dos setores responsáveis pela incorporação de novas tecnologias do
Ministério da Saúde, acerca das restrições técnicas que impedem ou não recomendam a
incorporação das novidades às coberturas do SUS, bem assim, da falta de reconhecimento de
que, ainda que tecnicamente comprovada a eficácia e efetividade destas inovações, não há
lastro financeiro capaz de garantir a incorporação e dispensação aos pacientes do sistema
público.
446 Subtende-se que tudo está disciplinado no SUS, em suas portarias de regulamentação. No caso da oncologia, há um disciplinamento geral traçado pela PORTARIA GM/MS nº 2.439/2005 e pela PORTARIA SAS/MS nº 741/2005, regulamentada por diversas outras portarias, embora todas elas sejam constituídas, unilateralmente, pelo SUS.
277
Isso se verificou, por exemplo, com o medicamento RITUXIMABE (MABTHERA),
para tratar pacientes com Linfomas Não-Hodgkin de células grande tipo B. Nas ações
judiciais que tratavam de pedido desse fármaco, a defesa técnica se voltava mais para a
ausência de comprovação de eficácia e efetividade. No entanto, mesmo quando o Ministério
da Saúde resolveu incorporar esse medicamento ao tratamento oncológico, inclusive com
elevação dos valores da Tabela SUS, não houve nos pareceres técnicos nenhuma mudança
substancial, de forma que reconhecesse não apenas a eficácia e efetividade, mas que
demonstrasse que havia uma propensão a que o SUS viesse a incorporar no tratamento
específico desse tipo de câncer, a utilização desse fármaco para tratar os pacientes
diagnosticados como portadores de Linfoma Não-Hodgkin de Grandes Células B, em adulto.
Também pode ser tida como fragilidade da PNAO, a existência de poucas diretrizes
terapêuticas no SUS447, para tratamento das diversas espécies de câncer, abrindo margem para
que o Judiciário possa se servir dos pedidos e dos receituários prescritos em desacordo com a
política pública em comento, para deferi-los, sob o argumento da ausência ou omissão
administrativa no tocante à cobertura do medicamento em questão.
Nesse sentido, a ausência de diretrizes terapêuticas disponibilizadas para toda a
sociedade brasileira (a exemplo do que acontece com os demais componentes da assistência
farmacêutica) e, principalmente, com o argumento de defesa no sentido de que a PNAO não
referencia medicamento, mas tratamento integral a ser totalmente dispensado pelo CACON e
UNACON, tem reforçado o entendimento jurisprudencial da obrigatoriedade de custeio do
fármaco, como forma de complementar o tratamento disponibilizado pelo SUS.
Por fim, há que se destacar a difícil compreensão dos termos técnicos trazidos nas
demandas, nos pareceres e notas elaboradas pelas áreas técnicas do SUS, quando da sua
defesa. É preciso melhorar o diálogo técnico entre a Administração Pública do SUS e os
447 Essa questão mereceu destaque no voto contido no Acórdão do TCU sobre a PNAO.
278
órgãos do Poder Judiciário, de maneira que a área técnica aproxime o máximo possível as
informações técnicas, das teses de defesa do referido sistema, que se permita uma intelecção
capaz de demonstrar que a política pública desenvolvida pelo SUS, realiza e se conforma com
o direito fundamental à saúde.
Vê-se, assim, que esses entraves devem encontrar respostas e soluções dentro do
próprio sistema público de saúde, mas não se pode deixar de registrar que vários avanços têm
sido feitos na condução de melhorar ou aperfeiçoar esses entraves burocrático-
administrativos448, tanto por parte do SUS, quando das instituições envolvidas na denominada
judicialização da saúde.
6.4 QUEM TEM MEDO DA VERDADE – GOVERNO OU CREDENCIADOS?
É necessário não perder de vista que nas ciências médicas não existem certezas, mas
graus ou níveis de probabilidade, ou seja, trabalha-se com estatísticas e são elas que dão a
tônica da melhor escolha terapêutica aos profissionais dessa área do conhecimento, porque
advinda da comprovação de evidências científicas. Dessa forma, ainda que tenhamos
consciência de que na área da saúde as novas descobertas e inovações terapêuticas (também
ditas como inovações tecnológicas) sejam cada vez mais frequentes – o que sempre traz
esperanças aos pacientes que ainda não dispõem de nenhuma opção de tratamento para seus
males, ou já foram utilizadas todas as formas de tratamentos disponíveis -, também não se
pode perder de vista que a grande maioria dos chamados medicamentos novos não apresentam
448 Têm sido realizados seminários, congressos, fóruns e similares, voltados para uma aproximação entre o SUS e os órgãos do Poder Judiciário. O próprio CNJ tem fomentado discussões sobre os temas veiculados nas ações de saúde, sem falar que a sua Recomendação nº 31, de 30/03/2010, trata de recomendar à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados – ENFAM, à Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho – ENAMAT e às Escolas de Magistratura Federais e Estaduais que Incorporem o direito sanitário nos programas dos cursos de formação, vitaliciamento e aperfeiçoamento de magistrados, bem como que promovam a realização de seminários para estudo e mobilização na área da saúde, congregando magistrados, membros do ministério público e gestores, no sentido de propiciar maior entrosamento sobre a matéria.
279
qualquer novidade ou benefício terapêuticos, diante das apresentações já existentes no
mercado.
Analisando os dados lançados pela organização francesa La Revue Prescrire acerca
dos produtos novos introduzidos ou comercializados na França, no período compreendido
entre 1981 a 2008, ou daqueles fármacos já existentes, mas aprovados para novas indicações
terapêuticas (e assim considerados produtos novos) Bonfim ratifica o entendimento acima
exposto, asseverando que “no período de 1999-2008 quase metade (49,19%) nada
representaram quanto à contribuição terapêutica (foram considerados símiles aos já
encontrados no mercado); no período de 1981-2003, estes produtos (a categoria ‘nada de
novo’) tinham representado 66,63%”449.
Há, nas prescrições médicas solicitando antineoplásicos (que não teriam cobertura
pelo SUS), um discurso velado de que tais fármacos integram as diretrizes terapêuticas dos
maiores e melhores centros internacionais de tratamento oncológico, razão pela qual os
profissionais aqui do Brasil, seguindo essa tendência universalizante, sentem-se no dever ético
de introduzir esses mesmos medicamentos nos planos de tratamento dos seus pacientes com
câncer.
Como já frisado anteriormente, uma das suposições surgidas a partir do
encaminhamento do paciente para pleitear medicamento complementar em juízo, por um dos
CACONs ou UNACONs, é aquela em que a utilização desse fármaco não ocorre,
ordinariamente no tratamento coberto pelo SUS, em razão dos elevados custos dos mesmos e
da impossibilidade do prestador se ressarcir dos gastos porventura efetuados, considerados os
valores constantes das tabelas do SUS para a oncologia.
A esse respeito, a área técnica do Ministério da Saúde tem constantemente reiterado
em suas manifestações que os valores dos procedimentos quimioterápicos da tabela do SUS
449 José Ruben de Alcântara Bonfim, Demandas judiciais por fármacos no Sistema Único de Saúde: direitos dos pacientes e provas científicas para se realizar o acesso, p. 147.
280
foram estabelecidos com uma escala de produção muitas vezes menor e sem a disponibilidade
dos produtos genéricos, sendo que tais tabelas expressam um valor pago e não um custo, pois
além do ressarcimento direto pela prestação dos serviços, outras benesses são concedidas
tantos aos estabelecimentos públicos (como os valores constantes dos orçamentos públicos)
quanto às entidades filantrópicas (a exemplo de isenções fiscais de muitos insumos utilizados
na prática oncológica, além de repasses de emendas parlamentares e/ou financiamento de
equipamentos pelos três entes federativos que integram o SUS).
Embora os argumentos do ressarcimento direto e indireto aos prestadores da
oncologia no SUS até seja de fácil compreensão, por parte dos julgadores, muitas dúvidas
ainda pairam acerca da formatação e da composição econômica das tabelas do SUS,
especialmente pelo fato destas apresentarem valores conglobados, não expressando custos,
mas médias dos custos dos procedimentos. Aliás, essa questão só viria à tona caso os
CACONs e UNACONs viessem a integrar a lide nessas demandas, ocasião em que
demonstrariam a inexistência de superávit financeiro dos prestadores da área da oncologia,
condição suficiente para assegurar e garantir a argumentação de que tais estabelecimentos
hospitalares não poderiam suportar os custos com a incorporação dos antineoplásicos ao
tratamento terapêutico dos pacientes do SUS.
Por sua vez, tem sido suscitado o risco do SUS não poder suportar o ônus financeiro
decorrente das decisões proferidas em sede das ações de saúde, em razão da escassez e da
finitude dos recursos financeiros, bem assim dos limites orçamentários, constitucionalmente
vinculantes e cujo direcionamento legal é voltado para cumprir os programas e políticas
públicas estabelecidos pelo SUS. As decisões condenatórias e que determinam o custeio de
medicamentos, procedimentos e insumos pelo SUS, nesse contexto, violariam o princípio da
reserva do possível. Embora a jurisprudência pátria reconheça a finitude e a escassez dos
recursos financeiros e orçamentários do Estado, tem rejeitado a alegação de violação ao
281
princípio da reserva do possível, ao argumento de que resta não demonstrada a ocorrência da
mesma.
Realmente, apesar de já termos visto que as ações judiciais impõem elevação nos
gastos de todos os entes que integram o SUS (União, Estados, Distrito Federal e Municípios),
ainda pende de detalhamento o apontado desequilíbrio financeiro do SUS, em razão da
incidência desses gastos, ou seja, o próprio sistema de saúde precisa fazer um
acompanhamento sistematizado dos custos com as ações de saúde, permitindo uma concreta
apreciação acerca dessa equação matemática, de modo que não só o Poder Judiciário, mas
toda a sociedade brasileira tenha consciência dos efeitos porventura apurados, assim como dos
possíveis impactos e consequências deles decorrentes para o SUS como um todo. De fato, o
SUS deve isso a si mesmo, aos demais poderes do Estado e à sociedade450. Até que isso seja
efetuado, a mera alegação de possível violação ao princípio da reserva do possível não passa
de mera presunção, sem qualquer base concreta.
Assim, os gestores do SUS e os estabelecimentos hospitalares por eles credenciados
para a prestação de ações e serviços de oncologia, de modo especial aqueles de natureza
beneficiente e os de natureza estritamente privada, preferem manter uma aparente postura de
boas relações institucionais, muito embora as prescrições médicas, transformadas em ações
judiciais, demonstrem o agonismo451 existente entre eles, ainda que tanto um como o outro
450 Apontando a necessidade de uma análise econômica de longo prazo, tanto dos gastos como dos impactos das decisões proferidas contra os que integram o setor da saúde no país: “Os autores criticam a solução da ‘reserva do possível’ sugerindo a existência de gastos, feitos pelo governo, menos fundamentais (o que em parte pode ser verdadeiro), havendo assim recursos financeiros para atender tais demandas. Talvez seja interessante realizar uma análise de longo prazo considerando as tendências dos gastos públicos e privados com saúde visando contribuir para o debate da judicialização da saúde ante o fato inexorável de que os recursos são escassos e as necessidades, ilimitadas, de modo que a otimização envolve considerar uma alocação eficiente dos recursos” (Denise C. Cyrillo e Antonio Carlos C. Campino, Gastos com a saúde e a questão da judicialização da saúde, p. 27). 451 A expressão deve ser aqui entendida no sentido e na forma como proposta por Chantal Mouffe: “Vislumbrada a partir da óptica do ‘pluralismo agonístico’, o propósito da política democrática é construir o ‘eles’ de tal modo que não sejam percebidos como inimigos a serem destruídos, mas como adversários, ou seja, pessoas cujas idéias são combatidas, mas cujo direito de defender tais idéias não é colocado em questão. Esse é o verdadeiro sentido da tolerância liberal-democrática, a qual não requer a condescendência para com idéias que opomos, ou indiferença diante de pontos de vista com os quais discordamos, mas requer, sim, que tratemos aqueles que os defendem como opositores legítimos”. (Chantal Mouffe, Por um modelo agonístico de democracia, p. 20)
282
opte por deixar as soluções das suas controvérsias nas mãos de um terceiro imparcial: o Poder
Judiciário.
6.5 A “JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE” E SEUS REFLEXOS NO SISTEMA ÚNICO DE
SAÚDE (SUS)
A doutrina tem utilizado diversos sentidos para a expressão ativismo judicial452,
embora sua ideia original remonte à prática jurídico-político americana de se buscar, via
Judiciário, a efetivação ou concretização de direitos individuais e sociais que, num primeiro
momento, não estariam explicitados na Constituição daquele país. No Brasil, no entanto, essa
expressão se volta mais para a efetividade dos direitos individuais e sociais contidos e
explicitados na Carta Constitucional de 1988453, dada a expressiva tábua de direitos e
garantias que fora encartada no referido texto constitucional. Isso não significa, porém, que tal
expressão não possa ser utilizada, no Brasil, com a mesma finalidade que lhe deu origem, em
razão dos direitos e garantias fundamentais implícitos ou decorrentes, historicamente
reconhecidos pelo constitucionalismo pátrio.
Nesse sentir, poder-se-ia assegurar que o ativismo judicial ocorrido nas ações de
saúde no Brasil (nelas incluídas as ações de oncologia) tem produzido reflexos positivos e
negativos para o próprio Sistema Único de Saúde (SUS), sendo possível dar destaque,
exemplificativamente, aos seguintes aspectos:
452 Daniel Giott de Paula, citando William P. Marshall, aponta para a existência de pelo menos sete sentidos diferentes para designar o termo ativismo. (Intranquilidades, positivismo jurisprudencial e ativismo jurisdicional na prática constitucional brasileira, p. 336) 453 Daniel Giott de Paula, op. cit, p. 336.
283
6.5.1 Reflexos positivos
As ações de saúde, bem assim as decisões nelas proferidas, têm sido utilizadas como
instrumentos informadores e indicadores para a elaboração, revisão ou exclusão de Protocolos
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs) pelo SUS, para melhoria das diversas políticas
específicas de saúde pública, bem como para incorporação de novas tecnologias no SUS.
Cabe aqui dar destaque às decisões proferidas pelo Judiciário e que terminaram por
impulsionar o Ministério da Saúde a incorporar os antirretrovirais, passando a adquirir e
dispensá-los para o tratamento HIV/AIDs em sua política pública setorial. Mário Scheffer
bem descreveu o processo de incorporação dos antirretrovirais no SUS, dando ênfase ao
impulso que as decisões judiciais deram ao referido procedimento454. Outros medicamentos
também tiveram a incorporação no SUS, após o tramitar de diversas ações judiciais455.
Também deve ser dado o devido destaque para o compromisso firmado pelo então
Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, com o também então Presidente do STF, Ministro
Gilmar Mendes, se comprometendo a executar a revisão e adequação de todos os Protocolos
Clínicos do SUS, o que acabou por determinar a elaboração de novos PCDTS, com a inclusão
de diversos tratamentos, até então sem cobertura, com significativo aumento no número de
medicamentos cobertos pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF
454 Eis a descrição procedimental pelo qual passaram os ARVs no Brasil: “Em linhas gerais, para entender, é preciso percorrer o caminho – fragmentário, sem sequência – tomado pelos ARVs no Brasil, que pode ser assim resumido: um novo medicamento geralmente chega ao país via ensaio clínico, os médicos passam a conhecê-lo e a ter experiência de uso com ele; a empresa faz divulgar os resultados que tratam do desempenho do produto, elementos que passam a ser compartilhados por uma rede cada vez maior de pessoas; as autoridades sanitárias quase sempre concedem o pedido de registro submetido pelo produtor, mas também convocam especialistas para decidirem, com base em evidências científicas, o momento da incorporação e os critérios de uso do ARV; as prescrições aumentam progressivamente, ao tempo em que se expressam as necessidades de saúde dos pacientes; a promoção e o marketing deflagrados pela empresa produtora e as ações judiciais movidas por pacientes que reivindicam o acesso ao novo fármaco, antes mesmo da aquisição pelo sistema de saúde, despontam como elementos que podem influir no processo de incorporação do ARV; as regras de mercado são então aclaradas, com caracterização da oferta e da demanda, formação e discussão do preço do ARV, na Câmara de Regulação de Preços de Medicamentos (CMED), e definição das margens de atuação das empresas farmacêuticas, tanto das multinacionais quanto das nacionais públicas e privadas produtoras” (Judicialização e incorporação de tecnologias: o caso dos medicamentos para tratamento da AIDS no Sistema Único de Saúde, p. 136) 455 (1) ETANECEPTE para espondilite ancilosante; (2) SILDENAFILA para hipertensão pulmonar; (3) RITUXIMABE para tratamento do Linfoma Não Hodgkin de grandes Células B adulta.
284
– Portaria nº 2.981/2009) e do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (Portaria nº
4.217/2010) 456.
Nesse mesmo sentido, é de se notar que os elementos constantes das ações judiciais
em curso poderão contribuir, em muitos casos, para a adoção de medidas urgentes e
necessárias para o controle e contenção de situações epidemiológicas (temporárias ou
permanentes) surgidas no país, numa determinada região ou área geográfica457.
6.5.2. Reflexos Negativos
A judicialização da saúde também tem registrado alguns reflexos negativos para o
Sistema Único de Saúde, dentre eles é possível estabelecer os seguintes:
6.5.2.1 Afetação ao princípio da descentralização político-administrativa do SUS
Como mencionado no capítulo 4, uma das principais lutas do movimento da reforma
sanitária era a descentralização das ações e serviços de saúde, historicamente concentrados no
Ministério da Saúde. Daí que à União foram destinadas, precipuamente, as atribuições de
coordenação geral do SUS, tendo-lhe sido bastante restringida a sua atuação executiva, tendo
ficado a execução das ações e serviços do SUS a cargo dos Estados, Distrito Federal e dos
456 “Este é o primeiro volume de outros que virão, e aborda os 33 protocolos publicados entre janeiro de 2009 e maio de 2010 pela Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), que contou também com importante atuação da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE), da Comissão de Incorporação de Tecnologias (CITEC) e do Hospital Alemão Oswaldo Cruz” (BRASIL, Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas: v. 1, p.4). “Neste segundo volume, volta-se a reunir PCDTs que tratam de temas relevantes para a população brasileira e para a gestão do SUS. São revisões/atualizações de Protocolos já existentes ou inteiramente novos, todos publicados previamente em consulta pública e posteriormente consolidados em portarias da Secretaria de Atenção à Saúde. Outros PCDTs estão sendo elaborados/atualizados e, passando pelo mesmo processo de consulta pública e consolidação, deverão ser reunidos em um terceiro volume”. (BRASIL, Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas: v. 2, p. 10) 457 É comum o Ministério Público Federal no Estado do RN propor ações civis públicas durante o período de epidemias (como a dengue) ou para contratação de leitos de UTI na Capital ou em Mossoró/RN.
285
Municípios. Esses parâmetros definiram o que se denominou de princípio da descentralização
político-administrativa do SUS.
Esse princípio tem sofrido reflexos das decisões judiciais de saúde, na medida em
que os julgados têm imposto diversas condenações contra União, determinando que esse ente
federativo custeie, adquira e dispense medicamentos. Em razão disso, o Ministério da Saúde
teve que estruturar um setor específico no âmbito daquela pasta ministerial, trabalhando,
exclusivamente com o cumprimento dessas determinações judiciais (aquisição e dispensação
de medicamentos e insumos – realização de procedimentos cirúrgicos).
Além disso, em se tratando de entrega de medicamentos, como o Ministério da Saúde
tem sede em Brasília/DF e os autores dessas ações estão espalhados por todo o país, acabou
por ser imprescindível, também, a organização de toda uma logística para dar suporte ao
procedimento de envio dos medicamentos, bem assim do controle de recebimento e
encaminhamento de comprovante aos órgãos de defesa judicial da União.
Por sua vez, como as áreas técnicas do Ministério da Saúde haviam se planejado para
reduzir a sua área de compra de medicamentos e insumos, em razão da descentralização
administrativa, tiveram que voltar a se estruturar, com todas as adaptações necessárias (já que
muitos desses fármacos exigem processo de guarda e conservação específicos), correndo-se o
risco de que a experiência com o cumprimento das decisões acabe por ensejar o retorno da
centralização da compra do SUS, pelo gestor maior do sistema (o Ministério da Saúde).
Uma preocupação com essas demandas tem se verificado pelo fato de que em alguns
Estados e Municípios, o desabastecimento de medicamentos de alguns programas regulares da
assistência farmacêutica do SUS (como o CEAF e Atenção Básica) tem sido encarado com
mais naturalidade, tendo em vista que em razão da solidariedade reconhecida pela
jurisprudência, a União termina por ser condenada a custear ou a dispensar tais
286
medicamentos, com pagamento em duplicidade ao ente da federação omisso ou inerte
(repassa fundo a fundo e pela decisão judicial).
6.5.2.2 Natureza predominantemente individual das demandas de saúde x princípios da
universalidade e equidade do SUS
Como já frisado anteriormente, a casuísta demonstra que as demandas de saúde são,
predominantemente, ações individualizadas. Essa característica traz reflexos diretos aos
princípios da universalidade e da equidade do sistema público de saúde, na medida em que o
oferecimento de medicamento a um dos usuários (independentemente da decisão ser
administrativa ou por determinação judicial) deve ser estendido a todos aqueles que estejam
em situação similar.
Constatou-se que 87,96% das ações de saúde pesquisadas foram propostas pela
Defensoria Pública da União, em defesa de interesse individuais. Ademais, estas ações tinham
por objeto, basicamente, 12 espécies distintas de medicamentos antineoplásicos.
Compatibilizando essas duas premissas e tendo em vista que o art. 4º, inciso VII da Lei
Complementar nº 80/2003, legitima a Defensoria Pública da União para “promover ação civil
pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos
difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder
beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes”; a propositura de ações coletivas (aqui
subtendida ação civil pública), em muitos desses casos, teria imprimido maior celeridade e
economia processuais458, além de realizar os fundamentos da processualística contemporânea.
458 Na esteira do que ora se defende: “Dito isto, o total agregado de sentenças semelhantes em casos-padrão gera um grau de previsibilidade, do qual todos os atores judiciais adquirirão consciência, e que funciona na prática como uma forma de sabedoria judiciária em comum ou, efetivamente, como stare decisis informal.” (Florian F. Hofmann e Fernando R. N. M. Bentes, A litigância judicial dos direitos sociais no Brasil: uma abordagem empírica, p. 411).
287
Tomando como exemplo as ações que pedem o medicamento TRASTUZUMABE
(HERCEPTIN®). Esse medicamento tem sido pleiteado para tratamento do câncer de mama,
em tratamento inicial, onde os exames imuno-histoquímico revelam a presença da expressão
HER (++ ou +++). Praticamente todas as ações foram propostas pela Defensoria Pública da
União, utilizando-se de petição padrão-formulário (adequando-se apenas a dosagem prescrita
para cada paciente-autora, conforme receituário médico), o mesmo vindo a ocorrer com as
contestações.
Assim, a utilização de uma única ação civil pública, com pedido genérico para que o
SUS arcasse com os custos da utilização do referido fármaco, pelos CACONs e UNACONs
do Estado, no tratamento dos pacientes a cada um deles vinculados, poderia obter o mesmo
resultado útil das diversas ações individuais, com maior abrangência pois o título judicial
poderia garantir o direito vindicado, ficando a execução desse título apenas na via
administrativa, com a comprovação de utilização pelos CACONs e UNACONs diretamente
ao SUS. Esse mesmo procedimento poderia ser utilizado para as diversas outras ações
judiciais envolvendo medicamentos, onde ocorressem reiterados pedidos de um certo
fármaco, para um mesmo diagnóstico e respectivo tratamento.
Talvez com uma redução do número de demandas, já que a ação civil pública seria
representativa de interesses de todos os indivíduos, coletivamente ali representados, os
magistrados até pudessem voltar-se para uma apreciação mais valorativa da prova conduzida
ao processo. Mas a doutrina tem apresentado justificativas para que até a Defensoria Pública
tenha resistido a substituir as ações individuais pelas ações civis públicas: diferentemente das
ações individuais, em que o direito tem sido paulatinamente reconhecido, nas ações civis
públicas há uma ideia de restringir direitos nesse tipo de demanda judicial. Há, por assim
dizer, no julgamento das ações civis públicas um entendimento corrente de que os tribunais
simplesmente não devem forçar o Poder Executivo a fazer coisas que ele não pode fazer, sob
288
pena de irresponsabilidade. Tais decisões amparam-se nas restrições impostas pelo princípio
da Separação dos Poderes e da não interferência do Poder Judiciário nas respectivas
competências do Poder Executivo459.
6.5.2.3 Perda do controle do tratamento e dos recursos nele empregado pelo SUS
Volta-se à discussão acerca da descentralização e municipalização do SUS para nela
inserir as dificuldades impostas à União quando do cumprimento das determinações judiciais
que a obrigam a adquirir e dispensar medicamentos. Nas outras políticas da assistência
farmacêutica executadas pelo SUS, a organização e o acompanhamento de todas as ações
ficam à cargo dos Estados, Distrito Federal e/ou Municípios. No entanto, dadas as distâncias
geográficas que ligam o Ministério da Saúde ao paciente beneficiado, com a decisão
provisória ou definitiva, bem assim o procedimento ou rito para aquisição do medicamento
em si, nem sempre é possível cumprir as decisões nos prazos exíguos determinados no
comando judicial exequendo.
Então, nas demandas com prescrição de medicamento de uso contínuo, tem sido
comum a substituição da obrigação de adquirir em depósito judicial, equivalente aos dois ou
três primeiros meses do tratamento, enquanto o setor do Ministério da Saúde conclui os
procedimentos de compra e manda entregar ao autor, diretamente em sua residência, o
quantitativo equivalente a seis meses de tratamento e, dependendo da necessidade de
continuidade, retoma a dispensação por períodos de seis meses cada. Essa sistemática de
cumprimento, que atende tanto às necessidades do paciente quanto do Poder Judiciário traz
problemas e riscos de desperdício de dinheiro público, ante a ausência de controle e
acompanhamento do tratamento de cada paciente.
459 Essa questão está bem trabalhada por Florian F. Hofmann e Fernando R. N. M. Bentes, A litigância judicial dos direitos sociais no Brasil: uma abordagem empírica, p. 401.
289
Na área da oncologia, como os medicamentos são de altíssimos custos460 e há uma
considerável estatística de falecimento dos pacientes ou alteração de tratamento por reações
adversas, esse risco de desperdício se transforma em possibilidades de fraudes ou de
locupletamento ilícito. Uma solução intermediária nesse tipo de demanda é vincular a
dispensação ao órgão dispensador do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
do SUS ou ao próprio estabelecimento hospitalar onde o autor está em tratamento, pois há
uma presunção de que em qualquer deles estariam resguardados, pelo menos, os valores e
interesses empregados por qualquer dos entes do SUS461.
Nesse mesmo sentido – perda de controle dos recursos empregados nos
cumprimentos das decisões -, outra preocupação tem sua razão de ser: a possibilidade de maus
gestores ou inescrupulosos agentes públicos se aproveitarem dos procedimentos lançados
nessas decisões, com a finalidade de legitimar práticas administrativas escusas e vedadas
pelos meios regulares de aquisição de bens e serviços, já que em sua quase totalidade, os
comandos judiciais determinam o cumprimento da obrigação com dispensa de licitação, nos
termos do art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93. É o que poderíamos até chamar de entrega de
um “cheque em branco”, pelo Judiciário, a esse tipo de mau administrador.
Esta é uma das preocupações que não pode deixar de ser considerada pelos Órgãos
do Poder Judiciário, na medida em que alguns gestores podem identificar essa fragilidade e,
460 Demonstrando os vultosos valores envolvidos nas demandas de saúde, Hoffmann e Bentes esses dois casos concretos: “Em recente liminar, outorgada pelo TJBA, o Estado baiano foi ordenado a fornecer quatro dose de erbitux (cetubimax) por semana a uma paciente de câncer, custando cada dose do remédio importado aproximadamente US$1.500.” e “Em um caso semelhante, envolvendo um novo tipo de medicamento interferon para o tratamento de hepatite C, na ocasião até trinta vezes mais caro do que o interferon regular comumente usado, o STJ reverteu uma sentença anterior do TJSP e proibiu o Estado de fornecer o remédio, aduzindo que não havia ainda consenso médico quanto à sua eficiência”. (Florian F. Hofmann e Fernando R. N. M. Bentes, op. cit., p. 397) 461 Reforçando a perda de controle dos gastos públicos e dos benefícios científicos da aplicabilidade dos recursos empregados, vem JOSÉ RUBEN DE ALCANTARA BONFIM: “Nos últimos cinco anos, foram divulgados estudos valiosos sobre demandas judiciais em matéria de assistência farmacêutica contra o Estado, mas que ainda versam sobre pesquisas regionais que não permitem generalizações e afirmações no plano nacional, e assim não há informações cientificas oriundas desses processos capazes de promover um sério debate sobre eficácia terapêutica de fármacos não selecionados que vem sendo concedidos pelo Poder Judiciário, e naturalmente a repercussão no total do financiamento da saúde e de ações executadas de assistência farmacêutica pelas três esferas de governo” (Demandas judiciais por fármacos no Sistema Único de Saúde: direitos dos pacientes e provas científicas para se realizar o acesso, p. 153)
290
com o intuito de se utilizar ardilosamente desse tipo de decisão judicial, passando a
descumprir, deliberadamente, as políticas públicas do SUS, o que implicará no aumento de
demandas judiciais e, consequentemente, abrir-se-ão as reais possibilidades de conluios e
fraudes no cumprimento de decisões judiciais que afastam a aplicação das normas legais
insculpidas na Lei de Licitações462.
Por fim, a judicialização da saúde também trouxe ao SUS um severo ônus: impôs
obrigações dirigidas aos entes federados, que se resumem na regular e contínua entrega dos
medicamentos à parte autora da demanda, sem, contudo, impor qualquer dever àquele
beneficiário, nem mesmo para fins de submissão ao acompanhamento e verificação dos
benefícios trazidos ao tratamento, já que a coleta desses dados integra a base de todas as
políticas e programas do SUS.
Tem sido comum que a parte autora acoste um único receituário médico, quando da
propositura da ação, e ao longo de todo o tramitar do processo – principalmente quando
concedido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela – não se tenha mais notícias acerca do
efetivo tratamento, bem assim da aplicação dos medicamentos pleiteados ou dos reais
benefícios que o paciente-autor obteve com o tratamento proposto. Essa sistemática em muito
difere das demais políticas do SUS, especialmente, as políticas de medicamento, eis que pelo
menos a cada 3 (três) meses o usuário atualiza o seu receituário médico, ocasião em que tanto
o profissional médico como o próprio SUS podem acompanhar o tratamento, propondo
ajustes ou estabelecendo modificações ao mesmo, se necessário.
462 Essa preocupação aparece bem descrita nas palavras de HOFFMANN e BENTES quando asseveram que: “Em muitos casos, como os de acesso a remédio ou à infra-estrutura escolar, só uma determinação judicial pode dispensar uma autoridade governamental do processo de licitação pública normalmente obrigatório. Por isto, em alguns processos pode ser visivelmente do interesse da autoridade pública ser obrigada a comprar os bens requeridos em litígio, o que aponta para duas tendências: primeiramente, a derrota judicial se revela em estratégia intra-Administração dos gestores estaduais e municipais de saúde em captarem recursos não previstos previamente no orçamento da saúde; secundariamente, o cumprimento desta ordem judicial pode ser o fim exitoso de uma estratégia das companhias farmacêuticas (em acordo com os gestores de saúde) para a venda de lotes de medicamentos sem a necessária licitação” (Florian F. Hofmann e Fernando R. N. M. Bentes, A litigância judicial dos direitos sociais no Brasil: uma abordagem empírica,, p. 404)
291
7. CONCLUSÕES
A análise aqui procedida demonstra que o direito à saúde integra o catálogo dos
direitos fundamentais sociais, estando explicitamente no elenco constante do caput do artigo
6º da Constituição cidadã de 1988. Sua eficácia é progressiva, especialmente diante dos
graves problemas sócios, políticos e culturais, a que se submete toda a massa de espoliados
deste país, não obstante se reconheça que essa eficácia progressiva deva ser,
sistematicamente, acompanhada pela sociedade civil, de forma a que a efetivação e
efetividade das normas jusfundamentais (relativas ao direito à saúde) não se tornem meras
promessas ou programas irrealizáveis.
Ficou demonstrado que a Política Nacional de Atenção Oncológica (PNAO) é a
política pública desenhada pelo SUS para o atendimento integral aos acometidos por câncer
no Brasil. Que apesar do órgão de controle externo da Administração Pública, o Tribunal de
Contas da União (TCU), em recente trabalho de fiscalização, ter identificado falhas na
execução dessa política pública, tais falhas não inviabilizam ou comprometem as metas e
objetivos traçados pela própria política, principalmente pela extensão da sua cobertura e
alcance social de sua execução.
A prática tem demonstrado que as ações judiciais propostas na área da oncologia não
têm se voltado contra as linhas principiológicas ou fundamentais que dão suporte à política
pública existente (PNAO), mas voltam-se, preponderantemente, para os pedidos de novos
medicamentos antineoplásicos, como forma de complementação do tratamento já realizado ou
oferecido à parte autora, pelo SUS.
Assim, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, com a qual se
comunga, existindo política pública no SUS, deve esta ser privilegiada, na solução da
demanda posta. Acontece que, na oncologia o SUS não padroniza lista de medicamentos, pois
292
a dispensação dos fármacos fica a cargo do prestador do serviço, com posterior cobrança ao
SUS, por meio de APAC. Dessa forma, nos casos de ações com pedido de medicamentos
antineoplásicos, a resposta aos quesitos indicados pela jurisprudência do STF, termina não
sendo buscada na instrução probatória, na forma como ali querido (na jurisprudência), mas
tomando em consideração apenas a interpretação constitucional dos valores jurídicos,
arraigados somente nos princípios e regras constitucionalmente pré-concebidas.
Voltando o olhar para os aspectos processuais e de técnica jurídico-processual, o
estudo chama à atenção dos órgãos do Poder Judiciário (especialmente os órgãos de instâncias
ordinárias) para a necessidade de uma instrução probatória mais substancial nesse tipo de
ação, incluindo a produção de prova pericial qualificada, prova essa que leve em consideração
os fundamentos baseados na melhor evidência científica da área da medicina.
Essa preocupação ganha relevo em razão das questões multifacetárias que circundam
os objetos das ações na área da oncologia: complexidade e especificidade da matéria;
utilização de diversos termos técnicos pelas partes em litígio; argumentos e teses construídas
com bases em informações técnicas elaboradas por outras áreas de conhecimento (médicos
prescritores de um lado e setores técnicos do SUS do outro).
O quadro descritivo das ações judiciais de oncologia tem assumido um relevante
papel na denominada “judicialização da saúde”, já que os tratamentos propostos (em
complementação ao disponibilizado pelo SUS) são de altíssimo custo para o sistema público,
com risco de inviabilizar outros programas e serviços do SUS. Não obstante, nesse tipo de
demanda judicial o elemento econômico não é o que mais tem preocupado os gestores do SUS
(o que não deixa de sê-lo, também), mas sim, a ausência de decisões judiciais amparadas em
lastro científico, elemento essencial e que deve orientar a atuação administrativa e judiciária,
na tomada de decisões nesta temática.
293
As ações de saúde, bem assim as decisões nelas proferidas, têm sido utilizadas como
instrumentos informadores e indicadores para a elaboração, revisão ou exclusão de Protocolos
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDTs) pelo SUS, para melhoria das diversas políticas
específicas de saúde pública, bem como para incorporação de novas tecnologias no SUS.
Nesse mesmo sentido, é de se notar que os elementos constantes das ações judiciais em curso
têm contribuído, em muitos casos, para a adoção de medidas urgentes e necessárias para o
controle e contenção de situações epidemiológicas (temporárias ou permanentes) surgidas no
país, numa determinada região ou área geográfica, bem assim para impulsionar o processo de
revisão e incorporação dos PCDTs, pelo SUS.
Por sua vez, constata-se que as decisões judiciais na área da saúde têm afetado,
diretamente, o princípio da descentralização político-administrativa do SUS, na medida em
que os julgados têm imposto diversas condenações contra União, determinando que esse ente
federativo custeie, adquira e dispense medicamentos. Há, por assim dizer, um retorno à
centralização da execução das políticas de execução pelo Ministério da Saúde, contrariando
uma das principais lutas do movimento da reforma sanitária. Em razão disso, o Ministério da
Saúde (bem assim os demais entes que integram o SUS) teve que estruturar um setor
específico no âmbito daquela pasta ministerial, trabalhando, exclusivamente com o
cumprimento dessas determinações judiciais (aquisição e dispensação de medicamentos e
insumos – realização de procedimentos cirúrgicos).
A casuísta demonstra que as demandas de saúde são, predominantemente, ações
individualizadas. Essa característica traz reflexos diretos sob os princípios da universalidade e
da equidade do sistema público de saúde, na medida em que o oferecimento de medicamento
a um dos usuários (independentemente da decisão ser administrativa ou por determinação
judicial) deve ser estendido a todos aqueles que estejam em situação similar.
294
Constatou-se que 87,96% das ações de saúde pesquisadas foram propostas pela
Defensoria Pública da União, em defesa de interesse individuais. Ademais, estas ações tinham
por objetos, basicamente, 12 espécies distintas de medicamentos antineoplásicos.
Compatibilizando essas duas premissas e tendo em vista que o art. 4º, inciso VII da Lei
Complementar nº 80/2003, legitima a Defensoria Pública da União para “promover ação civil
pública e todas as espécies de ações capazes de propiciar a adequada tutela dos direitos
difusos, coletivos ou individuais homogêneos quando o resultado da demanda puder
beneficiar grupo de pessoas hipossuficientes”; não resta dúvida de que a propositura de ações
coletivas (aqui subtendida ação civil pública), em muitos desses casos, teria imprimido maior
celeridade e economia processuais, além de realizar os fundamentos da processualística
contemporânea.
Na área da oncologia, como os medicamentos são de altíssimos custos e há uma
considerável estatística de falecimento dos pacientes ou de alteração de esquema de
tratamento (em razão de reações adversas no paciente), o risco de desperdício de dinheiro
público se transforma em possibilidade de fraudes ou de locupletamento ilícito. Uma solução
intermediária nesse tipo de demanda é vincular a dispensação ao órgão dispensador do
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica do SUS ou ao próprio
estabelecimento hospitalar onde o autor está em tratamento, pois há uma presunção de que em
qualquer deles estariam resguardados, pelo menos, os valores e interesses empregados por
qualquer dos entes do SUS.
Nesse mesmo sentido – perda de controle dos recursos empregados nos
cumprimentos das decisões -, outra preocupação tem sua razão de ser: a possibilidade de maus
gestores ou inescrupulosos agentes públicos se aproveitarem dos procedimentos lançados
nessas decisões, com a finalidade de legitimar práticas administrativas escusas e vedadas
pelos meios regulares de aquisição de bens e serviços, já que em sua quase totalidade, os
295
comandos judiciais determinam o cumprimento da obrigação com dispensa de licitação, nos
termos do art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93. É preciso não se descurar que, em situações
como essas, o Poder Judiciário, por não possuir instrumentos de controle e acompanhamento
dessas decisões, terminará por contribuir, ainda que indiretamente, para com as ações
fraudulentas de maus gestores, afetando sobremaneira os cofres públicos.
Um dos principais argumentos utilizados por alguns órgãos do Poder Judiciário para
deferir os pedidos de medicamento oncológico (mesmo sabedores que tais fármacos não
integram as políticas do SUS), reside no fato de que a Administração Pública tem dinheiro
para investir em propaganda e em outros programas ou ações, tidos por menos importantes
que a saúde. Apesar de que esse fundamento não seja de todo desarrazoado, nunca se deve
perder de vista que a questão da prescrição e dispensação de medicamentos, pela via judicial,
não passa, necessariamente, pela questão única do viés econômico. Não obstante, o fator
econômico não deve ser desconsiderado, principalmente quando se trata do futuro do atual
sistema público de saúde no país.
Ademais, é imprescindível destacar que nestas ações pelo menos dois interesses,
constitucionalmente tutelados, ganham relevância: o primeiro deles, trazido aos autos pela
parte autora das demandas, dar destaque à promoção da saúde, com reflexos sobre os
princípios da dignidade da pessoa humana e da garantia da vida e da incolumidade – com
amparo nos artigos 6ª; 7ª, IV; 34, VII; 35, III; 196; 197; 198; 199; 200 e 227, § 1º, todos da
Carta constitucional vigente no Brasil; o segundo, reiteradamente suscitado pelos réus, traz a
cotejo a alegação de dispêndio racional dos recursos públicos – fundamentados nos artigos 37,
XVI; 70; 71; 72; 74; 84, XXIII; 163; 164; 165; 166; 167; 168; 16; e 195, § 2o da Constituição
Federal de 1988.
Abstraindo-se das questões de limitação estritamente econômico-orçamentária,
torna-se imprescindível que o juiz se valha de postulados aplicativos-normativos, capazes de
296
estruturar uma solução otimizante para cada caso, em particular, aplicando-se o postulado da
proporcionalidade.
Essa técnica permitirá aos órgãos do Poder Judiciário, examinar, caso a caso e, se o
pedido de fornecimento de medicamento estiver em consonância com o princípio da
proporcionalidade, utilizando-se dos seus subprincípios, através dos quais devem ser
respondidas as seguintes indagações, de forma sucessiva e excludente: a) entre os vários
meios disponibilizados pelo Estado, o remédio mencionado na petição inicial é o mais
adequado a realizar o fim pretendido (adequação)?; b) há meios alternativos para a promoção
do mesmo fim com menor gasto para o Estado (necessidade ou exigibilidade)?; c) a melhoria
que o autor terá com o uso do remédio justifica os gastos que o Estado terá, ou seja, os
benefícios cientificamente comprovados (comparados ao tratamento já fornecido pelo SUS)
justificam o dispêndio financeiro que será efetuado pelos entes da Administração Pública
(proporcionalidade em sentido estrito)?.
Por sua vez, as conclusões fáticas extraídas de uma qualificada instrução probatória
poderiam colocar o julgador diante da efetiva colisão de direitos fundamentais ou até mesmo
demonstrar a inexistência de qualquer violação aos apontados princípios da dignidade da
pessoa humana e da manutenção da vida, fazendo com que tais decisões tivessem que,
explicita e concretamente, sopesar os valores envolvidos no litígio.
É preciso, pois, que as decisões judiciais que examinam pedido de custeio de
medicamentos antineoplásicos estabeleçam um procedimento comum, partindo do caso
concreto, das suas especificidades, dos reais benefícios que o medicamento pleiteado oferece
ao paciente (quando em comparação com os tratamentos cobertos pelo SUS). Porém, em
qualquer caso, devem ser utilizadas as comprovações científicas (apuradas em sede de
medicina baseada em evidências) como instrumento de construção de uma base técnica pelo
julgador, a qual subsidiará o processo de compatibilização dos elementos técnicos aos
297
elementos jurídicos, quando da aplicação do princípio da proporcionalidade, aplicado aos
direitos fundamentais envolvidos nessas ações.
Ademais, independentemente dos outros princípios que regem o Sistema Único de
Saúde (SUS), todos os operadores do direito e os gestores do sistema devem se orientar pelo
princípio do pertencimento do SUS ao povo brasileiro. Assim o fazendo, todas as tomadas de
decisão, seja judicial ou administrativa, deve colocar sempre em primeiro plano a ideia do
melhor uso dos recursos financeiros (que são finitos) como garantia de que estes estão sendo
usados para promover a saúde ou prevenir e detectar doenças, incluindo o maior número
possível de indivíduos, diagnosticando-os e tratando-os adequadamente, com a maior relação
benefício/custo estabelecida. As decisões judiciais não devem colocar em risco um sistema
público de saúde desenhado para atender a toda a população brasileira, principalmente quando
determinadas prescrições médicas não apresentam qualquer elemento de evidência científica,
especialmente quando comparadas com as políticas traçadas pelo SUS.
O Poder Judiciário necessita se qualificar para decidir, sem medo ou culpa, nas ações
envolvendo a área da saúde, para tanto precisa abrir concurso público para profissionais das
principais especialidades médicas e farmacêuticas, com especialização em medicina baseada
em evidências.
Outrossim, nas decisões e sentenças envolvendo medicamentos oncológicos, deve
haver uma parametrização do julgado, com o estabelecimento de critérios mais objetivos e
que facilitem o cumprimento do julgado, seja pela concessão de prazo judicial razoável e com
espeque em informações fornecidas pelos profissionais que prescrevem os tratamentos e
acompanham os pacientes-autores, abrindo-se uma janela terapêutica, na qual fique
estabelecido o prazo máximo para o início do tratamento proposto. Por sua vez, necessário se
faz que a aquisição dos fármacos, independentemente de quem for efetuar a compra, deve ser
feita pelo Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), já que os recursos que serão
298
utilizados na aquisição dos medicamentos são recursos públicos, ainda que para tanto seja
oficiado ao representante comercial da indústria farmacêutica que comercializa tal produto no
país que as notas fiscais sejam emitidas em nome do ente público que for condenado na
obrigação de adquiri-los.
Por fim, é imprescindível que seja estabelecida obrigação à parte autora para que
pelo menos a cada 3 (três) meses seja apresentado relatório médico acerca da utilização dos
fármacos deferidos pelo juízo, essa informação pode ser juntada aos autos ou encaminhada ao
ente do SUS responsável pela custeio e aquisição dos medicamentos, com a consequente
informação acerca dos resultados obtidos, para que os entes do SUS possam se utilizar esses
dados para fins estatísticos, de formulação das políticas públicas vigentes, na área da
oncologia e de controle dos recursos públicos empregados.
299
REFERÊNCIAS
ACIOLE, Giovani Gurgel. A saúde no Brasil : cartografia do público e do privado. São Paulo : Hucitec; Campinas, SP : Sindicato dos Médicos de Campinas e Região, 2006. ADEODATO, João Maurício. A retórica constitucional (sobre tolerância, direitos humanos e outros fundamentos éticos de direito positivo). 2 ed. – São Paulo : Saraiva, 2010. ALEXY, Robert. Direitos Fundamentais no Estado Constitucional Democrático. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, n. 217, p. 55-66, jul./set. 1999. ______ Teoria dos direitos fundamentais. Tradução Virgílio Afonso da Silva. 2 ed. São Paulo : Malheiros Editores, 2011. ALMEIDA, Verônica. Paciente esperou 67 dias por laudo após biopsia. Jornal de Pernambuco. Recife, 19 jan. 2012. Disponível em: < http://jconlineblogs.ne10.uol.com.br/maissaude/paciente-esperou-67-dias-por-laudo-apos-biopsia>. Acesso em 30 jan 2012. ANDRADE, José Carlos Vieira de. Os direitos fundamentais na Constituição Portuguesa de 1976. 3 ed. Coimbra : Almedina, 2006. ARIAS, Thomas D. Glosario de medicamentos: Desarrollo, evaluación y uso. Organización Panamericana de la Salud. Washington, D.C.: OPS, 1999. ATRIA, Fernando. Existem Direitos Sociais? Disponível em http://descargas.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01826630549036114110035/015570.pdf?incr=1. Acesso em 20 maio 2011. ÁVILA, Humberto Bergmann. A distinção entre princípios e regras e a redefinição do dever de proporcionalidade. Revista de Direito Administrativo. Rio de Janeiro, n. 215, p. 151-179, jan./mar. 1999. AWAD, Fahd Medeiros. Crise dos direitos fundamentais sociais em decorrência do neoliberalismo. Passo Fundo : UPF, 2005. BARATA, Luiz Roberto Barradas.; MENDES, José Diniz Vaz. Uma proposta de política de assistência farmacêutica para o SUS. . In BLIACHERIENE, Ana Carla. e SANTOS, José Sebastião dos (Org.). Direito à vida e à saúde: impactos orçamentário e judicial. São Paulo : Atlas, 2010. p. 160/78. BARATA, Rita Barradas. Cem anos de endemias e epidemias. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro, v. 5, n. 2, 2000. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232000000200008&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em 24 mar. 2012. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232000000200008.
300
BARCELLOS, Ana Paula de. O Direito à Prestações de Saúde: Complexidades, Mínimo Existencial e o Valor das Abordagens Coletiva e Abstrata. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direitos Sociais : Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie, Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2008. p. 803-826. ______ Constitucionalização das políticas públicas em matéria de direitos fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Direitos fundamentais: orçamento e “reserva do possível”. Porto Alegre : Editora do Advogado Editora, 2010. BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição : fundamentos de uma dogmática constitucional transformadora. 5 ed., São Paulo : Saraiva, 2003. ______ Da Falta de Efetividade à Judicialização Excessiva: Direito à Saúde, Fornecimento Gratuito de Medicamentos e Parâmetros para a Atuação Judicial. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direitos Sociais : Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie, Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2008. p. 875-903. BASSETE, Fernanda. Gastos do Governo Gasto do governo com remédios via ação judicial cresce 5.000% em 6 anos. O Estado de são Paulo. São Paulo, 28 abr 2011. Disponível em http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,gasto-do-governo-com-remedios-via-acao-judicial-cresce-5000-em-6-anos,711740,0.htm BASTOS, Elísio. Interpretação constitucional. Revista de Direito Constitucional e Internacional – Ano 10 – out./dez. São Paulo : RT, 2002, p. 241/255. BELLO, Enzo. Cidadania e Direitos Sociais no Brasil: Um Enfoque Político e Social. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direitos Sociais : Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie, Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2008. p. 177-205. BERTOLLI FILHO, Claudio. História da saúde pública no Brasil. 4 ed. São Paulo : Ática, 2000. BITTENCOURT, Henrique Neves da Silva.; RIBEIRO, Ana Flávia Tibúrcio.; NEUENSCHWANDER, Letícia Carvalho. Antineoplásicos. In FUCHIS, Flávio Danni e WANNMACHER, Lenita. Farmacologia clínica – fundamentos de terapêutica racional. 4 ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2010, p. 646-688. BOBBIO, Norberto: A Era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho; Rio de Janeiro : Elsevier, 2004. BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 14 ed. São Paulo : Malheiros Editores Ltda, 2004. ______ O Estado Social e sua Evolução Rumo à Democracia Participativa. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direitos Sociais : Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie Rio de Janeiro : Ed. Lumen Juris, 2008, p. 63-83.
301
BONFIM, José Ruben de Alcântara. Demandas judiciais por fármacos no Sistema Único de Saúde: direitos dos pacientes e provas científicas para se realizar o acesso. In KEINERT, Tânia Margarete Mezzomo. et al (Org.). As ações judiciais no SUS e a promoção do direito à saúde. São Paulo : Instituto de Saúde, 2009. p. 139/155. BONIFÁCIO, Artur Cortez. O direito constitucional internacional e a proteção dos direitos fundamentais. São Paulo : Método, 2008. BRANDÃO, Rodrigo. São os direitos sociais cláusulas pétreas? Em que Medida? In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direitos Sociais : Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie, Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2008. p. 451/483. BRASIL. Ministério da Saúde. Relatório Final da VIII Conferência Nacional de Saúde. Brasília : Ministério da Saúde, 1986. Disponível em http://conselho.saude.gov.br/biblioteca/Relatorios/relatorio_8.pdf. Acesso em 02 out 2011. ______ Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Regionalização da assistência à saúde: aprofundando a descentralização com eqüidade no acesso: Norma Operacional da Assistência à Saúde: NOAS-SUS 01/01 e Portaria MS/GM n.o 95, de 26 de janeiro de 2001 e regulamentação complementar / Ministério da Saúde, Secretaria de Assistência à Saúde. – Brasília: Ministério da Saúde, 2001. ______ Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Departamento de Descentralização da Gestão da Assistência. Regionalização da Assistência à Saúde: aprofundando a descentralização com eqüidade no acesso: Norma Operacional da Assistência à Saúde: NOAS-SUS 01/02 e Portaria MS/GM n.º 373, de 27 de fevereiro de 2002 e regulamentação complementar / Ministério da Saúde, Secretaria de Assistência à Saúde. Departamento de Descentralização da Gestão da Assistência. – 2. ed. revista e atualizada. – Brasília: Ministério da Saúde, 2002 ______ Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Departamento de Sistema e Rede Assistenciais. Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas: medicamentos excepcionais. Brasília : Ministério da Saúde, 2002a. ______ Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Programa Nacional de DST e Aids. O Remédio via Justiça: Um estudo sobre o acesso a novos medicamentos e exames em HIV/aids no Brasil por meio de ações judiciais / Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Programa Nacional de DST e Aids. Brasília: Ministério da Saúde. 2005. ______ Código Civil; Código Comercial; Código de Processo Civil; Constituição Federal. Obra coletiva de autoria da Editora Saraiva com a colação de Antonio Luiz de Toledo Pinto, Márcia Cristina Vaz dos Santos e Livia Céspedes. 2. ed. São Paulo : Saraiva, 2006. ______ Conselho Nacional de Secretários de Saúde. SUS: avanços e desafios / Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília : CONASS, 2006a.
302
______ Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Assistência farmacêutica na atenção básica: instruções técnicas para sua organização. Brasília : Ministério da Saúde, 2006b. ______ Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sistema Único de Saúde / Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília : CONASS, 2007. ______ Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 25 anos. Brasília : CONASS, 2007a. ______ Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Assistência Farmacêutica no SUS. Brasília : CONASS, 2007b. ______ Conselho Nacional de Secretários de Saúde. As Conferências Nacionais de Saúde: Evolução e perspectivas./ Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília: CONASS, 2009. _______ Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O Sistema Único de Saúde e a qualificação do acesso. Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Brasília: CONASS, 2009a. ______ Conselho Nacional de Secretários de Saúde. SUS 20 anos/ Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília : CONASS, 2009b. ______ Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Estimativa 2010: incidência de câncer no Brasil. Rio de Janeiro : INCA, 2009c. ______ Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Ciência e Tecnologia. Diretrizes Metodológicas : estudos de avaliação econômica de tecnologias em saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, Departamento de Ciência e Tecnologia. – Brasília : Ministério da Saúde, 2009d. ______ Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada. Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas: v. 1 / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada. – Brasília : Ministério da Saúde, 2010. ______ Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Especializada. Protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas: v. 2 / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Especializada. – Brasília : Ministério da Saúde, 2010a. ______. Ministério da Saúde. Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Capacitação_estados_ceaf.pdf. Disponível em http://portalsaude.gov.br. Acessado em 07 de mai. 2010b. ______ Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNAD – Um panorama da saúde no Brasil. Acesso e utilização dos serviços, condições de saúde e fatores de risco e proteção à
303
saúde – 2008. Rio de Janeiro : IBGE, 2010. Disponível em http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/panorama_saude_brasil_2003_2008/PNAD_2008_saude.pdf. Acesso em 13 out 2011. ______ Ministério da Saúde Saúde/ Secretaria de Atenção à Saúde/ Departamento de Regulação, Avaliação e Controle/Coordenação Geral de Sistemas de Informação. Manual de Bases Técnicas Oncologia – SAI/SUS - Sistema de Informações Ambulatoriais. Brasília : Ministério da Saúde, 2010c. ______ Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Assistência de Média e Alta Complexidade no SUS / Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília : CONASS, 2011. ______ Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Ciência e Tecnologia em Saúde / Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília : CONASS, 2011a. ______ Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Legislação Estruturante do SUS / Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília : CONASS, 2011b. ______ Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O Financiamento da Saúde / Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília : CONASS, 2011c. ______ Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Sistema Único de Saúde / Conselho Nacional de Secretários de Saúde. – Brasília : CONASS, 2011d. BUCCI, Maria Paula Dallari. Notas para uma metodologia jurídica de análise de políticas públicas. Fórum administrativo: direito público , Belo Horizonte, v. 9, n.104, out. 2009. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/28432>. Acesso em: 27 jan. 2010. CAMPOS, André. Construindo a saúde pública e o Estado nacional na era do saneamento. Hist. cienc. saude-Manguinhos, Rio de Janeiro, v. 6, n. 1, jun. 1999 . Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-59701999000200012&lng=pt&nrm=iso>. acessos em 24 mar. 2011. http://dx.doi.org/10.1590/S0104-59701999000200012. CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador – contributo para a compreensão das normas constitucionais programáticas. 2 ed. Coimbra : Coimbra editora, 2001. CARVALHO, Gilson de Cassia Marques. O momento atual do SUS... a ousadia de cumprir e fazer cumprir a lei. Saúde e Sociedade [online]. vol.2, n.1, pp. 9-24. 1993, http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-12901993000100003&script=sci_arttext. CARVALHO NETO, Menelick de. Público e Privado na Perspectiva Constitucional Contemporânea. Texto-base CEAD-UnB//AGU : Brasília, 2009. (verificar esse lançamento, conforme consta da monografia da UnB). CARVALHOSA, Modesto Sousa Barros. A ordem econômica na Constituição de 1969. São Paulo : Ed. Revista dos Tribunais, 1972.
304
CAVALCANTI, Hylda. SP, RS e RJ são estados que mais concentram processos na área de Saúde. Agência CNJ de Notícias. Disponível em http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/15675-sp-rs-e-rj-sao-estados-que-mais-concentram-processos-na-area-de-saude. Acesso em 26 dez 2011. ______ Núcleo de assistência às demandas judiciais no RJ já emitiu 2.800 pareceres. Agência CNJ de notícias. Brasília, 03 mai 2011. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/14208-nucleo-de-assistencia-as-demandas-judiciais-de-saude-do-rj-ja-emitiu-2800-pareceres>. Acesso em 18 fev 2012 CHIEFFI, Ana Luiza; e BARATA, Rita Barradas. Judicialização da política pública de assistência farmacêutica e eqüidade. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, 25 (8) : 1839-1849, ago, 2009. CLÈVE, Clèmerson Merlin. A eficácia dos direitos fundamentais sociais. Boletim Científico – Escola Superior do Ministério Público da União. Brasília, ESMPU, Ano II, n. 8, jul./set., 2003, p. 151/161. COURTIS, Christian. Cristérios de Justicialidade dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: uma Breve Exploração. Tradução Roberta Arantes Lopes. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direitos Sociais : Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie. Rio de Janeiro : Ed. Lumen Juris, 2008, p. 487-513. CUNHA, Paulo Ferreira da. Fundamentos da República e dos direitos fundamentais. Belo Horizonte : Fórum, 2008. CURY, Ieda Tatiana. Direito Fundamental à Saúde. Rio de Janeiro : Ed. Lumen Juris, 2005. CYRILLO, Denise C. e CAMPINO, Antonio Carlos C. Gastos com a saúde e a questão da judicialização da saúde. In: BLIACHERIENE, Ana Carla. SANTOS, José Sebastião dos. (org). Direito à vida e à saúde. São Paulo : Atlas, 2010, p. 27/41. DALLARI, Sueli Gandolfi. Direito Sanitário. In ARANHA, Márcio Iorio (Org.) Direito Sanitário e Saúde Pública, Brasília : Ministério da Saúde, 2003, p. 39-61. DIMOULIS, Dimitri. e MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. 2 ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2009. DUNCAN, Bruce B. et al. Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseada em evidências. 3. ed. Porto Alegre : Artmed, 2004. DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução Nelson Boeira. São Paulo : Martins Fontes, 2002. ______ A virtude soberana: a teoria e a prática da igualdade. Tradução Virgílio Afonso da Silva. São Paulo : Martins Fontes, 2005. EL DIB, Regina Paulocci. Como praticar a medicina baseada em evidências. J Vasc Bras 2007;6(1):1-4. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/jvb/v6n1/v6n1a01.pdf. Acesso em 18 fev 2012.
305
EMANUEL, Ezekiel. Entre a vida e a morte. Veja, São Paulo, n. 2229, p 17-21, 10 ago. 2011. Entrevista concedida a Gabriela Carelli. ESPÍNDOLA, Ruy Samuel. A constituição como garantia da democracia: o papel dos princípios constitucionais. Novos Estudos Jurídicos, Ano VI, n. 11, p. 51-69, out.2000. FEIJÓ, Adriana Maria de Vasconcelos. A importância dos conselhos de saúde para a efetivação dos princípios constitucionais relativos à saúde. Revista de Direito Sanitário, vol. 4, n. 2, p. 63-81, jul.2003. FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito Fundamental à saúde – parâmetros para sua eficácia e efetividade. Porto Alegre : Livraria do Advogado Editora, 2007. FRANCISCO, José Carlos. Dignidade Humana, Custos Estatais e Acesso à Saúde. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel.(Org.) Direitos Sociais : Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie, Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2008. p. 859-873. GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo : parte general . - 10a ed. - Buenos Aires : Fund. de Derecho Administrativo, 2009. GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. 7 ed. rev. e ampl. São Paulo : Malheiros Editores, 2008. HENRIQUE, Fátima Vieira. Direito Prestacional à Saúde e Atuação Jurisdicional. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. (Org.) Direitos Sociais : Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie, Rio de Janeiro : Lumen Juris, 2008. p. 827-858. HERRERA, Carlos Miguel. Estado, Constituição e Direitos Sociais. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direitos Sociais : Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie. Rio de Janeiro : Ed. Lumen Juris, 2008, p. 5-24. HESSE, Conrado. Significado de los derechos fundamentales. In BENDA, MAIHOFER, VOGEL, HESSE, HEYDE. Manual de derecho constitucional. 2 ed., Madrid : Marcial Pons, 2001. p. 83/115. HOFFMANN, Florian F. e BENTES, Fernando R. N. M. A litigância judicial dos direitos sociais no Brasil: uma abordagem empírica. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direitos Sociais : Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie Rio de Janeiro : Ed. Lumen Juris, 2008, p. 383-416. JORGE NETO, Nagibe de Melo. O controle jurisdicional das políticas públicas: concretizando a democracia e os direitos sociais fundamentais. Salvador : Editora JusPodivm, 2009. KEINERT, Tânia Margarete Mezzomo. Direitos fundamentais, direito à saúde e papel do executivo, legislativo e judiciário: fundamentos de direito constitucional e administrativo. in
306
KEINERT, Tânia Margarete Mezzomo. et al (Org.). As ações judiciais no SUS e a promoção do direito à saúde. São Paulo : Instituto de Saúde, 2009. p. 87/107. ______ Estado, Ética, Cidadania e Direito. In KEINERT, Tânia Margarete Keinert et al. (Org.). As ações judiciais no SUS e a promoção do direito à saúde. São Paulo : Instituto de Saúde, 2009, p. 173/176. KLIGERMAN, Jacob. Assistência oncológica e incorporação tecnológica. Revista Brasileira de Cancerologia, 2001, 47(3): 239-43. LEIVAS, Paulo Gilberto Cogo. Teoria dos direitos fundamentais sociais. Porto Alegre : Livraria do Advogado Editora, 2006. LIMA, Nísia Trindade. O Brasil e a Organização Pan-Americana da saúde: uma história em três dimensões. In FINKELMAN, Jacobo (Org.) Caminhos da saúde pública no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2002. LINS, Andrea Carla Veras. A produção da prova, o direito à saúde e a correlação nas ações individuais: uma visão pragmática. In BLIACHERIENE, Ana Carla. e SANTOS, José Sebastião dos (Org.). Direito à vida e à saúde: impactos orçamentário e judicial. São Paulo : Atlas, 2010. p. 105/118. LUÑO, Antonio Enrique Perez. Derechos Humanos, Estado y Constitución. 7 ed., Madrid: Tecnos, 2001. MACHLINE, Claude. A Assistência à saúde no Brasil. In STORPIRTIS, Sílvia [et al.]. Farmácia clínica e atenção farmacêutica. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2008, p. 3/14. MACIEL, Ethel Leonor Noia Maciel. Doenças negligenciadas: “Nova agenda para velhas doenças”. In S. Caponi, M. Verdi, F.S. Brzozowski, F. Hellmann (organizadores). Medicalização da Vida: Ética, Saúde Pública e Indústria Farmacêutica. Santa Catarina : Unisul, 2010. MARIN, Nelly (org.). Assistência farmacêutica para gerentes municipais. / Organizado por Nelly Marin et al. Rio de Janeiro : OPAS/OMS, 2003. Disponível em: <www.portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/af_gerentes_municipais.pdf>. Acesso em 20 de mai. 2010. MARQUES, Rosa Maria ; MENDES, áquilas Nogueira . O Sistema único de Saúde e o processo de democratização da sociedade brasileira. In: SANTOS, Rodolfo Fonseca dos. In VAZ, Flavio Tonelli; MUSSE, Juliana Sander; SANTOS, Rodolfo Fonseca dos. (Coords). 20 anos da Constituição Cidadã: avaliação e desafios da Seguridade Social. Brasília : ANFIP, 2008, p. 221-231. MARTINS, Sérgio Pinto. Direito da Seguridade Social. 8 ed. São Paulo : Atlas, 1997. MARTINS, Wal. Direito à Saúde. Belo Horizonte : Fórum, 2008.
307
MARTINS NETO, João dos Passos. Direitos fundamentais : conceito, função e tipos. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2003. MATTA, G. C. A organização mundial de saúde: do controle de epidemias à luta pela hegemonia. Trabalho Educação e Saúde, 3(2) p. 371-396, 2005. MEDICI, André Cezar. Da Atenção Primária às Redes de Saúde: Novos Caminhos para a Regionalização do SUS – FINAL. Disponível <http://monitordesaude.blogspot.com/2010/06/da-atencao-primaria-as-redes-de-saude_19.html>. Acesso em 1 nov 2011. MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro . São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 1990. MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais. 1 ed. 2ª Tiragem. São Paulo : Malheiros Editores, 2010. MERCADANTE, Otavio Azevedo et al. Evolução das políticas e do sistema de saúde no Brasil. In. FINKELMAN, Jacobo (Org.) Caminhos da saúde pública no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FIOCRUZ, 2002, p. 235-313. MINAYO, Maria Cecília de Souza. Construção de indicadores qualitativos para avaliação de mudanças. Rev. bras. educ. med. [online]. 2009, vol.33, suppl.1, pp. 83-91. ISSN 0100-5502. Recuperado em 24 de marco de 2012, de http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-55022009000500009&lng=pt&tlng=pt. http://dx.doi.org/10.1590/S0100-55022009000500009. MONTEIRO, Clarice. Fila de espera para biópsia de câncer é de até sete meses. Correio de Uberlandia. Uberlândia, 16 abr. 2011. Disponível em: http://www.correiodeuberlandia.com.br/cidade-e-regiao/fila-de-espera-para-biopsia-de-cancer-e-de-ate-sete-meses. Acesso em 25 nov. 2011. MORAIS, José Luis Bolzan de; SCHWARTZ, Germano André D.; PILAU SOBRINHO, Liton Lanes. Análise jurídico-constitucional do direito à saúde. Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Tomo 2, São Cruz do Sul : EDUNISC, 2003, p. 626/641. MOUFFE, Chantal. Por um modelo agonístico de democracia. Tradução e resumo de Pablo Sanges Ghetti; revisão da tradução de Gustavo Biscaia de Lacerda. Revista de Sociologia Política. Curitiba, 25, p. 11-23, nov. 2005. NOBRE JÚNIOR, Edilson Pereira. Ativismo Judicial: possibilidades e limites. Revista de Direito Administrativo e Constitucional, Belo Horizonte, ano 11, n. 43, jan./mar. 2011. _____ A jurisdição constitucional e os direitos fundamentais: uma análise em torno do direito ao desenvolvimento. Revista de Direito Administrativo e Constitucional, Belo Horizonte, ano 11, n. 46, out./dez. 2011.
308
NUNES, Altacílio Aparecido. A avaliação econômica de fármacos e outras tecnologias em saúde instrumentalizando o poder público e judiciário para a tomada de decisão: potencialidades e limitações. . In: BLIACHERIENE, Ana Carla. SANTOS, José Sebastião dos. (org). Direito à vida e à saúde. São Paulo : Atlas, 2010, p. 143/161. OLIVEIRA, Dalila Andrade. Das políticas de governo à política de estado: reflexões sobre a atual agenda educacional Brasileira. Educ. Soc., Campinas, v. 32, n. 115, p. 323-337, abr.-jun. 2011. OLIVEIRA NETO, Francisco José Rodrigues de. O juiz como garantidor dos direitos fundamentais. In: OLIVEIRA NETO, Francisco José Rodrigues et al. (Org.). Constituição e Estado social: os obstáculos à concretização da constituição. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais; Coimbra : Editora Coimbra, 2008, p. 137/147. ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE. O acesso aos medicamentos de alto custo nas Américas: contexto, desafios e perspectiva. Brasília : 2009. PAULA, Daniel Giotti de. Intranquilidades, positivismo jurisprudencial e ativismo jurisdicional na prática constitucional brasileira. In: NOVELINO, Marcelo (org). Leituras complementares de direito constitucional – teoria da constituição. Salvador : Editora JusPodivm, 2009, p. 321/344. PICON, Paulo Dornelles. Evidência científica e o papel do médico. In KEINERT, Tânia Margarete Mezzomo. et al (Org.). As ações judiciais no SUS e a promoção do direito à saúde. São Paulo : Instituto de Saúde, 2009. p. 199/211. PIOLA, Sérgio Francisco; VIANNA, Solon Magalhães. Rompendo as amarras no financiamento das políticas públicas de saúde. In VAZ, Flavio Tonelli; MUSSE, Juliana Sander; SANTOS, Rodolfo Fonseca dos. (Coords). 20 anos da Constituição Cidadã: avaliação e desafios da Seguridade Social. Brasília : ANFIP, 2008, p. 233-240. POLIGNANO, Marcus Vinícius. História das políticas de saúde no Brasil – Uma pequena revisão. Disponível em: http://www.saude.mt.gov.br/upload/documento/21/historia-das-politicas-de-saude-no-brasil-%5B21-130611-SES-MT%5D.pdf. Acesso em 16 set 2011. PULIDO, Carlos Bernal. Fundamentos, Conceitos e Estrutura dos Direitos Sociais: Uma Crítica a “Existem direitos sociais?” de Fernando Atria. In: Direitos Sociais: Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie. SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. SARMENTO, Daniel (Org.). Rio de Janeiro : Ed. Lumen Juris, 2008, p. 137-175. QUINELLATO, Luciano Vasconcellos. A diretriz de hierarquização do SUS: mudando a antiga perspectiva do modelo médico-assistencial privatista. 2009. Dissertação (Mestrado) – Curso Master in International Management da Fundação Getúlio Vargas. FGV/EBAPE – Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2009. REALE, Miguel. Lições preliminares de direito. 7 ed. São Paulo : Saraiva, 1980. RIBEIRO, Marcus Vinicius. Direitos Humanos e Fundamentais. 2 ed. Campinas : Russell Editores, 2009.
309
ROSENFELD, Michel. A identidade do sujeito constitucional e estado democrático de direito. Cad. Esc. Legisl., Belo Horizonte, v.7, n. 12, p. 11-63, jan./jun.2004. RUIZ, Alicia E. C. La realización de los derechos sociales em um estado de derecho. In: OLIVEIRA NETO, Francisco José Rodrigues et al. (Org.). Constituição e Estado social: os obstáculos à concretização da constituição. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais; Coimbra : Editora Coimbra, 2008, p. 41/48. SANT’ANA, Ramiro Nóbrega. A saúde aos cuidados do judiciário: A Judicialização das Políticas Públicas de Assistência Farmacêutica no Distrito Federal a partir da jurisprudência do TJDFT . Dissertação (Mestrado) – Programa de Mestrado em “Direito, Estado e Constituição”, Universidade de Brasília (UnB), Brasília, 2009. SANTOS, Lenir. Sociedade e Direito no SUS. In KEINERT, Tânia Margarete Keinert et al. (Org.). As ações judiciais no SUS e a promoção do direito à saúde. São Paulo : Instituto de Saúde, 2009, p. 180/188. ______ SUS: Contornos jurídicos da integralidade da atenção à saúde. In KEINERT, Tânia Margarete Keinert et al. (Org.). As ações judiciais no SUS e a promoção do direito à saúde. São Paulo : Instituto de Saúde, 2009a, p. 63/72. SANTOS, Lenir. ANDRADE, Luiz Odorico Monteiro de. Vinte Anos de SUS: O Sistema de Saúde no Brasil no Século XXI. Boletim de Direito Administrativo (BDA) . São Paulo, ano XXV, n. 7, p. 778-792, jul/2009. SARAIVA, Paulo Lopo. Garantia constitucional dos direitos sociais no Brasil. Rio de Janeiro : Ed. Forense, 1983. SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre : Livraria do Advogado, 2009. SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. In: NOVELINO, Marcelo (org). Leituras complementares de direito constitucional – teoria da constituição. Salvador : Editora JusPodivm, 2009, p. 31/68. SAYD, Jane Dutra.; VIEIRA JÚNIOR, Luiz.; VELANDIA, Israel Cruz. Recursos Humanos nas Conferências Nacionais de Saúde (1941-1992). PHYSYS. Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 8(2): 165-195, 1998. SCHEFFER, Mário. Judicialização e incorporação de tecnologias: o caso dos medicamentos para tratamento da AIDS no Sistema Único de Saúde. In KEINERT, Tânia Margarete Mezzomo. et al (Org.). As ações judiciais no SUS e a promoção do direito à saúde. São Paulo : Instituto de Saúde, 2009. p. 129/138. SILVA, César Roberto Leite da; e SINCLAYR, Luiz. Economia e mercados : introdução à economia, 19.ed. reformulada e atualizada. - São Paulo : Saraiva, 2010. SILVA, Clarice Sampaio. Direitos fundamentais e relações especiais de sujeição: o caso dos agentes públicos. Belo Horizonte : Fórum, 2009.
310
SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 7 ed. São Paulo : Malheiros Editores Ltda, 2008. SILVA, Paulo Thadeu Gomes da. Direitos fundamentais : contribuição para uma teoria geral. São Paulo : Atlas, 2010. SOUZA, Giselle. Estatísticas podem ajudar a diminuir demandas judiciais na área da saúde. Agência CNJ de Notícias. Disponível em http://www.cnj.jus.br/noticias/cnj/17458:estatisticas-podem-ajudar-a-diminuir-demandas-judiciais-na-area-da-saude&catid=223:cnj. Acesso em 26 dez 2011. TAVARES, André Ramos. Abertura epistêmica do direito constitucional. In: NOVELINO, Marcelo (org). Leituras complementares de direito constitucional – teoria da constituição. Salvador : Editora JusPodivm, 2009, p. 13/29. TEIXEIRA, Luiz Antonio (Coord.) De Doença desconhecida a problema de saúde pública: o INCA e o controle do Câncer no Brasil / Luiz Antonio Teixeira; Cristina M. O. Fonseca.- Rio de Janeiro : Ministério da Saúde, 2007. TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo existencial como conteúdo essencial dos direitos fundamentais. In SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel. Direitos Sociais : Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em Espécie. Rio de Janeiro : Ed. Lumen Juris, 2008, p. 313/339. WANNMACHER, Lenira. Medicina Paliativa: Cuidados e Medicamentos. Uso Racional de Medicamentos: Temas Selecionados. Volume 5, Número 1. Brasília: OPAS, dezembro de 2007. [www.opas.org.br/medicamentos/temas] ZAPAROLLI, Domingos. Bristol dispara estratégia no país para produto contra melanoma. Brasil Econômico. São Paulo, p. 26, 23 set. 2010.
312
FORMULÁRIO DE ANÁLISE DOS PROCESSOS
01) PROCESSO N° _________________________________________________ 02) VARA:_____ 03) MEDICAMENTO PEDIDO:_________________________________________ 04) FINALIDADE TERAPEUTICA:_____________________________________________ 05) ADVOGADO DA PARTE AUTORA: ( ) PRIVADO ( ) PÚBLICO: ____DPU ____OUTROS 06) RÉUS: ( )UNIÃO ( ) ESTADO RN ( )MUNICIPIO NATAL ( ) OUTRO MUNICÍPIO/ÓRGÃO:______________________________________________________ 07) RECEITUÁRIO MÉDICO ACOSTADO É LEGÍVEL E DETALHADO? ____________ fls._________ 08) RELATÓRIO DESCRITIVO DO QUADRO DE SAÚDE DO PACIENTE: ( ) SIM ( ) NÃO 09)ACOMPANHA EXAMES DIAGNÓSTICOS: ( ) SIM ( ) NÃO EM CASO AFIRMATIVO ESPECIFICAR OS EXAMES:_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 10) TUTELA DEFERIDA? ( ) SIM ( ) NÃO 11) OBRIGAÇÃO DE FAZER? ( ) SIM ( ) NÃO ENTE(S) OBRIGADOS PELA TUTELA: ( ) UNIÃO ( ) ESTADO ( )MUNICÍPIO ( ) OUTROS 12) CONTESTAÇÃO: ( ) UNIÃO ( ) ESTADO ( ) MUNICIPIO ( ) OUTROS 13) PERÍCIA REALIZADA? ( ) SIM – fls.____/____ ( ) NÃO CONCLUSÃO PERITO DO JUÍZO:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
313
14) FOI JUNTADO ALGUM DOCUMENTO COMPROVANDO EVIDÊNCIA CIENTÍFICA DO TRATAMENTO OU MEDICAMENTO SOLICITADO? ( ) SIM ( ) NÃO fls.________________ 15) A PARTE AUTORA TEM PLANO DE SAÚDE? (VERIFICAR PELOS EXAMES EXISTENTES NOS AUTOS): ( ) SIM ( )NÃO QUAL:________________________________ 16) TEM SENTENÇA?: ( ) SIM ( ) NÃO PROCEDÊNCIA ( ) IMPROCEDÊNCIA ( ) EXTINÇÃO ( ) CONDENAÇÃO: ( ) UNIÃO ( ) ESTADO ( ) MUNICÍPIO ( ) OUTROS 17) A PARTE FALECEU?: ( ) SIM ( ) NÃO 18) RENDA DECLARADA? ( ) SIM ( ) NÃO VALOR: R$_________________ 19)VALOR DA CAUSA? R$___________________________