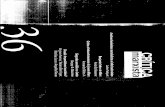Direito à saúde e finanças públicas: uma questão “trágica ” 1
Transcript of Direito à saúde e finanças públicas: uma questão “trágica ” 1
Direito à saúde e finanças públicas: uma questão “trágica”1
Daniel Giotti de Paula2
1. Introdução
A saúde é um dos direitos constitucionais que tem maior importância
para a sociedade. Por um imperativo lógico, de pouca utilidade se afigura a
concessão de um amplo leque de direitos fundamentais, como aqueles
conectados à propriedade, à liberdade, ao exercício do sufrágio universal, à
segurança, à ampla possibilidade de tutelar os próprios direitos em juízo, entre
outros, se o individuo não gozar de condições físicas e mentais mínimas.
De todos os direitos sociais, portanto, a fundamentabilidade do direito à
saúde advém da constatação básica de que a vida digna e em plenas
condições psicofísicas é status necessário para fruição de outros direitos
fundamentais. Sem banalizar a dignidade da pessoa humana3, é óbvio que o
direito à saúde está muito próximo na órbita daqueles direitos que gravitam ao
seu redor.
A saúde, porém, pensando em uma perspectiva de Teoria da Justiça,
não pode, em um Estado que pretenda ser algo mais que liberal, que é o caso
do Brasil, ser deixada à própria sorte das pessoas, contando com suas
individualizadas conformações genéticas e com a aptidão econômica que
possuem para buscar um tratamento médico adequado.
A universalidade da saúde, então, passa a ser um imperativo imposto ao
Estado e um direito de toda sociedade, por expressa dicção constitucional –
artigo 196, CF -, mas também como decorrência de ser a dignidade da pessoa
1 Agradeço ao Professor Felipe Asensi pelo convite em escrever sobre “Direito Sanitário” em uma perspectiva constitucional, tributária e de finanças públicas e aos Professores Luís Alberto Reichelt e Saul Tourinho Leal pela leitura prévia deste artigo, com observações importantes que incorporei a sua versão final.
2 Procurador da Fazenda Nacional, Diretor-Regional do Centro de Altos Estudos Jurídicos da PGFN no Rio de Janeiro, professor de Direito Tributário da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro e Mestre em Teoria do Estado e Direito Constitucional da Puc-Rio
humana um dos fundamentos; e a construção de uma sociedade livre, justa e
solidária, um dos próprios objetivos fundamentais da República Federativa do
Brasil.
O papel do Estado pode ser secundário no caso daqueles com
predisposição genética mais robusta e que dispõem dos meios econômicos
para buscar o melhor tratamento, que esperam apenas uma ação estatal que
controle à prática de medicina e, eventualmente, a compensação pelo
pagamento de serviços de saúde com redução ou anulação de parte dos
tributos com que contribuem para as despesas públicas.
Em um país, com déficit de promessas da modernidade não cumpridas,
é natural que ampla parcela da população não se contente com essa atuação
secundária do Estado, mas precise de um serviço de saúde custeado pelos
recursos públicos.
Nesse trabalho, serão abordadas quatro questões fundamentais no tema
da saúde em relação à tributação e às finanças públicas: 1) quando o Estado
deve oferecer uma prestação de saúde; 2) com quais recursos o Estado deve
custeá-la; 3) se existe algum controle sobre esses recursos; e, ainda, 4) é
possível, judicialmente, alterar as políticas públicas fornecidas para adequá-las
a necessidades próprias não contempladas pelo Estado.
3 A preocupação com o uso retórico da dignidade da pessoa humana tem sido apontada pelo Min. Dias Toffoli, para quem “é necessário salvar a dignidade da pessoa humana de si mesma, se é possível fazer essa anotação um tanto irônica sobre os excessos cometidos em seu nome, sob pena de condená-la a ser, como adverte o autor citado [João Baptista Vilella], ‘um tropo oratório que tende à flacidez absoluta’. E parece ser esse o caminho a que chegaremos, se prosseguirmos nessa principiologia sem grandes freios” (STF, RE 363889, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06.06.2011). Tratava-se de discutir a flexibilização ou não da coisa julgada em caso de investigação de paternidade, tendo fundamentado a possibilidade de reabertura da ação no fato de que a investigação de paternidade realizou-se de maneira irregular, sem o custeio do exame de DNA, cujo pagamento seria um dever do Estado para os hipossuficiente, sem recorrer à dignidade da pessoa humana. O Ministro Luiz Fux, todavia, apresentando voto-vista, embora também desse provimento ao recurso, fundamentou na técnica de ponderação, abraçando claramente o princípio da dignidade da pessoa humana que, no caso concreto, deveria prevalecer sobre a intangibilidade da coisa julgada.
A resposta a essas perguntas levará ao estabelecimento de alguns
critérios a orientar o Judiciário no julgamento da matéria.
Trata-se das escolhas trágicas colocadas ao magistrado, um drama a
ser encenado em três atos. Em verdade, o julgador deve optar entre legalidade
financeira ou concretização do direito social, verificando os custos de conceder
tratamento, medicamento ou serviço, não contemplados originariamente por
políticas públicas, desafiando a legitimidade democrática de legisladores e
administradores.
2. A fundamentalidade do direito à saúde no contexto constitucional
brasileiro
Uma das marcas do novo constitucionalismo, inaugurado a partir da
segunda metade do século XX, é a transformação do conteúdo dos direitos
constitucionais, que se expandiram para além dos direitos liberais clássicos4.
Ao catálogo de direitos fundamentais, entendidos primariamente como
direitos de defesa, trazendo a exigência de uma ação negativa ou omissão do
Estado em relação à esfera de liberdade dos cidadãos, forjados sob o signo do
liberalismo, acrescem-se novos direitos, de cunho social, a exigir do Poder
Público uma atuação positiva. Trata-se dos direitos sociais, de que são
exemplos o direito à saúde, à habitação, à alimentação, às condições dignas
de trabalho, entre outros.
A assimilação dos direitos sociais à gramática constitucional, porém, não
é unânime. Alguns constitucionalistas, como o alemão Ernst-Wolfang
Böckenförde, enfatizam que os direitos sociais reduzem o espaço democrático,
de livre conformação do legislador, pois a prática constitucional passa a ser um
exercício de mero cumprimento do que já está anterior e globalmente previsto
na Constituição5, de modo que o judiciário passa a ser um poder real na
sociedade. De qualquer sorte, na concepção do autor os direitos sociais seriam
apenas uma meta política, dependendo da atuação legislativa.
4 ALEXY, Robert. Sobre los derechos constitucionales a la protección. In: MANRIQUE, Ricardo García. Derechos sociales y ponderación. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2007, p. 46.
Outra crítica, capitaneada por Hayek, rotulada como liberalismo
conservador, e que desconsidera que é o direito, estruturando juridicamente a
propriedade, o que realmente conforma o mercado, aponta que, enquanto os
direitos individuais existem para proteger a ordem “espontânea” do mercado,
os direitos sociais implicam interferência despropositada na autonomia dos
cidadãos6.
Mesmo aqueles autores favoráveis à existência dos direitos sociais,
como Carlos Santiago Nino, apontam que a etiqueta de direitos sociais pode
levar ao equivoco de pensar que eles seriam diferentes dos direitos individuais
por serem passíveis de fruição de grupos, e não indivíduos, e que
pressuporiam o pertencimento a uma comunidade como condição para gozá-
los7.
A essas críticas se soma, talvez, a principal que é feita por parcela da
dogmática constitucional, segundo a qual enquanto os direitos de defesa
somente exigiriam uma não-intervenção do Estado, de forma que não
envolveriam custos para o Poder Público e seriam mais facilmente
implementados, os direitos à proteção, ao contrário, envolveriam altos custos
para sua implementação, já que necessitam de uma atuação positiva estatal.
Todos esses argumentos levaram, inicialmente, a não se reconhecer a
fundamentabilidade dos direitos sociais8. Essa argumentação não resistiu à
5 BÖCKENFÖRDE, Ernest W. Escritos sobre Derechos Fundamentales. Trad. Juan Luis Requejo Pagés e Ignacio Villaverde Menéndez. Baden-Baden: Nomos, 1993. No mesmo sentido, ALEXY, R. Op. cit. p. 49.
6 HAYEK, Frederick. The Road to Serfdom. Nova Iorque: Routledge Classics, 2005. Ver ainda NINO, Carlos Santiago. Sobre los derechos sociales. In: MAURINO, Gustavo. (org.) Los escritos de Carlos S. Nino. 1a ed., Buenos Aires: Gedisa, 2007, pp. 68-70.
7 Idem, p.68.
8 Foi essa a atitude inicial da jurisprudência do STF, superada durante a primeira década do século XXI. Exemplo paradigmático de como o STF se inclina pela jusfundamentabilidade dos direitos sociais é o RE 410.715/SP-AgR, 2a Turma, rel. Min. Celso de Mello, DJ 22/11/2005.
pena de Robert Alexy que mostrou serem os direitos sociais, como quaisquer
direitos fundamentais, ponderáveis, a partir do balanceamento entre liberdade
jurídica e fática, direito objetivo e subjetivo9, deduzindo-se sua
fundamentalidade do próprio texto constitucional10.
A desconstrução da teoria que não conferia fundamentabilidade aos
direitos sociais também contou com os escritos de Stephen Holmes e Cass
Sunstein, os quais demonstraram a falácia de se considerar apenas os direitos
à prestação como dependentes de recursos estatais.
Em sua famosa obra Os custos dos direitos, os juristas norte-americanos
afirma que todos os direitos são positivos, no sentido de exigirem prestação
estatal para serem implementados. As liberdades civis, classicamente
exortadas como direitos sem custos, somente serão plenamente exercidas pela
sociedade, se o descumprimento por parte de outros cidadãos e mesmo por
órgãos e entidades estatais, puder ser combatido.
Essa mudança de perspectiva do tema parte de premissa
aparentemente trivial. Adotando a máxima clássica de que onde há um direito,
há um remédio, os indivíduos somente gozam de um direito, em sentido
jurídico, e não apenas moral, se o próprio aparato estatal repara de forma justa
e previsível as ofensas que sofrem11. Daí que
“os direitos são custosos, porque os remédios o são. A imposição das
leis é custosa, sobretudo se tiver de ser uniforme e justa; os direitos legais
9 ALEXY, R. Op. cit.
10 BATISDA, Francisco J. ¿Son los derechos sociales derechos fundamentales? Por una concepción normativa de la fundamentalidad de los derechos. In: MANRIQUE, Ricardo G. Op. cit., p. 105.
11 HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. El costos de los derechos: por qué la libertad depende de los impuestos? . Trad. de Stella Mastrangello. Buenos Aires: Siglo Veintuno Editores, 2011, p. 63.
são vazios se não existe uma força que os faça ser cumpridos. Dito de outro
modo, quase todos os direitos implicam um dever correlativo, e os deveres
somente são levados a sério quando seu descuido é castigado pelo Poder
Público com recursos do erário público”12.
Assim, a própria opção pela existência do Estado Democrático de
Direito, pelo império das leis, em geral, e da Constituição, em particular,
envolve custos financeiros, uma vez que os poderes constituídos, os órgãos
estatais e as entidades descentralizadas, por óbvio, são mantidos com
recursos que, em geral, são obtidos de forma compulsória de todos os
membros da sociedade.
Com Juan F. Gonzáles Bertomeu, conclui-se, portanto, qualquer direito,
seja visto como uma liberdade civil, seja visto como um direito social, requer
um serviço público ativo. Os direitos sociais mostram mais claramente a
dimensão de que direitos envolvem uma prestação estatal, face que fica oculta
nas chamadas liberdades civis clássicas, em sua pretensa feição negativa13.
Na verdade, pode-se conceber um custo duplo na implementação nos
direitos sociais, cujo descumprimento pelo Estado-Administração leva a que,
além ser necessário utilizar recursos públicos para a concessão deles,
movimenta-se o aparato judicial, o que, por óbvio, envolve custos14.
Mesmo os direitos sociais possuem dimensão negativa, de modo que
“quando os titulares tiverem acendido ao bem que constitui o objeto desses
direitos – saúde, habitação, educação, seguridade social – o Estado tem a
obrigação de abster-se de realizar condutas que os afetem”15.
12 Idem, p. 64.
13 BERTOMEU, Juan F. Gonzáles. Prólogo - el Estado como precondición de los derechos: benefícios y limites de una concepción relevante para América Latina. In: HOLMES, S.; SUNSTEIN, C. R.. Op. cit., p. 15.
14 Devo essa excelente observação ao Professor Luís Alberto Reichelt.
De qualquer sorte, realçada a dimensão positiva de qualquer direito
constitucional, fica patente a relação entre eles, as finanças públicas e a
tributação, de modo que os direitos que uma sociedade reputa necessários
correspondem à medida dos tributos cobrados de cada cidadão16. Essa é a
razão, portanto, para que o legislador, que é o responsável por exercer a
competência tributária, também seja o departamento estatal que estabelece o
orçamento e fixe, genericamente, políticas públicas, concretizadas pelos
gestores e administradores.
A lógica seria: quem estipula o quantum a ser arrecadado pelo Estado,
tem a capacidade institucional de determinar quais políticas públicas pode
estabelecer, havendo um limite do que se pode realizar. Não se desconsidera,
porém, que os direitos não existem apenas quando realizados, em um aspecto
subjetivo, mas também sob um prisma objetivo, daí que o argumento da
ausência de recursos não possa, por si só, afastar a concessão de um direito
social, conforme será demonstrado.
Antes de se propor, destarte, um retorno à reserva do possível, pode-se
ver na teoria de Holmes e Sunstein que a legitimidade da tributação caminha,
pari passu, com os custos gerados pela implementação dos direitos.
A conclusão lógica é que uma sociedade menos desenvolvida, com
vários de seus membros dependentes da atuação estatal, e que tenha
problemas crônicos de criminalidade, cumprimento espontâneo do direito e que
não consiga atingir, na livre iniciativa, um mínimo necessário para sua
subsistência, demande uma maior redistribuição de renda dos setores mais
ricos para os mais pobres, na tentativa de se mitigar as desigualdades sociais
faticamente apreciáveis.
A teoria do custo dos direitos, em última análise, propugna pelo
abandono de dicotomias inúteis como a da oposição entre liberdades negativas
15 ABRAMOVICH, Victor; COURTIS, Christian. Apuntes sobre la exigbilidad judicial de los derechos sociales. In: GARGARELLA, Roberto. Teoría y Crítica del Derecho Constitucional. Tomo II. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009, p. 975.
16 BERTOMEU, J.F.G. Op. cit., p. 15.
e direitos sociais, fundamentada na premissa equivocada, embora ao gosto de
liberais mais ortodoxos, de que o Estado não pode interferir na ordem natural
da economia e da sociedade.
Na descrição de Holmes e Sunstein, os direitos, ao serem previstos
juridicamente, adquirem “dentes”, não sendo inofensivos ou inocentes, como os
direitos morais, que não tendo respaldo jurídico, apenas apelariam à
consciência17.
É verdade que os teóricos norte-americanos pensam a realidade
constitucional americana, pautada em uma Constituição sintética, focada nas
liberdades civis até pelo contexto de seu surgimento e em um federalismo real
que deixa espaço para que os Estados possam optar pela concessão de um ou
outro direito social.
Ademais, na atualidade, a concepção dominante de como ordenar as
instituições básicas da sociedade é o liberalismo, em suas múltilplas variantes,
algo que se intensifica no debate norte-americano, cuja sociedade possui um
ethos forjado no seio do pensamento liberal clássico.
Obviamente, existe um pensamento de esquerda, tanto na política,
quanto no direito, mas é assente que muitos dos juristas que ajudaram a
conceber o modelo jurídico atual – como Bentham, Austin, Kelsen, Hart e
Dworkin – foram influenciados pelo pensamento liberal. O pensamento
constitucional atual se afasta, de certa maneira, de um pensamento
eminentemente liberal, como se pode perceber entre os juristas que
propugnam por um constitucionalismo popular18, que se identifiquem com o
movimento do Critical Legal Estudies19 e os vários adeptos do ativismo judicial.
17 HOLMES, S; SUNSTEIN, C. R.. Op. cit., p. 34.
18 KRAMER, Larry D. The people themselves: popular constitutionalism and judicial review. New York: Oxford University Press, 2004.
19 UNGER, Roberto Mangabeira. The critical legal movement studies. In: “Harvard Law Review, vol. 6, n. 93, Jan./1983”.
Seja como for, o pensamento liberal irradiou para o direito e para a
política uma premissa equivocada, como se houvesse algum direito sem custo
e que as liberdades civis nada mais são do que criações jurídicas para manter
a ordem espontânea da sociedade, em geral, e do mercado, em particular.
Buscar a fundamentalidade do direito à saúde no constitucionalismo
brasileiro, por outro lado, parece tarefa menos hercúlea. Virou lugar-comum
apontar que a Constituição da República Federativa do Brasil é pródiga no
estabelecimento de direitos, tendo surgido no movimento do dirigismo
constitucional inaugurado com a Constituição portuguesa de 1976.
Daí que, não apenas pelo contexto, como também pelo próprio texto
constitucional, não seja difícil apurar que a saúde é um direito fundamental,
devendo-se ler a Carta de 1988, colocando ênfase no artigo 196, que coloca a
saúde como “direito de todos”.
Assume-se como uma premissa necessária para a existência em
sociedade que todos possuam condições psicofísicas, pelas quais, acaso
ausentes, a sociedade, em geral, e o Estado, em particular, deve fornecer
meios para serem restabelecidos.
De certa forma, essa é a lógica de qualquer direito fundamental, em cujo
cerne, por óbvio, há a influência do pensamento liberal, sobretudo da idéia de
autonomia privada.
Assim, o artigo 5º, ao preceituar que garante “aos brasileiros e
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do “direito à vida, à liberdade,
à igualdade, à segurança e à propriedade”, reconhece que vida, liberdade,
igualdade, segurança e propriedade, como direitos fundamentais, merecem
tutela especial, exigindo, além de um dever de abstenção, o oferecimento de
serviços públicos que os garantam.
Pense no direito à propriedade. É ela um direito de todos, como o é a
saúde? Em nenhum momento, garante-se a propriedade a quem deseja tê-la,
mas a quem consegue os meios econômicos para garanti-la, muito embora se
possam estabelecer mecanismos redistributivos em situações excepcionais.
Mesmo a educação, que também seria por dicção constitucional um
“direito de todos” (artigo 205, CF), no “acesso aos níveis mais elevados de
ensino, da pesquisa e da criação artística” não é facultada pelo Estado a quem
queira, mas “segundo a capacidade de cada um”.
Ainda que haja direitos sociais na Carta Constitucional, não há duvidas
de ela não se afasta de raízes liberais, segundo as quais a meritocracia e a
herança são vetores determinantes na fruição dos direitos, e não apenas o
simples desejo humano de tudo querer.
O modelo constitucional brasileiro, assim, deve ser interpretado como
emancipador, não podendo se conceber o Estado de forma paternalista,
influindo demasiadamente nas escolhas de cada indivíduo e o sobrecarregando
além dos limites que a existência humana impõe à sociedade. Recomenda-se,
por óbvio, um sopesamento entre o direito à saúde do individuo com direitos de
outros indivíduos e de toda a sociedade.
Uma das faces da escolha trágica na concessão de tratamentos e
remédios é justamente não observar esses limites, considerando, ainda, que o
direito à saúde integra o mínimo vital ou existencial de cada individuo.
3. O direito à saúde como parte do mínimo existencial: quem presta e de
onde vêm os recursos públicos?
Um dos ganhos institucionais obtidos com as Constituições é justamente
o reconhecimento de um elenco de direitos, sem os quais a existência humana
se inviabiliza. Refere-se aqui ao mínimo existencial que, nos dizeres de Ricardo
Lobo Torres, seria o “direito às condições mínimas de existência humana digna
que não pode ser objeto de intervenção do Estado e que ainda exige
prestações estatais positivas”20.
Embora não tenha dicção constitucional própria no Brasil, ao contrário
de outros países21, há uma tendência em se reconhecer o mínimo vital como
um núcleo inalcançável pela via dos tributos (=imunidade), impedindo o
exercício da competência tributária do Estado e, ainda, chancelar sua
implementação pela atuação estatal, o que geraria para Ricardo Lobo Torres o
20 TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p.8.
21 Idem, pp. 8-9.
reconhecimento da jusfundamentabilidade dos direitos sociais no que se
restringe ao mínimo existencial22.
O reconhecimento dos direitos sociais como exigíveis ou sindicáveis –
termo ao gosto da doutrina portuguesa – implica rediscutir o papel da tributação
no Estado contemporâneo. É que se o aparato estatal passa a ser muito
demandado, o que envolve maior dispêndio de recursos públicos, a
fundamentação do pagamento dos tributos não pode ficar, apenas, em sua
compulsoriedade, característica incorporada ao conceito legal brasileiro de
tributo (art. 3º, CTN).
Sendo o pluralismo a tônica de um Estado Democrático de Direito, o
consenso deve servir de fundamento para a produção normativa, do que não
discrepa a tributação23.
Em verdade, tomando-se como base a Constituição da República
Federativa do Brasil, constata-se um viés de transformação da realidade,
próprio do Estado Democrático de Direito, e que é concebido como instrumento
da sociedade para atingir fins constitucionalmente estabelecidos24.
Certo, porém, que a convivência em sociedade pressupõe manter laços
de solidariedade, tentando-se buscar consenso em meio ao pluralismo. Se
muitos são os anseios dos grupos sociais, é natural que o rol dos direitos
constitucionalmente estabelecidos se amplie e, em conseqüência, demande-se
maior participação da sociedade como um todo no seu custeio.
Daí que seja necessário que todos arquem com as despesas públicas, o
que define um lugar de primazia da solidariedade na fonte de legitimidade dos
tributos.
22 Idem, pp. 9 e 35.
23 RIBEIRO, Ricardo Lodi. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 22.
24 GRECO, Marco Aurélio. Solidariedade Social e Tributação. In: GRECO, Marco Aurélio; GODOI, Marciano Seabra de (org.). Solidariedade Social e Tributação. São Paulo: Dialética, 2005, p. 172.
Não restam dúvidas, nesse sentido, de que tributação e saúde se
relacionam, pois a fonte remota de sua legitimidade radica num dever jurídico
de solidariedade, próprio da existência em sociedade.
No tratamento do tema, várias abordagens podem ser realizadas.
A primeira perpassa a possibilidade de se imunizar ou isentar serviços
de saúde ou aparelhos médicos utilizados para tratamento, considerando-os
como a busca do particular, por meios próprios, de um mínimo vital necessário
para a própria sobrevivência. Se caberia ao Estado implementá-lo, mas o
particular prefere buscar o mercado para satisfazer suas necessidades, sem
gerar dispêndio de receitas públicas, a conseqüência, sob um prisma de justiça
material, é dar-lhe tratamento tributário favorecido, invocando-se, pelo menos,
a idéia de que não deve ser tributado o mínimo existencial.
Lembre-se, portanto, de que a prestação do serviço de saúde se
enquadra na modalidade dos serviços públicos sociais, ou seja, aqueles não-
exclusivos, podendo ser prestados pelo Estado ou por particulares, sem a
necessidade do estabelecimento de qualquer vinculo formal, como permissão
ou concessão.
Interessante que, conforme entendimento sufragado pelo Supremo
Tribunal Federal, mesmo quando prestados por particulares, os serviços
públicos sociais não perdem sua natureza de públicos25. Naturalmente, deve o
“Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação,
fiscalização e controle” (artigo 197, CF).
Cumpre ainda alertar que, no setor da saúde, ganha relevo a questão
das entidades non profit, aquelas que não objetivam lucro e se adéquam bem
25 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 6.584/94 DO ESTADO DA BAHIA. ADOÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR E LIVROS DIDÁTICOS PELOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO. SERVIÇO PÚBLICO. VÍCIO FORMAL. INEXISTÊNCIA. 1. Os serviços de educação, seja os prestados pelo Estado, seja os prestados por particulares, configuram serviço público não privativo, podendo ser prestados pelo setor privado independentemente de concessão, permissão ou autorização. 2. Tratando-se de serviço público, incumbe às entidades educacionais particulares, na sua prestação, rigorosamente acatar as normas gerais de educação nacional e as dispostas pelo Estado-membro, no exercício de competência legislativa suplementar (§2º do ar. 24 da Constituição do Brasil). 3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade julgado improcedente. (ADI 1266, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 06/04/2005, DJ 23-09-2005 PP-00006 EMENT VOL-02206-1 PP-00095 LEXSTF v. 27, n. 322, 2005, p. 27-36)
aos casos em que o mercado falha na regulação26, sendo a elas concedidos
benefícios fiscais. O Direito Administrativo brasileiro prevê duas entidades non
profit: as Organizações Sociais e as Organizações da Sociedade Civil de
Interesse Público.
Como variadas são as formas de prestar o servido de saúde, fica
patente o papel relevante que ele possui no Direito brasileiro.
Nesse sentido, note-se que o serviço público de saúde está à disposição
mesmo de quem dispõe de meios financeiros para custeá-lo, a ponto de a
Constituição estabelecer o “Sistema Único de Saúde”, financiado pelos
recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e os Municípios, (artigo 198). Na análise do direito à saúde, não se
pode desconhecer que mesmo quem dispõe de recursos para custear um
tratamento particular, em situação de emergência, pode se dirigir a um
estabelecimento público.
O sistema de medicina privada está proclamado no artigo 199, da
Constituição da República Federativa do Brasil. Com olhos voltados para a
situação atual, Ricardo Lobo Torres pontua que existem dois sistemas de
saúde no Brasil:
“a) o SUS, gratuito, precário e com acesso universal, que a própria
prática reservou para os pobres e miseráveis, salvo no que concerne aos
estabelecimentos universitários e modelares, que objeto de predação pelas
classes médicas e ricas; b) o sistema privado, contributivo e de boa
qualidade, seletivamente reservado às classes econômicas superiores”27.
26 SACCHETO, Claudio. O dever de solidariedade no Direito Tributário: o ordenamento italiano. In: GRECO, Marco Aurélio; GODOI, Marciano Seabra de. Solidariedade Social e Tributação. São Paulo: Dialética, 2005, p. 13
27 TORRES, R. L. Op. cit., p. 249.
Essa realidade, porém, não é a que foi buscada constitucionalmente. O
sistema público de saúde deve ser o mais amplo possível. Mas por que a
realidade se desloca do que a Constituição estabelece?
A resposta simplista coloca apenas como um problema de malversação
dos recursos públicos, alicerçado no patrimonialismo que seria intrínseco na
formação cultural brasileira28. Dinheiro que deveria ser utilizado para o custeio
de serviços públicos é deslocado para cofres privados, com sucessíveis e
repetidos casos de corrupção.
Essa explicação cultural não é a única possível, escondendo uma
realidade constitucional: a todo direito chancelado aos cidadãos corresponde
um dever fundamental a cargo da sociedade, que é custeá-lo.
Abandonando-se a abordagem de se perquirir os limites para o exercício
da competência tributária quanto aos gastos expendidos para custear a saúde 29
28 Sobre patrimonialismo, ver FAORO, Raymundo. Os donos do poder. Rio de Janeiro: Editora Globo, 2001.
29 A primeira abordagem, possível e necessária, abandonada neste artigo pelas muitas discussões que o tema da saúde e as finanças públicas envolvem, poderia perpassar a análise sobre eventuais limites para que gastos com saúde sejam deduzidos do imposto de renda, universal por excelência. Nesse sentido, “as deduções dos gastos com serviço de saúde não tem limites; do mesmo modo quanto às despesas com remédios, mesmo quando não incluídos nas despesas do tratamento médico-hospitalar, são inequivocamente bens protegidos pela proteção existencial” (VALADÃO, Alexander Roberto Alves. O mínimo existencial e as espécies tributárias. Tese de Doutoramento apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito pela Universidade Federal de Paraná, sob orientação do Professor José Roberto Vieira, 2006, p. 303). Fundamentado também na idéia de mínimo existencial é a isenção de imposto de renda para os portadores de doenças graves. Aspecto mais difícil é pensar que a complexidade da tributação brasileira leva à predominância de tributação indireta sobre o consumo, o que, segundo estudos econômicos do IPEA, indica que a medida de tributação sobre a compra de remédios pelas famílias atinge uma média de 21% (MAGALHÃES, Luís Carlos G. de (coord.); et alli. Tributação sobre gastos com Saúde das famílias e do Sistema Único da Saúde: avaliação da carga tributária sobre medicamentos, material médico-hospitalar e próteses/órtese, 2001, p. 47). De lege ferenda, sabendo que os contribuintes de fato, nos tributos indiretos brasileiros, são os próprios consumidores, pode-se conceber a possibilidade de restituição dos tributos pagos.
– que se complica, no caso brasileiro, à falta de uma previsão expressa como a
do artigo 105, da Constituição de Bonn de que “o mínimo existencial é imune a
impostos”30, importa saber como o Estado obtém recursos para o custeio dos
serviços de saúde postos a seu encargo e efetivamente buscados pelo
particular.
O atual Estado Fiscal traz como a forma, por excelência, de obter
receitas o tributo. Passada a fase em que o Estado buscava, por si mesmo,
atuar diretamente na economia, quando gerava receitas patrimoniais e
originárias, entende-se atualmente que todos devem arcar com o custeio das
prestações públicas.
É nesse, sentido, inclusive que se coloca a tributação, como
fundamentada em um dever de solidariedade, no sentido de que todos que
possuam condições econômicas devem dispor, compulsoriamente, de parte de
seus recursos, para custear o funcionamento do Estado e a existência de toda
sociedade. Mais que subtração, o tributo é uma contribuição ao Erário, que é
comum31, sendo ainda o tributo o preço da liberdade,
O financiamento do serviço público de saúde, prestado pelo Estado, se
dá por contribuições sociais (PIS/PASEP, COFINS e CSLL) e por tributos
neutros como o imposto de renda32, o que é considerado por Ricardo Lobo
Torres como algo anômalo e que gera distorções no sistema financeiro
brasileiro. No entanto, a existência de tributos com destinação específica para
a saúde recomenda uma interpretação mais favorável à concessão de serviços
e medicamentos por parte do Estado.
Por mais que se arrecade, porém, certo é que as aspirações humanas
são inalcançáveis. Todos queremos o melhor tratamento possível, o melhor
medicamento possível, o melhor profissional a nossa disposição.
30 Idem, p. 9.
31 SACCHETO, Claudio. Op. cit. p. 11.
32 Idem, p. 252.
Essa necessidade humana deve ser contemplada pelo Estado? Aí reside
a escolha trágica. É preciso conceber uma escolha racional prévia sobre quais
os limites da atuação estatal na prestação do serviço de saúde.
Com John Rawls, podem-se pegar emprestadas as idéias de posição
original e véu da ignorância, para, a partir desses artefatos contrafáticos33,
perguntar-se: se eu não tivesse condições sócio-econômicas mínimas, o que
eu gostaria que o Estado prestasse em termos de serviço de saúde? A
pergunta não ficaria completa, porém, sem outra que necessariamente deve
acompanhá-la: com o que eu, na qualidade de cidadão, quero me
comprometer, recolhendo tributos, para prestar serviço público de saúde aos
membros da sociedade como um todo?34
O filósofo norte-americano, ao longo de sua obra, estabelece que não
basta haver uma legislação fundamental que garanta a liberdade de
consciência e a liberdade de pensamento político, sendo necessárias medidas
básicas, para que todos os cidadãos possam participar na vida política e
social”. Esse mínimo social faz parte dos fundamentos constitucionais35.
Na verdade, abaixo de certo nível de bem estar social e material os
cidadãos não estão, de fato, emancipados e não podem ser considerados
cidadãos participes da sociedade.
Essa premissa não habita apenas o Olimpo das investigações
filosóficas. Estudos empíricos sérios e recentes sobre o comportamento
humano demonstram que é natural as pessoas tentarem pensar a dialética
33 Para Adrian Vermuelle “se são ou não as particularidades da teoria, a questão importante é que a idéia de véu da ignorância, pelo menos fornece uma lente útil através da qual se pode apreciar as complexidades do desenho constitucional” (Veil of ignorance rules in Constitutional Law. In: “The Yale Law Journal, Vol. 111, No. 2. (Nov., 2001)”, p. 433.
34 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Trad. Almiro Pisetta e Lenita Maria Rimoli Esteves. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p 146.
35 RAWLS, John. Political Liberalism. New York: Columbia University Press, 1996, pp. 227-228.
equidade-eficiência de suas atitudes a partir de um juízo em que motivos
egoísticos e de equidade interfiram uns nos outros, desconsiderando-se
resultados extremamente iguais ou desiguais a serem atingidos com
redistribuições de renda. Mesmo que um resultado seja menos eficiente, pode
ser que o individuo o tome, pensando em um resultado menos injusto em
relação a outros indivíduos36.
Essa concepção que não desconfia da natureza antropológica do
homem que, como ser social, não pode adequar suas atitudes apenas por
interesses egoísticos, também é tributária de uma concepção liberal de justiça.
Entra em cena, na questão dos direitos constitucionalmente
estabelecidos, o discurso da igualdade, que foi inicialmente cristalizado pelo
principio mediador da igualdade formal, não sendo um discurso socialista,
como aponta o julgo comum, mas um discurso democrático, inaugurado na
modernidade pela Revolução francesa37.
Na contemporaneidade, porém, a igualdade tornou-se referencial para
uma socialização dos direitos, de “igualdade ficta para intento de igualdade real
‘pensada’, programada inclusive como reguladora de uma ordem não
existente”38.
A igualdade, além de princípio autônomo, portanto, passou a ser
entendida como um dever de solidariedade de todos os indivíduos, para que as
desigualdades naturais sejam mitigadas. O véu da ignorância parte do discurso
36 TRAUB, Stefan; SEIDL, Christian; SCHMIDT, Ulrich. An experimental study on individual choice, social welfare and social preferences, disponível em http://www.ifw-members.ifw-kiel.de/publications/an-experimental-study-on-individual-choice-social-welfare-and-social-references/choicewelfarepreferences2ndrevision.pdf, acesso em 30.05.2011, p. 29.
37 GENRO, Tarso. Os fundamentos da Constituição no Estado de Direito. In: MARTINS, Ives Gandra; MENDES, Gilmar Ferreira; NASCIMENTO, Carlos Valder do. Tratado de Direito Constitucional. São Paulo: Editora Saraiva, 2010, p. 131.
38 Ïdem, p. 133.
da igualdade e pode ser transposto, também, para um modelo constitucional
socializante.
De qualquer sorte, a concepção liberal de justiça não é, repita-se,
incompatível com o modelo constitucional brasileiro. A leitura de Rodolfo
Arango, porém, relativiza a teoria rawlsiana nesse ponto, já que a determinação
do mínino social estaria condicionada socialmente, o que não limita seu caráter
como conteúdo essencial da Constituição39.
A questão passa, contudo, em saber qual conteúdo se pode extrair da
Constituição brasileira para o direito à saúde, focando-se nas peculariedades
de a tributação brasileira estar fundamentada na solidariedade e a sociedade
brasileira apresentar déficits quanto às promessas da modernidade.
Tomando como base a realidade colombiana, que não discrepa
totalmente da brasileira, Rodolfo Arango descreve o círculo vicioso pelo qual
passa parcelas pobres e miseráveis da população que não usufruem das
mesmas condições de vida de outros setores:
“milhares de crianças pedem moedas nas cidades da Colômbia.
Essas crianças são desprovidas de comida, abrigo, saúde e educação.
Esse é o paradoxo no contexto de uma constituição que estabelece que
a educação é obrigatória e livre nas instituições públicas. Mas por razões
práticas esse comando continua no papel: não existem vagas suficientes
nas escolas, nem recursos suficientes para cobrir custos adicionais que
permitiram a todas crianças irem à escola; também, em muitos casos os
parentes vivem na miséria e precisam do que seus filhos recebem
mendigando nas ruas para cobrir as necessidades básicas da família, o
que na prática retira essas crianças da educação. Há, então, um círculo
vicioso: crianças de família de baixa renda são condenadas a viver na
miséria (...)40”. [tradução livre]
39 ARANGO, Rodolfo. El concepto de derechos sociales fundamentales. Bogotá: Legis, 2005, p. 245
40 ARANGO, Rodolfo. Realizing Constitutional Social Rights Through Judicial Protection. In: “Beyond Law, n. 25, 2002”, p. 80.
Daí que seja natural que, na Colômbia, de 1200 decisões dadas pela
Corte Constitucional 60% delas sejam concernentes ao reconhecimento de
direitos sociais. Ao contrário de sociedades estruturalmente bem ordenadas,
onde as liberdades prevalecem sobre metas de eqüidade, no Terceiro Mundo a
relação se inverte: direitos sociais são considerados mais importantes que
liberdades individuais41.
Essa análise consenqüencialista sugere que as razões constitucionais
militam em favor de os juízes constitucionais garantirem os direitos sociais, de
modo que as razões contrárias, tais como falta de dinheiro e infra-estrutura, na
opinião do jurista colombiano, deixem de justificar o não-reconhecimento dos
direitos sociais42.
O substrato sócio-político para feitura das Constituições e sua
subseqüente concretização, na América Latina, afasta-se de um modelo que se
contente apenas com a proteção da autonomia privada, imputando-se ao Poder
Público o cumprimento de metas de eqüidade.
O entendimento de Rodolfo Arango, contudo, desconsidera particulares
que alguns casos podem ensejar, muito embora aponte para uma presunção
relativa a favor da concessão judicial de direitos sociais.
Fica a pergunta, então, de se na ausência do estabelecimento de
políticas públicas de saúde que contemplem os desejos dos cidadãos, pode o
Estado intervir, concedendo diretamente um medicamento ou custeando um
tratamento?
4. Como entender a jusfundamentalidade em um ambiente de escassez ou
sobre os vários atos da escolha trágica de um magistrado
4.1.Considerações gerais
41 ARANGO, R. Op. cit., 2002, p. 80.
42 Idem, p. 81.
Seja qual for o montante de arrecadação, não é possível crer que
qualquer individuo terá o tratamento preventivo e curativo que desejar, com
quem desejar e onde desejar. No estabelecimento das destinações dos
recursos públicos, o Estado precisa atender a inúmeras necessidades, marcas
próprias de uma sociedade plural.
Daí que o Estado, em geral, estabeleça previamente quais os serviços,
medicamentos e tratamentos serão oferecidos à sociedade, orientado por um
ideal de macro-justiça, não se preocupando apenas com questões de micro-
justiça, com as necessidades individuais.
Ricardo Lobo Torres chama de utopia a previsão de gratuidade nas
prestações de saúde, estabelecida no artigo 43, da LF n. 6.080/90 43, pugnando
pela fundamentalidade do direito à saúde apenas quanto ao mínimo existencial
e resguardando a medicina preventiva44.
Segundo o jurista, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 271.286-
RS adotou posição maximalista, proclamando que o “direito à saúde representa
conseqüência constitucional indissociável do direito à vida”, o que teria servido
para, ao mesmo tempo reforçar o status jusfundamental do mínimo vital, levar a
exageros, impingindo ao Estado o dever de atender a pleitos de setores ricos
da população.
Pode-se adotar aqui a teoria encampada pelos juristas Cass Sunstein e
Adrian Vermeule, para os quais a interpretação constitucional deve ficar a
cargo daqueles órgãos ou entidades com maior capacidade institucional para
analisar as questões constitucionais45, o que transposto para o caso presente,
43 TORRES, R. Op. cit., 252.
44 ALMEIDA E SILVA, Alda de. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana? O tratamento estatal ao mínimo existencial. Dissertação de mestrado apresentada no Programa de Pós-Graduação em Teoria do Estado e Direito Constitucional da PUC-Rio. Orientador: Fabian Florian Hoffmann, 2008, p. 117.
45 SUNSTEIN, Cass; VERMEULE, Adrian. Interpretation and institutions. In: “Michigan Law ReviewVol. 101, No. 4 (Feb., 2003), pp. 885-951”.
implica deixar o juízo sobre o conteúdo do direito à saúde, enquanto prestação
estatal exigível, a cargo de quem dispõe de dados técnicos para compatibilizar
o texto constitucional e a realidade fática.
Nesse sentido, não é necessário maior esforço argumentativo para
entender que são os órgãos executivos e legislativos que detêm maior
capacidade para implementar o direito à saúde, partindo de análises técnicas e
refletindo sobre como melhor aproveitar os recursos públicos.
Esse argumento, porém, não pode ser levado às últimas conseqüências,
sendo a maior aptidão dos órgãos representativos uma presunção em face da
qual cabe prova em contrário.
Saul Tourinho Leal, em interessante artigo46, traz exemplo paradigmático
de que somente se pode levar em conta essa presunção como relativa. O
Tribunal de Contas da União (TCU), cooperando com o Tribunal de Contas do
Tocantins, constatou-se que o Conselho Estadual de Saúde de Tocantins,
órgão de controle social no Estado, gozava de pouca independência na
formulação das políticas públicas, in verbis:
“Todos os problemas verificados foram corroborados pela pouca
atuação do Conselho Estadual de Saúde de Tocantins, órgão de controle
social que, no Estado, conforme se observou, goza de pouca
independência, haja vista a sua presidência ser exercida, de forma nata,
pelo próprio Secretário de Saúde, que, paradoxalmente, deveria ter a
sua atuação fiscalizada e controlada pelo referido Conselho. Ou seja, a
situação em Tocantins caracteriza-se naquela em que a figura do gestor
e a do controlador da gestão se confundem, em detrimento do princípio
constitucional da moralidade.”47
Por outro lado, pode ser que algum caso individual, que muitas vezes
não é abarcado pelas previsões genéricas e abstratas, tenha que ser levado
46 LEAL, Saul Tourinho. Ativismo judicial: as experiências brasileira e sul africana no combate à AIDS, disponível em http://jus.uol.com.br/revista/texto/19156/ativismo-judicial-as-experiencias-brasileira-e-sul-africana-no-combate-a-aids/1, acesso em 30.05.2011.
em conta. Daí que o Judiciário possa atuar, analisando um caso de micro-
justiça.
Não é possível conceber-se aprioristicamente o direito à saúde. Ele
dependerá, por óbvio, da forma como as políticas públicas serão estabelecidas
e, eventualmente, de quais critérios o Judiciário fixará para a concretização do
direito.
A conformação judicial deste direito constitucional está ainda para ser
realizada, mas é possível extrair do leading case apontado que é 1)
constitucional o ente político formular uma política pública de distribuição de
medicamentos; 2) destinados, porém, à população carente; 3) não eximindo o
Estado de uma atividade preventiva, de combate a epidemias48.
A verdade, porém, é que a conformação do direito será complementada
pela dimensão que o judiciário lhe der49 ao julgar alguns casos relevantes,
Está claro que o Poder Judiciário brasileiro não adota a máxima de que
a Constituição “não requer o Poder Judiciário (mas das ramas políticas), para
garantir o bem estar geral”50, mas pelo menos autoriza a atuação excepcional
dos juízos e tribunais.
Na conformação do direito à saúde, será relevante a atuação do STF,
quando decidir, em sede de repercussão geral, a controvérsia concernente à
47 TCU, AC-1266-27/07-P, Plenário. Proc.: 003.094/2007-8. Relatório de Auditoria de Conformidade - Fiscalis n° 1005/2006. Órgão/Entidade: Secretaria Estadual de Saúde de Tocantins (SES/TO); e Fundo Estadual de Saúde (FES/MS). Ministro Relator, Valmir Campelo. SECEX-4 - 4ª Secretaria de Controle Externo SECEX-TO - Secretaria de Controle Externo – TO. Apensos: TC 028.686/2006-0; TC 021.448/2006-7; TC 012.960/2007-8.
48 TORRES, R. Op. cit., p. 254.
49 Saul Tourinho Leal (O debate imaginário entre Luís Roberto Barroso e Richard Poner quanto à concretização judicial do direito à saúde. In: Caderno Virtual do IDP, n. 23, v. 1, Jan-Jun/2011) faz o inventário dos aspectos do direito à saúde pendentes de julgamento no STF e STJ.
obrigatoriedade ou não de o Poder Público disponibilizar medicamentos de alto
custo para os indivíduos51.
Outros pontos relevantes na conformação passarão pelo crivo do STJ,
ao qual caberá definir três temas em sede de recurso repetitivo: o fornecimento
de medicamentos sob pena de bloqueio ou seqüestro de verbas públicas52; a
obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos não contemplados em
portaria do Ministério da Saúde, órgão responsável pela formulação das
políticas públicas de saúde53; e a discussão sobre a legitimidade do Ministério
Público para pleitear medicamento necessário ao tratamento de saúde de
paciente, bem como a admissão da União como litisconsorte necessária54
É induvidoso que a medicina preventiva é um direito de todos,
realmente. O Estado deve evitar epidemias, questão de saúde pública que não
pode ser deixada apenas na boa vontade dos cidadãos. A bem da verdade,
muitas vezes trata-se do exercício do poder de polícia.
O que é duvidoso, e passa a ser uma escolha trágica para o Judiciário, é
saber em quais condições a Administração Pública deve ser coativamente
50 Roberto Gargarella (Justicia y derechos sociales: lo que no dice el argumento democrático. In: GARGARELLA, Roberto (coord.). Op. cit., p. 968) cita que essa frase constou de decisão da Suprema Corte argentina (Fallos 325:396, julgado em 12.03.2002) e que se coaduna com o populismo em sua critica ao ativismo judicial quanto aos direitos à saúde, teoria que, na América Latina, tem servido de lastro para o argumento de que “as referências que faz a Constituição em matéria de direitos sociais aludem unicamente aos ramos do poder político que controlam a tributação nacional e têm a legitimidade democrática para distribuir os recursos aos diversos grupos sociais”
51 RE 566471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 15/11/2007.
52 REsp 1.069.810/RS, Rel. Min. Luiz Dux.
53 REsp 1.102.457/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves.
54 REsp 1.110.552/CE, Rel. Min. Eliana Calmon.
obrigada a prestar ou financiar um tratamento, serviço ou medicamento e,
ainda, quais as repercussões no âmbito das finanças públicas dessa
intervenção.
A escolha é trágica por vários motivos, um drama que pode ser dividido
em três atos.
4.2.O primeiro ato na escolha trágica: o direito à saúde como a realização
existencial do individuo
O primeiro ato, mais visível, é que muitas vezes quem busca a tutela
jurisdicional argumenta que aquele serviço, aquele medicamento ou aquele
tratamento, é o que atenderá a suas necessidades. Muitas vezes, argumenta-
se, dele depende a melhora de suas condições psicofísicas ou a própria
manutenção da vida.
O pedido chega aos julgadores carregado de emoção, apelando para um
eventual e metafísico sentimento de justiça, ficando os fundamentos jurídicos
calcados na fundamentalidade do direito social e na dignidade da pessoa
humana. Não raro, o julgador define antes que vai conceder o direito, buscando
após o fundamento jurídico, em nítido exercício de um juízo tópico55.
O dever de que as decisões judiciais devem ser motivadas,
expressamente positivada no caso brasileiro (art. 93, X, CF), mas que seria
uma decorrência lógica do Estado de Direito, não implica a imposição de um
modelo contrafático, como se o juiz julgasse apenas com base na razão, de
maneira totalmente neutra.
Esse ideal de neutralidade56, substituído ainda que, retoricamente, pelo
de imparcialidade, traz um modelo de juiz solitário, tributária da lógica
matematizante que a modernidade impôs.
A crítica ao modelo tradicional de discurso jurídico assevera que ele
representaria “nas sociedades modernas um dos veículos privilegiados de que
há uma razão determinante nas coisas,de que há um ‘sentido’, de que há uma
55 Sobre a tópica jurídica, ver ATIENZA, Manuel. Las razones del derecho: teorias de la argumentación jurídica. 2ª ed. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2005.
maneira neutra e objetiva de resolver as contradições humanas”57. Essa figura
idealizada do juiz, porém, resiste no imaginário popular58, como se ele fosse
guiado apenas por um “sentimento de justiça”, objetivado a partir das escolhas
realizadas pelo legislativo e corporificadas em normas jurídicas.
Entretanto, o controle do ato jurisdicional, aquilatado pela motivação,
não deve se preocupar com a sensibilidade e a intuição do julgador, que não
podem ser apagadas da realidade, mas perpassar a análise de se a decisão
judicial seguiu o direito positivo, forma de contenção da discricionariedade
judicial que, a partir da teoria dos princípios, ficou reduzida a poucos casos
previstos especificamente pelo direito59.
A invocação da dignidade da pessoa humana, por óbvio, não pode ser
banalizada. O conteúdo jurídico que pode ser extraído do princípio, quando em
análise o direito à saúde, exige uma maior deferência às ações de
56 Na teoria jurídica, esse apego à razão levou a idéia de se separar os atos de criar e aplicar o direito, colocando que o ato de criar o direito pode, sim, envolver influências ideológicas, mas não a aplicação do direito. Lembre-se, porém, de que autores mais voltados a um pensamento jurídico-político de esquerda, como Duncan Kennedy, apostam que o sentimento de justiça é inevitavelmente ideológico, de modo que, embora possa ser angustiante desconstruir o mito da neutralidade, a atividade judicial, pode, ainda sim ser exercida com o máximo sentido de responsabilidade e gerando efeitos emancipadores (KENNEDY, Duncan. Izquierda y derecho: ensayos de la teoria jurídica crítica. Trad. Guillermo Moro, Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2010).
57 MORO, Guillermo. Introdución. In; “KENNEDY, Duncan. Izquierda y derecho: ensayos de la teoria jurídica crítica. Trad. Guillermo Moro, Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2010”, p. 25.
58 Idem.
59 Sobre juiz solitário e modelos de juízes, ver meu Ainda existe separação de poderes? A Invasão da política pelo direito no contexto do ativismo judicial e da judicialização da política. In: “FELLET, André Luiz Fernandes; PAULA, Daniel Giotti de Paula; NOVELINO, Marcelo. As novas faces do ativismo judicial. Salvador: Jus Podium, 2011.
hipossuficientes e para aquelas doenças de descoberta recente, pois os órgãos
executivos e legislativos não tiveram como prever alguma prestação estatal.
O Judiciário pode, muitas vezes, reverter uma política pública de saúde
que não contemple os hipossuficientes. Nesse ponto, autores há que apontam
que no estabelecimento do direito à saúde, ainda, se segue a lógica de
contemplar setores dominantes e ricos60, fruto de nossa sociedade que não
está ordenada eficientemente, sob a qual pesa ainda a herança patrimonialista.
Segundo Alexandre Ciconello, o “Brasil ainda é um país comandado por
uma elite política e econômica que se estrutura em torno de privilégios. É em
grande parte por isso que as leis e os direitos (mesmo garantidos na
legislação) são cumpridos parcialmente, sempre excluindo os mais pobres”.
Não obstante possa haver um tom de exagero na afirmação, propõe-se
que um critério normativo para a atuação judicial é ter maior deferência aos
pleitos que envolvam gestantes, idosos, pessoas carentes e crianças.
Ademais, doenças novas, de diagnostico recente, dão ensejo a uma
atitude maximalista do Judiciário, quanto mais apresentarem risco de morte
acentuado e exigirem um tratamento rápido.
O STF já teve ocasião de afirmar que o fato de “"não constar entre os
medicamentos listados pelas Portarias do SUS não é motivo, por si só, para o
seu não fornecimento, uma vez que a Política de Assistência Farmacêutica visa
contemplar justamente a integralidade das políticas de saúde a todos os
usuários do sistema”61, raciocínio que também pode ser aplicado para a
ausência de registro na ANVISA.
A ausência de registro pode ser analisada sob duplo enfoque. Se um
medicamento tiver o registro negado pela ANVISA, o Judiciário somente poderá
superar a discricionariedade técnica administrativa, se a negação tiver sido
60 CICONELLO, Alexandre. A participação social como processo de consolidação da democracia no Brasil. In: “GREEN, Duncan. Da pobreza ao poder: como cidadãos ativos e estados efetivos podem mudar o mundo. Tradução de Luiz Vasconcelos. São Paulo: Cortez; Oxford: Oxfam International, 2009”, pp. 617/618.
61 STF, STA n 260/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 20.04.2010.
desproporcional ou irrazoável, contrariando opiniões da comunidade médica e
indo de encontro a uma ampla aceitação em outros países. Para o caso de um
medicamente ainda não aprovado ou em processo de análise, o Judiciário
pode ser mais ativista.
Frise-se, ainda, que, conforme Gilmar Ferreira Mendes, o “poder público
não tem o dever de se antecipar ao progresso da ciência, não podendo ser
responsabilizado por suposta omissão no acolhimento e inclusão nos
protocolos clínicos de medicamentos experimentais ou lançamentos sem
consistente comprovação de eficiência e eficácia”62.
Isso porque, provavelmente, para novas doenças ainda não existirá
previsão de medicamentos nas portarias dos órgãos públicos, nem estarão
lotados de profissionais de saúde habilitados para o tratamento.
Esse exercício de prudência63, que rende homenagem ao princípio da
dignidade da pessoa humana em vez de banalizá-lo, não necessariamente
ruim, peca quando não se analisam os impactos financeiros da decisão, que se
não podem ser utilizados para negar o direito, precisam ser levados em conta
na forma como concedê-lo.
Diante dessa situação, os juízes têm que decidir se invadem uma esfera
de decisão que, segundo o constitucionalismo democrático, caberia aos
poderes políticos, cujos membros são eleitos diretamente pela sociedade e que
devem, portanto, escolher as políticas públicas na área de saúde. Conforme
Roberto Gargarella, quando os juízes concretizam direitos sociais, eles
62 TESSLER, Marga Inge Barth. A trajetória do STF na solução das questões envolvendo prestações referentes à saúde. Breves comentários sobre aspectos debatidos na Audiência Pública nº 4 do STF, disponível em http://www.trf4.jus.br/trf4/upload/editor/apg_marga_SAUDE.pdf, acesso em 30.05.2011.
63 É de Eros Roberto Grau a expressão de que o juiz age com prudência, teoria forjada com base no positivismo jurídico kelseniano e na hermenêutica gadameriana, para a qual “o intérprete jurídico, ao produzir normas jurídicas, pratica a juris prudentia, e não uma juris scientia. O intérprete, então, atua segundo a lógica da preferência, e não conforme a lógica da conseqüência”. Na verdade, o autor aponta a incoerência da teoria da única resposta correta, pugnando pela existência de várias interpretações igualmente corretas e que o juiz, a escolher, age por prudência e não com ciência (Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/aplicação do direito. 2ª ed., São Paulo: Malheiros, 2003, p. 97).
terminam por substituir os legisladores na tarefa de escolher como uma
comunidade deve se organizar sócio-economicamente64.
A crítica à atuação dos juízes pode ainda se sofisticar, caso se leve em
conta que eles não decidem orientados pela influência global que suas
decisões podem ter, mas pensam apenas no caso concreto. É óbvio, que o
recurso ao judiciário justamente se dá, em geral, para resguardar o direito de
um individuo.
Há quem advogue racionalidade nessas escolhas trágicas, a partir do
estabelecimento de standards interpretativos. É o caso de Luís Roberto
Barroso que propugna ser possível o judiciário no âmbito de ações individuais
conceder medicamentos previstos em listas dos órgãos dos entes políticos65.
A concessão de medicamentos já estabelecidos pela Administração
Pública não oferece maiores problemas, sendo mero cumprimento forçado de
um direito garantido. Nesse caso, tem-se que a reserva do possível não pode
ser invocada, como não poderia ser invocada para a fruição de uma liberdade
civil clássica.
Adotar esse critério não vai à raiz do problema que é justamente saber:
em quais casos um medicamento ou serviço não previsto pode ser conferido?
O tema ainda vai ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
Em uma primeira abordagem, pergunta-se: caso haja um medicamento
mais eficiente, deve o Judiciário fornecer? Durante a audiência pública que
tratou do tema, no âmbito do STF, apontou-se o perigo de algumas ações
individuais servirem a interesses de laboratórios, forçando a mudança de uma
política pública.
64 GARGARELLA, Roberto. Justicia y derechos sociales: lo que no dice el argumento democrático. In: GARGARELLA, Roberto (coord.). Teoría y crítica del Derecho Constitucional. Tomo II. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009, p. 966.
65 BAROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. In:”Revista de Interesse Público, n. 46, 2007.
O critério proposto por Barroso, muito embora parta da premissa
verdadeira de que o juiz foca sua análise a partir da micro-justiça e
desconsidera aspectos globais na formulação da política pública, desconhece
que o desenvolvimento tecnológico pode tornar o tratamento de ontem menos
eficiente que uma nova descoberta. Daí que não haja uma proibição
apriorística da concessão de medicamentos e tratamentos não previstos
administrativamente.
Se não é possível exigir ao Estado se antecipar à ciência, que segundo
a epistemologia científica moderna baseia-se mais em evidência do que em
certeza, colocando em questão uma suposta neutralidade dos cientistas e
expertos66, a verdade é que o Judiciário precisa analisar com cuidado, a partir
de estudos técnicos, se concede ou não tratamentos e medicamentos não
contemplados em políticas públicas.
Ingo Sarlet propõe que, se não é possível um retorno à concepção do
direito à saúde como norma programática, também é necessário “rejeitar o
famoso ‘pediu-levou’, não importado quem pediu, o que pediu, as
conseqüências da decisão”67.
O jurista sugere que seja criada, no âmbito dos juízos e tribunais,
assessoria técnica sobre o tema, para ajudar os julgadores em suas decisões.
Parece, contudo, que a substituição de um tratamento por outro recomenda
prudência, um juízo de balanceamento entre a eficiência científica apontado
para um e para o outro tratamento ou serviço.
66 Ver HAACK, Susan. Trial and error: the Supreme Court’s Philosophy of Science, disponível emhttp://128.40.111.250/evidence/content/haack.pdf, acesso em 30.05.2011. Outra crítica contundente vem de Ulrick Beck (A sociedade de risco. São Paulo: Editora 34, 2010, pp. 265-266, para quem a ciência tem fabricado constrições objetivas, não sendo possível falar em escolhas neutras e totalmente objetivas.
67 SARLET, Ingo. Manifestação durante a audiência pública sobre direito à saúde convocada pelo Min. Gilmar Mendes. Disponível em http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/Sr._Ingo_Sarlet__titular_da_PUC_.pdf, acesso em 31.05.2011.
Exemplo hipotético ajuda a consolidar o entendimento. Suponha-se que
haja doença raríssima, para cuja cura é necessária complexa intervenção
cirúrgica. Apontados quatro casos no Brasil, todas as pessoas foram operadas
por um mesmo especialista, mas acabaram falecendo. Entretanto, constata-se
que há profissional nos Estados Unidos, reconhecido em revistas
especializadas e na imprensa em geral, que operou a mesma quantidade de
pessoas e obteve êxito no tratamento em todos.
O fato de um medicamento ou serviço ser altamente custoso, também,
não afeta por si só a intervenção judicial. Se assim é no oferecimento de justiça
gratuita para os hipossuficientes, independentemente do valor da ação, a
concessão de um tratamento ou medicamento não pode ficar condicionada ao
valor, muito embora isso seja levado em conta na formulação da política
pública.
Sendo a pessoa carente, pode ela pleitear um tratamento específico68?
Sim, desde que comprovada a necessidade de um tratamento especial, cujo
êxito é proporcionalmente maior ao oferecido no SUS.
A resposta é negativa, porém, se o método, serviço ou medicamento
alternativo for apenas um pouco mais eficiente proporcionalmente, mas
envolver custos mais dispendiosos. Imagine que se tem um tratamento A, ao
custo X e cuja eficiência é de 85%, enquanto existe um tratamento B, ao custo
2X e cuja eficiência é de 90%.
Se o impacto individual pode parecer pouco, a multiplicação das ações
ou uma mudança da política pública, aumentaria muito o dispêndio de recursos
públicos, com aumento de eficiência diminuto.
Se esse juízo, muitas vezes, é feito pelos indivíduos em seus cotidianos,
preferindo remédios genéricos ou com princípios ativos próximos, um pouco
menos eficientes, mas que possuem preços mais baixos, nada impede que
seja transposto para o Estado.
68 O tratamento médico no exterior já foi chancelado pelo STJ: REsp 353.147, 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, j. 15.10.2002, DJ 18.08.2003.
4.3.O segundo ato dramático: os custos dos direito à saúde e a possível
limitação de seu conteúdo pela ausência de recursos públicos
O segundo ato da escolha trágica no tema da judicialização dos direitos
à saúde, conectado ao segundo, é: sabendo que existem meios alternativos ou
que o direito individual de alguém não foi acolhido, como implementá-los se o
Poder Público argumenta a falta de previsão orçamentária?
Holmes e Sunstein atrelam a exigibilidade do direito à existência de
recursos públicos para custeá-los, de modo que a concretização dos direitos
constitucionais se reduz quando os recursos públicos estiverem esgotados,
assim como serão suscetíveis de expansão – atingindo maior número de
interessados e melhorarão qualitativamente -, se os recursos públicos
aumentarem69. Clara está, aqui, uma relação entre tributação e concessão de
direitos sociais.
Lógico que a pretensão de se fornecer direitos constitucionais à
população e de se estabelecer políticas públicas não autoriza a expropriação
forçada sem limites dos particulares. É justamente pela efetivação das políticas
públicas terem como maior responsável o Poder Executivo, que o Poder
Legislativo tem prerrogativa de avaliação na instituição e majoração de tributos.
Segundo Ricardo Lodi Ribeiro, conferir essa prerrogativa ao Poder Legislativo
evita à tendência natural que os gestores ficam tentados a aumentar a carga
tributária, a pretexto de atender às demandas sociais, em vez de administrarem
um orçamento contido70.
De qualquer sorte, a solidariedade não pode ser vista, nesse sentido,
como fundamento para uma tributação escorchante, mas como um dever
necessariamente conectado à concretização de direitos constitucionais.
De outro lado, a conformação do direito à saúde depende dos recursos
públicos disponíveis. Pelo Sistema Tributário Nacional, que no caso do direito à
saúde, estabelece seu financiamento por tributos gerais – impostos – e
69 HOLMES, S.; SUNSTEIN, C.R. Op. cit., p. 120.
70 RIBEIRO, Ricardo Lodi. Op. cit., p. 22.
específicos – contribuições -, não haveria espaço para uma atuação tímida do
Poder Público. A universalidade deve ser uma aspiração em direção aqueles
que não possuem os meios para buscar a prestação privada do serviço de
saúde.
Não se admite, assim, que o argumento de ausência de previsão de
custeio de um tratamento ou um serviço, não previsto na política pública de
saúde de algum ente político, afaste, necessariamente, uma pretensão
individual ou coletiva.
Cabe a demonstração, por parte do Poder Público, de que aquela
concessão esbarra na reserva do possível. O tema deve ser bem
compreendido, o que não vem sendo realizado pela doutrina pátria. Segundo
arguta observação de Fernando Fróes Oliveira, “ao contrário do que
convencionalmente se argumenta, será sempre possível ao administrador
financiar as despesas públicas geradas pelo Poder Judiciário”71, sempre
havendo alguma saída como a elevação da carga tributária, contrair
empréstimos – onerando os contribuintes futuros – e a alteração da política
monetária, escolha que ficará ao juízo discricionário dos gestores e
administradores.
Assim, a implementação de um direito para cujo custeio não há previsão
orçamentária revela-se mal colocado, “não residindo na ausência de recursos
efetivos, mas nos custos sociais que poderiam advir da busca por tais
recursos”72. Para o autor, então, o problema passa quando se pensa na
implementação de um tratamento de saúde vultoso, por exemplo, sob a
perspectiva econômica, pela legitimidade de se imputar aos cidadãos gastos,
para os quais não tenham, por seus representantes, manifestado aquiescência.
71 OLIVEIRA, Fernando Fróes. Finanças Públicas, Economia e Legitimação: alguns argumentos em defesa do orçamento autorizativo. In: FELLET, André Luiz Fernandes; PAULA, Daniel Giotti de.; NOVELINO, Marcelo. (coord.). As novas faces do ativismo judicial. Salvador: Jus Podium, 2011, p. 704.
72 Idem.
A verdade, porém, é que muitas vezes os recursos destinados à rubrica
de saúde são sequer totalmente utilizados73, o que mitiga o argumento
fazendário de ausência de recursos.
Não se deve esquecer, porém, a admoestação de Gilmar Ferreira
Mendes, feita durante a audiência pública n. 04 do STF, no sentido de que “a
garantia da integralidade do atendimento no SUS começa com a elaboração
dos orçamentos”.
Recorde-se que as despesas públicas não implicam uma
discricionariedade ilimitada na deliberação sobre em que investir, já que “a
despesa pública deve atender às necessidades coletivas, estando
juridicamente condicionada às prioridades que a Constituição estabelece”74. Na
área da saúde, conforme o artigo 198, parágrafo segundo, CF, estabelece-se o
dever dos administradores em investirem patamares mínimos na saúde.
Nesse sentido, durante a Audiência Pública n. 04, destacou-se que
muitos Estados não cumprem com o mínimo constitucional estabelecido de
12%, sendo premente a regulamentação do dispositivo75.
Mencione-se, ainda, que na criação da DRU (Desvinculação de Receitas
da União), prevista pela Emenda Constitucional n° 27/2000, acrescentando o
artigo 76 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – e mantida pela
EC n° 42/2003 e pela EC n°56/2007, autorizou-se a desvinculação no limite de
20% das receitas obtidas pela União com a cobrança de contribuições sociais
gerais, sumariamente mantida como constitucional76.
73 SARLET, Ingo. Op. cit.
74 ABRAHAM, Marcus. Curso de Direito Financeiro. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2010, p. 159.
75 TESSLER, Marga I. B. Op. cit.
76 STF, ACO 952-MC/RR, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 20 de abril de 2007.
Está pendente de decisão, saber se um tributo que teria destinação
específica pode ser remanejado na peça orçamentária.
De qualquer sorte, a possibilidade de desvinculação de parte de receitas
que seriam utilizadas para o custeio da prestação pública do serviço de saúde
corrobora o argumento de que seria possível o remanejamento orçamentário
para dar conta de custos não previstos originariamente.
Na verdade, o orçamento orienta a atividade financeira do Estado e,
dando-lhe roupagem democrática, a Constituição determinou que a abertura de
créditos, à exceção dos extraordinários, deve ser feita por lei, “justamente
como forma de garantir ao cidadão uma política pública derivada de um
processo legislativo do qual ele próprio democraticamente participou, com a
escolha de seus representantes”77.
Por óbvio, a legalidade financeira, em casos limites, poderá ser
ponderada em detrimento de uma atuação estatal que garanta o núcleo
fundamental de um dos direitos.
Não se podem desconsiderar, por último, os próprios limites das peças
orçamentárias. A lei orçamentária anual prevê receita e fixe despesa para o
exercício financeiro, mas os repasses aos poderes constituídos, aos órgãos e
às entidades descentralizadas é feito gradativamente, sendo natural que as
receitas apuradas possam ser conforme o prognóstico, superiores ou inferiores.
A escolha sobre como implementar o cumprimento da decisão judicial
será, a princípio, discricionária do administrador. Há decisões judiciais que,
fazendo um juízo sobre a importância de uma série de rubricas, determinam
que recursos previstos para publicidade governamental fossem utilizadas para
a prestação material de serviço público de saúde concedido judicialmente78.
77 ALVES, Raquel de Andrade Vieira. Legalidade financeira e ativismo judicial: judicialização das políticas públicas. In: “Revista da Subseção Judiciária do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, n. 28, 2010, p. 148.
78 LIMA, George Marmelstein. Efetivação judicial do direito à saúde: decisão comentada, disponível em http://pt.scribd.com/doc/17760769/Direito-Fundamental-a-Saude-decisao-judicial-2003, acesso em 30.05.2011.
Não se deve tolher a discricionariedade política dos gestores e
legisladores, que dispõem de margem de liberdade para escolher os setores
em que investir. Daí que o dever de conceder algum medicamento ou
fornecimento não implica a ordem para que sejam retirados gastos previstos
para outro setor, embora a determinação de alguma rubrica específica, se
invocada a tese da reserva do possível, possa ser estabelecida judicialmente.
Fato é que, conforme Argelina Figueiredo e Fernando Limongi79, a
prática brasileira tem sido de subestimar as receitas a serem auferidas.
4.4.O drama final: qual ente político responde pelo direito à saúde concedido
judicialmente?
O ato final da escolha trágica é saber qual ente político é responsável
pela concessão do direito à saúde. O drama se completa, porque a análise da
reserva do possível, por óbvio, depende desse ponto.
Da dicção constitucional – “dever do Estado” – não fica estabelecida a
responsabilidade específica de cada um dos entes políticos. Há espaço para o
legislador conformar o tema, muito embora tenha se previsto um Sistema Único
de Saúde para integrar o atendimento à população. A Constituição tratou de
conferir dimensão nacional à saúde80.
Embora a matéria ainda esteja passível de definição, há quem aponte
que cada ente político responde, isoladamente, pela omissão na prestação do
79 Política Orçamentária no Presidencialismo de Coalizão. Rio de Janeiro: Editora FGV-Rio, 2008, p. 57.
80 NASCIMENTO, Carlos Valder do. Direito fundamental à saúde. In: MARTINS, Ives Gandra; MENDES, Gilmar Ferreira; NASCIMENTO, Carlos Valder do. Tratado de Direito Constitucional. 2º volume. São Paulo: Saraiva, p. 567.
dever estatal de oferecimento do serviço de saúde81, teoria que já mereceu
acolhida pelo Superior Tribunal de Justiça82.
Nesse sentido, do ponto de vista processual, o particular poderia
escolher contra qual dos entes políticos buscar a tutela jurisdicional, pouco
importando “quem é ou não gestor, executor ou formulador de programas”83.
Naturalmente, caso haja legislações específicas de cada um dos entes tratando
especificamente de alguns casos, passa a ter legitimidade passiva aquele ente
que legislou. Por isso, que vários pedidos de tratamento de AIDS se dirigiram
contra Estados, uma vez que as legislações estaduais previam a gratuidade do
tratamento para pessoas carentes.
No entanto, o federalismo que a Constituição brasileira almeja é de
equilíbrio. Nesse ponto, tendo em vista a competência comum na área de
saúde, o legislador nacional houve por bem criar uma Lei Orgânica da Saúde, a
LF n. 8.080/90, procurando-se definir o que compete a cada ente.
No caso do fornecimento de medicamentos, o normal é que quem editou
a lista se torne responsável.
5. Conclusão
“Agora
eu te advirto.
Não podes
deixar assim as coisas.
Onde
tens o coração?
Tu tens boca.
81 Idem, p. 385.
82 STJ, RMS n. 11183, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJU 10.12.2002.
83 NASCIMENTO, C.V. Op. cit., p. 385.
Estás me olhando
de maneira estranha.” (Pablo Neruda, Oda a la solidariedade).
O drama da intervenção judicial em questões de saúde continua. Trata-
se de tema que envolve paixão, cuidando do bem que a sociedade humana
coloca como primordial: a vida.
Quem tem coração, nas palavras do poeta, não tem como deixar de se
sensibilizar com o drama alheio, de quem vem a juízo pedir a concretização de
um direito que, em último grau, mantém ou melhora sua vida.
É desejável que todos possam buscar o melhor tratamento de saúde
possível, busca angustiante, porque o desenvolvimento tecnológico transforma
em velho o que era novo até então.
O uso de recursos públicos para tratamento de saúde dos indivíduos
passa por uma escolha prévia dos poderes constituídos eleitos
democraticamente. Essas políticas podem se revelar infrutíferas em casos
excepcionais, desnaturando o direito constitucional à saúde.
Para esses momentos, que podem ser trágicos, em que um indivíduo
precisa da atuação estatal, sobra-lhe o ativismo judicial em matéria de direito à
saúde.
O custeio do serviço de saúde é um dever de solidariedade, assim como
fundamentada está a tributação nesse mesmo dever. Ademais, como envolvem
custos, recomenda-se uma atuação racional do julgador na concessão judicial
dos direitos à saúde, e não simplesmente um “pediu-levou”.
Enquanto se espera uma conformação mais detalhada do direito à
saúde, a concessão de direitos constitucionais pelo Judiciário tem que levar em
conta os aspectos financeiros, devendo considerar que a fonte de custeio de
qualquer direito advém da própria tributação.
Resumindo o que se tratou no presente artigo em tópicos, têm-se as
seguintes conclusões:
1) Não há diferença ontológica entre os direitos individuais e os direitos
sociais;
2) Todos os direitos constitucionais são fundamentais, no sentido de serem
reputados relevantes para a manutenção da vida do individuo e sua
participação como membro da sociedade;
3) Qualquer direito, inclusive o social, tem custo;
4) A tributação aumenta na proporção da efetividade que se concedem os
direitos fundamentais (individuais ou sociais);
5) O direito à saúde, seja pelo contexto, seja pelo texto constitucional, é
fundamental;
6) Direito à saúde e tributação se aproximam por terem como fonte remota
de legitimidade um dever jurídico de solidariedade;
7) A fundamentalidade dos direitos sociais pode ser extraída do discurso
moderno da igualdade, sendo consentânea, inclusive, com uma
concepção liberal de justiça;
8) O Legislativo e o Executivo possuem presunção relativa de deterem
maior capacidade institucional para implementar o direito constitucional
à saúde, cabendo ao Judiciário uma intervenção excepcional;
9) Necessidades individuais, de micro-justiça, serão analisadas pelo
Judiciário;
10) A dignidade da pessoa humana não pode ser banalizada, sendo
invocada como fundamento para qualquer pedido de fornecimento de
direito à saúde pelo Estado;
11) A descoberta de novas doenças autoriza um maior ativismo judicial na
concessão do direito à saúde;
12) A ausência de um remédio em portaria ministerial do Ministério da
Saúde ou de registro na ANVISA não implica, por si só, a improcedência
das ações individuais, devendo a interferência judicial variar conforme já
ter sido negado o registro do medicamento ou ele ainda não ter sido
analisado;
13) Recomenda-se a existência de assessoria técnica nos juízos e nos
tribunais para auxiliar o Judiciário em casos de análise de julgamento de
ações relativos a direitos de saúde;
14) Não existe vedação ao fornecimento de um tratamento ou medicamento
de alto custo, embora quando, já haja previsão feita pela Administração
ou em legislação, a proporcionalidade e a razoabilidade devem ser
utilizadas como critério de controle;
15) A tese da reserva do possível é mal compreendida, pois não implica
ausência de recursos para implementar um direito, mas os custos
sociais que advêm da intervenção judicial nas políticas públicas de
saúde;
16) A reserva do possível, que deve ser comprovada pelo Poder Público,
não resiste a argumentos como desvinculação de receitas, não
utilização total das rubricas orçamentárias previstas para o custeio da
saúde, entre outros;
17) Não se deve estabelecer judicialmente de qual rubrica serão utilizados
os recursos para cumprimento de uma ordem judicial de fornecimento de
medicamento ou serviço, salvo se invocada a tese da reserva do
possível pelas Fazendas Públicas;
6. Bibliografia
ABRAHAM, Marcus. Curso de Direito Financeiro. Rio de Janeiro: Campus
Elsevier, 2010.
ABRAMOVICH, Victor; COURTIS, Christian. Apuntes sobre la exigbilidad
judicial de los derechos sociales. In: GARGARELLA, Roberto. Teoría y Crítica
del Derecho Constitucional. Tomo II. Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2009.
ALEXY, Robert. Sobre los derechos constitucionales a la protección. In:
MANRIQUE, Ricardo García. Derechos sociales y ponderación. Madrid:
Fundación Coloquio Jurídico Europeo, 2007.
ALMEIDA E SILVA, Alda de. Princípio da Dignidade da Pessoa Humana? O
tratamento estatal ao mínimo existencial. Dissertação de mestrado apresentada
no Programa de Pós-Graduação em Teoria do Estado e Direito Constitucional
da PUC-Rio. Orientador: Fabian Florian Hoffmann.
ALVES, Raquel de Andrade Vieira. Legalidade financeira e ativismo judicial:
judicialização das políticas públicas. In: “Revista da Subseção Judiciária do Rio
de Janeiro, Rio de Janeiro, n. 28, 2010.
ARANGO, Rodolfo. El concepto de derechos sociales fundamentales. Bogotá: Legis, 2005.
_______________. Realizing Constitutional Social RightsThrough Judicial Protection. In: Beyond Law, n. 25, 2002, pp. 72-85.
ATIENZA, Manuel. Las razones del derecho: teorias de la argumentación
jurídica. 2ª ed. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2005.
BATISDA, Francisco J. ¿Son los derechos sociales derechos fundamentales?
Por una concepción normativa de la fundamentalidad de los derechos. In:
Derechos sociales y ponderación. Madrid: Fundación Coloquio Jurídico
Europeo, 2007.
BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva:
direito à saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a
atuação judicial, disponível em lrbarroso.com.br, acesso em 31.05.2011.
BRASIL, STF, ACO 952-MC/RR, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 20 de abril
de 2007.
____________, ADI 1266, Pleno, Rel. Min. Eros Grau, j. 06.04.2005, DJ 23-09-
2005.
___________, RE 363889, Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06.06.2011
___________, RE 410.715/SP-AgR, 2a Turma, rel. Min. Celso de Mello, DJ
22/11/2005.
___________, RE 566471/RN, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 15.11.2007.
___________, STF, STA n 260/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, , j. 20.04.2010.
______, STJ, , REsp 1.069.810/RS, Rel. Min. Luiz Dux.
__________, REsp 1.102.457/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves.
__________, .552/CE, Rel. Min. Eliana Calmon.
____________, REsp 353.147, 2ª Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, j.
15.10.2002, DJ 18.08.2003.
___________. RMS n. 11183, 1ª Turma, Rel. Min. José Delgado, DJU
10.12.2002.
______, TCU, AC-1266-27/07-P, Plenário. Proc.: 003.094/2007-8. Relatório de
Auditoria de Conformidade - Fiscalis n° 1005/2006. Ministro Relator, Valmir
Campelo. SECEX-4 - 4ª Secretaria de Controle Externo SECEX-TO -
Secretaria de Controle Externo – TO.
BECK, Ulrich. A sociedade de risco. São Paulo: Editora 34, 2010.
BÖCKENFÖRDE, Ernest W. Escritos sobre Derechos Fundamentales. Trad.Juan Luis Requejo Pagés e Ignacio Villaverde Menéndez. Baden-Baden:
Nomos, 1993.
CICONELLO, Alexandre. A participação social como processo de consolidação
da democracia no Brasil, pp. 604-624. In: “GREEN, Duncan. Da pobreza ao
poder: como cidadãos ativos e estados efetivos podem mudar o mundo.
Tradução de Luiz Vasconcelos. São Paulo: Cortez; Oxford: Oxfam International,
2009
FAORO, Raymundo. Os donos do poder. Rio de Janeiro: Editora Globo, 2001.
FIGUEREIDO, Argelina; LIMONGI, Fernando. Política Orçamentária no
Presidencialismo de Coalizão. Rio de Janeiro: Editora FGV-Rio, 2008.
GARGARELLA, Roberto. Justicia y derechos sociales: lo que no dice el
argumento democrático. In: GARGARELLA, Roberto (coord.). GARGARELLA,
Roberto. Teoría y Crítica del Derecho Constitucional. Tomo II. Buenos Aires:
Abeledo Perrot, 2009.
GENRO, Tarso. Os fundamentos da Constituição no Estado de Direito. In:
MARTINS, Ives Gandra; MENDES, Gilmar Ferreira; NASCIMENTO, Carlos
Valder do. Tratado de Direito Constitucional. São Paulo: Editora Saraiva, 2010.
GRAU, Eros Roberto. Ensaio e Discurso sobre a Interpretação/aplicação do
direito. 2ª ed., São Paulo: Malheiros, 2003.
GRECO, Marco Aurélio. Solidariedade Social e Tributação. In: GRECO, Marco
Aurélio; GODOI, Marciano Seabra de (org.). Solidariedade Social e Tributação.
São Paulo: Dialética, 2005.
HAACK, Susan. Trial and error: the Supreme Court’s Philosophy of Science,
disponível emhttp://128.40.111.250/evidence/content/haack.pdf, acesso em
30.05.2011.
HAYEK, Frederick. The Road to Serfdom. Nova Iorque: Routledge Classics,
2005.
HOLMES, Stephen; SUNSTEIN, Cass R. El costos de los derechos: por qué la
libertad depende de los impuestos? . Trad. de Stella Mastrangello. Buenos
Aires: Siglo Veintuno Editores, 2011.
KENNEDY, Duncan. Izquierda y derecho: ensayos de la teoria jurídica crítica.
Trad. Guillermo Moro, Buenos Aires: Siglo Veintiuno Editores, 2010.
LEAL, Saul Tourinho. Ativismo judicial: as experiências brasileira e sul africana
no combate à AIDS, disponível em
http://jus.uol.com.br/revista/texto/19156/ativismo-judicial-as-experiencias-
brasileira-e-sul-africana-no-combate-a-aids/1, acesso em 30.05.2011.
___________________. O debate imaginário entre Luís Roberto Barroso e
Richard Poner quanto à concretização judicial do
direito à saúde. In: Caderno Virtual do IDP, n. 23, v. 1, Jan-Jun/2011.
LIMA, George Marmelstein. Efetivação judicial do direito à saúde: decisão
comentada, disponível em http://pt.scribd.com/doc/17760769/Direito-
Fundamental-a-Saude-decisao-judicial-2003, acesso em 30.05.2011.
LODI, Ricardo Ribeiro. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Rio de
Janeiro: Lumen Juris, 2010.
KRAMER, Larry D. The people themselves: popular constitutionalism and
judicial review. New York: Oxford University Press, 2004.
MAGALHÃES, Luís Carlos G. de (coord.); et alli. Tributação sobre gastos com
Saúde das famílias e do Sistema Único da Saúde: avaliação da carga tributária
sobre medicamentos, material médico-hospitalar e próteses/órtese, 2001.
MORO, Guillermo. Introdución. In; “KENNEDY, Duncan. Izquierda y derecho:
ensayos de la teoria jurídica crítica. Trad. Guillermo Moro, Buenos Aires: Siglo
Veintiuno Editores, 2010.
NASCIMENTO, Carlos Valder do. Direito fundamental à saúde. In: MARTINS,
Ives Gandra; MENDES, Gilmar Ferreira; NASCIMENTO, Carlos Valder do.
Tratado de Direito Constitucional. 2º volume. São Paulo: Saraiva, 2010.
OLIVEIRA, Fernando Fróes. Finanças Públicas, Economia e Legitimação:
alguns argumentos em defesa do orçamento autorizativo. In: FELLET, André
Luiz Fernandes; PAULA, Daniel Giotti de; NOVELINO, Marcelo. (coord.). As
novas faces do ativismo judicial. Salvador: Jus Podium, 2011.
PAULA, Daniel Giotti de. Ainda existe separação de poderes? A Invasão da
política pelo direito no contexto do ativismo judicial e da judicialização da
política. In: “FELLET, André Luiz Fernandes; PAULA, Daniel Giotti de Paula;
NOVELINO, Marcelo. As novas faces do ativismo judicial. Salvador: Jus
Podium, 2011.
RAWLS, John. Political Liberalism. New York: Columbia University Press,
1996.
___________. Uma teoria da justiça. Trad. Almiro Pisetta e Lenita Maria Rimoli
Esteves. São Paulo: Martins Fontes, 2002.
SACCHETO, Claudio. O dever de solidariedade no Direito Tributário: o
ordenamento italiano. In: GRECO, Marco Aurélio; GODOI, Marciano Seabra de.
Solidariedade Social e Tributação. São Paulo: Dialética, 2005.
SARLET, Ingo. Manifestação durante a audiência pública sobre direito à saúde
convocada pelo Min. Gilmar Mendes. Disponível em
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/processoAudienciaPublicaSaude/anexo/Sr._In
go_Sarlet__titular_da_PUC_.pdf, acesso em 31.05.2011.
SUNSTEIN, Cass; VERMEULE, Adrian. Interpretation and institutions. In:
“Michigan Law Review
Vol. 101, No. 4 (Feb., 2003), pp. 885-951.
TESSLER, Marga Inge Barth. A trajetória do STF na solução das questões
envolvendo prestações referentes à saúde. Breves comentários sobre
aspectos debatidos na Audiência Pública nº 4 do STF, disponível em
http://www.trf4.jus.br/trf4/upload/editor/apg_marga_SAUDE.pdf, acesso em
30.05.2011.
TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro:
Renovar, 2009,.
TRAUB, Stefan; SEIDL, Christian; SCHMIDT, Ulrich. An experimental study on
individual choice, social welfare and social preferences, disponível em
http://www.ifw-members.ifw-kiel.de/publications/an-experimental-study-on-
individual-choice-social-welfare-and-social-
references/choicewelfarepreferences2ndrevision.pdf, acesso em 30.05.2011.
UNGER, Roberto Mangabeira. The critical legal movement studies. In: “Harvard
Law Review, vol. 6, n. 93, Jan./1983.
VALADÃO, Alexander Roberto Alves. O mínimo existencial e as espécies
tributárias. Tese de Doutoramento apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Direito pela Universidade Federal de Paraná, sob orientação do
Professor José Roberto Vieira, 2006
VERMEULE, Adrian. Veil of ignorance rules in Constitutional Law. In: “The Yale
Law Journal, Vol. 111, No. 2. (Nov., 2001), pp. 399-433”.