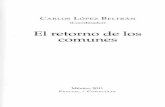Adiponectinemia e indicadores fisiológicos em adolescentes obesos asmáticos e não-asmáticos
Dimensões afectivas da exploração vocacional: Avaliação de indicadores fisiológicos de...
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Dimensões afectivas da exploração vocacional: Avaliação de indicadores fisiológicos de...
DIMENSÕES AFECTIVAS DA EXPLORAÇÃO VOCACIONAL: AVALIAÇÃO DE
INDICADORES FISIOLÓGICOS DE ANSIEDADE
Natalia Jidovanu & Maria do Céu Taveira
Escola de Psicologia, Universidade do Minho
Resumo
Este estudo insere-se no domínio da avaliação psicológica
vocacional. Procuramos investigar indicadores fisiológicos de
ansiedade em actividades de planeamento e exploração da carreira.
Foi realizado um estudo piloto com 15 participantes, que
desempenharam uma tarefa de exploração vocacional. Foi usado um
equipamento de biofeedback para obter o registo dos níveis de
activação dos participantes durante a tarefa, de uma forma não
invasiva. A medida psicofisiológica utilizada foi a actividade
electrodérmica. São descritos e discutidos os principais
resultados observados.
Palavras-chave: exploração vocacional, ansiedade, psicofisiologia,
actividade electrodérmica
INTRODUÇÃO
A exploração vocacional tem sido definida, pelas perspectivas
que se inserem na Psicologia Experimental, como um impulso ou como
uma resposta motora de procura de informação sobre o ambiente
(Harlow, 1954; Berlyne, 1960), ou ainda, à luz da Psicologia da
Motivação, como um tipo de comportamento motivado e intencional
(Deci & Ryan, 1985). Por sua vez, autores da literatura de
identidade, como é o caso de Erikson (1968) e Marcia (1980)
definem a exploração vocacional como uma dimensão da identidade,
enquanto na teoria da vinculação, a exploração é concebida como um
sistema de comportamentos (Bowlby, 1969). Dentro da Psicologia
Vocacional, a exploração tem sido definida como um estádio do
desenvolvimento vocacional ou como uma fase do processo de tomada
de decisão (Taveira, 2000). Em abordagens mais recentes,
nomeadamente na concepção de Flum e Blustein (2000), é proposta
uma definição mais ampla do conceito de exploração vocacional,
incluindo a avaliação dos atributos internos do sujeito,
nomeadamente, os valores, as características da personalidade, os
interesses e habilidades, e a exploração das opções e restrições
externas presentes nos contextos educacional, profissional e
relacional. Estes mesmos autores afastam-se das perspectivas que
conceptualizam a exploração vocacional como uma etapa do
desenvolvimento da carreira, concebendo a exploração como um
processo com funções adaptativas ao longo do ciclo vital,
direccionado para alcançar o auto-conhecimento e o conhecimento do
ambiente envolvente.
Explorar-se a si e ao mundo de uma forma intencional, regular
e sistemática, é uma capacidade que assume, na actualidade, uma
importância crescente, tendo em conta as múltiplas mudanças e
transformações que se verificam nos contextos escolar, social e
profissional de muitas sociedades. A exploração do mundo e do
ambiente envolvente refere-se à aquisição de conhecimentos, por
parte do indivíduo, acerca das oportunidades de carreira e da
realidade das diferentes profissões, enquanto explorar-se a si
próprio significa conhecer os seus próprios interesses e
habilidades (Hardin, Varghese, Tran & Carlson, 2006).
Na sociedade portuguesa, como na maioria das sociedades
ocidentais, o envolvimento em actividades exploratórias
vocacionais tem uma importância especial na adolescência e no
início da idade adulta, uma vez que constituem os primeiros
exercícios de autonomia e responsabilidade pessoal na tomada de
decisões vocacionais (Faria & Taveira, 2006). Taveira e Campos
(1987) referem que as principais mudanças de identidade vocacional
nos jovens ocorrem quando o sistema de ensino os obriga a tomar
decisões importantes para a definição de um projecto vocacional.
Na mesma linha de pensamento, Yang e Gysbers (2007) mencionam que
a exploração da carreira é uma das tarefas mais importantes que os
estudantes que terminam os estudos no ensino superior têm de
enfrentar. Para a maioria desses estudantes, esta é a primeira vez
que vão procurar um trabalho a tempo inteiro, que passará a ser
parte integrante da sua identidade. Esta primeira experiência
poderá servir de base para as suas estratégias de procura de
emprego no futuro. Vignoli, Croity-Belz, Chapeland, Fillipis e
Garcia (2005) enfatizam a importância, neste período de transição,
da relação com os pais, a qual pode providenciar suporte emocional
aos jovens para lidarem com esta situação. Recorrendo à teoria de
Bolwby (1969), estes autores referem que a vinculação aos pais
proporciona uma base segura a partir da qual os jovens podem
explorar com confiança. A segurança proporcionada pela vinculação
aos pais reduz a ansiedade, o stress emocional e os sentimentos de
depressão e solidão que podem ser despoletados pela situação de
transição, e promove a exploração do ambiente e o planeamento de
uma carreira futura (Vignoli et al, 2005).
Segundo Super (1953), os jovens têm um papel activo no
processo da exploração vocacional e, ainda que o façam de forma
pouco intencional e sistemática, tendem a explorar o mundo em que
vivem e os papéis que poderão vir a desempenhar, de acordo com as
suas personalidades, interesses, valores e capacidades. Assim, os
adolescentes e os jovens adultos que se encontram numa etapa de
transição do ensino secundário para o ensino superior, ou do
ensino superior para o mundo do trabalho, são populações de
interesse no âmbito da investigação sobre a exploração vocacional.
Este interesse justifica-se pelo facto de a transição de carreira
implicar sempre uma tomada de decisão que, na maioria das vezes, é
provocadora de ansiedade.
A ansiedade experienciada pelos jovens nesta etapa assume uma
importância particular, pois segundo Taveira (2000), o stress com
a tomada de decisão regista uma associação positiva com a
indecisão vocacional, que, por sua vez, pode dificultar o processo
de exploração vocacional.
Relativamente à ansiedade, Vaz Serra (1980) refere que o conceito
é utilizado em variados contextos, quer em função das condições
antecedentes que o evocam, quer como agente causal, força
motivadora de um comportamento específico, traço de personalidade,
impulso ou resposta emocional. Por seu turno, Vignoli e col.
(2005), conceptualizam a ansiedade de duas formas distintas: como
um estado emocional, referente a uma situação que é percebida como
ameaçadora; ou como um traço da personalidade, referindo-se às
diferenças individuais na probabilidade de experienciar um estado
de ansiedade em situações indutoras de stress.
No que diz respeito à conceptualização da ansiedade como um
traço da personalidade, Eysenck (1990, citado por Strongman, 1996)
refere a existência de diferenças entre as pessoas que têm níveis
altos e níveis mais baixos do traço de ansiedade no que diz
respeito às informações que armazenam na sua memória a longo prazo
e à estrutura dos seus sistemas cognitivos.
Quanto à ansiedade experienciada no contexto vocacional,
Mallet (2002, citado por Vignoli et al, 2005) enfatiza o facto de
esta aumentar progressivamente na adolescência. A ansiedade é um
dos problemas de internalização mais prevalentes nesta etapa de
desenvolvimento, levando os adolescentes a experimentar e a
reconsiderar alternativas de identidade, sem assumirem uma escolha
firme e definitiva (Crocetti, Klimstra, Keijsers, Hale & Meeus,
2009).
Vignoli et al (2005) identificaram três tipos de ansiedade na
adolescência: o medo de falhar na carreira académica ou
profissional, o medo de provocar o desapontamento dos pais com a
escolha da carreira e o medo de se afastar da família e dos
relacionamentos íntimos como consequência das exigências
académicas ou profissionais. De acordo com os resultados obtidos
por estes autores, o medo de falhar está positivamente associado
com a frequência e diversidade da exploração vocacional, mas
apenas no caso das raparigas, enquanto o medo de desapontar os
pais é mais característico dos rapazes e conduz a uma maior
procura de informação relacionada com a escolha da carreira por
parte destes.
A habilidade dos jovens para explorar opções, planear
actividades relacionadas com a carreira e tomar decisões
vocacionais apropriadas, é influenciada por diversos outros
factores afectivos, de entre os quais se destacam a qualidade
percebida das interacções na família de origem (Hargrove, Inman &
Crane, 2005), o optimismo (Patton, Bartrum & Creed, 2004), a auto-
estima (Patton, Bartrum & Creed, 2004; Di Fabio, 2006; Janeiro &
Marques, 2010), a timidez (Philips & Bruch, 1988) e a inteligência
emocional (Di Fabio & Palazzeschi, 2009). Hardin e col. (2006),
destacam também a ansiedade social, como variável importante no
processo de exploração vocacional, especificando que, tanto no
caso dos homens, como das mulheres, níveis elevados de ansiedade
social estão associados negativamente aos compromissos face à
carreira.
Ainda no âmbito da influência dos factores afectivos,
Solberg, Good, Fischer, Brown e Nord (1995) mencionam que a auto-
eficácia na exploração da carreira, isto é, a auto-confiança na
capacidade de concluir com sucesso actividades de exploração da
carreira, tem sido identificada como um construto que prediz os
comportamentos de exploração da carreira futuros. Do mesmo modo,
autores como Stumpf, Colarelli e Hartman (1983) demonstram que a
satisfação com a informação obtida e a ansiedade relacionada com
as actividades de exploração e de decisão vocacional constituem
importantes factores cognitivo-motivacionais da exploração
vocacional futura. Assim, a quantidade e a qualidade das
informações obtidas durante as actividades de exploração
vocacional conduzem a reacções de satisfação ou insatisfação face
ao processo exploratório, que, por sua vez, afectam o envolvimento
futuro na actividade de exploração. Relativamente à ansiedade,
estes autores mencionam que esta é experienciada quando os
indivíduos sentem incerteza quanto aos resultados da exploração.
Tal como a satisfação com a informação obtida, a ansiedade
experienciada no processo de exploração vocacional pode
condicionar os comportamentos exploratórios futuros e as crenças
acerca da utilidade destes comportamentos (Greenhaus & Sklarew,
1981, citados por Taveira, 2000).
Apesar da evidência empírica sobre a relevância dos factores
afectivos para o processo de exploração vocacional, a investigação
neste domínio é pobre. A maioria das concepções tem-se focado
privilegiadamente na dimensão comportamental da exploração
vocacional e nos resultados, ignorando as dimensões motivacionais
e afectivas do construto (Taveira, 2000). No caso da ansiedade, a
sua influência no processo de exploração permanece pouco clara,
uma vez que não se encontram na literatura investigações que
permitam definir o nível ideal de stress na exploração vocacional,
de modo a esclarecer em que situações a ansiedade contribui para
activar ou inibir a exploração vocacional. Do mesmo modo, não se
encontram estudos que clarifiquem a influência da ansiedade como
traço da personalidade no processo de exploração (Vignoli et al,
2005).
Por outro lado, a avaliação da ansiedade na investigação e no
domínio clínico tem sido efectuada recorrendo a medidas de auto-
relato retrospectivas (Lewis & Drewett, 2006). Apesar das
vantagens evidentes, como a economia do tempo (Wahlberg, Dorn &
Kline, 2010) e a facilidade de administração (Mitchell & Miller,
2008), as medidas de auto-relato apresentam várias desvantagens.
Em primeiro lugar, estas medidas têm uma validade questionável,
porque se baseiam no entendimento que as pessoas possuem acerca
das suas próprias experiências emocionais, ou seja, na auto-
percepção, pelo que são susceptíveis ao enviesamento cognitivo.
Além disso, as medidas de auto-relato podem ser influenciadas pelo
humor, auto-estima e valores (Hanita, 2000), ou ainda, pela falta
de insight por parte dos avaliados (Mitchell & Miller, 2008).
Outro problema frequentemente referido na literatura é a
desejabilidade social (Wahlberg et al, 2010).
No sentido de colmatar estas lacunas, na literatura é
recomendada a utilização das medidas psicofisiológicas para
avaliar a ansiedade, as quais, graças à sua objectividade e à
possibilidade de serem utilizadas em situações reais, permitem
superar os problemas das medidas de auto-relato (Lewis & Drewett,
2006).
Dada a escassa investigação no domínio dos factores afectivos
envolvidos na exploração vocacional, a presente investigação
pretende contribuir com dados empíricos para o estudo das reacções
afectivas à exploração emocional, nomeadamente da reacção de
ansiedade. Nesse sentido, foi realizado um estudo piloto, cujo
objectivo foi o de obter um registo fisiológico da ansiedade num
contexto de exploração vocacional. A medida psicofisiológica
utilizada foi a actividade electrodérmica.
De acordo com Dawson, Schell e Filion (1990), o estudo
empírico da actividade electrodérmica teve início na segunda
metade do século XIX, com as experiências laboratoriais de Hence,
Féré e Tarchanoff, a quem se deve a descoberta dos métodos para o
registo da actividade electrodérmica usados actualmente. Uma das
primeiras teorias a proporcionar um contributo importante para a
compreensão dos mecanismos e funcionamento da actividade
electrodérmica, foi proposta por Tarchanoff, em 1890, relacionando
a actividade electrodérmica com a actividade das glândulas
sudoríparas. Dawson e col. (1990) referem que esta concepção foi
posteriormente reforçada pela experiência de Darrow, em 1927, em
que foram medidas, simultaneamente, a actividade electrodérmica e
a secreção das glândulas sudoríparas, numa amostra constituída por
estudantes da Universidade de Chicago. Os resultados apontam para
o facto de as duas medidas estarem intimamente relacionadas. Esta
relação intrínseca entre as alterações da actividade
electrodérmica e a actividade das glândulas sudoríparas foi
entretanto demonstrada, em diversas experiências efectuadas tanto
com populações clínicas, como com animais (Sequeira-Martinho,
1992).
Para uma melhor compreensão desta relação, torna-se
necessário clarificar as bases anatómicas e fisiológicas da
actividade electrodérmica. Assim, as glândulas sudoríparas,
essenciais para o funcionamento da actividade electrodérmica, são
parte integrante do maior órgão do corpo humano – a pele.
Sequeira-Martinho (1992) refere que as glândulas sudoríparas
recebem enervação directa da divisão simpática do sistema nervoso
autónomo, e não estão dependentes de influências hormonais
significativas.
Existem dois tipos de glândulas sudoríparas no corpo humano –
as écrinas e as apócrinas, sendo a distinção usualmente feita com
base nas suas funções e localização. Enquanto as glândulas écrinas
cobrem grande parte do corpo e encontram-se em maior densidade nas
regiões palmares e plantares, as apócrinas estão tipicamente
localizadas nas regiões axilar e genital. Têm sido atribuídas às
glândulas apócrinas algumas funções relacionadas com a activação
sexual, contudo, o debate acerca deste tema continua inconclusivo
na literatura. Em contrapartida, as funções das glândulas écrinas
são claramente conhecidas: regulação da temperatura corporal e a
produção do suor por resposta aos estímulos emocionais. A
propósito das glândulas écrinas localizadas nas superfícies
palmares e plantares, Edelberg (1972, citado por Dawson et al,
1990) menciona que estas são mais responsivas aos estímulos
emocionais do que aos estímulos termais.
Por fim, é importante referir que actividade electrodérmica
tem sido uma das medidas mais utilizadas na história da
Psicofisiologia. Segundo Dawson e col. (1990), a sua ampla
utilização deve-se a alguns fenómenos observados na investigação.
Em primeiro lugar, destaca-se a habilidade de vários tipos de
estímulos sensoriais para produzir alterações na actividade
electrodérmica. Em segundo lugar, verificou-se que uma estimulação
forte provoca respostas mais largas, enquanto repetições do mesmo
estímulo levam à habituação. Por último, foi comprovada a
eficiência das imagens mentais, dos esforços mentais e das emoções
em gerar actividade electrodérmica, enquanto as diferenças
individuais observadas nas respostas da actividade electrodérmica,
suscitaram o levantar de questões acerca da utilidade desta medida
para a distinção entre o normal e o patológico. Fisher e col.
(2010), referem, ainda, que a actividade electrodérmica é sensível
a vários parâmetros do estímulo, como a novidade, a intensidade e
a significância, e responde tanto a estímulos de valência positiva
como negativa. Assim, é inegável a significância psicológica da
actividade electrodérmica, tendo sido utilizada em investigações
no domínio da emoção, activação e atenção (Dawson et al, 1990) e
psicopatologia (Fisher, Granger & Newman, 2010). Para Sequeira-
Martinho (1992) a actividade electrodérmica é um sistema que
exprime de maneira fidedigna as variações de origem cerebral.
OBJECTIVOS DO ESTUDO
O objectivo geral desta investigação consiste no estudo dos
processos cognitivos e fisiológicos associados à ansiedade que
ocorre no âmbito da exploração vocacional. Pretende-se chamar a
atenção para a necessidade de estudo e avaliação não só dos
componentes comportamentais da exploração, mas também cognitivos e
afectivos.
Os objectivos específicos referem-se à avaliação dos
correlatos fisiológicos da ansiedade, através do registo da
actividade electrodérmica. Mais concretamente, pretende-se estudar
o padrão de activação emocional à medida que os participantes
desempenham uma tarefa de exploração vocacional.
METODOLOGIA
Instrumentos
Para o registo da actividade electrodérmica foi utilizado o
dispositivo de Biofeedback 2000 x-pert do Laboratório de
Neuropsicofisiologia da Escola de Psicologia da Universidade do
Minho. A resposta electrodérmica foi analisada através do registo
do nível de condutância da pele (Skin Conductance Level, em inglês).
Para a avaliação do comportamento de exploração vocacional
foi utilizado um questionário composto por 5 itens. O primeiro
item incide sobre os objectivos de carreira a curto-prazo: “Neste
momento, quando pensa no seu futuro escolar e profissional, que
objectivos de carreira gostaria de ver concretizados num prazo de
1-2 anos?”. O segundo item destina-se a explorar as estratégias
que os participantes planeiam utilizar para a concretização dos
objectivos referidos na questão anterior: “O que pensa fazer para
que tal aconteça?”. Numa terceira parte, é apresentado um conjunto
de informações genéricas sobre o emprego a nível mundial, segundo
a Organização Internacional do Trabalho, e informações
específicas, nomeadamente dados estatísticos do Ministério do
Trabalho e Solidariedade Social, sobre a situação do desemprego em
Portugal em 2009. Além da taxa de actividade e da taxa de emprego,
são apresentados outros dados, como o número de pessoas inscritas
nos Centros de Emprego do Continente e Regiões Autónomas e a
evolução do desemprego face ao ano anterior e face ao mês
anterior. O texto evidencia ainda as regiões do país onde se
registam as maiores taxas de desemprego, os grupos profissionais
mais afectados e a percentagem de desempregados de acordo com o
nível de habilitações literárias. O quarto item destina-se a
avaliar a percepção subjectiva dos participantes relativamente aos
dados apresentados na questão anterior: “Que comentário lhe
suscita este tipo de informação?”. Por fim, o último item procura
avaliar a intenção de desenvolver comportamentos de exploração
para atingir os objectivos vocacionais: “O que lhe parece
essencial fazer, ter ou desenvolver, para aumentar a probabilidade
de arranjar emprego na sua área preferida?”.
Procedimento
A experiência deste estudo decorreu nas instalações do
Laboratório de Neuropsicofisiologia na Escola de Psicologia da
Universidade do Minho. Previamente ao início da experiência foi
entregue a cada participante uma Declaração de Consentimento
Informado, onde constam os esclarecimentos acerca dos objectivos
da experiência, a finalidade dos dados recolhidos e o seu
tratamento. Foram igualmente explicitados os procedimentos
relativos ao registo fisiológico da actividade electrodérmica,
familiarizando cada participante com o equipamento utilizado.
Conforme o recomendado na literatura (Venables e Christie, 1973,
citados por Dawson et al, 1990), foi pedido aos participantes para
lavarem as mãos com sabão não abrasivo antes da colocação dos
eléctrodos. Tivemos também o cuidado de assegurar que a região
onde o eléctrodo foi colocado estava seca. O eléctrodo foi
colocado na superfície volar da falange distal do dedo indicador
da mão não dominante, uma vez que na tarefa de exploração
vocacional era pedido aos participantes para registarem a sua
resposta por escrito. Tratando-se de uma experiência nova para a
maioria dos participantes, tivemos a preocupação de incluir um
período de adaptação de alguns minutos, prévio à manipulação
experimental, com o objectivo de deixar os participantes calmos e
familiarizados com a situação experimental. Outra vantagem do
período de adaptação é o facto de permitir a estabilização das
respostas psicofisiológicas.
De seguida procedeu-se ao registo da linha basal, com a qual
posteriormente foi comparada a activação registada em cada um dos
itens da tarefa de exploração vocacional. Nesta condição foi
pedido aos participantes para que, durante 2 minutos, tentassem
relaxar o máximo possível.
O registo da linha basal foi seguido da condição
experimental, que consistiu numa tarefa de exploração vocacional,
em que era solicitado aos participantes a resposta a um conjunto
de 4 questões e a leitura de um bloco de informação sobre o
desemprego no país na actualidade. O registo da activação
provocada por cada uma das questões foi delimitado através de
marcadores na fase de recolha dos dados.
A experiência acaba com o período de adaptação, cujo
objectivo é reduzir a ansiedade nos participantes provocada pela
manipulação experimental.
O estudo envolve seis momentos distintos de avaliação
(baseline e 5 itens da tarefa de exploração), constituindo um
estudo de medidas repetidas longitudinalmente.
A variável independente corresponde à ansiedade induzida pela
tarefa de exploração vocacional. A variável dependente corresponde
à resposta emocional dos participantes, medida através do registo
da actividade electrodérmica.
Participantes
Os participantes recrutados para este estudo são voluntários
que manifestaram interesse em participar na experiência, divulgada
no meio académico. O recrutamento foi realizado na Escola de
Psicologia da Universidade do Minho.
A amostra, não representativa, é constituída por 15
estudantes universitários, 11 raparigas (73%) e 4 rapazes (27%),
com idades compreendidas entre os 19 e os 28 anos (M=22; DP=2,27).
93% dos participantes encontram-se a realizar estudos no âmbito de
um Mestrado Integrado na Universidade do Minho, sendo um
participante investigador nessa mesma universidade.
ANÁLISE DOS DADOS
De acordo com Dawson e col. (1990) a actividade
electrodérmica pode variar entre diferentes indivíduos, e dentro
do mesmo indivíduo, em diferentes estados psicológicos. Assim, a
análise dos dados foi efectuada nos dois níveis de variabilidade
da activação fisiológica: inter e intra-individual.
A análise a nível intra-individual destina-se a avaliar,
dentro do conjunto dos dados de cada participante em particular,
as diferenças de activação registadas nos distintos momentos da
tarefa de exploração vocacional. Este processo começa com a
organização da base de dados originada pelo sistema de
biofeedback. O primeiro passo consiste em eliminar o registo das
medidas psicofisiológicas que não têm interesse para o fenómeno
estudado, como a temperatura ou a frequência cardíaca, deixando
apenas o registo da medida psicofisiológica que será alvo de
análise – a actividade electrodérmica. Antes de iniciar quaisquer
cálculos, o investigador deve verificar, na coluna que representa
os marcadores, ou seja, o início e o fim da linha basal e de cada
um dos cinco itens que integram a tarefa de exploração, se os
marcadores estão associados correctamente aos itens.
O passo seguinte consiste no cálculo do valor médio da linha
basal. Este valor é obtido através da média aritmética dos valores
da actividade electrodérmica que estão incluídos no intervalo
entre o marcador que indica o inicio e o marcador que representa o
fim da linha basal.
Por último, para cada item da tarefa de exploração, calcula-
se a média dos valores obtidos.
No que diz respeito à análise inter-individual, esta foi
efectuada com o intuito de verificar a existência de diferenças
entre os vários participantes, quanto ao nível de activação
registado na linha basal e durante a tarefa de exploração
vocacional.
Neste âmbito, para cada participante separadamente, procedeu-
se ao cálculo da diferença entre o valor médio da linha basal e a
média dos valores de cada um dos itens da tarefa de exploração.
Seguidamente, as diferenças obtidas com cada um dos participantes
relativamente à linha basal e à cada um dos itens da tarefa de
exploração foram agrupadas, calculando-se uma média geral das
diferenças para cada item, o que permite avaliar o aumento, a
diminuição ou a manutenção dos valores obtidos em cada item por
comparação à linha basal.
RESULTADOS
Os valores da actividade electrodérmica registados situaram-
se no intervalo de 2-14 micro-mhos, o que, de acordo com Dawson et
al (1990), são valores típicos do padrão normal da actividade
electrodérmica.
Relativamente aos valores da actividade electrodérmica
registados durante a tarefa de exploração vocacional, estes foram
superiores aos valores registados na linha basal. Através da
Tabela 1, que representa as diferenças entre cada item e a linha
basal de todos os participantes, podemos verificar que todos itens
da tarefa de exploração produziram mais activação do que a
condição de relaxamento, com excepção do segundo e terceiro item
no caso do segundo participante, cujos níveis de activação se
mantiveram iguais à linha basal.
Por outro lado, à medida que os participantes prosseguiram no
desempenho da tarefa de exploração vocacional, a activação
aumentou. No Gráfico 1, que representa a média das diferenças
entre cada item pertencente à tarefa de exploração e a linha
basal, podemos verificar que a média das diferenças entre o
primeiro item e a linha basal (0,41) é inferior à média das
diferenças entre o último item e a linha basal (1,20).
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS
Os resultados apresentam dados empíricos que confirmam a
ocorrência da reacção de ansiedade no início do processo de
exploração vocacional. Contudo, estes resultados devem ser
interpretados com precaução, já que a magnitude com que a
ansiedade é sentida pode ser influenciada por factores individuais
como o sexo, a idade, as características da personalidade, a
qualidade da vinculação aos progenitores. Além disso, no processo
de exploração vocacional não emergem apenas emoções negativas.
Outras dimensões afectivas da exploração vocacional deverão ser
igualmente investigadas.
Relativamente à medida psicofisiológica utilizada, Sequeira-
Martinho (1992) refere que factores como a idade e o sexo do
indivíduo, o sítio de registo, a temperatura e a humidade cutâneas
e do ambiente podem modificar de maneira significativa o registo
da actividade electrodérmica. No presente estudo houve a
preocupação de realizar a experiência num ambiente adequado, em
que foram controladas as condições de registo. Apesar das
desvantagens referidas, o seu baixo custo comparativamente a
outras medidas psicofisiológicas, o fornecimento de informação
directa sobre a actividade do sistema nervoso simpático e a
possibilidade do seu uso na investigação de diversos processos
cognitivos fazem com que a actividade electrodérmica continue a
ser uma das medidas mais populares nas investigações em
Psicofisiologia. A preocupação central dos investigadores deverá
incidir sobre o controlo das condições experimentais, de modo a
assegurar que as variações que a actividade electrodérmica
reflecte são provocadas pelo fenómeno em estudo e não por
variáveis parasitas.
Relativamente ao processo de avaliação e registo do padrão de
activação emocional, devem ser enfatizadas algumas considerações
sobre a interacção entre o profissional e o indivíduo avaliado. A
postura do profissional deve caracterizar-se pela promoção da
segurança relativamente à avaliação e aos procedimentos, pela
comunicação efectiva e pela consistência. Ao longo do processo de
avaliação, o profissional deve manter um contacto ocular frequente
e estar atento à manifestação de sinais de ansiedade excessiva,
resistência ou confusão por parte do avaliado.
Este estudo apresenta algumas limitações, como a reduzida
dimensão da amostra e o modo de recrutamento da mesma. A
generalização também está limitada, ainda, pelo facto da amostra
ser constituída apenas por estudantes universitários. No futuro,
será importante realizar este tipo de investigação com outras
populações que se encontrem no inicio de um processo de exploração
vocacional ou em períodos de transição de carreira, nomeadamente
adolescentes, jovens adultos e adultos de diversas faixas etárias.
Tal como Yang e Gysbers (2007) evidenciam, as transições de
carreira dos estudantes no ensino secundário ou universitário
podem ser significativamente diferentes das transições dos
adultos, uma vez que os primeiros poderão não ter os mesmos
stressores que os adultos desempregados, como dificuldades
financeiras ou existência de dependentes. Sugestões para futura
investigação poderão incluir a resposta às questões: Qual o nível
adequado da ansiedade necessário para promover a exploração
vocacional? De que forma e em que condições a exploração pode
aumentar a auto-confiança e a auto-eficácia?.
CONCLUSÃO
No processo de exploração vocacional é importante que o
profissional procure compreender o comportamento e as atitudes do
jovem que explora, prestando atenção tanto às características
individuais que podem influenciar as suas decisões (sexo, etnia),
ao contexto de decisão, bem como aos factores motivacionais e
afectivos. Os profissionais deverão ser assertivos e eficazes a
responder às reacções afectivas e cognitivas dos jovens no
processo de exploração vocacional, garantindo que este processo
produza resultados a nível do aumento dos comportamentos
exploratórios e diminuição dos níveis de ansiedade face à
exploração vocacional. Além disso, deverão guiar os jovens no
sentido de desenvolverem capacidades cognitivas e emocionais que
se revelem eficientes na transição do ensino secundário para o
superior ou do ensino superior para o mundo do trabalho.
Sabemos que o sistema nervoso autónomo opera com alguma
autonomia face ao resto do sistema nervoso, o que indica que a sua
actividade não requer uma intervenção consciente. Contudo, com
treino, os humanos podem aprender a exercer algum controlo sobre
as funções corporais que são parte do sistema nervoso autónomo.
Esta capacidade de auto-regulação psicofisiológica pode ser
aprendida e treinada através do recurso ao biofeedback, cuja
eficiência terapêutica no tratamento de variados sintomas e
perturbações foi comprovada por um grande número de estudos na
área da Psicofisiologia Aplicada. (Schwartz, 1995).
Assim, a intervenção ao nível da ansiedade que os indivíduos
sentem no início e ao longo do processo de exploração vocacional
poderá ser uma estratégia eficaz para a promoção da exploração.
Referências
Berlyne, D. (1960). Conflict, arousal and curiosity. NY: McGraw-Hill.
Bowlby, J. (1969). Attachment and loss (Vol.1). Attachment. NY: Basic Books.
Crocetti, E., Klimstra, T., Keijsers, L., Hale, W., & Meeus, W. (2009). Anxiety Trajectories and Identity Development in Adolescence: A Five-wave Longitudinal Study. Journal Youth Adolescence, 38, 839-849.
Dawson, M., Schell, A., & Filion, D. (1990). The electrodermal system. In J. Cacioppo & L. Tassinary (Eds.), Principles of Psychophysiology: Physical, social and inferential elements (pp. 295-324). Cambridge: University Press.
Deci, E., & Ryan, R. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human development. NY: Plenum.
Di Fabio, A. (2006) Decisional procrastination correlates: personality traits, self-esteem or perception of cognitive failure? International Journal for Educational and Vocational Guidance, 6, 109-122.
Di Fabio, A., & Palazzeschi, L. (2009). Emotional intelligence, personality traits and career decision difficulties.International Journal for Educational and Vocational Guidance, 9, 135-146.
Erikson, E. (1968). Identity: Youth and crisis. NY: Norton & Company.
Faria, L. & Taveira, M. (2006). Avaliação da Exploração e da Indecisão de Jovens no Contexto da Consulta Psicológica Vocacional: um estudo de eficácia da intervenção. XI Conferência Internacional Avaliação Psicológica.
Fisher, A., Granger, D., & Newman, M. (2010). Sympathetic arousal moderates self-reported physiological arousal symptoms at baseline and physiological flexibility in response to a stressor
in generalized anxiety disorder. Biological Psychology, 83, 191-200.
Flum, H. & Blustein, D. (2000). Reinvigorating the Study of Vocational Exploration: A Framework for Research. Journal of Vocational Behavior, 56, 380-404.
Hanita, M. (2000). Self-report measures of patient utility: should we trust them? Journal of Clinical Epidemiology, 53, 469-476.
Hardin, E., Varghese, F., Tran, U. & Carlson, A. (2006). Anxiety and Career Exploration: Gender differences in the role of self-construal. Journal of Vocational Behavior, 69, 346-358.
Hargrove, B., Inman, A., & Crane, R. (2005). Family Interaction Patterns, Career Planning Attitudes and Vocational Identity of High School Adolescents. Journal of Career Development, 31(4), 263-278.
Harlow, H. (1954). Learning theory, personality theory and clinical research-The Kentucky Symposium. NY: John Wiley and Sons.
Janeiro, I., & Marques, J. (2010). Career coping styles: differences in career attitudes among secundary school students. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 10,35-48.
Lewis, L., & Drewett, R. (2006). Psychophysiological correlates of anxiety: A single-case study. Anxiety Disorders, 20,829-835.
Marcia, J. (1980). Identity in adolescence. In J. Adelson (Ed.), Handbook of adolescent psychology (pp. 159-187). NY: Wiley.
Mitchell, M., & Miller, S. (2008). Executive functioning and observed versus self-reported measures of functional ability. The Clinical Neuropsychologist, 22, 471-479.
Patton, W., Bartrum, D. & Creed, A. (2004). Gender differences for Optimism, Self-esteem, Expectations and Goals in Predicting Career Planning and Exploration in Adolescents. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 4, 193-209.
Philips, S., & Bruch, M. (1988). Shyness and dysfunction in career development. Journal of Counseling Psychology, 35, 159-165.
Schwartz, M. (1995). Biofeedback: A Practitioner's Guide. NY:Guilford Press.
Sequeira-Martinho, H. (1992). Actividade Electrodérmica e Psicologia: Bases Fisiológicas e Aplicações. Jornal de Psicologia,10(4), 3-12.
Solberg, V., Good, G., Fischer, A., Brown, S., & Nord, D. (1995). Career decision-making and career search activities: relative effects of career search self-efficacy and human agency. Journal of Counseling Psychology, 42(4), 448-455.
Strongman, K. (1996). The Psychology of Emotion: Theories of Emotion in Perspective (4nd ed.). Chichester: John Wiley and Sons.
Stumpf, S., Colarelli, S., & Hartman, K. (1983). Development of the career exploration survey (CES). Journal of Vocational Behavior, 22, 191-226.
Super, D. (1953). A theory of vocational development. American Psychologist, 8, 189-90.
Taveira, M. (2000). Exploração e Desenvolvimento Vocacional de Jovens. Braga: Centro de Estudos em Educação e Psicologia.
Taveira, M., & Campos, B. (1987). Identidade vocacional de jovens: adaptação de uma escala (DISIO). Cadernos de consulta psicológica, 3, 55-67.
Vaz Serra, A. (1980). O que é a Ansiedade. Psiquiatria Clínica, 1(2), 93-104.
Vignoli, E., Croity-Belz, S., Chapeland, V., Fillipis, A., & Garcia, M. (2005). Career exploration in adolescents: The role of anxiety, attachment and parenting style. Journal of Vocational Behavior, 67, 153-168.
Wahlberg, A., Dorn, L., & Kline, T. (2010). The effect of social desirability on self reported and recorded road traffic accidents. Transportation Research Part F, 13, 106-114.
Yang, E. & Gysbers, N. (2007). Career Transitions of College Seniors. The Career Development Quarterly, 56, 157-170.