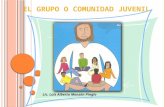CELULOSE KRAFT DE MADEIRAS JUVENIL E ADULTA DE PINUS ELLIOTTII
Delinquência Juvenil
Transcript of Delinquência Juvenil
INSTITUCIONALIZAÇÃO DE MENORES DELINQUENTES: Estudo sobre a trajetória delinquente dos educandos
ARMANDO R. DIAS RAMOS
Doutorando em Direito, na Universidade Autónoma de Lisboa
Mestre em Ciências Jurídico-Criminais, pela FDL
Inspetor da Polícia Judiciária
“Foram dias foram anos a esperar por um só dia.
Alegrias. Desenganos. Foi o tempo que doía
com seus riscos e seus danos. Foi a noite e foi o dia
na esperança de um só dia.”
MANUEL ALEGRE, Atlântico, Lisboa: Moraes, 1981, p. 93
1. INTRODUÇÃO
Tendo por base o tema “Delinquência Juvenil”, proposto na disciplina de
Mestrado1 de Criminologia, decidimos abordar a institucionalização de menores2
delinquentes, ou por outras palavras, ensaiamos, nas linhas que se seguem, um estudo
sobre a trajetória delinquente do educando, institucionalizado num Centro Educativo
(CE) pertencente à então agora extinta Direção-Geral de Reinserção Social do
Ministério da Justiça3.
Um ensaio não é mais que uma contribuição para um tema tão abrangente e
complexo como este a que nos propusemos “por mãos à obra”. Não somos
especialistas, nem temos pretensão em vir a sê-lo, no que à delinquência juvenil diz
respeito. Preocupa-nos apenas, e daí este nosso estudo, como é que jovens em tão
1 Mestrado Científico em Ciência do Direito - Ciências Jurídico-Criminais (ano lectivo 2008/2010) ministrado na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. A disciplina de Criminologia foi regida pelo Professor Doutor PAULO SOUSA MENDES. 2 Sempre que nos referirmos a menores estamos a reportar-nos a indivíduos que a lei penal considera inimputáveis em razão da idade , ou seja, indivíduos com menos de 16 anos, face ao art. 19.º do CP. 3 A Direção-Geral de Reinserção Social foi extinta através do Dec.-Lei n.º 215/2012, de 28 de setembro, tendo sido criada a atual Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais.
2
tenra idade já enveredam pelos caminhos tortuosos do crime e quais as consequências
dos seus incrementos futuros. Aquando da sua colocação, no âmbito da medida tutelar
educativa de internamento num centro educativo, em especial no regime fechado,
existe a esperança, quer para o juiz que aplica a medida como para a sociedade em
geral que, em ultima ratio o menor possa enveredar por uma nova vida que seja
conforme ao direito e à vida em sociedade. Pretende-se que o menor delinquente
arrepie o caminho do crime. Lograrão os técnicos de reinserção social obter destes
jovens os frutos que desejam, quando os educam para o direito e para a vida em
sociedade?
O modesto estudo aqui vertido é fruto da investigação bibliográfica efectuada
e do trabalho de campo4 realizado no Centro Educativo Padre António de Oliveira
(CEPAO), em Caxias. Pretende-se, deste modo dar a conhecer o dia-a-dia da vida de
jovens institucionalizados, uma realidade muitas vezes encarcerada num Centro
Educativo e desconhecida de muitos dos agentes envolvidos na institucionalização de
menores delinquentes. Partilhamos das palavras, de angústia, de MARIA JOÃO
CARVALHO5 quando refere “o estudo do desvio, e mais especificamente o acesso ao
mundo do indivíduo desviante, requer um grande investimento em termos de tempo,
planeamento e esforços que nem sempre está ao alcance de um investigador”. Ainda
assim, as diversas visitas efectuadas ao CEPAO foram profícuas para o
desenvolvimento deste trabalho, para a compreensão do modo como os menores ali
institucionalizados efetuaram o seu percurso delinquente e para a forma como os
mesmos são reeducados para o direito e para uma futura vida condigna em sociedade.
Mas este trabalho não seria possível sem a enorme cooperação, apoio e
dedicação com que me acolheram no CEPAO. Um agradecimento a todos os
funcionários desta instituição, técnicos principais de reinserção social (TPRS),
técnicos superiores de reinserção social (TSRS) e, em especial, à Dr.ª Sandra Borba
pela forma incansável como acedeu aos meus pedidos, respondeu às minhas dúvidas e
me deixou à vontade no CE para efectuar esta investigação e à Dr.ª Ana Parreira pela
sua disponibilidade e apoio incondicional.
4 O autor, no período entre Janeiro e Junho de 2009 deslocou-se por diversas vezes ao Centro Educativo Padre António de Oliveira (CEPAO) onde realizou um trabalho de campo de índole etnográfico. Este Centro Educativo, na dependência funcional da então Direção Geral de Reinserção Social, acolhe jovens a quem foi aplicada pelo Tribunal a medida tutelar educativa de internamento em Regime Fechado, no âmbito da LTE. 5 MARIA JOÃO LEOTE DE CARVALHO, «Em torno do método bibliográfico: Um olhar sobre trajectórias de vida desviante», Infância e Juventude, Revista do Instituto de Reinserção Social, n.º 2 (Abril-Junho), Lisboa, 2001, p. 110.
3
Aos menores ali institucionalizados uma última palavra de agradecimento,
pois sem eles este trabalho ficaria vazio de conteúdo. A colaboração deles foi muito
imprescindível, ainda que os mesmos não se tenham apercebido deste enorme
contributo.
2. A LTE E AS MEDIDAS TUTELARES INSTITUCIONAIS
2.1. – Os regimes de Execução
A LTE6 veio alterar o paradigma existente até então, no qual os jovens
delinquentes conviviam no mesmo local com jovens carecidos de apoio social ou em
risco7.
6 A Lei Tutelar de Menores foi publicada pela Lei n.º 166/99, de 14 de Setembro e entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2001. 7 Estas alterações tiveram impacto quando em 1999 foi publicada a LTE (Lei n.º 166/99, de 14 de Setembro) e a LPCJP (Lei n.º 147/99, de 1 de Setembro), que resultaram da cisão da OTM, publicada pelo Dec.-Lei n.º 314/78, de 27 de Outubro. Esta forma de legislar foi fruto dos diversos instrumentos internacionais que foram estabelecendo regras importantes face à justiça juvenil, nomeadamente:
• Regras de Beijing (1985): constituem um conjunto de regras mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça de Menores.
• Princípios Orientadores das Nações Unidas para a Prevenção da Delinquência Juvenil ou Princípios Orientadores de Riade (1990): visam a adopção de medidas progressivas de prevenção da delinquência juvenil que evitem criminalizar e penalizar um jovem por um comportamento pouco gravosos.
• Regras de Havana (1990): visam estabelecer um conjunto de regras mínimas com vista combater os efeitos da privação de liberdade nos jovens.
• Regras de Tóquio (1990): regras mínimas das Nações Unidas, para o desenvolvimento de medidas não privativas de liberdade.
Também a nível europeu existem diversos instrumentos jurídicos, principalmente emanados do Conselho da Europa, dos quais destacamos:
• Recomendação do Conselho da Europa R(87) 20 sobre “Reacções Sociais à Delinquência Juvenil: salientam a importância das ações de prevenção da delinquência juvenil.
• Recomendação do Conselho da Europa R(88) 6: defendem a necessidade de prevenir os comportamentos delinquentes dos jovens imigrantes.
• Recomendação (00) 20: versa sobre “O papel da intervenção psicossocial precoce na prevenção dos comportamentos criminais”, surgindo da tomada de consciência do aumento da delinquência juvenil mais violenta e da delinquência precoce.
• Recomendação (01) 1532: versa sobre “Uma política social dinâmica em favor das crianças e adolescentes em meio urbano”, surgindo da preocupação pelo comportamento cada vez mais anti-social dos jovens em meio urbano, e pela guetização dos arredores das grandes cidades.
• Recomendação (03) 20: versa sobre novos modos de tratamento da delinquência juvenil e sobre o papel da justiça juvenil.
Para um desenvolvimento mais profundo deste acervo legislativo consultar Os caminhos difíceis da “nova” Justiça Tutelar Educativa, Uma avaliação de dois anos de aplicação da Lei Tutelar Educativa, Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, Centro de Estudos Sociais da Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra, 2004 – Coordenação de CONCEIÇÃO GOMES, pp. 53 a 81.
4
As medidas tutelares institucionais estão previstas no art. 4.º n.º 1 alínea i) da
LTE e no n.º 3 as modalidades de regime possíveis em CE. O art. 17.º da LTE define
o objectivo da medida de internamento e quando poderá ser aplicável e, no art. 18.º
do mesmo diploma legal, encontramos a duração da medida de internamento.
Também no art. 12.º a 16.º do Dec.-Lei n.º 323-D/2000, de 20 de Dezembro, diploma
que estipula o Regulamento Geral e Disciplinar dos Centros Educativos, encontramos
os regimes de execução das medidas de internamento em CE.
Sob a epígrafe “princípio da legalidade”, este artigo 4.º prevê as medidas
tutelares a serem aplicadas, partindo da menos gravosa para a mais severa, ou seja,
estão elencadas segundo uma graduação, embora sejam de aplicação (pelo Juiz) de
forma independente e adequadas a cada caso. Estamos presente “um catálogo
fechado” de medidas tutelares, não podendo ser aplicadas medidas de espécie ou em
modalidade ou em regime diversos dos previstos na Lei”8, ou seja, estamos perante
mais um basilar princípio de direito denominado pelo Princípio da Taxatividade.
É, contudo, no art. 17.º da LTE que encontramos os objectivos para a
aplicação da medida de internamento, os quais “visam proporcionar ao menor, por via
do afastamento temporário do seu meio habitual e de utilização de programas e
métodos pedagógicos, a interiorização de valores conformes ao direito e a aquisição
de recursos que lhe permitam, no futuro, conduzir a sua vida de modo social e
juridicamente responsável”9.
Centremo-nos, então, nas medidas de internamento em Centro Educativo, em
especial a que diz respeito ao regime fechado, uma vez que são estas as medidas que
deverão, em ultima ratio, ser aplicadas aos menores delinquentes. Por outro lado, não
faz sentido explorar as outras medidas tutelares neste trabalho de investigação,
porquanto o seu tema cinge-se ao percurso do delinquente institucionalizado.
2.2. – O Regime fechado em particular.
O regime fechado é a medida tutelar mais gravosa e que apenas deve ser
aplicada em último grau, ou seja, quando as demais medidas tutelares não se mostrem
eficazes para a educação do menor. 8 ANABELA MIRANDA RODRIGUES e ANTÓNIO CARLOS DUARTE FONSECA, Comentário da Lei Tutelar Educativa, Coimbra Editora, 2003, p. 65. 9 O mesmo é referido no art. 1.º do RGDCE, publicado pelo Dec.-Lei n.º 323-D/2000, de 20 de Dezembro.
5
Este princípio de aplicação de medida de internamento quando as demais
medidas tutelares não se mostrem aptas à prossecução da (re)educação do menor deve
ser sempre observado na aplicação da medida de internamento, mormente em regime
fechado. A Lei Constitucional, no seu art. 27.º n.º 3 alínea e), consagra que a privação
da liberdade pode ocorrer para “sujeição de um menor a medidas de protecção,
assistência ou educação em estabelecimento adequado, decretadas pelo tribunal
judicial competente”.
Por ser uma medida institucional, a mesma é cumprida em CE, sendo neste
que todas as actividades do menor são desenvolvidas10. Não se trata aqui de
considerar estes Centros Educativos como meras prisões para menores, Nestes tem-se
como uma das finalidades a (re)educação do menor delinquente. A educação para o
direito, conforme art. 2.º da LTE, constitui-se, assim, no eixo central da vertente
reeducativa da LTE11. Mas como será levada a cabo tal tarefa? E que efeitos esta
reeducação produz na esfera do menor após a sua saída deste tipo de regime?
Os CE são, na definição proposta por ERVING GOFFMAN, instituições totais,
por se tratarem de locais onde tudo é realizado no seu devido tempo e por todos os
educandos que ali permanecem. Segundo esta definição trata-se de “... um local de
residência e trabalho, onde um grande número de indivíduos com situação
semelhante, separados da sociedade mais ampla por considerável período de tempo,
levam uma vida fechada e formalmente administrada”12.
Efetivamente, no regime fechado todos os menores vivem o seu quotidiano de
forma organizada e totalmente regulamentada/controlada. Aplicam-se, sem qualquer
dúvida, as palavras de RUI GONÇALVES quando referiu que “ o internado não é dono
do seu tempo, do espaço, dos seus gestos, perdendo, consequentemente a sua
identidade”13.
10 Cf. art. 169.º da LTE e art.15.º do RGDCE. 11 A este respeito veja-se a exposição de motivos constante na Proposta de Lei n.º 266/VII, de 11 de Março de 1999, na qual são expostos os motivos da aprovação da LTE, que diz no seu ponto 7: “A densidade do que seja a necessidade de educação para o Direito não se pode reconduzir a um manual de procedimentos mas não se afigura também tarefa excessivamente melindrosa. Trata-se de corrigir uma personalidade que apresenta deficiências de conformação com o dever-ser jurídico mínimo e essencial (corporizado na lei penal) e não meras deficiências no plano moral ou educativo geral”. No mesmo sentido se pronuncia ANABELA MIRANDA RODRIGUES, «Le droit dês mineurs au Portugal. Une réforme urgente», Revista de Criminologie, n.º 32 (2), 1999, pp. 101 a 116. 12 ERVING GOFFMAN, Manicómios, Prisões e Conventos, Colecção Debates, São Paulo, Editora Perspectiva, p. 11. 13 RUI ABRUNHOSA GONÇALVES, Actas do Congresso – crimes, práticas e testemunhos , organização de Rui Abrunhosa Gonçalves), Departamento de Psicologia, Instituto de Educação e de Psicologia da Universidade do Minho, 1999, pp. 247 a 269.
6
A medida de internamento em regime fechado vai desde os 6 meses até ao
máximo de 3 anos, sendo aplicável apenas a menores com idade igual ou superior a
14 anos à data de aplicação desta medida, conforme art.s 17.º e 18.º da LTE.
Também por força da LTE (art.s 5.º a 7.º) a medida de internamento em
regime fechado cessa quando o menor atinge 21 anos de idade e os critérios de
escolha da medida dependem dos factos praticados pelos menores. Refere a LTE que
em caso algum a medida de internamento em centro educativo pode exceder o limite
máximo da pena de prisão prevista para o crime correspondente ao facto praticado.
3. O PROJECTO DE INVESTIGAÇÃO: OBJECTO, HIPÓTESES DE TRABALHO E
METODOLOGIA ADOPTADA 3.1. - Objecto
Como já foi referido anteriormente, o objecto de estudo desta investigação
foram os menores institucionalizados no CEPAO, a cumprir a medida tutelar
educativa de internamento em regime fechado.
Trata-se de um CE para menores do sexo masculino, onde apenas é possível o
cumprimento de medidas de internamento em regime fechado. É composto por duas
Unidades Residenciais (RF1 e RF214) cuja lotação máxima prevista é de 10
educandos em cada uma. Esta lotação é a prevista no RGDCE15, embora devido ao
encerramento de alguns CE, mormente do CE de Vila Fernando, este limite seja
facilmente ultrapassado. Acresce ainda a este supranumerário de educandos o facto de
se verificar a tardia abertura de CE projectados, tais como o CE da Madeira e dos
Açores.
“Uma investigação é, por definição algo que se procura. É um caminhar para
um melhor conhecimento (…)” defendem RAYMOND QUIVY e LUCVAN
CAMPENHOUDT 16. Também ALCINA MARTINS17, defende esta posição, afirmando que
14 RF1 – Acolhimento e RF2 – Progressão. Infra reportar-nos-emos com especial atenção a estas Unidades de Regime Fechado. 15 O art. 11.º do RGDCE fixa a lotação máxima das UR em regime fechado em 10 lugares. Contudo verifica-se que existem sempre mais menores para além deste máximo. Tal deve-se ao encerramento de vários CE, através da Portaria n.º 102/2008, de 1 de Fevereiro. No caso em estudo, aquele número é excedido em 1educando, em cada uma das RF referidas. 16 RAYMOND QUIVY E LUCVAN CAMPENHOUDT Manual de investigação em ciências sociais, 2.ª edição, Lisboa, Edições Gradiva, 1998, p. 31.
7
a investigação se deverá desenvolver “(…) como uma aproximação ao conhecimento
da realidade social, e como uma estratégia que possibilite repensar e renovar as
práticas”.
O intuito deste trabalho foi tentar compreender os motivos que levaram os
menores a serem institucionalizados. Não nos fixamos somente nas medidas aplicadas
pelos diversos tribunais e as suas causas, mas também no ambiente em que estes
menores viviam à data da prática dos factos e na gravidade dos factos que praticaram,
atenta a precoce idade dos mesmos. Do mesmo modo, a estrutura das suas famílias,
os seus hábitos e modos de vida, bem como as companhias e amigos que tinham,
foram elementos essenciais para compreender a trajetória delinquente dos menores
institucionalizados no CEPAO.
3.2. - Hipóteses de Trabalho O presente trabalho pretende responder a algumas questões, como se segue:
3.2.1. – O percurso do educando na delinquência iniciou-se pelo contacto com grupos de jovens delinquentes?
Analisar o percurso delinquente dos menores institucionalizados num CE
implica um conhecimento da realidade do mundo criminal.
Todos os jovens fazem parte de um grupo com o qual se identificam. Este
grupo tem um papel fundamental na estruturação do adolescente enquanto indivíduo
social, pois o ser humano é por natureza um ser social.
Cada grupo tem um símbolo, uma referência, um contexto e uma forma de
pensar própria, no fundo, uma forma de auto-identificação e afirmação. Uns
destacam-se pelas roupas, outros pelos penteados, por atitudes radicais ou ainda por
uma certa rebeldia.
De acordo com a teoria da coesão social desenvolvida por DURKHEIM18, a
ligação do indivíduo ao grupo promove uma série de controlos externos que
17 ALCINA MARTINS, Serviço Social e Investigação. Serviço social, Profissão & Identidade. Que trajectórias?, Lisboa – São Paulo, Veras Editora, p. 56. 18 Citado por PEDRO MOURA FERREIRA, Controlo e identidade: a não conformidade durante a adolescência. Sociologia: Problemas e Práticas, 33, 55-85.
8
compelem à ação normativa, mas, simultaneamente, à identificação com os outros
(com base nos laços sociais), incutindo e reforçando o sentido de controlo interno.
Quando há diminuição da intensidade dos laços sociais, decresce o sentimento de
integração e de ação dos controlos externos e internos. As dificuldades na eficácia
destes controlos e na supervisão exercida, pelos pais, sobre as crianças e jovens,
nomeadamente em grupos socio-económicos desfavorecidos, são justificadas pelo
enfraquecimento da conformidade social.
Pretendeu-se neste trabalho de investigação verificar se a prática de factos,
qualificados na lei como crime, por menores, estava, ou não, intimamente associada
ao facto de ser praticada maioritariamente em grupo e qual o móbil desta actuação.
RENATA BENAVENTE citando VENTURA refere que “também as teorias da
aprendizagem social, defendem a influência do grupo sobre os jovens, mostrando que
a conformidade jovem/grupo, condiciona determinados comportamentos, tais como:
roubo, consumo de substâncias, abandono escolar, etc., de acordo com processos de
aprendizagem como a imitação ou a modelagem.” 19
E esta teoria, referida anteriormente, leva-nos a outra hipótese de trabalho, que
analisaremos de seguida.
3.2.2. – A necessidade de integrar (ou ser aceite) num grupo é um estímulo (ou condição de afirmação) para a prática de actos delinquentes?
Existem poucos estudos sobre a problemática dos efeitos que o grupo tem no
menor. Saber se a aceitação num grupo é causa direta da prática de atos delinquentes
é tarefa que não se adivinha fácil. Por outro lado, provavelmente, também não vai ser
no CE que vamos conseguir obter respostas fidedignas a esta pergunta, pois só
analisando o funcionamento de um grupo nos poderíamos aperceber de tal realidade.
Ainda assim, é fundamental averiguar este hipótese por mais remota que se torne uma
resposta efectiva.
A falta de estruturas de apoio permanentes em bairros degradados, onde os
menores são deixados “por sua conta e risco” leva-os necessariamente à sua inclusão
em grupos. O ser humano procura integrar-se onde é acolhido e não onde fica à
19 RENATA BENAVENTE, Delinquência Juvenil: da disfunção social à psicopatologia, em Análise Psicológica, 2002, 4 (XX), p. 639
9
margem dos demais. Certos grupos têm rituais os quais terão que ser cumpridos à
risca para que se possa entrar neste círculo de amigos.
Um estudo realizado por MARTIN SANCHEZ JANKOWSKI20, nos EUA, refere
que, nos contextos que foram objecto do seu estudo, o jovem que deseja ingressar
num gang deve passar por uma espécie de ritual de aceitação, que vai desde resistir a
ser espancado até realizar pequenos furtos para satisfazer os interesses dos mais
velhos. Ele deve seguir uma hierarquia - obediência aos líderes e uso dos códigos
internos e informais para comunicar com os demais. A união é que faz a força do
grupo. As actividades económicas quotidianamente desenvolvidas pelos componentes
variam entre os diferentes gangs e pode ir desde a protecção aos comerciantes do
bairro até à participação em prostituição, passando por roubos e assaltos diversos.
Bem diferente é a realidade portuguesa. Mas não haverá também entre nós
rituais de aceitação em grupos ou a necessidade de praticar certos atos para que se
possa ser aceite num determinado grupo?
3.3 – Metodologia: análise documental, observação directa e interação com os educandos.
A metodologia adoptada neste trabalho de campo consistiu na análise direta
dos educandos institucionalizados no CEPAO.
Se no início deste trabalho existiram algumas dúvidas e angústias que o
mesmo não pudesse ser realizado, com o decorrer do tempo verificou-se que o mesmo
poderia ser concretizável e obterem-se resultados fiáveis para uma conclusão.
A metodologia do trabalho ficou dependente de várias condicionantes.
Inicialmente foi necessário obter a devida autorização da então Directora-Geral da
Direcção-Geral de Reinserção Social.
Para ter a aprovação tiveram que ser indicados quais os objectivos e o método
de trabalho.
Encontrando-se este projecto numa fase embrionária, delineamos como
objectivos “apurar se os menores institucionalizados tinham noção da ilicitude dos
20 Cfr. MARTIN SANCHEZ JANKOWSKI, Islands in the street. California, University of California Press, 1991.
10
factos qualificados como crime por si praticados, ou seja, qual a trajectória
delinquente do educando e em que situações (grupal ou individual) e em que
circunstâncias ocorreram a prática de tais actos.”
Foram igualmente entregues na ex-DGRS, para apreciação e decisão superior,
algumas perguntas que iriam ser feitas aos menores nas várias conversas informais, a
cuja realização não foi colocado qualquer entrave.
Obtida a respectiva autorização superior - que foi bastante célere atendendo a
que o pedido foi formulado em inícios de Dezembro e em 27 de Janeiro foi-nos
comunicada a devida autorização – partimos para o terreno com muitas expectativas e
ansiedades. Entrar num mundo fechado, que muitos pouco conhecem, afigurava-se-
nos enigmático pois não sabíamos o que iríamos encontrar e como seríamos
recebidos.
Em virtude de ter sido este o primeiro trabalho de campo por nós realizado
surgiram algumas dificuldades na elaboração de uma metodologia científica. Ainda
assim, foi possível obter elementos que se nos afiguram credíveis e que permitiram
compreender como é a vida de um educando num CE e qual o seu percurso pessoal
(de delinquência) até aqui chegar.
A análise documental existente no CEPAO foi também um dos recursos
utilizados para a elaboração deste trabalho de campo. A consulta do Regulamento
Interno (RI) e do Projecto de Intervenção Educativa (PIE)21 foram ótimos
instrumentos para melhor compreender o dia-a-dia dos educandos no CEPAO e a
finalidade deste CE na “educação dos menores para o direito e a sua inserção de
forma digna e responsável na vida em comunidade”.
A par da diversa documentação, onde também se incluem dados estatísticos
sobre os menores institucionalizados no CEPAO, optou-se pela observação direta dos
educandos e por contactos informais com os mesmos. Julgamos, a nosso ver, ser este
o método menos invasivo e que mais informações profícuas poderíamos obter num
curto período de tempo, de 5 a 6 meses, em que realizamos este trabalho de campo.
21 À data de início deste trabalho o RI e o PIE em vigor datavam de Outubro de 2007. Com o decorrer do trabalho foi possível obter a informação que o CEPAO foi escolhido como CE para a realização de um projecto-piloto para testar um novo modelo de RI, que no futuro será aplicado uniformemente a todos os CE dependentes da ex-DGRS. Ainda assim todas as referências citadas neste trabalho dirão respeito ao RI e ao PIE de Outubro de 2007, uma vez que por se tratar de um projecto experimental não nos foi facultada a respectiva consulta na data do nosso estudo académico.
11
4. VIVER NUM CENTRO EDUCATIVO: UM CASO DE ESTUDO. 4.1. - O CEPAO: breve resenha história e o espaço actual.
Chegados a este ponto, onde já invocámos o trabalho que realizámos e as
formas para lograr o seu êxito, impõe-se uma brevíssima resenha histórica sobre o
CEPAO22.
Considerada como uma das instituições mais antigas de Portugal na educação
dos menores, o actual CEPAO surgiu através do Decreto-Lei de 27 de Abril de 1903.
Nesta data, sob a supervisão do então P.E ANTÓNIO DE OLIVEIRA, devido à
necessidade de alojar no Convento das Mónicas (Lisboa) a Casa de Detenção e
Correção do sexo feminino, foram transferidos 140 rapazes para o antigo Convento
da Cartuxa das Lavadeiras em Caxias.
Em 1911 o P.E ANTÓNIO DE OLIVEIRA foi nomeado superintendente de todas
as escolas de reforma dependentes do Ministério da Justiça, sendo já na altura sub-
diretor da Escola de Correção de Caxias. Foi este presbítero que iniciou várias
medidas pedagógicas e disciplinares inovadoras, que culminaram na criação de um
diploma onde se criou um Direito Tutelar próprio, em virtude da diferenciação
criminal entre menores e adultos.
De 1911 a 1925 a instituição passou a denominar-se por Escola Central de
Reforma de Lisboa e posteriormente passou a Reformatório Central de Lisboa Padre
António de Oliveira, em homenagem ao labor incansável e empreendedor do falecido
padre, ocorrido em 9 de Setembro de 1923.
Em pleno auge do Estado Novo, em 1962, surge uma nova designação
passando a ser Instituição de Reeducação Padre António de Oliveira. Este nome
duraria até Outubro de 1978, data em que passou a Instituição Padre António de
Oliveira. Anos mais tarde, em 30 de Julho de 1995, passou a chamar-se Centro de
Acolhimento, Educação e Formação Padre António de Oliveira.
Por força das alterações do Direito Tutelar de Menores, que ditou a revogação
da OTM, com a entrada em vigor da LTE em 2001, a instituição passou a ser Centro
Educativo Padre António de Oliveira.
22 Os elementos vertidos nos próximos parágrafos foram extraídos da Monografia do Reformatório Central de Lisboa Padre António de Oliveira, existente na biblioteca do CEPAO.
12
Quem percorre a Estrada Nacional n.º 250, junto ao Km 8 em Caxias, nem se
apercebe que num dos edifícios, meio escondidos por árvores, existe um CE de
menores delinquentes. Mas quem se aproxima da entrada principal do CEPAO
apercebe-se de uma outra realidade.
Cheguei um pouco antes da hora aprazada. Tinha marcado encontro com a Dr.ª Sandra Borba – que exercia temporariamente, e em acumulação, as funções de Diretora do CEPAO – às nove horas, para uma primeira reunião, com a finalidade de me apresentar e indicar os objetivos do meu trabalho. Exteriormente o espaço é flanqueado por duas vedações. Uma exterior de grades e arame farpado e continuamente outra vedação de rede, malha fina. Na entrada principal existem dois portões automáticos de correr. Abrem alternadamente, criando no entremeio um espaço transitório entre a liberdade e um regime fechado. Na portaria, a funcionária pede-me que ali deixe alguns objectos pessoais, cuja entrada é interdita no CEPAO, nomeadamente telemóvel, tabaco e isqueiro. Fico a saber que tal procedimento é comum a todos os funcionários e visitas do CEPAO. (Notas de Terreno de 04/02/2009)
O CE é composto por dois edifícios, separados alguns metros. No primeiro, de
rés-do-chão e primeiro andar, situam-se as Unidades Residenciais (UR) onde se
encontram os educandos e são desenvolvidas todas as actividades pedagógicas e, um
pouco mais afastado, um outro edifício térreo onde se situam os serviços
administrativos e a direção do CE23.
No espaço envolvente a estes dois edifícios existe uma zona de cultivo
agrícola, uma pequena piscina, jardins e um campo de futebol. A vista que se alcança
deste local é magnífica pois nela se pode ver o bugio, o mar e uma boa parte da
marginal de Cascais. Não fora tratar-se de um CE e das razões que levam estes
menores a esta Instituição e este seria um local ideal para viver o resto da vida.
4.2. – No mundo dos educandos
Após me ter inteirado das regras de funcionamento do CE, através da leitura
do Regulamento Interno (RI), do Projecto de Intervenção Educativo (PIE) e das
23 Por força das alterações ao RI e ao PIE, em Maio alguns serviços administrativos foram transferidos para o edifício das Unidades Residenciais. Tal motivo prende-se com o facto dos Coordenadores da Equipa Residencial e da Equipa de Programas estar mais próxima dos menores. Também o administrativo que trata da parte burocrática relativa aos menores foi transferido para este edifício.
13
explicações às minhas perguntas estou preparado para entrar no âmago da minha
investigação – o contacto com os menores ali institucionalizados.
No segundo dia de visita ao CE, acompanhando a Dr.ª Sandra, um grupo de rapazes apanhava sol no interior do campo de jogos. A Dr.ª Sandra chama-os à atenção, que naquela hora não podem estar deitados e que é obrigatório praticarem a atividade física constante no plano de atividades. O monitor acaba por intervir e a custo os menores levantam-se e começam a dar chutos na bola, mas sempre contrariados. Já no interior do edifício administrativo a Dr.ª Sandra diz-me que quem deveria ter repreendido os menores era o monitor e não ela. Depois mostra-me um documento, assinado superiormente, onde é referida a obrigatoriedade de os menores praticarem desporto. (Notas de Terreno, 07/02/2009)
Cada passo dentro das UR é controlado por dois monitores (TPRS) em cada
piso e as saídas daquelas por um segurança de uma empresa privada de vigilância.
Existe ainda um outro segurança, no interior das UR, que vai servindo de apoio aos
monitores no controle dos menores. Comum a todos, no que às comunicações diz
respeito, é o uso sistemático de walkie-talkies. As portas das UR são de ferro e existe
um ritual de abertura e fecho das mesmas à passagem dos seus intervenientes. Para
além destes marcadores defensivos24 outros se verificam: as janelas apenas abrem na
parte superior e estão protegidas por um reforço de ferro, na parte interior, em três
partes.
Encontrava-me na antecâmara que dá acesso à RF1 [designada por quadrado e na qual, vim mais tarde a saber, se realizam as visitas dos educandos, espaço igualmente existente na RF2], na qual a Dr.ª Sandra me indicava as salas de aulas e o funcionamento das atividades escolares. É neste RF1 que se encontram os menores que estão na Fase 1 e 2, ou seja, maioritariamente composta pelos mais recentes educandos do CEPAO. Um deles, com ar de reguila e de curiosidade, espreita na zona de acrílico da porta de ferro e pergunta se eu era o novo diretor. Logo depois outros se aproximam e ficam-me a observar, como se há muito não vissem uma pessoa estranha ao CE. (Notas de Terreno, 07/02/2009)
24 Acompanhamos de perto a definição dada por TIAGO NEVES, Entre Educativo e Penitenciário – Etnografia de um centro de internamento de menores delinquentes, Edições Afrontamento, 2008, p. 74 “Utilizo o termo marcador para designar aquilo que identifica sinais ou delimita fronteiras; marcador radica no termo germânico Marka, que significa sinal ou fronteira. Recorro ao termo defensivo para sublinhar o facto de que tais objectos, estratégias e actuações, desenvolvem-se tanto a nível preventivo como correctivo, se orientam, a nível local para a protecção dos educandos e a preservação do CESA [Centro Educativo de Santo António - Porto] enquanto organização burocrática e, a nível mais geral, para a defesa da sociedade”.
14
Em Manicómios, Prisões e Conventos GOFFMAN25 apresenta-nos 3 tipos de
espaços existentes nas instituições totais: a) o espaço para lá dos limites do interno,
onde a sua simples presença é proibida; b) o espaço de vigilância, no qual o interno
passa o tempo sob a supervisão e autoridade dos funcionários da instituição; e c) o
espaço não regulado pela autoridade normal da equipa dirigente. Este esquema aplica-
se mutatis mutandis ao CEPAO por se tratar de uma instituição em regime fechado,
não existindo um espaço para além da supervisão, pois todos os passos dos menores
são devidamente controlados, inclusive quando se encontram a praticar desporto no
campo de jogos.
No interior da RF2 vou encontrar os menores a ver televisão ou a jogar snooker. [A visualização de televisão apenas acontece durante a semana depois do jantar até à hora de deitar, que é feita consoante a fase em que se encontre o educando e aos fins de semana de tarde e à noite, quando não existam atividades programadas]. A presença da Dr.ª Sandra é aproveitada para interpelações diversas por parte dos menores, quer seja para solicitarem autorização para telefonar à família ou sobre a espera de visitas que se aproxima ou apenas para indagarem quem sou. Percorro a RF2 com a Dr.ª Sandra, que me vai explicando o dia-a-dia na UR e me mostra as instalações, desde a sala de televisão, aos quartos, passando pelo refeitório e gabinete do monitor. (Notas de Terreno, 07/02/2009)
Verifico que os quartos estão fechados à chave. Os menores apenas podem
permanecer neles à noite ou quando se encontram a cumprir alguma medida de
contenção ou disciplinar, aplicada pelo Director do CEPAO26.
Estes são compostos por um armário embutido na parede, que serve de
escrivaninha, uma cadeira e cama. Denota-se que a existência de objetos pessoais é
quase nula27. Ainda assim, tudo depende da fase de progressividade28 em que se
encontra o educando para que possa ter consigo alguns objectos pessoais. Comum a
todos os quartos é a existência dos já referidos marcadores defensivos: os armários
não possuem qualquer porta ou varão ou gavetas, sendo apenas constituídos por
prateleiras; as janelas são de vidro martelado (que não deixa ver para o exterior, nem 25 ERVING GOFFMAN, Manicómios, Prisões e Conventos, p. 189 26 A medida de contenção de isolamento cautelar aplica-se, de acordo com o art. 183.º da LTE, por um período máximo de 24 horas e é obrigatoriamente comunicada ao Tribunal. 27 O RI prevê que “é interdita a utilização de qualquer tipo de adornos pessoais ou outros objectos que não sejam fornecidos pelo CE, com exceção de fotografias de familiares”. Não é igualmente permitido o uso de relógio pessoal. Para saberem as horas ou perguntam aos educadores ou então verificam na televisão, através do serviço teletexto. 28 As fases de progressividade no CEPAO são 4. Por ordem crescente: Fase 1 – Integração, Fase 2 – Aquisição, Fase 3 – Consolidação e Fase 4 – Transição/Autonomia. Infra voltaremos a falar destas fases de modo mais pormenorizado.
15
em sentido inverso), sem cortinas e apenas com uma pequena abertura no topo da
janela.
A sala de convívio é composta por uma estrutura inamovível, pois são
construídos em cimento, com a superfície almofadada, que serve de sofá. As mesas
são igualmente de cimento. Não existe qualquer cadeira. Para além da televisão há
alguns jogos, tais como damas, cartas, matraquilhos, snooker e recentemente o
monopólio.
A recepção de um novo educando rege-se por regras rígidas e bem definidas
que constam, para além do Regulamento Interno (RI), de uma Check-List de
Acolhimento. Num primeiro momento, que dura cerca de 24 a 72 horas –
Acolhimento – o menor é despojado de todos os objetos de que é portador (incluindo
a roupa pessoal), sendo-lhe entregue um roupão e um par de chinelos. Após o banho
obrigatório é-lhe entregue um kit de acolhimento, composto por um fato de treino, t-
shirt’s, camisolas, pijama, cuecas e meias.
“Temos miúdos que chegam aqui sem quaisquer regras ou horários. A fase de acolhimento serve para que o mesmo fique ciente do local onde foi colocado pelo tribunal. De noite, nos primeiros dias, é normal que eles fiquem acordados, e nos chamem constantemente com a desculpa que querem ir à casa de banho, pois não estão habituados a dormir nesse período” – desabafa um TPRS: (Notas de Terreno, 11/05/2009)
Estas primeiras horas na instituição, que podem ir até 72 horas, são passadas
em pleno isolamento no quarto, quando não haja qualquer actividade programada29. O
menor levanta-se e faz as suas refeições a horas diferentes dos seus pares, para que se
habitue ao meio onde foi inserido. É também neste período que lhe são explicadas as
regras básicas do CE e, se os educandos assim o solicitarem, é-lhes entregue uma
cópia do RI para lerem.
“Ao entrar na instituição o menor é obrigado a abandonar o papel social que
desempenhava no exterior, pois este último é inaceitável para a Instituição. Dá-se um
desculturamento, a mortificação do eu, que deixa de ser uma propriedade pessoal
para se transformar num padrão de controle social” esclarece-nos a socióloga JOANA
29 Referimo-nos a reuniões com o TSRS-Tutor e com outros elementos da equipa técnica.
16
MARTELEIRA30 no VIII Congresso Luso-Afro-Brasileiro de Ciências Sociais, ocorrido
em Coimbra de 16 a 18 de Setembro de 2004.
O ponto 2 do capítulo II do RI – Receção e Acolhimento –, sob o título
“Acolhimento” é referido que se deve insistir perante o menor “no lema “respeita e sê
respeitado”; que se deve “manter uma postura sempre cordial mas que não
compreenda qualquer tipo de opiniões e sentimentos pessoais/subjectivos” e que se
deve “suster qualquer comportamento negativo por parte do menor, intervindo de
forma adequada sempre que necessário”.
Todos os educandos recebem roupas do CE. As suas roupas pessoais apenas poderão ser usadas aquando de uma saída ao exterior do CE, como seja uma ida a Tribunal – explica-me a Dr.ª Sandra. A finalidade é que todos os educandos se sintam iguais e haja uma uniformização a nível do CE, conclui por fim. (Notas de Terreno, 07/02/2009)
Passada esta fase de pré-acolhimento o menor é integrado junto dos seus pares
na RF1. Aqui, bem como na RF2 o tempo é controlado através de um rigoroso
horário, que vai desde o levantar até ao deitar.
O quadro que se apresenta, infra, respeita à ocupação dos educandos em
período escolar, no período não escolar, este é adaptado a atividades formativas de
conteúdo menos exigente, mas sempre de carácter pedagógico.
“Os miúdos passam demasiado tempo dentro destas 4 paredes. Todas as actividades, com exceção da Jardinagem são neste edifício. Se houver um menor que se encontre de castigo, nessa semana não sai daqui”, lamenta-se um monitor da RF2. (Notas de Terreno, 25/04/2009)
Vejamos os horários existentes no RI do CEPAO. Como se referiu
anteriormente estes horários correspondem ao que se encontravam em vigor aquando
do início deste trabalho de investigação. As alterações que ocorreram posteriormente
não são, contudo, muito significativas reportando-se apenas às fases de progressão em
que o educando efectivamente se encontre.
30 JOANA MARTELEIRA, Jovens à margem: análise sociológica de um centro educativo, publicado em Infância e Juventude, Revista do Instituto de Reinserção Social, n.º 1 (Janeiro-Março), Lisboa, 2005, p. 100.
17
Horas Dias úteis
07H30 Levantar/higiene pessoal 14H00 Actividades
08H00 Arrumo quartos/unidade 15H40 Intervalo (lanche da tarde)
08H30 Pequeno-Almoço 16H00 Actividades
09H00 Actividades 17H40 Fim das actividades da tarde
10H40 Intervalo (lanche da manhã) 18H00 Banho (muda de roupa)
11H00 Actividades 19H00 Jantar
12H00 Banho (muda de roupa) 19H30 Serão
12H40 Fim das actividades da manhã 21H até
23H00
Hora de recolher aos quartos,
consoante a fase do educando. 13H00 Almoço
Quadro 1 – Horário dos dias úteis
Horas Sábados Horas Domingos
09H00 Levantar/higiene pessoal 09H00 Levantar/higiene pessoal
08H30 Pequeno-Almoço 08H30 Pequeno-Almoço
10H00 Arrumo dos quartos e limpezas
gerais profundas 10H00 Arrumo dos quartos
13H00 Almoço 10H40 T.P.C. nos quartos
14H00 Visitas 13H00 Almoço
14H30 Actividades lúdicas 14H00 Visitas
18H00 Fim das visitas 14H30 Actividades lúdicas
19H00 Jantar 18H00 Fim das visitas
19H30 Serão 19H00 Jantar
21H00
até
22H30
Hora de recolher aos quartos, consoante a fase do educando
19H30 Serão
21H00
até 22H30 Hora de recolher aos quartos, consoante a fase do educando
Quadro 2 – Horário dos fins-de-semana. Nos feriados aplica-se o horário de
fim de semana.
4.3. - O processo de (re)educação: Educar para o Direito e a inserção na vida em comunidade
A LTE gravita em torno do seu art. 2.º que estabelece a finalidades das
medidas tutelares educativas. É com especial incidência nas medidas de internamento
18
em CE que se tenta alcançar a “educação do menor para o direito e a sua inserção, de
forma digna e responsável, na vida em comunidade”.
No CEPAO pretende-se dotar os menores de uma profissão, que mais tarde
lhes seja útil. Existem três cursos de formação em funcionamento: Jardinagem e
Espaços Verdes; Mercenaria e Instalação e Operação de Sistemas Informáticos. Estes
cursos estão certificados pelo CPJ – Centro Protocolar de Formação Profissional para
o Setor da Justiça, instituição que atribui um bolsa de formação a cada educando e um
certificado no final de cada curso31.
No PIE estão previstos mais dois cursos mas, devido à falta de docentes e de
infra-estruturas físicas não são ministrados. Referimo-nos a Pintura de Construção
Civil e Pré-Impressão32.
Um dos educandos, que frequenta Jardinagem e Espaços Verdes diz-me que finalmente vai mudar de curso. Desabafa comigo dizendo que “aqui somos colocados onde há vagas, não nos perguntam nada e eu não gosto daquilo”. Dias mais tarde encontro-o na sala de multimédia. Está a organizar fotografias que lhe enviaram, no único computador ali existente. Pede a minha opinião sobre aquilo que está a fazer em powerpoint e se o posso ajudar. Acedo e fico mais de uma hora na conversa com ele, enquanto me vai apresentando as pessoas nas fotos: a sua namorada, a irmã, os pais, os amigos. Não recebe visitas no CE devido à distância geográfica que o separa da família, pois é natural de S. Miguel – Açores e há mais de um ano que não os vê. A medida tutelar educativa deste menor termina apenas em 201133.
31 Os cursos EFA – Educação e Formação para Adultos, possuem duas componentes formativas. Uma de caráter tecnológico de formação (parte prática) e outra de base escolar. Assim, a frequência, com aproveitamento, de um curso de educação e formação para adultos, de dupla certificação, confere um certificado do 3.º ciclo do ensino básico e o nível 2 de formação profissional, ou, um certificado do ensino secundário e o nível 3 de formação profissional. No caso dos cursos EFA de habilitação escolar, são atribuídos os certificados do 1.º, 2.º ou 3.º ciclos do ensino básico, sendo que a sua conclusão confere ainda a atribuição de um diploma do ensino básico, para os cursos de nível B3 e o diploma do ensino secundário, quando se tratam de cursos EFA de nível secundário. A frequência destes cursos garante, igualmente, no quadro do reconhecimento e validação de competências, a atribuição de um certificado de qualificações, para os casos que não permitam a obtenção dos certificados, ou diplomas, referidos. Quando concluídos o Curso de Jardinagem e Espaços Verdes e o Curso de Marcenaria equivalem ao 2.º ciclo escolar (5.º e 6.º ano) e o Curso de Instalação e Operação de Sistemas Informáticos equivale ao 3.º ciclo. O problema que aqui se coloca é que quando um menor acaba uma medida tutelar de internamento em regime fechado, mas não concluiu uma certificação EFA jamais a vai terminar no exterior porque aí não há qualquer obrigação para a frequência do mesmo. Ou pode dar-se o caso de um educando concluir a componente tecnológica, mas nunca concluir a base escolar. 32 A título de mera curiosidade refira-se que foi no CEPAO, no decurso do ano de 1955, que foi composta e impressa nas oficinas gráficas, do então Reformatório, o primeiro número da recentemente extinta Revista Infância e Juventude. 33 Diferentemente do que se aplica no sistema penal de adultos, em que havendo condenações por diversos crimes se poderá efectuar a unificação da pena, através da figura do cúmulo jurídico, na LTE tal não existe. Um menor pode entrar num CE para cumprir uma medida tutelar de 2 anos e se vier posteriormente a ser condenado em outra medida, cumpre-as sucessivamente. Daí que existam aqui menores ali se encontram a cumprir medidas após os 16 anos, alguns com 19 anos. Certo é que quando
19
Noto que as dificuldades para mexer no computador são enormes, mas o que mais me chama a atenção é verificar que ele mal sabe ler e escrever. Este mesmo facto é-me transmitido, nessa mesma tarde, pelo monitor de serviço da RF2. (Notas de Terreno, 17/05/2009).
Por razões profissionais foi-me impossível assistir, durante a semana, às
actividades escolares. Das várias vezes que me desloquei ao CEPAO, só uma delas
foi durante a semana e andavam os educandos na preparação da festa anual, por
ocasião de mais um aniversário daquele CE – 31 de Maio.
Ainda assim todos os momentos são propícios à avaliação dos educandos. Há
pequenos gestos que me surpreenderam e que são tidos em conta para a avaliação bi-
diária dos menores. A simples entrada numa sala, na Fase 1 – Acolhimento – é
precedida do respectivo pedido de autorização ao monitor, bem como o seu
abandono.
Para a avaliação, efectuada segundo uma escala de 1 a 534, são tidos em conta
todos os comportamentos dos educandos, quer positivos, quer negativos, que são
vertidos num mapa geral de cada UR e posteriormente na folha individual de cada
educando, duas vezes ao dia. Estes períodos de avaliação coincidem com a mudança
do turno dos monitores, ou seja, às 15H00 e às 23H0035.
Após terem sido lançadas as notas, as respectivas folhas são encaminhadas
para o sector administrativo que se encarrega de proceder à elaboração da sua média
semanal. Mas esta média é ponderada, sendo que para a obtenção da nota final
contribuem 80% das notações obtidas na avaliação técnica e 20% corresponde às
notas de base escolar e interacção com os colegas, adultos e cumprimento de algumas
tarefas individuais.
Os educandos que obtenham média igual ou superior a 4 obtêm mais regalias,
tais como um telefonema extra, poderem frequentar a sala de multimédia aos fins-de-
semana, entre outras. Se a nota obtida for igual a 3 o educando dispõe das atividades
tiverem 21 anos, ainda que não tenham cumprido todas as medidas tutelares serão colocados obrigatoriamente em liberdade (art. 5.º da LTE). 34 Esta escala varia de Centro Educativo para Centro Educativo, em virtude de não existir até ao momento um RI aplicável a todos os CE. TÂNIA ALMEIDA, em Internamento de menores delinquentes em regime fechado em centro educativo: uma discussão, FDUL, inédito, 2007, reportando-se ao Centro Educativo dos Olivais – Coimbra, esclarece que a avaliação é feita por cores, representando a vermelha uma notação negativa, a amarelo uma avaliação suficiente e a verde uma boa avaliação. Cf. para mais desenvolvimentos pp. 8 e 9 do referido relatório. 35 Quando se iniciou este trabalho de campo os turnos dos monitores faziam-se entre as 08H00–16H00, 16H00–24H00 e 00H00–08H00. Em finais de Abril tomou posse o novo director do CEPAO, Dr. João Quintães, que procedeu a algumas alterações, emanadas superiormente, passando os turnos, com as mesmas 8 horas diárias, mas com entradas às 07H00, 15H00 e 23H00.
20
normais programadas, já se a mesma for inferior a 2 os educandos ficam sem poder
frequentar as actividades físicas no exterior da UR e de usufruir da sala multimédia
aos fins de semana36.
A simples atribuição de uma nota com valor 1 é motivo suficiente para que
seja efectuada uma Participação e instaurado um procedimento disciplinar37.
O educando com a melhor média mensal é designado “educando do mês”
sendo-lhe atribuído um diploma que é afixado na Unidade Residencial (UR).
“O prémio simbólico não é atribuído pelo facto dos educandos poderem apenas comportarem-se bem por razões materiais e não é esse o espírito da atribuição” – diz-me um dos monitores de serviço na RF2. Fico sem saber qual será então a finalidade de estar previsto, tanto na LTE (art. 177.º), como no RI do CEPAO a atribuição de prémios de desempenho e em que moldes se poderá incentivar os menores a terem um comportamento excelente. (Notas de Terreno, 14/03/2009)
O que ficou dito anteriormente aplica-se à RF1 e RF2, sem qualquer distinção.
Mas então o que destrinça as duas unidades de regime fechado?
A RF1, que também recebe os educandos aquando do seu acolhimento [e que
poderemos denominar por pré-Fase 1] compreende a Fase 1 – Integração e a Fase 2 –
Aquisição. Já na RF2 existem as Fase 3 – Consolidação e Fase 4 – Autonomia.
Um educando poderá não passar por todos estas fase aquando do cumprimento
da sua medida tutelar, porque pode não preencher os pressupostos de progressão ou
verificar-se alguma regressão, uma vez que têm que atingir os objectivos
correspondentes a cada fase em face dos objetivos estabelecidos no seu PEP. 36 A sala multimédia para alem de um computador de secretária dispõe de uma playstation (a qual os menores se queixam que têm poucos jogos, “são sempre os mesmos” – referem, e de uma aparelhagem com leitor de CD. 37 O RI do CEPAO prevê um capítulo dedicado ao Sistema de Avaliação e Critérios de Atribuição de Prémios, que passamos a citar uma parte: “ - O comportamento individual e diário dos educandos é avaliado bi-diariamente e registado em impresso próprio, cujas regras e objectivos específicos constam do Projecto de Intervenção Educativa do Centro; - A classificação atribuída a cada uma das áreas utiliza parâmetros de 1 a 5, de acordo com o seguinte critério: - Objetivo não alcançado com recurso através de comportamento grave ou muito grave; - Objetivo não alcançado com recusa leve; - Objetivo alcançado após recusa leve; - Objetivo alcançado, mas com recurso a ajuda; e - Objetivo alcançado espontaneamente. - (...) - Da notação conseguida pelo educando deverá o técnico tutor efectuar registo com vista à sua utilização como um dos suportes objectivos de construção e avaliação do PEP. - No final de cada mês é feita a média da avaliação diária e encontrado o educando do mês sendo-lhe atribuído um diploma que lhe é fixado na respectiva unidade, podendo ser-lhe atribuído um prémio simbólico.
21
Numa situação normal, sem medidas de contenção e/ou regressões, a
passagem para as fases seguintes depende da duração da medida de internamento,
conforme podemos observar no quando a seguir indicado.
Quadro 3 – Fases de progressão/regressão
À medida que o educando vai progredindo nas fases adquire mais benefícios,
tais como: aumento da semanada (“dinheiro de bolso”), possibilidade de efetuar
compras de pizzas ou hambúrgueres aos fins-de-semana (serviço de entregas ao
domicílio), horário de deitar mais tarde, efetuar mais telefonemas ou, por exemplo,
receber visitas extraordinárias. Note-se que na Fase 4 o educando tem mais
privilégios, porquanto é esta a fase de transição entre o CE e a vida em sociedade, ao
ponto de poder ser responsável por planificar uma atividade ou ser responsável pela
área de manutenção.
O monitor que me vai explicando as fases de progressão dos educandos diz-me que antigamente existia uma casa de autonomia. Tratava-se de uma casa autónoma, separada da Unidade Residencial (UR), na qual estavam dois a três educandos em fase final de cumprimento de medida e a diretora do CE. Aqui os menores tinham a responsabilidade de zelarem pela casa, desde a higiene à comida. Acabando a medida tutelar poderiam manter-se na mesma, por um período máximo de 6 meses, até conseguirem arranjar emprego. Eram mais responsáveis que hoje. Quando questiono a Dr.ª Sandra sobre a transição desta fase 4 para a vida no exterior, refere-me que muitas vezes a transição ocorre para uma revisão da medida cautelar, ou seja, os menores podem ser posteriormente transferidos para um CE que tenha um regime aberto ou semiaberto.38 (Notas de Terreno, 14/03/2009).
A progressão de fase e/ou a regressão ocorrem por decisão do Diretor do
CEPAO, sob proposta escrita do TSRS – Tutor e uma vez ouvido o Conselho
38 Uma vez mais, por não existir um RI comum a todos os CE, notam-se algumas diferenças de CE para CE. A este respeito cfr. TÂNIA ALMEIDA, Internamento de menores delinquentes em regime fechado..., p. 8 “A fase 4, é a fase de reinserção sócio-familiar, representa a fase de saída, dura o último ¼ da medida. É caracterizada pela atribuição de uma maior autonomia na unidade e nesta fase prepara-se o regresso do menor ao meio familiar e social de origem. Existe a possibilidade de concessão de licença de gozo de fim-de-semana e de datas festivas em casa.”
Fase 1
(meses)
Fase 2
(meses)
Fase 3
(meses)
Fase 4
(meses)
3 meses 1/3 da restante
medida
1/3 da restante
medida
1/3 da restante
medida
22
Pedagógico. A proposta é fundamentada em critérios (de avaliação) definidos com
base na avaliação diária do desempenho do comportamento do educando e dos
objectivos da fase em que se encontra39.
Por outro lado, os retrocessos de fase dão-se para a fase de regressão ou para a
fase de reflexão/suspensão, sob proposta escrita do Técnico – Tutor e uma vez ouvido
o Conselho Pedagógico.
Quando o educando transita para a fase de reflexão/suspensão mantém-se na
mesma Unidade Residencial. No final, retorna à fase onde se encontrava
anteriormente. A permanência em ambas as fases, regressão e reflexão (suspensão) é
avaliada quinzenalmente.
Na hora das atividades lúdicas ao ar livre (desporto) todo os educando se equipam e se preparam para sair, dois a dois, acompanhados de um monitor e de um segurança para o campo de jogos. Um dos educandos encontra-se suspenso destas actividades. Dias antes tinha tentado saltar uma das vedações do CE. Fica sozinho na sala de convívio/televisão. O monitor ordena-lhe que desligue a televisão por estar de castigo. O menor protesta e não obedece à primeira vez. Depois, e a muito custo, desliga a televisão e o monitor recolhe o comando da mesma. Sozinho entre quatro paredes vagueia pela sala. Pergunto-lhe o que fez para estar de castigo. Num português, com sotaque italiano, e quase a chorar diz-me que tentou subir o muro, mas estava apenas a brincar, não queria fugir. O monitor sai da UR e eu acompanho-o. O referido educando passa uma hora sozinho, sem nada para fazer ou com que se possa distrair. Esta situação é um sinal claro que na fase de reflexão o educando deve ser deixado consigo mesmo. Talvez assim ele interiorize os seus atos praticados e não volte a cair no mesmo erro. (Notas de Terreno, 21/03/2009)
O educando que regrida (fase de regressão) passa automaticamente para a
Fase 1 e serão ponderados pelo Conselho Pedagógico os períodos de progressão, em
função da matriz que estabelece o tempo médio previsto para cada uma das fases.
4.4. - (In)Sucesso e cultura organizacional do CEPAO
A cultura organizacional é o conjunto de hábitos estabelecidos através de
normas, valores, atitudes e expectativas compartilhados por todos os membros de
uma organização, no presente caso no CEPAO. Por outras palavras podemos dizer
que a cultura organizacional representa as normas informais e não escritas que
39 Vide Anexo C – exemplo de uma check list de avaliação da Fase 1.
23
orientam o comportamento dos membros do CEPAO no dia-a-dia e que direcionam as
suas ações para o alcance dos objetivos organizacionais.
“A questão essencial que a todos os técnicos e responsáveis por internatos se
coloca é: ‘como estruturar o funcionamento do internato para cumprir aquele
objectivo?’”, interroga-se JOÃO CÓIAS40, reportando-se aos desafios à aprendizagem e
à mudança no estilo de vida da criança e jovem institucionalizado.
Nos cerca de seis meses que decorreu o nosso trabalho de campo verificámos
que efectivamente o CEPAO possui excelentes técnicos e monitores que se esforçam
para alcançar os objetivos propostos. Esses objetivos são mais merecedores de louvor
de serem revelados quando se verifica que dos 20 TPRS apenas foi possível contar
com 15, o que engloba um enorme esforço e dedicação destes monitores em
cumprirem turnos e horas para além do seu horário normal.41
As obras que foram realizadas nos quartos dos educandos contribuíram
também para um melhor bem-estar dos mesmos e para a eliminação de perigos
eminentes, existindo sempre os já mencionados marcadores defensivos: eliminação de
objetos móveis e de potencial uso perigoso, etc.
Tanto os TPRS como os TSRS tentam encontrar no dia-a-dia motivação para
um bom desempenho das funções que lhes estão destinadas.
No campo de jogos os 11 menores da RF2 dividiam-se em duas equipas e disputavam um jogo de futebol. No exterior, para além do segurança, encontrava-se um dos monitores, que há 20 anos desempenha funções naquele CE, que me diz, em tom desolador, “destes 11 só 4, no máximo, não voltam a cair nas teias da justiça. Para os outros já nada há a fazer”. (Notas de Terreno, 11/04/2009)
Mas a existência da já abordada cultura organizacional deste CE não se revela
apenas no comportamento dos funcionários do CEPAO. Ela vai muito para além
destes e toca a todos os educandos. Só assim se poderá aferir o sucesso da missão de
um CE na educação dos menores institucionalizados. Efetivamente não existem 40 JOÃO CÓIAS, Princípios de intervenção educativa em meio residencial: a vida em instituição como um desafio à mudança, Revista Infância e Juventude, n.º 2 (Abril – Junho), 2001, p. 70. 41 Tal referência é apontada no Relatório de Atividades de 2008 da DGRS, quando se refere ao CEPAO “O presente ano [2008] caracterizou-se, na área educativa, por um esforço muito elevado ao nível da gestão da escala de serviço dos TPRS’s, dado o deficit de efectivos ao serviço: dos 20 elementos necessários, o centro contou apenas com 16, sendo que das faltas decorrentes por baixa por maternidade por parte de duas TPRS’s a gestão teve que ser feita ao longo de todo o ano todo com apenas 15. Conforme se foi registando nas várias informações remetidas superiormente, o desgaste na equipa foi enorme, dado o volume de interrupções de folga, trabalho extraordinário e impossibilidade de concessão de compensações decorrentes das necessidades do serviço.”, acessível on-line em http://www.reinsercaosocial.mj.pt/ [acedido em 5 de Agosto de 2009].
24
estudos que revelem esta nossa afirmação, porquanto continua a tratar-se de um meio
bastante fechado e inacessível à este tipo de estudos.
Como já referimos anteriormente, para além da exigência, de pedir licença
para entrar ou sair de uma sala, há outras regras, que não constam do RI ou do PIE
que são aplicadas e estão enraizadas nos hábitos dos educandos, tais como a forma
ordeira de entrar na sala de refeições e a disposição de se sentarem em lugares pré-
definidos.
Na hora das refeições os menores, por ordem de antiguidade, em cada UR, efectuam uma fila indiana e aguardam que o monitor dê ordens para entrar na sala de refeições. Assisto na RF2 à hora do lanche. Os menores aguardam a ordem de entrada no refeitório, mas como há 2 ou 3 que não param de brincar entre eles, entre toques e empurrões, o monitor aguarda serenamente, pois já por duas ou três vezes os chamou à atenção. O mais antigo e primeiro na fila chama à atenção dos que estão na brincadeira. Por fim lá se contêm e entram, aguardando serenamente que lhes seja dada ordem para se sentarem. No refeitório há lugares marcados e o monitor toma as refeições ao mesmo tempo com os educandos. (Notas de Terreno, 17/05/2009)
As refeições são servidas por uma empresa que presta este tipo de serviços. A
comida chega em cuvettes, o que não permite que os educandos possam repetir a
refeição. Contudo, nas horas das refeições, os educandos podem aceder a uma
pequena dispensa onde cada um tem um espaço para guardar alguns artigos que lhes
são levados pelos familiares nas visitas de fim-de-semana. São eles que gerem os seus
bens alimentícios e se os gastarem num dia, durante a semana ficam sem nada.
Já as visitas apenas podem levar certos e determinados artigos que estão
autorizados para entrega aos educandos. Desta lista constam: a) cereais (até 500 g); b)
2 pacotes de bolachas ou 2 pacotes de bolos sortidos (sem creme) ou 1 bolo
embalado; c)1 pacote de sumo, em embalagens de plástico ou para fazer (até 2 litros);
d) tablete de chocolate (até 500 g) e; e) 1 pacote de batatas fritas ou 1 pacote de
pipocas (confeccionadas ou em micro-ondas).
Estes artigos são semanais, independentemente dos familiares efetuarem a
visita ao sábado ou ao domingo e cada familiar só pode trazer artigos para o(s) seu(s)
educando(s). Todos os restantes artigos que não constem desta lista são proibidos de
entrar no CE.
Compete ao TSRS, que se encontra escalado de serviço aos fins-de-semana,
apontar, em impresso próprio, os artigos que recebeu cada educando.
25
Antes de os educandos terem acesso a estes artigos é efectuada uma minuciosa
revista, por forma a detetar que, entre os mesmos não se encontrem objectos que
possam colocar em perigo os educandos ou os agentes educativos.
Também após cada visita, realizada na antecâmara da RF1 ou RF2 o educando
é sujeito a uma revista pessoal. Uma vez mais, estamos na presença de marcadores
defensivos, zelando-se pela integridade física dos menores e dos monitores, para que
não entrem objectos estranhos (navalhas, tesouras, cigarros, droga, etc) para o interior
da UR.
5. CONTRIBUTO PARA A ANÁLISE DA TRAJECTÓRIA DELINQUENTE DO
EDUCANDO
Na recente obra publicada42 os Juízes de Direito HELENA BOLIEIRO e PAULO
GUERRA elencam algumas razões que levam a que o menor possa vir a delinquir.
Referem estes autores, entre outras situações, que as condições desfavoráveis
do meio onde vive o menor, perante uma situação familiar de conflito, as reações
emotivas, de impulsividade ou de instabilidade serão mais inquietantes do que as de
uma criança cujo psiquismo seja estável. A incitação ao consumo – sob as formas
mais variadas, o facto de os jovens não serem ajudados a construírem uma ética, bem
como (e) a afirmação pessoal perante o grupo, são outros dos fatores apontados para
que o menor possa entrar no mundo da delinquência.
Afirmam, nesta identificação de fatores de risco para a delinquência juvenil,
que “são crianças entregues a si próprias que revelam uma dupla carência parental, a
família não exerce uma ação preventiva de controlo nem uma ação construtiva de
educação (fraqueza parental da sua autoridade, são impotentes em conciliar a ternura
e a firmeza). A criança é o centro do mundo e da família, explora tal fraqueza parental
utilizando processos de chantagem, tentando obter de um o que o outro recusa”.
42 HELENA BOLIEIRO E PAULO GUERRA, A Criança e a Família – uma Questão de Direito(s), Coimbra Editora, Maio de 2009, pp. 123 a 133. Estes factores, ora referidos por estes autores, encontram-se espelhados na comunicação efetuada ao Plenário da Conferência da União Europeia “Rumo a uma Estratégia de Prevenção da Criminalidade Baseada no Conhecimento”, Suécia 2001, por JOÃO FIGUEIREDO, publicado na Revista Infância e Juventude, n.º 2 (Abril – Junho), Lisboa, 2001 e em CARLOS CASIMIRO NUNES, O jovem delinquente na Lei Tutelar Educativa, em Polícia e Justiça, Revista do Instituto Superior de Policia Judiciária e Ciências Criminais, , III série, n.º 8 (Julho-Dezembro), Coimbra Editora, 2006
26
Também a nível internacional43 estes fatores são apontados como potenciais
indicadores para a prática da delinquência por menores, acrescentando, entre outros, o
precoce abandono escolar, a não participação em programas educacionais especiais e
o alcoolismo, por exemplo. Podemos afirmar que também estes últimos fatores estão,
entre nós, associados aos menores que praticam actos delinquentes.
Existem estudos estatísticos44 respeitantes a menores a cumprir medida tutelar
de internamento referentes a estes factores que potenciam a delinquência. Não nos
iremos debruçar sobre a totalidade dos jovens institucionalizados em CE, mas tão-
somente sobre os menores presentes no CEPAO ao tempo do nosso trabalho de
campo.
Como ficou dito, supra, tendo o CEPAO a lotação máxima para 20 educandos,
encontravam-se mais dois para além desta capacidade. Estavam distribuídos 11
educados por cada UR.
As idades dos menores encontram-se compreendidas no intervalo entre os 14 e
os 19 anos, predominando a faixa etária entre os 15 e dos 17 anos, conforme gráfico
que a seguir se apresenta.
Gráfico 1 – Idades dos Educandos no CEPAO (dados recolhidos em 21/04/2009)
43 Entre algumas obras de relevo internacional destacamos: ANGELA NEUSTATTER, Locked in Locked Out – The experience of young offenders out of society and in prison, Calouste Gulbenkian Foundation, London, 2002, pp. 16 – 38; MARTIN STEPHENSON, Young People and Offendig – Education, youth justice and social inclusion, Willan Publishing, 2007, pp. 63 – 146 e AA VV, Juvenile Delinquency - Prevention, assessment, and intervention, Oxford University Press, 2005, pp. 111 a 133 44 Entre as estatísticas da Direcção Geral de Reinserção Social, disponibilizadas on-line em http://www.reinsercaosocial.mj.pt/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1001.13 [acedido em 6 de Agosto de 2009], vejam-se os estudos publicados, entre outros, por JOANA MARTELEIRA, Jovens à margem... e Estudos de caracterização do perfil dos educandos internados nos centros educativos do Ministério da Justiça a 30 de Junho de 2005, bem como os estudos de MARIA JOÃO LEOTE DE CARVALHO, Um olhar sobre dois anos de aplicação e execução da Lei Tutelar Educativa no Centro Educativo Padre António de Oliveira.
Total de Educandos
0
1
2
3
4
5
6
7
14 15 16 17 18 19 Idades
27
Relativamente ao seu local de residência verificamos que a grande maioria (16
educandos) pertence à zona metropolitana de Lisboa e os restantes (6 educandos) são
de áreas geográficas tão diversas como: Açores (2), Madeira, Mangualde e S. João da
Madeira. Verifica-se que existem apenas cinco educandos estrangeiros, dois
Angolanos, dois Cabo-verdianos e um Croata.
Para um melhor entendimento veja-se o quadro que se segue, que se reporta
ao local de nascimento dos educandos.
Portugal
Amadora-1
Angra do Heroísmo -1
Cascais 1
Castro de Aire 1
Funchal-1
Lisboa – 8
Mangualde-1
Ponta Delgada -1
Porto-1
Sintra-1
Estrangeiro
Angola – 2, com pais
Angolanos
Cabo Verde – 2, com pais
cabo-verdianos.
Croata - 1
Quadro 4 – Local de nascimento dos Educandos (dados recolhidos a 21/04/2009)
A estrutura familiar é, de uma maneira geral, apontada por todos os
especialistas em delinquência juvenil, como um ponto fulcral na propensão para a
delinquência dos menores. Indagámos sobre a estruturação da família destes menores
e sobre o tipo de intervenção dos pais perante os factos praticados pelos filhos e quais
as práticas de atuação dos mesmos nos seus atos delinquentes. Não foi com surpresa
que verificámos o resultado dos dados fornecidos pelo CEPAO. Tratam-se de jovens
provenientes de famílias desestruturadas, i.e. sócio-culturalmente desfavorecidas ou
com diferentes problemas de índole social, em grande parte monoparental. Os dois
educandos que se encontravam noutro CE foram transferidos para o CEPAO por
questões relacionadas com os seus comportamentos nos CE anteriores.
28
Quadro 5 – Constituição do agregado familiar e modo de actuação do menor,
aquando da entrada deste no CEPAO. (dados recolhidos a 21/04/2009)
Os tribunais que aplicaram as medidas tutelares de internamento foram os
Tribunais de Família e Menores (TFM), ou quando estes não existam na referida
comarca os Tribunais de competência genérica, da comarca de residência dos
educandos. O menor de nacionalidade estrangeira foi condenado pelo TFM da
Comarca do Seixal, área onde atuou e detido em flagrante delito, por não existir
indicação de morada permanente.
A justificação dada por alguns menores para o facto de actuarem em grupo
revela o reverso da medalha da estrutura familiar e das companhias que partilhavam.
Alguns referiram que não tinham nada para fazer e era divertido conseguir arranjar
objetos que nunca poderiam ter. Outros falaram da adrenalina e do “gozo” que
sentiam ao praticar tais factos e existiu ainda um educando que disse frontalmente “se
todos roubam porque é que eu não podia roubar também?”. Aqui se denota a falta de
construção de uma ética, de que falávamos no início deste capítulo.
Estes elementos permitiram-nos proceder à quantificação dos factos
praticados pelos menores. Por razões de metodologia preterimos a individualização e
agrupámos todos os tipos de crime praticados por todos os educandos
institucionalizados no CEPAO à data do nosso estudo. Há menores relativamente aos
quais a aplicação da medida tutelar de internamento resultou da condenação não
apenas de um facto, mas de vários factos qualificados na lei penal como crime.
Agregado Familiar à data
de entrada no CEPAO
Avó materna - 4
Com os pais - 2
Institucionalizado: 2
Rua-1
Só mãe – 11
Só pai - 1
Tio paterno – 2
Actuação do menor, que
levou à medida tutelar
educativa
Em grupo – 20
Individualmente – 2
29
Dos crimes contras as pessoas
Abuso sexual de crianças – 2
Ameaças – 4
Coação – 2
Homicídio qualificado na forma tentada – 1
Introdução em local vedado ao público – 1
Ofensa à integridade física qualificada – 3
Ofensa à integridade simples – 1
Violação – 1
Violação na forma tentada – 3
Violência doméstica – 2
Dos crimes contra a propriedade
Dano – 3
Dano qualificado – 1
Furto – 2
Furto e uso de veículo – 3
Furto qualificado – 16
Furto qualificado na forma tentada – 1
Furto simples – 15
Roubo – 18
Roubo agravado – 9
Roubo na forma tentada – 8
Roubo qualificado – 7
Roubo simples – 3
Dos crimes de falsificação Passagem de moeda falsa – 2
Dos crimes contra a segurança
das comunicações
Condução perigosa – 3
Condução sem habilitação legal – 18
Lançamento de projéctil contra veiculo – 1
Dos crimes contra a realização da justiça
Favorecimento pessoal – 1
Outros crimes Porte de arma proibida – 1
Quadro 6 – Tipos de factos qualificados pela lei penal como crimes e número
de vezes que foram praticados pelos 22 educandos actualmente institucionalizados no
CEPAO (dados recolhidos a 21/04/2009).
Do quadro supra apura-se que a maioria dos factos cometidos pelos menores
dizem respeito a crimes contra a propriedade. A explicação é fácil de justificar, uma
vez que actualmente se vive, cada vez mais, numa sociedade onde o consumo impera
e a crise também é consequência e impulso de motivação. A necessidade dos menores
se afirmarem junto dos seus pares com objectos de marca e de “último grito” leva-os
a praticar maioritariamente aquele tipo de factos. De salientar que cada vez mais há
30
menores a praticar crimes violentos, como se constata pela superioridade do número
de roubos em relação ao furto, ainda que qualificado45.
Mas na LTE não existem medidas de agravação da medida de internamento
consoante a quantidade de factos praticados pelo menor. Se um menor pratica um
crime de homicídio e outro menor pratica 2 homicídios, subsequentemente a uma
violação (com utilização de um maior grau de violência, por exemplo), poderão
ambos cumprir a medida de internamento máxima, ou seja, 3 anos.
Do que já foi dito anteriormente ressalta que a trajetória do menor delinquente
inicia-se quando o mesmo é “entregue a si próprio”, por no seu meio familiar não
existirem estruturas de controlo sobre os mesmos. A frequência da rua leva-o ao
contacto com jovens da sua idade ou mais velhos ainda, muitos destes em análogas
condições de vida. A ausência de controlo familiar e social faz com que os mesmos se
iniciem na delinquência. O processo de maturação implica uma desvinculação
progressiva dos laços familiares baseados na infância. A diminuição da influência da
família, numa fase em que os menores não adquiriram, ainda, as normas éticas de
convívio social, é compensada pela procura de relações alternativas e pela redefinição
do lugar do adolescente no círculo mais amplo das relações com os outros. O grupo
onde se inserem ou pretendem vir a ser aceites leva-os à prática de factos anti-sociais
e penalmente censuráveis. Um facto bem sucedido é motivo de orgulho e de troféu,
para além de aguçar o ensejo da prática de novos factos, seja pela adrenalina
experimentada, seja pelo simples prazer ou pelo lucro, que se adivinha fácil.
Interessante seria efetuar um acompanhamento destes menores após o
cumprimento da medida de internamento e daqui a 5 anos (duração máxima que dura
o processo individual do menor que foi institucionalizado no CE) analisar a sua
trajectória delinquente. Pretendia-se assim aferir se estes menores foram efetivamente
ressocializados ou se, por outro lado, a passagem por um CE nada influenciou a sua
educação para o Direito e para a vida em sociedade. Pese embora o esforço
empreendido não foi possível sequer encontrar algum estudo sobre esta problemática.
45 A este respeito vejam-se as notícias publicadas em diversos órgãos da comunicação social e disponíveis on line, por exemplo, em http://www.ionline.pt/conteudo/4019-o-bandido-13-anos-e-cara-anjo-que-aterrorizava-amadora, http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/Policia/Interior.aspx?content_id=1126054 e ainda em http://www.ionline.pt/conteudo/3868-sistema-seguranca-interna-quer-subsistema-penal-menores [acedidos em 7 de Agosto de 2009].
31
6. ALTERNATIVAS À INSTITUCIONALIZAÇÃO DE MENORES
Timidamente discutido na sociedade portuguesa é o tema sobre a criação de
um regime penal específico para a criminalidade praticada por menores. Não iremos
alongar-nos sobre este tema por não ser a sede própria de tal discussão.
Propomo-nos analisar algumas alternativas à institucionalização de menores
em CE. O fruto do nosso trabalho de campo exige-nos uma especial atenção a este
tema, em virtude das situações que fomos vivendo e sentindo no terreno. Não
defendemos a erradicação desta medida tutelar educativa, mas tão-somente que
existam outros moldes de cumprimento da mesma.
Questiona TÂNIA ALMEIDA46 se “será que o internamento de menores em
centro educativo é realmente eficaz?”, contudo a autora não nos apresenta uma
resposta concreta, nem medidas alternativas a este internamento.
No sentido de apresentar alternativas à institucionalização se encaminha a
Resolução do Parlamento Europeu, de 21 de Junho de 2007, sobre a delinquência
juvenil: o papel da mulher, da família e da sociedade (2007/2011(INI))47, a qual no
seu ponto 16 “Recomenda aos Estados-Membros que reforcem o papel e melhorem a
qualidade dos centros juvenis enquanto espaço de intercâmbio entre jovens e assinala
que a integração de jovens delinquentes nesses espaços contribuirá para a sua
socialização, reforçando neles o sentimento de fazerem parte da sociedade”. Alcança-
se também, no ponto 18, desta Resolução que “... no quadro do combate à
delinquência juvenil, que é importante desenvolver nos Estados-Membros medidas
que prevejam penas alternativas à privação da liberdade e de carácter pedagógico,
como a prestação de trabalho social, a reparação e intermediação com as vítimas e
cursos de formação profissional em função da gravidade do delito, da idade do
delinquente, da sua personalidade e da sua maturidade, a que os juízes nacionais
poderão amplamente recorrer”.
Anteriormente a serem criadas medidas alternativas à institucionalização
dever-se-ia trabalhar mais afincadamente na luta pela prevenção da delinquência
juvenil48. A criação de associações como aquela que existe num bairro problemático
46 Ob. cit, p. 17 47 Acessível on line para consulta no endereço http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:146E:0344:0353:PT:PDF (consultado em 8 de Agosto de 2009) 48 De salientar que a Lei n.º 38/2009, de 20 de Julho, que define os objectivos, prioridades e orientações de política criminal para o biénio de 2009/2011, estabelece no seu art. 1.º como objectivo
32
às portas de Lisboa ajudaria a incentivar os menores a não enveredarem pelos
caminhos do crime. Referimo-nos à Associação Cultural Moinho da Juventude, no
bairro Cova da Moura, que tem contribuído para a ocupação dos jovens e orientado os
mesmo para uma vida com valores ético-morais e incentivos aos prosseguimento dos
estudos.
A criação da figura de “animador social extra-escolar” ou de uma “figura de
referência modelo”, à semelhança do que já acontece em alguns países europeus, seria
igualmente uma mais-valia para a prevenção da delinquência juvenil, pois leva a que
estes jovens se identifiquem com este adulto. O objetivo seria criar, nos bairros mais
problemáticos e carenciados, infra-estruturas que captassem os jovens e servissem de
complemento à família onde estão inseridos. Uma maior responsabilização dos pais
também seria um valioso contributo para a prevenção da delinquência juvenil.
Existem estudos, realizados entre os anos 60 e meados dos anos 90, que
“mostram que os programas baseados na comunidade (e.g., supervisão intensiva, lares
de grupo, centros de apresentação de dia, regime de prova) eram mais eficazes do que
os programas correccionais na redução da reincidência e em melhorar a adaptação à
comunidade”49.
Como refere MARIA AMÉLIA VERA JARDIM50 “os indicadores existentes
permitem identificar alguns fenómenos e tendências criminosas que merecem uma
particular atenção, por serem susceptíveis de contribuir para o aumento de
sentimentos de insegurança, pelo que a sua repressão eficaz e atempada é essencial
para reforçar a confiança dos cidadãos no sistema de justiça e nos valores do Estado
de Direito”.
A nível da institucionalização deveriam existir menos momentos de televisão
mormente aos fins-de-semana, [daí que muitos dos menores se queixem que ali nada
fazem] e mais incentivos às boas práticas de vida em sociedade, através da
visualização de filmes, jogos didácticos ou outras formas pedagógicas, a par de uma
maior interação com a comunidade exterior. Fomentar o gosto pela leitura e
incentivar os menores com alguns benefícios, ainda que de índole monetária, por
exemplo, [aumentando o pecúlio que os menores recebem mensalmente, mas gera, “prevenir, reprimir e reduzir a criminalidade, promovendo a defesa de bens jurídicos, a protecção das vítimas e a reintegração dos agentes do crime em sociedade”. Consultável em www.dre.pt. 49 AA. VV, Alternativas à detenção e institucionalização de segurança para jovens delinquentes, trad. de MANUELA BAPTISTA LOPES, publicado em Infância e Juventude, Revista do Instituto de Reinserção Social, n.º 2 (Abril- Junho), Lisboa, 2006, p. 139. 50 MARIA AMÉLIA VERA JARDIM, Notas imperfeitas sobre a delinquência infanto-juvenil, Revista do CEJ, n.º 11 – 1.º Semestre 2009, p. 194
33
depositado na conta bancária que possuem obrigatoriamente] seriam fatores que
poderiam levar a uma reapreciação da medida tutelar de internamento e,
eventualmente, a sua saída do CE, conforme o comportamento e adesão do menor.
Ao nível da LTE justificava-se, à semelhança do que tem vindo a ser aplicado
nos adultos, a inserção da vigilância electrónica. É certo que muitas vezes o problema
se encontra na falta da estruturação familiar, mas casuisticamente poderia ter
aplicação. Poderá questionar-se como se compatibilizava esta medida com a
frequência escolar, uma vez que se o menor ficaria o dia todo em casa. É certo que
não poderemos aplicar mutatis mutandis o mesmo regime a duas realidades tão
distintas, tais como a definição de um raio máximo que abrangesse o perímetro da
escola, por exemplo. Assim, os menores deveriam ter um controle mais apertado que
os pudesse localizar no tempo e no espaço (porque não a utilização de instrumentos
de GPS, de todo o modo o menor ao estar institucionalizado já vê contraídos alguns
dos seus direitos, liberdades e garantias constitucionalmente consagrados) e o
obrigasse a permanecer na sua residência em determinadas horas, nomeadamente à
noite e aos fins-de-semana. A par desta medida deveria haver um maior
empenhamento dos técnicos de reinserção social que trabalham junto destas
comunidades, nomeadamente em efectuar visitas domiciliárias não programadas para
se inteirarem do estado do menor e da sua família. Ainda nesta fase, para além das
actividades escolares deveria cumular-se a obrigatoriedade de frequência de acções de
formação cívica e estratégias de cooperação com as famílias.
Constata-se que efetivamente “os jovens, de uma maneira geral, (...) não
costumam receber descontos de tempo por bom comportamento, o que poderia
reduzir a duração do seu internamento”51 e que havendo alternativas à
institucionalização, para além de se reduzir a sobrelotação, diminuir custos de gestão
nos CE, ajudaria a “proteger os delinquentes do estigma da institucionalização, a
evitar a associação com jovens que têm histórias de delinquência de maior gravidade
e manter laços positivos entre o jovem e a sua família e a comunidade”52.
Por último, resta-nos acompanhar as ideias defendidas num documento de
reflexão, de 03/07/2009, da Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, onde é referido
que “[A] antecipação da educação para o direito própria da intervenção tutelar há-
de acompanhar a antecipação da idade com que os menores de 16 anos iniciam a
51 Idem, p.142 52 Ibidem, p. 139
34
actividade delituosa grave, sob pena de esta prosseguir e terminar, se não na prisão
preventiva nos primeiros anos de imputabilidade, num provável ingresso em
estabelecimento prisional como jovem adulto para o cumprimento de pesada pena de
prisão resultante de cúmulos jurídicos”53.
7. EM JEITO DE CONCLUSÃO
Traçar um caminho para apurar os fatores que levam os jovens, menores de 16
anos, à delinquência e verificar em que condições eram cumpridas as medidas de
internamento que, segundo a Lei, deverão contribuir para a educação do menor para o
Direito, foi o que nos propusemos fazer ao longo destas páginas.
Do trabalho de campo realizado no CEPAO não lográmos obter resultados
diferentes dos de outros estudos já publicados e alguns mencionados por nós. Restou-
nos compreender, aprender e sentir in loco como funciona o dia-a-dia destas crianças
institucionalizadas. Efectivamente, há uma abissal diferença entre aquilo que se
consegue transmitir num texto e as experiências sentidas no contacto com a realidade.
Ao nível institucional, as formas de atuação são regidas pela mesma batuta,
adaptando-se o andamento às condições peculiares que variam de instituição para
instituição. Com mais ou menos recursos disponíveis (ainda que os mesmos
abundem são sempre parcos) a tarefa dos CE, em educar os menores para o direito e
para a vida em sociedade, é fundamentalmente, fruto do árduo trabalho dos agentes
educativos. São estes que mais tempo convivem com os menores e lhes transmitem os
seus valores éticos e morais. Diferentes modelos de transmissão de conhecimentos,
realidades, experiências, valores, etc.
As histórias de vida dos menores não são muito diferentes entre si, embora
cada história seja pertença de cada educando e, portanto, sempre mais importante que
a história do seu colega. Comum, todavia, a todos os educandos são as condições
familiares em que estavam inseridos, maioritariamente as famílias eram de estrutura
monoparental. A falta desta estrutura basilar parece encontrar apoio nos grupos em
que os menores se inserem, sejam estes grupos da sua rua ou do seu bairro. Por outro
lado a crescente necessidade de afirmação/integração nestes grupos, aliada ao
consumismo da sociedade em que estão inseridos, leva-os a praticar factos danosos e
53 Disponível no site da PGDL, em http://www.pgdlisboa.pt/pgdl/docpgd/files/Documento%20ITE%20Julho%202009.pdf [acedido em 10 de Agosto de 2009].
35
severamente condenados pela sociedade. Mas ainda assim, a sensação de culpa não se
verifica nas atitudes praticadas pelos menores, em virtude da falta de transmissão de
valores éticos e morais pelos adultos seus responsáveis, em especial a
responsabilização parental.
Muito mais se espera para além do regime fechado, pois teremos sempre que
ter em conta o superior interesse do menor54. Urge criar, posteriormente à saída do
menor de um CE, estruturas que levem a um efectivo acompanhamento da sua
reinserção na vida em sociedade. De que serve retirar o menor do seu habitat natural,
encarcerando-o durante algum tempo, se posteriormente ele volta ao meio de onde
saiu? E neste regresso às suas origens ou local de residência leva consigo a marca
indelével que lhe enche o ego, pois pode impor-se como chefe de um clã por ter
cumprido uma medida de internamento.
As expectativas de recuperação de um menor para o direito e para a sua
inserção na vida em comunidade, não devem apenas ser focalizadas aquando do
internamento em regime fechado. A prová-lo estão as várias estatísticas, para além da
franca desilusão dos monitores, em como estes menores voltam a reincidir no mundo
da delinquência.
54 Art. 1.º da Convenção sobre os Direitos da Criança.
36
B I B L I O G R A F I A
AA, VV, Alternativas à detenção e institucionalização de segurança para jovens delinquentes, trad. de
MANUELA BAPTISTA LOPES, publicado em Infância e Juventude, Revista do Instituto de Reinserção
Social, n.º 2 (Abril- Junho), Lisboa, 2006, pp. 135-184.
AA, VV, Juvenile Delinquency - Prevention, assessment, and intervention, Oxford University Press,
2005 (Edited by KIRK HEILBRUM, NAOMI E. SEVIN GOLDSTEIN, AND RICHARD E. REDDING)
AA, VV, Os caminhos difíceis da “nova” Justiça Tutelar Educativa, Uma avaliação de dois anos de
aplicação da Lei Tutelar Educativa, Observatório Permanente da Justiça Portuguesa, Centro de
Estudos Sociais da Faculdade de Economia, Universidade de Coimbra, 2004, Coordenação de
CONCEIÇÃO GOMES, pp. 1-846, também disponível on-line em http://opj.ces.uc.pt/pdf/Tutelar.pdf
ALMEIDA, TÂNIA, Internamento de menores delinquentes em regime fechado em centro educativo,
inédito, Biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2006, pp. 1-30
BENAVENTE, RENATA, Delinquência Juvenil: da disfunção social à psicopatologia, em Análise
Psicológica, 2002, 4 (XX), pp. 637-645 e também disponível on-line em
http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/aps/v20n4/v20n4a08.pdf
BOLIEIRO, HELENA E GUERRA, PAULO, A Criança e a Família – uma Questão de Direito(s), Coimbra
Editora, Maio de 2009
CARVALHO, MARIA JOÃO LEOTE DE, Jovens, espaços, trajectórias e delinquências, Sociologia,
publicado em Problemas e Práticas, n.º 49, 2005, pp.71-93 e também disponível para consulta on-line
no endereço http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/spp/n49/n49a05.pdf
_____________, Um olhar sobre dois anos de aplicação e execução da Lei Tutelar Educativa,
publicado em Infância e Juventude, Revista do Instituto de Reinserção Social, n.º 3 (Julho-Setembro),
Lisboa, 2003, pp. 9-86.
_____________, Em torno do método bibliográfico: Um olhar sobre trajectórias de vida desviante,
Infância e Juventude, Revista do Instituto de Reinserção Social, n.º 2 (Abril-Junho), Lisboa, 2001, p.
110.
_____________, Um olhar sobre dois anos de aplicação e execução da Lei Tutelar Educativa no
Centro Educativo Padre António de Oliveira, Infância e Juventude, Revista do Instituto de Reinserção
Social, n.º 3 (Julho-Setembro), Lisboa, 2003.
37
CÓIAS, JOÃO, Princípios de intervenção educativa em meio residencial: a vida em instituição como um
desafio à mudança, Revista Infância e Juventude, n.º 2 (Abril – Junho), 2001
FERREIRA, PEDRO MOURA, Controlo e identidade: a não conformidade durante a adolescência.
Sociologia: Problemas e Práticas, n.º 33
FIGUEIREDO, JOÃO, Medidas para a prevenção da delinquência juvenil, publicado em Infância e
Juventude, Revista do Instituto de Reinserção Social, n.º 2 (Abril-Junho), Lisboa, 2001, pp. 19-24.
FONSECA, ANTÓNIO CARLOS DUARTE, Responsabilização dos menores pela prática de factos
qualificados como crimes: políticas actuais, publicado em Psicologia Forense, Coimbra, Almedina,
2006, pp. 355-386.
GOFFMAN, ERVING, Manicómios, Prisões e Conventos, Colecção Debates, São Paulo, Editora
Perspectiva
GONÇALVES, RUI ABRUNHOSA, Actas do Congresso – crimes, práticas e testemunhas (organizado por
Rui Abrunhosa Gonçalves), Departamento de Psicologia, Instituto de Educação e de Psicologia da
Universidade do Minho, 1999
JANKOWSKI, MARTIN SANCHEZ, Islands in the street. California, University of California Press, 1991.
JARDIM, MARIA AMÉLIA VERA, Notas imperfeitas sobre a delinquência infanto-juvenil, Revista do
CEJ, n.º 11 – 1.º Semestre 2009.
MARTELEIRA, JOANA, Jovens à margem: análise sociológica de um centro educativo, Infância e
Juventude, Revista do Instituto de Reinserção Social, n.º 1 (Janeiro-Março), Lisboa, 2005, pp. 91-108,
também disponível na Internet no endereço electrónico
http://www.ces.fe.uc.pt/lab2004/pdfs/JoanaMarteleira.pdf
_____________, Estudos de caracterização do perfil dos educandos internados nos centros educativos
do Ministério da Justiça a 30 de Junho de 2005, Infância e Juventude, Revista do Instituto de
Reinserção Social, n.º 2 (Abril-Junho), Lisboa, 2007.
MARTINS, ALCINA, Serviço Social e Investigação. Serviço social, Profissão & Identidade. Que
trajectórias?, Lisboa – São Paulo, Veras Editora
NEUSTATTER, ANGELA, Locked in Locked Out – The experience of young offenders out of society and
in prison, Calouste Gulbenkian Foundation, London, 2002
NEVES, TIAGO, Entre Educativo e Penitenciário – Etnografia de um centro de internamento de
menores delinquentes, Edições Afrontamento, 2008
38
_____________, A defesa institucional numa instituição total: o caso de um centro de internamento de
menores delinquentes, em Análise Social, Vol. XLII (185), 2007, pp. 1021-1039 e também disponível
on-line em http://www.scielo.oces.mctes.pt/pdf/aso/n185/n185a04.pdf
NUNES, CARLOS CASIMIRO, O jovem delinquente na Lei Tutelar Educativa, em Polícia e Justiça,
Revista do Instituto Superior de Policia Judiciária e Ciências Criminais, , III série, n.º 8 (Julho-
Dezembro), Coimbra Editora, 2006, pp. 315-376
PERES, ANA, Do risco à delinquência, Infância e Juventude, Revista do Instituto de Reinserção Social,
n.º 2 (Abril-Junho), Lisboa, 2006, pp. 115-134.
QUIVY, RAYMOND E CAMPENHOUDT, LUCVAN Manual de investigação em ciências sociais, 2.ª edição,
Lisboa, Edições Gradiva, 1998
RODRIGUES, ANABELA MIRANDA, Le droit dês mineurs au Portugal. Une réforme urgent, Revista de
Criminologie, n.º 32 (2), 1999.
RODRIGUES, ANABELA MIRANDA E FONSECA, ANTÓNIO CARLOS DUARTE, Comentário da Lei Tutelar
Educativa, Coimbra, Coimbra Editora, 2003, pp. 1-547
STEPHENSON, MARTIN, Young People and Offendig – Education, youth justice and social inclusion,
Willan Publishing, 2007