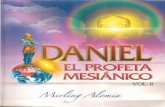DANIEL PERICLES ARRUDA.pdf
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of DANIEL PERICLES ARRUDA.pdf
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
(PUC-SP)
DANIEL PÉRICLES ARRUDA
ESPELHO DOS INVISÍVEIS: o RAP e a poesia no trabalho prático-reflexivo com
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação
em Belo Horizonte/MG
MESTRADO EM SERVIÇO SOCIAL
São Paulo
2012
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO
(PUC-SP)
DANIEL PÉRICLES ARRUDA
ESPELHO DOS INVISÍVEIS: o RAP e a poesia no trabalho prático-reflexivo com
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação
em Belo Horizonte/MG
Dissertação de mestrado apresentada à banca examinadora
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, como
exigência parcial para a obtenção do título de MESTRE
em Serviço Social, sob orientação da Professora Doutora
Myrian Veras Baptista.
São Paulo
2012
“O concreto é concreto porque é a síntese de muitas determinações, isto é, unidade do diverso.
Por isso o concreto aparece no pensamento como o processo da síntese,
como resultado, não como ponto de partida, ainda que seja o ponto de partida efetivo e,
portanto, o ponto de partida também da intuição e da representação.”
(MARX, 1978, p.116)
Dedico esta dissertação à minha amável família, que
sempre me apoia na dinâmica da vida simples, nas
batalhas da vida cotidiana, e que sempre acredita nos meus
sonhos, por mais difíceis e impossíveis que eles pareçam
ser: Elza, mãe, e Maurício Arruda, pai (in memoriam), e
minhas irmãs, Cristiana e Luciana.
AGRADECIMENTOS
A Deus, por existir concretamente em minha vida e por me dar ânimo e força todos os dias
para seguir firme na minha caminhada.
À Profa. Dra. Myrian Veras Baptista, minha orientadora, que me proporcionou discussões
importantes sobre a temática, por meio de sua sabedoria e da riquíssima capacidade de
compreensão e de leitura reflexiva, que possibilitaram várias descobertas no processo de
construção deste trabalho.
À Profa. Dra. Maria Lúcia Martinelli, pelas contribuições pertinentes no meu exame de
qualificação, pela sensibilidade e pela humildade em lidar com o saber e com as pessoas.
À Profa. Dra. Luciene Jimenez, pela disponibilidade e pelo interesse de ter participado do
meu exame de qualificação, com contribuições importantes.
Ao Prof. Jorge Enrique Mendoza Posada, pelo respeito e pelas influências na minha
militância.
À Profa. Dra. Iris Amâncio, pelo carinho e pelo incentivo nesta trajetória.
Aos sujeitos da pesquisa, por terem colaborado com os seus depoimentos.
Ao Programa Internacional de Bolsas de Pós-Graduação da Fundação Ford, pela concessão da
bolsa de estudos.
À equipe da Fundação Carlos Chagas, pelo acompanhamento realizado durante todo o
processo do mestrado.
Ao Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo (PUC-SP), pela acolhida e pela maneira respeitosa de lidar com os
alunos.
À Diretoria de Gestão da Informação e Pesquisa (DIP), da Subsecretaria de Atendimento às
Medidas Socioeducativas (Suase) da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais
(Seds), por permitirem a realização da pesquisa de campo.
Aos Programas de Graduação em Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de
Minas Gerais – Campus Contagem e Coração Eucarístico/BH – por terem contribuído no meu
processo de formação profissional e por sempre me receberem com respeito e carinho.
Ao Centro de Atendimento ao Adolescente (Cead) e ao Serviço de Apoio à Reintegração
Familiar (Sarf), pela confiança, compreensão e apoio, que colaboraram para o meu
amadurecimento profissional e organização para o início do mestrado.
A Giana Késia, Silvério Rodrigues, Nayana Souza, Cláudia Silva, Adalete Paxeco, Patrícia da
Silva Pinto, Sinval Guedes, Milene Garcia, Lucélia Ferreira, Leandra Baquião, Aracéli Vieira,
Leandro Moreira, Júnia Costa, Evandro Passos, Rozangela Leite, Denílson Tourinho,
Anderson Feliciano, Wanderley dos Santos, Fernanda Azevedo, Ricardo Vidal, Felipe
Augusto (Bobina), Lindomar Sebastião, Renato, Clair, Li, Nikka, Moyses (A 286), Lindomar
3L, PMC, DJ Erick 12, DJ ACoisa, Alessandro Buzo, King Nino Brown (Zulu Nation Brasil),
Nelson Triunfo (Casa do Hip Hop de Diadema/SP), Vespa e Alan. A cada um, por uma razão
especial direta e/ou indireta neste trabalho e/ou na minha trajetória de vida.
À cultura Hip Hop e à literatura marginal, por terem possibilitado encontros e reencontros
com vários rappers, poetas, poetizas, B. Boys, B. Girls, DJs, grafiteiros, organizadores de
eventos e pesquisadores da área do Hip Hop. E, também, por terem contribuído na minha
leitura de vida e de mundo.
RESUMO
ARRUDA, Daniel Péricles. Espelho dos invisíveis: o RAP e a poesia no trabalho prático-
reflexivo com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação em Belo
Horizonte/MG. Dissertação (Mestrado) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São
Paulo, 2012.
Esta dissertação teve por finalidade apreender a relação do adolescente em cumprimento de
medida socioeducativa de internação com as oficinas de RAP e de poesia, tendo em vista o
uso dessas artes como instrumento socioeducativo e como caminho para possibilitar a
comunicação, a reflexão e a efetivação dos objetivos da medida. Trata-se de uma análise ex-
post-facto sobre as oficinas de RAP e de poesia realizadas nos anos de 2007 a 2010 com
adolescentes que estavam em cumprimento de medida socioeducativa de internação, no
Centro de Atendimento ao Adolescente (Cead), uma das unidades que executa a medida a
adolescentes do sexo masculino, em Belo Horizonte/MG. Para a realização deste estudo foi de
suma importância a análise de todos os registros feitos no período de 2007 a 2010, como
filmagens, fotos, produção de letras de RAP e de poesias dos adolescentes, relatórios,
prontuários, anotações do diário de campo, etc. Foram entrevistados: um adolescente e dois
jovens adultos que participaram das oficinas quando adolescentes, com o objetivo de
apreender os resultados das oficinas, na perspectiva dos seus sujeitos; dois profissionais que
acompanharam essa prática de trabalho com os adolescentes; e um DJ, por ser uma das
referências mais antigas da cultura Hip Hop no estado de Minas Gerais. As entrevistas
realizadas com os profissionais tiveram por objetivo a apreensão dos significados que os
mesmos atribuíram à sua realização. E, a entrevista com o DJ, deu-se em razão dele poder
subsidiar a apreensão histórica da influência do Hip Hop na cidade e em sua relação com o
adolescente. O percurso analítico realizado demonstrou que as oficinas de RAP e de poesia
podem propiciar a apreensão e o trato de questões objetivas e subjetivas dos adolescentes,
relacionadas à sua vida e à medida socioeducativa de internação que estão vivenciando, com
maior aproximação de suas realidades.
Palavras-chave: Adolescente; Medidas socioeducativas; Violência; Invisibilidade; Hip Hop.
ABSTRACT
ARRUDA, Daniel Péricles. Mirror of invisible: the RAP and the poetry in the practical
reflexive work with teenagers in fulfillment of measurable social-education internment in
Belo Horizonte/MG. Dissertation (Master’s Degree) – Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, São Paulo, 2012.
This dissertation had the goal of apprehend the relation of the teenager in fulfillment of
measurable social-educational internment with of the RAP and of the poetry, in view of the
use of this art as a socio-educational tool and as a way to enable the communication, the
reflection and the realization of the objectives. It is an analysis ex-post-facto about the
realized RAP and poetry workshops in the years 2007 to 2010 with teenagers that were in
fulfillment of measurable social-educational internment Center of Adolescent Treatment
(Cead) – Centro de Atendimento ao Adolescente in Portuguese. This is one of the units that
execute the social-educational measure of internment to male teenagers at Belo
Horizonte/MG. For the realization of this study, was of big importance the analysis of all
registers that were made in the period of 2007 to 2010, and it was: footages, photos,
production of RAP lyrics and poetry lyrics of the teenagers, reports, records, annotations in
the field diary, etc. Were also interviewed a teenager and two young adults that, when
teenagers, participated in the workshops; two professionals that accompanied this practice of
work with the teenagers and one DJ for being one of the oldest references of the Hip Hop
Culture at Minas Gerais state. The realized interviews with a teenager and two young adults
aimed to apprehend the resulting of the workshops in the perspective of their subjects. The
realized interviews with the professionals have had as objective the apprehension of the
meanings that they attributed to its realization. And, the interview with the DJ, was in reason
of him subsidize the historical apprehension of the influence of the Hip Hop at the city and in
your relation with the teenager. The realized analytical course demonstrated that the RAP and
the poetry workshops can propitiate the apprehension and the tract of objective and subjective
questions of the teenagers, related to your lives and to the measurable social-educational of
internment that they are experiencing, with bigger approximation to their reality.
Keywords: Adolescent; Measurable social-education; Violence; Invisibility; Hip Hop.
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Local onde aconteceu a primeira oficina ......................................................... 45
Figura 2 – Mensagem de entrada da oficina ...................................................................... 47
Figura 3 – Adolescente participando da oficina ................................................................ 48
Figura 4 – Adolescente participando da oficina ................................................................ 48
Figura 5 – Adolescente participando da oficina ................................................................ 50
Figura 6 – Gráfico da evolução da privação e da restrição de liberdade no Brasil ........... 69
Figura 7 – King Nino Brown e Áfrika Bambaataa, na Casa do Hip Hop de Diadema/SP,
em 2003 .............................................................................................................................. 86
Figura 8 – DJ ACoisa, em plena performance .................................................................. 89
Figura 9 – DJ Erick 12, em seu estúdio ............................................................................. 89
Figura 10 – Rapper Moyses, do grupo A 286, durante show ............................................ 90
Figura 11 – B. Boy Alan, em plena performance .............................................................. 91
Figura 12 – Graffiti feito por Vespa, representando o rapper Sabotage, na Casa do Hip
Hop, em Diadema/SP ......................................................................................................... 92
Figura 13 – DJ ACoisa, no evento Hip Hop na Veia Pela Vida ........................................ 97
Figura 14 – Cartaz do Sarau Tarde Poética ....................................................................... 100
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 – Quadro de funcionários do Centro de Atendimento ao Adolescente (Cead) ......34
Tabela 2 – Modalidades de invisibilidade ............................................................................64
Tabela 3 – Distribuição percentual da idade dos adolescentes atendidos na medida
socioeducativa de internação, em 2010, na Subsecretaria de Atendimento às Medidas
Socioeducativas (Suase) ........................................................................................................70
Tabela 4 – Distribuição percentual do sexo dos adolescentes atendidos na medida
socioeducativa de internação, em 2010, na Subsecretaria de Atendimento às Medidas
Socioeducativas (Suase) ........................................................................................................70
Tabela 5 – Distribuição percentual da renda familiar (per capita) dos adolescentes
atendidos na medida socioeducativa de internação, em 2010, na Subsecretaria de
Atendimento às Medidas Socioeducativas (Suase) ...............................................................71
Tabela 6 – Distribuição percentual da situação profissional dos adolescentes atendidos na
medida socioeducativa de internação, em 2010, na Subsecretaria de Atendimento às
Medidas Socioeducativas (Suase) .........................................................................................71
Tabela 7 – Distribuição percentual da raça/cor autodeclarada dos adolescentes atendidos
na medida socioeducativa de internação, em 2010, na Subsecretaria de Atendimento às
Medidas Socioeducativas (Suase) .........................................................................................72
Tabela 8 – Distribuição percentual do estado civil dos adolescentes atendidos na medida
socioeducativa de internação, em 2010, na Subsecretaria de Atendimento às Medidas
Socioeducativas (Suase) ........................................................................................................73
Tabela 9 – Distribuição percentual da escolaridade dos adolescentes atendidos na medida
socioeducativa de internação, em 2010, na Subsecretaria de Atendimento às Medidas
Socioeducativas (Suase) ........................................................................................................73
Tabela 10 – Distribuição percentual do ato infracional cometido pelos adolescentes
atendidos na medida socioeducativa de internação, em 2010, na Subsecretaria de
Atendimento às Medidas Socioeducativas (Suase) ...............................................................74
Tabela 11 – Categorização dos atos infracionais praticados pelos adolescentes atendidos
na medida socioeducativa de internação, em 2010, na Subsecretaria de Atendimento às
Medidas Socioeducativas (Suase) .........................................................................................75
Tabela 12 – Distribuição percentual do uso autodeclarado de álcool dos adolescentes
atendidos na medida socioeducativa de internação, em 2010, na Subsecretaria de
Atendimento às Medidas Socioeducativas (Suase) ...............................................................76
Tabela 13 – Distribuição percentual do uso autodeclarado de tabaco dos adolescentes
atendidos na medida socioeducativa de internação, em 2010, na Subsecretaria de
Atendimento às Medidas Socioeducativas (Suase) ...............................................................77
Tabela 14 – Distribuição percentual do uso autodeclarado de maconha dos adolescentes
atendidos na medida socioeducativa de internação, em 2010, na Subsecretaria de
Atendimento às Medidas Socioeducativas (Suase) ...............................................................77
Tabela 15 – Distribuição percentual do uso autodeclarado de cocaína dos adolescentes
atendidos na medida socioeducativa de internação, em 2010, na Subsecretaria de
Atendimento às Medidas Socioeducativas (Suase) ...............................................................77
Tabela 16 – Distribuição percentual do uso autodeclarado de crack dos adolescentes
atendidos na medida socioeducativa de internação, em 2010, na Subsecretaria de
Atendimento às Medidas Socioeducativas (Suase) ...............................................................78
Tabela 17 – Distribuição percentual do uso autodeclarado de solvente dos adolescentes
atendidos na medida socioeducativa de internação, em 2010, na Subsecretaria de
Atendimento às Medidas Socioeducativas (Suase) ...............................................................78
Tabela 18 – Distribuição percentual do uso autodeclarado de psicofármacos dos
adolescentes atendidos na medida socioeducativa de internação, em 2010, na
Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas (Suase) ....................................79
Tabela 19 – Distribuição percentual do uso autodeclarado de drogas sintéticas dos
adolescentes atendidos na medida socioeducativa de internação, em 2010, na
Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas (Suase) ....................................79
Tabela 20 – Sistematização de todas as tabelas referentes à autodeclaração do uso de
alguma substância dos adolescentes atendidos na medida socioeducativa de internação,
em 2010, na Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas (Suase) ...............80
Tabela 21 – Descrição das principais oficinas de RAP e de poesia realizadas no Centro
de Atendimento ao Adolescente (Cead) ................................................................................99
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO ................................................................................................................. 14
Capítulo 1
O CONTEXTO DA AÇÃO QUE NORTEOU A PESQUISA ....................................... 19
1.1 A medida socioeducativa de internação .................................................................... 20
1.2 Histórico do Centro de Atendimento ao Adolescente (Cead) .................................. 29
1.3 O trabalho desenvolvido pelo Centro de Atendimento ao Adolescente (Cead) ..... 31
1.4 Reflexões acerca do cotidiano institucional ............................................................... 37
1.5 A construção de uma metodologia de trabalho desenvolvida por meio do RAP e
da poesia ............................................................................................................................. 40
1.6 Procedimentos facilitadores do uso da metodologia ................................................. 51
Capítulo 2
A RELAÇÃO ATO INFRACIONAL E VIOLÊNCIA .................................................. 59
2.1 Violência, invisibilidade e cultura: como entendê-las? ............................................ 61
2.2 Quem são os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de
internação? ......................................................................................................................... 68
Capítulo 3
A PESQUISA: O RAP E A POESIA COMO MEDIADORES DA TEORIA NA
PRÁTICA ........................................................................................................................... 82
3.1 A arte ............................................................................................................................ 82
3.2 A cultura Hip Hop ....................................................................................................... 84
3.3 O RAP e a poesia como discurso político e conhecimento crítico ........................... 95
3.4 A pesquisa ex-post-facto, seu espaço e os procedimentos metodológicos ................ 98
3.5 As apreensões obtidas da relação do adolescente em cumprimento de medida
socioeducativa de internação e dos profissionais do Centro de Atendimento ao
Adolescente (Cead) com o RAP e a poesia ...................................................................... 107
CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................................................................................ 122
REFERÊNCIAS ................................................................................................................ 126
ANEXOS ............................................................................................................................ 135
Anexo A - Poesia – Ver e não ser visto – Autoria: Daniel Péricles Arruda (Vulgo
Elemento) ..................................................................................................................... 135
Anexo B - Letra de RAP – A lágrima de um palhaço – Autoria: Daniel Péricles Arruda
(Vulgo Elemento) ........................................................................................................ 136
Anexo C - Letra de RAP – O bagulho é doido – Autoria: MV Bill............................. 138
Anexo D - Letra de RAP – Realidade – Autoria: Jibagoo e outros ............................. 142
Anexo E - Letra – Infinito particular – Autoria: Marisa Monte ................................... 146
14
INTRODUÇÃO
Uma História
Você tá ligado que o mundo é isso aí
Vamos curtir o RAP, vamos ouvir
A vida é embaçada, se eu fosse um vento
O vento é uma vida que te leva ao pensamento
Fico olhando que eu tô ficando louco
Tipo assim, como se fosse um poço
Os meus pais não vêm aqui me ver
Fico bolado e começo a sofrer
Penso em matar, penso em morrer
Penso em salvar, penso em viver
Na vida do crime eu entrei muito cedo
Achava que era o tal só pra mim ter conceito
Traficava, fumava um, que prejuízo
Na minha infância perdi vários amigos
Mas é Deus o meu grande amigo
Porque sempre está comigo
Refrão:
Quero que a minha história tenha um final feliz
Final feliz, final feliz
Um final feliz é um novo começo
Levar a minha vida e corrigir os meus erros
A vida que eu levo não é fácil, não
Uma rapa de treta tenho no coração
Morar em um abrigo amanhã, quem sabe?!
Ficar longe da bandidagem
Arrumar um trampo e voltar a estudar
É melhor do que cheirar e roubar
Pois sei que no presídio não vai ser bom
Quero correr atrás e investir no meu dom
Cantar e dizer o que eu vivo
Dizer o que eu penso e o que eu sinto
No mundão, família e diversão
Na escola e numa profissão
Sangue bom, fico por aqui, um abraço
Tenha fé em Deus e valorize o seu espaço
Refrão:
Quero que a minha história tenha um final feliz
Final feliz, final feliz
(Letra de RAP escrita por um adolescente, sujeito da pesquisa)
As palavras, as rimas e os versos, ao mesmo tempo em que chamam a atenção,
representam sentimentos, imaginações, vivências marcantes e sonhos almejados,
primordialmente, vindos de adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de
internação, como demonstra o RAP acima, escrito por um adolescente, em 2007.
15
Ao abordar a sua história o jovem apresenta as várias faces de sua vida: como foi,
como é, e como ele gostaria que fosse. A letra trata de questões sobre o sofrimento, a
felicidade, a saudade, a família, a relação com Deus, os motivos que o levaram ao
envolvimento com a criminalidade e o que ele considera necessário para não voltar a praticar
atos infracionais, entre outras.
O RAP e a poesia1 são tidos como possibilidades de múltiplas expressões, que
demonstram ao sujeito a sua capacidade de manifestar sonhos, revoltas e rebeldias, e
inquietações subjetivas. Isto é, trata-se de uma possibilidade de manifestar a sua própria vida
e também uma forma de absorver a realidade.
Aqui, o uso do RAP e da poesia, como apoio ao trabalho socioeducativo, é discutido
numa perspectiva crítica2. Meu intuito é apreender os pontos relevantes dessa abordagem para
a construção de uma metodologia de trabalho com adolescentes que cumprem medida
socioeducativa de internação, considerando três categorias essenciais: cultura, violência e
invisibilidade. A cultura, como formação de valores e de constituição identitária; a violência,
tendo em vista a prática do ato infracional como uma de suas modalidades de expressão; e a
invisibilidade, como forma de ver (ou não ver) o outro como tal.
Dessa maneira, este estudo teve por finalidade apreender a relação do adolescente em
cumprimento de medida socioeducativa de internação com as oficinas de RAP e de poesia,
considerando o uso dessas artes como instrumento socioeducativo e como uma metodologia
para possibilitar a comunicação, a reflexão e a efetivação dos objetivos da medida. E,
também, como apoio para a leitura e para a ação direta dos profissionais da Comunidade
Socioeducativa3.
1 A sigla RAP vem do inglês rhythm and poetry, ou seja, ritmo e poesia. No Brasil, alguns a
consideram também como Revolução Através das Palavras. Assim, o RAP é constituído de poesia, mas cabe ressaltar que durante o trabalho serão mencionados os termos RAP e poesia, devido à metodologia desenvolvida e aplicada, e por considerar as especificidades de cada um deles, uma vez que podemos ter a poesia independentemente do RAP. A poesia é referenciada por suas várias linhas, principalmente, pela literatura marginal, conhecida e/ou chamada também de literatura periférica, literatura suburbana, literatura do oprimido ou literatura do “excluído”. 2 O sentido de perspectiva crítica assumido nesta dissertação é o da dialética marxista – a leitura
racional dos fatos, com vistas à superação de seus condicionamentos e limites, por meio do desvelamento de suas determinações sócio-históricas. Ou seja: “Não se trata, como pode parecer a uma visão vulgar de ‘crítica’, de se posicionar frente ao conhecimento existente para recusá-lo ou, na melhor das hipóteses, distinguir nele o ‘bom’ do ‘mau’. Em Marx, a crítica do conhecimento acumulado consiste em trazer ao exame racional, tornando-os conscientes, os seus fundamentos, os seus condicionamentos e os seus limites – ao mesmo tempo em que se faz a verificação dos conteúdos desse conhecimento a partir dos processos históricos reais.” (NETTO, 2009, p. 6) 3 Segundo o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), a Comunidade
Socioeducativa “é composta pelos profissionais e adolescentes das Unidades e/ou programas de atendimento socioeducativo, [que] opera, com transversalidade, todas as operações de deliberação, planejamento, execução, monitoramento, avaliação e redirecionamento das ações, que devem ser
16
Por se tratar de um estudo ex-post-facto 4
, ou seja, “dizer sobre um fato ocorrido”,
neste caso, as oficinas de RAP e de poesia, realizadas no Centro de Atendimento ao
Adolescente (Cead) nos anos de 2007 a 2010, não aponto hipóteses, mas trago alguns
pressupostos para melhor compreensão de como a questão se colocava na época:
1 – O adolescente compreenderia o RAP e a poesia como uma “trilha sonora” de sua
vida, com potencial transformador, mas não suficiente para um direcionamento prático;
2 – A invisibilidade não seria dada, nem estaria presente em todos os níveis de vida do
adolescente;
3 – A violência seria um meio (e não um fim), pelo qual os adolescentes expressariam
suas angústias, desejos e frustrações, no contexto desigual da sociedade brasileira – assim, a
análise de suas “trilhas sonoras”, possibilitaria descobrir e diferenciar questões que teriam
determinado sua prática infracional e, a partir daí, construir estratégias para superá-las;
4 – Uma aproximação do adolescente, para que seja eficaz no alcance dos objetivos
socioeducativos, teria que focar atividades que despertassem não apenas o seu interesse, mas a
sua capacidade de crítica em relação à sociedade e à sua própria vida.
Para melhor nortear as reflexões sobre o tema, a pesquisa também se apropriou das
seguintes indagações: como o adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de
internação compreende e materializa as reflexões possibilitadas pelas oficinas em suas
relações com a violência? Como as atividades com os adolescentes, por meio de oficinas,
podem contribuir no processo de superação de sua invisibilidade? Compreendendo que a
prática infracional é uma expressão da cultura da violência, como o uso do RAP e da poesia
pode lidar com essa questão? Que metodologia poderia ser utilizada de forma a despertar o
interesse dos adolescentes e, ao mesmo tempo, desenvolver sua capacidade de crítica em
relação à sociedade e à sua própria vida?
A ida a campo por ocasião deste estudo, para realização de entrevistas semi-
estruturadas, foi de suma importância para apreender – do ponto de vista dos sujeitos – a
importância do RAP e da poesia como suportes de uma metodologia no processo
socioeducativo.
Por questões éticas, o adolescente e os dois jovens adultos (egressos da medida
socioeducativa de internação) entrevistados serão mencionados aqui por nomes de planetas:
compartilhadas, rotativas, solidárias, tendo como principal destinatário o coletivo em questão, contemplando as peculiaridades dos participantes.” (SINASE, 2007, p.73) 4 Polanski (s.d.) informa que a expressão ex-post-facto foi utilizada pela primeira por Chapin (CHAPIN
E QUEEN, 1937) e, posteriormente, por Greenwood (1945) e Chapin (1947, 1955).
17
Júpiter, de 20 anos; Saturno, de 20 anos; e Marte, de 16 anos5. Além de preservar a identidade
dos sujeitos da pesquisa, sugeri nomes de planetas para fazer alusão ao movimento do sistema
solar e aos mistérios que os norteiam – cabendo a mim, então, tentar desvendá-los.
Foram entrevistados também dois profissionais da unidade que acompanharam as
oficinas naquele período. Ambos foram escolhidos por terem sensibilidade à questão e por
conhecerem a trajetória, os desafios e os avanços do Sistema Socioeducativo de Minas Gerais,
há anos. O primeiro será mencionado pela denominação Lua e o segundo, Sol. Da área do Hip
Hop, entrevistei o DJ ACoisa, pelo seu vasto conhecimento cultural e social do trabalho com
jovens, por meio dessa cultura.
Este estudo apoiou-se nas categorias do método dialético – totalidade, contradição e
mediação – na perspectiva assumida na teoria social de Karl Marx, cujas reflexões foram
norteadas pelas leituras feitas de autores, como Frederico (2005, 2006), Goldmann (1972,
1979), Lukács (1978) entre outros6.
Esta dissertação de mestrado está organizada em cinco partes: introdução, que tem
como objetivo delinear os primeiros movimentos que realizei como base para iniciar a
pesquisa – nesse movimento, parti da ideia de que o RAP e a poesia possibilitam espaços de
expressão dos sujeitos e de sua capacidade de apreender a realidade; três capítulos,
explicitados a seguir; e considerações finais.
No primeiro capítulo – O Contexto da Ação que Norteou a Pesquisa –, apresento
alguns apontamentos sobre a medida socioeducativa de internação; o histórico do Centro de
Atendimento ao Adolescente (Cead), isto é, como foi criado e suas modalidades de gestão; o
trabalho socioeducativo desenvolvido pela unidade; reflexões acerca do cotidiano
institucional, fazendo uma análise crítica dessa modalidade de medida privativa de liberdade;
a construção de uma metodologia de trabalho desenvolvida, por meio do RAP e da poesia,
5 Os nomes dos autores das letras de RAP e de poesia não serão revelados, embora se tratem de
produções próprias. Todas estão relacionadas aos direitos autorais, Lei 9.610/1998, nos termos do artigos 11, 24 e 108. Optei também por não revelar os nomes, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8.069/1990, artigo 247, em virtude de um dos sujeitos da pesquisa ter idade inferior a 18 anos. 6 É importante destacar que ao longo deste trabalho utilizarei as notas de rodapé para relatar,
esclarecer ou mencionar pontos importantes e detalhes ocorridos durante o meu diálogo com os autores, considerando que “nenhuma pessoa culta pode sentir-se perturbada com a existência de uma nota em tipo miúdo ao fundo de uma página, e todas as pessoas, sejam elas profissionais ou leigas, precisam conhecer as credenciais de um fato quando este é mencionado. As notas de rodapé são também um índice expressivo do cuidado posto no estudo de um determinado assunto.” (GALBRAITH apud NETTO, 2009a, p. 9). Assim, utilizarei os nomes completos das instituições, dos setores, etc. acompanhados com a sigla entre parênteses para melhor compreensão do leitor, com exceção das siglas/categorias: RAP – Rhythm and Poetry (Ritmo e Poesia); DJ – Disc-Jóquei (sem tradução literal); e MC – Master of Ceremony (Mestre de Cerimônia), que são mencionadas com mais frequência neste trabalho.
18
detalhando como ocorreram as oficinas; e, por fim, os procedimentos facilitadores do uso da
metodologia – sendo um subsídio detalhado para a sua aplicação.
No segundo capítulo – A Relação Ato Infracional e Violência –, abordo as
peculiaridades desse debate e os fatores produtivos e reprodutivos, bem como o estudo
realizado em relação às categorias cultura, violência e invisibilidade; e, ainda, analiso o perfil
dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação no Brasil,
detendo-me, especificamente, em Minas Gerais, com foco em Belo Horizonte, que se
constituiu o espaço maior, no qual a pesquisa se realizou.
No terceiro e último capítulo – A Pesquisa: o RAP e a poesia como mediadores da
teoria na prática –, apresento algumas reflexões sobre a arte; ressalto a história da cultura Hip
Hop; analiso o RAP como discurso político e conhecimento crítico, e exponho a pesquisa
realizada e as apreensões obtidas da relação do adolescente em cumprimento de medida
socioeducativa de internação e dos profissionais do Centro de Atendimento ao Adolescente
(Cead) com o RAP e a poesia.
Por fim, nas considerações finais, retomo alguns aspectos deste trabalho e proponho
algumas reflexões acerca da pesquisa realizada.
Há que se ressaltar que não pude deixar de receber o leitor com epígrafes, no início de
cada capítulo e de cada subitem desta dissertação, que traduzem parte do conteúdo exposto,
sendo também, as frases emergentes de cada etapa do processo de produção acadêmica.
19
Capítulo 1
O CONTEXTO DA AÇÃO QUE NORTEOU A PESQUISA
Quase nenhuma ação humana tem por sujeito um indivíduo isolado.
(GOLDMANN, 1979, p. 18)
Este capítulo apresenta alguns passos importantes para o esclarecimento desta
produção acadêmica, intitulada Espelhos dos Invisíveis: o RAP e a poesia no trabalho
prático-reflexivo com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de
internação.7 A seguir, apresento, sucintamente, a trajetória acadêmica que me direcionou a
essa temática, o meu trabalho no Centro de Atendimento ao Adolescente (Cead), e as razões
do trabalho que desenvolvi, por meio do RAP e da poesia, com os adolescentes em
cumprimento da medida socioeducativa de internação.
Em 2007, iniciei minha experiência na área da medida socioeducativa de internação
como estagiário de Serviço Social, no Centro de Atendimento ao Adolescente (Cead), em
Belo Horizonte/MG, quando dei início às oficinas de RAP e de poesia com os adolescentes,
as quais tiveram continuidade após a minha efetivação, em 2008. Naquela época, estava no
sexto período do curso de Serviço Social, da Pontifícia Universidade Católica de Minas
Gerais (PUC-MG), campus Contagem. Concomitantemente, participei de várias discussões na
cultura Hip Hop, no Movimento Negro e no Movimento Estudantil, além de participar do
Grupo de Estudos Afrobrasileiros (Geab), vinculado à Sociedade Inclusiva, programa da Pró-
reitoria de Extensão, da PUC-MG.
Nos primeiros dois meses de estágio, minhas atividades não tinham cunho de pesquisa,
embora eu já fizesse anotações no meu diário de campo, em relação aos aspectos de interesse,
captados na minha relação com os adolescentes. A prática como estagiário serviu-me de base
para a continuidade de meu trabalho com os adolescentes.
O primeiro movimento com o RAP se fez no mês de julho de 2007. Todos os dias
aconteciam o Bom Dia, momento em que um profissional, acompanhado ou não de um
adolescente, fazia a leitura de texto, poema ou encenação teatral curta, antes do café da
7 Naquele contexto, os adolescentes utilizavam o espelho, mediante solicitação do agente
socioeducativo, que ficava na recepção. Tal procedimento era realizado por medida de segurança e por razões de estrutura física da unidade. Outra forma de se olharem, era pelos vidros das janelas da sala dos técnicos quando atravessavam ou estavam no pátio. As janelas tinham uma película escura na superfície, do tipo insulfilm, possibilitando, então, o reflexo. Um dia, ao ver um adolescente se arrumando diante da janela, eu escrevi a poesia “Ver e não ser visto” (Anexo A). Assim, Espelho dos Invisíveis chama a atenção para o estudo da invisibilidade e seus fatores.
20
manhã. A atividade era organizada mediante escala e todos da comunidade educativa
participavam. No meu dia de fazer o Bom Dia, levei caixa de som, discman, cabo de áudio e
microfone, e montei, antes de eles chegarem à cantina, local onde tomavam café e acontecia a
atividade. Após chegarem, disse a eles que iria fazer um Bom Dia de forma diferente. Então,
comecei a cantar a música A Lágrima de um Palhaço (Anexo B) e, enquanto eu cantava o
RAP, prestava a atenção nas expressões faciais, que eram várias: de surpresa, de choque, de
sorriso, de atenção; no entanto, todos davam conta de sustentar o olhar no momento em que
eu os fixava. A música tinha como temas a paz, a esperança e a possibilidade de superação
dos problemas. Ao final, eles aplaudiram e foram liberados para o café da manhã.
Mais tarde, no pátio, muitos falavam do Bom Dia e se dirigiam a mim: “Você canta
direitim”; “Você tem CD?; Grava pra mim?”. Percebi que eles levaram tudo como surpresa e
não como enganação, uma vez que no período de dois meses de minha permanência na
instituição apenas alguns sabiam que eu era rapper. O RAP já existia na instituição, mas não
era desenvolvido com os adolescentes. A partir daí, com apoio institucional, consegui
desenvolver as oficinas de RAP e de poesia.
Nesta dissertação, para analisar o contexto da ação realizada, considerei importante
fazer, inicialmente, algumas observações sobre a natureza da medida socioeducativa de
privação de liberdade e o histórico do Centro de Atendimento ao Adolescente (Cead), para
que ficassem claros os referenciais sobre os quais me apoiei para definir a forma como
desenvolvi as oficinas.
1.1 A medida socioeducativa de internação
Para proceder a uma tal reflexão e se deixar contagiar por uma perspectiva
inovadora e radicalmente democrática, é preciso antes de tudo se
despojar do sentimento de vingança, enquanto marca da cultura
e razão punitiva existente no Brasil.
(SALES, 2007, p. 49)
O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) é um instrumento jurídico, que norteia
os direitos e deveres de crianças e de adolescentes no Brasil, na perspectiva da proteção
21
integral8. Mesmo com a necessidade da efetivação prático-operacional de alguns pontos
rezados no ordenamento jurídico, é notório o posicionamento humanitário, digno e condizente
com os direitos humanos que se contrapõe às concepções tradicionalistas, entendidas como
estigmatizantes, conforme o Código de Menores Mello Mattos9.
Souza (2006) aponta a mudança de termos nesse processo de desestigmatização: são
adolescentes (em vez de menor), que são apreendidos (em vez de presos) pela prática de atos
infracionais (em vez de crimes). Essa mudança de termos não significou diretamente uma
mudança de prática, na medida em que algumas ainda expressam ideias pré-concebidas, por
exemplo, o movimento da sociedade pela redução da idade de imputabilidade penal e um
sentimento de vingança difuso, que culpabiliza todos por ações de alguns. Isso é o que Heller
(1972, p. 34) chama de ultrageneralização:
[...] os juízos ultrageneralizadores são todos eles juízos provisórios que a prática
confirma ou, pelo menos, não refuta, durante o tempo em que, baseados neles,
formos capazes de atuar e de nos orientar [...]. Isso poderá ser feito quando o juízo
se apoiar na confiança, mas não quando se basear na fé. Os juízos provisórios que se
enraízam na particularidade e, por conseguinte, se baseiam na fé são pré-juízos ou
preconceitos.
Esse sentimento de vingança (SALES, 2007) propicia pensamentos vazios de
humanidade e repletos de uma lógica punitiva que só muda o problema de lugar. Ele não
considera a história, os motivos, o momento vivenciado pelo adolescente e as questões
pertinentes ao seu desenvolvimento.
É comum ouvir críticas “acríticas” nos noticiários ou nas conversas tecidas na vida
cotidiana acerca da redução da idade de imputabilidade penal ou nos questionamentos
relacionados ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), considerando que este “protege
bandidos” ou que “passa a mão na cabeça do menor”. De fato, como comenta Chauí (1989, p.
20):
8 O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) contrapõe as ideias baseadas na Doutrina da
Situação Irregular – destinada a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade – com a Doutrina da Proteção Integral a todas as crianças e adolescentes no País, considerados sujeitos de direitos. O reconhecimento dos direitos de crianças e adolescentes no Brasil ocorreu a partir da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e foi confirmada pela Lei 8.069/1990. O Estatuto da Criança e do Adolescente: “Passa a vigorar, pela nova legislação, a chamada doutrina de proteção integral que, partindo dos direitos das crianças reconhecidos pela ONU [Organização das Nações Unidas], procura garantir a satisfação de todas as necessidades das pessoas de menor idade, nos seus aspectos gerais, incluindo-se os pertinentes à saúde, educação, recreação, profissionalização, etc.” (CURY apud BAPTISTA, 2000, p. 15). Para essas palavras, Cury baseia-se na Convenção Internacional acerca dos Direitos Humanos da Criança, ratificada de forma unânime pela Assembleia Geral das Nações Unidas, no ano de 1989. 9 Vide Decreto 17.943-A, de 12/10/1927, e Lei 6.697/1979. Instrumentos jurídicos voltados ao
atendimento à criança e ao adolescente em situação irregular até 1990.
22
A prática de declarar direitos significa, em primeiro lugar, que não é um fato óbvio
para todos os homens que eles são portadores de direitos e, por outro lado, significa
que não é um fato óbvio que tais direitos devam ser reconhecidos por todos. A
declaração de direitos inscreve os direitos no social e no político, afirma sua origem
social e política e se apresenta como objeto que pede o reconhecimento de todos,
exigindo o consentimento social e político.
A medida socioeducativa é uma providência jurídica, de cunho socioeducativo,
destinada a adolescentes de 12 a 18 anos incompletos que cometeram ato infracional10
. De
acordo com o artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), elas são:
I Advertência;
II Obrigação de reparar o dano;
III Prestação de serviços à comunidade;
IV Liberdade assistida;
V Inserção em regime de semi-liberdade;
VI Internação em estabelecimento educacional;
VII Qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI11
§ 1o A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-
la, as circunstâncias e a gravidade da infração. § 2
o Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho
forçado. § 3
o Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão
tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições.
A medida socioeducativa de internação pode ser aplicada somente nas condições
apontadas no artigo 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA):
I Tratar-se de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a
pessoa;
II Por reiteração no cometimento de outras infrações graves;
III Por descumprimento reiterado e injustificável da medida anteriormente imposta.
§ 1o O prazo de internação na hipótese do inciso III deste artigo não poderá ser
superior a três meses, devendo ser decretada judicialmente após o devido processo
legal.
§ 2o Em nenhuma hipótese será aplicada a internação, havendo outra medida
adequada.
10
De acordo com o artigo 103 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): “Considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal.” 11
Art. 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): “Verificada qualquer das hipóteses previstas no art. 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas: I - encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade; II - orientação, apoio e acompanhamento temporários; III - matrícula e freqüência obrigatórias em estabelecimento oficial de ensino fundamental; IV - inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança e ao adolescente; V - requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial; VI - inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação e tratamento a alcoólatras e toxicômanos.” Os outros incisos desse mesmo artigo são: VII - acolhimento institucional; VIII - inclusão em programa de acolhimento familiar; IX - colocação em família substituta.
23
Essa medida segue o princípio da brevidade e da excepcionalidade de sua aplicação,
em razão da condição peculiar de desenvolvimento do adolescente. A brevidade refere-se à
questão do tempo de sua aplicação, principalmente, porque o tempo do adolescente inclui o
ritmo de seu desenvolvimento, que é diferenciado do indivíduo adulto. A excepcionalidade,
pelo reconhecimento de que o adolescente vive uma fase de construção de sua personalidade
– compreendida pelo conjunto dos elementos bio-fisio-socio-psicológios particulares que
nortearão o desenrolar de sua vida –, o que deve determinar, sempre que possível, o respeito
ao seu direito à convivência familiar e comunitária. Assim, conforme o artigo 121 do Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA):
Art. 121. A internação constitui medida privativa da liberdade, sujeita aos princípios
de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento.
§ 1o Será permitida a realização de atividades externas, a critério da equipe técnica
da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário.
§ 2o A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser
reavaliada, mediante decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses.
§ 3o Em nenhuma hipótese o período máximo de internação excederá a três anos.
§ 4o Atingido o limite estabelecido no parágrafo anterior, o adolescente deverá ser
liberado, colocado em regime de semi-liberdade ou de liberdade assistida.
§..5o A liberação será compulsória aos vinte e um anos de idade.
§ 6o Em qualquer hipótese a desinternação será precedida de autorização judicial,
ouvido o Ministério Público.
§ 7o A determinação judicial mencionada no § 1
o poderá ser revista a qualquer
tempo pela autoridade judiciária.
Em 18 de janeiro de 2012, foi sancionada a Lei 12.594, que institui o Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase)12
, que regulamenta a execução das
medidas socioeducativas voltadas para adolescentes que pratiquem atos infracionais.
A lei contém 90 artigos, divididos em três títulos. O Título I – Do Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (Sinase) – traz o Capítulo I, que aborda as disposições gerais da
referida lei, onde destaco o parágrafo segundo do artigo primeiro:
§ 2o Entendem-se por medidas socioeducativas as previstas no art. 112 da Lei no
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), as quais têm
por objetivos: I - a responsabilização do adolescente quanto às consequências lesivas
do ato infracional, sempre que possível incentivando a sua reparação;
II - a integração social do adolescente e a garantia de seus direitos individuais e
12
Chamo a atenção do leitor, pois farei menção à Lei 12.594, de 18/1/12, que entrou em vigor após 90 dias de sua publicação, em 18/4/12, e também utilizarei seu documento original, Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase), posto a público em 2004, que serviu de guia na implementação e na operacionalização de ações, em prol do atendimento aos adolescentes autores de atos infracionais.
24
sociais, por meio do cumprimento de seu plano individual de atendimento;.e
III - a desaprovação da conduta infracional, efetivando as disposições da sentença
como parâmetro máximo de privação de liberdade ou restrição de direitos,
observados os limites previstos em lei.
O Capítulo II, que mostra as competências da União, dos estados e dos municípios; o
Capítulo III, que apresenta as articulações necessárias e os aspectos relevantes para a
elaboração do Plano de Atendimento Socioeducativo; o Capítulo IV, que aborda questões
sobre a inscrição de programas de atendimento no Conselho Estadual ou Distrital da Criança e
do Adolescente, entre outras questões. Nesse capítulo, destaco o artigo 12:
Art. 12. A composição da equipe técnica do programa de atendimento deverá ser
interdisciplinar, compreendendo, no mínimo, profissionais das áreas de saúde,
educação e assistência social, de acordo com as normas de referência.
§ 1o Outros profissionais podem ser acrescentados às equipes para atender
necessidades específicas do programa.
§ 2o Regimento interno deve discriminar as atribuições de cada profissional, sendo
proibida a sobreposição dessas atribuições na entidade de atendimento.
§.3o O não cumprimento do previsto neste artigo sujeita as entidades de
atendimento, seus dirigentes ou prepostos à aplicação das medidas previstas no art.
97 da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA).
Ainda no capítulo IV, são abordadas também as competências dos Programas de Meio
Aberto e dos requisitos específicos para a inscrição de Programas de Privação de Liberdade
(Semiliberdade e Internação). O Capítulo V reza sobre a avaliação e a gestão do atendimento
socioeducativo; o Capítulo VI fala sobre a responsabilização dos gestores, operadores e
entidades de atendimento; e o Capítulo VII versa sobre o financiamento e as prioridades.
O Título II – Da Execução das Medidas Socioeducativas – apresenta o Capítulo I, que
mostra, nas disposições gerais, os princípios que regem a execução das medidas
socioeducativas; o Capítulo II, que aborda os procedimentos para jurisdicionar a execução das
medidas socieducativas; o Capítulo III, que aponta os direitos individuais, a saber:
Art. 49. São direitos do adolescente submetido ao cumprimento de medida
socioeducativa, sem prejuízo de outros previstos em lei: I - ser acompanhado por
seus pais ou responsável e por seu defensor, em qualquer fase do procedimento
administrativo ou judicial; II - ser incluído em programa de meio aberto quando
inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação da liberdade, exceto nos
casos de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa,
quando o adolescente deverá ser internado em Unidade mais próxima de seu local de
residência; III - ser respeitado em sua personalidade, intimidade, liberdade de
pensamento e religião e em todos os direitos não expressamente limitados na
sentença; IV - peticionar, por escrito ou verbalmente, diretamente a qualquer
autoridade ou órgão público, devendo, obrigatoriamente, ser respondido em até 15
(quinze) dias; V - ser informado, inclusive por escrito, das normas de organização e
funcionamento do programa de atendimento e também das previsões de natureza
disciplinar; VI - receber, sempre que solicitar, informações sobre a evolução de seu
25
plano individual, participando, obrigatoriamente, de sua elaboração e, se for o caso,
reavaliação; VII - receber assistência integral à sua saúde, conforme o disposto no
art. 60 desta Lei; e VIII - ter atendimento garantido em creche e pré-escola aos filhos
de 0 (zero) a 5 (cinco) anos.
Também compõe o Título II, o capítulo IV, que trata do Plano Individual de
Atendimento (PIA), do qual destaco os seguintes artigos:
Art. 52. O cumprimento das medidas socioeducativas, em regime de prestação de
serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade ou internação, dependerá
de Plano Individual de Atendimento (PIA), instrumento de previsão, registro e
gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente.
E o artigo 5313
: “O PIA será elaborado sob a responsabilidade da equipe técnica do
respectivo programa de atendimento, com a participação efetiva do adolescente e de sua
família, representada por seus pais ou responsável.” No atendimento em meio aberto, o Plano
Individual de Atendimento (PIA) deverá ser elaborado no prazo de até 15 dias a partir da data
de ingresso do adolescente no programa; já para o atendimento em meio fechado, o prazo é de
45 dias.
O Capítulo V apresenta as diretrizes da atenção integral à saúde de adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa e discorre sobre questões acerca do atendimento a
adolescentes com transtorno mental e com dependência de álcool e de substância psicoativa; o
Capítulo VI ressalta os pontos pertinentes da visita a adolescentes em cumprimento de medida
de internação, do qual cito o artigo 68: “É assegurado ao adolescente casado ou que viva,
comprovadamente, em união estável o direito à visita íntima.”14
; e o artigo 69: “É garantido
13
O artigo 41 da referida lei afirma que: “A autoridade judiciária dará vistas da proposta de plano individual de que trata o art. 53 desta Lei ao defensor e ao Ministério Público pelo prazo sucessivo de 3 (três) dias, contados do recebimento da proposta encaminhada pela direção do programa de atendimento.” Caso não seja impugnado o Plano Individual de Atendimento (PIA) será homologado. Há questionamentos acerca do prazo para a elaboração do Plano Individual de Atendimento (PIA). O tempo exigido deveria ser o tempo estipulado para o início de sua realização, pois, nós, profissionais que atuamos na área, sabemos que é preciso de um tempo maior para conquistar a confiança do adolescente, em alguns casos para localizar a família, etc. 14
A visita íntima, no sistema prisional, iniciou-se em meados da década de 1980, como uma forma de combater a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Em 2010, realizei um projeto socioeducativo, por meio da poesia – Projeto Reinvenção –, em parceria com o Programa de Reintegração Social do Egresso do Sistema Prisional de Contagem/MG (Presp), na Penitenciária de Segurança Máxima Nelson Hungria, em Contagem/MG, com um grupo de 12 pré-egressos que estavam cumprindo pena – educandos que estavam prestes a serem liberados ou a receberem alguma progressão de regime. Em uma oficina, cujo tema era família, um dos educandos me disse: “Pra gente, toda visita é íntima”, ou seja, para eles, independe que sejam visitados pela esposa ou pela namorada. Em outras palavras, o jovem quis dizer que toda visita é o momento íntimo de eles conversarem e trocarem afetos com os seus; e, para isso, é necessário privacidade. Faço essas colocações somente a título de reflexão, pois não pretendo mudar o foco do assunto. Na medida socioeducativa de internação, mesmo com as restrições apresentadas pela lei em questão, é sabido
26
aos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação o direito de
receber visita dos filhos, independentemente da idade desses.”
O Capítulo VII traz os princípios das normas disciplinares, conforme o artigo 71:
Art. 71. Todas as entidades de atendimento socioeducativo deverão, em seus
respectivos regimentos, realizar a previsão de regime disciplinar que obedeça aos
seguintes princípios:
I - tipificação explícita das infrações como leves, médias e graves e determinação
das correspondentes sanções;
II - exigência da instauração formal de processo disciplinar para a aplicação de
qualquer sanção, garantidos a ampla defesa e o contraditório;
III - obrigatoriedade de audiência do socioeducando nos casos em que seja
necessária a instauração de processo disciplinar;
IV - sanção de duração determinada;
V - enumeração das causas ou circunstâncias que eximam, atenuem ou agravem a
sanção a ser imposta ao socioeducando, bem como os requisitos para a extinção
dessa;
VI - enumeração explícita das garantias de defesa;
VII - garantia de solicitação e rito de apreciação dos recursos cabíveis; e
VIII - apuração da falta disciplinar por comissão composta por, no mínimo, 3 (três)
integrantes, sendo 1 (um), obrigatoriamente, oriundo da equipe técnica.
Em seguida vêm as razões determinantes de sua não aplicação, conforme o artigo 75:
“Não será aplicada sanção disciplinar ao socioeducando que tenha praticado a falta: I - por
coação irresistível ou por motivo de força maior; II - em legítima defesa, própria ou de
outrem.”
Por fim, o Título II traz o Capítulo VIII, que apresenta a possibilidade de ofertas de
vagas do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial (Senac), Serviço Nacional de Aprendizagem Transporte (Senat) e
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), por meio de articulações de operadores
dessas instituições com os gestores dos Sistemas de Atendimento Socioeducativo.
Já o Título III – Disposições Finais e Transitórias – ressalta aspectos de
regulamentação e de regularização de entidades, do qual destaco o artigo 83:
Os programas de atendimento socioeducativo sob a responsabilidade do Poder
Judiciário serão, obrigatoriamente, transferidos ao Poder Executivo no prazo
máximo de 1 (um) ano a partir da publicação desta Lei e de acordo com a política de
oferta dos programas aqui definidos.
E o artigo 84: “Os programas de internação e semiliberdade sob a responsabilidade
dos Municípios serão, obrigatoriamente, transferidos para o Poder Executivo do respectivo
Estado no prazo máximo de 1 (um) ano a partir da publicação desta Lei e de acordo com a
que as unidades precisarão de mudanças na estrutura arquitetônica, na cultura e na mentalidade institucional para a efetivação responsável desse direito.
27
política de oferta dos programas aqui definidos.” Além de trazer as alterações realizadas em
alguns artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
A partir dessa leitura acerca dos ordenamentos jurídicos que envolvem a medida
socioeducativa, apresentarei como é o seu funcionamento prático em Belo Horizonte/MG,
onde, a partir de dezembro de 2008, os casos de adolescentes que cometem atos infracionais
são apurados pelo Centro de Atendimento Integrado ao Adolescente Autor de Ato Infracional
(CIA/BH)15
.
De acordo com a Cartilha do CIA/BH, o atendimento é realizado da seguinte maneira:
o adolescente, apreendido em flagrante pela autoridade policial, por ter praticado ato
infracional, é encaminhado para o CIA/BH. Nesse primeiro momento, a autoridade policial
realiza as providências necessárias e convoca os pais e/ou responsáveis para comparecem ao
Centro, para ciência dos fatos e tomarem as providências que considerarem necessárias.
Posteriormente, o adolescente é encaminhado ao juiz de Direito da Vara Infracional para a
realização da audiência imediata, com a presença do promotor, do defensor público, do
advogado, dos pais e/ou responsáveis, em que o juiz determina as seguintes providências,
isoladas ou concomitantemente: 1) remissão16
; 2) arquivamento17
; 3) aplicação de medida
protetiva18
.
15
O Centro Integrado de Atendimento ao Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA/BH) foi criado por meio da Resolução-Conjunta de 2 de setembro de 2008, em cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), precisamente, do artigo 88, inciso V: “[...] integração operacional de órgãos do Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Segurança Pública e Assistência Social, preferencialmente em um mesmo local, para efeito de agilização do atendimento inicial a adolescente a quem se atribua autoria de ato infracional”. O Centro tem por finalidade apurar e agilizar com maior e melhor efetivação a jurisdição infracional cabível aos adolescentes autores de atos infracionais. Dessa forma, é constituído pela integração de instituições públicas que compõem o núcleo de Sistema de Justiça Juvenil: Defensoria Pública de Minas Gerais, Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Militar de Minas Gerais, Polícia Civil, Prefeitura de Belo Horizonte e Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds). O Centro atende nos dias úteis de 8h às 22h, e nos fins de semana e feriados de 13h às 18h. A Delegacia de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente (Dopcad) funciona 24h nas dependências do Centro, que também tem por objetivos: “garantir a responsabilização imediata dos adolescentes autores de ato infracional na comarca de Belo Horizonte; reinserir (reconduzir) o adolescente no convívio familiar e social; prevenir a reincidência (repetição de atos infracionais); contribuir para a diminuição dos índices de criminalidade na comarca de Belo Horizonte.” (CARTILHA CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE AUTOR DE ATO INFRACIONAL – CIA/BH, p. 8). 16
De acordo o artigo 126, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA): “Antes de iniciado o procedimento judicial para apuração de ato infracional, o representante do Ministério Público poderá conceder a remissão, como forma de exclusão do processo, atendendo às circunstâncias e consequências do fato, ao contexto social, bem como à personalidade do adolescente e sua maior ou menor participação no ato infracional”. No parágrafo único é esclarecido que: “Iniciado o procedimento, a concessão da remissão pela autoridade judiciária importará na suspensão ou extinção do processo”. O Art. 127 reza que: “A remissão não implica necessariamente o reconhecimento ou comprovação da responsabilidade, nem prevalece para efeito de antecedentes, podendo incluir eventualmente a aplicação de qualquer das medidas previstas em lei, exceto a colocação em regime de semi-liberdade e a internação.” Na sequência, o art. 128 afirma que “a
28
Entretanto, caso não seja viável a aplicação de nenhuma dessas três determinações, o
promotor poderá oferecer a denúncia (representação), assim o juiz poderá estabelecer alguma
das medidas socioeducativas em meio aberto (advertência; obrigação de reparar o dano;
prestação de serviço à comunidade; ou liberdade assistida), ou encaminhar para internação
provisória, onde o adolescente deverá permanecer no máximo 45 dias no aguardo do
julgamento. Após o julgamento, caso receba a medida socioeducativa de internação, o
adolescente é encaminhado para uma unidade de privação de liberdade19
, em que não há
tempo determinado. O adolescente é reavaliado no máximo a cada seis meses e o tempo da
internação, por nenhuma razão, deverá ultrapassar três anos.
Para que seja aplicada a medida socioeducativa de internação é necessária a
concretude dos pontos descritos acima. A medida não é (ou não deveria ser) a única e nem a
primeira a ser aplicada ao adolescente que cometeu ato infracional. Daí, a importância dos
cuidados necessários para o levantamento do caso de cada adolescente.
medida aplicada por força da remissão poderá ser revista judicialmente, a qualquer tempo, mediante pedido expresso do adolescente ou de seu representante legal, ou do Ministério Público.” 17
O processo é arquivado e, então, o adolescente não precisa responder pela acusação. 18
Vide nota de rodapé 11, página 22. 19
O art. 124, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), afirma: “São direitos do adolescente privado de liberdade, entre outros, os seguintes: I - entrevistar-se pessoalmente com o representante do Ministério Público; II - peticionar diretamente a qualquer autoridade; III - avistar-se reservadamente com seu defensor; IV - ser informado de sua situação processual, sempre que solicitada; V - ser tratado com respeito e dignidade; VI - permanecer internado na mesma localidade ou naquela mais próxima ao domicílio de seus pais ou responsável; VII - receber visitas, ao menos, semanalmente; VIII - corresponder-se com seus familiares e amigos; IX - ter acesso aos objetos necessários à higiene e asseio pessoal; X - habitar alojamento em condições adequadas de higiene e salubridade; XI - receber escolarização e profissionalização; XII - realizar atividades culturais, esportivas e de lazer; XIII - ter acesso aos meios de comunicação social; XIV - receber assistência religiosa, segundo a sua crença, e desde que assim o deseje; XV - manter a posse de seus objetos pessoais e dispor de local seguro para guardá-los, recebendo comprovante daqueles porventura depositados em poder da entidade; XVI - receber, quando de sua desinternação, os documentos pessoais indispensáveis à vida em sociedade. § 1
o Em nenhum caso haverá incomunicabilidade. § 2
o A autoridade judiciária
poderá suspender temporariamente a visita, inclusive de pais ou responsável, se existirem motivos sérios e fundados de sua prejudicialidade aos interesses do adolescente.
29
1.2 Histórico do Centro de Atendimento ao Adolescente (Cead)
Em um espaço educativo, a arquitetura, sua estética e a ocupação
do espaço físico não são neutros. Muito menos
os recursos materiais disponíveis.
(DAYRELL, 2007, p. 5)
Historicamente, o Centro de Atendimento ao Adolescente (Cead) – unidade que
executa a medida socioeducativa de internação, aplicada pelo juiz da Vara Infracional – foi
criado em 199820
e, inicialmente, gerenciado pela organização não governamental
Providência Nossa Senhora da Conceição. Também nesse ano, em Belo Horizonte/MG, houve
a implantação da medida socioeducativa de liberdade assistida, e, em 2004, a implantação da
medida socioeducativa de prestação de serviço à comunidade.
Segundo relatos de funcionários mais antigos, o Centro era um imóvel (galpão) que
pertencia a Luiz Fernando da Costa, mais conhecido como Fernandinho Beira-Mar21
, e teria
sido confiscado pela Justiça.
É possível perceber que a unidade não foi planejada para funcionar como um centro de
internação. Em razão desse fato, foi necessário fazer várias reformas e adaptações, com o
intuito de possibilitar melhor atendimento aos adolescentes e condições de trabalho para os
funcionários. Um aspecto relevante é que a unidade esta localizada em região urbana, com
20
Período do governo municipal de Célio de Castro (Partido Socialista Brasileiro – PSB), do governo estadual de Itamar Franco (Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB) e do governo federal de Fernando Henrique Cardoso (Partido da Social Democracia Brasileira – PSDB). De acordo com o Projeto Político-Pedagógico do Centro de Atendimento ao Adolescente (Cead), a unidade foi criada “sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PMBH), [...] que fez parceria com a entidade filantrópica Providência Nossa Senhora da Conceição para seu gerenciamento. Sua criação, sob a responsabilidade da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (PMBH), deve-se a uma solicitação da Vara da Infância e Juventude de Belo Horizonte, que pediu o apoio do Município em caráter excepcional, já que naquele momento o Estado não poderia atendê-la.” (PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE – Cead, 2005, p. 6). Como se percebe, naquele contexto, a Prefeitura de Belo Horizonte assumiu uma responsabilidade que caberia ao Estado, conforme da Lei 8.069/1990, Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), nos termos do artigo 125: “É dever do Estado zelar pela integridade física e mental dos internados, cabendo-lhe adotar as medidas adequadas de contenção e segurança”. Não pretendo aprofundar a questão, que, certamente, envolve dimensões de ordem administrativa, econômica e política, mas chamo a atenção para o momento em que a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – foi sancionada em relação ao seu período de materialidade. Isto é, cabe aqui uma reflexão sobre como as leis nem sempre estão de acordo com as conjunturas sociais. 21
Nascido em Duque de Caxias, criado na favela Beira-Mar, Fernandinho Beira-Mar nasceu em 4 de julho de 1967. É considerado um dos maiores traficantes de drogas e de armas da América Latina. A título de informação, até o fechamento deste trabalho, Beira-Mar encontrava-se na Penitenciária Federal de Mossoró, Rio Grande do Norte, desde 5 de fevereiro de 2011.
30
casas residenciais e comércio diversificado22
, não podendo ser, por isso, classificada
geograficamente como um “arquipélago dos esquecidos” (FOUCAULT, 2009).
Em 14 de junho de 2004, o Centro de Atendimento ao Adolescente (Cead) passou a
ser mantido pela Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds), supervisionado pela
Superintendência de Atendimento às Medidas Socioeducativas (Same) e gerenciado pela
Inspetoria São João Bosco (ISJB)23
. Ou seja, a unidade passa a ser mantida pelo Estado e
inicia a gestão compartilhada com o Sistema Salesiano.
Assim, de acordo com o Projeto Político-Pedagógico do Centro de Atendimento ao
Adolescente (2005, p. 6), ficou acordado que:
I) Compete à Inspetoria São João Bosco, entre outros:
Elaborar e executar a proposta pedagógica para o atendimento aos adolescentes;
Recrutar, selecionar, treinar e contratar a equipe responsável pelo atendimento;
Capacitar e administrar a equipe responsável pelo atendimento;
Zelar pelo atendimento aos adolescentes, de acordo com as determinações do
Estatuto da Criança e do Adolescente;
Cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais relativas aos adolescentes
admitidos na Unidade de Internação.
II) Compete à Secretaria de Estado de Defesa Social, entre outros:
Prover os recursos financeiros necessários à administração da Unidade de Internação
e à manutenção do atendimento educacional e assistencial, conforme disposto no
Plano de Trabalho, anexo III, que integra este Convênio;
Prover a Unidade de Internação dos móveis, equipamentos e utensílios
indispensáveis ao atendimento conforme consta no Anexo V;
Zelar pela qualidade do atendimento pactuado e pelo cumprimento das
determinações judiciais relativas aos adolescentes admitidos na Unidade de
Internação;
Articular e integrar os demais Órgãos Governamentais para uma atuação
complementar e solidária de apoio ao desenvolvimento do atendimento pactuado24
.
De 2004 a 2008, a unidade teve como embasamento pedagógico o método educativo
de Dom Bosco, conhecido também como Sistema Preventivo de Dom Bosco ou Pedagogia
Salesiana25
.
22
Chamo a atenção para esse ponto, pois é característico que as instituições restritivas, – ou como denominadas por Goffman (2001), “instituições totais” –, de modo geral, estejam “longe de tudo e perto de nada”. 23
De acordo com o Manual do Colaborador Salesiano na Inspetoria São João Bosco, a inspetoria foi criada em “11 de dezembro de 1947 com o desmembramento da Inspetoria Salesiana de São Paulo.” (PAULA, 2005, p.79). 24
Os tópicos I e II fazem menção à cláusula sexta, do convênio firmado entre Estado e Inspetoria São João Bosco. Os anexos III e IV mencionados não foram localizados para melhor esclarecer a questão. 25
João Melchior Bosco (Dom Bosco), nasceu no dia 16 de agosto de 1815, no povoado denominado Becchi, próximo a Turim, no Piemonte, ao norte da Itália. Padre aos 26 anos, desde a juventude se pautava em trabalhar com jovens, por meio da evangelização e da educação. O método é baseado em três pilares: Amor, traduzido na expressão italiana amorevollezza, no sentido de demonstrar para o jovem a sua importância, ou seja, os jovens devem ter ciência de que são importantes e amados;
31
A partir de novembro de 2008, com o rompimento do convênio entre o Estado e a
Inspetoria São João Bosco (ISJB), a unidade continua a ser mantida pela Secretaria de Estado
de Defesa Social (Seds) e supervisionada pela Subsecretaria de Atendimento às Medidas
Socioeducativas (Suase), com a modalidade de gestão direta, até os dias atuais.
1.3 O trabalho desenvolvido pelo Centro de Atendimento ao Adolescente (Cead)
Em todo jovem, mesmo o mais complicado, existe uma corda que ainda vibra, e a
obrigação do educador é descobrir essa corda e tirar proveito disto.
(DOM BOSCO)
O atendimento fornecido pelo Centro de Atendimento ao Adolescente (Cead) teve – e
permanece tendo - por fundamento a Lei 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente –
ECA); o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase) – hoje Lei 12.594/2012;
o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à
Convivência Familiar e Comunitária (2006); o Regimento Interno da unidade; as Diretrizes,
Normativas e Orientações da Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas
(Suase); e as demais legislações que garantem os direitos dos adolescentes.26
O trabalho realizado tinha início nas participações em estudos de casos nos Centros
Provisórios27
, juntamente com outras unidades de internação, para que fosse decidida a
Razão, em que Dom Bosco baseava-se como complementação do amor, em busca de esclarecimentos das necessidades dos jovens; e Religião, com a espiritualidade cristã como ação transcendente – aqui, envolve-se também o reconhecimento do amor e da razão como valores importantes. Cabe dizer que a metodologia servia-nos como uma referência de trabalho e de aproximação ao adolescente, por considerar a relação entre educando e educadores não como um guia prático de instruções religiosas. Os motivos que acarretam a internação do adolescente jamais são entendidos como prática pecaminosa, e sim, como prática infracional. Nessa experiência, a Pedagogia Salesiana se fez em conjunto com outros saberes e com o cuidado e o respeito com a diversidade cultural e/ou religiosa dos adolescentes e dos funcionários. Os ensinamentos dessa pedagogia ainda estão presentes na cultura institucional do Centro de Atendimento ao Adolescente (Cead). 26
Cabe dizer que a descrição do trabalho realizado por essa unidade baseia-se nos anos de 2007 a 2010, para ser fiel à construção deste trabalho, período em que realizei as oficinas de RAP e de poesia. 27
Há, em Belo Horizonte, duas unidades de internação provisória: Centro de Internação Provisória Dom Bosco (Ceip/DB) e o Centro de Internação Provisória São Benedito (Ceip/SB). Esses estudos de casos referem-se também ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), artigo 123: “A internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração.” Essa modalidade de transição é descrita a partir da minha experiência vivenciada no Centro de Atendimento ao Adolescente (Cead). Outro detalhe, o tempo da internação é contado a partir da data da sentença aplicada pelo juiz e não a partir do momento em que o adolescente é transferido para uma unidade de internação.
32
unidade em que o adolescente cumpriria a medida, considerando a sua idade,
condicionalidades em razão do seu ato infracional e/ou envolvimento com a criminalidade,
para que ele pudesse ou não cumprir a medida próximo à sua residência28
. Após a decisão, a
unidade escolhida realizava um pré-acolhimento desse adolescente, ou seja, um técnico ia até
o Centro de Internação Provisória, com o intuito de transmitir-lhe segurança e esclarecer
dúvidas. No mesmo dia em que acontecia o pré-acolhimento, o adolescente era transferido
para a unidade de internação, para o início do cumprimento da medida que lhe fora imputada.
Já na unidade, o adolescente passava por um exame pessoal para averiguar as
condições físicas em que ele está chegando; em seguida submetido a uma entrevista inicial,
momento em que um técnico e um agente socioeducativo realizava o preenchimento de
formulários de informações básicas, como endereço, telefone, dados pessoais e relação dos
pertences trazidos. Esse momento também era importante para explicar ao adolescente sobre
as normas básicas de convivência e para ouvi-lo quanto às suas dúvidas, medos e
expectativas29
.
Ao realizar o acolhimento na unidade, eu falava duas frases para os adolescentes, que
chamava a atenção de quem ouvia, pois eu dizia: “Seja bem-vindo”30
e logo fazia um
comentário sobre essa expressão, pois queria provocar uma reflexão sobre o espaço e o lugar.
O adolescente era bem-vindo não pelo o que fez, mas pelo o que é – um ser social. Em
determinado momento, eu falava: “O seu desligamento começa hoje”, para significar sua
responsabilidade no cumprimento da medida.
Logo, era feito o primeiro contato com a família do adolescente para informá-la da
chegada e dar-lhe ciência das regras institucionais para se fazer visitas ao adolescente.
Nas primeiras 72 horas que o adolescente ficava na unidade, permanecia no
alojamento. Nesse período, era atendido por técnicos que faziam a sua interação gradativa às
atividades desenvolvidas na unidade: eram-lhe explicados os seus direitos e deveres na
convivência institucional. Encontrava-se no regimento interno do Centro de Atendimento ao
Adolescente (Cead), no artigo 12, inciso I, a seguinte determinação: “As primeiras 24 horas
28
Essas condicionalidades fazem menção às implicações do ato infracional do adolescente e, também, ao seu envolvimento com a criminalidade. Isto é, pode não ser adequado (em determinadas circunstâncias) que o adolescente cumpra a medida na mesma unidade que o seu irmão ou companheiros de gangue ou numa unidade que ele tenha ‘guerra’ com outro adolescente. Assim, esse estudo de caso apurava as condições e as implicações de casa caso. 29
Alguns adolescentes não sabem informar a sua própria data de nascimento, o endereço completo ou o número de telefone. Não que eles não queiram dizer, talvez seja uma demonstração do “desconhecimento” de si. 30
Uma vez me perguntaram porque eu falo assim, então eu disse: “Você quer que eu diga – seja ‘mal-vindo’?”
33
deverão ser cumpridas em seu alojamento e nas outras 48 horas, ele já poderá circular na sala
de TV, com direito a 30 minutos de pátio pela manhã e 30 minutos à tarde” (REGIMENTO
INTERNO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO ADOLESCENTE – CEAD, Art. 12,
inciso I). Essas 72 horas serviam também para averiguar possíveis “rixas” do adolescente com
os demais internos.
Durante o período de acolhimento, o adolescente era atendido por um técnico de
referência (assistente social ou psicólogo), para iniciar o acompanhamento técnico e avaliar
possíveis demandas. Nesse mesmo período, o regimento interno era trabalhado com o
adolescente pela pedagoga.
A unidade realizava acompanhamento sociofamiliar, jurídico, psicoterapêutico,
terapêutico-ocupacional, pedagógico e de saúde básica. Fornecia também espaços para
escolarização, profissionalização, esporte, arte, lazer, grupos de reflexão, oficinas temáticas e
comissões de saúde, segurança e espiritualidade, que visavam a avaliação e a construção de
propostas para melhor funcionamento da unidade. Para tal, era preciso um grupo profissional
qualificado para lidar com a complexidade de cada caso. A equipe técnica da unidade era
multi e interdisciplinar31
.
A unidade era constituída pelos seguintes profissionais:
31
Morin (apud RODRIGUES, 2000, p. 127), ao definir essas categorias, considera que “a multidisciplinaridade ou pluridisciplinaridade trata do estudo de um mesmo objeto por várias disciplinas; não há necessidade de integração sobre elas. [...] A transdisciplinaridade [...] promove a troca de informações e de conhecimentos entre disciplinas, mas, fundamentalmente, transfere métodos de uma disciplina para outras. [...] A interdisciplinaridade possibilita não só a fecunda interlocução entre as áreas do conhecimento como também constitui uma estratégia importante para que elas não se estreitem nem se cristalizem no interior de seus respectivos domínios; favorece o alargamento e a flexibilização dos conhecimentos, disponibilizando-os em novos horizontes do saber”. Para além dessas modalidades, os técnicos dessa unidade não se baseavam em equipes como forma de atuação – reconheciam os saberes de outras áreas profissionais que formavam a comunidade socioeducativa. O atendimento da unidade se fazia pelo princípio da “incompletude institucional”, ou seja, o trabalho era desenvolvido com a coparticipação das instituições que compunham o sistema de garantia de direitos e de outros parceiros.
34
Tabela 1 – Quadro de funcionários do Centro de Atendimento ao Adolescente (Cead)
Direção Uma diretora geral, uma diretora de atendimento e um
diretor de segurança
Setor Administrativo Duas assistentes administrativas
Equipe Técnica
Um assistente social, duas psicólogas, uma pedagoga,
uma terapeuta ocupacional, duas técnicas de
enfermagem
Estagiários Uma estagiária de psicologia e uma estagiária de
serviço social
Agentes Socioeducativos 38 agentes socioeducativos
Auxiliares Educacionais e Arte-educadores Três auxiliares educacionais e dois arte-educadores
Escola Uma diretora e seis professoras
Cozinha, Limpeza, Lavanderia e Portaria Cinco cozinheiras, duas auxiliares de serviços gerais,
duas auxiliares de limpeza e quatro porteiros
Fonte: Sistematização do autor.
Após o período de acolhimento, o adolescente começava a frequentar a escola e as
oficinas da unidade. O ensino educacional (escolarização) no Centro de Atendimento ao
Adolescente (Cead) era resultado de um convênio com a Secretaria de Educação da Prefeitura
de Belo Horizonte. A escola ficava nas dependências da unidade e funcionava no período da
manhã e da tarde. Não havia separação por série, mas por níveis de conhecimento dos
adolescentes, conforme os conteúdos específicos que seriam abordados.
A questão escolar era um ponto que chamava atenção, pois:
Esses adolescentes, na maioria das vezes, estão afastados da escola há um bom
tempo, porque foram de alguma forma excluídos, e têm pouca crença na sua
capacidade de aprender. As amarras que trazem são muitas; as formas de resistência,
a pouca valorização da escola, o receio de fracassar, a dificuldade de aceitar e
mostrar o próprio erro, têm como umas de suas causas o medo de ser rejeitado.
(ARRUDA; PINTO, 2009, p. 106)
Mesmo com a baixa crença na capacidade de aprender – considerando que há
adolescentes com níveis escolares condizentes à sua idade –, nos atendimentos, eles falavam
da escola como um lugar importante, porém apresentavam várias demandas para
permanecerem frequentando-a.
35
Havia também oficinas de informática, teatro, bijuterias, origami, dança e percussão32
,
e todas ocorriam de maneira alternada, de acordo com a programação da unidade, a partir da
demanda dos adolescentes.
Uma forma central de programar o processo a ser vivenciado pelo adolescente era o
Plano Individual de Atendimento (PIA). Tratava-se de uma metodologia que contribuía para o
acompanhamento do caso e de sua evolução. Esse instrumental era utilizado para traçar e
registrar as metas e os objetivos a serem alcançados pelo adolescente. A programação
realizava-se a cada três meses, com a presença de dois técnicos e um agente socioeducativo e,
nesse momento, o adolescente era ouvido e orientado em relação aos seus objetivos em cada
área de atendimento – referentes à educação, à família, à saúde, à situação processual, ao
trabalho, à convivência institucional, entre outros.
Tal abordagem possibilitava a realização de um trabalho de reflexão com o
adolescente, considerando-se que, além das metas e dos objetivos, também era trabalhado o
“como fazer” para conseguir realizá-los. O Plano Individual de Atendimento (PIA)
possibilitava um trabalho em conjunto e articulado, que demonstrava ao adolescente que ele
teria apoio e que seria necessário o seu empenho, sendo ele o maior interessado.
Já o Plano de Atendimento à Família (PAF)33
visava a manutenção e o fortalecimento
dos vínculos familiares em relação à sua função protetiva e socializadora de seus membros.
Essa programação acontecia a cada seis meses com a presença do adolescente, de sua família,
dos técnicos de referência e de um agente socioeducativo.
Os encaminhamentos tirados de ambos os Planos eram anotados para registro e
organização de seu processo de concretização e, se necessário, outros profissionais também
eram chamados a participar de sua realização.
Havia na unidade várias modalidades de estudo de caso: o interno, que era realizado
com a equipe técnica, os diretores da unidade e um representante dos agentes socioeducativos,
e tinha por finalidade o conhecimento do caso do adolescente e a construção de intervenções e
encaminhamentos necessários; aquele que contava com o plantão de agentes socioeducativos,
que acontecia todos os sábados de manhã, e visava elucidar o caso de adolescentes para os
agentes socioeducativos, no sentido de orientá-los sobre a melhor maneira de lidar com eles; o
32
O trabalho de percussão é desenvolvido na unidade pelo agente socioeducativo e arte-educador Eurípedes Roberto Maximiano, e existe desde 2007. O grupo de percussão chamado Tamborlescentes era formado por adolescentes que participavam dessa oficina. Tive o prazer de acompanhar parte dessa atividade, que, além de abordar os fundamentos da música, a produção de instrumentos e ensinar a tocá-los, faz riquíssimas associações com a dimensão socioeducativa. 33
Metodologia de trabalho desenvolvida pelo Centro de Atendimento ao Adolescente (Cead), de 2004 a 2010.
36
estudo de caso que acontecia na unidade, com a equipe do Juizado da Infância e da Juventude
e o Ministério Público, com o objetivo de repassar o desenvolvimento do cumprimento da
medida socioeducativa de internação vivenciada pelos adolescentes e os encaminhamentos a
serem realizados com outros órgãos de defesa dos direitos dos adolescentes; aquele realizado
para encaminhamentos, como para cursos e/ou para algum tratamento de saúde mais
específico; e, por fim, o estudo de caso que acontecia em conjunto com outras instituições
socioassistenciais e/ou com unidades de atendimento ao adolescente, para realização de
encaminhamentos, com a finalidade de desligamento e/ou de progressão da medida.
O adolescente era envolvido em atividades tanto internas quanto externas. Permanecia
no alojamento somente à noite, para dormir, ou quando cumpria norma disciplinar34
, e nos
demais horários, ficava na escola, no curso, na oficina. Alguns adolescentes estudavam ou
trabalhavam fora da unidade, em razão de seu bom desenvolvimento na medida e por não
estarem ameaçados de morte.
O atendimento técnico acontecia, semanalmente, por cada profissional. Eram
registrados em formulários técnicos específicos de cada área, respeitando as questões éticas.
O Centro de Atendimento ao Adolescente (Cead) desenvolvia três modalidades de
trabalho com as famílias. O primeiro era o Encontro com Famílias, realizado a cada três
meses nas dependências de uma instituição parceira, próxima à unidade, sem a presença dos
adolescentes em cumprimento da medida. Os familiares eram convidados a participarem
dessas atividades, que desenvolviam uma temática diferente a cada encontro, e que tinham por
base a convicção de que havia necessidade de proporcionar às famílias momentos em que
ficassem mais à vontade para conversar e discutir em grupo questões relacionadas às
diferentes temáticas abordadas – sexualidade, afetividade, etc.
A segunda modalidade era o Encontro Multifamília, que ocorria a cada seis meses
dentro da própria unidade. Realizavam-se palestras temáticas, oficinas, trabalhos lúdicos e era
oferecido almoço.
O terceiro trabalho era a Reunião Informativa, que acontecia conforme a demanda da
unidade, ou seja, quando era detectada a necessidade de informar os familiares a respeito de
mudanças na rotina institucional, ou outros assuntos de interesse da família sobre a rede
socioassistencial, e/ou para ouvir dúvidas dos familiares.
34
Norma disciplinar é uma sanção aplicada ao adolescente que cometeu ato que transgrida as normas disciplinares, conforme a sua gravidade, o adolescente pode ser levado ao “alojamento de reflexão” – mais conhecido como “sete”, por ser o sétimo alojamento dos corredores – de 12 a 96 horas. As normas disciplinares eram avaliadas e discutidas pelos técnicos e agentes socioeducativos para decidirem sobre o seu término ou não.
37
Havia outros momentos, durante o cumprimento da medida, para os quais os
familiares também eram convidados a participar, como excursões, assembleias – em que eram
discutidas propostas de melhorias no convívio institucional com os adolescentes –, quando se
acompanhava algum tipo de encaminhamento junto com os adolescentes. Esses casos
dependiam de vários critérios: se os adolescentes não corriam risco ou ameaça de morte, se
tinham demonstrado responsabilidade no cumprimento da medida, entre outros.
A unidade realizava principalmente duas modalidades de trabalho em grupo com os
adolescentes: o terapêutico, que abordava questões pertinentes ao cumprimento da medida e
ao mundo do trabalho; e o de valores, que proporcionava debates em grupo sobre temáticas
voltadas para o autocuidado.
Antes do desligamento, conforme a situação do adolescente, a unidade enviava um
pedido de autorização para o juiz da Vara Infracional, comunicando o desenvolvimento do
jovem, e solicitava autorização para que ele pudesse passar alguns fins de semana em casa.
Quando era deferido o pedido, iniciava-se, gradativamente, o seu retorno à convivência
familiar e comunitária. A unidade permanecia na incumbência de monitorar as visitas e
informar ao juiz como ocorreram.
O desligamento do adolescente em cumprimento da medida socioeducativa de
internação, ocorria em rede, que expressava um movimento interno e externo. Desde o início
da medida, a família e as referências locais de atendimentos eram articuladas para participar
da construção e da legitimação de seus direitos, visando a sua proteção e o seu não retorno à
prática de atos infracionais e/ou à criminalidade.
1.4 Reflexões acerca do cotidiano institucional
Não há “muralha chinesa” entre as esferas
da cotidianidade e da moral.
(HELLER, 1972, p. 25)
Parto de referenciais de análise sobre a cotidianidade, para refletir sobre o cotidiano
institucional, que é uma de suas dimensões.
De acordo com Heller (1972, p. 17), “a vida cotidiana é a vida de todo homem”, isto é,
ninguém está fora dela, independentemente da classe social e da divisão sociotécnica do
trabalho todos os homens dependem do cotidiano para existirem. A autora afirma também que
“a vida cotidiana é a vida do homem inteiro” (HELLER, 1972, p. 17), pois o homem interage
38
na cotidianidade, com todas as faces de sua individualidade, envolvendo-se com todas as suas
habilidades e sentidos, porém, não em sua plenitude.
Netto (NETTO; CARVALHO, 2011, p. 65 a 67), embasado pela ótica lukácsiana,
afirma que a vida cotidiana é ontologicamente “insuprimível”, pois não há vida social sem
cotidianidade. Por isso, aponta três determinações fundamentais do cotidiano, as quais
comparecem em cada situação, sem considerar as relações que as vinculam. A primeira é a
heterogeneidade, por ser constituída de interseções de atividades que formam um núcleo de
objetivação do ser social; a segunda é a imediaticidade, pois a atividade cotidiana expressa a
relação direta entre o pensamento e a ação; e a terceira é a superficialidade extensiva, por
compreender que a mobilização do homem na cotidianidade demanda “todas as atenções e
todas as forças, mas não toda a atenção e toda a força”, todo ser social exerce as suas emoções
e os seus sentimentos, porém de maneiras diversificadas e com intensidades variadas.
Mas afinal, o que se compreende por vida cotidiana?
É aquela vida dos mesmos gestos, ritos e ritmos de todos os dias: é levantar nas
horas certas, dar conta das atividades caseiras, ir para o trabalho, para a escola, para
a igreja, cuidar das crianças, fazer o café da manhã, fumar o cigarro, almoçar, jantar,
tomar uma cerveja, a pinga ou o vinho, ver televisão, praticar um esporte de sempre,
ler o jornal, sair para um “papo” de sempre, etc. (NETTO; CARVALHO, 2010, p.
23)
Assim, a vida cotidiana é construção diária e ininterrupta. É a vida de todos os dias e
de todas as horas. Local de encontros e desencontros. Espaço do lugar e dos “não-lugares”
(MARC AUGÉ, 1994).
Tais perspectivas não estão separadas nas relações do homem com a sociedade, com
outros homens e consigo mesmo. A vida do homem é movimento; nada é inerte na vida
cotidiana, todos estão ligados a algo ou a alguém, a todo o momento. Não há, na vida
cotidiana, o início e o fim exato de qualquer movimento. O cotidiano se produz e se reproduz
por meio da história, que é o elemento central do seu desenvolvimento (HELLER, 1972).
Aqui, a história não se refere somente a fatos históricos, mas ao desenvolvimento do
processo humano e social, pois “não há vida cotidiana sem espontaneidade, pragmatismo,
economicismo, andologia, precedentes, juízo provisório, ultrageneralizações, mimese e
entonação” (HELLER, 1972, p. 37). Essas categorias, num contexto institucional, passam por
transformações, sendo, então, um “cotidiano controlado” por reduzir as espontaneidades das
ações e por demandar atenção aos níveis de relações tecidas.
39
Heller (1972, p. 18) afirma que “o homem já nasce inserido na cotidianidade” e que a
cotidianidade é construída na história, daí a importância desta, como uma das categorias
centrais para análise e compreensão do cotidiano.
A vida cotidiana não reúne todos os seres sociais ao mesmo tempo, no mesmo local,
fazendo as mesmas coisas e com os mesmos desejos e interesses. Está onde o homem está. O
homem não vive sozinho e ainda que ele se sinta ou tente essa vivência solitária, não obterá
êxito, pois mesmo na vida solitária, na solidão, na falta de vínculos afetivos e sociais, é
preciso a participação do outro para compor essa condição de vivência.
No caso do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação, é
importante ressaltar que a unidade não é o mundo em si, e nem pretende sê-lo. Por mais que
haja grades, camas de alvenaria e horários controlados, existe um mundo que parece estar do
lado de fora da unidade, mas não está: a unidade está dentro desse mesmo mundo, porém,
ocupando dimensões e vivenciando condições particulares.
O cotidiano institucional é uma das múltiplas dimensões da vida cotidiana; não há
como fragmentar a cotidianidade35
. É constituído por pessoas, por regras, por normas e por
relações de poder36
. A segurança de uma unidade não está somente sob a responsabilidade dos
agentes socioeducativos, mas de todos que ali trabalham. Todas as atividades socioeducativas
visam a produção e a manutenção da segurança institucional. Essa dimensão do cotidiano tem
a vida do outro como “vida nossa”, por causa da responsabilidade institucional quanto aos
cuidados e à atenção às demandas do adolescente. A vida cotidiana não acaba para o
adolescente quando ele vive o cotidiano institucional, pois todas essas dimensões constituem
o seu “mundo da vida” (BAPTISTA, 1998), que é o cotidiano.
Nesse sentido, a exemplaridade é aspecto fundamental. Educar – particularmente no
caso de adolescentes, – consiste em ensinar que se é. Portanto, a forma como o
programa de atendimento socioeducativo organiza suas ações, a postura dos
profissionais, construída em bases éticas, frente às situações do dia-a-dia, contribuirá
para uma atitude cidadã do adolescente. (SISTEMA NACIONAL DE
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO, 2007, p. 86)
35
O cotidiano “grita do lado de fora”, um ponto de reflexão no espaço privativo. Isso, por compreender o “lado de fora” e o “lado de dentro”. Essa divisão dá a impressão de que o tempo da medida é um “tempo morto”, que a vida está parada. 36
As relações de poder podem estar em qualquer nível de relação institucional. Mattos (2009, p. 15), em estudo realizado em uma unidade de atendimento em Belo Horizonte, apresenta um discurso do corpo diretivo: “O menino tentou fugir, foi excesso de confiança da nossa parte. Estamos relaxando com nosso serviço. Eles estão começando a mandar de novo. Nós temos que provar que quem manda aqui somos nós... Temos que ser rígidos com quem fizer isso [referindo-se a adolescentes que estavam se armando com chuço de arame das grades protetoras das lâmpadas]. O último adolescente que morreu aqui dentro foi furado com isso... Bate. Bate, mas não deixa marca (Informação Verbal)”.
40
1.5 A construção de uma metodologia de trabalho desenvolvida por meio do RAP
e da poesia
O pensamento é o passeio da alma.
(SÓCRATES)
O contato com os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de
internação no Centro de Atendimento ao Adolescente (Cead) exigiu que eu assumisse uma
tríade metodológica: aproximação, observação e confiança – a qual será discutida abaixo.
Essa tríade pode ser percebida nas duas dimensões desse trabalho: de quem o realiza e de
quem o recebe.
Na aproximação, o contato direto, para mim, colocou em xeque alguns dos
conhecimentos que eu havia acumulado, quando muitas das ideias neles contidas negavam a
história, a temporalidade e a concretude dos fatos. O contato direto pode ser ameaçador
quando exime a aproximação gradativa. E, por mais que a ação seja positiva, ela é tomada
como negativa pela forma como foi realizada. Assim, a compreensão dessa contradição
ocupou lugar de destaque para possibilitar o reconhecimento da condição do outro, e a
sustentação – por meio da superação da situação – de um canal de diálogo.
Por meio de estudos que eu já vinha realizando e de meu envolvimento em várias
discussões, percebi o quanto era importante o conhecimento teórico para a prática
profissional, para a prática discursiva e para o entendimento das múltiplas manifestações da
“questão social.”37
Essa percepção levou-me a considerar que poderia utilizar as oficinas como mediação
entre a teoria e a prática. Durante muitos anos ouvi (e ainda ouço) a frase: “A teoria é uma
coisa, a prática é outra”. Por isso, era necessária uma estratégia, um modo, enfim, uma
metodologia de trabalho que evidenciasse que a teoria e a prática compõem uma totalidade de
diversos, ou seja, que estão imbricadas e são indissociáveis. A partir daí, refleti sobre a
mediação, que, como uma das categorias da teoria social de Karl Marx, seria fundamental
para compreender e possibilitar as ações realizadas, por meio de oficinas de RAP e de poesia.
A mediação articula-se com a contradição e a totalidade, como categorias essenciais para o
37
Cabe citar alguns atores que mais embasaram os meus estudos sobre a questão social: Carvalho (2001, 2002, 2005), Castel (2007), Demo (1998), Fernandes (1972), Galeano (2002), Huberman (1984), Iamamoto (1998), Martinelli (1995), Martins (1997) e Yasbek (2003).
41
estudo, e a análise dessa modalidade de prática socioeducativa, considerando a diversidade de
situações e os desafios do trabalho direto com os sujeitos.
Naquela ocasião, eu já utilizava o RAP e a poesia como instrumentos críticos para
externalizar e compreender ideias e questionamentos sociais38
; porém, optei por não trazer
isso à tona para os adolescentes num primeiro momento, pois eu tinha a necessidade de
perceber se o RAP era conhecido ou trazido por eles, e como isso era feito. Não demorou
muito: a primeira situação que envolvia o RAP foi quando eles estavam na área de televisão,
assistindo a um DVD de RAP norte-americano. A identificação era com os estilos dos
rappers: tatuagens, joias, roupas, ou seja, com os símbolos que produzem identificação e
manifestação de consumo e, também, com aspectos de sua cultura, relacionados às questões
de gênero: os clips de músicas frequentemente exibiam uma aparente “facilidade” dos rappers
para atrair lindas mulheres. Outro movimento percebido eram as músicas cantadas por alguns
deles, algumas conhecidas, de grupos de RAP como Racionais MC’s e Facção Central, ambos
de São Paulo/SP.
Em algumas situações, presenciei os adolescentes cantando RAP na instituição. Era
notória a identificação deles com o RAP; quando cantavam, percebia-se, por meio da
expressão facial, do tom da voz e do posicionamento do corpo e até por comentários: “Eu
sempre quis falar isso”, ou seja, “esse ‘cara’ me entende”.
Mas a frase motivadora das oficinas foi de um adolescente: “Eu tenho vontade de
escrever umas paradas, e pá!”. Encontrei aí um ponto de partida importante para o meu
trabalho: a vontade.
A vontade é do outro e não minha, ou nossa. Assim, naquele contexto, notei que os
adolescentes foram aguçados à participação espontânea, isto é, não era preciso convidá-los
para participarem da atividade, apenas comunicar-lhes que iria acontecer. Não era preciso
convencimento, pois a proposta não era exterior a eles, fazia conexão com o mundo e com a
realidade vivida por cada um deles.
Na perspectiva da aproximação, para os adolescentes, um dado importante de
aceitação foi a minha afirmação de raça/cor, bem como o penteado afro, que possibilitaram
uma proximidade natural deles comigo – cabe dizer que o autor que vos escreve é negro e usa
tranças. Não afirmo que não-negros e outros tipos estéticos não poderiam também obter
aceitação, pelo contrário, nessa experiência, percebi que a minha imagem era vista como um
“igual diferente”, ou seja: igual na raça/cor, mas diferente no posicionamento; sendo, pois,
38
Questionamentos críticos acerca da violência, da pobreza, do racismo, do desemprego, entre outros.
42
uma referência positiva para os adolescentes (SOARES, 2005). Esse posicionamento está
relacionado com o segundo dos três pontos, que é a observação, isto é, o olhar39
: não como
curiosidade, mas como atenção. Como diz Fernando Pessoa, por meio do heterônimo Alberto
Caeiro, em o Guardador de Rebanhos (PESSOA, 2011, p. 35):
O que nós vemos das coisas são as coisas.
Por que veríamos nós uma coisa se houvesse outra?
Por que é que ver e ouvir seria iludirmo-nos
Se ver e ouvir são ver e ouvir?
O essencial é saber ver,
Saber ver sem estar a pensar,
Saber ver quando se vê,
E nem pensar quando se vê
Nem ver quando se pensa.
Mas isso (tristes de nós que trazemos a alma vestida!),
Isso exige um estudo profundo,
Uma aprendizagem de desaprender
E uma sequestração na liberdade daquele convento
De que os poetas dizem que as estrelas são as freiras eternas
E as flores as penitentes convictas de um só dia,
Mas onde afinal as estrelas não são senão estrelas
Nem as flores senão flores,
Sendo por isso que lhes chamamos estrelas e flores.
Nessa relação, parafraseando Pessoa, digo que “alegres de nós que trazemos o espírito
desnudado”.
E, assim, foi possível construir o terceiro ponto, que é a confiança. Como construção,
a confiança exige espontaneidade, sinceridade e entendimento das ações desenvolvidas e do
seu contexto institucional. No caso do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa
de internação, todo e qualquer tipo de trabalho pode assumir sentidos diferentes, devido à
complexidade do contexto em que vivem e às formas de relacionamento que nele são
estabelecidas.
Aproximação, observação e confiança formaram o tripé dessa metodologia, iniciada
em 2007. Ficou evidente que é possível – tanto para os adolescentes quanto para o arte-
educador – nos aproximarmos de alguém ou de algo, de diferentes formas, o que encaminha
para diferentes resultados. Nessa aproximação, há possibilidade mútua de observação e, no
39
Nesta dissertação, quando me refiro ao olhar, aponto para o fato de que qualquer observação é, necessariamente, norteada pela visão de mundo de quem a realiza, a qual determina as dimensões do seu olhar.
43
momento em que isso ocorre, pode acontecer ou não uma aceitação impregnada de mútua
confiança. Daí a necessidade de ter analisado com cuidado esse movimento, em sua
totalidade, dentro de uma conjuntura institucional. A confiança, nesse contexto, teve o sentido
de um “semáforo”40
, que contribuiu para a condução dos fatos na sua velocidade, isto é, a
atenção para não inibir a espontaneidade e, ao mesmo tempo, o planejamento para iniciar as
oficinas de RAP e de poesia. Assim, aproximação, observação e confiança corroboraram para
a criação de um vínculo41
, pois segundo o Relatório Anual da Fundação Criança (1999 apud
BAPTISTA, 2000, p. 87):
O vínculo tem o seu papel preponderante em toda e qualquer ação que objetive
mudanças e transformações, funcionando como o elo de uma corrente que liga os
indivíduos sem prendê-los. Elo flexível que permite renovar os sentimentos e
atitudes grupais e individuais, quebrando preconceitos, impedindo que os rótulos se
tornem permanentes e os papéis fixos.
As oficinas não representaram apenas a produção de letras de RAP e de poesia, mas
também foram espaços de formação de grupo, de sociabilidade e de troca de experiências.
Como trabalhar a relação com os adolescentes, tendo em vista sua baixa escolaridade e até
mesmo as implicações de seu ato infracional? Todos os meus cuidados éticos possibilitaram
que os adolescentes não me vissem como um artista – pois tal relação poderia anular o
propósito da ação –, mas como um profissional que faz uso da arte como mediação e diálogo,
em prol dos objetivos da medida socioeducativa de internação. Tal questão será mais bem
trabalhada no decorrer desse trabalho; porém, de antemão, afirmo que as oficinas, embora não
ofereçam uma metodologia infalível, milagrosa ou sedutora, envolvem o adolescente como
“autor de atos sociais”42
. Dessa forma, as possibilidades de acirrar relações de poder
diminuem.
40
Na minha observação, isso não foi singular. Os adolescentes também se aproximaram de mim e me observaram, antes de depositarem confiança. De acordo com Baptista (2000, p. 87): “Entre educador e adolescente é construída uma situação de inter-relação dialética de reciprocidade, na qual não apenas o educador reflete sobre a conduta do jovem, mas também o jovem analisa o modo de se relacionar do educador.” 41
Outra questão relacionada a esta abordagem é o próprio significado da palavra vínculo: ela vem do latim vinculum, vincire e significa unir, atar. Aqui, para além desse significado, trago esse termo também no sentido da identificação e do sentimento de pertencimento que mantém a relação dos adolescentes com as oficinas que, nessa experiência, proporcionou a responsabilidade e o compromisso em estabelecer trocas e diálogos espontaneamente. Isto é, vinculação que, conforme Batista (2000) não quer dizer homogeneização de papéis (dos educadores e dos adolescentes) por considerar as diferenças e os deveres que há entre eles. Nessa abordagem, ‘vínculo em si com apoio do outro’. Para análise da questão do vínculo busquei também outros autores que discutem essa questão: Frasseto (1999), Gayotto (2000), Heller (1987). 42
Aqui, uso a expressão “autor de atos sociais” para diferenciar e compreender o sujeito – o adolescente – da ação que ele cometeu. O adolescente nunca é o que ele fez ou faz. Quando é visto
44
Ademais, havia adolescentes que apresentavam grandes dificuldades na escrita, mas
que não eram as mesmas no ato de pensar – em algumas situações, a poesia era feita num
diálogo para captar a essência poética, depois é que se inseria o uso do papel e da caneta.
As oficinas foram organizadas de acordo com o planejamento institucional, para não
comprometer os atendimentos, as visitas, os cursos e as aulas dos adolescentes.
Preferencialmente, aconteciam ao entardecer ou no sábado à noite, momento em que eu
percebia que os adolescentes estavam mais sensíveis e inspirados, bem como a necessidade de
realizar atividades que preenchessem esse período institucional. Nessa organização, também
se levou em conta a orientação do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (Sinase):
Oferecer diferentes atividades socioeducativas (esportivas, culturais, de lazer, de
estudos, entre outras) no período entre o entardecer e o recolhimento bem como nos
finais de semanas e feriados evitando sentimentos de isolamento e solidão (Sistema
Nacional de Atendimento Socioeducativo SINASE, 2007, p. 120).
Basicamente, os adolescentes eram comunicados a respeito da realização das oficinas
no momento em que todos estavam presentes. Não havia restrições para participação, mas
havia alguns acordos, que logo descreverei.
Recordo-me que a primeira oficina realizada por mim, em julho de 2007, teve a
participação espontânea de todos os adolescentes que estavam liberados na unidade. Naquele
dia, foram organizadas duas, para que todos pudessem participar.
Como eu já conhecia os adolescentes, e vice-versa, não foi preciso um momento para
apresentação e nem um “quebra gelo”. A minha relação construída anteriormente por meio da
tríade – observação, aproximação e confiança – possibilitou o estabelecimento de um
vínculo43
, que serviu de suporte para o trabalho direto.
Assim, comecei as oficinas perguntando a eles sobre as expectativas de estarem ali e
expliquei sobre a estrutura da oficina e a importância de fazermos alguns combinados básicos
e segui-los, como: respeito ao agir, respeito ao falar e respeito ao ouvir. Isto é, não utilizei a
expressão “é proibido”, deixando claro que as oficinas não eram obrigatórias, porém, exigiam
compromisso, e que as normas institucionais se faziam presentes naquele espaço. O respeito
ao agir referia-se ao bom comportamento e ao cuidado com a sua produção e o respeito com a
produção dos outros adolescentes. O respeito ao falar devia-se ao tratamento com os outros
dessa forma anulamos o seu próprio eu e criamos um terreno fértil para a produção de preconceitos e de estigmas. Assim, “autor de atos sociais” remete à responsabilização e à valorização do sujeito, numa perspectiva transformadora, por meio da socioeducação. (SOARES, 2005, 2011) 43
Importante lembrar a nota de rodapé 41, na página 43.
45
adolescentes e ao respeito ao emitirem opiniões e críticas. E, o respeito ao ouvir referia-se ao
silêncio e à importância de ouvir o outro e a si mesmo.
Esses combinados eram necessários, por se tratar de um contexto institucional e pelo
fato de as oficinas terem o caráter socioeducativo, e nunca foram descumpridos por nenhum
adolescente.
Após a parte introdutória da oficina, iniciei contando a história da cultura Hip Hop, em
relação aos direitos e deveres daquele período, envolvendo também questões relacionadas à
cidadania. Foi um momento muito rico e especial Os adolescentes desconheciam o contexto
histórico do Hip Hop. Um fato marcante ocorreu quando peguei um vinil44
e coloquei para
tocar. A maioria não sabia o que era aquilo: “Como assim?!”; “O que separa uma música da
outra?!”; “Lado A e lado B?!”. Essas foram algumas das indagações feitas por eles naquele
período. Foi um choque saber que o vinil de ontem é o CD de hoje e, ao mesmo tempo,
também foi engraçado para todos nós.
Naquele dia, havia levado alguns equipamentos para mostrar como que uma base é
produzida, como o scratch45
é feito pelo disc-jóquei (DJ) – percebi que o adolescente gosta de
ver de perto aquilo que estamos falando.
Figura 1 – Local onde aconteceu a primeira oficina. Crédito: Daniel Péricles Arruda.
44
O vinil também conhecido como Long Play (LP) é mantido vivo no Brasil, principalmente, pela cultura Hip Hop. Começou a perder espaço para o Compact Disc (CD), a partir da primeira metade da década de 1990. A Polysom, fábrica localizada em Belford Roxo/RJ, é a única da América Latina que ainda produz e comercializa. 45
É o movimento que os DJs fazem com o a mão em cima do vinil, indo para frente e para traz – giro do disco no sentido contrário –, para produzir sons diversificados.
46
Todo material era organizado de acordo com a temática que iria ser trabalhada. Eu
tinha o cuidado de separar as músicas de RAP e de outros estilos, vídeos e livros de poesia,
conforme o perfil do grupo e de acordo com as questões que eram necessárias.
Todas as oficinas exigiam preparação, estratégia, material de trabalho, linguagem
apurada e percepção para que eu pudesse compreender as expressões verbais e atitudinais dos
adolescentes. As oficinas não apontavam como eles deveriam ser ou como eles deveriam
pensar, mas procuravam identificar o quê e como eles pensavam sobre tal temática46
.
Como falar sobre pobreza e violência com aqueles que viveram na pele esses temas?
“Falar de exclusão ao ‘excluído’ é humilhá-lo, um gesto de prepotência interpretativa próprio
de quem pertence ao mundo do mando e não ao mundo do nós e da partilha” (MARTINS,
2002, p. 44). A questão não era falar de, mas refletir sobre tal assunto. Para levá-los à reflexão
era necessária uma linguagem simples, envolvente e respeitosa. As oficinas aconteciam
também em atenção ao momento vivenciado pela unidade47
, por isso era de suma importância
o apoio e o envolvimento de outros profissionais na sua realização.
A formação dos grupos era feita considerando a relação entre eles, pois realizar as
oficinas com adolescentes que estejam em alto nível de conflito entre si poderia acarretar
situações imprevistas e comprometer o funcionamento.48
Era necessário preparar o ambiente em que as oficinas iriam ser trabalhadas: eu
utilizava uma música ambiente para harmonizar e suavizar o clima; afixava a cada oficina
uma frase diferente na entrada da sala para servir-lhes de acolhida e para ser um ponto de
reflexão. Uma das frases que mais contribuiu era do poeta gaucho Mário Quintana: “Às vezes
a gente pensa que está dizendo bobagens e está fazendo poesia.”
46
A título de exemplo, existe um vídeo da BBC Brasil – o qual pode ser visto no site you tube – que mostra o trabalho realizado pelo monge Kansho Tagai que transmite os ensinamentos budistas (sutras), em um templo liderado por ele no centro de Tóquio, por meio do RAP. O monge não conseguia entender as letras de RAP, que eram em inglês. Daí, ele percebeu que o mesmo ocorria com os sutras budistas por causa que a maioria das pessoas não compreendia nada. Por essa razão, o monge começou a realizar trabalhos com jovens mesclando o sutra com termos simples em japonês moderno, por meio do RAP. O monge pretende misturar sapateado com o budismo e pretende aprender a sambar e a fazer o passo de dança moonwalker, de Michael Jackson. Kansho Tagai é uma referência local, onde é chamado de “Senhor Felicidade”. 47
Conhecer e compreender as implicações do ato infracional e o momento vivenciado pela unidade são de suma importância para saber qual temática é mais cabível naquele momento e como se deve trabalhá-la. 48
Não quero dizer que não era possível trabalhar com adolescentes que não conversam um com o outro. Ressalto apenas a atenção às relações tecidas entre os adolescentes e os seus riscos.
47
Figura 2 – Mensagem de entrada da oficina. Crédito: Daniel Péricles Arruda.
Eis aqui, um ponto crucial. O que são bobagens? Naquele contexto, para os
adolescentes, bobagens eram as suas ideias tímidas que estavam guardadas dentro de si;
formas de se protegerem. Por isso que era importante dizer para eles o significado das coisas.
O que é poesia? “Poesia é voar fora da asa”, como diz o poeta Manuel de Barros (2008, p.
21). Poesia é uma forma de ver, de expressar, de sentir e de compreender a vida.
Além do conceito era necessário elevar o seu ao patamar de reflexão. Não era somente
a produção de RAP e de poesia que possibilitaria a superação da alienação do cotidiano
(HELLER, 1972), mas a ambiência em que essas oficinas ocorriam, Essa ambiência era
constituída pela preparação que antecipava as oficinas, mais as discussões que antecediam o
ato de escrever. Nas conversas, surgiam palavras ou frases interessantes, então eu dizia:
“Você viu o que você falou? Escreva isso.” As discussões eram “rios emaranhados de
peixes”, e o meu papel era ajudá-los a jogar a rede, ou ajudá-los a identificar ou a criar o
nome dos peixes.
O momento da apreensão do pensamento não tinha hora certa para acontecer. Havia
adolescentes que apresentavam facilidade para escrever e outros com dificuldades para
escrever ou desenhar, mas sempre demonstravam o desejo de se expressarem49
.
49
A baixa escolaridade não desqualificava a capacidade subjetiva do adolescente em se expressar. Por isso, é necessário desconstruir a ideia de que todos os desenhos feitos de traços fortes e/ou rabiscados são expressões negativas, como, raiva, tristeza, etc. Percebia que muitos desenhos com essas características também eram feitos por falta de habilidade com o lápis, e, até mesmo, por uma razão positiva ao encontrarem prazer em desenhar daquela forma.
48
Figura 3 – Adolescente participando da oficina. Crédito: Patrícia Tavares.
Nesse momento, eles pegavam o papel e a caneta para começar a produzir50
. Era muito
comum ouvir a frase “olha aqui se ‘tá’ errado?”. Havia insegurança, dificuldade de começar e
vários começos apagados, vistos pelas marcas no papel.
Figura 4 – Adolescente participando da oficina. Crédito: Patrícia Tavares.
Manter distância quando o adolescente escreve e manter o mínimo possível de pessoas
acompanhando eram fatores essenciais para a liberdade de criação deles. Ir até a carteira para
ficar olhando o que ele escrevia anularia o movimento espontâneo de sua produção.
50
Dar um papel e um lápis para o adolescente e dizer “escreve aí qualquer coisa” é incompetência de quem ministra as oficinas. Um papel em branco assusta, e muito. Ao contrário do ditado popular, digo que “papel não aceita tudo”. Antes do papel e do lápis é preciso motivos, fundamentos. É importante que o adolescente entenda o que é e para quê são as oficinas, pois pode ficar entendido que as oficinas são “técnicas de obter confissões” e/ou que as poesias que eles produzirem podem servir de provas contra eles. Cabe dizer, também, que nem todas tinham produção escrita, mas produção de ideias e de diálogos. O RAP e a poesia eram formas de apreendê-las.
49
Os adolescentes sentavam enfileirados ou em círculos? Dependia. No início das
oficinas eu percebia que alguns ficavam incomodados ao estarem em círculo, pois todos se
olhavam e dava uma sensação de “vigilância poética” entre eles, ou seja, um ficava olhando
se o outro já tinha começado a escrever, ou se já estava terminando. O círculo ajudava nas
discussões, mas nem sempre nas produções. Isso, na fase inicial. A fila não é, em si, negativa,
como é dito em outros trabalhos em grupo. Nessa experiência, a fila permitia a preservação do
adolescente na fase inicial; depois, podia-se ter acesso a outros tipos de organização: o
círculo, o triângulo, o posicionamento livre.
Havia adolescentes que não sabiam escrever. Nesses casos, faziam desenhos ou até
mesmo improvisos, que eram anotados para não se perderem. Outro ponto comum era o
pedido de ajuda, às vezes, por exemplo, faltava uma palavra para completar o verso. Mas
expressão, ao concluírem, era de felicidade: era como se eles estivessem em outro lugar, isso
porque “a arte é uma representação que nos conduz a uma realidade diferente de nosso
cotidiano” (FREDERICO, 2005, p. 26).
Em geral, aos sábados, à noite, eles socializavam as produções com os demais
adolescentes; era também uma maneira de observar o adolescente expressando a sua obra.
Lembro que a expressão não se baseava apenas nos saraus realizados, mas durante todo o
processo das oficinas, e que o mostrar para o outro não era o foco, mas, sim, mostrar-se a si
mesmo.
De acordo com o consentimento do adolescente, algumas produções serviam de base
para atendimento técnico.
50
Figura 5 – Adolescente participando da oficina. Crédito: Daniel Péricles Arruda.
O espírito das oficinas manteve-se pelos seguintes pontos:
– Se eu ouço músicas que tem a ver com a minha vida, por que eu mesmo não escrevo
sobre a minha própria vida?;
– Não há letras de RAP ou poesias feias, grandes ou pequenas. O que existe são
produções diferentes e formas diferentes de produzir;
– As oficinas não são concursos ou competições para sabermos quem é o melhor. São
espaços de criação, de troca e de conhecimento.
Assim, as oficinas eram tidas como um lugar de pensar a vida a partir dos valores de
cada adolescente. Lugar que, por meio das letras de RAP e de poesia, era possível perceber a
singularidade e a particularidade em seu estado real. As oficinas tinham a ver com o que
Goethe (apud HELLER, 1972) chama de “condução de vida”: nesse caso, está relacionado
com a maneira como adolescente consegue romper com a alienação e orientar-se de maneira
segura e responsável para fazer suas escolhas e, também, com o modo como ele as assumem,
ou seja, “a condução de vida supõe, para cada um, uma vida própria, embora mantendo-se a
estrutura da cotidianidade; cada qual deverá apropriar-se a seu modo da realidade e impor a
ela a marca de sua personalidade” (HELLER, 1972, p. 40).
51
1.6 Procedimentos facilitadores do uso da metodologia
A arte revela ao homem a sua essência. Mas, quem é esse homem capaz de entendê-la,
capaz de afirmar a infinitude das possibilidades genéricas, capaz de reconhecer
a sua própria natureza nos objetos exteriores?
(FREDERICO, 2005, p. 36)
Os procedimentos têm por base os aspectos apresentados no item anterior. Assim,
considero relevante detalhar as dimensões que constituem a “superação da alienação do
cotidiano” no trabalho prático-reflexivo, por meio do RAP e da poesia, com adolescentes em
cumprimento de medida socioeducativa de internação. Dessa forma, para a realização de
oficinas com esse público, apresento as etapas, as quais demandam atenção para a sua
aplicação e apreensão51
. Antes disso, porém, considero necessário realizar algumas
observações a respeito dessa prática.
É importante que o responsável por aplicar essa metodologia tenha um conhecimento
prévio acerca da cultura Hip Hop e da poesia e que conheça antecipadamente os adolescentes
que participarão, ou seja, que procure saber se há relação ou identificação desses adolescentes
com essa cultura e qual é o sentido dela para eles. É interessante também que o responsável
por ministrar as oficinas já tenha uma sensibilidade para essa modalidade de arte. Tais
questões podem ser apreendidas a partir de “sucessivas aproximações” (BAPTISTA, 2006)
com os sujeitos.
Ressalto que o que pretendo com a proposta dessa metodologia não é organizar um
manual prático para formação de rappers ou de poetas, nem construir uma atividade “lúdica”
51
Por favor, amigos e companheiros rappers, poetas e arte-educadores, não pensem que estou apresentando uma forma única de realizar oficinas, ou que essa construção é produto de uma “grande descoberta”, ou que estou fazendo uso dessa arte sem reconhecer e defender as suas origens e o seu aspecto de formação crítica. A utilização dessa arte é uma forma de ampliar seus espaços de atuação e de alcançar os adolescentes e os jovens que as tenham como uma “lupa” para enxergar a vida. O objetivo, aqui, é que essa metodologia sirva de apoio, de referência e de motivação na construção e/ou na complementação de trabalhos de socioeducação, que são realizados por meio da arte.
52
que comece e termine em si52
, mas sim, estruturar um referencial dinâmico, flexível, de
cunho socioeducativo, que ancore a elaboração e a realização de oficinas de RAP e de poesia
– podendo subsidiar também outras modalidades de oficinas, como as de teatro, de percussão,
etc. –, com vistas ao processo de redirecionamento da sociabilidade53
vivenciado pelo
adolescente em medida de privação de liberdade, concomitantemente aos objetivos da medida
socioeducativa de internação.
Em minha experiência pude aprofundar algumas questões com os adolescentes, por
utilizar essa arte – o RAP e a poesia – também nos atendimentos e nas intervenções.
O trabalho por meio das oficinas não deve ser realizado de maneira isolada, mas de
maneira articulada com a unidade e, nesse caso, de forma mais sistematizada e imediata com
algum setor da instituição, por exemplo, a escola.
O interesse pelas oficinas pode surgir de várias formas: mediante solicitação dos
adolescentes – essa via contribui para o avanço de algumas etapas das “sucessivas
aproximações” (BAPTISTA, 2006); mediante proposta externa de algum arte-educador; ou
mediante proposta da própria unidade. Essas vias demandam cuidado no trato de um possível
estranhamento dos adolescentes com as oficinas e/ou com a pessoa que a ministrará.
Após a articulação com a instituição é interessante que o responsável em ministrar as
oficinas seja apresentado aos adolescentes – se possível, não no dia da oficina, mas alguns
dias antes. Na apresentação, é importante que ele fale sobre elas e informe o porquê de serem
realizadas.
Todo o trabalho deve ser planejado, articulado e compartilhado com os profissionais
da unidade, de acordo com os objetivos e as etapas do processo das oficinas. É de suma
importância que todos os profissionais da unidade tenham fácil acesso aos detalhes das
oficinas, que podem (e devem) ser socializados, por meio de um projeto que conste:
apresentação sucinta da oficina; os objetivos; o detalhamento de como e onde serão realizadas
(o local deve ser agendado e/ou combinado com antecedência e deve ser organizado antes da
chegada dos adolescentes); as temáticas; os materiais necessários (papel, lápis, borracha,
52
Peço atenção ao leitor nessa afirmação, pois não quero dizer que não é importante que algum adolescente queira ser rapper ou poeta. A questão é que isso tem que partir dele, no processo natural da oficina. Outra questão é que as oficinas não se baseiam num momento silencioso em que todos ficam “suspensos” em suas ideias. A arte não é contra a gargalhada, o sorriso e o divertimento. A arte precisa também desses três últimos elementos para se constituir. A questão lúdica a que me refiro é que o RAP e a poesia sejam abordados na perspectiva possibilitadora de transformação daqueles que estão envolvidos nela. Pois, de acordo com Netto “a poesia como a arte é uma forma de conhecimento, mas ela pode ser desqualificada” (NETTO – anotação de aula no dia 08 de outubro de 2010). Essa desqualificação pode ocorrer de várias formas, inclusive, pela forma que essa arte é feita e apresentada. 53
Expressão utilizada por Silva Losacco (2004), ao analisar o processo de socioeducação.
53
computador, som, microfone, etc., conforme a necessidade de uso); cronograma, constando os
dias e os horários da realização das oficinas, e com a relação dos nomes dos adolescentes que
participarão e o contato do responsável.
O número de participantes fica a critério de cada responsável por ministrar as oficinas
– sugiro, sobretudo na fase inicial, a formação de grupos pequenos para maior e melhor
liberdade dos participantes e para o conhecimento gradativo de cada adolescente envolvido.
Se possível, a formação dos grupos deve ser construída, orientada pelas ponderações de
profissionais da unidade, que poderão sinalizar, com mais precisão, acerca do perfil dos
adolescentes, as relações existentes entre eles, etc. Tais observações são relevantes, por se
tratar de uma dinâmica institucional complexa, a qual uma pessoa que não conheça o
ambiente, pode estar fadada a assumir uma visão imediata das relações e, sem perceber, de
maneira não intencional, seguir na contramão do trabalho socioeducativo.
Também, as oficinas tanto podem ser construídas a partir de temáticas apresentadas
pelos próprios adolescentes, quanto pelos responsáveis pela unidade, ou ainda por aquele que
irá ministrá-las; isso depende muito do cotidiano institucional, para que as oficinas aconteçam
de maneira segura. Essa construção baseia-se na poesia “O mistério das coisas”, de Junqueira,
(2007, p. 76):
Quando não sei
Onde colocar minha
Existência,
Penso em coisas como
Passarinho,
árvore,
rochedo
rio e mar,
coisas
que amo tanto
e das quais
tenho tanto medo.
você já pegou
um passarinho
na mão?
é incômodo,
é como tocar
o mistério das coisas,
o corpo do bichinho
é quente
e pulsa.
54
A poesia traz questões importantes para a reflexão sobre o trabalho prático-reflexivo,
por meio de oficinas de RAP e de poesia com adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa de internação. De acordo com a indagação poética – “você já pegou um
passarinho na mão?” – é a partir do “toque” que se alcança o “mistério das coisas”. Ou seja, é
pela aproximação crítica que se consegue ver e sentir o adolescente como tal. Nas oficinas, os
adolescentes podem se sentir assustados, da mesma forma como se sentem quando chegam à
unidade para o cumprimento da medida: “É na chegada... é na acolhida... [o adolescente] é
igual um bichinho assustado.” (SOL).
O modo como o adolescente se apresenta ou como se esconde – ou como se apresenta
escondendo ou como se esconde apresentando – não é o mesmo no decorrer do cumprimento
da medida socioeducativa de internação, bem como, não é o mesmo durante as oficinas.
Desse modo, para o desenvolvimento das oficinas, apresento os cinco pontos cruciais
para a sua operacionalização e para a compreensão de suas dimensões e de seus
procedimentos.
1) Ponto de partida: as oficinas podem começar ou acontecerem em um ambiente fora
da sala da aula. Isso vai depender da dinâmica e da estrutura física da unidade. Por exemplo, o
início das oficinas pode se dar numa simples “rodinha” no pátio, em que os adolescentes
cantam ou escutam RAP. Esse é o momento da criatividade e de o arte-educador se articular
com os adolescentes e com os demais profissionais – com os agentes socioeducativos que
ficam mais próximos a eles no pátio.
Não há necessidade de o adolescente produzir no primeiro encontro da oficina, mas é
preciso que ele tenha contato com algo produzido por alguém, ou que veja um trecho de filme
que mostre algo parecido. Aqui, as letras de músicas ou de poesias impressas auxiliam na
discussão, pois a absorção do conteúdo é maior quando se ouve e se lê ao mesmo tempo.
Nessa fase, o adolescente apresenta o RAP ou a poesia de que mais gosta. Assim, ele
já traz algo que é dele, ou seja, apresenta um caminho de acordo com o seu gosto por alguma
música. Logo, o ponto de partida significa que o arte-educador está apreendendo as ideias
primárias dos adolescentes acerca das temáticas que nortearam as oficinas. Trata-se de ideias
comuns, ideias básicas, “bobagens54
”, como dizia Mário Quintana.
2) Distanciamento da partida: é a etapa em que as ideias iniciais começam a se mover,
dando espaço para as novas. Aqui, é possível a apresentação de algo que complemente ou
questione o gosto do adolescente ou o seu próprio entendimento. O questionamento não
54
De acordo com a página 47.
55
significa anular ou a proibir o que ele pensa ou traz, mas fazer um apontamento para o novo,
para algo complementar – tal questionamento se relaciona, de certo modo, com a crítica
marxista, que é uma negação dialética, que perspectiva a superação. É o momento em que se
pode discutir em grupo a letra da música e/ou da poesia, com vistas a analisar a relação dela
com a vida do adolescente. Essa discussão pode ser articulada com histórias, fatos cotidianos
para que este não se torne um momento fechado e possibilite entradas, movimentos e saídas
na discussão, ou seja, uma dinâmica de interação, por meio do diálogo. Essa etapa vai
sinalizar para o surgimento das reflexões.
3) Ponto de chegada: é o ponto máximo da reflexão, ponto de encontro e/ou de
descoberta, no qual o adolescente alcança a “superação da alienação”. Momento em que se
pode ouvir frases do tipo: “Eu não sabia que era assim!”; “Oh! Eu nunca pensei desse jeito”;
ou “Que doido, velho!”.
Seria, provavelmente, a mesma sensação ao ler os textos abaixo e logo descobrir quem
os escreveu:
Amadinha do meu coração, torno a te escrever porque estou sozinho e porque me
cansa ficar dialogando na minha cabeça o tempo todo, sem que tomes conhecimento
disso, sem que possas me ouvir e responder.
Beijo-te dos pés à cabeça, caio de joelhos diante de ti e gemo: amo-a, minha
senhora. De fato, te amo. E te amo mais do que o mouro de Veneza jamais amou55
.
(SCHWERBROCK apud KONDER, 2009, p. 24)
O ponto de chegada é o despertar, é a surpresa. Momento de ter ideias, em que se
assumem posições, e/ou de ter inspiração para produzir e fazer escolhas. Considerando que “o
pensamento é uma operação viva, cujo progresso é real sem ser, entretanto, linear e,
sobretudo, sem nunca estar acabado” (GOLDMANN, 1979, p. 7). Nessa fase de produção e
de escolha, o arte-educador pode se deparar com a seguinte situação: a produção do
adolescente pode conter gírias ou palavrões e suas escolhas podem ser diferentes das
55
Esses trechos são da carta de Marx a Jenny, escrita 21/6/1856.
56
esperadas, ainda que menos alienadas. Como lidar com isso56
, considerando que “nem todos
os sujeitos receptivos possam reagir adequadamente à arte no modo a que nos referimos”
(LUKÁCS, 1978, p. 294). Em minha experiência no Centro de Atendimento ao Adolescente
(Cead), descobri que, geralmente, por traz de cada palavrão tinha alguém ou algo, ou seja, não
se baseava somente no hábito ou no costume. Todo palavrão tinha um significado. Esse era,
portanto, também, o momento de se trabalhar a questão do respeito.
4) Distanciamento da chegada: é o começo do retorno – mas não para o ponto de
partida. Se o adolescente inicia um processo de rompimento com a alienação, dificilmente
retornará ao ponto de partida. Nesse momento, o adolescente começa a escrever ou a desenhar
o que alcançou. Considero essa fase o momento mais íntimo da oficina, pois o adolescente
precisa de privacidade para escrever. Por essa razão, não é aconselhável que o responsável por
ministrar as oficinas e os agentes socioeducativos “vigiem” o que ele está escrevendo. É
preciso ter uma distância física dos adolescentes, para que eles fiquem mais à vontade. A
aproximação é interessante apenas quando solicitada por ele.
5) Ponto de retorno: é quando se expressa a consolidação do que ele aprendeu nesse
percurso. Se, nesse ponto o adolescente for o mesmo do ponto de partida, considera-se que
não houve superação, não aconteceu a volta comentada por Goldmann (1979, p. 21):
Assim, eis-nos aqui, de volta ao ponto de partida: toda grande obra literária ou
artística é expressão de uma visão do mundo, um fenômeno de consciência coletiva
que alcança seu máximo de clareza conceitual ou sensível na consciência do
pensador ou do poeta.
56
Eis a questão: proibir ou não proibir? Como fazer? Mandar apagar? Fingir que não ouviu e/ou viu? Antes de responder a essas questões, pergunto: por que as gírias e os palavrões incomodam tanto quando são falados na música RAP e quando estão em outros estilos musicais, como em Seu Jorge e Ana Carolina, na música Chatterton; em Legião Urbana (Renato Russo), na música Faroeste Caboclo; em Ultraje a Rigor, na música Filha da Puta, por exemplo, não causam incômodo? Em minha experiência, os adolescentes preferiam não colocar palavrões, porque queriam mostrar para a família e para os profissionais da unidade. A questão é interpretar em qual campo que esses palavrões estão, se é no campo do insulto, do desrespeito, da expressão, da indignação. A questão do palavrão talvez seja mais um problema nosso, do que deles, pois quando há preconceito, toda palavra não entendida, toda gíria pode ser classificada como palavrão. Já passei por situações em que o adolescente se referia a uma pessoa que ele não gostava, por meio de um palavrão. Sugiro uma cuidadosa reflexão dessa questão, a partir do filme Voo noturno: o lado selvagem do rap (1992) – não confundir com o filme Voo noturno, de 2005. Em relação às gírias, indico a dissertação de Alves (2008) e a tese de Luz (2007), na qual os autores apresentam gírias e expressões utilizadas pelos jovens da cultura Hip Hop, com os seus devidos significados.
57
No ponto de retorno, a visão do mundo57
expressa na produção e nas escolhas do
adolescente é comparada com a do ponto de partida para evidenciar os resultados do processo,
o qual implica a noção do adolescente.
Em todas as fases mencionadas poderá surgir o silêncio, o que não significa a não
participação do adolescente. O silêncio não pode ser confrontado com um rol de perguntas
para provocar a palavra, por isso, cabe compreender se está no processo de reflexão ou se está
causando ou manifestando um bloqueio – o adolescente não consegue sair do ponto de partida
– ou uma confusão mental causada pelo excesso de informação, o que faz com que o
adolescente se perca no processo – ou pela sua recusa, por considerar que seus valores foram
desrespeitados, não conseguindo, portanto, ter identificação ou aceitação da atividade, o que
poderia ser chamado Pedagogia do Não58
.
Ao término das oficinas é decisão do grupo se desejam ou não mostrar a produção
para as pessoas. Pode acontecer de adolescentes, por terem produzido um conteúdo muito
íntimo, não quererem compartilhar com os outros, seja por questões legais, seja pela ética, e
isso deve ter respeitado.
O momento da apresentação do material produzido fora ou dentro da unidade deve ser
articulado com a instituição e com os adolescentes. As apresentações não devem ser o
objetivo maior e nem o objetivo-fim das oficinas. Pode ocorrer também de as pessoas que
acompanham o desenvolvimento das oficinas, em razão de ansiedade ou de emoção,
anteciparem essa apresentação.
Cabe ao responsável pelas oficinas ter clareza e posicionamento a partir dos cuidados
desse trabalho, pois, primeiramente, o adolescente produz algo dele para ele, depois produz
dele para o outro, o que demanda concordância, preparação e clareza de objetivos, pois “antes
de mais nada o objeto não é um objeto em geral, mas um objeto determinado, que deve ser
consumido de um modo determinado, de um modo mais uma vez mediatizado pela própria
produção” (MARX apud LUKÁCS, 1978, p. 294).
Portanto, minha experiência evidenciou que a tríade observação, aproximação,
confiança é o pilar para a realização de oficinas. No entanto, é importante pensar que esses
57
Para Goldmann (1979, p. 17), a visão do mundo “não é um dado empírico imediato, mas, ao contrário, um instrumento conceitual de trabalho, indispensável para compreender as expressões imediatas do pensamento dos indivíduos”. O autor afirma também que “uma visão de mundo é precisamente esse conjunto de aspirações, de sentimentos e de ideias que reúne os membros de um grupo (mais frequentemente, de uma classe social) e os opõem aos outros grupos.” (GOLDMANN, 1979, p. 20). 58
Inspirei-me nesse termo ao trabalhar com um profissional, há anos, que para tudo o que as pessoas lhe pediam, ele dizia não, sendo que na maioria das vezes, era possível dizer sim. O não era uma defesa para evitar responsabilidade, isto é, evita-se um compromisso negando sua realização.
58
pilares são relativos, na medida em que há que se fazer uma mediação: as características
deverão ir se construindo de acordo com a forma como as oficinas se desenvolvem, uma vez
que:
O pensamento dialético afirma, em compensação, que nunca há pontos de partida
absolutamente certos, nem problemas definitivamente resolvidos; afirma que o
pensamento nunca avança em linha reta, pois toda verdade parcial só assume sua
verdadeira significação por seu lugar no conjunto, da mesma forma que o conjunto
só pode ser conhecido pelo progresso no conhecimento das verdades parciais. A
marcha do conhecimento aparece assim como uma perpétua oscilação entre as partes
e o todo, que se devem se esclarecer mutuamente. (GOLDMANN, 1979, p. 5)
59
Capítulo 2
A RELAÇÃO ATO INFRACIONAL E VIOLÊNCIA
Por favor, não me entendam mal. Não estou elogiando a violência nem mesmo a justificando.
Não pretendo defender a agressão. Desejo apenas compreendê-la.
Não há como mudar uma realidade se não a compreendermos.
(SOARES, 2005, p. 216)
A violência é uma questão permanente na história da humanidade. As suas várias
manifestações estão atreladas à forma de organização de uma sociedade, ao seu período
histórico e aos valores constitutivos na vida social. Porém, a violência não será tratada como
adjetivação, sendo boa ou má, pois há um paradoxo ao refletir sobre ela. Algumas sociedades
ultrapassaram a perspectiva do “olho por olho, dente por dente”. Mas em alguns países ainda
encontramos a pena de morte, ou seja, o uso da violência do Estado para combater a violência
(SOARES, 2011). Assim, a violência caminha entre o “problema” e a “solução”. Práticas
violentas já foram utilizadas como forma de obter confissões e de se pagar por um pecado,
com a intenção de purificação. Homens e mulheres acusados pela igreja católica de feitiçaria
ou de produzirem conhecimentos contra a doutrina eram queimados vivos.
Trata-se, nesse contexto, do princípio do suplício, ou seja, o castigo era remetido à
punição corporal e à pena de morte.
Damiens fora condenado, a 2 de março de 1757, a pedir perdão publicamente diante
da porta principal da Igreja de Paris [...] levado e acompanhado numa carroça, nu, de
camisola, carregando uma tocha de cera acesa de duas libras; [em seguida], na dita
carroça, na praça de Greve, e sobre um patíbulo que aí será erguido, atenazado nos
mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas, sua mão direita segurando a faca com
que cometeu o dito parricídio, queimada com fogo de enxofre, e às partes em que
será atenazado se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e
enxofre derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo será puxado e desmembrado
por quatro cavalos e seus membros e corpo consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas,
e suas cinzas lançadas ao vento. (FOUCAULT, 2009, p. 9).
Nesse caso, uma pessoa foi condenada por ter matado o pai e, consequentemente,
levada e condenada ao “mundo público”. A punição foi exposta em meio aberto para servir de
exemplo à população e o teor sádico incluía todo corpo. Assim, o fim maior da punição é o
término da existência humana de quem cometeu o delito e a sensação de que o castigo
aplicado foi justo. As punições eram vistas como um “espetáculo punitivo”.
Desse modo, chamo a atenção para o fato de que falar sobre violência não implica
assumir um lado ou outro, mas apreender, no tempo, o quê, o para quê e o como.
60
A relação ato infracional e violência demanda a leitura de suas expressões e dos
fatores que o determinaram. Parte significativa dos adolescentes que acompanhei como
assistente social do Centro de Atendimento ao Adolescente (Cead) teve uma trajetória de vida
marcada por diferentes modalidades de violência: a pobreza, o abandono, a fragilidade dos
laços familiares. Por mais que um caso parecesse igual ao outro, eram únicos pelo modo como
cada adolescente vivenciou tais situações.
Lembro-me do caso de um adolescente que tinha vasto histórico de atos cometidos
durante a infância – furto de som de carros, principalmente. Nos atendimentos, ele contava a
sua história de vida e era possível identificar o que vinha antes de suas práticas infracionais;
não busco justificar tais práticas, mas compreender o desenvolvimento de sua história. Em
suma, ele teve uma trajetória marcada pela pobreza e pelo abandono familiar. Devido às
brigas dentro de casa, ele passou o maior tempo de sua infância nas ruas. Nessa convivência,
começou a ser utilizado pelo grupo local para cometer furtos de aparelhos de CD de carros,
por não chamar a atenção, já que era pequeno e magro. Esse envolvimento era permeado pelo
uso de drogas. Um dia, perguntei por quanto ele vendia o aparelho de CD; então, ele me disse
que não vendia, pois o grupo local pedia para ele roubar em troca de um cigarro de maconha.
O adolescente não tinha noção do preço de troca, do valor de ambos os produtos e dos riscos a
que estava exposto. Não se tratava de “criminoso” ou “periculoso”, mas de um adolescente
que encontrou uma forma de sobrevivência básica e de aceitação.
A relação ato infracional e violência não são partes iguais e de encaixe perfeito. Tendo
em vista que os atos infracionais que envolvem pessoas, como homicídio e lesão corporal,
escamoteiam os outros atos infracionais que tratam de “coisas”, por exemplo, a receptação.
Em outras palavras, por serem de maior proporção e envolverem pessoas como vítimas, ficam
evidenciados como os únicos.
O ato infracional não é regado por uma conduta violenta na mesma intensidade e na
mesma intencionalidade. É um risco afirmar que a violência gera ou produz o ato infracional,
por considerar que a prática do ato infracional acaba sendo também uma forma de reação
contra a própria violência. Na verdade: “Não há o problema da violência e nem do crime. Nós
temos múltiplas dinâmicas que merecem elaborações e abordagens muito diferenciadas e
políticas públicas distintas.” (SOARES, 2010)59
.
59
Depoimento colhido no Programa Roda Viva, com Luiz Eduardo Soares em 30/11/2010.
61
O Mapa da Violência 2011: os jovens do Brasil, escrito por Julio Jacobo Waiselfisz60
,
apontou que Belo Horizonte/MG, em 1998, estava em 17o lugar no ordenamento das capitais,
por taxas de homicídio, com o índice de 42,9 assassinatos, em 100 mil, de jovens 15 a 24 anos
de idade. Uma década depois, em 2008, estava em 7o lugar, com o índice de 116,3, por cada
100 mil61
.
A concentração de homicídios está na população juvenil, basicamente na faixa etária
de 15 a 24 anos, que tem se estendido até os 29 anos.
A vítima letal brasileira típica é jovem, do sexo masculino, tem entre 15 e 24 anos
(ainda que o espectro etário se estenda rápida e perigosamente para baixo e para
cima), mora nas vilas, favelas ou periferias das metrópoles e, frequentemente, é
negra. Portanto, ainda que haja tantos casos atingindo membros de outros grupos
sociais e outras faixas etárias, o alvo estatisticamente mais provável da modalidade
mais grave da violência tem idade, cor, sexo, endereço e classe social. (SOARES,
2005, p. 247).
2.1 Violência, invisibilidade e cultura: como entendê-las?
Do rio que tudo arrasta se diz que é violento. Mas ninguém
Diz violentas as margens que o comprimem.
(BERTOLD BRECHT)
De acordo com Baptista (2010):
A violência é um fenômeno social de natureza complexa, que envolve relações de
indivíduos, grupo, classes, nações, e que tem por resultado afetar a integridade
60
Cabe destacar um ponto de suma importância apresentado pelo Mapa da Violência 2012: os novos padrões da violência homicida no Brasil. Apresenta dados estatísticos sobre homicídios no Brasil, nas décadas de 1980 a 2010, e demonstra que morreram mais pessoas, vítimas de homicídio (192.804 e, destes, 147.373 por arma de fogo) do que os outros eventos armados no mundo, mesmo sendo um País em que não há guerra civil e/ou enfrentamentos territoriais, religiosos e étnicos, segundo o Mapa da Violência 2012. “E esses números não podem ser atribuídos às dimensões continentais do Brasil. Países com número de habitantes semelhante ao do Brasil, como Paquistão, com 185 mi habitantes, têm números e taxas bem menores que os nossos. E nem falar da Índia, também elencada, com 1.214 mi de habitantes”. (WAISELFISZ, 2012, p. 21). No Brasil, temos múltiplas manifestações da violência fora de uma situação de conflito entendida como guerra. A banalização e a naturalização dessas múltiplas manifestações alimentam a barbárie social. Nas palavras de Soares (2005, p. 247): “Há um déficit de jovens, entre 15 e 24 anos, na sociedade brasileira – fenômeno que só se verifica nas estruturas demográficas de sociedades que estão em guerra. Portanto, o Brasil vive as consequências de uma guerra ‘inexistente’, mais que qualquer outro, setor social está pagando com a vida o preço dessa tragédia.” 61
O mesmo estudo apontou São Paulo/SP, em 1998, no 6o lugar (122,3) e, em 2008, no 27
o (23,4).
Rio de Janeiro/RJ, em 1998, em 3o (141,1) e, em 2008, 20
o (72,8). Maceió/AL, em 1998, estava em
15o (54,3) e, em 2008, estava em 1
o (251,4).
62
física, moral ou espiritual de pessoas ou de agrupamentos humanos. (BAPTISTA,
2010, p. 1)
Baptista (2010) aborda a diversidade e as formas de expressão da violência,
considerando a violência estrutural, a conjuntural, a institucional e a interpessoal. A autora
considera também as contradições desses vários tipos e as violências resultantes dos conflitos
sociais, que independem do modelo e da formação das classes sociais62
.
Nesse sentido, compreendo os atos infracionais como uma modalidade de violência
que jamais será singular – nenhuma violência é singular. Toda violência envolve
determinações sócio-históricas e questões de ordem concreta e subjetiva na imediaticidade do
fato. E, enfatizar apenas os fatores diretos à prática do ato infracional anula as possibilidades
de apreensão de fatores condicionantes e/ou determinantes:
Em outras palavras, pobreza e desigualdade são e não são condicionantes da
criminalidade, dependendo do tipo de crime, do contexto intersubjetivo e do
horizonte cultural a que nos referirmos. Esse quadro complexo exige políticas
sensíveis às várias dimensões que o compõem. É tempo de aposentar as visões
unilaterais e o voluntarismo. (SOARES, 2002, p. 2)
Entretanto, no cenário desigual vivenciado pelas grandes sociedades como a brasileira,
das práticas da violência a do ato infracional também pode ser pensada como uma forma de
conseguir espaço, acolhida, lugar, ou seja, reconhecimento63
.
Por que a arma de fogo dá a sensação de poder ao adolescente? Quais são os ganhos
obtidos pelo adolescente envolvido com a criminalidade?64
A arma dá sensação de comando, de status e de poder. Com ela, é possível adquirir
dinheiro, respeito e bens materiais. Essas respostas são tidas como regras e conclusões únicas
para todos os casos. Há os que dizem que “a vida do crime é um caminho fácil”65
; no entanto,
a realidade mostra que é o contrário: a vida do crime é difícil e perigosa. Esse modelo de
sociabilidade demanda atenção por onde se anda e sigilo, em caso de ser apreendido pela
polícia ou pego por inimigos, ou seja, um pequeno erro pode custar a própria vida. Isso é vida
62
Soares (2005), ao falar sobre a cultura da paz, afirma que a violência se aprende, assim como se aprende a exercer e guiar-se para a paz. “O senso comum supõe que a violência seja a explosão animal de um fogo interno que arde em nós.” (SOARES, 2005, p. 237). 63
Vide a dissertação de Toledo (2007). 64
Tenho o cuidado de compreender a categoria e o nível de envolvimento do adolescente com a prática infracional, pois há adolescentes que, mesmo cometendo atos infracionais, não apresentam relações com a criminalidade. O seu envolvimento está inserido numa gama de papéis e representações. Para essa reflexão, conferir Zaluar (1994, 2000, 2004, 2008). 65
Sobre essa questão, Soares (2005, p. 218) afirma que “a carreira do crime é uma parceria entre a disposição de alguém para transgredir as normas da sociedade e a disposição da sociedade para não permitir que essa pessoa desista”.
63
fácil? A vida do crime é uma bandeja que nem sempre traz o que o adolescente pediu,
certamente:
Ainda por motivos ilusórios e passageiros, a violência dá prazer, fortalece a auto-
estima, proporciona a fruição do respeito e da admiração que advém do
pertencimento a um grupo, permite o acesso ao desejo das gurias (e dos guris),
garante ingresso na festa hedonista do consumo. Então, cabe-nos criar condições
para que pelo menos as mesmas vantagens possam ser experimentadas no lado de
cá. (SOARES, 2005, p. 241)
A prática do ato infracional seria uma forma de romper a invisibilidade? Não como
generalização, mas como raciocínio analítico e fundamentado, Soares (2005) afirma que a
estigmatização, o preconceito, a indiferença e a negligência são fatores que anulam o
reconhecimento do sujeito tornando-o invisível para o acesso aos direitos e a uma “boa
condição humana”66
.
A invisibilidade não está relacionada diretamente com o ser ou não ser visto, mas com
o modo como se é identificado e se é reconhecido pelo outro. Nessa questão, há distinções
entre o preconceito e a indiferença, na medida em que ambos atuam como anulação da
pessoa; a indiferença negligencia, já o preconceito projeta nela uma imagem não verdadeira e
pré-formada (SOARES, 2005). O que resulta, então, em olhares não acolhedores:
Nós nada somos e valemos nada se não contarmos com o olhar alheio acolhedor, se
não formos vistos, se o olhar do outro não nos recolher e salvar da invisibilidade –
invisibilidade que nos anula e que é sinônimo, portanto, de solidão e
incomunicabilidade, falta de sentido e valor. (SOARES, 2005, p. 206)
A ausência de reconhecimento pode produzir e reproduzir vários sinônimos para a
invisibilidade e antônimos para o reconhecimento pessoal e social. A invisibilidade não é
dada, e quando é, já passou um processo de produção a certo nível; não é singular e nem
única: as suas várias formas corroboram para transformar concretamente a pessoa naquilo que
pensamos erroneamente, ou por convicções próprias de ordem cultural. Porém, “quando não
se é visto e se vê, o mundo o oferece o horizonte, mas furta a presença, aquela presença
verdadeira que depende da interação, da troca, do reconhecimento, da relação humana”
(SOARES, 2006, p. 167).
Para Soares (2005), quando “o menino invisível se arma” é como se conseguisse um
“credenciamento” para existir socialmente e conseguir visibilidade. Muito mais do que um ato
infracional, é um pedido de socorro, uma declaração de condição. Esse adolescente expressa
66
De acordo com Rios (2006, p. 7), “não existe natureza humana – o que existe é a condição humana, que os homens constroem juntos, historicamente. Essa condição humana pode ser boa ou má”.
64
um sentimento que, para o autor, é medo. E, “como aquilo que se prevê é ameaçador, a defesa
antecipada será a agressão ou a fuga, também hostil. Quer dizer, o preconceito arma o medo
que dispara a violência, preventivamente” (SOARES, 2005, p. 175).
É comum noticiários trazerem títulos como: “Menor que matou adolescente no
Juramento se apresenta à polícia”67
. O termo “menor”, mencionado principalmente em fatos
de cunho infracional, reduz a condição do adolescente, ao mesmo tempo em que amplia os
preconceitos e as rotulações. Quem é o menor? Quem é o adolescente?
Rios (2006) chama a atenção para três pontos principais para se compreender a
realidade, consequentemente, os pilares para a o estudo da invisibilidade. O primeiro ponto é
a clareza em relação ao nosso ponto de partida, que são nossos valores e a nossa cultura.
Mesmo com esses pontos de partida, as ideologias e os preconceitos podem distorcer a forma
de enxergar algo ou alguém. O segundo ponto é a profundidade, ou seja, ir além da superfície
das questões, ir além do que as imagens apresentam ser, é o que dizem os filósofos: “sair da
aparência e ir à essência”. O terceiro e último ponto é a abrangência, devido à contradição da
realidade: não isso ou aquilo, mas isso e aquilo – há necessidade de apreender a realidade em
seus diversos ângulos e em perceber múltiplos pontos de vistas de seus atores.
A partir das minhas reflexões, construí um quadro acerca das modalidades de
invisibilidade, com base em Rios (2006), Soares (2005), Sales (2007) e Braga (2004):
Tabela 2 – Modalidades de invisibilidade
Modalidades de Invisibilidade Aspectos
Projetada Construída a partir de estigmas, preconceitos,
indiferença, negligência, humilhação, racismo, etc.
Intencional Quando é sabida a verdade e se tenta anular por
alguma razão.
Estratégica Construída para tirar proveito e/ou vantagem, ou para
criar impressão diversa da realidade mediante alguma
camuflagem.
Naturalizada Qualquer atitude ou comportamento tomado por força
maior de valores pessoais, sociais ou culturais, que
não atraem a pessoa para a existência de um fato.
Oculta Quando só é identificada em uma convivência maior.
Essa invisibilidade se revela na compreensão de nossa
incompreensão acerca das pessoas ou das coisas.
Fonte: Sistematização do autor.
67
Título de uma reportagem publicada em 23 set 2011, às 11h03, no portal O Globo Rio. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/rio/mat/2011/09/23/menor-que-matou-adolescente-no-juramento-se-apresenta-policia-925424800.asp>. Em entrevista, no Programa Roda Viva, de 30/11/2010, Luiz Eduardo Soares enfatiza que “os jornalistas não têm formação para lidar com o crime”. É percebido que a questão criminal – neste estudo, questão infracional –, é abordada como notícia não imparcial e sem fundamento reflexivo.
65
As modalidades de invisibilidade se correlacionam, assim como se correlacionam os
sujeitos que as vivenciam.
É necessário perguntar para quem o adolescente envolvido na criminalidade e/ou autor
de atos infracionais é invisível e quais são os determinantes dessa questão.
É fato que “nós costumamos ignorar os sujeitos que não são como nós, que são os
outros” (RIOS, 2006, p. 6). Nessa perspectiva, cito as pessoas que prestam serviços, os
adolescentes autores de atos infracionais, os egressos do sistema prisional, as pessoas em
situação de rua, e aquelas com algum tipo de deficiência, enfim:
Essas são as pessoas que a gente não vê, que são os outros. São outros eus. Não são
eu, mas são como eu, e é muito difícil admitir essa existência. Porque Narciso acha
feio o que não é espelho. É importante, entretanto, pensar que a nossa identidade é
garantida pelos outros, pela presença da alteridade. Mesmo no espelho mais
cristalino, a imagem que eu tenho de mim é invertida. Quem fala de mim é quem me
vê, quem está na minha frente – é o outro, o alter, aquele que me reconhece. Quando
deixo de reconhecer o outro, nego ao outro a sua identidade. Se não levo em conta a
alteridade, a presença do outro, instalo algo chamado a alienação, porque quando
deixo de reconhecer o outro, nego ao outro a sua identidade. Marx falou da
alienação econômica. Podemos falar numa alienação ética, que é o que ocorre
quando olhamos os outros sem ver, ou quando vemos sem crítica, quando não
reparamos. (RIOS, 2006, p. 7)
Até aqui, foram apresentadas as questões relevantes sobre violência e invisibilidade.
Considero necessária a abordagem da categoria cultura68
, como algo ontológico – ou seja,
como inerente ao ser social –, para apreender e articular com o constructo teórico produzido.
A cultura, produzida e reproduzida numa sociedade, determina (e é determinada) pela
maneira como as pessoas se organizam e constroem as suas relações. Nesse sentido, a cultura
pode ser apreendida nas manifestações do senso comum, pois:
O senso comum é comum não porque seja banal ou mero exterior conhecimento.
Mas porque é conhecimento compartilhado entre os sujeitos da relação social. Nela
o significado a precede, pois é condição de seu estabelecimento e ocorrência. Sem
significado compartilhado não há interação (MARTINS, 2008, p. 54).
Nesse movimento, vejo a cultura como manifestação e ao mesmo tempo como
organização da vida social – ela se manifesta na sua organização e se organiza na sua
manifestação. Há uma modalidade de cultura que é comum e visivelmente reconhecida: são as
68
Cultura, do latim culture, significa “o cuidado disponibilizado ao campo ou ao gado”, surgiu no fim do século 13 para referenciar uma parcela de terra cultivada. No século 16, começa ganhar sentido figurado, podendo fazer referência à cultura de uma faculdade, ou seja, a ação de trabalhar para o seu desenvolvimento. O século 18 é considerado o início de seu sentido moderno (CUCHE, 2002), que teve a filosofia Iluminista como um de seus pilares.
66
manifestações artísticas que se expressam por meio da poesia, da dança, da música, da
pintura, etc. – sendo essa via a que mais chama a atenção aos olhos; porém, não começa e
nem termina aí, pois sendo ontológica, está sempre presente e é processual. Pode-se apreender
a cultura por meio dos hábitos, dos costumes e dos valores de uma sociedade ou de um grupo
social; no entanto, essa apreensão somente se torna concreta, compreendendo-se o seu
movimento real.
De acordo com Abbagnano (1963), o termo cultura, a princípio, possui dois
significados básicos: um refere-se à formação do homem e ao seu desenvolvimento, o outro
diz respeito ao modo de vida e de pensar do homem, sendo, então, produto de sua formação,
que, segundo o autor, é um estágio civilizatório.
Para os gregos, a cultura era um processo de formação do homem, que se realizava por
meio da educação, basicamente das belas artes: a poesia, a filosofia, o discurso, etc. Era o que
diferenciava os homens de todos os outros animais. “Neste sentido, a cultura foi para os
gregos a busca e a realização que o homem fez de si, ou seja, da verdadeira natureza humana”
(ABBAGNANO, 1963, p. 272, tradução minha). Assim, para os gregos, o homem só
conseguia realizar-se por meio dessa busca, de sua vivência em sociedade com a polis – esse
pressuposto tem como fundamento a frase de Aristóteles: “O homem é por natureza um
animal político”.
Nesse perspectiva, para Chauí (2000, p. 61), a filosofia do século 19 “descobre a
Cultura como modo próprio e específico dos seres humanos”. É, pois, por meio da cultura que
os seres humanos existem de maneira diferenciada dos animais: são seres culturais, enquanto
os animais são seres naturais.
Karl Marx (1989) também faz um paralelo entre o homem, “como ser genérico
consciente”, e o animal, que “constrói apenas segundo o padrão e a necessidade da espécie”:
A construção prática de um mundo objetivo, a manipulação da natureza inorgânica é
a confirmação do homem como ser genérico consciente, isto é, ser que considera a
espécie como seu próprio ser ou se tem a si como ser genérico. Sem dúvida, o
animal também produz. Faz ninho, uma habitação, como as abelhas, os castores, as
formigas, etc. Mas só produz o que é estritamente necessário para si ou para as suas
crias; produz apenas numa só direção, ao passo que o homem produz
universalmente; produz unicamente sob a dominação da necessidade física imediata,
enquanto o homem produz quanto se encontra livre da necessidade física e só
produz verdadeiramente na liberdade de tal necessidade; o animal apenas se produz
a si, ao passo que o homem reproduz toda a natureza; o seu produto pertence
imediatamente ao seu corpo físico, enquanto homem é livre perante o seu produto. O
animal constrói apenas segundo o padrão e a necessidade da espécie a que pertence,
ao passo que o homem sabe como produzir de acordo com o padrão de cada espécie
e sabe como aplicar o padrão apropriado ao objeto; deste modo, o homem constrói
também em conformidade com as leis da beleza. (MARX, 1989, p.165)
67
É imediata a identificação do animal com a sua ação vital. Entretanto, o homem parte
da vontade e da consciência, realizando uma “atividade vital consciente” que abre a sua
possibilidade para assumir-se como “ser genérico”, transformando a natureza.
A partir dessas reflexões, assumo, nesta dissertação, como conceito de cultura, o
proposto por Chauí (2000, p. 61):
A cultura é a criação coletiva de idéias, símbolos e valores pelos quais uma
sociedade define para si mesma o bom e o mau, o belo e o feio, o justo e o injusto, o
verdadeiro e o falso, o puro e o impuro, o possível e o impossível, o inevitável e o
casual, o sagrado e o profano, o espaço e o tempo. A Cultura se realiza porque os
humanos são capazes de linguagem, trabalho e relação com o tempo. A Cultura se
manifesta como vida social, como criação das obras de pensamento e de arte, como
vida religiosa e vida política.
Chauí (2000) aponta que, para a filosofia do século 20, não há “a Cultura” como
unidade básica e ampla, mas “culturas diferentes”. Cada uma produz o seu modo de vida, suas
expressões linguísticas, suas relações sociais, conforme o processo político, econômico,
social, geográfico e histórico em que se constitui.
Portanto, essas três categorias – a invisibilidade, a violência e a cultura – não são
fechadas em si. Compartilham entre si e com um conjunto de categorias relacionadas à vida
em sociedade, e podem possibilitar a expressão de categorias ontológicas, bem como de
categorias constituída por processos emergentes, oriundos dessa relação. Percebo que a
identidade70
é das categorias que se evidência por:
[...] torna-se uma “celebração móvel”: formada e transformada continuamente em
relação às formas pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas
culturais que nos rodeiam (HALL, 1987). É definida historicamente, e não
biologicamente. O sujeito assume identidades diferentes em diferentes momentos,
identidades que não são unificadas ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há
identidades contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que
nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. (HALL, 2006, p. 12)
O que posso afirmar, a partir dos estudos realizados, é que os fatores que produzem e
reproduzem a invisibilidade e a violência, compondo uma cultura, não ocorrem apenas em
razão de fatos ocorridos na realidade imediata; existem outros fatores, de ordem maior, que
70
Cf. Hall (2006, 2009), que afirma que a identidade é mutável e que esse processo não tem fim. O autor contrapõe a ideia de que a identidade é única, pois, caso fosse, não seria possível que as pessoas construíssem a sua história, sendo elas as mesmas do nascimento até a morte. Esse pensamento, nas palavras do autor, seria uma “fantasia”. Hall (2006, p. 39) sugere que “[...] em vez de falar da identidade como uma coisa acabada, deveríamos falar de identificação, e vê-la como um processo em andamento.”
68
são determinantes e que resultam da inversão da leitura daquela realidade ou, até mesmo, de
uma cultura de naturalização da violência e da invisibilidade:
Se é assim, o jovem invisível que recorre à arma para pedir socorro e reconquistar
visibilidade, afirmando-se pelo avesso, só pode fazê-lo, porque esta é uma das
hipóteses que nossa sociedade colocou à sua disposição e a cultura sancionou-a.
(SOARES, 2005, p. 240).
2.2 Quem são os adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação?
O adolescente é um viajante que deixou um lugar e ainda não chegou no seguinte.
(LOSACCO, 2010, p. 68)
Segundo o Levantamento Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente
em Conflito com a Lei, de 201071
, havia, naquele ano, 17.703 adolescentes em restrição e
privação de liberdade: na internação, 12.041; na internação provisória, 3.934; e na
semiliberdade, 1.728. Os dados apresentam um aumento, de 763 jovens (4,50%) em
restrição/privação de liberdade, em relação a 2009, que se contrapôs à continuidade da
redução que vinha acontecendo nos anos anteriores.
Figura 6: Gráfico da evolução da privação e da restrição de liberdade no Brasil. Fonte: Secretaria Nacional
dos Direitos Humanos - Levantamento Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito
com a Lei (2010, p. 7).
71
O levantamento foi constituído a partir de dados e informações repassados por gestores estaduais do Sistema Socioeducativo para a Secretaria de Direitos Humanos e Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente.
69
As tabelas abaixo apresentam os dados dos 1.432 adolescentes que foram atendidos
em medida socioeducativa de internação, em Minas Gerais, no ano de 201072
.
Ao término das tabelas que apresentam o índice dos atos infracionais cometidos pelos
adolescentes (Tabela 10) e da sequência de tabelas acerca do uso autodeclarado pelos
adolescentes de substâncias ilícitas e lícitas73
(Tabelas 12 a 19), que são apresentadas em
números relativos – percentuais –, construo uma síntese da conversão dos números relativos
em números reais. Para tanto, foi preciso fazer aproximações numéricas – tendo por base a
somatória real dos sujeitos –, de forma a apresentar os números reais, em vez das
porcentagens. Nas demais tabelas, apresento alguns números reais e os números relativos
entre parênteses.
Tabela 3
Há uma incidência acentuada de adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa de internação, a partir dos 15 anos de idade, 212 (14,8%), indo para 352
(24,6%) aos 16 anos e, alcançando um número maior aos 17 anos, 497 (34,7%), e um declínio
a partir dos 18 anos, 175 (12,2%).
72
A coleta e a elaboração dos dados foram feitas e cedidas para esta pesquisa, pela Diretoria de Gestão da Informação e Pesquisa (DIP), da Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas (Suase), da Secretaria de Estado de Defesa Social de Minas Gerais (Seds). Atualmente, há em MG 17 unidades que executam a medida socioeducativa de internação – algumas delas, situadas no interior, são destinadas também à internação provisória. Em Belo Horizonte estão 6 (seis) destas unidades de internação. 73
Refiro-me ao álcool e ao tabaco que, embora não sejam substâncias ilícitas, o seu consumo e a sua venda são proibidos para pessoas de idade inferior a 18 anos.
70
Tabela 4
Dos 1.432 adolescentes, 1.373 (95,9%) eram do sexo masculino, e 59 (4,1%) do sexo
feminino. A tabela apresenta pouca variação do comparativo nacional, realizado pelo
Levantamento Nacional de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a
Lei, de 2010: naquele estudo, 16.807 (94,94%) dos adolescentes eram do sexo masculino e
896 (5,06 %), do feminino.
Tabela 5
De acordo com a Diretoria de Gestão da Informação e Pesquisa (DIP), da
Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas (Suase), o cálculo foi construído
mediante as informações de renda autodeclaradas pelos adolescentes no momento da acolhida
71
nas unidades. As informações sobre a renda familiar foram divididas pelo número de pessoas
residentes no domicílio, para a elaboração da tabela acima.
Com base nessas informações, constatou-se que mais da metade das famílias, 955
(66,69%) recebiam um per capita de até um salário-mínimo74
. Isso quer dizer que o número
significativo de famílias de adolescentes em privação de liberdade precisava de algum apoio
socioassistencial.
Tabela 6
A tabela mostra que 715 (49,9%) adolescentes não trabalhavam antes de iniciarem o
cumprimento da medida socioeducativa de internação; 505 (35,3%) não sabiam informar e/ou
não responderam; e 212 (14,8%) afirmaram que trabalhavam.
Tabela 7
74
Em 2010, o salário-mínimo era de R$ 510, de acordo com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).
72
No que se refere à raça/cor, índice de maior representatividade, 717 (50,1%)
adolescentes se autodeclararam pardos; 338 (23,6%), brancos; e 294 (20,5%), pretos. A soma
das categorias parda e preta, totaliza 1.003 (70,06%) adolescentes que se autodeclaram
afrodescendentes. É interessante assinalar a baixa incidência de autodeclarados amarelos, 17
(1,2%), e indígenas, 4 (0,3%)75
.
Tabela 8
A maioria dos adolescentes era solteiros: 1.365 (95,33%). O índice de adolescentes
que informaram ser amigados, foi de 39 (2,73%) e que tinham união estável foi de 9 (0,61%).
75
É importante considerar que o contingente de adolescentes negros ou afrodescendentes em cumprimento de medida socioeducativa de internação está relacionado com a formação sócio-histórica do território. Afirmo isso, pois esse perfil de raça/cor varia em cada unidade e em cada região do País; mesmo assim, os adolescentes que se autodeclaram pretos e pardos são a maioria na privação de liberdade. A título de exemplo, a minha percepção, ao visitar uma unidade da Fundação Casa situada em Piracicaba/SP, foi de que a maioria dos adolescentes que estavam internados no momento não eram negros. Para discutir a questão racial, conferir Amaro (2005), Moore (2010), Munanga (2006, 2009), Ribeiro (2004) Sartre (1968) e Silva (1995).
73
Tabela 9
No ensino fundamental, o 6o ano teve a maior concentração de adolescentes, 407
(28,40%); no ensino médio, a maior concentração estava no 1o ano, 51 (3,58%); e, no ensino
superior, o índice foi de 2 (0,12%).
74
Tabela 10
Para subsidiar os estudos dessa tabela, realizei uma classificação da natureza dos atos
infracionais praticados:
75
Tabela 11 – Categorização dos atos infracionais praticados pelos adolescentes atendidos na
medida socioeducativa de internação, em 2010, na Subsecretaria de Atendimento às Medidas
Socioeducativas (Suase)
Categoriasa Porcentagem
Crimes praticados contra o patrimônio
(roubo, furto, tentativa de roubo, latrocínio, dano,
extorsão, receptação, roubo a mão armada)
564 (39,38%)
Crimes praticados contra a pessoa
(homicídio, tentativa de homicídio, lesão corporal,
vias de fato)
390 (27,24%)
Crimes praticados contra a dignidade sexual
(estupro)
19 (1,33%)
Crimes praticados contra a liberdade individual
(ameaça)
16 (1,09%)
Crimes praticados contra a administração pública
(desacato) 1 (0,06%)
Outros ilícitos – lei especial
(tráfico de drogas e posse para uso de drogas –Lei
11.343/2006; posse ou porte ilegal de armas – Lei
10.826/2003)
363 (25,37%)
Outras categorias
(sem informação, outros, descumprimento de
medida, mandado de busca e apreensão)
79 (5,53%)
1.432 (100,00%)
a Utilizo a categoria crime por ser o termo utilizado pelo Código Penal Brasileiro.
Fonte: Sistematização do autor.
Os atos infracional mais praticados pelos adolescentes em cumprimento de medida
socioeducativa de internação foram: roubo, 345 (24,09%); tráfico de drogas, 328 (22,88%); e
homicídio, 235 (16,44%).
Os atos infracionais cometidos contra o patrimônio – roubo, furto, tentativa de roubo,
latrocínio, dano, extorsão, receptação, roubo a mão armada – tiveram o maior índice, com 564
incidências (39,38%). Convém ter clareza que nessa contagem estão incluídos os latrocínios,
que somaram 40 (2,79%), e que são, ao mesmo tempo, infrações contra o patrimônio e contra
a pessoa. Ainda que o latrocínio fosse reclassificado na categoria de infração contra a pessoa,
o índice de infrações contra o patrimônio continuaria a ser maior nessa categorização, com
524 (36,59%).
76
Os atos infracionais cometidos contra a pessoa – homicídio, tentativa de homicídio,
lesão corporal, vias de fato – somaram 390 das incidências (27,24%). Se a essa classificação
forem somados os casos de latrocínio, a sua percentagem subiria para 430 (30,03%).
Os atos infracionais cometidos por alguma prática ilícita (tráfico de drogas, posse ou
porte ilegal de armas, posse de drogas para uso pessoal ) foram de 363 (25,37%). A posse de
drogas para o uso pessoal – ainda que esteja na tabela encaminhada pela instituição –
conforme a Lei 11.343/2006, artigo 2877
(lei que institui o Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas -Sisnad) –, se o consumo pessoal de drogas for comprovado, não pode
ser considerada crime que comporte privação de liberdade.
Nas demais categorias (sem informação, outros, descumprimento de medida, mandato
de busca e apreensão), os índices tiveram um total de 79 (5,53%).
De acordo com a Diretoria de Gestão da Informação e Pesquisa (DIP), da
Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas (Suase), a média do tempo de
cumprimento da medida socioeducativa de internação era de 361 dias.
Tabela 12
O índice de maior representatividade, em relação ao uso autodeclarado de álcool pelos
adolescentes, foi de 848 (59,2%) adolescentes, que afirmaram não fazer uso de álcool. Por
outro lado, 553 (38,6%) autodeclaram que faziam uso.
77
“Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas; II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.”
77
Tabela 13
A maioria dos adolescentes, 829 (57,9%) declarou que fazia uso de tabaco; 573 (40%)
afirmaram que não faziam uso.
Tabela 14
A maioria dos adolescentes, 1.107 (77,3%), autodeclarou que fazia uso de maconha;
enquanto 296 (20,7%) autodeclararam que não faziam.
Tabela 15
78
Ao contrário do que se afirmou em relação ao uso de maconha, 903 (63,05%)
adolescentes autodeclararam que não faziam uso de cocaína, enquanto que 499 (34,83%) se
autodeclaram usuários.
Tabela 16
A autodeclaração do não uso de crack é maior do que a do não uso da cocaína, ou seja,
1.182 (82,52%) disseram não usar crack e 221 (15,41%) adolescentes se autodeclaram
usuários.
Tabela 17
O número de adolescentes que se autodeclararam não usuários de solventes, 1.291
(90,1%), é um pouco superior ao do não uso do crack, 1.182 (82,52%). Dos adolescentes que
autodeclararam fazer uso de solventes, obteve-se o número de 113 (7,9).
79
Tabela 18
Em sequência, 1.381 (96,4%) adolescentes autodeclararam que não faziam uso de
psicofármacos e 23 (1,6%) autodeclararam que sim.
Tabela 19
O número de adolescentes que autodeclararam que não usavam drogas sintéticas foi de
903 (63,1%), enquanto 13 (0,9%) afirmaram usar. O percentual da categoria “sem
informação” também é significativo: 503 (35,1%). Os dados demonstram que o uso de drogas
sintéticas tem menor espaço entre os adolescentes pesquisados, pois mesmo se o índice da
tabela “sem informação” fosse somado ao “sim”, o resultado não teria ultrapassado a
representação maior dessa tabela, que é o “não”.
As tabelas demonstram a atenção da Diretoria de Gestão da Informação e Pesquisa
(DIP), da Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas (Suase), com a questão
das drogas, evidenciada pelo detalhamento específico de cada substância. As tabelas que
apresentaram a autodeclaração, com a maior representatividade de adolescentes que faziam
uso de alguma substância, foram as que trataram do tabaco e da maconha.
80
A autodeclaração de que não faziam uso de crack, nem de solventes, nem de
psicofármacos ou de sintéticos, teve índices significativos; entretanto, o uso autodeclarado de
álcool, mesmo não tendo atingindo a maioria, apresenta o índice expressivo de 553 (38,6%)
adolescentes.
Os dados trazem à luz a importância desse tipo de detalhamento, para a compreensão
da relação do adolescente com a diversidade de drogas, possibilitando um olhar crítico, em
relação ao seu uso, e subsidiando encaminhamentos para o debate com o próprio adolescente
e para o enfrentamento da questão, no contexto da ação socioeducativo.
Tabela 20 – Sistematização de todas as tabelas referentes à autodeclaração do uso de alguma
substância, dos adolescentes atendidos na medida socioeducativa de internação,
em 2010, na Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas (Suase)
Fonte: Sistematização do autor – alguns números são aproximativos, em razão da dificuldade da conversão
imediata de números relativos para números reais.
Esses dados são de suma importância para análise dos adolescentes em cumprimento
de medida socioeducativa de internação, pois parte expressiva desses jovens era oriunda de
um segmento da população em estado de vulnerabilidade pessoal e social. Índices não
SUBSTÂNCIAS NÃO NÃO SABE / NÃO RESPONDEU SEM INFORMAÇÃO SIM TOTAL
Álcool
847 16 16 553 1.432
Tabaco
573
14 16 829 1432
Maconha 296 13 16 1.107
1432
Cocaína
903 15 15 499 1.432
Crack
1.182 15 14 221 1432
Solvente
1.291 14 14 113 1.432
Psicofármacos
1.381 14 14 23 1.432
Sintéticas
903 13 503 13 1.432
81
diferentes puderam ser observados nos anos anteriores, de 2007 a 2009, nas oficinas de RAP e
de poesia que foram realizadas.
De modo geral, o perfil médio do adolescente em cumprimento de medida
socioeducativa de privação de liberdade, no ano de 2010, era o de um adolescente com 16
anos de idade, do sexo masculino, afrodescendente, solteiro, que não trabalhava antes de
iniciar o cumprimento da medida socioeducativa de internação, tendo como escolaridade o 6o
ano do ensino fundamental. De família com renda familiar de até um salário-mínimo per
capita, a principal infração foi contra o patrimônio, e não fazia uso autodeclarado de álcool e,
em relação às substâncias ilícitas, autodeclarava-se usuário de maconha.
Os adolescentes que atendi tinham perfil bastante aproximado àquele feito acima.
Eram atores de uma dinâmica social desigual, uma vez que os adolescentes de segmentos de
classe com melhores condições de vida e com acesso aos direitos sociais, quando cometiam
atos infracionais, raramente chegavam até a medida socioeducativa de privação de liberdade.
Na minha experiência, não atendi nenhum adolescente de segmento de classe que lhes dessem
boas condições de contratação de defesa jurisdicional em relação à prática infracional.
82
Capítulo 3
A PESQUISA: O RAP E A POESIA COMO MEDIADORES DA TEORIA NA
PRÁTICA
O Universo não é uma idéia minha.
A minha idéia do Universo é que é uma idéia minha.
A noite não anoitece pelos meus olhos,
A minha idéia da noite é que anoitece por meus olhos.
Fora de eu pensar e de haver quaisquer pensamentos
A noite anoitece concretamente
E o fulgor das estrelas existe como se tivesse peso.
(ALBERTO CAEIRO, Poemas Inconjuntos)
Após descrever e realizar apontamentos críticos acerca do contexto da ação que
norteou a pesquisa, a apresentação e as peculiaridades do tema desta dissertação, bem como
após discutir as categorias principais que emergiram no processo do trabalho realizado por
meio das oficinas de RAP e de poesia, no terceiro capítulo faço algumas reflexões sobre a
arte, a questão da cultura Hip Hop e de seus elementos; observo o RAP, como discurso
político e conhecimento crítico; e, por fim, analiso a pesquisa e as apreensões obtidas da
relação do adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação e dos
profissionais do Centro de Atendimento ao Adolescente (Cead) com o RAP e a poesia.
3.1 A arte
[...] assim como a música desperta primeiramente o sentido musical do homem,
assim como para o ouvido não musical a mais bela música não tem
nenhum sentido...
(KARL MARX, 2004, p. 110)
De acordo com Frederico (2005), Karl Marx não ignorou os estudos acerca da estética
e da arte78
. Nos Manuscritos Econômico-Filosóficos, de 1844, Marx deixou encalços
relevantes para que se reflita a arte também como objetivação humana.
78
“Em seus anos de formação universitária, junto com o direito e a filosofia, Marx empenhou-se seriamente no estudo da literatura e da estética, tendo acompanhado os cursos de Schlegel sobre literatura antiga. No início de 1842, paralelamente à atividade jornalística, dedicou-se a escrever um Tratado sobre a arte cristã, além de dois ensaios, Sobre a arte religiosa e sobre os românticos.Todo esse material se perdeu, informa Lifshitz que pesquisou os cadernos de leitura nos quais Marx fazia anotações preparatórias e resumos de livros que serviam de base para a redação dos referidos textos.” (FREDERICO, 2005, p. 23).
83
Para Marx, a arte desdobra-se do trabalho, atividades que fazem parte do
desenvolvimento das objetivações materiais e não-materiais e possibilitam ao homem
distinguir-se da natureza, ou seja, transformando-a em seu objeto e modificando-a conforme
as suas demandas vitais. As objetivações não são realizadas mediante processo de
hierarquização, pois apresenta várias formas. A arte, por exemplo, não “supera” o trabalho e
nem vice-versa, isto é, as objetivações não são superáveis entre si. A compreensão de arte, de
Karl Marx, diferencia-se da de Hegel e Feuerbach.
Frederico (2005, p. 25) afirma que, para Hegel,
a arte é, simultaneamente, uma manifestação que torna o Espírito consciente de seus
interesses e um modo através do qual o homem diferencia-se da natureza, situa-se
em face de seu próprio ser, faz-se objeto de contemplação, exterioriza-se desdobra-
se, projeta-se, apresenta-se a si próprio e, assim, toma consciência de si.
Hegel, em sua perspectiva idealista, assinala também que toda arte é portadora de
conteúdo. Para ele, há um sentido da arte na arte que, pelo artista, é posto objetivamente e,
pelo receptor, é aceito de maneira subjetiva.
Feuerbach, que não aceitava o primado do Espírito posto por Hegel, por considerá-lo
alienado e por inverter as condições sociais presentes na realidade, queria “ver a arte como a
manifestação do ser humano verdadeiro, um ser desalienado, absoluto, podendo em tudo
contemplar a sua essência, já que nada mais o separa dela” (FREDERICO, 2005, p. 33). O
autor questiona ainda o caráter abstrato teológico de Hegel, porém, de acordo com Frederico
(2005), o pensamento de Feuerbach, percebido em seus poucos registros sobre a arte,
apresenta-se contraditório e ambíguo quando deseja superar o constructo hegeliano.
A arte, em Karl Marx, também contraria as análises postas por Hegel,
compreendendo-a como atividade humana essencial, uma “manifestação das forças essenciais
do homem” – atividade objetivada de maneira concreta – e não como “manifestação do
Espírito”, como intuição sensível do homem (FREDERICO, 2005).
Há também críticas em Karl Marx, em relação ao pensamento de Feuerbach, pois:
Em Feuerbach, a arte exprime diretamente a essência humana ao torná-la
reconhecível para o homem, liberta da alienação. E como o homem é um ser natural,
ele também se reconhece nas estrelas, no sol, nas plantas, etc. Para Marx, ao
contrário, não há lugar para a contemplação desinteressada do belo natural onde
cintilaria a própria essência humana, pois os sentidos, embora tenham um
fundamento natural, conheceram um longo desenvolvimento social e, através dele,
diferenciaram-se especialmente da natureza. As objetivações humanas, criando
ininterruptamente novos objetos, humanizam não só os sentidos como também a
própria natureza. (FREDERICO, 2005, p. 46)
84
Dessa maneira, para Marx, as objetivações humanas estão ligadas ao processo de
autoformação do homem e às transformações oriundas das relações sócio-históricas. Marx
(apud FREDERICO, 2005) afirmava que a arte é uma dimensão do homem, por ser essencial
para a “emancipação dos sentidos”. A arte, como práxis, expressa um movimento de
superação contra alienação, em busca da “verdade sensível”, e é:
Entendida como afirmação ontológica, forma específica de objetivação do ser social.
A arte surge na história como um desdobramento do trabalho, uma ação que dá
continuidade à autoformação do homem. A referência última para se compreender a
arte é o processo de autodesenvolvimento do gênero humano, com seus avanços e
recuos, e não as diferentes formas de expressão das classes e grupos sociais
centradas no “sujeito transindividual”79
. (FREDERICO, 2006, p. 54)
Nessa perspectiva, compreendo a arte como ação ontológica legitimada do ser social,
com seus movimentos reiterativos – avanços e recuos –, que fazem parte do processo de
autoformação do gênero humano. Essa compreensão tem por base a forma como a arte é
apresentada por Heller (1972), Lukács (1978) e Frederico (2005 e 2006): como uma das
objetivações que podem superar e romper as alienações da cotidianidade.
3.2 A cultura Hip Hop
Somos mentes evoluídas do verde e amarelo/
Somos quadros bem pintados por um artista cego.
(THAÍDE & DJ HUM – Soul do Hip Hop)
As raízes da cultura Hip Hop, ao contrário do que muitos pensam e afirmam,
germinaram na Jamaica. A história desse país é semelhante a do Brasil: foi colonizada por
europeus; sofreu com o genocídio dos nativos (os índios arawak); foi rota de tráfico de
africanos escravizados e construída pela mão de obra escrava; os africanos escravizados não
tiveram apoio e/ou não foram ressarcidos após a abolição; e, finalmente, passou por crises
políticas, econômicas e sociais em seu processo de independência.
Nas primeiras décadas do século 20, em razão do contexto de desigualdade social e de
precárias condições de vida, jovens jamaicanos encontraram na música uma forma de
79
A análise cuidadosa dessa categoria encontra-se em Goldmann (1972, p. 79-100).
85
contestação de suas vidas cotidiana. Chamados também de rude boys, tinham a música como
uma
Criação de canções que discorriam sobre o próprio cotidiano era uma das únicas das
opções para esses rapazes, que tinham geralmente uma vida de muito risco e,
geralmente, bastante curta, no trânsito entre a miséria e a violência. Para um rude, a
única maneira de ser livre dos bairros de West Kingston era um single de sucesso ou
um tiro da polícia. (LINDOLFO FILHO apud SOUZA, 2011, p. 59)
Em 1960, jovens jamaicanos promoviam festas em comunidades, onde foi possível
construir uma referência de encontros e de manifestações por meio de versos e de improvisos
feitos sob o som dos toca-discos (pick-ups). As festas também aconteciam nas ruas com a
sonorização do sound system, sistema sonoro em que se tocava reggae e outros estilos de
música jamaicana.
A técnica conhecida como toast, baseava-se no modo falado de cantar, na forma de se
expressar, de narrar os fatos cotidianos e de fazer crítica. Essa narrativa oral é uma herança
cultural, de matriz africana, a qual era realizada pelos chamados griots africanos. “Na África
ocidental, os trovadores (griots) eram os guardiões da história cultural. Sua canção folclórica
falada deu origem às artes verbais nos Estados Unidos.” (NATIONAL GEOGRAPHIC, 2007,
p. 68, tradução minha).
Foi a influência dessa cultura que, no fim dos anos de 1960 e 1970, com a migração de
jovens jamaicanos para os Estados Unidos, carreou mais força para a formação da cultura Hip
Hop.
Clive Campbell – mais conhecido como DJ Kool Herc81
– é reconhecido como um dos
precursores da cultura Hip Hop. Levou para Nova York/EUA as técnicas utilizadas na
Jamaica, apropriando-se, consequentemente, dos estilos musicais afrodescendentes daquela
época.
Segundo Herschmann (2005, p. 21), foram Kool Herc e, seu discípulo, Grand Master
Flash, que:
começaram a dar festas no gueto do Bronx (NY), utilizando-se de técnicas que
posteriormente se tornariam fundamentais para este tipo de música eletrônica.
Dentre essas técnicas, eles introduziram os sounds system, mixadores, scratch e os
repentes eletrônicos, que ficaram posteriormente conhecidos como raps.
81
Nasceu em Kingston, na Jamaica e imigrou para os Estados Unidos em 1967, quando tinha 12 anos de idade.
86
Por essa razão, Kevin Donavan82
, conhecido como Áfrika Bambaataa, aperfeiçoou a
técnica trazida pelo DJ Kool Herc e, em 12 de novembro de 1973, fundou a Zulu Nation83
.
Um ano depois, em 12 de novembro de 1974, Áfrika Bambaataa, DJ Kool Herc, DJ Grand
Master Flash e DJ Grand Wizard Theodore legitimaram as ações desenvolvidas por essa arte,
que recebeu o nome de Hip Hop.
Figura 7 – King Nino Brown e Áfrika Bambaataa, na Casa do Hip Hop de
Diadema/SP, em 2003. Crédito: arquivo pessoal de King Nino
Brown
O cenário, entre 1960 e 1970, foi marcado por um período de várias manifestações da
população negra norte-americana sobre os direitos civis. Momento em que os enfrentamentos
82
Nasceu no dia 10 de abril de 1960, no bairro do Bronx, Nova York. De acordo com a Revista Da Rua, “com apenas 10 anos de idade Kevin Donovan [Áfrika Bambaataa] era líder de uma gangue chamada Black Spades e já tocava em festas caseiras. Aos 13, conheceu um sujeito que também seria um pioneiro da cultura Hip Hop, o DJ Kool Herc. Quando viu Kool Herc andando com a primeira pick-up [toca-disco] (aquela mala metálica em que o DJ leva seus toca-discos), que se tem notícia, debaixo do braço, e discotecando a música de James Brown de uma forma totalmente diferente, quebrada em breakbeats, pedaços que se repetiam, o tal do Kevin se entusiasmou tanto que largou a gangue e decidiu que ali estava seu futuro. Desde essa época, o moleque gostava de estudar a história da África, fuçou tanto que descobriu nos livros um chefe Zulu do século XIX e se batizou com o nome dele: Áfrika Bambaataa”. (REVISTA DA RUA, n. 5, p. 25) 83
Segundo informações de King Nino Brown, “a Zulu Nation é uma organização que existe em vários países e luta pela divulgação e fortalecimento da cultura Hip Hop. No Brasil, Nino Brown iniciou as articulações com a Zulu Nation em março de 1994. Após anos de pesquisas e de estudos, ele foi batizado como King Nino Brown, por Áfrika Bambaataa, e, em junho de 2002, a Zulu Nation Brasil se torna uma organização não governamental (ONG). Criada a partir da necessidade de organizar as atividades de seus membros, todos ligados à cultura negra e ao movimento Hip Hop, privilegia ações sociopolíticas e culturais, com a juventude de periferia, em especial a mais carente e em situação de vulnerabilidade. A Zulu Nation Brasil divulga a missão da Zulu Nation, por meio de oficinas socioculturais, palestras, seminários nacionais e internacionais (Europa), encontros de jovens, eventos realizados em escolas nos centros culturais, núcleos habitacionais municipais da capital paulistana, e em outras cidades e estados do Brasil. Os membros da Zulu Nation Brasil possuem representação em dez capitais no País; são jovens que sempre estiveram na cultura Hip Hop”.
87
e as manifestações foram acirrados contras as leis de segregação e que os estilos musicais
afrodescendentes norte-americanos eram constituídos pelo jazz, o soul e o funky.
O jazz surgiu nas primeiras décadas do século 20 (TELLA apud ANDRADE, 1999) e
expressou toda a conjuntura dos conflitos raciais vivenciados nos Estados Unidos. Esse estilo
musical foi formado pelos seguintes elementos:
Os ritmos sincopados, as improvisações de ragtime e o blues propiciaram a
formação do jazz, música baseada em um conjunto de vários instrumentos, com os
quais as pessoas podiam dançar. Os estilos posteriores afastaram-se das estruturas
tradicionais de acordes, melodias e ritmos.84
(NATIONAL GEOGRAPHIC, 2007, p.
69, tradução minha).
O soul85
surgiu no fim da década 1950 e foi criado a partir da mescla do estilo gospel,
dos afrodescendentes norte-americanos, com o rhythm and blues, também conhecido como
(R&B). Esse estilo musical também entoou a resistência e a luta dos afrodescendentes para a
legitimação de seus direitos civis, e teve o mestre James Brown como uma de suas principais
referências.
Já o funky86
surgiu no fim da década de 1960 e passou por um processo de mudança de
status, ou seja, de um caráter negativo em relação ao sentido do termo, para um caráter
positivo, relacionando-se ao “orgulho de ser negro”. Alguns autores afirmam que, nesse
período, houve uma fase em que o soul teria perdido o seu alto papel questionador “virando
mais um rótulo comercial” (TELLA. In: ANDRADE, 1999, 57).
O funk radicalizava suas propostas e empregava ritmos mais pesados e arranjos mais
agressivos, na tentativa de extrair toda a influência branca, refletindo na não
aceitação destes como parceiros musicais. Esse era um novo momento, uma
afirmação da música e do músico negro na sociedade norte-americana.
84
Entre tantos, cito algumas referências do jazz: The Modern Jazz Quarter, Miles Davis, Lee Morgan, Billie Holiday, Nina Simone, Sarah Vaughan. 85
Soul significa “alma”, de acordo com a Revista National Geographic (2007). O contexto musical vivenciado pelo soul propiciou a construção de várias gravadoras em Detroit, Memphis e Filadelfia. Outra referência desse estilo foi Ray Charles; o filme Ray (2004), baseado na história desse artista, ilustra bem o período. 86
Herschmann afirma que, apesar das leituras mais favoráveis, os sentidos atribuídos aos termos funk e funky guardam ainda certa ambiguidade. Segundo o dicionário Novo Michaelis (1994, p. 449 apud HERSCHMANN, 2005, p. 31): “Funk – medo, susto, pânico, pavor; 2. Medroso, covarde, ter medo de, temer; 2 aterrorizar, assustar, intimidar; 3. Evitar, esquivar-se, fugir de, escolher-se, acovardar-se; Funky – música de estilo e sentimento simples e rústico. Na gíria – batuta, bom” . É importante chamar a atenção para que não se confunda o funky daquele período (o funky de raiz), do qual cito como referência Sly Stone, Earth, Wind & Fire, The Ohio Players, Kool & The Gang, George Clinton, Bar-Kays, entre outros, com o funky brasileiro atual, que, na verdade é Miami Bass. Ou seja, aqui no Brasil, houve a mudança do conteúdo, com a permanência do nome.
88
Em suma, esses foram os principais estilos que buscavam uma transformação por meio
da arte, do protesto cantado. Nessa conjuntura, os Estados Unidos tinham altos índices de
violência e de tráfico de drogas e os jovens moradores de comunidades eram os mais afetados
com essa questão.
Conforme Keys (apud SILVA, 1999, p. 27), “o termo hip-hop está associado aos
movimentos da forma popular de dançar, que envolvia movimentos como saltar (hip) e
movimentar os quadris (hop).” (SILVA. In: ANDRADE, 1999, p.27).
Aparentemente, o significado da palavra representa um sentido festivo e simples,
porém, em sua essência, traz um traço contundente de críticas, denúncia e manifestações, de
cunho social, político e cultural, apresentado por alguns grupos de RAP87
.
A cultura Hip Hop é constituída pelos seguintes elementos:
O DJ (Disc-Jóquei) desempenha o controle sonoro e/ou desempenha performances,
por exemplo: o scratch, que é o movimento realizado com a mão em cima do vinil – para
frente e para traz –, girando o disco no sentido contrário, para produzir sons diversificados; e
o back to back, manuseio com dois vinis ao mesmo tempo, um em cada toca-disco (pick-up),
utilizando algum trecho do instrumental; ou breakbeat, parte cantada pelo rapper/cantor, a
fim de montar a letra e com a repetição, ou a sequência da batida, criando grooves ou loops.
De maneira geral, os DJs utilizam os toca-discos (pick-ups), fones de ouvidos e mixer
– misturador de sons –, aparelho em que os DJs conectam os demais equipamentos. Assim, “a
sobreposição de músicas que têm andamento, ritmo e tonalidades diferentes. Nas mãos dos
DJs tais equipamentos transformam-se, verdadeiramente, em instrumentos musicais”
(AZEVEDO; SILVA. In: ANDRADE, 1999, p. 79).
Com mais frequência, na cultura Hip Hop, os DJs utilizam o vinil para a realização de
suas performances, mas também há DJs de/em outros estilos musicais. O DJ pode realizar
várias funções: fazer parte de um grupo de RAP específico; trabalhar como freelancer em
diversos grupos de RAP; tocar em eventos; realizar performances em campeonatos; ser DJ e
produtor musical; dentre outras.
87
Como exemplo, cito alguns grupos de RAP norte-americanos: na costa leste, Run-DMC, LL Cool J, Boogie Down Productions, Salt-n-Pepa, Beastie Boys, Public Enemy, De La Soul, A Tribe Called Quest, Queen Latifah, Wu-Tang Clan, Notorius B.I.G, Missy Elliott, Jay-Z, Nas, Sean Combs, The Roots e The Fugees; e na costa oeste, Ice-T, NWA, Tupac Shakur, Dr. Dre e Snoop Doogg.
89
Figura 8 – DJ ACoisa, em plena performance. Crédito: arquivo pessoal do DJ ACoisa.
Figura 9 – DJ Erick 12, em seu estúdio88. Crédito: arquivo pessoal de Erick 12
O MC (Master of Ceremony – mestre de cerimônia), também chamado de rapper, é
aquele que geralmente compõe e canta o RAP. Tem como principal instrumento a linguagem,
acompanhada de sua capacidade crítica de composição, por meio dos versos e das rimas.
88
Erick 12 é um dos DJs mais conceituados no cenário do RAP nacional brasileiro. Foi DJ e produtor durante sete anos, de um dos principais grupos de RAP no Brasil, Facção Central. Este grupo foi o mais citado pelos adolescentes durante as oficinas e, principalmente, nas entrevistas realizadas para este trabalho. Erick 12 exerce várias atividades na cultura Hip Hop, além de DJ e produtor musical, também é MC e produtor de videoclipes.
90
O MC também pode fazer uso de outras habilidades, como a declamação de versos, o
discurso reflexivo sobre algumas questões e a arte de improvisar versos, conhecido como
freestyle, modalidade que se refere à batalha entre dois ou mais MCs. Nela, estipula-se um
tempo para que possam duelar, elaborando, na hora, versos e rimas de ataque ao(s) seu(s)
oponente(s)89
.
O RAP envolve não somente a questão do canto, mas também o poder que o rapper
tem de expressar o que sente e/ou pensa, por meio das letras e, até mesmo, do posicionamento
de seu corpo, cujos movimentos parecem de enfrentamento, isso por utilizarem a linguagem
corporal e facial, em que criam expressões corpóreas, por meio de vários gestos com as mãos,
do balançar do corpo, etc.
Figura 10 – Rapper Moyses, do grupo A 286, durante show. Crédito: arquivo pessoal de Moyses.
O breaking90
é uma modalidade de dança realizada pelos B. Boys ou B. Girls por meio
de vários passos, como o top rock (que é a entrada na roda de dança); o footwork (conhecido
como sapateado); e o freeze (que é o encerramento da dança). São movimentos precisos,
89
No filme 8 Mile: rua das ilusões (2002), dirigido por Curtis Hanson, Jimmy “Rabbit” – interpretado por Eminem – é um jovem rapper branco, que sonha conseguir um espaço no mundo do RAP. Ele reside em um bairro majoritariamente de negros – Warren, no norte da cidade de Detroit, em Michigan/USA. Rabbit tem como desafios superar as brigas entre as gangues, os preconceitos e os conflitos familiares. O documentário The MC: why we do it aborda distinções entre ser MC e rapper, porém não aprofundarei, aqui, essa questão. 90
Modalidade de dança também chamada de B. Boying.
91
envolventes e muito expressivos, numa articulação entre powermoves – movimentos
acrobáticos de força –, no tempo certo do breakbeat.
Nessa modalidade da cultura Hip Hop, “a palavra transforma-se em movimentos, em
mobilidades dos corpos: velocidades, gingas e saltos que, por meio da dança, constituem um
território de existência minimamente consciente.” (SANTOS, 2009, p. 39).
Figura 11 – B.Boy Alan, em plena performance. Crédito: Daniel Péricles Arruda (Casa
do Hip Hop, em Diadema/SP). Data: 27/11/2010.
O graffiti é a arte visual expressa por meio de desenhos e de letras em vários formatos,
produzidos com spray, principalmente em viadutos, muros e trens. É marcada por técnicas e
criatividade em sua produção.
Durante muitos anos, o graffiti foi visto de maneira preconceituosa e negativa pela
sociedade. Hoje, percebo um avanço nessa questão, na medida em que conseguiu elevar-se ao
patamar da arte – não que antes não fosse –, mas as suas dimensões próprias possibilitaram
romper preconceitos e despertar a atenção e o interesse das pessoas91
.
Historicamente, os desenhos feitos nas cavernas ou as imagens feitas pelos maias,
incas e astecas podem ser tidos como referências do graffiti: “O ‘carvão’ de antes é o spray de
hoje”.
91
Cf. o filme Basquiat: traços de uma vida (1996).
92
Figura 12 – Graffiti feito por Vespa, representando o rapper Sabotage, na Casa do Hip
Hop, em Diadema/SP. Crédito: Vespa. Data: 27/11/2010.
O conhecimento é um elemento que apresenta várias interpretações na cultura Hip
Hop. Uns defendem sua especificidade, por acreditar que ele representa a busca da raiz
histórica da cultura Hip Hop, na perspectiva de manifestação política e cultural. Outros
acreditam que se expressa de maneira mais intensa e contundente, por meio da literatura
marginal – modalidade literária produzida pelos poetas e escritores que são da periferia ou
que abordam temáticas oriundas dela. Há quem afirme que o conhecimento já está em todos
os outros quatro elementos, por isso, não há necessidade de se criar mais um.
Nas palavras de Áfrika Bambaataa, “muita gente se concentra apenas nos quatro
elementos do Hip Hop, mas muitos vão atrás do quinto elemento, o conhecimento.”93
Nesse contexto, o racismo, a pobreza e a violência já eram a tríade da realidade de
muitas periferias das grandes cidades. A cultura Hip Hop foi abraçada pelos jovens, negros e
moradores das periferias como forma de protesto e resistência. Uma identificação firmada
pela linguagem e pela capacidade elaboradora de construir discursos e práticas tidas como
revolucionárias contra o sistema94
.
93
Resposta dada, em entrevista à Revista Da Rua, ao ser indagado sobre o porquê ele defende a tese de que a história deve ser recontada, principalmente, a africana. (REVISTA DA RUA, n. 5, p. 25) 94
O sistema, muitas vezes mencionado pelos rappers, refere-se ao sistema capitalista e seus mecanismos, os quais produzem a desigualdade social.
93
Foi essa a cultura que chegou ao Brasil, no início da década de 1980, sob forte
influência dos filmes Fame (1980), Flashdance (1983), Wild Style (1983), Beat Streat (1984)
e Break (1984)95
e que possui como referência mais forte, a cidade de São Paulo96
.
Na cidade de São Paulo, no início da década de 1980, jovens oriundos da periferia
encontraram na dança – breaking – uma forma de criarem a sua “cultura de rua”. Nesse
período, havia encontros de dança na Praça da Sé, na Praça Ramos, mas o lugar que realmente
fincou raízes foi na Rua 24 de Maio, em 1984. Foi na Estação de Metrô São Bento que
surgiram as crews de breaking: Nação Zulu, Crazy Crew, Street Warriors e Back Spin Kings.
Havia ainda outros grupos de expressão, como: Eletric Boogies, Dragon Breakes, Búffalo
Girls e Jabaquara Break. Cito também os grupos Black Juniors, que participavam de
programas de televisão, e Funky & Cia, do qual Nelson Triunfo e King Nino Brown faziam
parte. Esses estão entre as principais pessoas que mais divulgaram a cultura Hip Hop pelo
Brasil. Nesse período, na Rede Record, havia dois concursos, um de break e outro chamado
Michael Jackson; e no programa do Gugu, no SBT, o Viva a Noite, trazia o concurso de funky
original.
Referência em todo País, a cultura Hip Hop da cidade de São Paulo mostrou-se aos
jovens paulistanos como expressão do sentimento de pertencimento, de possibilidades reais de
transformação e de manifestação.
Foi em São Paulo que surgiram rappers e grupos de RAP, como Consciência Humana,
Potencial 3, Pavilhão 9, Código 13, RPW, Dina Di, Sharylaine, Cris Lady RAP, Thaide & DJ
Hum97
, DMN, RZO, Sabotage, Racionais MC’s, Facção Central, entre vários outros.
Os dois últimos grupos citados eram os mais ouvidos pelos adolescentes com os quais
trabalhei no Centro de Atendimento ao Adolescente (Cead). Um fato interessante é que Belo
Horizonte e Região Metropolitana possuem vários grupos de RAP, mas eles não eram
mencionados pelos adolescentes. Por que isso acontecia?
De acordo com Dayrell (2005)98
, a cultura Hip Hop de Belo Horizonte não se
constituiu da mesma forma que a de São Paulo. O autor apresenta o depoimento do rapper
Zero, do grupo Face Oculta:
95
Há uma série de filmes mais recentes que abordam essa questão, como No Balanço do Amor (2001). O filme Fame (1980) foi adaptado em 2010, com o título em português, Fama. 96
No documentário Nos tempos da São Bento, o rapper GOG afirma que “o Hip Hop não nasceu em São Paulo. Ele ‘pipocou’ no País inteiro”. Há no RAP nacional brasileiro uma diversidade de estilos que envolvem traços característicos de cada região. 97
A dupla foi desfeita há alguns anos, mas ambos continuam a realizar os seus respectivos trabalhos. O rapper Thaíde é um dos apresentadores do programa A Liga, exibido na emissora Bandeirantes. 98
Dayrell (2005) faz um estudo pertinente sobre a história e o desenvolvimento da cultura Hip Hop, em Belo Horizonte/MG.
94
Aqui em BH o pessoal das antigas não levou o RAP pra periferia. Eles fez tudo
errado, trabalhou visando grana, e o hip hop não é assim não. O que houve lá fora:
eles levaram o hip hop para o povo, para as escolas, aquele lance de conscientizar as
mães para que elas não se preocupem quando o filho estiver naquela, até nos
presídios eles levaram. Se eles tivessem trabalhando na época, hoje a gente tava aí
colhendo... (DAYRELL, 2005, p.57)
Não pretendo aprofundar a questão, embora seja importante, mas é necessário refletir
acerca do desenvolvimento da cultura local, no próprio local, e as condições materiais que
estavam existentes no seu processo de produção. A identificação dos adolescentes com os
quais trabalhei, em Belo Horizonte, com o RAP paulista não é diferente da dos próprios
jovens que promoviam a cultura Hip Hop em Belo Horizonte, que, por diversas dificuldades,
vivenciadas naquele contexto
[...] não perceberam que o público potencial que poderia lhes dar uma base de
sustentação era exatamente aquele da periferia. Nessa fase, o discurso de denúncia
dos rappers não foi acompanhado por qualquer ação concreta nos bairros ou nos
movimentos comunitários e políticos, a não ser, por iniciativas isoladas.
(DAYRELL, 2005, p. 57)
Atualmente, o cenário da cultura Hip Hop, de Belo Horizonte e Região Metropolitana,
vem demonstrando avanços significativos, por meio de atividades – Duelo de MCs, Palco Hip
Hop, Cidade Hip Hop, entre outros –, pela articulação da cultura Hip Hop com outros setores
da sociedade, bem como por meio de vários grupos de RAP de Belo Horizonte e Região
Metropolitana, como Flávio Renegado, Das Quebradas, Verdade Seja Dita, CDR
Trincaments, Dokttor Bhu e Shabê, S.O.S Periferia (Santa Luzia), Raça de MC’s, (Betim).
Cito os grupos Black Soul e Retrato Radical como os ícones da história da cultura Hip Hop,
em Belo Horizonte.
Portanto, a partir disso, faço algumas indagações sobre os últimos anos, quando se
formaram vários grupos de RAP, que produzem CDs, camisas, videoclipes. Quem são os
consumidores da cultura Hip Hop? Quais são os principais motivos que fazem com que essa
cultura seja assumida por um determinado grupo da sociedade? São manifestações da cultura
Hip Hop que se tornam produto, mercadoria. Isso significa que esse movimento se rendeu ao
valor de troca e não mais ao de uso? Ou podemos afirmar que o Hip Hop manteve seu
discurso e sua filosofia e, por desenvolver-se em um mundo capitalista, vende seu produto,
mas não vende sua alma?
95
3.3 O RAP e a poesia como discurso político e conhecimento crítico
"A terra começou a tremer.
É só musica urbana,
mas se eu for pegar na enxada
não tem ninguém para rimar"
A rima tem urgência, o caso é complicado
Tem que ser certeira, não pode errar o alvo
A rima denuncia e sacrifica,
O que a lei do homem não entende e santifica
Ora rica, ora pobre, ora vibra, ora sofre
E a rima é muito mais que a tinta e o pergaminho
Errou quem comparou seu teor ao do vinho
Pra quem sente frio é cobertor
É alivio na hora da dor
A rima não se silencia nos lamentos, nos desgostos
É eterna, seu autor nunca esta morto
Muita gente subiu e atraiu, consolada por ela quando caiu
A rima transforma o homem por inteiro
Cela fechada, mente aberta, descrevendo o cativeiro
Joia rara, ouro da simplicidade,
Jazidas encontradas na humanidade
A rima recicla da vida a palavra pobreza
Agora espírito de luta, beleza
Não se entrega, não paga resgate, é vacinada contra o vírus vaidade
A rima desafia a hipocrisia, é pancada sem dó
Pura rebeldia, sem ritmo, sem compasso, fora do tempo,
Livre pra expressar seus sentimentos
A rima é assim mesmo sem explicação
A vivencia explodindo em inspiração
É um drible um show de habilidade
Lance que deixa o zagueiro irado e na saudade
A rima é o Universo em equilíbrio
Há quem odeie, e eu? Eu acho incrível
Tem muito mais valia que o dinheiro
Não se compra, não se vende, não se sente o cheiro
A rima é a palavra no maior significado
Adversária da frieza de um dicionário
Não tem fãs, tem seguidores,
Impostores gravam cenas como atores
A rima sofre com a censura, foi caluniada
Por quem ri do verbo e não crer na força da palavra
"Mas o dia da igualdade ta chegando seu doutor
Mas o dia da igualdade ta chegando seu doutor"
(GOG – A rima denuncia)
96
Há um legado muito rico do RAP brasileiro – rap nacional. As músicas não perdem a
validade, tornam-se hinos, como: “Um Homem na Estrada”, dos Racionais MC’s, que, em
vários locais, foi citada e na maioria das vezes cantada por Eduardo Matarazzo Suplicy99
.
As letras/músicas vão ao encontro principalmente da juventude. A identificação do
adolescente em cumprimento de medida socioeducativa de internação com o RAP é um ponto
significativo, por isso, é necessário compreender a relação desses adolescentes com o RAP e a
poesia, considerando-se também que:
[...] o jovem autor de infração vive uma carga maior de conflitos. Além daqueles que
surgem em seu processo de auto-identificação, acumulam outros conflitos trazidos
pelos entraves e rótulos que sua diferença projeta na representação social e, em
muitos casos, o conflito da sobrevivência. (GUARÁ, 2000, p. 122).
E como se podem identificar esses outros conflitos da sobrevivência?
Martinelli (2009) utiliza como epígrafe, na conclusão de seu livro Serviço Social:
identidade e alienação, uma brilhante frase de Guimarães Rosa: “O real não está na saída nem
na chegada, ele se dispõe para a gente é no meio da travessia”. Ou seja, são nas
transformações da vida e de desvelamento das projeções sociais que se pode identificar para
alcançar o real.
A abordagem do RAP está “no meio da travessia”, por isso o RAP não se torna
discurso político, ele já o é. A questão é que pode deixar de sê-lo, bem como deixar de
produzir conhecimento crítico. É importante dizer que os rappers têm, para os adolescentes
em cumprimento de medida socioeducativa de internação, função relevante, pois são
referências, não somente pelas músicas, mas pelas histórias de vida100
, que os tornam, em
alguns casos, exemplo de superação: “[...] o diferencial da cultura Hip Hop das demais
culturas é esta: ela trouxe para as pessoas de menos conhecimento a possibilidade de buscar
conhecimento da maneira dela, cada uma aprende e conduz do seu jeito.” (DJ ACoisa).
A poesia, na perspectiva da literatura marginal101
, apresenta estética e conteúdos que
fazem laços com o RAP, contrapondo a lógica de que a poesia é arte de um determinado
segmento de classe social, denominado “culto”.
99
Atualmente, é senador pelo Partido dos Trabalhadores (PT), de São Paulo. É Ph.D. em economia, pela Universidade Estadual de Michigan e autor do livro Renda de Cidadania: a saída é pela porta (2002). 100
Cf. Luz (2007). 101
Nascimento (2006) tece algumas problematizações acerca da expressão “literatura marginal”, destacando o contraste do termo pela comparação entre os poetas marginais, de 1970, e os poetas marginais da nova geração. Para a autora, o conceito de literatura marginal é amplo e demanda a leitura de cada fase de sua aplicação. Há na cidade de São Paulo/SP vários saraus que têm
97
Para exemplificar, menciono o evento sociocultural Hip Hop na Veia Pela Vida102
, que
acontece na cidade de Betim/MG, que é constituído por oficinas, debates, apresentações de
diversos grupos de RAP, breaking, graffiti, DJ, dentre outras atividades, como o basquete.
Para participar, é preciso conseguir quatro pessoas para doarem sangue.
O Hip Hop na Veia Pela Vida é realizado anualmente, desde 2004, com a organização
do DJ ACoisa. No decorrer das posteriores edições passaram a compartilhar a
realização/organização: a Prefeitura do Município de Betim e a Fundação de Arte da Cidade
de Betim/MG (Funarbe), com apoio da Polícia Militar, da Guarda Municipal e parceria da
Fundação Hemominas.
O evento consegue mobilizar vários jovens da região e demais localidades,
envolvendo-os nas atividades descritas.
Figura 13 – DJ Acoisa, no evento Hip Hop na Veia Pela Vida. Crédito: arquivo pessoal
do DJ Acoisa.
O discurso político do RAP tem demandado cuidado em relação ao que muitos
chamam de velha e nova escola. Para GOG, “quando se fala em nova e velha escola, criamos
um abismo. Quando falamos em geração, falamos de referências, de continuidade103
”. Na
mesma linha de raciocínio, DJ Acoisa, em entrevista realizada, afirmou que “não existe nova
escola, assim como não existe velha escola. O que existe é o crescimento de adeptos da
cultura Hip Hop”. Em outras palavras, as gerações e o crescimento na cultura Hip Hop
legitimam o seu conhecimento amplo, evitando a fragmentação de seu processo histórico.
modificado a dinâmica local da comunidade, que têm contado com vários escritores de renome, por exemplo, Sérgio Vaz, Ferréz e Alessandro Buzo. 102
Paulo da Silva Soares, conhecido como DJ Acoisa, é diretor de oficinas culturais da Fundação de Arte, da Cidade de Betim/MG, e músico da Banda Berimbrown. É o idealizador e organizador do evento Hip Hop na Veia Pela Vida, que realiza a sua oitava edição em 2012. 103
Depoimento colhido no Programa A Liga, exibido em 29/11/2011.
98
3.4 A pesquisa ex-post-facto, seu espaço e os procedimentos metodológicos
O método dialético preconiza um caminho diferente.
(GOLDMANN, 1979, p. 13)
Esta dissertação de mestrado foi realizada por meio de uma modalidade de pesquisa,
ex-post-facto – realizada a partir de fatos passados de um trabalho, que tem como
característica o desenvolvimento de metodologia de ação construída na própria ação –, que
podemos considerar como pesquisa-ação.
Thiollent (1986) percebe um questionamento em relação à pesquisa-ação em alguns
espaços acadêmicos, que a compreendem como uma atividade utilizada por profissionais que
têm algum tipo de dificuldade relacionada à metodologia e que não querem seguir os seus
critérios. Assim, o autor considera relevante discutir o conceito de metodologia, para que se
possa entender melhor esse aspecto:
[...] a metodologia é entendida como disciplina que se relaciona com a
epistemologia ou a filosofia da ciência. Seu objetivo consiste em analisar as
características dos vários métodos disponíveis, avaliar suas capacidades,
potencialidades, limitações ou distorções e criticar os pressupostos ou as
implicações de sua utilização. Ao nível mais aplicado, a metodologia lida com a
avaliação de técnicas da investigação. Além de ser uma disciplina que estuda os
métodos, a metodologia é também considerada como modo de conduzir a pesquisa.
Neste sentido, a metodologia pode ser vista como conhecimento geral e habilidade
que são necessários ao pesquisador para se orientar no processo de avaliação, tomar
decisões oportunas, selecionar conceitos, hipóteses, técnicas e dados adequados.
(THIOLLENT, 1986, p. 25).
Na mesma publicação, Thiollent afirma que a pesquisa-ação pode ser compreendida
como uma pesquisa social com objetivo prático, de acordo com os critérios da pesquisa e do
envolvimento dos atores em análise. A pesquisa-ação é mais compreendida como estratégia
de pesquisa do que como uma metodologia e, nesse caso, pode servir como uma “bússola” nas
práticas do pesquisador.
Por essas questões, sendo a pesquisa-ação uma estratégia metodológica, considero que
ela foi a mais adequada para o desenvolvimento dessa pesquisa.
A pesquisa-ação é necessariamente uma abordagem qualitativa, se compreendermos
que esta “parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito,
uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo
objetivo e a subjetividade do sujeito” (CHIZZOTTI, 2010, p. 79).
99
Assim, tendo em vista uma análise crítica do objeto de pesquisa, reitero a utilização da
abordagem qualitativa, baseada na análise dos materiais que documentaram as ações no
período, durante a realização das oficinas com os adolescentes: poesias e letras de RAP,
fotografias, filmagens, anotações (diário de campo), observações, percepções e artigo
científico produzido.104
A escolha do Centro de Atendimento ao Adolescente (Cead) para o desenvolvimento
da pesquisa relaciona-se ao fato de o trabalho ter sido ali desenvolvido, consecutivamente de
2007 a 2010 e, também, por ter me proporcionado uma sensibilidade para o trato da questão,
possibilitando tanto o desenvolvimento continuado das oficinas – que contribuíram para o
conhecimento da Instituição e dos adolescentes que estavam em cumprimento de medida –,
quanto para a prática e desenvolvimento dos profissionais envolvidos nesse processo.
Entre as várias oficinas realizadas, foram selecionadas três, tendo por critério de
escolha aquelas que mais tiveram elementos para subsidiar esta dissertação:
Tabela 21 – Descrição das principais oficinas de RAP e de poesia realizadas no Centro de
Atendimento ao Adolescente (Cead)
DESCRIÇÃO OFICINA I OFICINA II OFICINA III
Principais
Temáticas
Família, violência
e história de vida
Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA)
Violência, educação,
desemprego e amor
Período
Dezembro de
2007 a março de
2008
Junho e julho de 2008 Abril e maio de 2009
No de
Participantes 13 8 6
Apresentação Tarde Poética Comemoração dos 18 anos do Estatuto
da Criança e do Adolescente (ECA)
II Simpósio Mineiro de
Assistentes Sociais
Fonte: Sistematização do autor.
A oficina I tratou de temas como família, violência e história de vida, que foram
abordados em dez encontros (sessões). Resultou no sarau chamado de Tarde Poética, que
aconteceu no dia de visita e contou, portanto, com a presença de familiares de adolescentes
participantes e não participantes das oficinas, e convidados institucionais.
104
ARRUDA; PINTO. De volta pro Mundão: uma análise dos adolescentes egressos da medida socioeducativa de internação. Anais do II Simpósio Mineiro de Assistentes Sociais. Belo Horizonte: Conselho Regional de Serviço Social (Cress, 6ª região), 2009.
100
Figura 14 – Cartaz do Sarau Tarde Poética. Crédito: Daniel Péricles Arruda.
A oficina II abordou os direitos e deveres rezados pelo Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA), e foi realizada em sete encontros (sessões). As produções foram
apresentadas no evento Comemoração dos 18 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente,
organizado pelo Colégio Salesiano, em Belo Horizonte/MG.
Na oficina III discutiram-se temas como violência, educação, desemprego e amor e foi
realizada em cinco encontros (sessões). Na ocasião, os adolescentes apresentaram suas
poesias no II Simpósio Mineiro de Assistentes Sociais, em Belo Horizonte/MG.
Todos os encontros aconteciam dentro da unidade, no período de 50 minutos, cada. A
participação dos adolescentes acontecia a partir do interesse e da articulação de horários, em
razão de outras atividades realizadas. Havia oficinas em que os adolescentes participavam
esporadicamente, no entanto, as três possibilitaram o trabalho continuado com todo o grupo.
Além da pesquisa ex-post-facto, tendo por objetivo conhecer resultantes atuais daquele
trabalho, foram realizadas entrevistas com um adolescente; dois jovens adultos, que
participaram das oficinas, quando eram adolescentes (ou seja, um adolescente de cada oficina
mencionada na Tabela 21); dois profissionais que acompanharam essa prática de trabalho com
os adolescentes; e um DJ, por ser uma das referências mais antigas da cultura Hip Hop, no
estado de Minas Gerais. As entrevistas foram semiestruturadas, abertas e a realização teve
apoio de um roteiro, que permitiu que os entrevistados discorressem sobre as temáticas, para
além das perguntas realizadas.
As entrevistas com o adolescente e os dois jovens adultos objetivaram apreender os
resultantes das oficinas, na perspectiva dos seus sujeitos; já as realizadas com os profissionais
tiveram por objetivo a apreensão dos significados que estes atribuíram à sua realização; por
fim, a entrevista com o DJ, deu-se em razão de ele poder subsidiar a apreensão histórica da
influência do Hip Hop na cidade e em sua relação com os adolescentes.
101
O instrumental para a realização das entrevistas foi construído por meio de uma
linguagem acessível à compreensão da pesquisa e das perguntas que foram feitas para os
sujeitos. De acordo com Triviños (2009), nem tudo depende do investigador, mas há alguns
pontos em que é possível ao pesquisador superar e/ou transformar, por exemplo: construir
uma aproximação sucessiva com os atores da entrevista; não agendar em locais e horários
inviáveis; evitar entrevistas longas; propiciar uma relação de confiabilidade e simpatia na
entrevista; obter aprovação do entrevistado para escrever ou gravar o desenvolvimento da
pesquisa; ter organização para lidar com gravação, transcrição, anotação e análise do
conteúdo; atentar aos prováveis silêncios do entrevistado, diferenciando o “ponto morto” (isto
é, insatisfação em responder ou falta de compreensão da pergunta) do “silêncio produtivo”,
que se baseia numa reflexão e num tempo de elaboração da resposta.
Todas as entrevistas e todo o material documental que dizia respeito aos sujeitos,
foram utilizados com prévio consentimento, obtido mediante assinatura de termo relacionado
a essa questão, pelos sujeitos da pesquisa. Por considerar que o estudo envolveu seres
humanos, fez jus às determinações da Resolução 196/1996, do Ministério da Saúde, tendo
sido aprovado pelos comitês de ética da Diretoria de Gestão da Informação e Pesquisa (DIP),
da Subsecretaria de Atendimento às Medidas Socioeducativas (Suase), e da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo.
A pesquisa realizada teve por finalidade a construção de uma produção científica, o
que significa:
[...] que seus procedimentos investigativos deve(m)[rão] explicitar um esforço no
sentido de viabilizar uma produção de conhecimentos que permita ultrapassar as
práticas espontâneas e as reflexões que se confinam em ações pontuais para, pela
polêmica e pela crítica teórica, construir uma “metodologia dinâmica de ação”.
(BAPTISTA, 2006, p.29)
Para tanto, este estudo apoiou-se nas categorias do método dialético: totalidade,
contradição e mediação, que, de acordo com Netto (2009b, p. 28), Karl Marx descobriu por
meio da articulação dessas três categorias “[...] a perspectiva metodológica que lhe propiciou
o erguimento do seu edifício teórico”.
No texto de Marx, O Método da Economia Política, a questão do método apresenta
uma profunda reflexão sobre as categorias, que foram apreendidas da realidade. A categoria
da totalidade foi discutida como eixo fundamental, que expressa a articulação das demais
categorias, considerando “[...] o cuidado de manter a indissociável conexão que existe em
Marx entre elaboração teórica e formulação metodológica” (NETTO, 2009b, p. 26). Netto
(2009b) afirma que não há como separar a base teórica do planejamento profissional, da
102
perspectiva sociopolítica. E, na base teórica marxiana, as categorias não são construídas pelo
pensamento, elas emergem do processo de análise direta e concreta da realidade. Nesse
sentido, a totalidade compreendida como categoria teórica e ontológica fundamental, não é
construída de maneira intelectiva, mas é produto da observação da relação dinâmica, em que
ocorrem os fatos sociais. Esse processo exige a compreensão dos circuitos e das conexões que
interagem diretamente e/ou indiretamente nas relações sociais.
No estudo da sociedade burguesa – na qual são produzidas e reproduzidas várias
transformações nas relações sociais –, há que se trabalhar na perspectiva de uma totalidade
dinâmica, que emerge de uma sociabilidade, que
[...] é inerente a todas as atividades humanas, expressando-se no fato ontológico de
que o homem só pode constituir-se como tal em relação com outros homens e em
consequência dessa relação; ela significa reciprocidade social, reconhecimento
mútuo de seres de uma mesma espécie que partilham uma mesma atividade e
dependem uns dos outros para viver. (BARROCO, 2009, p. 21)
Por compreender a reciprocidade é que não se deve definir a totalidade como a soma
das partes, pois, desse modo, haveria a anulação de especificidades e a não consideração das
relações, das contradições, dos afetos, dos sentidos, das mediações e, também, das
determinações sócio-históricas que incidem em sua construção.
Em relação a esse aspecto, Goldmann (1979), em seu estudo sobre as obras de Pascal e
Racine, apresenta na introdução um texto, a que chamou de O Todo e as Partes, no qual
analisa a relação entre verdade parcial e o conhecimento da verdade constante no todo,
[...] pois toda verdade parcial só assume sua verdadeira significação por seu lugar no
conjunto, da mesma forma que o conjunto só pode ser conhecido pelo progresso no
conhecimento das verdades parciais. A marcha do conhecimento aparece assim
como uma perpétua oscilação entre as partes e o todo, que se devem esclarecer
mutuamente (GOLDMANN, 1979, p. 5).
Esse esclarecimento mútuo, afirmado por Goldmann (1979), é fruto de uma análise
que jamais estará acabada, seja em seu conjunto, seja em seus elementos. Por isso, o autor
afirma que “o pensamento é uma operação viva, cujo progresso é real sem ser, entretanto,
linear e, sobretudo, sem nunca estar acabado” (GOLDMANN, 1979, p. 7). Assim, a totalidade
é apreendida pelo sujeito como um conjunto articulado de determinações, em que é possível
fazer abstrações e retomá-las para a realidade como um guia. Esse conjunto pode ser
compreendido como um “concreto pensado”.
103
Na carta de Karl Marx enviada para Anninkov105
vemos uma crítica acerca da
totalidade tal como era vista por Proudhon. Nela, Marx faz uma crítica ao pensamento de
Proudhon, por não ter considerado o percurso histórico do modo de produção. Em destaque,
questiona a ausência de rigor crítico sobre a divisão do trabalho:
Para o sr. Proudhon, a divisão do trabalho é uma coisa bem simples. Mas não foi o
regime de castas uma determinada divisão do trabalho? Não foi o regime das
corporações outra divisão do trabalho? E a divisão do trabalho do regime das
manufaturas, que começou em meados do século 17 e terminou em fins do século
18, na Inglaterra, também não difere totalmente da divisão do trabalho da grande
indústria, da indústria moderna? O sr. Proudhon se encontra tão longe da verdade
que omite o que nem sequer os economistas profanos deixam de levar em conta.
(MARX, 2009, p. 247)
Percebe-se, então, que Marx faz indagações e questiona a simplicidade da divisão do
trabalho, compreendida por Proudhon, o qual desconsidera a origem e o desenvolvimento
histórico, bem como por não discutir a separação entre cidade e campo. Para Marx, o
significado de totalidade abordado para a compreensão dos fatos, não deve se apoiar apenas
na sequência cronológica, por mais que ela seja importante, mas deve assumir o sentido do
movimento dos acontecimentos e, principalmente, não exatamente dos fatos imediatos que
aconteceram, mas do que ocorreu para que tais fatos acontecessem. Ou seja, ir às raízes das
questões (MARX, 1991).
Nesse pressuposto, fazendo uma aproximação da realidade e tendo a apreensão do
objeto, é possível alcançar o concreto imediato para analisá-lo e desvendá-lo. O concreto não
é uma produção do intelecto, mas uma apresentação do real que só é compreendido pela via
da razão, que lhe dá sentido pela abstração, que, nas palavras de Netto (2009b, p. 20), “[...] é
um procedimento intelectual sem o qual a análise é inviável – aliás, no domínio do estudo da
sociedade, o próprio Marx insistiu com força em que a abstração é um recurso indispensável
para o pesquisador”.
É por isso que na exposição de O Método da Economia Política, Marx discorre a
respeito da abrangência, da profundidade e da clareza.
Quando estudamos um dado país do ponto de vista da Economia Política,
começamos por sua população, sua divisão em classes, sua repartição entre cidades e
campo, na orla marítima; os diferentes ramos da produção, a exportação e a
importação, a produção e o consumo anuais, os preços das mercadorias, etc. Parece
105
Essa carta foi datada em Bruxelas/Inglaterra, no dia 28 de dezembro de 1846, e publicada pela primeira vez por M.K. Lenke, em 1912. Nela, Karl Marx informa a Annenkov as suas impressões iniciais a respeito do livro de Proudhon – Filosofia da Miséria – e a questiona com a publicação de seu livro, Miséria da Filosofia.
104
que o correto é começar pelo real e pelo concreto, que são a pressuposição prévia e
efetiva; assim, em Economia, por exemplo, começar-se-ia pela população, que é a
base e o sujeito do ato social de produção como um todo. No entanto, graças a uma
observação mais atenta, tomamos conhecimento de que isso é falso. A população é
uma abstração se desprezarmos, por exemplo, as classes que a compõem. Por seu
lado, essas classes são uma palavra vazia de sentido se ignorarmos os elementos em
que repousam, por exemplo: o trabalho assalariado, o capital, etc. Estes supõem a
troca, a divisão do trabalho, os preços, etc. O capital, por exemplo, sem o trabalho
assalariado, sem o valor, sem o dinheiro, sem o preço, etc. não é nada. Assim, se
começássemos pela população, teríamos uma representação caótica do todo e,
através de uma determinação mais precisa, através de uma análise, chegaríamos a
conceitos cada vez mais simples; do concreto idealizado passaríamos a abstrações
cada vez mais tênues até atingirmos determinações as mais simples. (MARX, 1978,
p. 116).
Do ponto de vista da economia política, é notório que as indagações podem levar à
busca, à procura, isto é, ao processo investigativo que caminha para a produção também de
conhecimento do concreto como uma totalidade, pois retomando a epígrafe inicial desta
dissertação,
[...] o concreto é concreto porque é a síntese de muitas determinações, isto é,
unidade do diverso. Por isso o concreto aparece no pensamento como o processo da
síntese, como resultado, não como ponto de partida, ainda que seja o ponto de
partida efetivo e, portanto, o ponto de partida também da intuição e da
representação. (MARX, 1978, p. 116)
Nesse sentido, a totalidade é uma categoria que está em movimento, por isso, não há
como defini-la simplesmente como “todo”. A vida social é uma totalidade formada por
inúmeras totalidades. “Para Marx, a sociedade burguesa é uma totalidade concreta. Não é um
‘todo’ constituído por ‘partes’ funcionalmente integradas.” (NETTO, 2009b, p. 27). As
categorias, tanto as do método quanto as empíricas, em Karl Marx, insisto, estão na realidade,
são categorias reais e sócio-históricas. A realidade não é estática; não é absoluta; não é
imutável. A realidade sempre se transforma.
A dificuldade, para Marx, está na apreensão das categorias que emergem da realidade
social, as quais são constitutivas do método.
As especificidades são percebidas na realidade, compondo um concreto que se
apresenta de várias formas para não ficarmos reféns das manifestações imediatas, “[...] seria
partir-se da totalidade, totalidade que sendo tudo é ela mesma e a possibilidade de sua
negação. Neste universo a crítica não é uma operação externa ao objeto, mas a explicitação
necessária de seus constituintes” (PAULA, 2001, p. 19). Certamente:
[...] a totalidade concreta e articulada que é a sociedade burguesa é uma totalidade
dinâmica – seu movimento resulta do caráter contraditório de todas as totalidades
que compõem a totalidade inclusiva e macroscópica. Sem as contradições, as
105
totalidades seriam totalidades inertes, mortas – e o que a análise registra é
precisamente a sua contínua transformação. (NETTO, 2009b, p. 27)
A totalidade concreta articula-se em dois movimentos importantes. A primeira
articulação é a subordinação de uma totalidade às “totalidades mais complexas”. E, a segunda
articulação é na qual esta totalidade subordina as “totalidades menos complexas”. Esses
movimentos fazem parte da totalidade concreta, possibilitando uma “hierarquização
dinâmica” a qual não é predeterminada, pois essa articulação se faz de modo diferente,
conforme: o momento histórico vivenciado por uma sociedade; as condições materiais de
produção e de reprodução; o plano ideológico vigente, etc. Esses processos são constituídos
de campos de força contrárias, que atuam no propósito tanto de manter as estruturas de um
determinado fato, quanto de modificá-la (BAPTISTA, 2012)106
.
Nessa lógica, temos a categoria da contradição107
:
Essas forças que operam em sentidos divergentes, contraditórios, não são
introduzidas nos processos sociais, elas os constituem, são sua substância. Em toda
realidade social, em toda instância do ser social, é essa colisão que produz a
dinâmica, que efetiva o movimento da história. (BAPTISTA, 2012, p. 20)
As contradições, independentemente de seus níveis de complexidade, não se
constituem sem os sistemas de mediações. Esses sistemas permitem a compreensão peculiar
dos processos que se formam nas totalidades, por isso:
[...] sem os sistemas de mediações (internas e externas) que articulam tais
totalidades, a totalidade concreta que é a sociedade burguesa seria uma totalidade
indiferenciada – e a indiferenciação cancelaria o caráter do concreto, já determinado
como ‘unidade do diverso’ (NETTO, 2009b, p. 28).
106
Material de aula apresentado no Núcleo de Estudos e Pesquisa Sobre a Criança e o Adolescente (NCA) do Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço Social da PUC/SP, intitulado A pesquisa avaliativa de políticas, programas, projetos e/ou intervenções sociais (BAPTISTA, 2012). 107
Localizei dois trechos na música “O bagulho é doido”, do rapper carioca MV Bill, na qual ele apresenta as contradições constituídas na dinâmica de jovens no tráfico varejista de drogas. No primeiro trecho, diz: “[...] tipo peste, tá no sudeste, tá no nordeste, no centro-oeste/ Teu pai te dá dinheiro, você vem e investe/ No futuro da nação, compra pó na minha mão/ Depois me xinga na televisão/ Na sequência vai pra passeata levantar cartaz/ Chorando e com as mãos sinalizando o símbolo da paz”. Nesses versos, MV Bill apresenta a movimentação do tráfico de drogas – “pó” (cocaína) – e os segmentos de classes diferentes que os constituem. Porém, um segmento alimenta o outro, por meio da compra da droga, logo, o mesmo segmento posiciona-se contra uma ação a qual ele também é “responsável”. No segundo trecho, Bill, diz: “[...] veja que ironia, que contradição/ O rico me odeia e financia minha munição/ Que faz faculdade, trabalha no escritório/ Me olha como se eu fosse um rato de laboratório/ Vem de sheroki, vem de kawazaki/ Deslumbrado com a favela, como se estivesse vendo um parque/ De diversões, se junta com os vilões/ De sente Ali ‘cuzão’ e os 40 ladrões”. Nesses versos, a relação contraditória também é presente. Ambos chamam a atenção para as mediações constituídas e que movem essas relações. Ver a letra completa no Anexo C.
106
As mediações não estão presentes de maneira dada em uma realidade. “No plano do
pensamento, o desenvolvimento deste obedece a uma impulsão necessária que progride do
singular ao universal, através do particular” (PONTES, 1989, p. 21). Aqui, a particularidade é
referida não no sentido vernáculo, mas, como um dos momentos da perspectiva dialética. É
um momento de leitura da realidade, é a forma como a singularidade é assumida.
Ora, afirmar que o particular constitui-se um campo de mediações, necessariamente
não implica conceber um espaço amorfo, indefinido de ligação entre o universal e o
particular, mas ao contrário, este campo de mediações é um “espaço” articulado e
determinado; para clarificar isto, basta lembrar que no âmbito da particularidade
temos uma universalidade relativa (face ao singular) e uma singularidade relativa
(face ao universal). É neste espaço de mediações que a lei se determina. (PONTES,
1989, p. 22).
É importante dizer que a mediação não se refere a um movimento de escolha ou de
alternativas. Ela é inseparável ao desenvolvimento da realidade e não está ausente das ações
desenvolvidas nas e pelas instituições de modo geral. É compreendida pelo seu movimento, e,
como categoria histórica, está presente na dinâmica da totalidade (OLIVEIRA, 1988).
De acordo com Martinelli (1993), as mediações também são categorias em que são
processadas as ações da prática profissional. Para a autora, mediação é:
[...] uma forma de objetivar a prática, pela qual o próprio profissional se objetiva
enquanto ser social. É, ao mesmo tempo, uma categoria reflexiva e ontológica, pois
sua construção se consolida tanto por operações intelectuais, como valorativas,
apoiadas no conhecimento crítico do real, possibilitado fundamentalmente pela
intervenção da consciência. (MARTINELLI, 1993, p. 137)
Portanto, é a partir desse aporte teórico que analiso o conteúdo coletado para alcance
dos objetivos traçados para este estudo.
107
3.5 As apreensões obtidas da relação do adolescente em cumprimento de medida
socioeducativa de internação e dos profissionais do Centro de Atendimento ao
Adolescente (Cead) com o RAP e a poesia
Porque a gente estar lá dentro é fácil, é só ficar dois três anos parado, deitado e dormindo,
mas através daquilo [das oficinas] eu tive uma reflexão e pude mudar de vida e ter a
vida que eu tenho hoje, graças a Deus.
(SATURNO – sujeito da pesquisa)
As oficinas de RAP e de poesia, realizadas de 2007 a 2010, possibilitaram a formação
de um espaço para a construção de valores com os adolescentes e, também, de um lugar de
aprendizado. Naquele contexto, percebi que as oficinas proporcionavam reflexões sobre as
temáticas – as quais eram trazidas por eles, por mim e por profissionais da instituição –, para
além das questões trazidas. Por isso, o trabalho de campo, após dois anos da realização das
oficinas, propiciou um estudo mais aprofundado, a partir da análise dos próprios sujeitos.
O RAP e a poesia tiveram apreensões diferenciadas, mas não distintas, para cada
sujeito da pesquisa, que participou das oficinas.
O primeiro jovem adulto, ao qual chamarei de Júpiter108
, hoje com 20 anos de idade –
tinha 16 anos, quando participou das oficinas –, já cantava RAP em sua comunidade de
origem antes de iniciar o cumprimento de medida socioeducativa de internação. Disse que
tem o dom para cantar RAP, que, para ele, é uma forma de aprender e ensinar. Afirmou que
sentiu “responsa”109
quando apresentou a sua arte em atividades e para outras pessoas, e que
as oficinas de RAP e de poesia foram um lugar que possibilitou mudanças em sua vida:
Eu não era um menino fácil igual eu sou hoje, entendeu?! Ninguém me encontrava
aqui numa hora dessa [aproximadamente 9h da manhã]. Mudou, porque assim...,
porque você vai ficando mais velho e vai vendo as coisas diferente. Você vai vendo
que viver é bom demais, entendeu?! Você vai ver que o que a mãe falava naquele
momento era certo. E o que vinha na sua cabeça é que não era. Você vai
aprendendo, entendeu?! E passando pro outro, daí vai... (JÚPITER)
108
Lembrando que os três sujeitos da pesquisa que participaram das oficinas – Júpiter, de 20 anos; Saturno, de 20 anos; e Marte, de 16 anos – serão mencionados por nomes de planetas, bem como os dois profissionais entrevistados que serão mencionados como Lua e Sol, conforme explicado na introdução deste trabalho. 109
“Responsa” significa responsabilidade ao fazer algo; dar sentido positivo às ações que se faz.
108
É a sua letra de RAP, intitulada “Uma história”110
– a qual apresento novamente para
que o leitor a compreenda, com os seus depoimentos –, que abre a introdução desta
dissertação:
Você tá ligado que o mundo é isso aí
Vamos curtir o RAP, vamos ouvir
A vida é embaçada, se eu fosse um vento
O vento é uma vida que te leva ao pensamento
Fico olhando que eu tô ficando louco
Tipo assim, como se fosse um poço
Os meus pais não vêm aqui me ver
Fico bolado e começo a sofrer
Penso em matar, penso em morrer
Penso em salvar, penso em viver
Na vida do crime eu entrei muito cedo
Achava que era o tal só pra mim ter conceito
Traficava, fumava um, que prejuízo
Na minha infância perdi vários amigos
Mas é Deus o meu grande amigo
Porque sempre está comigo
Refrão:
Quero que a minha história tenha um final feliz
Final feliz, final feliz
Um final feliz é um novo começo
Levar a minha vida e corrigir os meus erros
A vida que eu levo não é fácil, não
Uma rapa de treta tenho no coração
Morar em um abrigo amanhã, quem sabe?!
Ficar longe da bandidagem
Arrumar um trampo e voltar a estudar
É melhor do que cheirar e roubar
Pois sei que no presídio não vai ser bom
Quero correr atrás e investir no meu dom
Cantar e dizer o que eu vivo
Dizer o que eu penso e o que eu sinto
No mundão, família e diversão
Na escola e numa profissão
Sangue bom, fico por aqui, um abraço
Tenha fé em Deus e valorize o seu espaço
Refrão:
Quero que a minha história tenha um final feliz
Final feliz, final feliz
Esse jovem, enquanto em cumprimento de medida, fazia acompanhamento psicológico
e psiquiátrico para tratar questões de transtorno mental. Porém, isso não o impedia de
participar das oficinas, pelo contrário, nos encontros, ele apresentava espontaneidade,
110
Letra de RAP escrita pelo próprio adolescente, na oficina I.
109
memorização e alta capacidade elaborativa e metafórica, como é visto nos seguintes versos:
“A vida é embaçada, se eu fosse um vento/ O vento é uma vida que te leva ao pensamento/
Fico olhando que eu tô ficando louco/ Tipo assim, como se fosse um poço/”.
Em certo momento da pesquisa mostrei para o jovem a letra de RAP acima, que ele
havia feito há cerca de quatro anos na oficina. Ele foi o único que tinha a produção decorada.
A letra apresenta uma série de categorias que se referem à vida do adolescente: “Vamos curtir
o RAP, vamos ouvir/111
” é tido como um chamado introdutório para que se atente à sua
condição de vida e para o que ele tem a dizer sobre ela. Não somente apresenta respostas
sobre a sua vida, mas apresenta um terreno, que permite a construção de um diálogo a partir
das vivências do próprio jovem, que afirmou:
Meu RAP tem umas coisas bacana e algum ensinamento, e... assim... e daí vai... é...
RAP é uma coisa legal, é uma coisa bonita, uma coisa assim que eu posso te falar,
uma coisa... vai ensinando, aí você vai cantando ali... entendeu?! RAP nós vivemos
de RAP, nós vivemos de música. E assim vai... (JÚPITER)
O adolescente aponta uma questão importante acerca da invisibilidade. Para ele, as
pessoas de sua comunidade nem sempre conseguem vê-lo como uma pessoa “humilde”. Isso,
anterior e posteriormente ao cumprimento da medida socioeducativa de internação: “A
humildade. Eles não veem, mas assim, é uma coisa que você vê em você e eles não veem,
entendeu?! É uma coisa assim que você vive ela. Entendeu?! Só que eles não estão vendo. Só
você sabe que é... Só você sabe...” (JÚPITER).
Para ele, ser humilde:
É você ser compreensivo. É ser compreensivo com a pessoa e assim: que lei é lei e
limite é limite. É você viver o seu limite. É viver a humildade. Ter seu respeito [...].
Às vezes, é você saber brincar... Ter o seu limite ali... Igual você ir dançar... Você
chegar lá e dançar e tal. Você curtir sua vida e não ser zuado, entendeu?! Você
entrar lá e bater no peito que é o tal e tal?! Você vai ser zuado. Não vai ter ninguém
que vai gostar. Mas com humildade você chega ali tranquilo, do seu jeito,
conversa... (JÚPITER).
Para o segundo jovem adulto, ao qual chamarei de Saturno, hoje com 20 anos de
idade, e com 16, na época em que participou das oficinas:
O RAP pra mim significa... às vezes, [alguém] canta um RAP ali... só de você ouvir
o toque é bonito, mas pra mim não é só o toque o RAP que eu escuto. Eu medito na
letra, no que ele [o MC] está querendo passar para mim, entendeu?! A música está
rolando e eu medito... Por que o RAP é uma história, praticamente, não é?! Então,
para mim é isso: meditação! (SATURNO)
111
Esse verso faz lembrar a música “Realidade”, do grupo de RAP Jigaboo, cujo refrão diz: “Chega perto de mim/ Me deixa falar/ Sempre de muito longe/ Vem me condenar”. Ver Anexo D.
110
Para ele, o RAP se apresentou como forma de contar histórias às quais, ao ouvir,
meditou na letra. Possibilitou a meditação, a sua análise interior e, mesmo considerando o
toque bonito – a base ou o instrumental –, a letra do RAP é o que o tocou mais, por ele querer
buscar a mensagem que o MC transmite. Tal meditação ajudou-o a vencer a vergonha (no
sentido da timidez) que sentia nos momentos que apresentava a sua arte para os outros.
Ao ser indagado sobre as mudanças concretas em sua vida, Saturno afirmou:
Mudei praticamente o jeito de viver. Porque o RAP fala muito de vida, de maldade,
de paz, fala muito desses motivos. Então, através do RAP eu pude refletir alguns
momentos que a gente passa que, às vezes, você escuta um RAP, que fala uma
história que no futuro você vai passar por histórias [semelhantes a] que ele [o
rapper] passou. Então, você ouvindo aquela música você já sabe mais ou menos se
desviar daquele problema.
Para esse jovem adulto, o RAP é a tradução da realidade da vida cotidiana, sendo
transmitida por meio de histórias a partir dessa realidade. Por compreender que o RAP “fala
muito de vida, de maldade, de paz”, ele entende que o RAP, então, anteciparia as prováveis
situações da vida cotidiana – situações que assumiriam diferentes faces, de acordo com a
particularidade de cada situação vivenciada – assim, ele procurou outros caminhos para
desviar-se de algum possível problema parecido no futuro.
A questão da invisibilidade é o ponto de maior significação em sua convivência
comunitária anterior e posteriormente ao cumprimento da medida socioeducativa de
internação, a qual foi percebida em sua relação com a comunidade de origem:
Eu tenho esse pensamento na minha mente também. Às vezes, eu passo um... Aqui
no [nome do bairro] na hora que você chegar e perguntar “quem é o [apelido dele]”,
aí eles já falam, “lá em baixo”. Aqui todo mundo me conhece como [apelido dele]
Então, às vezes, eu ando aí pelas ruas e as pessoas ficam me olhando meio assim,
achando que eu ainda sou o que eu era, entendeu?! Eu ainda não consegui passar
confiança para as pessoas. Porque o que eu mais quero é ter a confiança da
comunidade. Então, às vezes, eu passo na rua e os outros me veem e falam “aquele
menino é isso e aquilo”, sendo que eu não sou mais. Então, eu tenho esse grande
problema com muitas pessoas: eu tenho o problema de não passar confiança para
eles, entendeu?! Muita gente ainda não tem em mim aquela confiança que tinha
antigamente. Então, isso para mim... na minha vida, prejudicou um pouco nessa área
da confiança mesmo, muito poucas pessoas têm confiança em mim hoje, mas eu
ainda vou conseguir conquistar essa confiança de todos, se Deus quiser, e ele quer,
não é?! Com certeza... (SATURNO)
111
O relato exemplifica a invisibilidade projetada112
por alguns moradores da
comunidade. Para Saturno, é evidente que a comunidade ainda o olha a partir de seu passado,
evidenciando sua invisibilidade no presente. Ele ainda ressaltou que:
Pelo o que eu já fiz, eu acho difícil a comunidade me olhar do jeito que eu era. O
jeito que eu já fui antes de passar pelo que eu passei. Então, eu acho que o jeito que
está indo está bom, mas se a comunidade me desse uma oportunidade, uma
confiança a mais, eu acho que ela ia dar uma fortalecida a mais na gente. A gente
podia andar onde a gente puder ir. Se todo mundo confiasse, seria melhor, não é?
Pra mim um ponto que me prejudica muito é a falta de confiança da comunidade.
(SATURNO)
Nessa questão, Soares (2005, 2011) fala das “profecias que se autocumprem”, ou seja,
atitudes discriminatórias das pessoas que podem acarretar e/ou corroborar para a existência
daquilo que se pretendia evitar. Por isso, a partir de sua experiência e dos relatos acima,
perguntei se ele já pensou em reafirmar o que a comunidade diz sobre ele:
Já, já... Teve muitas vezes dos outros chegarem na minha cara assim e apontarem o
dedo e falar... Eu dentro da casa da pessoa e a pessoa, ao chegar na casa dela, falar:
“Você não vai entrar aqui dentro, porque você é isso, isso e aquilo.” Eu já tive muita
vontade de voltar sim e falar “já que você está falando que eu sou, eu vou ser.” Mas
a minha força maior é a minha família! Porque eu, depois que saí do Cead... quando
eu saí não... quando eu tava dentro do Cead, eu pude refletir o sofrimento que a
minha família passava sem a minha presença! Porque família é assim... Então, por
causa da minha família mesmo, da sua força, da vizinhança, dos amigos que também
davam força – “não, não faz isso não” –, até hoje eu estou firme e forte.
(SATURNO)
É possível perceber que a família e os amigos têm sido um suporte fundamental para
que ele não retorne a envolver-se com a criminalidade. O que se evidencia em sua letra de
RAP intitulada “Lembra?”113
Eu conheço o ECA não faz muito tempo
Então vou lhe dizer o que estou aprendendo
Direitos e deveres, irmão, é muita coisa
Coisas que não tive, coisas muitos boas
Esporte, lazer, cultura e educação
Perdi minha moral fazendo confusão
Mas sei, que posso superar, então
Estou na correria com Deus no coração
Centro de Internação é uma passagem
Não quero retornar e evitar a malandragem
Daqui pra frente trabalho e estudo
É o melhor que eu faço pro futuro
O ECA está comigo, está com você
O ECA não foi feito pra gente esquecer
112
Invisibilidade projetada, no sentido assumido na Tabela 2, da página 64. 113
Esse trecho foi escrito pelo próprio jovem, na oficina II. É constituída por mais três partes não mencionadas aqui pelo falto de eu não ter localizado os seus respectivos autores para que autorizassem a reprodução.
112
Então, olhe para trás e veja a história
Do Código de Menores ao ECA é uma vitória
Refrão:
Você já foi criança um dia, lembra?
Já adolescente um dia, lembra?
Então pare pra pensar, irmão.
Já o terceiro sujeito da pesquisa, que ainda é adolescente, com 16 anos de idade – tinha
14 anos na época das oficinas –, ao qual chamarei de Marte, disse que as oficinas de RAP e de
poesia o ajudaram a ter paciência no processo de aprendizado escolar. Paciência que o ajudou
a vencer o medo e a vergonha [timidez] de expor a sua arte. As oficinas eram para ele uma
atividade diferente, pois antes delas ele só jogava futebol: “A minha experiência foi grande,
eu não conhecia nada. Pensava que poesia para mim era você, tipo, escrever tudo lá e no final
você tira umas palavras lá e faz uma poesia, e depois ver a diferença. Nós ficamos lá... fala
sobre o livro, fala sobre isso...” (MARTE).
O “fala sobre o livro, fala sobre isso” refere-se à sua poesia e às discussões realizadas
sobre ela. A poesia do adolescente chama-se “O Livro”114
:
O livro precisa de alguém para passar as páginas,
E as pessoas precisam do livro para passar a vida.
E quem não gosta de ler?
A falta de leitura faz mal para os olhos.
E os bons olhos não desperdiçam oportunidades.
Em relação às possíveis mudanças e aprendizados, Marte relatou:
Ah, cara. Sinceramente?! Ah, velho... Com isso eu pude ter algumas oportunidades
diferentes. Só que, sinceramente, até hoje eu fiz, gostei, igual eu falava com você
que gostei muito [...]. Só que, hoje: assim, eu falar com você que mudou... não
mudou não [...]. Ah, cara, minha cabeça mudou muito. [...] O que não mudou é o
crime: é o mesmo.
A passagem apresenta aspectos relevantes. O adolescente afirma que gostou de ter
participado das oficinas de RAP e de poesia e que seu pensamento mudou (“minha cabeça
mudou muito”). Entretanto, ao realizar a entrevista em sua comunidade, e pelo fato de eu
conhecer a dinâmica comunitária daquele lugar onde o tráfico de drogas é intenso e se
apresenta como alternativa de sobrevivência para muitos adolescentes e jovens, ele se vê
diante de uma realidade que confronta a sua “cabeça que mudou muito”. Esse depoimento é
importante, pois o adolescente foi sincero em me responder, trazendo um não uma negativa,
que abriu a vertente para essa reflexão: as oficinas constituíram-se desse movimento concreto-
114
Poesia escrita pelo próprio adolescente, na oficina III.
113
subjetivo – não viam os adolescentes como “maus” e que precisavam ser transformados em
“bons”, viam os adolescentes como pessoas com possibilidades a serem aproveitas e limites a
serem superados.
A observação permitiu-me notar que a invisibilidade desse adolescente tinha por base
a sua relação comunitária, anterior e posterior ao cumprimento da medida: “De vez em
quando eu sou humilde, mas muitos não conseguem ver. Não sou humilde assim... falar que é
humilde é ser assim... Tem hora que você esgota a paciência. Só que sou bem humilde; só que
as pessoas não veem isso.” (MARTE).
Para ele:
Ser humilde é você saber falar com as pessoas. Na minha opinião, é você conversar
com a pessoa tranquilo, calmo, baixo... não chegar tipo grosso, endoidando, isso e
aquilo. Na minha opinião, é saber conversar e saber lidar com as pessoas que estão
ao seu redor. Na minha opinião é isso. (MARTE)
De acordo com Guará (2000), a humildade é um valor de importância para o jovem.
Há nessa relação a presença da contradição do “valor humildade”, com as características de
suas vidas.
A humildade, para os jovens – na pesquisa realizada pela autora –, é “um valor que
qualifica aquele que não prejudica ninguém e ‘não quer ser diferente de ninguém’ e, assim, a
‘humildade’ é equiparada à igualdade. Sujeito humilde é aquele que ‘não é melhor que
ninguém’, não é presunçoso ou orgulhoso.” (GUARÁ, 2000, p. 195).
Comte-Sponville (apud GUARÁ, 2000, p. 196) aborda a humildade como uma
questão relacionada a outro sentimento, que é a tristeza. Para ele, a humilde é “o esforço pelo
qual o ‘eu’ tenta se libertar das ilusões que tem sobre si mesmo e porque essas ilusões o
constituem – pelo qual ele se dissolve.” A autora afirma que essas “ilusões” podem ser
compreendidas também como ilusão da própria condição social. Nessa lógica, “a humildade é
para os jovens o reconhecimento de sua impotência diante das dificuldades da vida, mesmo
que com seus atos procurem demonstrar coragem e orgulho.” (GUARÁ, 2000, p. 196).
Na entrevista que tive com a profissional – a quem chamarei de Lua –, do Centro de
Atendimento ao Adolescente (Cead), ela comentou que as oficinas possibilitaram o trabalho
direto com o adolescente, visando a critica a partir de uma arte que eles gostavam, que é o
RAP, pois:
De forma geral, as oficinas agregaram muito valor à instituição, ao trabalho com os
adolescentes, e elas ganharam lugar de destaque dentro da proposta de trabalho.
Teve uma época que as oficinas estiveram bem sistematizadas. Eu acho que
acrescentou muito porque os adolescentes eram envolvidos nas oficinas. A gente via
a vontade, via o interesse deles, e [percebia] uma transformação daquele sujeito que
114
estava ali, [pelo fato de ele se] deslocar de lugar – sair do lugar de ser somente
assistido pela instituição e [passar a] ser protagonista. Então, eu acho que as oficinas
tiveram esse lugar de relevância, tanto para a instituição quanto para os próprios
adolescentes que participaram como protagonistas desse processo. (LUA)
O deslocamento mencionado no relato acima foi possível pelo movimento que o RAP
e a poesia têm de objetivar, como arte, ou seja, de elevar-se para além das básicas condições
de vida. Isso é o que Heller (1972) chama de “suspensão do cotidiano”.
Isso para mim é ampliar a noção de mundo. Por mais que o RAP ou a poesia falem
da experiência do menino, lá na comunidade dele ou não... o que ele assistiu desde
quando nasceu... você pode também através do RAP apresentar um mundo novo
para o adolescente. E isso é ampliar a noção de mundo, [possibilitar] alternativas de
vida. (LUA)
Para o segundo profissional entrevistado no Centro de Atendimento ao Adolescente
(Cead) – a quem mencionarei como Sol –, as oficinas foram as atividades que os adolescentes
puderam se identificar, principalmente pela linguagem e pela capacidade de superação:
Todos [os adolescentes] me chamaram muita atenção porque nós o acompanhamos
[o processo das oficinas] do início até o final. Mas teve um que eu gostava muito,
era o [Júpiter], porque ele tinha muita dificuldade. Acredito que ele talvez tenha sido
um dos que tiveram mais dificuldades. Mas foi um que, diante da dificuldade, mais
brilhou. Acho que ele conseguiu brilhar mesmo porque tinha essa dificuldade, pois o
desejo dele [de superação], era grande que ele ficava dançando, imitando os
Jacksons: mexia o corpo... tinha dificuldade de fala, mas... como ele conseguiu! Ele
era muito tímido, mas por isso mesmo é que ele não chamava muito a atenção. Às
vezes, aquela timidez, aquele jeito dele, aquele desejo de fazer a coisa... E como ele
conseguiu dar conta disso... Desse interesse que ele tinha, de estar ali, de estar
produzindo, de estar fazendo... a vontade de estar participando... Ele foi uma pessoa
que chamou muito a atenção. Eu acredito que ele conseguiu se destacar. Pela
dificuldade que ele tinha ele se destacou, porque o seu desejo foi maior que a sua
dificuldade... Então, ele conseguiu chamar atenção e ficou marcado. (SOL)
Antes de iniciar as oficinas na unidade, alguns adolescentes falavam que era proibida a
entrada de alguns CDs de RAP, pois eram consideradas músicas muito “pesadas”. Alguns
CDs de RAP eram permitidos, desde que fossem ouvidos com o discman e fone de ouvido.
Quanto a isso, não tive qualquer problema para realizar as oficinas; pelo contrário, a unidade
se interessou pela proposta de utilizar o RAP e a poesia no trabalho socioeducativo.
Embora seja longo o depoimento abaixo, optei por apresentá-lo de maneira completa,
para ser fiel à linha de raciocínio da narrativa em relação a essa questão, trazida pelos
adolescentes.
Às vezes, [os profissionais] optam pela coisa mais fácil em relação a essa questão. O
que é o mais fácil? É proibir e acabou. Por que trabalhar de fato essa questão? Então,
foi um marco quando você chegou e conseguiu “quebrar” um tanto de coisas...
115
porque ainda hoje no Cead muitos CDs são proibidos: “Não podem” [ser ouvidos],
têm que passar por uma seleção... Porque é essa a visão: às vezes, é mais fácil
proibir... quer dizer “o que está sendo falando ali? Nada!” É porque não têm o
conhecimento. A maioria de nós... não temos o conhecimento do RAP. “Então, se
eu não tenho conhecimento, o melhor é eu proibir. Não vou buscar, não vou me
interessar nisso, não vou dar ouvido a isso” Então, a palavra é proibir. Está falando
[a música RAP] “Oh, tem que matar, tem que não sei o quê, tem que subir o morro
e tal.” “Opa! Então, vamos ter proibir isso”. Sem saber de fato o que quer dizer
isso. Sem saber ao fundo o que quer dizer aquilo, sabe?! Num período anterior, por
não termos tanta visão, conhecimento – foi mais fácil para nós (vou falar “nós”
porque querendo ou não eu estava ali presente) foi mais fácil para nós ter proibido
tudo. Como, ainda hoje, ainda é mais fácil. Em vez de colocar um CD pesado dos
Racionais que está falando de violência, é mais fácil proibir do que trabalhar. Não é
diferente hoje. Hoje, ainda, alguns CDs são proibidos. Porque ainda existe essa visão
de que o RAP faz apologia, de que o RAP é pesado... Só que isso é contraditório.
Porque [o adolescente] não pode colocar o CD no rádio para ouvir no pátio, mas
pode ouvir como o fone de ouvido. Ele não pode ouvir naquele momento, mas se ele
for para casa dele no final de semana, ele ouve. Ele canta com o seu amigo ali no
canto [da instituição]. Então... é muito contraditório. É mais fácil tirar do que
trabalhar, não é?! Então... isso, ainda acontece hoje. A pessoa fica meio que assim...
numa faca de dois gumes! Porque: como eu não posso colocar o CD deles, mas
posso permitir que eles ouçam ali no mesmo momento com o fone no rádio dele? No
meu rádio não pode, mas no dele pode. Então, foi por isso que foi cortado. O
argumento é a questão da apologia, da gíria que influencia... então... Tem muitas
outras coisas aí que fogem um pouco... (SOL).
A questão também é presente no relato abaixo, da profissional Lua:
Quando eu cheguei no Cead [em 2005] já existia essa orientação [sobre a questão do
CDs de RAP]. Eu acho que [esse tema] toca muito no preconceito das pessoas.
Assim, a instituição não é isenta dos preconceitos dos profissionais que trabalham
nela. Eu acho que quando existe uma orientação desse tipo, não deixa de haver um
pouco de preconceito. O funcionário quando chega para trabalhar, não deixa os
valores do lado de fora da instituição. Por mais que a gente tente fazer um
alinhamento dos valores de cada um com o valor institucional, às vezes, [o valor
individual] acaba tendo peso. E o que eu percebo é que não é todo mundo que
escuta o RAP com bons ouvidos. Às vezes, não conseguem ver que não são todas
as letras que fazem apologia ao crime e colocam tudo num pacote só. A partir disso,
começa essa proposta: todo CD que chegar vai passar por uma avaliação da equipe
técnica. E aí, o técnico aprova ou não esse CD para ser escutado na instituição. Só
que aí passa pelo valor do técnico e nem sempre vai ser discutido: “Gente, vamos
discutir essa música para ver se aprovamos ou não aprovamos? – Não, é a pessoa
mesmo que aprova, que despacha o CD para adolescente escutar ou para ser
devolvido para a família. (LUA, grifo meu).
Identifico, nesses relatos, uma categoria importante para o tratamento da questão, que
é o preconceito. Recorro a Heller (1972), para desenvolver uma análise crítica sobre o
assunto.
De acordo com o autor, o preconceito é compreendido a partir dos “juízos
ultrageneralizadores”, que são construídos cotidianamente em relação às práticas comuns na
vida dos homens:
116
Sempre reagimos a situações singulares, respondemos a estímulos singulares e
resolvemos problemas singulares. Para podermos reagir, temos de subsumir o
singular, do modo mais rápido possível, sob alguma universalidade; temos de
organizá-lo em nossa atividade cotidiana, no conjunto de nossa atividade vital; em
suma, temos de resolver o problema. Mas não temos tempo para examinar todos os
aspectos do caso singular, nem mesmo os decisivos: temos de situá-lo o mais
rapidamente possível sob o ponto de vista da tarefa colocada. E isso só se torna
possível graças à ajuda dos vários tipos de ultrageneralização. (HELLER, 1972, p.
35).
Os “juízos ultrageneralizadores” são utilizados como guia e como subsídio para os
posicionamentos diante dos fatos sociais, ou seja, esses “juízos” possibilitam uma leitura e um
entendimento imediato das relações, não significando, prontamente, a existência de
preconceito. É por isso, que, nessa ótica, a autora não se refere ao “pensamento” como teoria,
e sim como posicionamento concreto do ser social. Por se tratar de um pensamento cotidiano
voltado para a vida empírica, acaba sendo ultrageneralizador, ou seja, uma generalização mais
ampla de um fato isolado. Para a autora:
Toda ultrageneralização é um juízo provisório ou uma regra provisória de
comportamento: provisória porque se antecipa à atividade possível e nem sempre,
muito pelo contrário, encontra confirmação no infinito processo da prática.
Diferentemente do que ocorre com os juízos cotidianos, os juízos científicos
consideram-se provisórios apenas até o momento em que, num determinado estágio
evolutivo da ciência, as hipóteses comprovam-se como verdades, sendo confirmadas
(HELLER, 1972, p. 44).
Se esses “juízos ultrageneralizadores” forem incorretos, é a própria prática que
orientará as posições e as condutas frente às questões e às pessoas reais com as quais se
trabalha. Caso isso não aconteça, corre-se o risco de assumir posições preconceituosas.
Nesse sentido, o preconceito existe quando os “juízos provisórios” – que são todos
eles “juízos ultrageneralizadores” – passam a ter caráter único e não maleável, não baseando-
se na forma prática de orientação da cotidianidade. “Os juízos provisórios que se enraízam na
particularidade e, por conseguinte, se baseiam na fé são pré-juízos ou preconceitos”
(HELLER, 1972, p. 35).
Ainda, o preconceito pode ocorrer quando não existe questão posterior que o
contraponha por estar “exposto ao perigo da cristalização (fossilização); e, embora
inicialmente o tratamento grosseiro do singular não seja prejudicial, pode converter-se num
dano irreparável se se conserva após ter cumprido sua função.” (HELLER, 1972, p.35-36).
O preconceito é a categoria do pensamento que está relacionada aos comportamentos
praticados na cotidianidade, ou seja, “é um tipo particular de juízo provisório.” (HELLER,
1972, p. 45).
117
Heller (1972, p. 59) ressalta que o preconceito apresenta-se com um “conteúdo
axiológico negativo”. Por essa razão, a análise do sujeito preconceituoso deve se realizar a
partir do ângulo de sua totalidade e se ela está completamente fomentada pela sua
particularidade. Considerando que os preconceitos são constituídos e se apresentam em vários
níveis de intensidade e conforme a pessoa, o local, etc., o preconceito:
[...] reduz as alternativas do indivíduo. Mas o próprio preconceito é, em maior ou
menor medida, objeto da alternativa. Por mais difundido e universal que seja um
preconceito, sempre depende de uma escolha relativamente livre o fato de que
alguém se aproprie ou não dele. Cada um é responsável pelos seus preconceitos. A
decisão em favor do preconceito é, ao mesmo tempo, a escolha do caminho fácil no
lugar do difícil, o “descontrole” do particular-individual, a fuga diante dos
verdadeiros conflitos morais, tornando a firmeza algo supérfluo. (HELLER, 1972, p.
60).
A redução das alternativas do indivíduo acontece com a manifestação do preconceito,
que independe de seu nível potencial. Assim, Heller (1972, p. 63) considera que “só
poderemos nos libertar dos preconceitos se assumirmos o risco do erro e se abandonarmos –
juntamente com a ‘infalibilidade’ sem riscos – a não menos tranquila carência de
individualidade.” Nesse prisma, “libertar dos preconceitos” exige uma releitura da forma que
com que se olha para algo ou para alguém e se questiona as certezas e incertezas das próprias
convicções:
Só um detalhe. Eu acho que as oficinas que começaram a ser feitas ajudou a
desconstruir um pouco essa ideia pré-concebida do RAP. Eu acho que a partir daí,
hoje é muito mais fácil liberar um CD de RAP do que era em 2005 quando eu
cheguei na instituição. (LUA).
Portanto, o trabalho de campo possibilitou o aprofundamento da estratégia utilizada,
para maior apreensão das relações dos adolescentes que estiveram em cumprimento da
medida socioeducativa de internação, com as oficinas de RAP e de poesia.
Por meio deste estudo, constatei que os adolescentes compreenderam e materializaram
as reflexões sobre a violência, a partir da relação dos conteúdos das oficinas – músicas e
poesias – e sua própria história de vida. Essa relação, pela identificação, possibilitou um
caminho para a construção do trabalho. Nesse aspecto, notei que as letras de RAP com
narrativas sobre mãe, história de vida, a vida em comunidade, vida no crime, etc., eram as que
mais proporcionaram essa identificação. Por isso, digo que as reflexões dependeram do
interesse do adolescente em participar das oficinas. As materializações dessas reflexões não
foram imediatas (e nem pretendiam) e, por terem sido marcantes, passaram por um processo
118
gradativo de autoformação, de experiência própria, demandando condições materiais
condizentes.
A questão não foi verificar se eles colocaram em prática o que escreveram nas letras
de RAP ou nas poesias, mas se conseguiram identificar as suas condições materiais existentes
na passagem do poético para o concreto, se compreenderam as dimensões dessa identificação
e o que apreenderam sobre o que pode surgir a partir daí, pois:
É, realmente, importante para quem quer que deseje intervir na vida social, saber
quais são, num estado dado, numa dada situação, as informações que se podem
transmitir, quais as que passam sofrendo deformações mais ou menos importantes e
quais as que não podem passar. (GOLDMANN, 1972, p. 10).
Ponto em comum entre os três adolescente/jovens sujeitos da pesquisa foi a questão da
invisibilidade relacionada com a convivência comunitária antes e depois do cumprimento da
medida socioeducativa de internação – considerando a intensidade dessa invisibilidade em
relação à prática infracional. No entanto, há uma diferença: antes da medida socioeducativa, o
valor da invisibilidade não era negativo pela sua condição de cobertura da cultura da violência
local. Após a medida, esse valor se tornou negativo pelas relações que foram se fragilizando,
devido ao preconceito e à “confiança” da comunidade que não os vê como pessoas
“humildes”, que passaram por um processo de socioeducação e que buscam uma convivência
comunitária “normal”.
Você consegue ver esse invisível quando você pergunta isso. Quer dizer, ele está
falando de quem? Ele está falando do invisível. Frente a frente, olho no olho ele não
dá conta de falar disso. Mas, na escrita, ele consegue se expressar muito facilmente o
que, às vezes, não consegue olho no olho. Então, é por isso que é importante a
poesia, a escrita: essa poesia que chega na construção desse RAP, que é a linguagem
deles. (SOL)
As atividades por meio das oficinas do RAP e da poesia podem contribuir para o
processo de superação dessa invisibilidade que corrobora para que as pessoas não os vejam
como eles são. As atividades ocorrem a partir da articulação com os objetivos da medida e
como forma de servir de mediação para o trabalho socioeducativo para as demais áreas. É,
também, uma forma de apreender as demais questões que envolvem as especificidades do
adolescente e do seu desenvolvimento na medida socioeducativa de internação. Se as oficinas
não forem um lugar em que os adolescentes sintam prazer, conforto e identificação, o
resultado pode ser o que se pretende “combater”. Ademais, as apresentações dos RAPs e das
poesias partiram de um processo natural das oficinas, decidido em conjunto com os
119
adolescentes, para não os expor, pois a pesquisa ratificou a presença de motivações como a
“responsa”, mas também pontos inibidores como o medo e a vergonha de se apresentarem em
público.116
Se o adolescente já traz uma invisibilidade, há necessidade de desenvolver um cuidado
no modo de trabalhar essa questão, para que ela não se torne “invisibilidade institucional” –
que limita o mundo da pessoa entre os muros e que não a respeita como pessoa, em razão dos
motivos que levaram para a instituição.
Eu acho que tem momentos... Não é uma invisibilidade intencional, de forma
nenhuma, mas tem momentos que a gente para e olha o tempo de medida do
adolescente na instituição e se assusta e se questiona: “Gente! Como assim? Esse
menino está aqui até hoje? O que ele fez? O que nós fizemos?” Essas são as
perguntas principais. Eu acho que existe uma demanda institucional em função da
demanda que outros adolescentes apresentam de forma tão intensa. Esse adolescente
que apresenta pouca demanda acaba ficando no lugar invisível. E tem adolescentes...
para alguns, é cômodo estar nesse lugar, porque a instituição para eles é um lugar de
proteção. Não deveria ser, porque é um lugar... A instituição... o foco dela é a
responsabilização pelo ato infracional, mas em alguns casos ela ocupa também um
lugar de proteção social. (LUA).
Assim, considero também que as oficinas de RAP e a de poesia devem lidar com a
questão da violência e/ou com temáticas relacionadas à prática do ato infracional, a partir do
discurso dos adolescentes, das músicas e das poesias com as quais eles se identificam, tendo
atenção para não reforçar a “visão comum” deles, que é o ponto de partida do trabalho. É
necessário, ainda, diferenciar “falar de algum tema” de “falar sobre algum tema”. O primeiro
implica nos apontamentos feitos pelos e para os adolescentes e o segundo refere-se a um
estágio mais avançado, na medida em que implica percepções derivadas desses apontamentos.
Outro ponto importante é dizer de/sobre o tema sem enfatizar, de maneira isolada, a
categoria central da oficina ou, até mesmo, sem mencioná-la de maneira direta. Nessa
perspectiva, considero que a metodologia que poderia ser utilizada, de forma a despertar o
interesse dos adolescentes e, ao mesmo tempo, desenvolver sua capacidade de crítica em
relação à sociedade e à sua própria vida, é aquela que se constitui dentro do processo de
socioeducação, com a utilização de instrumentais reconhecidos pelos sujeitos.
116
Por incrível que pareça, as apresentações realizadas em público aconteciam mediante o interesse do adolescentes. Esse aspecto não era a finalidade das oficinas. As apresentações em público demandavam o movimento avaliativo que eu chamava de “pós-apresentação”, para analisar como o adolescente se sentiu e quais foram as suas percepções. De acordo com Saturno: “O primeiro dia foi muito vergonhoso, mas me ajudou muito a colocar um brilho no meu rosto, né?! Assim, perder a vergonha de estar na frente de todo mundo”. As oficinas tinham o cuidado com o “infinito particular” – nome da música de Marisa Monte – dos adolescentes (Ver Anexo E).
120
Nessas oficinas, um espaço importante de trabalho é o da consciência dos
adolescentes. De acordo com Goldmann (1972), é necessário fazer distinção entre
“consciência real” e “consciência possível”. O autor classifica esse movimento, que vai da
consciência real para a consciência possível em quatro níveis:
O primeiro nível acontece toda vez que alguma informação não é compreendida por
ausência de conhecimento prévio. A recepção pode ser alcançada a partir de um
conhecimento que se coloca no processo da ação.
O segundo nível refere-se à “estrutura psíquica do indivíduo”. Aqui, Goldmann (1972)
menciona Freud, em relação à sua análise acerca dos componentes estruturais de desejos e de
rejeições, bem como do “eu consciente”, que se torna resistente a algumas informações e/ou
atribui sentido destorcido a outras.
O terceiro nível, sociológico, relaciona-se aos grupo particular do sujeito, resultante de
seu passado e dos diferentes acontecimentos que agiram sobre ele. Dada a estrutura de sua
consciência real, o indivíduo resiste à apreensão de algumas informações que não sejam
legitimadas.
O quarto e último nível é o que Karl Marx considera como os “limites da consciência
possível”, em que, para ocorrer o alcance da informação, é necessária a transformação da
estrutura do grupo, pois “existem efetivamente informações cuja transmissão é incompatível
com as características fundamentais deste ou daquele grupo social. É o caso em que as
informações ultrapassam o máximo de consciência possível do grupo.” (GOLDMANN, 1972,
p. 11).
Esses níveis apresentados por Goldmann (1972) relacionam-se com o movimento das
oficinas, por terem um caráter prático-reflexivo e por terem considerado as especificidades
que constituem o grupo de adolescentes. Por meio da compreensão do processo da
“consciência real” para a “consciência possível” é que pude chegar à estruturação da
metodologia central deste trabalho. Assim, as oficinas realizadas possibilitaram a efetivação
do que denomino de “cultura da libertação”, por viabilizar uma mudança a partir das
condições tangíveis da cultura e da vivência prática e política dos sujeitos.
A “cultura da libertação” refere-se ao conjunto de ações que podem ser desenvolvidas
e/ou percebidas, por meio do RAP e da poesia, compreendendo também que:
A simples “existência” da obra não encerra a discussão. O que mais interessa é a
função exercida pela arte na vida cotidiana dos homens. A arte, portanto, não existe
como um dado objetivo numa relação de indiferença com os seus receptores.
(FREDERICO, 2005 p. 111).
121
CONSIDERAÇÕES FINAIS
É um apoio essas oficinas, as oficinas são um apoio para gente.
(SATURNO – sujeito da pesquisa)
Apresento, nessas considerações finais, percepções que tive durante o processo de
pesquisa e que foram constituídas a partir do movimento dinâmico da investigação realizada.
A princípio, considero de suma importância o cuidado ético de preservar todos os
documentos que auxiliaram a análise desta pesquisa, como fotografias, imagens de vídeo,
produção dos adolescentes e, principalmente, o diário de campo117
, que, possibilitou, de
maneira efetiva:
– O retorno aos detalhes, descritos durante a realização das oficinas, nos anos de 2007
a 2010, que possibilitaram o “reviver fidedigno” dos acontecimentos, dos relatos e das
produções realizadas pelos adolescentes e de minhas anotações acerca da realização das
oficinas;
– O reconhecimento do amadurecimento operacional e metodológico das oficinas e,
também, do modo como os adolescentes desenvolviam-se nelas;
– A organização do projeto de pesquisa, a elaboração dos procedimentos
metodológicos e a localização dos sujeitos que participaram das oficinas – pois os três sujeitos
da pesquisa não estavam mais em cumprimento da medida socioeducativa de internação; já
eram egressos, no momento da entrevista; e
– A análise e a reflexão mais aprofundada das atividades que foram realizadas naquele
período, possibilitando, também, o avanço nas estratégias e nas técnicas de operacionalização
das oficinas apresentadas na metodologia construída.
Também considero importante a minha retomada a campo e ter localizado os três
sujeitos escolhidos para pesquisa – um adolescente e os dois jovens adultos que participaram
das oficinas naquele período. O momento do encontro foi marcante e de muita felicidade para
eles e também para mim. Ao perguntar-lhes sobre a sensação do reencontro, a resposta dos
117
O meu diário de campo era feito a partir dos seguintes pontos: 1 – local, lugar (considero que o lugar em que você escreve interfere no modo como as descrições/análises são feitas), data e horário; 2 – temática da oficina; 3 – descrição da atividade realizada; 4 – reflexões a partir da descrição realizada; 5 – inquietações e/ou dúvidas e 6 – observações. A utilização do diário de campo pode ser flexível, sem preocupação de um modelo de diário de campo único e exclusivamente de caráter descritivo, pois, é por esse instrumental que o pensamento deve se fazer livre para que, num segundo momento, o profissional e/ou estudante que vier a utilizá-lo faça uma leitura para realizar as reflexões finais daquele registro.
122
três foi igual: “surpresa”. Um sujeito da pesquisa disse: “Eu pensei que você tinha se
esquecido de mim...” (SATURNO). Ele não imaginava que eu iria aparecer, após alguns anos,
para falar sobre as oficinas.
Aqui, cabe uma indagação: como explicar essa expressão de alegria ao reencontrar
esses sujeitos, sendo que no passado eu havia realizado intervenções intensas e severas com
eles, por algum comportamento inadequado durante o cumprimento da medida?
Costuma-se dizer que o adolescente precisa de limites – como se o limite fosse um
cordão de isolamento ou uma corrente presa no pé dele à parede. Em minha experiência,
percebia que as relações tecidas no campo do respeito – construídas em mão dupla –,
possibilitava que, eu, como profissional, fosse visto como alguém de referência positiva. Por
eu ser essa referência, os adolescentes ainda valorizam essa relação. Assim, o reencontro foi
produtivo também por evidenciar que a dimensão do respeito recíproco continuava presente.
Dessa forma, os cuidados éticos e o reencontro com os sujeitos da pesquisa deram-me
a segurança para realizar este estudo ex-post-facto mesmo após alguns anos da realização das
oficinas. E essa segurança ratificou a minha convicção em avançar nessa metodologia de
trabalho e sistematizá-la de maneira efetiva, como uma das práticas que mais se aproxima da
realidade de vida de adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa de
internação. Nessa aproximação, ao fazer o movimento de retorno ao processo vivenciado,
percebi os motivos que causaram a emersão das categorias violência, invisibilidade e cultura.
Em relação ao primeiro pressuposto que norteou esta dissertação – o adolescente
compreenderia o RAP e a poesia como “trilha sonora” de sua vida, com potencial
transformador, mas não suficiente para um direcionamento prático – é evidente que os
adolescentes falaram sobre a violência de uma forma muito concreta em suas produções.
Identificaram o RAP (ouvido e produzido por eles) à sua história de vida, pela sua
potencialidade de transformação por meio do conhecimento adquirido e produzido. Nesse
sentido, eles conseguiram identificar e expressar as razões que possivelmente impediam e/ou
dificultavam a efetivação de sua superação como, por exemplo, a desigualdade social. As
produções traziam dimensões riquíssimas, que provocavam indagações acerca do modo como
eles vivenciaram a violência, e como a prática infracional estava relacionada também com
outras dimensões, como a luta por sobrevivência e uma resposta à subalternidade (TOLEDO,
2007). Às vezes, a violência se apresentava como aparência (ou na aparência), escamoteando
forças internas e externas contraditórias: “[...] os meus pais não vêm aqui me ver/ Fico bolado
e começo a sofrer/ Penso em matar, penso em morrer/ Penso em salvar, penso em viver...”
(JÚPITER).
123
O segundo pressuposto – a invisibilidade não seria dada, nem estaria presente em
todos os níveis de vida do adolescente – demandou uma análise detalhada e qualificada desse
alcance, pois tornou necessário “tentar ver o que está nesse invisível. No invisível: o que está
oculto.” (SOL). Nas palavras de Saturno evidencia-se o invisível sobrepondo o visível “às
vezes, eu ando aí pelas ruas e as pessoas ficam me olhando meio assim, achando que eu ainda
sou o que eu era, entendeu?!”. Essa invisibilidade toma para ele uma forma de rejeição, de
desqualificação e, apenas ao nível do pensamento, como uma expressão de vontade, ele
responsabiliza o outro (a sociedade) por um eventual retorno às antigas práticas: “Eu dentro
da casa da pessoa e a pessoa, ao chegar na casa dela, falar: ‘Você não vai entrar aqui dentro,
porque você é isso, isso e aquilo’. Eu já tive muita vontade de voltar sim e falar ‘já que você
está falando que eu sou, eu vou ser”.
O terceiro pressuposto – a violência seria um meio (e não um fim), pelo qual os
adolescentes expressariam suas angústias, desejos e frustrações, no contexto desigual da
sociedade brasileira, assim, a análise de suas “trilhas sonoras”, possibilitaria descobrir e
diferenciar questões que teriam determinado sua prática infracional e, a partir daí, construir
estratégias para superá-las. Esse pressuposto se confirmou quando, ao analisar a violência em
sua totalidade e a partir das conjunturas sócio-históricas que norteiam a vida do adolescente
que pratica ato infracional, demonstrando as múltiplas situações que determinam essa prática,
ficou evidente que a violência não é o fim da história no contexto da análise dessa questão. A
violência, como meio, não se constrói sozinha. Por isso, torna-se necessário diferenciar as
múltiplas situações e “trabalhar a cultura a partir da própria cultura que os adolescentes
trazem.” (LUA). Por essa razão, “é fundamental discutir a cultura da violência, quer dizer,
pesquisar seus meios de difusão, suas características, sua lógica moral própria, para investir
nos antídotos, entre os quais se destaca a cultura Hip-Hop” (SOARES, 2005, p. 221).
O quarto e último pressuposto – uma aproximação do adolescente, para que seja eficaz
no alcance dos objetivos socioeducativos, teria que focar atividades que despertassem não
apenas o seu interesse, mas a sua capacidade de crítica em relação à sociedade e à sua própria
vida – se legitimou na pesquisa realizada, por evidenciar vários aspectos. Tornou claro que o
interesse primário fazia com que o adolescente estivesse presente nas oficinas, mas, a sua
permanência continuada, a sua contribuição e o seu sentimento de pertencimento se
desenvolviam por meio de seu envolvimento direto nas atividades, não apenas por sua
presença. Caber dizer também que trabalhar o pensamento crítico com os adolescentes não
significou potencializá-los contra a instituição, e sim, potencializá-los, a favor da defesa de
124
seus direitos, da responsabilização por seus atos, da superação de seus conflitos, da
construção de um novo modo de entender a vida.
Considero também que a emersão das categorias humildade e preconceito
contribuíram para o avanço deste estudo, o qual não teria acontecido de tal forma se eu não
tivesse ido a campo para realizar essa apreensão.
Em relação à humildade – categoria discutida aqui como um valor para os
adolescentes a partir do conceito construído por Guará (2000) – chamo a atenção para as
características contraditórias que a perpassam quando de seu uso pelos adolescentes: ela se
apresenta em suas relações cotidianas e, dificilmente, o adolescente será “humilde” o tempo
todo, sobretudo com quem lhe faz mal. Marte a apreende como um modo de se relacionar:
“Ser humilde é você saber falar com as pessoas”. Mas deixa claro que em sua vida, ainda que
se mostre humilde, às vezes, não é percebido como tal: “De vez em quando eu sou humilde,
mas muitos não conseguem ver”.
Já o preconceito relacionou-se com a questão da invisibilidade projetada. Por essa
razão, considero necessário que os profissionais, de qualquer instituição em que o RAP seja
representativo e expressivo, entendam o que essa cultura significa no processo da
socioeducação.
Para a compreensão e a ação nesse sentido, é importante refletir sobre a terceira tese
de Karl Marx contra Feuerbach:
A doutrina materialista que pretende que os homens sejam produto das
circunstâncias e da educação, e que, consequentemente, homens transformados
sejam produtos de outras circunstâncias e de uma educação modificada, esquece
que são precisamente os homens que transformam as circunstâncias e que o
próprio educador precisa ser educado. É por isso que ela tende inevitavelmente a
dividir a sociedade em duas partes, uma das quais está acima da sociedade (por
exemplo, em Robert Owen). A coincidência da mudança das circunstâncias e da
atividade humana ou a automudança só pode ser considerada e compreendida
racionalmente como práxis revolucionária. (MARX, 2007, p. 100, grifo meu).
Por fim, considero a arte como mediação na perspectiva crítica e como instrumento de
trabalho, no fazer profissional dos assistentes sociais. Pois, de acordo com Lukács (1978, p.
296):
A arte opera diretamente sobre o sujeito humano; o reflexo da realidade objetiva, o
reflexo dos homens sociais em suas relações recíprocas, no seu intercâmbio social
com a natureza, é um elemento de mediação – ainda que indispensável –, é
simplesmente um meio para provocar este crescimento do sujeito.
125
REFERÊNCIAS
ABBAGNANO, Nicola. Diccionario de Filosofia. México: Fondo de cultura económica,
1963.
ALVES, Valmir Alcântara. De repente o RAP na educação do negro: o RAP do movimento
Hip-Hop nordestino como prática educativa da juventude negra. 2008. Dissertação (Mestrado
em Educação) – Universidade Federal da Paraíba, Paraíba, 2008.
AMARO, Sarita. A questão racial na assistência social: um debate emergente. Serviço Social
e Sociedade, ano XXVI, n. 81, p. 58-81, março 2005.
ANDRADE, Elaine Nunes de. Rap e Educação, Rap é Educação. São Paulo: Summus,
1999.
ARRUDA, Daniel Péricles (Vulgo Elemento). Constelação de Ideias. São Paulo: Scortecci,
2011.
_________; PINTO, Patrícia da Silva Pinto. De Volta Pro Mundão: uma análise dos
adolescentes egressos da medida socioeducativa de internação. 2o Simpósio Mineiro de
Assistentes Sociais. Conselho Regional de Serviço Social (Cress, 6a região), 2009.
AUGÉ, Marc. Não-Lugares: introdução a uma antropologia da supermodernidade. São
Paulo: Papirus, 1994.
BASSI, Silvana. Sexualidade feminina em privação de liberdade: construindo relações
sociais mais autênticas. 2011. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2011.
BAPTISTA, Myrian Veras. Adolescência e Violência. São Paulo, 2010. (não publicado).
_________. A Investigação em Serviço Social. São Paulo: Veras Editora; Lisboa (Portugal):
CPIHTS – Centro Português de Investigação em História e Trabalho Social, 2006.
___________. A pesquisa avaliativa de políticas, programas, projetos e/ou intervenções
sociais. São Paulo, 2012. (não publicado).
__________. & BATTINI, Odária. A prática profissional do assistente social: teoria, ação,
construção do conhecimento. São Paulo: Veras Batista, 2009.
__________. Medidas socioeducativas em meio aberto e de semiliberdade. São Paulo,
2000 (não publicado).
__________. A ação do profissional no cotidiano. In: MARTINELLI, Rodrigues; MUCHAIL,
Salma Tannus (Org.). O uno e o múltiplo nas relações entre as áreas do saber. 2. ed. São
Paulo: Cortez, 1998.
126
BARROCO, Maria Lúcia Silva. Ética: fundamentos sócio-históricos. 2. ed. São Paulo:
Cortez, 2009.
BARROS, Manoel. O livro das Ignorãças. 14. ed. Rio de Janeiro: Record, 2008.
BAUMAN, Zygmunt. Amor líquido: sobre a fragilidade dos vínculos humanos. Rio de
Janeiro: Jorge Zahuar, 2004.
BECKER, Daniel. O que é adolescência. São Paulo: Brasiliense, 2009. (Coleção primeiros
passos).
BHABHA, Homi K. O local da cultura. 5. ed. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.
BOLETIM SUASE. Secretaria de Estado de Defesa Social (Seds), Ano 4, n. 17. Ed. Especial
Centro de Atendimento Integrado ao Adolescente Autor de Ato Infracional CIA/BH Disponível em: <https://www.seds.mg.gov.br/images/seds_docs/boletim%20especial%20cia-
bh%20final.pdf>. Acesso em: 20 mai 2012.
BRASIL. Código penal. Decreto Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940. Diário Oficial da
União. Brasília, DF, 31 dez. 1940.
_______. Conselho Nacional de Saúde. Resolução 196, de 10 de outubro de 1996. Sobre
diretrizes e normas regulamentares de pesquisa envolvendo seres humanos.
_______. Constituição da República Federativa do Brasil (1998). Disponível em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em:
30 mai. 2012.
_______. Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do
Adolescente e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília,16 jul. 1990.
_______. Lei no 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação
sobre Direitos Autorais e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 20 fev.
1998.
_______. Lei no 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Dispõe sobre registro, posse e
comercialização de armas de fogo e munição, sobre o Sistema Nacional de Armas (Sinarm),
define crimes e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 22 dez. 2003.
_______. Lei no 11.434, de 23 de agosto de 2006. Institui o Sistema Nacional de Políticas
Públicas sobre Drogas (Sisnad). Diário Oficial da União, Brasília. 24 ago. 2006.
_______. Lei no 12.594, de 18 de janeiro de 2012. Institui o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo (Sinase). Diário Oficial da União, Brasília. 19 jan. 2012.
_______. Ministério da Justiça. Secretaria Nacional de Justiça (Org.). Normas e Princípios
das Nações Unidas sobre Prevenção ao crime e justiça criminal. Brasília: Secretaria
Nacional de Justiça, 2009.
127
BRASIL. Secretaria Nacional dos Direitos Humanos. Levantamento Nacional do
Atendimento Socioeducativo ao Adolescente em Conflito com a Lei, 2010.
_______. Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese). Sistema Nacional de
Atendimento Socioducativo (Sinase). Governo do estado de Minas Gerais, 2007.
CARVALHO. José Murilo Carvalho. Os bestializados: o Rio de Janeiro e a república que
não foi. São Paulo: Companhia das Letras, 2001.
__________. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira,
2002.
__________. A formação das almas: o imaginário da República no Brasil. São Paulo:
Companhia das letras, 2005.
CASTEL, Robert. In: Desigualdade e a questão social. Org. Lúcia Bogus, Maria Carmelita
Yasbek. Mariangela Belfiore-Wanderley. São Paulo: EDUC, 2007.
CENTRO de Atendimento ao Adolescente (Cead). Projeto político-pedagógico. Belo
Horizonte: ISJB, 2005.
__________. Regimento interno. Belo Horizonte: ISJB, 2005.
CERTEAU, Michel de; GIARD, Luce; MAYOL, Pierre. A invenção do cotidiano 2: morar,
cozinhar. Petrópolis, RJ: Vozes, 1996.
CORTELLA, Mário Sérgio. Não nascemos prontos. 6. ed. São Paulo: Vozes, 2007.
COSTA, Fernando Braga. Homens invisíveis: relatos de uma humilhação social. São Paulo:
Globo, 2005.
CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 11. ed. São Paulo: Cortez,
2010.
CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ed. Ática, 2000.
_______________. Cultura e democracia: o discurso competente e outras falas. 2. ed. São
Paulo: Ed. Moderna, 1981.
_______________. Direitos humanos e medo. In: FESTER, A.C.R. (Org.). Direitos
Humanos. 1. ed. São Paulo: Brasiliense, 1989. p. 15-36.
CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais. 2. ed. Bauru/SP: EDUSC, 2002.
CURY; AMARAL e SILVA; MENDEZ (Coord.). Estatuto da Criança e do Adolescente
comentado. Comentários jurídicos e sociais. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2000.
DANIEL. Heloisa Helena. O processo de reflexão/construção de uma prática: o caso do
Case da Fundação Criança de São Bernardo do Campo. 2009. Dissertação (Mestrado em
Serviço Social) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009.
128
DAYRELL, Juarez. A música entra em cena: o rap e o funk na socialização da juventude.
Belo Horizonte: UFMG, 2005.
__________. O jovem como sujeito social. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro,
n. 24, p. 40-52, set/out/nov/dez 2003.
__________; LEÃO, G.; BATISTA, J. Juventude, pobreza e ações sócio-educativas no Brasil.
In: Sposito, M. (Org.). Espaços públicos e tempos juvenis: um estudo de ações do poder
público em cidades das regiões metropolitanas brasileiras. São Paulo: Global, 2007.
Disponível em: <http://www.anped.org.br/reunioes/30ra/trabalhos/GT03-2880--Int.pdf>
Acesso em: 20 abr. 2012.
DEMO, Pedro. Charme da exclusão social. São Paulo: Autores Associados, 1998.
ECO, Humberto. Como se faz uma tese. 22. ed. São Paulo: Perspectiva, 2009.
FERNANDES, Florestan. O negro no mundo dos brancos. São Paulo: Difusão Europeia do
Livro, 1972.
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir: nascimento da prisão. 37. ed. Petrópolis, RJ: Vozes,
2009.
FUNDAÇÃO CRIANÇA. Relatório anual. Fundação Criança – Centro de Atendimento de
Medidas Sócio Educativas. São Bernardo do Campo, 1999. n.p.
FRASSETO, Flávio Américo. Esboço de um roteiro para aplicação das medidas
socioeducativas. Revista Brasileira de Ciências Criminais, n. 26. São Paulo: Revista dos
Tribunais, 1999. p. 159-195.
FREDERICO, Celso. Marx e Lukács: a arte na perspectiva ontológica. Natal: EDUFRN,
2005.
___________. Sociologia da cultura: Lucien Goldman e os debates do século XX. São
Paulo: Cortez, 2006.
GALEANO, Eduardo Hughes. As veias abertas da America latina. São Paulo: Paz e Terra,
2002.
GAYOTTO, Maria Leonor Cunha (Ed.). Coragem para mudar: determinação de uma
equipe. São Paulo, 2000. (mimeo).
GOFFIMAN. Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. 4. ed.
Rio de Janeiro: LTC, 2008.
_________________. Manicômios, prisões e conventos. 7. ed. São Paulo: Perspectiva, 2001.
GOLDENBERG, Mirian. Noites de insônia: cartas de uma antropóloga a um jovem
pesquisador. Rio de Janeiro: Record, 2008.
GOLDMANN, Lucien. Dialética e cultura. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
129
__________. A criação cultural na sociedade moderna (Por uma sociologia da totalidade).
São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1972.
GUARÁ, Isa Maria da Rosa. O crime não compensa mas não admite falhas: Padrões
morais de jovens autores de infração. 2000. Tese (Doutorado em Serviço Social) – Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2000.
HALL, Stuar. A Identidade Cultural na Pós-Modernidade. Tradução Tomaz Tadeu da
Silva, Guaracira Lopes Louro. 11. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2006.
___________. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora
UFMG, 2009.
HELLER, Agnes. A concepção de família no estado de bem estar social. Tradução Maria
Lúcia Martinelli. Serviço Social & Sociedade, n. 24. São Paulo: Cortez, 1987. p. 5-31.
___________. A História e o Cotidiano. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1972.
HERSCHMANN. Micael. O Funk e o Hip Hop invadem a cena. 2 ed. Rio de Janeiro:
Editora UFRJ, 2005.
___________. Abalando os anos 90: funk e hip hop: globalização, violência e estilo
cultural. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.
HUBERMAN, Leo. História da riqueza do homem. Rio de Janeiro: Zahar, 1984.
IAMAMOTO, Marilda Vilella. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e
formação profissional. São Paulo: Cortez, 1998.
JUNQUEIRA, Cássio. Só a pessoa sabe o que tem por dentro. São Paulo: Edicon, 2007.
KONDER, Leandro. Em torno de Marx. São Paulo: Boitempo, 2010.
________________. Sobre o amor. São Paulo: Boitempo, 2007.
LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. 5. ed. São Paulo: Centauro, 2001.
LUKÁCS, Georg. Introdução a uma estética marxista. Tradução Carlos Nelson Coutinho e
Leandro Konder. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.
LUZ, Lila Cristina Xavier. Vozes de rappers: experiências juvenis em Teresina. 2007. Tese
(Doutorado em Serviço Social) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo,
2007.
LOSACCO, Silvia. Métrons e medidas. Caminhos para o enfrentamento das questões da
infração do adolescente. 2004. Tese (Doutorado em Serviço Social) – Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2004.
130
_______________. O jovem e o contexto familiar. In: ACOSTA, Ana Rojas; VITALE, Maria
Amália Faller (Orgs.). Famílias: redes, laços e políticas públicas. 5. ed. São Paulo: Cortez,
2010.
MARTINELLI, Maria Lúcia. Serviço Social: identidade e alienação. São Paulo: Cortez,
1995.
________________________. Notas sobre mediações: alguns elementos para sistematização
da reflexão sobre o tema. Revista Serviço Social e Sociedade, n. 43. São Paulo: Cortez,
1993.
MARTINS, José de Souza. A sociabilidade do homem simples: cotidiano e história da
modernidade anômala. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2008.
__________. A sociedade vista do abismo: novos estudos sobre a exclusão, pobreza, classes
sociais. Petrópolis/RJ: Vozes, 2002.
__________. Exclusão social e a nova desigualdade. São Paulo: Paulus, 1997.
MARX, Karl. A ideologia alemã. 3 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
__________. A Questão Judaica. São Paulo: Editora Moraes, 1991.
__________. Manuscritos econômico-filosóficos. Lisboa: Edições 70, 1989.
__________. Manuscritos econômico-filosóficos e outros textos escolhidos. Seleção de
textos de José Arthur Gionnotti; tradução José Carlos Bruni. 2. ed. São Paulo: Abril Cultural,
1978. (Os Pensadores)
__________. Miséria da Filosofia: resposta à Filosofia da miséria, do Sr. Proudhon. São
Paulo: Expressão Popular, 2009.
MATTOS, Ailema Cristina de. O processo de reintegração familiar e comunitária, do
ponto de vista dos adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de
internação, em específico, dos “internados provisoriamente” no CEIP Dom Bosco.
Monografia (lato sensu). 2009. Especialização em Criminologia – PRESP. Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais, Minas Gerais, 2009.
MOORE, Carlos. O marxismo e a questão racial: Karl Marx e Friedrich Engels frente ao
racismo e à escravidão. Belo Horizonte: Nandyala; Uberlândia: Cenafro, 2010. (Coleção
Repensando África, v. 5)
MUNANGA, Kabengele. Negritude: usos e sentidos. Belo Horizonte: Autêntica Editora,
2009.
_____________________; GOMES, Nilma Lino. O negro no Brasil de hoje – São Paulo:
Global, 2006.
131
NASCIMENTO, Érica Peçanha. Literatura Marginal: os escritores da periferia entram em
cena. 2006. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social) – Universidade de São Paulo,
São Paulo, 2006.
NATIONAL GEOGRAPHIC (En Español). Cultura hip-hop: cómo se apodero del mundo,
v. 20, n. 4, abr., 2007
NETTO, José Paulo; CARVALHO, Maria do Carmo Brant de. Cotidiano: conhecimento e
crítica. 9. ed. São Paulo: Cortez, 2011.
__________. Ditadura e Serviço Social: uma análise do serviço social no Brasil pós 64. 14.
ed. São Paulo: Cortez, 2009a.
__________. Introdução ao método na teoria social. In: Serviço Social: direitos e
competências profissionais. Brasília: CFESS/ABPESS, 2009b.
PAULA, João Antônio. A produção do Conhecimento em Marx. In: ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA DE ENSINO DE SERVIÇO SOCIAL (Abess). A produção do conhecimento
e o Serviço Social. Revista n. 5, p. 17-42, 1995.
____________________. O marxismo como pensamento crítico. Revista da Sociedade
Brasileira de Economia Política, n. 9. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2001.
ODÁLIO, Nilo. O que é violência. São Paulo: Brasiliense, 2004. (Coleção primeiros passos).
OLIVEIRA, Raimunda N. Cruz. A mediação na prática profissional do assistente social.
Serviço Social e Sociedade, n. 26. São Paulo: Cortez, 1988.
PESSOA, Fernando. Antologia poética. Organização Walmir Ayala; Coordenação André
Seffrin. Ed. Especial. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2011.
PIMENTEL, Spensy. O Livro Vermelho do Hip-Hop, 1999. Disponível em:
<http://www.literarua.com.br/morto/gratuito/OLivroVermelhodoHipHop.PDF>. Acesso em
10 jul 2012.
POLANSKI, Roman. Metodologia de La Investigación del trabajo social. Tradução Javier
Armada Abella. Madrid: Euroamerica, 1966.
PONTES, Reinaldo Nobre. A propósito da categoría de mediação. Serviço Social e
Sociedade, n. 31. São Paulo: Cortez, 1989.
PLANO NACIONAL de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes
à Convivência Familiar e Comunitária, 2006.
RIOS, Teresinha Azeredo. As pessoas que a gente não vê. In: BAPTISTA, Myrian Veras.
Abrigo: comunidade de acolhida e socioeducação. São Paulo: Instituto Camargo Corrêa,
2006. (Coletânea abrigar, v. 1).
RIBEIRO, Matilde. As abordagens étnico-raciais no Serviço Social. Serviço Social e
Sociedade, ano XXV, n. 79, p. 148-161, set. 2004.
132
RODRIGUES, M. L. Caminhos e Transdisciplinaridade: fugindo às injunções lineares.
Revista Serviço Social e Sociedade, n. 64. São Paulo: Cortez Editora, 2000.
SALES, Mione Apolinário. (In)visibilidade perversa: adolescentes infratores como metáfora
da violência. São Paulo: Cortez, 2007.
SANTOS, Wanderley Moreira dos. Break-ar a vida: o processo de subjetivação de jovens
negros por meio da dança na cidade de São Paulo. 2009. Dissertação (Mestrado em
Psicologia Clínica) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2009.
SARLO, Beatriz. Paisagens Imaginárias: intelectuais, arte e meios de comunicação. São
Paulo: Edusp, 2005.
SARTRE. Jean Paul. Reflexões sobre o racismo: I – Reflexões sobre a questão judaica; II –
Orfeu Negro. 5. ed. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1968.
SILVA, Consuelo Dores. Negro, qual é o seu nome? Belo Horizonte: Mazza Edições, 1995.
SILVA, Sandra Regina Vaz da. Trajetórias juvenis mediadas pela arte: trabalho e busca de
autonomia. 2011. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, São Paulo, 2011.
SOARES, Luis Eduardo; MV Bill; ATHAYDE, Celso. Cabeça de porco. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2005.
____________________. Justiça: pensamento alto sobre violência, crime e castigo. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 2011.
____________________. Para fugir à armadilha da simplificação. Revista Veja, Rio de
Janeiro, 23 jan. 2002. Diponível em:
<http://www.luizeduardosoares.com.br/docs/armadilhadasimplificacao.doc>. Acesso em 7
abr. 2007.
____________________. O debate brasileiro sobre meninos e prisões, 2 jan. 2002.
Disponívem em: <http//www.luizeduardosoares.com.br/docs/coleto2.doc>. Acesso em: 7 abr.
2007.
SOUZA, Ana Lúcia Silva. Letramentos de reexistência: poesia, grafite, música, dança: hip
hop. São Paulo: Parábola Editorial, 2011.
SOUZA, Percival de. Meninos bandidos atacam: e nem sabemos o que fazer com eles. São
Paulo: Mostarda, 2006.
TEIXEIRA, Rodrigo José. Linguagem profissional e o lugar da experiência: interações no
cotidiano institucional dos assistentes sociais. 2008. Dissertação (Mestrado em Serviço
Social) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2008.
THIOLLENT, Michel. Metodologia da pesquisa-ação. São Paulo: Cortez, 1986.
133
TOLEDO, Alex Fabiano de. Adolescência e subalternidade: o ato infracional como
mediação com o mundo. 2007. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2007.
TRIBUNAL de Justiça do Estado de Minas Gerais. Centro de Atendimento Integrado ao
Adolescente Autor de Ato Infracional (CIA-BH). Disponível em:
<http://www.tjmg.jus.br/ciabh/cartilha_cia.pdf>. Acesso em: 14 mai 2012
TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Introdução à Pesquisa em Ciências Sociais: a pesquisa
qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, 2009.
UNICEF. Regras das Nações Unidas para Proteção de Jovens Privados de Liberdade, de
14 de dezembro de 1990. Disponível em: http://www1.direitoshumanos.gov.br/conselho/conanda/legis/link4/. Acesso em: 14 mai 2012.
WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da violência 2011: os jovens do Brasil. São Paulo-SP:
Instituto Sangari; Brasília-DF: Ministério da Justiça, 2011.
WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da violência 2012: os novos padrões da violência
homicida no Brasil. São Paulo: Instituto Sangari, 2012.
YAZBEK, Maria Carmelita. Classes subalternas e assistência social. São Paulo: Cortez,
2003.
ZALUAR, Alba. A máquina e a revolta: as organizações populares e o significado da
pobreza. 2 ed. São Paulo: Brasiliense, 2000.
________. Condomínio do Diabo. Rio de Janeiro: Editora Revan UFRJ, 1994.
________. Drogas e cidadania: repressão ou redução de riscos. São Paulo: Brasiliense, 2008.
________. Interação perversa: pobreza e tráfico de drogas. Rio de Janeiro: Editora FGV,
2004.
134
ANEXOS
Anexo A
Poesia: Ver e não ser visto
Autoria: Daniel Péricles Arruda (Vulgo Elemento)
A minha privacidade foi quebrada,
Ao admirar o meu eu pela vidraça,
Descobri que sou visto, mas não vejo,
Várias pessoas além do espelho.
Tipo vigiar e punir,
Só por cuidar de mim,
Eu sou o que penso e não o que vejo,
Várias pessoas olham no espelho,
Poucas consideram o contexto,
Nem todas gostam de si mesmo.
135
Anexo B
Letra de RAP: A Lágrima de um palhaço
Autoria: Daniel Péricles Arruda (Vulgo Elemento)
Hã, Vulgo Elemento, irmão, aí, fecha com nóis, Contagem/MG, São Paulo/SP, A Lágrima de
um Palhaço. É que eu tenho muito orgulho do que faço, tá ligado, mano, e acredito mesmo
que a tristeza é o motivo da alegria do palhaço, com o sentimento da dor e o bem estar do
abraço, um aperto de mão, um sorriso nos lábios, (a lágrima que desce dos olhos do palhaço.)
Se a vida é um circo eu sou um palhaço/
no picadeiro, na ativa arrancando aplausos/
a recompensa do ensaio e do trabalho/
ver o ser humano com o sorriso nos lábios/
né fácil, esse mundo está louco é um paralelo/
entre o preto e o branco a favela e o castelo/
aí mano Phil, eu to ligado que admira o meu som/
palavra chave tu falo tem que ter dom, bom/
A Lágrima de um Palhaço não é por acaso/
representa o desabafo apertado de um passado/
hã, como um sorriso com lágrimas nos olhos/
sentimento de dor como a guerra do petróleo/
quando estou no back gudang e campari/
mano to ligado isso é coisa de covarde/
a tristeza é o motivo, então, reflito/
na alegria do palhaço e com isso identifico/
REFRÃO ( 2 vezes)
Me deixe sorrir, me deixe chorar/
Senhoras e senhores o show vai começar/
Me deixe fugir pra outro lugar/
Aonde a paz prevalecerá/
136
Caminhando e cantando, uai, eu vou vivendo/
a vítima do sistema, vai, sobrevivendo/
o meu pensamento é diferente dos outros/
não sei, bem, tem hora que penso que estou ficando louco/
eu vou pintar o rosto de palhaço meu amigo/
pra ver se você luta e identifica comigo/
Em São Paulo ou BH tem que lutar até o fim/
Um dia pura tristeza, noutro dia feliz/
No Brasil, grande parte da população sofre com isso/
é como se fosse um abismo/
desemprego, depressão, humilhação e o vício, o que é isso/
a degradação do ser humano, é aquilo/
o circo está aberto o espetáculo começou, /
estreando Vulgo Elemento vou te dizer quem eu sou/
transformando os punhos fechados em abraços/
e relatando o motivo da lágrima de um palhaço/
REFRÃO ( 2 vezes)
Me deixe sorrir, me deixe chorar/
Senhoras e senhores o show vai começar/
Me deixe fugir pra outro lugar/
Aonde a paz prevalecerá/
137
Anexo C
Letra/Autoria: MV Bill
Música: O bagulho é doido
Álbum: Falcão: o bagulho é doido (2006) Faixa 02
Sem cortes
Liga a filmadora e desliga o holofote
Se quer me ouvir, permaneça no lugar
Verdades e mentiras, tenho muitas pra contar
Doideira
Fogueira à cada noite pra aquecer
O escuro da madruga que envolve o meu viver
Não sou você...
Também não sei se gostaria ser
Ficar trepado no muro
Se escondendo do furo
Não me falta orgulho
Papo de futuro
É nós
Que domina a cena
Bagulho de cinema
A feira tá montada, pode vir comprar
Eu vendo uma tragédia
Cobro dos comédias
16 é a média
Deus tá vendo, eu acredito
Sou detrito
Que tira o sono do doutor
Seria o Jason, se fosse um filme de terror
Desembaça
Saia na fumaça
O bonde tá pesado e você tá achando graça
Tipo peste
Tá no sudeste, tá no nordeste, no centro-oeste
Teu pai te dá dinheiro
Você vem e investe
No futuro da nação
Compra pó na minha mão
Depois me xinga na televisão
Na sequência vai pra passeata levantar cartaz
Chorando e com as mãos sinalizando o símbolo da paz
O bagulho é doido
Não tenta levar uma
Não vem pagar de pã, se não for porra nenhuma
Deus ajuda
Que eu fique de pé no sol e na chuva
138
A pista tá uma uva
Pretendo ser feliz
Com um rádio transmissor
E uma glock numa Honda Bizz
Um trago no cigarro
Um gole na cerveja
E sou destaque no outdoor que anuncia a revista 'VEJA!'
"Se eu morrer.. nasci outro que nem eu ou pior, ou melhor..."
"Se eu morrer eu vou descansar.."
"Ah, sonhar! Nessa vida não dá pra sonhar não..."
"Amanhã não sei nem se eu vou tá aí"
Veja que ironia
Que contradição
O rico me odeia e financia minha munição
Que faz faculdade
Trabalha no escritório
Me olha como se eu fosse um rato de laboratório
Vem de sheroki*
Vem de kawazaki
Deslumbrado com a favela
Como se estivesse vendo um parque
De diversões
Se junta com os vilões
Se sente por um instante
Ali Cuzão e os 40 ladrões
Se os homi chegasse
E nós dois rodasse
Somente o dinheiro iria fazer com que eu não assinasse
Pra você?
Tá tranqüilo
Nem preocupa
Sabe que vai recair
Sobre mim a culpa
Me levam pra cadeia
Me transformam em detento
Você vai para uma clínica tomar medicamento
Imagine vocês
Se eu fizesse as leis
O jogo era invertido
Você que era o bandido
Seria o viciado, aliciador de menor
Meu sonho se desfaz igual o vento leva o pó
Big Brother
Da vida de ilusão
Não se ama
Se odeia
Se precisar, mandamos pro paredão
Com bala na agulha
Cada um na sua
139
O meu dinheiro vem da rua
Um bom soldado nunca recua
A droga que você usa é batizada com sangue
É mais financiamento
Mais armas
Bang-bang
Corre igual um porco
Para não ficar 'sós'
Fica todo arrepiado quando ouve alguém falar que É NÓS
"É muito esculacho nessa vida..."
REFRÃO:
Já vou ficar no lucro se passar de 18
Depois que escurece o bagulho é doido
O mesmo dinheiro que salva também mata
Jovem com ódio na cara
Terror que fica na esquina
Esperando você chegar
Se passa de 18
Depois que escurece o bagulho é doido
O mesmo dinheiro que salva também mata
Já vem com um monte na cara
Terror que fica na esquina
Esperando você...
Aos 47 você vem falar de paz
Tem um maluco que falava disso há 15 anos atrás
A bola do mundo me deixou na mira dos policiais
Sou notícia sem ibope na maior parte dos jornais
Quem sou eu
Eu não sei
Já morri
Já matei
Várias vezes eu rodei
Tive chance e escapei
E o que vem?
Eu não sei
Talvez, ninguém saiba
Eu penso no amanhã e sinto muita raiva
RELAXA..
Não tenta levar uma
Se não vou ter que dar baixa
É o certo pelo certo
O errado não se encaixa
Não usa faixa
Idade certa
Cidade Alerta
140
O alvo certo, a isca predileta
Tipo atleta
Correndo pela esquina
Assuta o senhor
Mas, impressiona a mina
Se liga
Que legal
Meu território é demarcado
Eu não atravesso a rua principal
Bacana sem moral
Liga pro jornal e fala mal
Viu a foto do filhinho na página principal
Não
Como vitima
Como marginal
Fornecia pros playboys e vendia Parafal
Mesmo assim eu continuo sendo o foco da história
Momentos de lazer eu carrego na memória
Se a chapa esquentar
O fogos Detonar
Depois que amenizar
Alguém vem pra me cobrar
Você sabe o que isso representa
Seu vicio é que me mata
Seu vicio me sustenta
Antes de abrir a boca pra falar demais
Não esqueça
Meu mundo você é quem faz..
"Tenho uma irmã de 5 anos.. de 6 anos.. fico pensando se eu morrer assim, mané.. minha
irmãzinha vai ficar como... triste!"
REFRÃO:
Já vou ficar no lucro se passar de 18
Depois que escurece o bagulho é doido
O mesmo dinheiro que salva também mata
Jovem com ódio na cara
Terror que fica na esquina
Esperando você chegar
Se passa de 18
Depois que escurece o bagulho é doido
O mesmo dinheiro que salva também mata
Jovem com ódio na cara
Terror que fica na esquina
Esperando você...
141
Anexo D
Letra de RAP: Realidade
Grupo: Jigaboo
Álbum: As Aparências Enganam (1999) Faixa 16 – Gravadora Virgin
Refrão (2 vezes)
Chega perto de mim
Me deixa falar
Sempre de muito longe
Vem me condenar
Brasil parece que não melhora nunca
2 manos Cáos e Ks, e a luta continua
sociedade nos condena, não nos ajuda
mas Ks não esquenta a paciência,
pode crê somos nóis anti-sistema
televisão explora la fora ninguém percebe
rebelião deu ibope virou manchete
tropa de choque entrou com toda maldade
somos presas fáceis da sociedade
PMC, Deco, Suave estão ligados que é verdade
de mudar todos tem capacidade
novela sonho do pobre o mundo que não existe
playboy com tudo na mão acha graça no que assiste
eles tem tudo na mão, não vivem como a gente vive
não precisam roubar como pobre de honestidade
então venha pra cá e levem pra fora a verdade
142
Refrão (2vezes)
Chega perto de mim
Me deixa falar
Sempre de muito longe
Vem me condenar
Rebelião ibope na televisão
muda de canal não aguento mais ver isso não..
é sempre assim, bem assim que acontece
ou você condena, ou você esquece
gente que nunca correu atrás de nada
e tem o que quer sempre de mão beijada
classificando a mulecada de marginal....
11,12,13 anos acha que é normal
coloca dificuldade, em todos os sentidos
diz que a maioria ali dentro tá perdido
insisto a maioria não é todo mundo
gente desqualificada ta cuidando do assunto
e inocente que seja apenas esse ou aquele...
não interessa tem mais é que olhar por ele,
ou será que aqui pobre que não canta ou joga futebol
nunca terá um lugar ao sol.....
Refrão (2vezes)
Chega perto de mim
Me deixa falar
Sempre de muito longe
Vem me condenar
Enquadramento às 08:00 horas o que vou fazer agora?
poucos manos é que vão embora,
a violência é pra quem vai ficar
juro que não entendo esse lugar
em minha vida quero dar outro sentido
143
muitos como eu não queria ser bandido
quando tem motivo de rebelião
aqui ninguém presta só tem ladrão
Quero mudar este pensamento como você tá vendo
muitos tem futuro, muitos tem talento
se tivesse alguma ocupação
a garotada não estaria nessa não
este lugar escuro nada acontece
fico feliz quando o dia amanhece
a justiça não me deixa falar
e sem ouvir a minha voz
me interna aqui nesse lugar
Refrão (2 vezes)
Chega perto de mim
Me deixa falar
Sempre de muito longe
Vem me condenar
Como deve ta lá fora vários manos a mil
tem mano da Vila Edi de também do Jd. Brasil
aqui dentro da prisão vários mano ciente
tem quebrada Itaquera e Cidade Tiradentes
cada um convive aqui do jeito que pode
tem zona oeste , zona leste, zona sul, e zona norte
esse é o sofrimento sentimento de dor,
também tem vários mano que mora no interior
Quem liga esse RAP é o mano da Bela Vista
mando um salve no momento pra baixada Santista
a verdade é dita não deixe pra depois
quem liga esse RAP é 16 e a UE-2
144
também tem vários mano que ta na UE-12
tem mano da UE13, e também da UE-14
tem várias unidades a verdade que comove
tem o UE-5, tem o UE-15, e a UE-19
tem a 16 essa verdade que é
são algumas unidades da Febem Tatuapé
Refrão (2 vezes)
Chega perto de mim
Me deixa falar
Sempre de muito longe
145
Anexo E
Letra: Infinito particular
Autoria: Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown
Álbum: Infinito Particular (2006) – Faixa 1
Eis o melhor e o pior de mim
O meu termômetro, o meu quilate
Vem, cara, me retrate
Não é impossível
Eu não sou difícil de ler
Faça sua parte
Eu sou daqui, eu não sou de Marte
Vem, cara, me repara
Não vê, tá na cara, sou porta bandeira de mim
Só não se perca ao entrar
No meu infinito particular
Em alguns instantes
Sou pequenina e também gigante
Vem, cara, se declara
O mundo é portátil
Pra quem não tem nada a esconder
Olha minha cara
É só mistério, não tem segredo
Vem cá, não tenha medo
A água é potável
Daqui você pode beber
Só não se perca ao entrar
No meu infinito particular