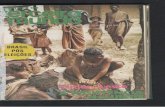Competição e autogestão em fábricas recuperadas no Brasil
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
3 -
download
0
Transcript of Competição e autogestão em fábricas recuperadas no Brasil
INTRODUÇÃO
As fábricas recuperadas multiplicaram-se pelo Brasil durante a
década de 1990, período em que o desemprego e a informalidade atingi-
am níveis alarmantes. Tais iniciativas ganharam força a partir da organi-
zação de trabalhadores que, a fim de preservar seus empregos, buscaram
ocupar e controlar coletivamente empresas em situação falimentar,
transformando-as em unidades autogestionárias.
O desenvolvimento dessas experiências vem chamando a atenção
de vários estudiosos e especialistas para a retomada e a reconfiguração
de problemáticas relevantes no campo do trabalho como o cooperativis-
mo, o associativismo e a autogestão. Os debates atualmente travados
apontam para um grande desafio: delimitar as particularidades das fábri-
cas recuperadas no que diz respeito à sua história, organização interna,
atores sociais envolvidos, inserção no mercado, articulações com enti-
dades de apoio e poder público.
Tal desafio coloca em foco um espectro mais que heterogêneo de
experiências, com dinâmicas estruturais e institucionais diversificadas,
abrangendo de estratégias de sobrevivência a sistemas auto-organizati-
vos de produção. A complexidade e a originalidade desse fenômeno tra-
zem em seu cerne uma discussão fundamental que pode ser expressa a
pelo paradoxo competição X autogestão.
Revista Latinoamericana – 2013 – Ano 18 no
29
1ª Revisão: 03.06.2013
Cliente: IESP/UERJ – Produção: Textos & Formas
Competição e autogestão em
fábricas recuperadas no
Brasil: é possível combinar
boa posição no mercado e
luta contra ele?
Ana Beatriz Melo
Revista Latino-americana de Estudos do Trabalho, Ano 18, no 29, 2013, 113-139
A esse respeito, cabe ressaltar que as fábricas recuperadas, por um
lado, encontram-se inseridas no mercado, estando assim sujeitas às suas
flutuações, oscilações, crises e retomadas. Essas iniciativas geralmente
mantêm o estatuto jurídico e econômico de propriedade privada, trocan-
do serviços e produtos com outros agentes econômicos.
Por outro lado, destaca-se que as fábricas recuperadas procuram
observar os princípios cooperativistas. Nelas, a propriedade está atrela-
da a um coletivo formado por associados, que atuam, ao mesmo tempo,
como trabalhadores e gestores. Nesse contexto, a autogestão desponta
como essência da proposta cooperativista, consolidando-se como um
atributo marcante das fábricas recuperadas.
Nesse ponto, vale questionar como se daria no cotidiano das fábri-
cas recuperadas a convivência e/ou tensão entre a necessidade de se con-
solidar no mercado e a busca por uma práxis autogestionária de caráter
ideologicamente emancipatório. O projeto autogestionário seria vital
para os trabalhadores dessas experiências ou estaria presente tão somen-
te no imaginário dos militantes? Em que medida a necessidade de inser-
ção no mercado impactaria o projeto autogestionário ou a luta pela auto-
gestão traria novos sentidos e critérios para avaliação dessa inserção?
Até que ponto a busca por relações entre as perspectivas de sobrevivên-
cia no mercado e emancipação via autogestão representaria um grande
equívoco, produzido a partir de uma visão reducionista e fragmentada
desse fenômeno? Em que circunstâncias as fábricas recuperadas poderi-
am ser analisadas como revolucionárias, reformistas ou funcionais à
economia de mercado?
Com base nesses questionamentos e diante do desafio proposto
pelas discussões atuais sobre o tema, o presente artigo propõe uma análi-
se sobre fábricas recuperadas no Brasil, enfatizando suas especificida-
des contextuais e organizacionais. Lançando mão de um balanço dos es-
tudos mais relevantes sobre tais iniciativas no contexto nacional, ele será
apresentado em três seções: 1) caracterização das recentes transforma-
ções do mundo do trabalho e seus impactos sobre a emergência e a difu-
são das fábricas recuperadas, enfatizando as complexas relações entre
essas iniciativas, o movimento sindical e o movimento de economia soli-
dária, bem como suas semelhanças e diferenças em relação a outras ex-
periências da América Latina; 2) apresentação de discussões sobre a his-
tória e a organização de um caso emblemático a Cooperativa Central de
Produção Industrial dos Trabalhadores em Metalurgia (Uniforja) , con-
siderado pela literatura especializada, como exitoso de fábricas recupe-
114 Revista Latino-americana de Estudos do Trabalho
Revista Latinoamericana – 2013 – Ano 18 no
29
1ª Revisão: 03.06.2013
Cliente: IESP/UERJ – Produção: Textos & Formas
radas no Brasil; 3) discussão e análise de questões teóricas que tratem
dos paradoxos econômicos, políticos e sociais que atravessam essas ex-
periências, entendidas como iniciativas autogestionárias inseridas no
mercado.
AS FÁBRICAS RECUPERADAS NO BRASIL
As fábricas recuperadas ganharam visibilidade no Brasil a partir
do final dos anos 1980. O ponto de partida desse processo situa-se em ex-
periências pontuais e isoladas de recuperação de empreendimentos fali-
dos por meio da mobilização de trabalhadores que tinham por objetivo
manter seus empregos.
Com o aprofundamento da crise econômica que vigorou no cená-
rio nacional durante a década de 1990, observou-se um crescimento sig-
nificativo do número de empresas em situação falimentar, levando mi-
lhares de pessoas ao desemprego e ao subemprego. As fábricas recupera-
das surgiam, nesse contexto, como formas de reação ao endividamento e
posterior fechamento dessas empresas e a consequente perda de postos
de trabalho.
O aumento significativo do número de falências e concordatas
ocorria em meio a um cenário socioeconômico instável marcado, por um
lado, pelo esgotamento do dinamismo da indústria nacional após a aber-
tura passiva do mercado interno às importações e, por outro, pelo aban-
dono do papel ativo do Estado a partir da afirmação de políticas de ajuste
fiscal focadas em privatizações e terceirizações. Nessa fase, ganhavam
impulso estratégias de reestruturação produtiva que abarcavam, em seu
conjunto, transformações tecnológicas e organizacionais voltadas para a
máxima redução de custos mediante o enxugamento e a flexibilização
das relações e processos de trabalho. A partir daí, intensificavam-se os
reflexos de degradação e fragmentação da classe trabalhadora, como
perda dos direitos trabalhistas, enfraquecimento do movimento sindical,
aumento do desemprego estrutural e da informalidade, extinção de cate-
gorias profissionais, desregulamentação dos contratos de trabalho e re-
baixamento de remunerações.
Na iminência de fechamento, várias empresas, em especial nos se-
tores industrial e de serviços, foram desocupadas por seus proprietários
e, posteriormente tomadas pelos antigos funcionários ou parte deles que
assumiam o controle dos meios de produção, dando continuidade ao pro-
cesso produtivo. Os empreendimentos em situação falimentar, em geral,
Competição e autogestão em fábricas recuperadas no Brasil... 115
Revista Latinoamericana – 2013 – Ano 18 no
29
1ª Revisão: 03.06.2013
Cliente: IESP/UERJ – Produção: Textos & Formas
possuíam um passivo trabalhista vultoso, sendo comum aos funcionári-
os a vivência de longos períodos com salários em atraso além do não re-
colhimento dos direitos trabalhistas e sociais devidos.
Diante do não pagamento de dívidas contratuais e do afastamento
ou abandono dos ex-donos, em muitos casos com base em decisões judi-
ciais, surgia entre os trabalhadores a perspectiva de assumir o controle
das fábricas em crise ou de criar cooperativas autogestionárias, a partir
da massa falida arrendada (geralmente, instalações e maquinário). O
processo de recuperação implicava, portanto, na troca de dívidas traba-
lhistas pela propriedade coletiva dos meios de produção da empresa.
No Brasil, uma parte significativa dessas experiências decorreu da
retomada de empresas familiares, sendo a falência ou estado pré-fali-
mentar resultante de movimentos malsucedidos de sucessão geracional.
De acordo com Cunha e Faria (2011), os patrões e familiares tomavam a
decisão de fechar as fábricas e se tornar rentistas na medida em que se
sentiam acuados pela concorrência e desprotegidos pelo Estado.
Pagar as indenizações dos trabalhadores é que não queriam.
Então, os trabalhadores ficaram com as empresas industriais e de servi-
ços e continuaram a produzir, conseguindo em muitos casos, pagar os sa-
lários e manter os postos de trabalho (Cunha e Faria, 2011:5).
Os sindicatos que, de início, mostravam alguma resistência em re-
lação às estratégias do cooperativismo e do trabalho autogestionário por
considerarem-nas formas de precarização do trabalho passaram a assu-
mir, ao longo dos anos 1990, um papel decisivo na formação e na organi-
zação dessas iniciativas. Nesse sentido, vale destacar os trabalhos de in-
cubação e orientação desenvolvidos pela Associação Nacional dos Tra-
balhadores em Empresas de Autogestão e Participação Acionária
(ANTEAG), criada em 1994, e pela Agência de Desenvolvimento Soli-
dário (ADS) que deu origem, em 1999, à Central de Cooperativas e
Empreendimentos Solidários (UNISOL Brasil), ambas ligadas ao movi-
mento sindical.
Segundo Faria e Fernandes (2011), o tema da recuperação de fá-
bricas tornou-se uma necessidade para o sindicalismo brasileiro que ha-
via se constituído e projetado durante o período de abertura política. As
direções sindicais deparavam-se com uma realidade de eminente crise
social e econômica, diante da qual aos trabalhadores não restava outra al-
ternativa senão a luta pelo controle de empresas falidas e sua manuten-
ção em funcionamento.
116 Revista Latino-americana de Estudos do Trabalho
Revista Latinoamericana – 2013 – Ano 18 no
29
1ª Revisão: 03.06.2013
Cliente: IESP/UERJ – Produção: Textos & Formas
Em pouco tempo, a retomada de unidades industriais como a Mar-
kerli Calçados em São Paulo e a Remington no Rio de Janeiro, entre ou-
tras, acabou por conduzir a uma atuação mais incisiva do movimento sin-
dical, sobretudo no que se refere à Central Única dos Trabalhadores
(CUT), no campo da autogestão. A luta operária pela recuperação de fá-
bricas passava a ser concebida pelo sindicalismo como estratégia de re-
sistência aos processos de exclusão social, pobreza e desemprego.
De acordo com Parra (2002), as cooperativas apareciam para os
sindicatos, inicialmente, somente como ameaças ao pleno emprego,
mas, num segundo momento, a inovação de algumas dessas experiênci-
as, em particular das iniciativas de trabalhadores no ABC Paulista, apon-
tou para uma realidade ainda mais complexa. O cooperativismo passou a
ser visto no meio sindical sob duas perspectivas distintas: por um lado,
um cooperativismo dito tradicional, associado frequentemente às for-
mas cooperativadas de terceirização e de precarização das relações de
trabalho que deveria ser denunciado e combatido pelos sindicatos e, por
outro, um cooperativismo denominado autêntico, comumente apoiado
pelo sindicalismo, vinculado às cooperativas autogestionárias baseadas
na democratização dos processos de trabalho. Contudo, não é possível
afirmar que exista um consenso generalizado no sindicalismo brasileiro
quando se trata das questões do cooperativismo e da autogestão.
Dadas as diversidades político-ideológicas presentes no movi-
mento sindical, surgem posturas e entendimentos heterogêneos e contra-
ditórios em relação ao papel estratégico das cooperativas na luta dos tra-
balhadores. Somam-se a isto questões práticas ligadas ao desenvolvi-
mento de cooperativas fraudulentas voltadas exclusivamente para a ter-
ceirização e precarização das relações de trabalho organizadas por seto-
res públicos e privados. Exemplos desse fenômeno recorrentemente ci-
tados pela literatura especializada referem-se às cooperativas industriais
do setor calçadista constituídas pelo governo do Ceará na década de
1990 no bojo da chamada guerra fiscal, com os objetivos de fornecer in-
fraestrutura e mão de obra a baixíssimos custos para atrair empresas a se
instalarem naquela região.
Essas posturas e entendimentos vêm oscilando entre a priorização
de um projeto defensivo de manutenção e a ampliação dos direitos e ins-
titucionalidades do emprego e a busca por uma ação propositiva de cria-
ção e fomento de iniciativas autogestionárias tipo de trabalho alternati-
vo ao assalariado em que os trabalhadores são os protagonistas dos pro-
cessos produtivos.
Competição e autogestão em fábricas recuperadas no Brasil... 117
Revista Latinoamericana – 2013 – Ano 18 no
29
1ª Revisão: 03.06.2013
Cliente: IESP/UERJ – Produção: Textos & Formas
Apesar da complexidade desse cenário, uma coisa parece certa: a
partir dos anos 1990, os debates acerca do cooperativismo, historica-
mente tratados de forma marginal, passaram a ocupar posições de desta-
que nas agendas sindicais, despertando as mais diversas reações do anta-
gonismo à aceitação e revelando propostas não só para os trabalhadores
assalariados, mas para os demais excluídos do mercado formal de traba-
lho.
Apoiadas em parte pelos sindicatos, as fábricas recuperadas, na
década de 2000, passaram a integrar o movimento social conhecido
como economia solidária no Brasil. A criação do Fórum Brasileiro de
Economia Solidária (FBES) e da Secretaria Nacional de Economia Soli-
dária (SENAES), em 2003, constituem-se em marcos fundamentais des-
se processo.
Apresentando como marco histórico as lutas sociais no Brasil, a
economia solidária vem se orientando, desde o início dos anos 2000, por
estratégias de institucionalização consolidadas a partir da realização dos
fóruns sociais mundiais de Porto Alegre. Muitos são os participantes do
movimento solidário que atribuem às políticas de parceria em particular,
no que se refere ao poder público um papel decisivo no tocante ao desen-
volvimento e ao crescimento dos empreendimentos econômicos solidá-
rios (EES). De fato, avanços como a formação de redes nacionais, esta-
duais e municipais de representação e articulação entre iniciativas soli-
dárias, a composição de espaços de debate e proposição de políticas pú-
blicas voltadas para as necessidades e exigências do movimento, a for-
mulação de sistemas nacionais de informação e mapeamento de empre-
endimentos solidários e a organização de projetos de formação e incuba-
ção por parte de diversas entidades da sociedade civil, entre outros, têm
contribuído de forma substancial para sustentação, integração e difusão
de práticas solidárias no cenário nacional (Melo, 2012).
Todavia, a inserção das fábricas recuperadas no universo da eco-
nomia solidária é marcada por contradições e controvérsias que apresen-
tam como ponto de partida as inúmeras polêmicas presentes nos debates
sobre o movimento solidário no Brasil. Os defensores dessa economia
representam perspectivas ideológicas diversificadas e, em muitos casos,
conflitantes. Estas revelam um campo em disputa que vai da sustentação
do caráter revolucionário das iniciativas solidárias numa perspectiva de
crítica e opção ao capitalismo, no âmbito de uma proposta de transforma-
ção social pautada na construção do ideário de um novo socialismo, até a
atribuição de uma dimensão reformista que concebe tais iniciativas
118 Revista Latino-americana de Estudos do Trabalho
Revista Latinoamericana – 2013 – Ano 18 no
29
1ª Revisão: 03.06.2013
Cliente: IESP/UERJ – Produção: Textos & Formas
como alternativas de geração de trabalho e renda capazes de se relacio-
nar e conviver com o Estado e com o mercado, fundadas internamente na
coletivização da gestão e da propriedade. Já entre os críticos da econo-
mia solidária, prevalece a concepção de que suas atividades se referem a
experiências de contensão social, assumindo uma condição de funciona-
lidade em relação ao sistema capitalista, que hoje não quer ter nenhuma
preocupação pública ou social com os desempregados (Antunes,
2009:113). Nesse sentido, os empreendimentos solidários são interpre-
tados como instrumentos de mistificação que, na melhor das hipóteses,
almejam substituir as mudanças mais radicais, profundas e totalizantes
em direção a formação de uma nova sociedade para além do capital
(Meszaros, 2002) por mecanismos parciais, limitados, residuais e, de
certo modo, assimiláveis pela denominada ordem hegemônica. Em sua
versão mais branda e adaptada à ordem, pretendem evitar as transforma-
ções capazes de eliminar o capital (Antunes, 2009:113). Com isso, ques-
tiona-se a ideia de que as iniciativas solidárias seriam capazes de combi-
nar uma cooperação blindada, organizada intramuros por meio da auto-
gestão, com uma competição externa subordinada às instâncias do
mercado.
Somam-se a essas calorosas discussões, dois aspectos relevantes
no tocante a identificação das fábricas recuperadas com o movimento so-
lidário: primeiramente, cabe ressaltar que essa identificação esteve mui-
to mais vinculada às iniciativas de teóricos, instituições, sindicatos e en-
tidades de apoio do que propriamente às vontades dos trabalhadores (Pi-
res, 2011) e, em segundo lugar, destaca-se que existem profundas lacu-
nas no movimento solidário entre debates teóricos e os discursos dos ato-
res sociais inseridos nos empreendimentos no que se refere às preocupa-
ções de rompimento ou continuidade em relação ao sistema capitalista.
Nesse ponto, vale perguntar em que medida e de que forma discussões
sobre as possibilidades de funcionalidade, revolução ou reforma das ini-
ciativas solidárias estariam presentes nas percepções e nas experiências
dos trabalhadores ou estariam elas restritas ao campo dos teóricos, mili-
tantes e agentes mediadores do movimento solidário?
O que se verifica é a prevalência de um quadro, ao mesmo tempo,
complexo e não consensual, no qual a aproximação entre fábricas recu-
peradas e economia solidária é feita em meio a tensões e questionamen-
tos.
Foi justamente nesse momento de conturbada aproximação com a
economia solidária, ou seja, início dos anos 2000, que se desenvolveu
Competição e autogestão em fábricas recuperadas no Brasil... 119
Revista Latinoamericana – 2013 – Ano 18 no
29
1ª Revisão: 03.06.2013
Cliente: IESP/UERJ – Produção: Textos & Formas
parte significativa das pesquisas acadêmicas sobre fábricas recuperadas
no Brasil (Azevedo, 2007; Cruz, 2006; Faria, 2005; Hillerstein, 2002;
Marques, 2006; Novaes, 2010; Oda, 2001; Parra, 2002; Pereira, 2007,
entre outras). A maioria desses trabalhos baseou-se em estudos de casos,
sendo poucas as tentativas no sentido de analisar esse fenômeno de for-
ma mais abrangente.
Importante ressaltar que o movimento das fábricas recuperadas
não se restringiu ao contexto nacional. Especialmente a partir dos anos
2000, essas iniciativas ganharam espaço em países latino-americanos
como Argentina, Uruguai e Venezuela no bojo de profundas crises socia-
is e econômicas. Ao analisar as semelhanças entre fábricas recuperadas
no Brasil e na Argentina, Marques (2006) destaca o fato de que estas sur-
giram como alternativas e respostas ao aumento implacável do desem-
prego estrutural, das desigualdades socioeconômicas e da exclusão. Já
com relação às diferenças entre elas, o autor chama a atenção para o as-
pecto político de cada país. Enquanto na Argentina, o movimento de re-
cuperação de fábricas foi protagonizado pelos trabalhadores através de
ações diretas baseadas na ocupação, resistência e retomada da produção,
sem a participação de instâncias tradicionais de representação de classe
como sindicatos e partidos políticos, na Venezuela e no Brasil, é possível
identificar um processo de negociação intermediado pelos sindicatos,
pelo Estado e por instituições de apoio.
No caso da Argentina, o movimento de recuperação das fábricas
teve início em agosto de 2000 e se estendeu até o fim de 2001, período de
forte recessão que acabou afetando, sobretudo, a classe trabalhadora da
Grande Buenos Aires. Nesse contexto, os operários argentinos mobiliza-
ram-se coletivamente empregando estratégias variadas que englobavam
de intervenções no plano jurídico a intensos conflitos contra patrões nas
fábricas propriamente ditas e nas ruas próximas a elas (Fajn, 2004). As
fábricas recuperadas na Argentina estavam ligadas a segmentos diversi-
ficados têxtil, metalúrgico, químico, prestação de serviços, entre outros
e seu desenvolvimento se deu, em linhas gerais, a partir de processos de
encolhimento e esvaziamento de empresas. Esses processos foram deno-
minados por Novaes (2005) de ludismo às avessas, uma vez que não fo-
ram os trabalhadores, como ocorrido na Inglaterra do início do século
XIX, mas sim os patrões que sabotaram a própria produção a fim de re-
tardar ou evitar o controle operário.
Um fenômeno curioso aconteceu na Argentina no fim do século XX. Se
no século XIX, a quebra de máquinas pelos trabalhadores era uma das tá-
120 Revista Latino-americana de Estudos do Trabalho
Revista Latinoamericana – 2013 – Ano 18 no
29
1ª Revisão: 03.06.2013
Cliente: IESP/UERJ – Produção: Textos & Formas
ticas para interromper a produção por um tempo, na Argentina se dá o
contrário. Muitos patrões, com o intuito de impedir que as fábricas fos-
sem controladas pelos trabalhadores, iniciaram processos de esvazia-
mento da empresa, seja através da retirada de peças e equipamentos cen-
trais ao bom funcionamento da produção, seja por uma crise induzida ou
criação de empresas fantasma para fraudar a quebra (Novaes, 2005:104).
Boa parte dos trabalhadores argentinos, a fim de evitar que os ma-
quinários e peças fossem danificados ou mesmo saqueados pelos pa-
trões, tomou a decisão de montar acampamentos em frente as fábricas ou
dormir em seu interior, tornando-se assim guardiões dos meios de produ-
ção. Em relação ao movimento ocorrido no Brasil, Novaes afirma que
mesmo havendo, no caso tupiniquim, exemplos de lutas e ocupações fer-
vorosas, o que prevaleceu foram os processos de negociação, diferente-
mente da Argentina, em que a recuperação das fábricas foi marcada por
uma maior intensidade dos conflitos entre patrões e trabalhadores.
Os objetivos do movimento de recuperação de fábricas na Argen-
tina ultrapassavam os limites da defesa de postos de trabalho, abarcando
críticas aos modelos sociopolíticos e econômicos vigentes e debates
acerca dos entraves e possibilidades da organização de uma prática de
autogestão operária no interior das unidades ocupadas. Nesse sentido, as
fábricas recuperadas portenhas não devem ser entendidas simplesmente
como respostas automáticas diante de uma crise conjuntural iniciada na
década de 1990 e agravada nos anos 2000. Mais que isto, elas foram o re-
sultado de um novo clima político e social de descontentamento que co-
locava em xeque questões estruturais relativas a práticas de desindustri-
alização, flexibilização da produção, corte de gastos e destruição de pos-
tos de trabalho direitos trabalhistas que empobreciam a grande maioria
da população.
Seguramente para desarrollar las explicaciones que den respuesta a por
qué se produjo el surgimiento del movimiento de fábricas recuperadas,
se deberá tener presente la combinación de múltiples factores externos e
internos: socioeconómicos, como la destrucción del aparato productivo,
la profunda recesión iniciada en 1998 y fundamentalmente el nivel que
alcanza el desempleo estructural; y políticos como la intensificación del
ciclo de la protesta, emergencia de nuevos actores sociales, crisis estatal,
etcétera. Estos y otros factores generales indican lãs condiciones que ha-
cen probable el surgimiento de luchas sociales pero no terminan de dar
cuenta del pasaje a las resistencias organizadas. En el transfondo de toda
rebelión hay algún tipo de descontento (Fajn, 2004:2).
O resgate da autogestão como princípio norteador do movimento
de recuperação de fábricas pode ser apontado como um importante fator
Competição e autogestão em fábricas recuperadas no Brasil... 121
Revista Latinoamericana – 2013 – Ano 18 no
29
1ª Revisão: 03.06.2013
Cliente: IESP/UERJ – Produção: Textos & Formas
de aproximação entre experiências argentinas e brasileiras. Contudo, no
caso argentino houve uma maior valorização da proposta de repartição
igualitária das retiradas como resultado das medidas de força adotadas,
ao contrário do Brasil onde a autogestão, principalmente do ponto de vis-
ta dos autores da economia solidária revelou-se essencialmente por meio
da adoção de mecanismos de decisão parlamentarista no interior das uni-
dades produtivas.
Segundo Novaes (2007), as fábricas recuperadas na América Lati-
na vêm passando por movimentos de degeneração e refluxo. O autor afir-
ma que a tempestade do capital e seus efeitos avassaladores sobre a clas-
se operária parecem ter sido mais fortes do que os tsunamis provocados
pelos trabalhadores a partir da ocupação das fábricas. Nessa luta desi-
gual, os tsunamis inicialmente provocados pelas fábricas recuperadas
parecem ter se tornado marolas (Novaes, 2007:94).
A busca por números que reflitam esses movimentos de degenera-
ção e refluxo constitui-se, até o momento, numa tarefa extremamente
complicada. Há várias pesquisas acadêmicas sobre o tema, mas os dados
oficiais apresentados tanto por entidades de apoio quanto pelo poder pú-
blico são escassos e limitados.
Destacando-se o caso brasileiro, os números sobre fábricas recu-
peradas caracterizam-se pela imprecisão, uma vez que ainda não foi sis-
tematizado um levantamento voltado especificamente para essas inicia-
tivas1. O que existe atualmente, segundo Henriques, Rufino e Sígolo
(2011), é um esforço no sentido de levantar dados nacionais sobre for-
mas associativas de trabalho denominadas de empreendimentos econô-
micos solidários, o que culminou no desenvolvimento de um Atlas da
Economia Solidária com base no qual foi criado o Sistema Nacional de
Informações em Economia Solidária (SIES).
Para Gaiger (2004), os empreendimentos econômicos solidários,
no que resguarda a sua organização e desenvolvimento, designam inicia-
tivas heterogêneas de produção, comercialização, crédito e consumo
que se norteiam por sete princípios: a autogestão; a cooperação; o iguali-
tarismo; a democracia participativa; a autossustentação; a responsabili-
dade social; e o desenvolvimento sustentável. Fazem parte desse com-
plexo panorama iniciativas de agricultura familiar, assentamentos de
terra, associações, cooperativas, empresas recuperadas utilizando prece-
itos autogestionários, bancos populares, redes de comércio justo, entre
outras.
122 Revista Latino-americana de Estudos do Trabalho
Revista Latinoamericana – 2013 – Ano 18 no
29
1ª Revisão: 03.06.2013
Cliente: IESP/UERJ – Produção: Textos & Formas
De acordo com a última edição do Atlas da Economia Solidária no
Brasil, publicada, em 2007, pela Secretaria Nacional de Economia Soli-
dária (SENAES), órgão vinculado ao Ministério do Trabalho e Emprego
(MTE), em conjunto com o Fórum Brasileiro de Economia Solidária
(FBES), existiam 1.687.496 pessoas trabalhando de forma direta em
21.859 empreendimentos solidários no Brasil.
Entre esses empreendimentos, situam-se as fábricas recuperadas:
contudo, estas não são facilmente identificáveis. No Atlas, se forem con-
sideradas como fábricas recuperadas, as iniciativas que marcaram a op-
ção Recuperação por trabalhadores de empresa privada que faliu como
motivo de sua formação, é possível dizer que há no Brasil 132 empreen-
dimentos dessa natureza. Entretanto, o fato desse ter sido um dos moti-
vos da associação entre os trabalhadores não determina que eles tenham
efetivamente se apropriado dos meios de produção e constituído uma fá-
brica autogerida (Henriques, Rufino e Sígolo, 2011:2).
Embora sejam numericamente reduzidas em relação ao conjunto
dos empreendimentos econômicos solidários, as fábricas recuperadas
concentram uma parte significativa da movimentação financeira realiza-
da por essas iniciativas. Ademais, representam empreendimentos forma-
lizados de médio e grande porte, diferenciando-se da maior parte das ini-
ciativas solidárias de caráter pequeno e informal.
Nesse cenário, ao mesmo tempo que se aproximam do movimento
de economia solidária, as fábricas recuperadas no Brasil também se con-
solidam como um segmento diferenciado, apresentando características e
dinâmicas um tanto particulares. A fim de compreender e debater tais es-
pecificidades, vale colocar em foco um caso emblemático entre as fábri-
cas recuperadas brasileiras: a Uniforja.
O CASO UNIFORJA
A Uniforja corresponde a uma cooperativa de segundo grau cria-
da, em 1998, para representar juridicamente quatro cooperativas de pro-
dução organizadas pelos trabalhadores da falida empresa Conforja. Se-
gundo a literatura especializada, a Uniforja representa uma iniciativa
emblemática e bem-sucedida das lutas dos trabalhadores em fábricas re-
cuperadas no Brasil.
Em 1954, foi fundada na periferia de São Paulo uma pequena em-
presa com nome de Apaca Produtos Químicos S/A que atuava no comér-
cio de inseticidas, tintas, produtos domésticos para limpeza e produtos
Competição e autogestão em fábricas recuperadas no Brasil... 123
Revista Latinoamericana – 2013 – Ano 18 no
29
1ª Revisão: 03.06.2013
Cliente: IESP/UERJ – Produção: Textos & Formas
químicos para indústrias. Em 1967, tal empresa passou a produzir cone-
xões de aço forjado e tubulações para instalações industriais, assumindo,
daí por diante, a denominação de Conforja.
Nos anos 1970, em meio ao milagre econômico, a Conforja come-
ça a apresentar um crescimento vertiginoso, impulsionado fundamental-
mente pelas demandas da Petrobras. Em poucos anos, a empresa, que se
mudou para Diadema, transforma-se em uma das maiores forjarias da
América Latina (Oda, 2001). Entre 1974 e 1976, o número de emprega-
dos da Conforja passou de 550 para 1.170 ao passo que seu faturamento
aumentou, em dólares, de 8,4 para 28,2 milhões. A razão de tamanho
crescimento se justificava pela participação majoritária da empresa no
mercado interno 70% do total e pela ausência de uma concorrência mais
acirrada os 30% restantes do mercado estavam diluídos entre dezenas de
pequenas formarias (Oda, 2001:59).
Durante a década de 1980, a relativa estabilidade no mercado e os
altos índices de desempenho levaram a Conforja a diversificar suas ativi-
dades. Tornou-se assim uma multiempresa, fabricando os mais variados
produtos: equipamentos e componentes hidráulicos, elétricos, eletrôni-
cos e mecânicos; artefatos especiais de plástico e resina; máquinas para
prospecção e exploração de petróleo; entre outros. Contudo, a produção
de conexões e anéis de aço continuava a ser a mola propulsora da empre-
sa, uma vez que existia uma forte dependência em relação à Petrobras,
sua principal cliente.
Já nos anos 1990, a situação da Conforja mudou drasticamente.
Com a abertura passiva do mercado interno às importações, o setor de
forjados foi abruptamente invadido por fornecedores estrangeiros com-
petindo com preços mais atraentes.
Daquele momento em diante, a empresa passou a apresentar preju-
ízos, reduziu o número de funcionários e atrasou com frequência o paga-
mento dos salários, o que naturalmente provocou descontentamento dos
trabalhadores que se manifestavam por meio de greves ou através de re-
sistências não declaradas recusa ao controle gerencial e descumprimen-
to de programas de produção. Em 1994, após o falecimento do fundador
da Conforja, um de seus filhos passa a presidir a empresa e, a fim de evi-
tar seu fechamento, propõe ao Sindicato dos Metalúrgicos do ABC a im-
plementação de um processo de cogestão.
O sindicato e a maioria dos trabalhadores concordaram com essa
proposta: naquele período, havia cerca de 630 postos de trabalho em
jogo. No mês de agosto de 1995, foi assinado um protocolo de intenções
124 Revista Latino-americana de Estudos do Trabalho
Revista Latinoamericana – 2013 – Ano 18 no
29
1ª Revisão: 03.06.2013
Cliente: IESP/UERJ – Produção: Textos & Formas
entre a Conforja e seus funcionários, representados pelo sindicato. Em
seguida, os trabalhadores criaram uma associação chamada Assecon,
cujo objetivo era assumir metade da gestão da empresa com a compra de
45% das ações da mesma. A partir daí, a Anteag foi chamada para orien-
tar e assessorar o sindicato e a comissão de fábrica numa experiência que
se mostrava inédita para os envolvidos.
A fim de ajudar na recuperação da Conforja, os trabalhadores acei-
taram reduzir a jornada semanal de trabalho de 44 para 40 horas com di-
minuição proporcional dos salários. Cabe registrar que tal redução, de
acordo com a legislação brasileira, só é possível mediante acordo coleti-
vo estabelecido entre empresa e trabalhadores.
Apesar de todos os esforços e sacrifícios, a crise se agravava. O fa-
turamento continuava diminuindo, sendo frequentes os atrasos no paga-
mento de salários e demais direitos trabalhistas. Ademais, as decisões
conjuntas definidas em reuniões não eram efetivamente aplicadas, o que
gerou descrédito dos integrantes da Assecon, da comissão de fábrica e do
sindicato junto aos demais trabalhadores (Santos, 2005).
O poder real da direção permanecia nas mãos dos antigos donos
que não aceitavam as deliberações apresentadas através da cogestão. Em
julho de 1997, o sindicato organizou um plebiscito entre os trabalhado-
res da empresa: a maioria se posicionou contra a continuidade do acordo
de cogestão e defendeu a dissolução da Assecon e a destituição da comis-
são de fábrica.
Ao mesmo tempo que a cogestão foi uma tentativa frustrada, ela cumpriu
um papel importante, pois o acesso às informações possibilitou que os
trabalhadores que integravam a ex-Assecon passassem a compreender os
processos administrativos, financeiros, comerciais e produtivos, além de
angariarem dos demais trabalhadores o respeito como líderes (Oda,
2001: 67).
Depois disso a Conforja voltou a ser de responsabilidade exclusi-
va dos proprietários, perdendo o apoio do sindicato que, até então, tinha
se mostrado fundamental em negociações com os poderes municipal e
estadual no sentido de obter uma moratória de débitos públicos (falta de
pagamento de impostos, taxas, contas de água, eletricidade, entre ou-
tros). Com efeito, as dívidas se avolumaram e os fornecedores se afasta-
ram ao passo que a pressão dos credores só aumentava.
Afalência da empresa parecia uma questão de tempo. Diante desse
cenário, o então diretor da Conforja concluiu que a melhor solução seria
arrendar aos trabalhadores as máquinas, equipamentos e instalações.
Competição e autogestão em fábricas recuperadas no Brasil... 125
Revista Latinoamericana – 2013 – Ano 18 no
29
1ª Revisão: 03.06.2013
Cliente: IESP/UERJ – Produção: Textos & Formas
Essa saída se mostrava mais vantajosa para ele do que simplesmente ter a
empresa fechada e o patrimônio da família convertido em massa falida.
A partir dessa decisão, os trabalhadores se dividiram:
Uma parte deles, liderada por um diretor dissidente do sindicato, optou
em continuar sendo assalariada, o que significava não se envolver em
qualquer tentativa de salvar a empresa e esperar que, com a venda da
massa falida, pudesse receber parte de seus direitos rescisórios, além dos
salários atrasados. Os demais, liderados pelos dirigentes da ex-Assecon,
iniciaram discussões sobre a formação de uma cooperativa que pudesse
assumir a empresa e superar a crise em que estava imersa (Santos,
2005:97).
Apesar de a maioria ser favorável à constituição da cooperativa, o
receio de perder o vínculo empregatício e os direitos relativos a ele, ain-
da que estes não estivessem sendo pagos integralmente, mostrou-se mais
forte naquele momento. As dificuldades na empresa permaneceram por
mais alguns meses até que os trabalhadores do setor de tratamento térmi-
co decidiram sair da inércia.
Esse setor prestava serviços a terceiros, o que o tornava indepen-
dente do ponto de vista financeiro da grave crise que atingia a produção
dos forjados, laminados, tubos e conexões. Um grupo de ex-membros da
Assecon que integrava o setor e defendia a formação da cooperativa re-
solveu consultar se os clientes continuariam procurando seus serviços
depois que a gestão passasse para os trabalhadores.
Como o resultado dessa consulta foi positivo, os receios e descon-
fianças começaram a diminuir, ainda que de forma bem lenta. Os traba-
lhadores só conheciam dois papéis possíveis na economia: ou se era pa-
trão ou empregado. O autoemprego coletivo era um enigma e a autoges-
tão era ignorada (Santos, 2005:98).
Em dezembro de 1997, aconteceu, na sede regional do Sindicato
dos Metalúrgicos do ABC, a assembleia de fundação da Coopertratt Coo-
perativa Industrial de Trabalhadores em Tratamento Térmico e Transfor-
mação de Metais. Em pouco tempo, a cooperativa passou a apresentar
bons resultados econômicos que se refletiram nas retiradas de seus sócios.
Esse fato logo se espalhou pela Conforja, tornando-se conhecido
pelos demais trabalhadores que também passaram a se interessar em for-
mar cooperativas (Costa e Dagnino, 2009). Planejaram, então, organizar
três cooperativas de produção a partir das unidades de negócios da em-
presa inauguradas entre março e abril de 1998: a Cooperlafe (Cooperati-
va Industrial de Trabalhadores em Laminação de Anéis e Forjados Espe-
126 Revista Latino-americana de Estudos do Trabalho
Revista Latinoamericana – 2013 – Ano 18 no
29
1ª Revisão: 03.06.2013
Cliente: IESP/UERJ – Produção: Textos & Formas
ciais), a Coopercon (Cooperativa Industrial de Trabalhadores em Cone-
xões Tubulares) e a Cooperfor (Cooperativa Industrial de Trabalhadores
em Forjaria).
Em maio de 1998, as quatro cooperativas tomaram o lugar da Con-
forja que, naquela fase, possuía 449 funcionários, dos quais 269 (cerca
de 60% do total) tornaram-se cooperados e os 180 restantes preferiram
deixar a empresa. Os primeiros eram os demitidos internos e os segundos
os demitidos externos (Santos, 2005:99).
Mesmo com o bom desempenho das cooperativas, a falência da
Conforja foi inevitável, sendo decretada em março de 1999. Depois dis-
so, o patrimônio arrendado pelos trabalhadores transformou-se em mas-
sa falida, cuja propriedade pertencia, a princípio, aos credores da empre-
sa. Porém, o interesse dos cooperados em manter os empreendimentos
em atividade resultou em um novo contrato de arrendamento assinado
junto ao juiz do processo falimentar.
Apesar das dificuldades enfrentadas pelas cooperativas, os sócios,
aos poucos, conseguiram alcançar seus objetivos que, no caso, eram
manter seus postos de trabalho e obter remunerações compatíveis com as
atividades que exerciam. Informações, nesse sentido, referidas a Coo-
perlafe, indicam que as retiradas médias, em julho de 2000, eram de
R$1.094,86, valor muito próximo ao salário dos metalúrgicos do ABC,
que, no mesmo período, era de R$1.051,63 (Oda, 2001:111).
Os desafios, limites e possibilidades associados ao processo de au-
togestão tornam-se questões centrais no cotidiano das quatro cooperati-
vas. Ao analisar tais processos, Oda destaca:
Constatamos a participação dos sócios-trabalhadores na gestão dos em-
preendimentos por meio das assembleias gerais, que dizem respeito ao
escopo político que definem as estratégias da cooperativa e ao nível or-
ganizacional com a eleição dos integrantes dos conselhos administrativo
e fiscal, e pelo reconhecimento tácito dos coordenadores e líderes. Em re-
lação aos processos de gestão da produção e do trabalho nas quatro coo-
perativas analisadas, constatamos que o escopo da participação só-
cio-técnica ainda não ocorre de maneira irrestrita. Neste contexto, a ges-
tão do processo de trabalho ainda segue os padrões tayloristas/fordistas
herdados da ex-Conforja. A divisão entre o planejamento e programação
e a operação, a estrutura hierarquizada de líderes e coordenadores, a ma-
nutenção de igual estrutura de cargos, funções, atividades e remunera-
ções, são evidências presentes no cotidiano das cooperativas. Mesmo a
incorporação de outras atividades pelos sócios-trabalhadores tem ocorri-
do de maneira mais contingencial dada a redução do número de trabalha-
Competição e autogestão em fábricas recuperadas no Brasil... 127
Revista Latinoamericana – 2013 – Ano 18 no
29
1ª Revisão: 03.06.2013
Cliente: IESP/UERJ – Produção: Textos & Formas
dores se comparado à época da ex-Conforja do que como um propósito
de mudança na forma de organizar o trabalho (Oda, 2001:116).
Para Oda, apesar do princípio de livre adesão, a esperança de rever
os direitos trabalhistas devidos pela empresa, somada às dificuldades de
conseguir um novo emprego, foram os principais motivadores que leva-
ram os trabalhadores muitos deles, já aposentados a organizar as quatro
cooperativas a partir da ex-Conforja. Tais iniciativas se formaram, so-
bretudo, como respostas a um contexto socioeconômico extremamente
adverso, fazendo com que a autogestão, mais que um propósito, se con-
vertesse numa saída.
Em 2005, a Coopercon foi absorvida pelas outras três cooperati-
vas que, até hoje, continuam a compor o sistema Uniforja. Segundo notí-
cia publicada em dezembro de 2010, no site do Sindicato dos Metalúrgi-
cos do ABC, 600 trabalhadores e ex-trabalhadores da Uniforja consegui-
ram receber todos os direitos trabalhistas da massa falida, o que configu-
ra, ao mesmo tempo, um fato raro e um marco histórico, tratando-se da
história de fábricas recuperadas no Brasil.
Ao analisar o caso da Uniforja, Costa e Dagnino (2009) ressaltam
que o fato dos trabalhadores terem conseguido criar quatro cooperativas
após o processo falimentar, além de estarem bem colocados no mercado,
realizarem reuniões semanais e assembleias mensais com todos os repre-
sentantes fazem dessa experiência um interessante exemplo a ser segui-
do por outras cooperativas.
De acordo com Leite (2009), embora a iniciativa seja bastante exi-
tosa do ponto de vista econômico, ela apresenta problemas evidentes
quanto se trata da questão da gestão.
Um dos primeiros problemas a esse respeito consiste no fato de que, no
final de 2009, o empreendimento possuía 193 funcionários e 320 coope-
rados, mas, antes da crise de 2008, o número de celetistas era quase igual
ao de cooperados. De acordo com entrevista realizada com o presidente
do empreendimento, essa relação precisa ser assim, tendo em vista as flu-
tuações do mercado que exigem que a empresa possa demitir nos momen-
tos de crise; como os associados não podem ser demitidos é necessário
que haja um número relativamente grande de celetistas para que os ajus-
tes de pessoal possam ser feitos sem dificuldades (Leite, 2009:251).
Outro problema apontado pela autora refere-se às grandes diferen-
ças entre retiradas, que superaram cinco vezes e foram atribuídas pelo
presidente do empreendimento a questões de mercado. Além disto, Leite
ressalta que as três cooperativas, ao longo de sua história, pouco muda-
128 Revista Latino-americana de Estudos do Trabalho
Revista Latinoamericana – 2013 – Ano 18 no
29
1ª Revisão: 03.06.2013
Cliente: IESP/UERJ – Produção: Textos & Formas
ram em relação à antiga organização do trabalho e à estrutura de cargos e
salários. Nesse contexto, os trabalhadores tornaram-se empregadores de
outros trabalhadores, em decorrência das exigências de inserção no mer-
cado, o que nos leva a concluir que não é viável atribuir ao empreendi-
mento a capacidade de transformação do trabalho assalariado e das rela-
ções de dominação na sociedade capitalista (Leite, 2009:252).
Por outro lado, segundo a autora, não se deve desprezar o fato de
que os mecanismos de participação dos cooperados nas decisões confe-
rem à iniciativa um caráter mais democrático do que o vivido por traba-
lhadores em ambientes fabris ditos tradicionais. Essa tendência se refle-
te na afirmação de grande parte dos associados de que uma das vantagens
de trabalhar no empreendimento é não ter patrão e não precisar trabalhar
sob pressão (Leite, 2009:252).
Outro ponto ressaltado pela autora corresponde ao sentimento de
orgulho, presente especialmente entre os trabalhadores que participaram
do movimento de recuperação da fábrica falida, no sentido de terem con-
seguido superar as dificuldades, tornando a iniciativa viável. Entre esses
trabalhadores, há muita satisfação, pois se mostraram capazes, por um
lado, de resistir diante das adversidades do mercado de trabalho, em par-
ticular no momento da transição, e, por outro, de gerenciar e levar a fren-
te uma iniciativa de sucesso, considerada como a maior forjaria da Amé-
rica Latina.
Ademais, cabe destacar que a história da Uniforja provocou um
grande envolvimento do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC numa ope-
ração de resgate de postos de trabalho. Tal movimento acabou se multi-
plicando para outras experiências, o que contribuiu para a criação da
Unisol Cooperativas, incubadora inicialmente restrita ao estado de São
Paulo, mas que, em 2004, deu origem a uma importante entidade nacio-
nal de representação de fábricas recuperadas denominada Unisol Brasil.
AUTOGESTÃO E COMPETIÇÃO NAS FÁBRICAS RECUPERADAS
Se a palavra autogestão é relativamente recente na cultura e lin-
guagem políticas ganhou notoriedade depois da metade do século XX , o
conceito por trás dessa palavra é tão antigo quanto as lutas de resistência
e de emancipação do movimento operário. Do ponto de vista histórico,
as iniciativas autogestionárias se expandiram em períodos de estagnação
econômica, crise social e explosão do desemprego, seja a partir da orga-
nização autônoma dos próprios trabalhadores, seja através de frentes de
Competição e autogestão em fábricas recuperadas no Brasil... 129
Revista Latinoamericana – 2013 – Ano 18 no
29
1ª Revisão: 03.06.2013
Cliente: IESP/UERJ – Produção: Textos & Formas
trabalho organizadas pelo Estado. Como resultado da violenta repressão
a que sempre foram submetidas, além de processos de recuperação eco-
nômica com base no aumento de postos formais de trabalho, tais iniciati-
vas tendiam a desaparecer ou pelo menos tinham seu número significati-
vamente reduzido, num movimento latente de recuos e retomadas que se
revigora, trazendo, a cada recessão, velhas questões e novos sentidos
(Melo, 2012).
Não há uma definição precisa e consensual sobre o termo autoges-
tão. Todavia, cabe chamar a atenção para três aspectos gerais que o ca-
racterizam, de acordo com Gaiger (2004). São eles: a) propriedade cole-
tiva dos meios de produção, sendo vedada a apropriação individual ou
alienação particular; b) o controle do empreendimento e o poder de deci-
são pertencem aos trabalhadores, em regime de paridade de direitos; c) a
gestão do empreendimento é realizada pela comunidade de trabalho que
organiza o processo produtivo, opera as estratégias planejadas e dispõe
sobre o destino dos rendimentos.
As práticas autogestionárias dariam aos empreendimentos uma
condição singular, pois modificariam o princípio e a finalidade da extra-
ção do trabalho excedente. Nesse sentido, a autogestão designaria um
modo de produção particular, a partir do qual é realizada a reconciliação
entre o trabalhador, os meios produtivos que ele detém e utiliza e os re-
sultados de seu trabalho.
É, portanto, comum a utilização do termo autogestão para abran-
ger tanto as alterações verificadas na forma de propriedade das fábricas
como as características democráticas que presidem a organização e a
gestão do processo de trabalho. A partir dessas iniciativas, passar-se-ia
teoricamente de num primeiro momento em que predominariam relações
de poder verticais entre capital e trabalho para um segundo no qual des-
pontariam relações horizontais e igualitárias entre trabalhadores.
No Brasil, o ressurgimento da autogestão como princípio nortea-
dor de formas associativas de trabalho ligadas a economia solidária se
deu durante os anos 1990. Esse processo assumiu, por um lado, uma co-
notação fortemente econômica relacionada à criação de um sistema de
produção capaz de combater o desemprego em massa e, por outro, uma
significação ideológica e política associada a um ideal utópico de trans-
formação e mudança social.
A esse respeito, Marques (2006) esclarece que a autogestão não se
resume a uma forma inovadora de gestão, com maior grau de democracia
e participação. Mais que isto, ela designa uma possibilidade de experiên-
130 Revista Latino-americana de Estudos do Trabalho
Revista Latinoamericana – 2013 – Ano 18 no
29
1ª Revisão: 03.06.2013
Cliente: IESP/UERJ – Produção: Textos & Formas
cia para os trabalhadores de uma nova práxis, antagônica à dinâmica ca-
pitalista das relações entre capital e trabalho no interior da fábrica, assim
como no que diz respeito à relação do trabalhador com o seu trabalho
(Marques, 2006:47).
Segundo Cunha e Faria (2009), a transformação das relações de
propriedade dos meios de produção abre, para as fábricas recuperadas,
um amplo leque de possibilidades, mas, ao mesmo tempo, desperta con-
tradições e ambiguidades relativas ao desenvolvimento dessas experiên-
cias no interior do capitalismo. Os autores enfatizam o caráter híbrido
das fábricas recuperadas, explicitando que estas geralmente são organi-
zadas como resultado da tomada de empresas cuja essência de gestão e
produção norteava-se pela autovalorização do capital.
Os meios de produção, os objetos de trabalho, os produtos e a própria for-
ça de trabalho eram empregados até então no interior de um sistema pro-
dutor de mercadorias, e enquanto tais entravam e eram sorvidas no pro-
cesso de produção social e material. A simples posse formal dos meios de
produção ou a nova forma de propriedade que assumem não implica de
imediato ou diretamente a transformação da natureza do processo de tra-
balho ou da sua dupla natureza, como demonstrou Marx, enquanto pro-
cesso real de trabalho e do processo de valorização (Cunha e Faria,
2009:9).
Cunha e Faria propõem uma reflexão que não considere como cen-
trais parâmetros internos de estruturação e funcionalidade das fábricas
recuperadas. Os autores colocam em xeque perspectivas reducionistas e
fragmentadas que interpretam o fenômeno das fábricas recuperadas por
referência a critérios de eficácia produzidos pelo mercado.
Esta perspectiva, que está presente fortemente no interior do movimento
das cooperativas de resistência, reduz o problema a uma questão de en-
tropia, seja ela herdada, gerada ou até mesmo inata aos trabalhado-
res/proprietários dos meios de produção. Atraso tecnológico, organiza-
ção do processo de trabalho, qualificação para a gestão etc., requerem
nesta ótica um contrapeso preciso, isto é, crédito, investimento e gestão
profissional, como condições estruturais para que a realização da produ-
ção ocorra o mais próximo possível do limite socialmente necessário, li-
mite esse estabelecido ou atingindo historicamente pelo sistema sem-
pre-em-expansão. Denominamos esta abordagem do fenômeno como co-
operativismo de mercado, caracterizado pela análise fragmentada e re-
ducionista do problema das fábricas recuperadas, expressa por todos
aqueles que limitam o fenômeno a não mais do que uma soma de unida-
des produtivas isoladas, cujo ideal é fornecido pelo modelo Mondragón,
e que afinal não vai além da reprodução das relações capitalistas de for-
ma transformada, com uma pitada maior de democracia (formal, aparen-
Competição e autogestão em fábricas recuperadas no Brasil... 131
Revista Latinoamericana – 2013 – Ano 18 no
29
1ª Revisão: 03.06.2013
Cliente: IESP/UERJ – Produção: Textos & Formas
te e limitada) ou participacionismo no interior das unidades produtivas,
espécie de socialismo de mercado (Cunha e Faria, 2009:9).
As críticas às propostas classificadas de cooperativismo de merca-
do, geralmente direcionadas aos autores da economia solidária e aos de-
mais estudiosos que interpretam a autogestão sob a forma específica de
propriedade coletiva dos meios de produção e adoção de mecanismos di-
retos de participação e decisão sobre problemas vitais da fábrica, são ra-
tificadas por Novaes (2005). Segundo o autor:
O questionamento da divisão do trabalho na empresa e a tecnologia her-
dada não se constituem em um problema para o movimento das fábricas
recuperadas, tão pouco para academia argentina e uruguaia. Centrando a
maior parte dos debates nas possibilidades de democracia direta uma vez
que nas fábricas recuperadas, cada sócio representa um voto esses pes-
quisadores sofrem do mesmo mal brasileiro ao não problematizar a im-
prescindível necessidade de reprojetamento das máquinas e instalações
herdadas, assim como a necessidade de criação de uma nova divisão do
trabalho (2005:101).
Nesse cenário, a questão tecnológica surge como um dilema.
Com muita frequência, as empresas em situação falimentar dei-
xam de investir em tecnologia e no momento em que os trabalhadores as-
sumem o controle da gestão, deparam-se com maquinário obsoleto e de-
fasado. Nesse sentido, as iniciativas já nascem com estrutura de capital
deficitária e sem potencial de financiamento, o que compromete em mui-
to sua viabilidade. Além disso, no período em que iniciam suas ativida-
des, estas são formadas, em sua maioria (incluindo, segundo Oda, o caso
da Uniforja), por trabalhadores mais velhos e com baixa qualificação,
isto é, operários com escassas oportunidades no mercado formal de tra-
balho processo que se agrava em momentos de recessão para os quais as
fábricas recuperadas representam uma possibilidade de inserção social e
econômica baseada no combate ao desemprego e na sustentação de pos-
tos de trabalho. Nesse sentido, Lima (2004) esclarece que a adesão vo-
luntária às cooperativas fica comprometida em contextos de crise econô-
mica, nos quais as oportunidades de trabalho são reduzidas. Fica a ques-
tão se é uma alternativa à exploração capitalista, ou à falta dessa mesma
exploração (Lima, 2004:58).
A temática da permanência da exploração nas fábricas recupera-
das, segundo Novaes, é bastante polêmica e conduz, em muitos casos, a
uma crítica imobilista por parte da esquerda latino-americana. Além das
fábricas recuperadas serem exploradas pelos empreendimentos hetero-
gestionários, tudo leva a crer que, em algumas (ou muitas cooperativas?)
132 Revista Latino-americana de Estudos do Trabalho
Revista Latinoamericana – 2013 – Ano 18 no
29
1ª Revisão: 03.06.2013
Cliente: IESP/UERJ – Produção: Textos & Formas
a própria classe trabalhadora, além de se autoexplorar, está explorando
outros trabalhadores pela via da contratação (Novaes, 2007:89).
A esse respeito, Lima (2004) destaca que a entrada de novos asso-
ciados em fábricas recuperadas resulta, geralmente, em problemas de en-
volvimento com a iniciativa, uma vez que os novos não tiveram partici-
pação nas lutas de transformação da empresa e muitas vezes não veem
sentido nem significado no trabalho autogestionário. Já quando os in-
gressos correspondem a assalariados contratados a Uniforja é um exem-
plo disto os trabalhadores associados acabam se defrontando com o dile-
ma de agirem como patrões, reproduzindo, em muitos casos, relações de
poder, hierarquias e medidas de produtividade típicas do trabalho anteri-
or, e possuírem, ao mesmo tempo, direitos reduzidos em relação aos co-
legas protegidos pela legislação trabalhista, o que é visto por eles como
ponto negativo perante a hegemonia de uma cultura que une historica-
mente assalariamento e cidadania.
Uma boa hipótese de pesquisa seria aquela que afirmaria que as coopera-
tivas não escapam a tendência do capitalismo, depois de 1973, caracteri-
zada por intensificação do trabalho dos que ficam nas corporações trans-
nacionais e hiper-exploração dos trabalhadores de fábricas terceirizadas.
Se for assim, seria muito ingênuo acreditar que as cooperativas e associa-
ções de trabalhadores poderiam permanecer blindadas, se diferenciando
dessa tendência do capitalismo (Novaes, 2005:90).
Por outro lado, vale ressaltar que a tecnologia herdada da empresa
falida, carrega no seu interior o espírito da valorização do capital, a par-
cialização das tarefas, o controle, a fragmentação e a inferiorização dos
trabalhadores (Cunha e Faria, 2009:10). O maior desafio está, de acordo
com os autores, no desenvolvimento de outros produtos para além das
mercadorias, outras tecnologias socialmente controláveis e abertas ao
relacionamento técnico com outras unidades produtivas autogestionári-
as (Cunha e Faria, 2009:10). Assim, os autores defendem o encadeamen-
to das fábricas recuperadas em um sistema próprio e auto-suficiente,
com outros critérios de eficácia, que envolva inclusive iniciativas auto-
gestionárias de outros países, embora considerem que ainda falta um
longo caminho para que esse movimento aconteça.
Porém, e malgrados os desvios e degenerações, não resta dúvida de que a
própria existência de casos bem-sucedidos de empresas recuperadas
(pelo menos mais do que um centena no Brasil e na Argentina) representa
uma conquista que deve ser preservada e acompanhada muito de perto
pelos trabalhadores. Talvez possa emergir daí a inspiração para que se
avance em direção aos setores dinâmicos do capitalismo, que até agora
Competição e autogestão em fábricas recuperadas no Brasil... 133
Revista Latinoamericana – 2013 – Ano 18 no
29
1ª Revisão: 03.06.2013
Cliente: IESP/UERJ – Produção: Textos & Formas
tem se mantido imunes às práticas da autogestão dos seus processos de
trabalho (Cunha e Faria, 2009:11).
Para esses autores, a propriedade coletiva dos meios de produção
enunciada a partir da autogestão somente se tornará efetiva na medida
em que for acompanhada pela gestão coletiva de processos econômicos e
sociais com a participação direta dos trabalhadores dentro e fora das uni-
dades fabris. Com base nessa perspectiva, a crítica em relação aos teóri-
cos da Economia Solidária parte do pressuposto de que estes teriam
abandonado, ao tratarem dos processos autogestionários, a ideia de con-
trole global da produção e do consumo por parte dos produtos associa-
dos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A crise do emprego, associada à perda de direitos fundamentais
agregados a condição salarial, bem como o enfraquecimento do sindica-
lismo e a redução drástica de postos de trabalho, nos anos 1990, recolo-
caram em cena a necessidade de se buscar formas alternativas de organi-
zação do trabalho e de promoção de autonomia dos trabalhadores. Ao
adotar a autogestão como princípio, as propostas de recuperação de fá-
bricas ressurgem com o objetivo de com certo grau de originalidade
consolidar um conjunto de práticas sociais orientadas por valores como
igualdade, democracia e solidariedade.
Contudo, vale registrar que o desenvolvimento de fábricas recupe-
radas no Brasil não se deu em uma conjuntura de ascensão de lutas dos
trabalhadores. Ao contrário, a classe trabalhadora encontrava-se em
uma posição eminentemente defensiva a partir da qual a manutenção do
emprego e a geração de renda despontavam como motivações centrais.
Esse quadro de descenso e refluxo das lutas sociais marcou na ori-
gem das fábricas recuperadas um caráter de precarização e não de enga-
jamento político, fazendo do cooperativismo não mais que uma política
de contenção do desemprego em massa e redução de tensões sociais. O
resultado de tais práticas tem apontado para o isolamento dessas iniciati-
vas, o que dificulta em muito sua afirmação econômica e política, além
de seu enfraquecimento e, em muitos casos, desaparecimento, em parti-
cular no que diz respeito à última década, período em que, coincidente-
mente ou não, registrou-se um aumento significativo do número de pos-
tos formais de trabalho no Brasil.
134 Revista Latino-americana de Estudos do Trabalho
Revista Latinoamericana – 2013 – Ano 18 no
29
1ª Revisão: 03.06.2013
Cliente: IESP/UERJ – Produção: Textos & Formas
Afinal, o processo de implementação das fábricas recuperadas de-
fronta-se com uma série de contradições e desafios articulados a injun-
ções políticas, sociais, culturais e econômicas. No atual cenário, a natu-
reza voluntária de adesão a esses empreendimentos parece um tanto
comprometida. Mais que uma escolha efetiva em nome da autonomia e
da solidariedade, estes vêm representando uma única saída para os ex-
cluídos do mercado de trabalho.
Todavia, a disposição de alguns cooperados em participar dessas
iniciativas, mesmo tendo alternativas de trabalho em tese mais favoráve-
is do ponto de vista material, e sua adesão ideológica aos princípios auto-
gestionários para além do espaço das cooperativas apontam para renova-
ção de lutas em direção às formas mais igualitárias e democráticas de or-
ganização da produção e da vida social. Apesar das profundas dificulda-
des econômicas e estruturais que enfrentam, o fato de algumas dessas
iniciativas mostrarem-se viáveis e possíveis abre caminhos para se pen-
sar uma cultura de trabalho mais inclusiva e menos exploratória.
Desqualificar esses poucos e fechar os olhos para o que propõem
é, sem dúvida, o pior e o mais covarde dos caminhos. Nesse ponto, vale
questionar que perspectivas e estratégias estariam sendo difundidas por
entidades de apoio, poder público e sociedade em geral e quais seriam
seus impactos em relação aos movimentos de enfraquecimento e/ou de-
senvolvimento dessas iniciativas no Brasil.
(Recebido para publicação em outubro de 2012)
(Aprovado em março de 2013)
(Versão final em abril de 2013)
Competição e autogestão em fábricas recuperadas no Brasil... 135
Revista Latinoamericana – 2013 – Ano 18 no
29
1ª Revisão: 03.06.2013
Cliente: IESP/UERJ – Produção: Textos & Formas
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Antunes, Ricardo. (2009). Os sentidos do trabalho: ensaios sobre a afir-
mação e a negação do trabalho. São Paulo: Boitempo.
Azevedo, Alessandra Bandeira Antunes de. (2007), Autogestão e com-
petitividade: estudos de caso em cooperativas industriais brasileiras
e bascas/espanholas . Campinas: Instituto de Geociências
UNICAMP. Tese de Doutorado.
Costa, Elaine Hipólito; Dagnino, Renato Peixoto. (2009), A experiência
da fábrica recuperada Uniforja: autogestão ou heterogestão?. Em:
<http://www.sbsociologia.com.br/portal/index.php?option=com_
docman&task=doc_download&gid=2645&Itemid=171>. Consulta-
do em: 25/11/11.
Cruz, Antônio Carlos Martins. (2006), A diferença da igualdade: a dinâ-
mica da economia solidária em quatro cidades do Mercosul. Campi-
nas: Faculdade de Economia UNICAMP. Tese de Doutorado.
Cunha, Gabriela Cavalcanti; Faria, Maurício Sarda de. (2009), Autoges-
tão e economia solidária: o desafio das fábricas recuperadas. Em:
<http://anaisenapegs2011.cariri.ufc.br/dmdocuments/p92.pdf>.
Consultado em: 15/02/12.
Fajn, Gabriel (2004). Fábricas recuperadas: la organización in cuestión.
Em: <http://www.iisg.nl/labouragain/documents/fajn.pdf>. Consul-
tado em: 20/10/12.
Faria, Maurício Sarda de. (2005), Autogestão, cooperativa, economia
solidária: avatares do trabalho e do capital. Florianópolis: Progra-
ma de Pós-Graduação em Sociologia Política UFSC. Tese de Douto-
rado.
Faria, Maurício Sarda de; Fernandes, Raquel Aragão Uchoa. (2011), Re-
flexões sobre trajetórias autogestionárias em fábricas recuperadas.
Em: <http://cirandas.net/nesol-usp/eventos/vii-eies/ot05.pdf>. Con-
sultado em: 15/12/11.
Gaiger, Luiz Inácio. (2004), Sentidos e experiências da economia soli-
dária no Brasil. Porto Alegre: Editora UFRGS.
Henriques, Flávio Chedid; Rufino, Sandara; Sígolo, Vanessa Moreira.
(2011),Estudando fábricas e organizações recuperadas por trabalha-
136 Revista Latino-americana de Estudos do Trabalho
Revista Latinoamericana – 2013 – Ano 18 no
29
1ª Revisão: 03.06.2013
Cliente: IESP/UERJ – Produção: Textos & Formas
dores no Brasil. Em: <http://cirandas.net/nesol-usp/eventos/vii-eies/
ot13.pdf>. Consultado em: 20/12/11.
Hillerstein, M. (2002), Autogestão: a experiência das organizações au-
togestionárias do setor cristaleiro de Blumenau e Indaial. Florianó-
polis: Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política UFSC.
Dissertação de Mestrado.
Leite, Márcia de Paula (2009), Cooperativas e trabalho: um olhar sobre o
setor de reciclagem e fábricas recuperadas em São Paulo, in Isabel
Georges,; Márcia Leite (orgs.), Novas configurações do trabalho e
Economia Solidária. São Paulo: Annablume, pp. 227-268.
Lima, Jacob Carlos. (2004). O trabalho autogestionário em cooperativas
de produção: o paradigma revisado. Revista Brasileira de Ciências
Sociais. Vol. 19, No. 56, pp. 45-62.
Marques, Paulo Lisandro Amaral. (2006), Trabalho emancipado em em-
presas recuperadas pelos trabalhadores: a experiência autogestio-
nária de metalúrgicos gaúchos. Porto Alegre: Instituto de Filosofia e
Ciências Humanas UFRGS. Dissertação de Mestrado.
Melo, Ana Beatriz. (2012), Cooperativismo e trabalho autogestionário:
entre o real e o possível. Curitiba: Appris.
Novaes, Henrique Tahan. (2005), Quando os patrões destroem máqui-
nas: um debate em torno das forças produtivas em fábricas recupera-
das argentinas e uruguaias. Ciências Sociais Unisinos. São Leopoldo,
Vol. 41, No. 2, pp. 100-110.
Novaes, Henrique Tahan. (2007), De tsunami a marola: uma breve histó-
ria sobre as fábricas recuperadas na América Latina. Letras & Resis-
tências. Londrina, No. 2, pp. 84-97.
. (2010), A relação universidade-movimentos sociais na América
Latina: habitação popular, agroecologia e fábricas recuperadas.
Campinas: Instituto de Geociências UNICAMP. Tese de Doutora-
do.
Oda, Nilson Tadashi. (2001), Gestão e Trabalho em Cooperativas de
produção: dilemas e alternativas à participação. São Paulo: Escola
Politécnica USP. Dissertação de Mestrado.
Parra, Henrique Zoqui Martins. (2002), Liberdade e necessidade: em-
presas de trabalhadores autogeridas e a construção sócio-política
Competição e autogestão em fábricas recuperadas no Brasil... 137
Revista Latinoamericana – 2013 – Ano 18 no
29
1ª Revisão: 03.06.2013
Cliente: IESP/UERJ – Produção: Textos & Formas
da economia. São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências
Humanas USP. Dissertação de Mestrado.
Pereira, Maria Cecília Camargo. (2007), Experiências autogestionárias
no Brasil e na Argentina. Campinas: Faculdade de Educação
UNICAMP. Dissertação de Mestrado.
Pires, Aline Suelen (2011). As fábricas recuperadas no Brasil: a auto-
gestão entre a teoria e a prática. Trabalho apresentado no XV Con-
gresso Brasileiro de Sociologia. Curitiba,
Santos, Boaventura de Sousa. (2005), Produzir para viver: os caminhos
da produção não capitalista. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.
Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. (2010), Uniforja: uma vitória defi-
nitiva. Em: <http://www.smabc.org.br/smabc/materia.asp?id_
CON=23545&id_SUN=130>. Consultado em: 10/02/13.
NOTA
1. Importante registrar que desde 2011 está sendo desenvolvido o Mapeamento
Nacional de Fábricas Recuperadas, coordenado pelo Grupo de Análise de
Política de Inovação (GAPI/UNICAMP), com o apoio do Conselho Nacio-
nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Até o momento,
os resultados desse mapeamento não foram divulgados.
138 Revista Latino-americana de Estudos do Trabalho
Revista Latinoamericana – 2013 – Ano 18 no
29
1ª Revisão: 03.06.2013
Cliente: IESP/UERJ – Produção: Textos & Formas
RESUMO:
As fábricas recuperadas expandiram-se no Brasil como respostas
ao desemprego em massa durante os anos 1990. Trata-se de iniciativas
autogestionárias inseridas no mercado que apresentam uma série de par-
ticularidades, nem sempre contempladas pela literatura especializada,
no que diz respeito à sua história, organização interna, atores sociais en-
volvidos, inserção no mercado, articulações com entidades de apoio e
poder público. Partindo dessa lacuna, o artigo propõe um debate sobre
fábricas recuperadas no Brasil, enfatizando suas especificidades contex-
tuais e organizacionais e analisando as possíveis contradições presentes
na relação entre autogestão e competição de mercado.
Palavras-chave: fábricas recuperadas, autogestão, competição,
trabalho.
ABSTRACT:
The recovered factories have expanded in Brazil in response to
mass unemployment during the 1990's. These are market oriented
self-management initiatives that present a series of peculiarities, not al-
ways acknowledged by the literature, on issues such as their history, in-
ternal organization, social actors, market insertion, relations with sup-
port institutions and public authorities. With this gap in mind, the article
proposes a debate about recovered factories in Brazil, emphasizing its
contextual and organizational specificities and analyzing possible con-
tradictions present in the relations between self-management and market
competition.
Keywords: recovered factories, self-management, competition,
work.
Competição e autogestão em fábricas recuperadas no Brasil... 139
Revista Latinoamericana – 2013 – Ano 18 no
29
1ª Revisão: 03.06.2013
Cliente: IESP/UERJ – Produção: Textos & Formas