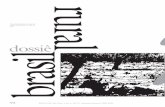Revista MORUS - Utopia e Renascimento, 6, 2009. Dossiê Utopia: gênero e modos de representação
Apresentação dossiê "Platão, conhecimento e virtude". Revista Archai, n. 12.
Transcript of Apresentação dossiê "Platão, conhecimento e virtude". Revista Archai, n. 12.
Esta publicação está catalogada no Philosopher‘s Index, no PhilBrasil e no Portal de Periódicos da CAPES
COMISSÃO EDITORIALGabriele Cornelli (UnB) – Editor ResponsávelAndré Leonardo Chevitarese (UFRJ)Dennys Garcia Xavier (UFU)Loraine Oliveira (UnB)Marcelo Carvalho (UNIFESP)Maria Cecília de Miranda N. Coelho (UFMG)Miriam Campolina Peixoto (UFMG)Sandra Rocha (UnB)
COMISSÃO CIENTÍFICAAnastácio Borges (Universidade Federal de Pernambuco)Edrisi Fernandes (Universidade de Brasília)Fernando Muniz (Universidade Federal Fluminense)Fernando Rey Puente (Universidade Federal de Minas Gerais)Fernando Santoro (Universidade Federal do Rio de Janeiro)Francesco Fonterotta (Università del Salento, Itália)Francisco Lisi (Universidad Carlos III de Madrid, Espanha)Franco Ferrari (Università degli Studi di Salerno, Itália)Franco Trabattoni (Università degli Studi di Milano, Itália)Giovanni Casertano (Università degli Studi di Napoli, Itália)Hector Benoit (Universidade Estadual de Campinas)Henrique Cairus (Universidade Federal do Rio de Janeiro)José Gabriel Trindade Santos (Universidade Federal da Paraíba / Lisboa)Katia Pozzer (Universidade Luterana do Brasil)Livio Rossetti (Università degli Studi di Perugia, Itália)Luc Brisson (CNRS, Paris - França)Marcelo Boeri (Universidad Alberto Hurtado, Chile)Marcelo Pimenta Marques (Universidade Federal de Minas Gerais)Marco Zingano (Universidade de São Paulo)Marcus Mota (Universidade de Brasília)Maria Aparecida Montenegro (Universidade Federal do Ceará)Markus Figueira (Universidade Federal do Rio Grande do Norte)Noburu Notomi (Keio University, Japão)Pedro Paulo Funari (Universidade de Campinas)Thomas Robinson (University of Toronto, Canadá)Zélia de Almeida Cardoso (Universidade de São Paulo)
COMITÊ DE REDAÇÃOJonatas Rafael AlvaresRodrigo AraújoTiago Nascimento de CarvalhoGilmário Guerreiro da Costa Carlos Luciano CoutinhoEster MacedoGuilherme Mota
PROJETO GRÁFICO: Annablume Editora
DIAGRAMAÇÃO: Vinícius Viana
IMAGEM DA CAPA: Taigo Meirelles, Platão Cego. Brasília 2013. Obra doada pela Unesco e a Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos ao escritor Luís Fernando Verissimo por ocasião da participação dele no XIX Congresso da SBEC em Brasília.
COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO: Ivan Antunes
JORNALISTA RESPONSÁVEL: José Roberto Barreto Lins (MTb 21287)
12 jan/jun 2014
ANNABLUME EDITORAR. Dr. Virgílio de Carvalho Pinto , 554 – Pinheiros05415-020 – São Paulo – SPTel. e Fax (5511) 3539-0226 – Televendas (5511) [email protected]
issn 2179-4960e-issn 1984-249-X
ARCHAI JOURNAL: ON THE ORIGINS OF WESTERN THOUGHT
ARCHAI: Revista de Estudos sobre as Origens do Pensamento Ocidental – Archai Journal: on the Origins of Western Thought. N. 12, (janeiro/junho 2014).
Brasília, 2014 [Impressa e eletrônica].
Semestral.
Título português / inglês
ISSN 2179-4960.e-ISSN 1984-249X
1. Filosofia. 2. História da Filosofia. 3. História Antiga. 4. Literatura. 5. Estudos Clássicos. 6. História do Pensamento Ocidental.
CDU 101 CDD 100
Catalogação elaborada por Wanda Lucia Schmidt – CRB-8-1922
Infothes Informação e Tesauro
EDITORIALGabriele Cornelli ARTIGOSO cosmos visível dos diálogos. Algumas observações históricas e filosóficas sobre Platão nas Escolas da Antiguidade tardia The Visible Cosmos of Dialogues. Some Historical and Philosophical Remarks about Plato in the Late Antique SchoolsAnna MottaO tema da ética de Estado nas aves de AristófanesThe topic about Ethics of State in comedy “The Birds” by AristophanesTiago Nascimento CarvalhoZenão e a impossibilidade da analogiaZeno and the impossibility of analogyAlessio GavaTheòs Anaítios: um comentário sobre A Teodiceia de Platão à luz do TimeuTheòs Anaítios: A Commentary On Plato’s Theodicy In Light Of TimeuJacqueline Bergamini MarettoA função das sensações no processo de conhecimento segundo Heráclito. Primeira parte: o uso direto das sensações.The role of sensation in knowledge according to Heraclitus. First part: Direct use of sensationCelso Oliveira VieiraDOSSIÊ: Platão, conhecimento e virtudeApresentação – José Lourenço Pereira da Silva Foreword– José Lourenço Pereira da Silva
Platão como artistaPlato as ArtistChristian Viktor HammSocrates On Virtue And Self-Knowledge In Alcibiades I And Aeschines’ AlcibiadesSócrates Sobre a Virtude e o autoconhecimento no Alcibíades I e no Alcibíades de Aeschines
Francesca PentassuglioConhecimento e virtude no Mênon de PlatãoKnowledge and virtue in Plato’s MenoFranco Ferrari
7
12 jan/jun 2014 issn 2179-4960
e-issn 1984-249-X
11
19
25
31
41
5351
77
85
93
103
57
65
Virtude, engano e conhecimento no Hípias Menor de PlatãoVirtue, cheat, and knowledge in Plato’s Lesser Hippias Francesco FronterottaVirtude e conhecimento em As LeisVirtue and knowledge in The LawsGérson Pereira FilhoEducação, costumes e leis como bases para a promoção das virtudes cívicas no Protágoras e na RepúblicaEducation, customs and laws as the basis for the promotion of civic virtues in Protagoras and RepublicGuilherme Domingues da MottaPequeno esboço sobre a prohairesis e a dignidade humana em EpitetoA Brief Account of Epictetus prohairesis on human dignityJanyne SattlerNotas sobre a metafórica da pintura na República VI e X.Notes on metaphorics of painting in Republic VI e X.Loraine OliveiraPlaton et les lois de la naturePlato and the laws of natureLuca PitteloudGoodness And Beauty In PlatoBondade e Beleza em PlatãoNicholas RiegelJustiça: igualdade e bondade no Platonismo Medieval Justice: equality and kindness in Medieval PlatonismNoeli Dutra RossattoA aretê filosófica de Platão sobreposta à do éthos tradicional da cultura gregaPlato’s philosophical aretê superimposed on the aretê of the traditional éthos of the Greek cultureMiguel Spinelli
85
93
103
113
121
135
143
155
165
6
TRADUÇÃOԞΕΔϟΈΓΙȱΓϟΑΗΗ΅As Fenícias, de Eurípides (vv. 445-587)Evandro Luis SalvadorNOTASObras Completas De Aristóteles Em Língua Portuguesa António Pedro MesquitaNovas normas de transliteração de Coimbra
RESENHASSANTOS, J. T. (2012) Platão: a construção do conhecimento, Paulus, S. Paulo.Rodrigo AraújoOLIVEIRA, R. R. (2013). Pólis e Nómos: o problema da lei no pensamento grego. São Paulo: Editora Loyola.Danilo Andrade TaboneDiretrizes para autores
Submission Guidelines
179
187
195
197
201205
193
desígnio 12
53
jan/jun 20149
53
desígnio
José Lourenço Pereira da Silva*
As realizações intelectuais dos pensadores
antigos não cessam de exercer fascínio e atrair inte-
resse. Assim acontece com a filosofia de Platão que,
passados cerca de vinte e cinco séculos, continua
influenciando a investigação filosófica e a reflexão
em diversas áreas do saber. Realmente, Platão
ocupou-se de grandes questões que ainda desafiam
a inteligência humana. Suas ideias e argumentos,
abrangentes e seminais, a respeito, por exemplo,
da natureza do conhecimento ou da conduta moral
representam contribuições inobliteráveis para o
patrimônio cultural da civilização ocidental.
Com efeito, o problema do conhecimento, ou
seja, de como a mente apreende a realidade, central à
filosofia desde sua origem, é assunto ubíquo na obra de
Platão. O filósofo examinou as condições para o conhe-
cimento, os métodos de adquiri-lo, as características
de seu objeto e dos estados mentais que se designa
conhecimento (episteme), opinião (doxa) e ignorância
(agnoia). Sob o influxo da busca socrática por defini-
ções dialogicamente conduzida, Platão postulou como
elemento diferenciador do indivíduo que conhece de
outro que apenas opina a capacidade de apresentar
uma explicação (logos) do objeto intencionado. Na
República, a distinção já traçada pelos pré-socráticos
entre conhecimento e opinião, é retomada pelo Sócra-
APRESENTAÇÃO
* Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria,
Brasil.
SILVA, J. L. P. (2014) Apresentação. Archai. n. 12, jan - jun, p. 57-60
54
tes platônico e endossada com base na diferença entre
os objetos a que se referem uma e outra apreensão
cognitiva: a opinião, não alcançando plena clareza, é
tão incerta e mutável quanto as aparências sensíveis a
que concerne; enquanto o conhecimento, plenamente
claro, certo e inabalável descrevendo “o que é como
é”, se relaciona com as verdadeiras realidades, ou seja,
as Formas inteligíveis, unas, eternas e imutáveis. Nos
livros centrais desse mesmo diálogo, o conhecimento
é entendido como aquilo que a alma conquista através
da dialética operando exclusivamente com as Formas
puras. Dedicado a definir a episteme, o Teeteto mostra
o fracasso de explicar o conhecimento sem recurso
aos objetos inteligíveis, que voltam ao lugar central
na epistemologia platônica dos diálogos tardios. No
Sofista, tratadas como realidades que mantém intrín-
secas relações de participação umas com as outras,
as Formas-gêneros são objetos da ciência dialética,
a ciência suprema ou acabamento do conhecimento
humano. Não mais descrita, como no Mênon, Fédon
e República, em termos de um método hipotético, a
dialética consiste no método de reunião e divisão dos
gêneros e espécies. Dialético ou filósofo é o homem
que sabe dividir as Formas em seus gêneros: em uma
única Forma reconhecer a pluralidade de Formas que
aquela compreende ou em uma pluralidade de Formas
diferentes perceber a Forma única que as envolve;
o dialético saberá, em suma, distinguir as Formas e
reconhecer quais as que estabelecem e as que não
estabelecem comunhão mútua. Uma vez que no mun-
do sensível os particulares refletem as combinações
formais, quem conhece estas combinações saberá
descrever com exatidão as propriedades das coisas
sensíveis.
A epistemologia platônica se apoia na ontolo-
gia que distingue as coisas sensíveis das realidades
inteligíveis. O conhecimento possível dos sensíveis
depende e deriva do conhecimento dos inteligíveis,
dado o pressuposto platônico de que o verdadeiro
objeto do conhecimento deve ser imutável e inde-
pendente da mente, vale dizer, para ser conhecido,
em sentido estrito, o objeto deve se manter em sua
identidade própria e o mesmo para todos os sujeitos
cognoscentes.
Essa exigência de estabilidade e objetivida-
de na epistemologia e na metafísica de Platão se
constata também em sua ética – investigações para
ele inseparáveis, aliás. À questão “como devemos
viver?” O filósofo responde que de acordo com o
conhecimento dos verdadeiros e universalmente
válidos princípios éticos. Ao contrário dos sofistas,
que concebiam o bem e os valores pelos quais
se guiam uma sociedade e seus indivíduos como
relativos e mutáveis, e a virtude (arete) como a
habilidade para uma vida pública bem sucedida,
Platão supunha que os valores e o bem seriam
invariáveis, e que a virtude, como Sócrates pensa-
va, consistiria em uma espécie de conhecimento,
aquele necessário para a obtenção da felicidade,
de modo que ninguém erraria voluntariamente.
Mas Platão realiza desenvolvimentos a partir das
ideias de Sócrates que permitem mitigar o caráter
paradoxal do ensinamento do mestre mostrando
causas coadjuvantes com a ignorância para explicar
os erros humanos. Empregando o termo arete em um
dos principais significados correntes em sua língua,
ou seja, a excelência de uma coisa no exercício de
sua função própria, Platão identifica a virtude do
homem com a sabedoria. Virtuoso seria o indivíduo
que sabe determinar o melhor curso de ação para
alcançar o fim colimado em todo agir consciente,
isto é, o bem ou a felicidade.
Contudo, embora cada pessoa deseje o bem
em toda ação intencionada, ela está suscetível de
enganar-se pelas aparências e, assim, fazer más
escolhas. Essa suscetibilidade se acentua por conta
do conflito existente no interior da alma humana, a
qual na República o autor analisa como constituída
por três partes ou possuindo três faculdades, hierar-
quicamente assim dispostas: a racional, a irascível e
a apetitiva, cada uma das quais tendo uma virtude
própria: a parte racional, a sabedoria; a irascível,
a coragem; a apetitiva, a moderação. As nossas
más ações teriam, então, raízes na tensão entre
o elemento racional e o apetitivo de nossa alma,
quando o desejo recalcitra em seguir a razão. Para
imperar a justiça, a virtude da alma e da cidade, a
razão precisa, com o auxílio do elemento irascível,
pôr fim à dissenção interna contendo e dirigindo
os desejos. Justiça seria a unidade harmoniosa das
diversas partes da alma e da cidade em que cada
parte desempenha sua função própria de acordo
desígnio 12
55
jan/jun 2014
com suas atribuições. A justiça coloca a alma e a
cidade no bom estado, ordenado e regrado. Ora,
o que coloca uma coisa no seu melhor estado é
a virtude; a justiça, como cada excelência ética,
é, portanto, um bem em si; e desse modo Platão
considera demonstrar que o auto-interesse e o bem
moral coincidem, ou que o bem para si e o bem para
o outro são o mesmo, fato que escapa ao comum
dos homens, que erra por ignorância. O autor dos
diálogos parece não abandonar o pressuposto inte-
lectualista da virtude como saber. Buscou estabele-
cer um conceito de virtude que servisse de norma
de conduta e de avaliação das condutas estável e
inteligível a todos os humanos; e, assim, julgava
poder superar o debate opinativo vazio sobre o que
é bom, justo ou virtuoso colocando as condições
para designar uma conduta verdadeiramente boa,
instituindo uma ética da verdade. A ética e a política
são, pois, lugares da verdade1.
As teorias platônicas do conhecimento e
da virtude constituíram a temática do “I Colóquio
Internacional de Filosofia Antiga da UFSM e o
Seminário da Sociedade Brasileira de Platonistas”,
realizados no período de 26 a 28 de junho de 2013,
na Universidade Federal de Santa Maria. O presente
dossiê se compõe das palestras do evento. São, de
fato, contribuições valiosas e enriquecedoras para os
estudos platônicos e a Filosofia Antiga no Brasil. As
abordagens dadas ao assunto foram, naturalmente,
variadas e complementares em muitos casos. A maior
parte dos artigos lança luz sobre a indissociável
relação entre conhecimento e virtude nos diálogos
de Platão. Assim, Francesco Fronterrota examina no
Hípias Menor o paradoxo ético, surgido da comparação
entre os personagens Ulisses e Aquiles, de que bom
e melhor é o indivíduo capaz de, voluntariamente,
fazer o mal, propondo uma interpretação persuasiva
da aparente aporia deste escrito da juventude. Fo-
calizando o Mênon, Franco Ferrari trata com clareza
e lucidez de problemas espinhosos implicados na
tese socrática da identidade entre conhecimento e
virtude, e oferece uma explicação plausível à árida
questão, em Platão, da transmissão da virtude. Uma
erudita análise do conceito de arete é realizada por
Miguel Spinelli, que percorrendo a multiplicidade de
sentidos que o termo assumiu no desenvolvimento
cultural grego até o significado de virtude moral, re-
flete sobre as significações cívica e filosófica de arete.
Guilherme Domingues da Motta dedica seu artigo ao
problema da educação, tão seriamente tratado pelo
autor dos diálogos, para examinar as semelhanças e
diferenças entre o Protágoras e a República a respeito
do valor e do ensino das virtudes cívicas. Destacando
a centralidade dos conceitos de conhecimento e
virtude na dialética dos diálogos platônicos, Gerson
Pereira Filho demonstra, com rigor, a importância
de ambas as noções no projeto político d’As Leis.
Francesca Pentassuglio realiza uma instrutiva análise
comparativa do Primeiro Alcibíades de Platão com o
Alcibíades de Ésquine enfocando as ideias de virtude
e de autoconhecimento.
Fulcral na filosofia de Platão é, sem dúvida,
a concepção de Forma inteligível. Luca Pitteloud
argumenta para uma compreensão bastante razoável
da natureza das Formas como modelo ou realização
ótima de uma funcionalidade. Questões de estética
e da relação de Platão com a arte poética foram
também atentamente tratadas. Nicholas Riegel
explora o significado de beleza, a relação desta
ideia com a da bondade e suas implicações éticas.
Christian Viktor Hamm demonstra que, sendo ade-
quadamente considerado o que o filósofo entendia
por arte mimética e sob quais condições e fins devia
ser praticada, desfaz-se todo paradoxo no fato de
ter sido Platão ao mesmo tempo um artista e um
crítico da arte. Em cinco notas perspicazes, Loraine
Oliveira analisa de várias perspectivas a “metafórica
da pintura” recorrente na República, evidenciando,
justamente, a extrema relevância da imagem no
pensamento de Platão. Por fim, a destacar a conti-
nuação e influência da tradição filosófica antiga em
outros períodos da história da Filosofia, o artigo de
Noeli Dutra Rossatto aborda o Platonismo Medieval
concentrando-se no debate sobre a noção de justiça
como igualdade ou como bondade, e sobre outras
questões surgidas do contato entre o intelectualis-
mo moral e a ética cristã. Janyne Sattler examina
o complexo conceito de prohairesis em Epiteto no
intuito de demonstrar acordos profundos entre a
ética wittgensteineana e a ética do filósofo estoico.
Encerramos esta apresentação com palavras
de agradecimento aos que apoiaram e promoveram
1. Cf. BRISSON, L. e PRADEAU, J.-F. Vocabulário de Platão. Trad.
Claudia Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 75.
56
o exitoso colóquio. Pelo apoio financeiro, somos
gratos à CAPES, ao Departamento de Filosofia e ao
Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFSM.
Agradecemos à Sociedade Brasileira de Platonistas,
à Cátedra Unesco Archai, ao GT-Platão e Platonis-
mo da ANPOF e ao Departamento de Filosofia da
UFSM, a marcante presença de seus professores
e pesquisadores foi decisiva para o alto nível e a
elegância do debate. Nossa gratidão ao presidente
da International Plato Society, Gabrielle Cornelli,
por toda a colaboração e incentivo, e pelo espaço
ora concedido para a publicação destes resultados
na Revista Archai.
Artigo recebido em setembro de 2013,
aprovado em novembro de 2013.