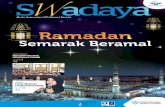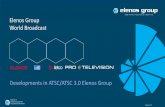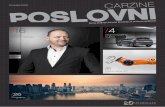ANPUH 2018 V 3.0.indd
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of ANPUH 2018 V 3.0.indd
Editora Milfontes
DAS UTOPIASAO AUTORITARISMO:
HISTORIOGRAFIA, MEMÓRIA E CULTURA
André Ricardo Valle Vasco Pereira
Ayala Rodrigues Oliveira Pelegrine
Dinoráh Lopes Rubim Almeida
Márcio Gomes Damartini
Maro Lara Martins
Pedro Ernesto Fagundes
Rossana Gomes Britto(Organizadores)
Copyright © 2019, André Ricardo Valle Vasco Pereira, Ayala Rodrigues Oliveira Pelegrine, Dinoráh Lopes Rubim Almeida, Márcio Gomes Damartini, Mara Lara Martins, Pedro Ernesto Fagundes, Rossana Gomes Britto (Org.).Copyright © 2019, Editora Milfontes.Rua Santa Catarina, 282, Serra - ES, 29160-104.Compra direta e fale conosco: https://editoramilfontes.com.brDistribuição nacional em: [email protected]
Editor ChefeBruno César Nascimento
Conselho EditorialProf. Dr. Alexandre de Sá Avelar (UFU)
Prof. Dr. Arnaldo Pinto Júnior (UNICAMP) Prof. Dr. Arthur Lima de Ávila (UFRGS)
Prof. Dr. Cristiano P. Alencar Arrais (UFG) Prof. Dr. Diogo da Silva Roiz (UEMS)
Prof. Dr. Eurico José Gomes Dias (Universidade do Porto) Prof. Dr. Hans Urich Gumbrecht (Stanford University)
Profª. Drª. Helena Miranda Mollo (UFOP) Prof. Dr. Josemar Machado de Oliveira (UFES)
Prof. Dr. Júlio Bentivoglio (UFES) Prof. Dr. Jurandir Malerba (UFRGS)
Profª. Drª. Karina Anhezini (UNESP - Franca) Profª. Drª. Maria Beatriz Nader (UFES)
Prof. Dr. Marcelo de Mello Rangel (UFOP) Profª. Drª. Rebeca Gontijo (UFRRJ)
Prof. Dr. Ricardo Marques de Mello (UNESPAR) Prof. Dr. Thiago Lima Nicodemo (UERJ) Prof. Dr. Valdei Lopes de Araújo (UFOP)
Profª. Drª Verónica Tozzi (Univerdidad de Buenos Aires)
André Ricardo Valle Vasco PereiraAyala Rodrigues Oliveira Pelegrine
Dinoráh Lopes Rubim AlmeidaMárcio Gomes Damartini
Maro Lara MartinsPedro Ernesto Fagundes
Rossana Gomes Britto(Org.)
Das Utopiasao Autoritarismo:
historiografia, memória e cultura
EDITORA MILFONTES
Todos os direitos reservados. Nenhuma parte desta obra poderá ser reproduzida ou transmitida por qualquer forma e/ou quaisquer meios (eletrônico ou mecânico, incluindo fotocópia e gravação digital) sem a
permissão prévia da editora.
Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)UT91 Das utopias ao autoritarismo: historiografia, memória e cultura./André
Ricardo Valle Vasco Pereira; Ayala Rodrigues Oliveira Pelegrine; Dinoráh Lopes Rubim Almeida; Márcio Gomes Damartini; Maro Lara Martins; Pedro Ernesto Fagundes; Rossana Gomes Britto (organizadores). Serra: Editora Milfontes, 2019.568 p. : 20 cmLivro Eletrônico - PDFModo de acesso: www.editoramilfontes.com.br/publicações.
Inclui Bibliografia. ISBN: 978-85-94353-41-2
1. Historiografia 2. História política 3. 1968 I. Pereira, André Ricardo Valle Vasco [et. al.] II. Título.
CDD 981.063
RevisãoDe responsabilidade exclusiva dos organizadores
CapaImagem da capa:
Marcha dos Cem mil - Rio de Janeiro - 1968.Autor: não citado, logo, tenho declarado que não existe intenção de violação de
propriedade intelectualBruno César Nascimento - Aspectos
Projeto Gráfico e EditoraçãoWesley Ribeiro dos Santos
SumárioApresentação .........................................................................................9
Parte IA Ditadura Civil-Militar: trabalhadores, mulheres, repressão,
transição e memória
O sindicato dos bancários do espírito santo durante a ditadura civil-militar (1964-1985) ...............................................................................15
André Ricardo Valle Vasco Pereira
Movimento Feminino Pela Anistia e as mobilizações pela Anistia nos núcleos do Ceará, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de Minas Gerais (1975-1979) ...................................................................33
Maria Heloiza Batista Lourenço &Pedro Ernesto Fagundes
Abusos da ditadura militar contra as mulheres: o uso da categoria violência de gênero ...............................................................................51
Ayala Rodrigues Oliveira Pelegrine
A atuação da imprensa no contexto ditatorial (1968-1978) ...........67Davi Elias Rangel Santos
Atestado de Ideologia Política: repressão e ideologia política na ditadura militar (1964-85) ...................................................................85
Amarildo Mendes Lemos
A Atuação dos Órgãos de Repressão no Espírito Santo (1964-1985) .. 113Márcio Gomes Damartini
Os 50 anos do XXX Congresso da UNE: 1968. ................................135Pedro Ernesto Fagundes
A recorrente “ameaça vermelha” e seus efeitos no contexto da transição para a democracia ................................................................147
Maxlander Dias Gonçalves
A cultura política e a justiça de transição no Brasil: um estudo de história do tempo presente ..................................................................161
Guilherme Gouvêa Soares Torres
A história do tempo presente: um balanço da justiça de transição no Brasil .......................................................................................................179
Dinoráh Lopes Rubim Almeida
“Nossa bandeira jamais será vermelha”! – As disputas em torno do controle da narrativa na sociedade brasileira polarizada e a afirmação de um passado que não passa ..............................................................199
Ariel Cherxes Batista
Parte IIA América Latina: Indígenas, dirigentes e cultura
Da utopia à conquista do direito à livre determinação. As comunidades indígenas mexicanas e seus processos de construção das autonomias ................................................................................... 215
Antonio Carlos Amador Gil
Representações e imaginário da cultura política comunista cubana na década de 1950 ......................................................................................233
Ana Paula Cecon Calegari
“Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la Universidad”: relações entre o movimento estudantil e a Nueva Canción no Chile entre 1964 e 1973 ..................................................251
Ulisses Malheiros Ramos
Parte IIIEspírito Santo: Indígenas, território e cultura
Sob os ditames da modernidade: a ressignificação dos rituais funerários na Vitória da segunda metade do século XIX ...............269
Júlia Freire Perini
O Barão do Itapemirim e a política indigenista no sul do Espirito Santo ......................................................................................................289
Tatiana Gonçalves de Oliveira
Uma região de fronteira: anomia, grilagem e desordem na Zona Contestada .............................................................................................309
Leonardo Zancheta Foletto
Parte IVBrasil: Cultura, poder e religião (Séculos XVIII e XIX)
A Irmandade de Nossa Senhora das Mercês de Mariana: vivência da fé, dinâmica associativa e composição social (Minas Gerais, Brasil, séculos XVIII-XIX) ..............................................................................331
Vanessa Cerqueira Teixeira
A Fazenda Imperial: independência e organização das instituições fazendárias .............................................................................................357
Daiane de Souza Alves
Dom Frei José da Santíssima Trindade, um bispo reformador .....379Anna Karolina Vilela Siqueira
A tradição doutrinária no Tribunal da Relação do Rio de Janeiro durante o Segundo Reinado ................................................................399
Renan Rodrigues de Almeida
Parte VHistoriografia, Patrimônio, Educação e Cultura
Ensaio, historiografia e experiência intelectual periférica ..............427Maro Lara Martins
Espaço, paisagem e fronteira na História de Heródoto: a representação do território dos citas como uma heterotopia ..................................447
Gabriela Contão Carvalho
O Mediterrâneo como mar e forma da história: suas representações na Odisseia .............................................................................................465
Martinho Guilherme Fonseca Soares
Patrimônio e educação: a visita técnica e o estudo do meio a partir de uma abordagem interdisciplinar ........................................................487
Rossana G. Britto & Adriana N. Campos
O testemunho presente na ata das mártires africanas Perpétua e Felicidade e seu uso no ensino de história da África .......................501
Camila Fagundes Ribeiro
História Oral: contribuições para uma pesquisa sobre o pós-abolição no Brasil ..................................................................................................515
Geisa Lourenço Ribeiro
Comer e dietética: alimentação para Francisco da Fonseca Henriques pela Âncora Medicinal (1721) .............................................................531
Mariana Costa Amorim
A Belle Époque, as mudanças sofridas após a Primeira Guerra Mundial e as influências sobre a moda e a carreira do costureiro Paul Poiret .......................................................................................................545
Natália Dias De Casado Lima
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
9
ApresentaçãoEntre os dias 6 e 8 de novembro de 2018, a Associação
Nacional de História, Seção Espírito Santo (ANPUH-ES), realizou o seu XII Encontro Regional, nas dependências da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). O tema do evento foi 1968: Das Utopias ao Autoritarismo. A proposta adveio dos 50 anos passados desde os eventos de maio de 1968, que abalaram o mundo, trazendo para o primeiro plano uma geração de jovens inspirados por variadas utopias. A seu modo, cada uma ambicionava transformações radicais nos sistemas de poder, de trabalho, de comportamentos, ideias e atitudes. Em parte, correspondiam a reações contra autoritarismos que já se encontravam instalados, como no caso do Brasil, enquanto que, nos países capitalistas avançados, pressionavam por mudanças mais profundas do que a ordem congelada do pós-II Guerra oferecia. Seus resultados foram muito diversos, porém suficientemente relevantes para marcar uma época na qual a mudança era representada por jovens idealistas. Só isso, a comparação deste momento com o que se passa no mundo e no Brasil 50 anos depois, já nos inspira a refletir sobre o que aconteceu para que estejamos vivendo hoje uma situação contrária, na qual assistimos a uma verdadeira “rebelião dos velhos”, dos homens brancos, de classe média, nível educacional superior e meia idade que compõem as hordas de manifestantes que desejam o retorno a um passado idealizado, necessariamente inventado, ordeiro, hierárquico, machista, racista, homofóbico, islamofóbico, antissemita, anticomunista, xenófobo, seja nas passeatas do PEGIDA alemão, seja nas demonstrações que levaram ao impeachment de Dilma Rousseff e, mais recentemente, nas perseguições perpetradas por seguidores deste triste fenômeno chamado de bolsonarismo.
Das utopias ao Autoritarismo
10
As utopias de 1968 já conviviam com formas autoritárias, que tentaram combater, com níveis variados de sucesso. Numa visão geral, os conservadores venceram, mas a um preço que teve que ser pago depois. Na Europa Ocidental e nos Estados Unidos, as gerações seguintes se alimentaram daquela experiência e daquele espírito para fazer avançar lutas no seio da Sociedade Civil: o feminismo, o pacifismo, a ecologia, os gays, os negros, os latinos. Em muitos casos, as vitórias que conseguiram se deram por meio de práticas reformistas, como no caso das cotas em universidades e até nos estúdios de cinema. Em outros, foram transformações culturais que mudaram as representações de família, de gênero, étnicas e ampliaram os espaços na arena pública.
Já na América Latina, a geração dos “rebeldes” de 1968 teve que amargar derrotas mais duras, um aprendizado nos porões das ditaduras apoiadas pelos EUA, e se aproximar dos novos movimentos sociais que emergiram da modernização conservadora. Sua pauta, num primeiro momento, teve que ser a da democratização. Ali, o espaço para ouros tipos de lutas acabou sendo reduzido. Não é à toa que, apenas após a consolidação das democracias de massas no continente é que um novo momento, vivido pelos países avançados do capitalismo nos anos 1970, como rescaldo das rebeliões de 68, teve condições de emergir, sempre com as dificuldades inerentes a cada processo nacional.
Porém, nesta década de 10 do século XXI, uma verdadeira regressão se apresenta em vários lugares e aquelas poucas conquistas, tão ansiadas por alguns dos militantes de 1968, mostram fragilidades que estimulam a nós, os que estudamos o passado, a refletir sobre os fatores que nos levam a temer espectros que voltam a rondar, não o do comunismo na introdução do famoso texto de Marx e Engels, mas o do fascismo, do populismo de direita e dos extremismos conservadores. Para realizar esta tarefa coletivamente, contamos com três conferências. Daniel Aarão Reis falou sobre os Entrelaçamentos e contradições entre paradigmas de mudança social - os anos 1960. No seu dia, infelizmente, faltou luz no campus de Goiabeiras. Mesmo assim, o professor se dispôs a adiantar sua fala para aproveitarmos a
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
11
luz diurna. Marieta de Moraes Ferreira e Angélica Müller abordaram a experiência dos estudantes de 1968. Já Carlos Fico apresentou uma fala sobre a moldura institucional do Regime Militar. Para não tirar um pouco do suspense que cercou o evento, o avião dele quase não conseguiu pousar em Vitória...
Além deles, a ANPUH-ES contou com 29 trabalhos, dos quais 25 são de filiados pelo Espírito Santo, três por Minas Gerais e uma pelo Rio de Janeiro. Estas comunicações foram avaliadas por uma Comissão Científica e submetidas à Editora Milfontes, com o fito de publicar um E-book com perfil acadêmico. Desde o XI Encontro Regional que a ANPUH-ES optou por não publicar Anais eletrônicos, mas sim editar um livro, submetido à Comissão Científica (formada pelos organizadores), e a uma editora com Conselho Editorial. A publicação possui ficha catalográfica e o registro no ISBN. Estamos falando, portanto, de capítulos de livro acadêmico, prestando, desta forma, um valioso serviço aos seus sócios e à comunidade acadêmica no geral.
Dos 29 capítulos, 11 lidam diretamente com a Ditadura Civil-Militar no Brasil. Outros três abordam temas relativos ao conflito entre utopias e o autoritarismo na América Latina. Desta forma, o núcleo central da proposta do evento foi muito bem representado aqui, trazendo contribuições variadas. Ao mesmo tempo, sendo a ANPUH uma entidade multifacetada, não poderíamos deixar de abrir espaço para outros aspectos da História. Neste sentido, há três capítulos sobre o Espírito Santo nos séculos XIX e XX. Outra parte reúne quatro trabalhos sobre cultura, poder e religião no Brasil dos séculos XVIII e XIX. Por fim, pudemos contar com uma rica contribuição sobre os laços entre Historiografia, Patrimônio, Educação e Cultura. A História, como sabemos, é o estudo do passado, mas a forma como este conhecimento é produzido (historiografia) e os impactos do que ocorreu antes no presente, ou seja, a memória que construímos, também são relevantes, ainda mais diante do tema do evento que, como dito acima, se propôs a estimular uma comparação do que houve 40 anos atrás com o quadro atual.
Temos certeza que os leitores encontrarão aqui contribuições
Das utopias ao Autoritarismo
12
mais que adequadas e pertinentes sobre este conjunto de problemas. Por fim, nós, organizadores desta obra, não poderíamos deixar de lembrar a cooperação que tivemos a oportunidade de levar a cabo com os estudantes do curso de História da UFES, por meio de uma parceria que resultou na combinação do nosso evento com a XII Semana de História. No caso da ANPUH-ES, apenas associados puderam apresentar trabalhos. Já a Semana de História trouxe 54 comunicações de estudantes de graduação e demais profissionais. A ANPUH-ES contribuiu com recursos para a realização deste evento e para a hospedagem dos seus trabalhos no nosso site. Agradecemos aos organizadores, em particular a Pietro Esquincalha Margoto, Juliana Anjos Zaninho, Guilhermy Pereira Duarte e João Paulo dos Santos de Souza, pela disposição em dividir conosco a esperança de que o nosso trabalho coletivo possa, quem sabe, dar frutos positivos.
Os organizadores
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
15
O sindicato dos bancários do espírito santo durante a ditadura civil-militar
(1964-1985)André Ricardo Valle Vasco Pereira1
IntroduçãoO Sindicato dos Bancários do Espírito Santo (Sindibancários/
ES) foi fundado em 1934 (TOSI; COLBARI; ALVES, 1995). Sua história pode ser dividida em quatro grandes fases. A primeira vai da fundação até 1953, quando se constituiu um grupo dirigente que defendia uma leitura moderada do trabalhismo (PEREIRA, 2014). Desta data até 1964, deu-se a passagem para uma fase de progressiva radicalização política e alinhamento com o projeto das Reformas de Base. Neste momento,
as elites sindicais articularam aspectos mais amplos com a realidade local, de forma a apelar aos bancários capixabas como membros da classe trabalhadora, sendo este o sentido instrumental das Reformas de Base. Foi tal estratégia que permitiu, ao mesmo tempo, mobilizar a categoria com base tanto em suas condições de trabalho quanto em um sentido mais geral (PEREIRA, 2018, p. 1).
Com o Golpe de 1964, aquela experiência de autonomia de classe foi suprimida. Assim, iniciou-se a terceira fase, que vai de 1964 a 1985. Ela foi caracterizada pela presença de lideranças de perfil conservador, associadas, por vezes, a indivíduos mais progressistas, mas que não tinham condições de realizar uma militância política aberta. O resultado foi o recuo da prática sindical de enfrentamento ao patronato, da fase anterior, para a prestação de serviços aos filiados (KAREPOVS, 1994), juntamente com a inserção da entidade em um modelo nacionalizado de representação de empregadores e empregados.
Durante o Regime Militar, este fenômeno não resultou
1 Professor Adjunto do Departamento de História da UFES, Doutor em Ciência Política de IUPERJ, [email protected]
Das utopias ao Autoritarismo
16
em maiores ganhos à categoria, mas deixou um padrão que viria a ser explorado posteriormente, quando uma nova liderança, à esquerda, retomou formas mais combativas de ação sindical. Desta vez, porém, numa linha mais “corporativa”, no sentido de que greves autenticamente nacionais passaram a ser possíveis, com pautas e mesas unificadas de negociação, o que não ocorria no momento que foi até 1964. É desta forma que se pode falar, então, de uma quarta fase, iniciada em 1985 e que se mantém até hoje.
Da fundação da entidade até a década de 1970, o Espírito Santo foi uma sociedade agrário-exportadora, com a maior parte da população vivendo no campo (ROCHA; MORANDI, 2012). Naquele momento, o perfil da profissão de bancário exigia uma formação educacional superior à maior parte dos setores assalariados e o contato destes profissionais com a população mais pobre era reduzido. Durante o Regime Militar, tais aspectos foram sendo transformados e, com eles, as características da categoria. Tais mudanças e suas consequências políticas serão abordadas neste texto, que se baseou em pesquisa sobre documentos da entidade e entrevistas feitas com lideranças sindicais.
A fase conservadora e pragmática (1964-1985)Quando aconteceu o Golpe Civil-Militar de 1964, uma das
primeiras medidas do novo regime foi a de cassar, por 10 anos, os direitos políticos de 100 pessoas (BRASIL, 1964). Desta lista, fizeram parte o presidente da Federação dos Bancários do Rio de Janeiro e Espírito Santo, Luiz Viégas da Motta Lima, militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB), e o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Crédito (CONTEC), Aluísio Palhano Pedreira Ferreira. Isto mostra a imagem de perigo que era atribuída pelos golpistas ao sindicalismo bancário (MELO, 2013).
No Espírito Santo, o Sindicato dos Bancários sofreu intervenção, interrompendo a experiência que estava em curso, com suas contradições, limites e qualidades, principalmente no que se refere à elaboração de uma prática de autonomia de classe, buscando
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
17
aliar o plano nacional com o local. O silêncio que se abateu empurrou esta tarefa para adiante.
Para presidir a Junta Governativa do Sindibancários/ES (responsável pela intervenção no Sindicato) foi indicado, pelo Comandante do 3º Batalhão de Caçadores, um advogado do Banco do Brasil, Ary Lopes, que convidou dois antigos militantes da entidade, Jurandy Ângelo e Osny Soares, para ajudá-lo.
A seguir, em 1966, houve eleições sindicais, iniciando-se uma sequência de 7 mandatos, até 1985, que resultaram na formação de um novo grupo dirigente. Vale notar que, em 1969, as diretorias passaram a ter uma duração de 3 anos e não mais de dois, como antes.
Dos 7 mandatos em consideração, algumas pessoas tiveram presença mais constante nas diretorias executivas: Sebastião Vieira Rangel, por 6 vezes; Adauto Santos Pedrinha, por cinco vezes; Antonio Carlos Viera da Silva, por 4 vezes, das quais 3 como Presidente; José Theodomiro Casa Grande, por 4 vezes, sem contar a presidência, que não chegou a exercer em 1982; José Antonio Bonela, por 3 vezes; e Marilda Baião Motta, por 3 vezes, uma delas como Presidente, sendo a primeira e a única mulher até a atualidade a assumir a presidência do Sindicato.
Assim como nos períodos anteriores, não podemos falar de um grupo ideologicamente unido. O Regime Militar não buscou constituir uma liderança de trabalhadores no mesmo sentido que o Estado Novo o fez, associada a um projeto conservador em condições de sobreviver a ele e disputar a representação da base. O que se fez foi afastar os dirigentes progressistas e reforçar o modelo corporativo. Em sua tese de doutorado, Larissa Rosa Corrêa (2013) estuda a relação do sindicalismo norte-americano com o brasileiro durante da Ditadura. Ela mostra que houve um esforço dos norte-americanos no sentido de treinar e influenciar lideranças brasileiras naquilo que defendiam como um sistema de livre negociações, o que implicaria em eliminar a legislação que começou a ser criada em 1930. Ocorre, porém, que o Regime preferiu manter o corporativismo, pois lhe dava melhores condições para intervir nos sindicatos.
Das utopias ao Autoritarismo
18
A autora chegou a documentar uma série de iniciativas no sentido de estabelecer aproximações entre direções sindicais norte-americanas e brasileiras, como no caso de viagens aos EUA para conhecer a experiência local, mas o impacto concreto de tais medidas foi mínimo, a ponto de terem sido acusadas de funcionaram como “turismo sindical”, ou seja, apenas viagens de lazer, com poucos efeitos concretos. Isto se devia ao fato de que não foram realizadas mudanças que viabilizassem a negociação coletiva livre, entre patrões e empregados, no interior da qual os norte-americanos esperavam formar seus colegas brasileiros.
Assim, na prática, o que restou foi um clima de repressão, que dificultou a militância sindical politicamente aberta e abriu espaço para que algumas pessoas afastadas do perfil anterior assumissem as entidades. Alguns compraram o projeto conservador da Ditadura, outros assumiram uma postura pragmática. Militantes de esquerda que conseguiram sobreviver às perseguições tiveram que manter uma atitude discreta por bastante tempo, até que, no fim da década de 1970, o ambiente se tornasse mais livre para manifestações.
Os depoimentos orais colhidos para esta pesquisa afirmam que não havia uma base do partido da Ditadura, a Aliança Renovadora Nacional (ARENA), no Sindicato e que seus dirigentes sequer buscavam proximidade com o Regime, o que não significa que não houvesse ali pessoas conservadoras. O fato é que a prática desenvolvida foi assistencialista e centrada nas ações jurídicas. Na fase da transição para a democracia é que surgiram novos atores na base e as dissensões na diretoria se tornaram evidentes.
Os impactos da reforma bancária durante a ditadura e conjuntura econômica estadual
A reforma bancária que entrou em funcionamento em 1965 teve um importante desdobramento em 1968, quando os bancos privados tiveram o direito de obter empréstimos externos para repasse de crédito ao mercado interno, resultando em aumento da dívida
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
19
externa. O que houve foi o seguinte: criou-se um Banco Central e um Conselho Monetário Nacional com forte presença dos empresários. Uma série de medidas facilitou a concentração financeira, resultando na eliminação de bancos pequenos ou médios (GRISCI; BESSI, 2004).
Enquanto o capital bancário privado teve forte estímulo, os bancos estatais foram destinados a realizar funções que não eram de interesse daqueles. O Banco do Brasil continuou sendo importante financiador da agricultura, a Caixa Econômica Federal – que era constituída inicialmente por várias Caixas estaduais que depois foram unificadas – atuou no setor da poupança popular, o Banco Nacional da Habitação foi agente da urbanização, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (só virou BNDES em 1982) teve ampliadas as funções de financiamento de empreendimentos mais complexos e os bancos estaduais cresceram por meio do acesso a linhas específicas de financiamento federal (JINKINS, 1995). No Espírito Santo, o Banco de Crédito Agrícola (Ruralbank) virou Banco do Estado do Espírito Santo S. A. (Banestes) em 1969. Nesta nova fase, a instituição passou por um processo de profissionalização e crescimento.
A Federação das Indústrias do Espírito Santo (FINDES), criada em 1958, deu início a um processo de organização dos empresários locais que coincidiu com a passagem da Companhia Vale do Rio Doce para uma nova fase de expansão de suas atividades, que resultaram no Porto de Tubarão (1966) e no início da construção de suas usinas pelotizadoras (1969). A mesma empresa promoveu estudos e articulações que dariam origem à Aracruz Celulose, em 1967, e à Companhia Siderúrgica de Tubarão, iniciada em 1973 e concluída em 1983 (SILVA, 2004). Na década de 1960, o governo federal promoveu a erradicação dos cafezais improdutivos no Espírito Santo, o que afetou a imagem de um suposto “destino agrário” (VILLASCHI, 2011). Esses elementos criam um clima favorável à criação de um agente financeiro para projetos estruturais.
É nesse contexto que surge o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), em 1969 – órgão que passou a atuar na pesquisa, planejamento e financiamento da industrialização e
Das utopias ao Autoritarismo
20
urbanização do Estado. Ele contou com repasses federais e com o controle de recursos advindos do Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias (FUNDAP) e do Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo (FUNRES)2.
O Espírito Santo tradicional, rural, coronelista, foi morrendo e dando lugar a uma sociedade mais urbanizada, com grandes empresas atuando no mercado internacional. Até então, havia, no estado, uma presença significativa de bancos mineiros de porte pequeno e médio. Estes foram, aos poucos, perdendo espaço, enquanto, conforme se verá adiante, houve uma nacionalização da representação dos banqueiros, o que alterou a forma de lidar com as questões trabalhistas. Até então, as greves “nacionais” dos bancários não passavam de eventos que ocorriam no mesmo momento, mas que implicavam em negociações parcelarizadas, por estado.
E os bancos estatais, tanto os federais quanto os dois estaduais, cresceram de importância e passaram a exigir um novo perfil do funcionário, a partir dos concursos nacionais nos bancos públicos federais, da ampliação do serviço e da entrada de empregados com melhor nível educacional. Por fim, em 1985, no mesmo ano em que os militares deixaram o poder, o Sindibancários/ES passou a contar com um novo tipo de orientação política que derivou, em parte, das mudanças que ocorreram enquanto caia a longa noite da Ditadura.
A consolidação das estruturas de organização nacionais de bancos e bancários
Durante muito tempo, os banqueiros não possuíram organização representativa nacional. O que mudou esse quadro foi o avanço da luta política dos trabalhadores por uma versão progressista da Reforma Bancária. Para lutar contra este projeto, os patrões realizaram, em 1960, o primeiro Congresso Nacional dos Bancos (MINELLA, 1988).
2 FUNDAP: recolhe o ICMS sobre vendas e devolve a maior parte como financiamento de longo prazo às empresas importadoras/exportadoras. FUNRES: destina parte do imposto de renda cobrado no Estado à operações de crédito.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
21
A seguir, em 1966, foi criada a Federação Nacional dos Bancos (FENABAN) e, em 1967, a Federação Brasileira das Associações de Bancos (FEBRABAN). Na prática, o Sindicato dos Bancos do Estado da Guanabara (SBEG, que passou a ser do Rio de Janeiro – SBERJ – em 1974) tinha mais força na FENABAN, e a Associação de Bancos do Estado de São Paulo (ASSOBESP) influenciava os rumos da FEBRABAN. Até a metade dos anos 1970, as duas Federações não passavam de fachadas do SBEG/SBERJ ou da ASSOBESP. Foi o processo de concentração do setor bancário em São Paulo que mudou o quadro. Em 1983, a FENABAN foi integrada à FEBRABAN e ficou com a responsabilidade de lidar com as questões trabalhistas, enquanto a FEBRABAN assumiu a condição de comando político do sistema financeiro.
Ao mesmo tempo, a Ditadura controlou os sindicatos, impediu as greves e impôs uma política salarial única, com aumentos oficiais, de forma que as negociações se resumiam a melhorias nas condições de trabalho. A formação de entidades nacionais de bancários e de banqueiros estimulou, então, um início da nacionalização do conflito capital x trabalho. Para tanto, houve fases. A primeira foi de 1964 até a metade dos anos 1970, quando a CONTEC negociava formalmente com a FENABAN. Ou seja, no que se refere ao Sindibancários/ES, este fazia parte da Federação dos Bancários do RJ/ES que lidava com o SBEG/SBERJ, tentando negociar as campanhas salariais.
Ocorre que os patrões não se dispunham a conversar, de forma que o único caminho possível era o dissídio coletivo. Havia uma dinâmica de encontros nacionais e regionais dos bancários, nos quais se formava uma pauta de reivindicações para a campanha salarial, que deveria ser votada em assembleias de cada sindicato. Nas condições em que a entidade capixaba encontrava, em uma Federação na qual o Sindicato do Rio de Janeiro era mais forte e se enfrentava diretamente com os patrões no Tribunal Regional do Trabalho (TRT), cuja sede carioca englobava o Espírito Santo, o resultado foi uma postura de timidez, transferindo para o setor jurídico da Federação a tarefa de lutar pelo que fosse possível. Não é à toa que os dirigentes
Das utopias ao Autoritarismo
22
do Sindibancários/ES, nesta fase, não viam muita importância na CONTEC e não se esforçavam para ter posições de destaque na Federação. Sobre isso, disse José Theodomiro Casa Grande: “A Federação coordenava toda a campanha salarial” (CASA GRANDE, 2014). Outro dirigente sindical, Valmir Castro Alves, que trabalhava no BANESTES, traz uma lembrança sobre o papel de Ivan Pinheiro, que era filiado ao PCB:
A influência da Ivan Pinheiro no ES foi total. Eu já estava na direção do Sindicato e com a presença do Ivan no Sindicato do RJ foi um elo, era um ponto de ligação direta com o Espírito Santo. Tinha a Federação, mas a concentração política, a discussão política, ficava com o Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro, onde o Ivan estava na frente. E ele vinha para cá, debatíamos, fazíamos estratégia juntos. Politicamente estávamos alinhados com o Rio de Janeiro (ALVES, 2014).
Uma vez impetrado o dissídio, o costume dos patrões era o de tentar modificá-lo no TRT. Após o julgamento, entravam com recurso no Tribunal Superior do Trabalho. Isto ia empurrando a decisão para frente. Quando, finalmente, não havia mais saída, era comum que os bancos não respeitassem vários itens do dissídio, forçando o Sindicato a ingressar na justiça contra instituições específicas. Além disso, as denúncias à Delegacia Regional do Trabalho (DRT) por desrespeito às leis trabalhistas ou ao dissídio não costumavam dar muito resultado.
A prática sindical: assistencialismo, justiça e esportesCom o fechamento político, todo o movimento sindical
brasileiro foi forçado a abandonar o enfrentamento direto com os patrões e passou a lidar apenas com a prestação de serviços aos seus associados, além da assistência jurídica, que era uma característica da estrutura sindical já em vigor antes do Golpe e foi reforçada. Sobre isso, Sebastião Vieira Rangel disse: “O departamento jurídico sustentou o sindicato na sua luta política” (RANGEL, 2014).
No caso dos bancários, a grande mudança veio por conta do fim do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Bancários (IAPB),
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
23
em 1966, que era tido como o melhor prestador de benefícios médicos e habitacionais entre todos no país (OLIVEIRA, 1999). A Ditadura fez a unificação dos IAPs ao criar o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), que ficou sob controle do Ministério do Trabalho. O órgão passou a ter uma natureza técnica, com o fim da representação classista. Após este processo, porém, o Ministério se dispôs a fazer convênios com os sindicatos para que eles fornecessem serviços médicos, dentários e cursos de capacitação. Muitas entidades também participaram da criação de cooperativas habitacionais ou de consumo. Foi o caso do Sindicato capixaba, com a Cooperativa de Consumo, que funcionou de 1966 a 1972. De início, teve 343 membros. O seu armazém ficava na Vila Rubim, em Vitória. Ela chegou a receber empréstimos do Sindicato, mas foi fechada por falta de capacidade administrativa e devido a compras que não atendiam às necessidades imediatas dos cooperados.
No campo dos serviços de saúde, entre outras coisas, o Sindibancários/ES chegou a contar com um laboratório de análises clínicas, instalado na sede da entidade, no edifício Ouro Verde, na Avenida Jerônimo Monteiro, no centro de Vitória, em 1973. No ano anterior, a entidade demonstrava possuir um ambulatório próprio, contando com 6 médicos. Mesmo assim, convênios foram feitos com outros especialistas e com serviço dentário. O mesmo Sebastião Vieira Rangel lembrou que:
Rubens3 criou um consultório dentário, uma área de datilografia e curso de corte e costura. Interessante que quando ele falou de corte e costura, ninguém acreditou. Mas as mulheres dos bancários vieram e aprenderam, as mulheres gostaram. E associaram-se várias pessoas por causa disso (RANGEL, 2014).
Desde seu início, a entidade promoveu atividades esportivas, principalmente o futebol. Muitos dirigentes sempre argumentaram que era uma forma de aproximação com a base. No período da ditadura, não foi diferente. José Theodomiro Casa Grande cita a relevância de tais atividades:
3 Rubens Rocha de Azevedo foi presidente do Sindibancários/ES no biênio 1966-67.
Das utopias ao Autoritarismo
24
Nós tínhamos bons times e campeonatos de futebol. Cada banco tinha um time. Os times dos maiores bancos sempre levavam vantagem, porque podiam selecionar excelentes jogadores. Tinha jogador profissional que trabalhava no banco. Era muito importante a parte social do banco. Tinha basquete, vôlei, mas era menor (CASA GRANDE, 2014).
Por fim, o Departamento Jurídico ganhou enorme destaque, graças à necessidade de fazer valer as cláusulas das campanhas salariais. Neste caso, a geração da Ditadura se orgulha de uma vitória obtida em 1971, quando o advogado da entidade, Durval Cardoso, notou que houve um erro no acordo firmado no TRT, com a concessão de 3¬/3 de gratificação (acrescida de juros e correção monetária) aos salários de quase todos os bancários ao invés de 1/3, que era a proposta oficial dos bancos. O sindicato, então, entrou com uma ação de cumprimento da cláusula contra um banco pequeno (Banco Nacional do Norte). Depois de ganharem a primeira causa, o setor jurídico entrou com ações contra todos os bancos, o que gerou um efeito cascata. Este foi o ponto alto daquela prática sindical.
A oposição sindical e a unidade sindical (PCB, PCdoB)Durante a década de 1970, o Brasil e o Espírito Santo
mudaram. A urbanização avançou, o modelo educacional foi alterado, surgindo a divisão entre primeiro e segundo graus; e a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) completou a transferência de quase todos os seus cursos para o Campus de Goiabeiras. Vale destacar que essa reforma educacional e a expansão universitária teve relação direta com o projeto de desenvolvimento da ditadura militar.
O papel dos bancos na economia se solidificou, com a financeirização da dívida pública, o crescimento do BANESTES e início do funcionamento do BANDES (MORAES, 1992). Assim, aos poucos, a profissão de bancário foi deixando de ser o que era no passado, pois as agências passaram a oferecer mais serviços ao público e clientes de renda mais baixa foram sendo progressivamente incorporados. Com isso, houve aumento do pessoal empregado
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
25
e iniciou-se uma mudança geracional, com os novos contratados tendendo a possuir um nível de educação formal maior. Entre eles, universitários egressos da nova fase da UFES.
A ditadura reprimiu drasticamente o movimento estudantil capixaba, que sofreu um refluxo no início dos anos 1970 e foi recuperado na segunda metade da década (PELEGRINE, 2016; ATHAYDES, 2017). Dentro da Universidade, várias organizações políticas surgiram ou foram reestruturadas. Alguns de seus militantes ou pessoas de alguma forma influenciadas pelas mudanças políticas que estavam acontecendo, se tornaram bancários. Outros vieram do movimento social católico, que teve grande importância na formação de uma militância com perfil progressista. A teologia da libertação foi influente na criação das Comunidades Eclesiais de Base (CEBs), apoiadas pela hierarquia católica capixaba (BANCK, 2011). Além disso, duas instituições foram relevantes para oferecer formação teórica e prática a militantes: a confederação humanitária católica Cáritas e a organização não governamental FASE (Federação de Órgãos para a Assistência Social e Educacional). Elas também proveram meios materiais, como locais de reunião, impressão de folhetos e boletins, etc.
Quando os metalúrgicos de São Bernardo, em São Paulo, fizeram sua primeira grande greve, em 1978, o movimento estudantil da UFES já contava com grupos atuantes do Partido Comunista Brasileiro (PCB), do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e de organização de perfil leninista ou trotskista. No ano seguinte, em 1979, foi conquistada a anistia aos presos políticos e fundou-se o Partido dos Trabalhadores (PT), que contou com a forte presença de militantes católicos e de organizações de esquerda.
Naquele momento, todos os grupos de esquerda, incluindo o PCB e o PCdoB, atuavam dentro do Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB). A leitura que faziam era a de que seria necessário manter uma aliança com forças contrárias à Ditadura e não a enfrentar diretamente. No campo sindical, a proposta viria a originar o grupo conhecido como Unidade Sindical. Já as forças que criaram o PT defendiam uma atitude de organização autônoma dos setores populares e de luta direta tanto contra os patrões quanto
Das utopias ao Autoritarismo
26
contra o Regime Militar. Era a defesa de uma concepção de luta transformadora, classista, com independência e autonomia em relação ao Estado, a patrões, governos, partidos políticos e instituições religiosas; contrária à estrutura varguista, colaboracionista, verticalista, assistencialista e atrelada ao Estado. Este projeto acabaria dando base ao novo sindicalismo e gerando, anos depois, a Central Única dos Trabalhadores (CUT).
No caso do sindicato capixaba, membros do PCB e PCdoB buscaram atuar dentro das diretorias na qual predominava o grupo pragmático citado acima. Uma das razões para isso era a proximidade com setores do MDB (depois PMDB). Já os militantes do PT formaram a Oposição Bancária.
Organizações e liderançasQuando falamos de organizações políticas nesta fase,
devemos ter em mente que elas eram ilegais e perseguidas pela Ditadura. Por esta razão, encontramos pessoas que possuíam graus variados de proximidade com relação a elas. Alguns eram militantes orgânicos. Outros seguiam as diretrizes dos grupos, mas não faziam parte deles, sendo identificados como “área de influência”. E havia as pessoas que eram vistos como membros, mas nunca foram de fato.
Entre os grupos que ingressaram no PT, vale destacar alguns. Foi o caso da Ação Popular Marxista Leninista (APML), surgida nacionalmente em 1971 (DIAS, 2009). No Espírito Santo, ela teve uma base no movimento estudantil da UFES. Em 1982, boa parte de seus membros decidiu se diluir no PT, enquanto outros criaram a Organização Comunista Democracia Proletária (OCDP). Por outro lado, temos o Movimento de Emancipação do Proletariado (MEP), de 1976, com presença no movimento estudantil e proximidade com os católicos. No plano nacional, em 1985, o MEP, a OCDP e a organização Ala Vermelha se fundiram, criando o Movimento Comunista Revolucionário (MCR). Em 1989, o MCR resolveu se transformar em tendência interna do PT, passando a se chamar Força Socialista (FS).
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
27
Para a base sindical, porém, as organizações não se apresentavam com seus nomes. A identidade principal esteve na defesa da criação da CUT e na linha de enfrentamento aos patrões que ela trazia consigo. Na prática, o destaque ficava com certas lideranças, que viravam referência. Tendo em conta todos os grupos que estão sendo considerados, as pessoas mais conhecidas entre os bancários capixabas foram:
a) Adauto Santos Pedrinha: identificado com o Partido Comunista do Brasil (PCdoB) e ligado ao grupo do deputado federal do MDB (depois PMDB), Max Mauro. Pedrinha fez parte de quase todas as diretorias da fase da Ditadura, mas só assumiu uma postura mais crítica no fim do período.
b) João Amorim, que entrou na categoria como jornalista do BANDES em 1974. Foi filiado ao PCdoB, mas chegou a fazer parte de uma dissidência do partido, a Ala Vermelha, no fim dos anos 1960, tendo retornado posteriormente (AMORIM, 2014).
c) Valmir Castro Alves, do BANESTES, no qual entrou em 1978. Era filiado ao Partido Comunista Brasileiro (PCB). A organização formou duas células entre os bancários: uma no BANESTES e outra em bancos particulares (ALVES, 2014).
d) Carlos Uliana, que ingressou no Banco Nacional em 1976. Era militante do MEP (ULIANA, 2014).
e) Paulo Pinto, que era funcionário do Banco do Brasil e chegou ao Espírito Santo em 1975. Ingressou na APML por volta de 1978. Não seguiu para a OCDP. Por volta de 1983, se desfiliou do PT e cogitou a entrada no PCdoB, o que acabou não ocorrendo. Retornou ao PT em 1985 e se tornou a principal liderança do MCR entre os bancários (PINTO, 2014).
f) Teodora Bragato, conhecida como Dora, que entrou no BANESTES em setembro de 1978. Foi militante do movimento social da Igreja católica. Acabou se aproximando do MEP (OLIVEIRA, 2014).
g) Lucio Faller, que entrou no BANESTES em fevereiro de 1978. Atuou em proximidade com Eduardo Machado, do MEP, e Paulo Pinto, da APML (FALLER, 2014).
Das utopias ao Autoritarismo
28
h) Eduardo Machado, que ingressou o Banestes em 1978, foi um dos fundadores do PT no Espírito Santo e atuou no MEP.
A virada para um sindicalismo combativoO censo populacional de 1980 indicou que, pela primeira
vez, o Espírito Santo passava a ter uma população mais urbana do que rural. Os “Grandes Projetos” estavam quase todos finalizados, faltando apenas inaugurar a Companhia Siderúrgica de Tubarão, o que ocorreu em 1983. Já existiam o Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias (FUNDAP) e o Fundo de Recuperação Econômica do Espírito Santo (FUNRES), ambos administrados pelo BANDES. Com isso, concluiu-se a transição para o capitalismo no estado. A economia cafeeira havia se revitalizado, mas, ao contrário do passado, o financiamento via bancos se tornava dominante.
Assim, no Espírito Santo, as antigas oligarquias rurais começaram a ceder espaço para as novas oligarquias urbanas, que se aliaram ao grande capital. Antes disso, o Sindibancários/ES dirigia uma base pequena, numa realidade na qual os bancos serviam mais ao comércio e aos “coronéis”. Nestas circunstâncias, a participação nas lutas sociais dependia bastante do advento de conjunturas nacionais favoráveis ao tensionamento político. Na década de 1980, porém, as mudanças ocorridas criaram condições para o surgimento de um projeto alternativo de mobilização social, do qual os bancários capixabas tomaram parte. Foi a primeira vez na história do país que os trabalhadores e trabalhadoras conseguiram criar uma central sindical nacional, a Central Única dos Trabalhadores (CUT), referenciada nos princípios de igualdade e solidariedade, e com o objetivo de dirigir a luta dos trabalhadores da cidade e do campo por melhores condições de vida e de trabalho e por uma sociedade mais justa e democrática. Fez parte desse contexto também a criação e fortalecimento do Partido dos Trabalhadores (PT), que propunha na época um projeto de socialismo para o Brasil, além dos movimentos de luta pela terra, como o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST).
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
29
Desta forma, se constituiu a proposta de um sindicalismo combativo. A oposição começou a se organizar entre os bancários em 1979, com presença nas assembleias, que se tornaram mais concorridas, por conta da onda inflacionária. Em 1982, deu-se a eleição mais concorrida da história da entidade, com a participação de três chapas. Uma delas representava a continuidade da linha política anterior, mas com uma diferença, que foi a incorporação do PCB, por intermédio de Valmir Castro Alves. Outra chapa contava com militantes do PT (MEP e APML), encabeçada por Eduardo Machado, enquanto a terceira vinha com o PCdoB e uma dissidência do PCB, e foi encabeçada por João Amorim Coutinho.
O pleito foi muito disputado, resultando em dois escrutínios e acusações de manipulação dos votos. O fato é que a divisão entre PCB, PCdoB e PT deu sobrevida ao grupo que assumiu a entidade durante a Ditadura. Após esta experiência, os membros da chapa que perderam as eleições iniciaram uma aproximação e começaram a se organizar conjuntamente. Como instrumento de debate e disputa, esse grupo lançou o jornal Mobilização Bancária (MoB). As críticas veiculadas em suas páginas eram respondidas pelo periódico do Sindicato, o Correio Bancário, criado em 1979, mas que só passou a ter regularidade em 1983, o mesmo ano de criação do MoB. As críticas faziam menção ao investimento em assistencialismo e aos projetos sindicais, mas o pano de fundo era o debate de projeto político, sobre a concepção e prática sindical do grupo dirigente – principal divergência com a oposição.
A diretoria acabou tendo divisões internas. Uma delas foi provocada, inclusive, pelo “direito” que seus membros tinham de indicar cargos no BANESTES. Na eleição de 1985, Valmir Castro Alves encabeçou a chapa da situação, que, por sua vez, não teve o apoio de todos os setores conservadores. Enquanto isso, PT e PCdoB, por estratégia da CUT, optaram por disputar a eleição de forma unificada, vencendo o pleito. Vale notar que, enquanto os militantes do PT tomaram a decisão de disputar espaço nas estruturas estabelecidas implantando uma nova concepção sindical, com uma perspectiva democratizante, classista e transformadora, o PCdoB seguia a lógica do seu projeto de transição democrática, moderado, buscando ocupar
Das utopias ao Autoritarismo
30
espaços na direção de entidades para acumular forças e formar quadros.
Foi assim que o Sindibancários/ES ingressou numa nova fase, caracterizada por uma linha política mais à esquerda, que teria posteriores evoluções, e em conexão com a novidade que surgiu durante a Ditadura, que foi a unificação do sindicalismo bancário, de patrões e empregados, nacionalmente. Este aspecto teve grande importância para o desenvolvimento de uma prática política-sindical voltada para a realidade da categoria no país, mesmo tendo em vista as especificidades locais.
Referências bibliográficas:ALVES, Valmir Castro. Valmir Castro Alves: entrevista [outubro 2014]. Entrevistadora: Júlia Ott Dutra. Vitória: UFES. 1 arquivo mp3.
AMORIM, João. João Amorim: entrevista [maio 2014]. Entrevistador: Charles Torres Bertocchi. Vitória: UFES. 1 arquivo mp3.
ATHAYDES, Ramilles G. A reorganização do movimento estudantil na Universidade Federal do Espírito Santo (1976-1978). 2017. 188 f. Dissertação (Mestrado em História das Relações Políticas) – Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2017.
BANCK, Geert A. Dilemas e símbolos: estudos sobre a cultura política do Espírito Santo. 2. ed. ampl. Vitória: EDUFES, 2011.
BRASIL. Comando Supremo da Revolução. Ato do Comando Supremo da Revolução nº 1, de 10 de abril de 1964. Brasília: Diário Oficial da União, Seção 1, 10 abr. 1964. Disponível em:<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/atocsr/1960-1969/atodocomandosupremodarevolucao-1-10-abril-1964-364826-publicacaooriginal-1-csr.html>. Acesso em: 13 ago. 2018.
CASA GRANDE, José Theodomiro. José Theodomiro Casa Grande: entrevista [maio 2014]. Entrevistador: Charles Torres Bertocchi. Vitória: UFES. 1 arquivo mp3.
CORRÊA, Larissa R. “Disseram que voltei americanizado”: Relações sindicais Brasil-Estados Unidos na Ditadura Civil-Militar (1964-1978). 2013. 353 f. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2013. Disponível em: <http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/280345/1/Correa_
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
31
LarissaRosa_D.pdf>. Acesso em: 19 mai. 2018.
DIAS, Reginaldo B. Ação Popular Marxista-Leninista e a formação do PT. Perseu, história, memória e política, São Paulo, nº 3, Ano 3, p. 75-106, 2009. Disponível em: <http://revistaperseu.fpabramo.org.br/index.php/revista-perseu/article/view/170/133>. Acesso em: 13 ago. 2018.
FALLER, Lucio. Lucio Faller: entrevista [jan. 2014]. Entrevistadora: Júlia Ott Dutra. Vitória: UFES. 1 arquivo mp3.
GRISCI, Carmen L. I.; BESSI, Vânia G. Modos de trabalhar e de ser na reestruturação bancária. Sociologias, Porto Alegre, nº 12, Ano 6, p. 160-200, jul./dez. 2004.
JINKINGS, Nise. O mister de fazer dinheiro. Automatização e subjetividade no trabalho bancário. São Paulo: Bom Tempo, 1995.
KAREPOVS, Dainis (Coord.). A História dos Bancários: Lutas e Conquistas, 1923-1993. São Paulo: Sindicato dos Bancários e Financiários de São Paulo, 1994.
MELO, Demian B. Crise orgânica e ação política da classe trabalhadora brasileira: a primeira greve geral nacional (5 de julho de 1962). 2013. 329 f. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. Disponível em: <https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/31247684/Tese_Demian_Bezerra_de_Melo_2013.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1534293509&Signature=6rBT5uAK4Eo8lioY6lX4nSHy20Y%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3DCrise_organica_e_acao_politica_da_classe.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2018.
MINELLA, Ary C. Banqueiros: organização e poder político no Brasil. Rio de Janeiro: Espaço e Tempo; São Paulo: ANPOCS, 1988.
MORAES, Ormando. História dos bancos no Espírito Santo. Vitória: Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, 1992.
OLIVEIRA, Ana L. V. S. C. IAPB e sindicato: duas estruturas interligadas. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, n. 13, p. 141-151, nov. 1999.
OLIVEIRA, Teodora B. O. de. Teodora Bragato Oakes de Oliveira: entrevista [jan. 2014]. Entrevistadora: Júlia Ott Dutra. Vitória: UFES. 1 arquivo mp3.
PELEGRINE, Ayala Rodrigues Oliveira. Modernização e repressão: os impactos da ditadura militar na Universidade Federal do Espírito Santo (1969-1974). 2016. 150 f. Dissertação (Mestrado em História das Relações Políticas) – Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2016.
Das utopias ao Autoritarismo
32
PEREIRA, André R. V. V. Lutando com “ordem e disciplina”: o Sindicato dos Bancários do Espírito Santo (1934-1953). Revista Ágora, Vitória, nº 20, p. 110-126, 2014. Disponível em: < www.periodicos.ufes.br/agora/article/download/9163/6433>. Acesso em: 13 ago. 2018.
PEREIRA, André R. V. V. Coração de cifrão: o Sindicato dos Bancários do Espírito Santo na trilha das Reformas de Base (1953-1964). História (São Paulo), Assis, vol. 37, p. 1-30, 2018. Disponível em: < http://www.scielo.br/pdf/his/v37/1980-4369-his-37-e2018013.pdf>. Acesso em: 13 ago. 2018.
PINTO, Paulo R. Paulo Roberto Pinto: entrevista [jan. 2014]. Entrevistadora: Júlia Ott Dutra. Vitória: UFES. 1 arquivo mp3.
ROCHA, Haroldo C.; MORANDI, Angela M. Cafeicultura e grande indústria: a transição no Espírito Santo, 1955-1985. 2. ed. Vitória: Espírito Santo em Ação, 2012.
SILVA, Marta Z. A Vale do Rio Doce na estratégia do desenvolvimento brasileiro. Vitória: EDUFES, 2004.
TOSI, Alberto; COLBARI, Antonia; ALVES, Wania M. B. Bancários: 60 anos de história, 1934-1994. Vitória: Sindicato dos Bancários do Espírito Santo, 1995.
ULIANA, Carlos. Carlos Uliana: entrevista [jan. 2014]. Entrevistadora: Júlia Ott Dutra. Vitória: UFES. 1 arquivo mp3.
VILLASCHI, Arlindo (Org.) Elementos da economia capixaba e trajetórias de seu desenvolvimento. Vitória: Flor & Cultura, 2011.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
33
Movimento Feminino Pela Anistia e as mobilizações pela Anistia nos núcleos do Ceará, do
Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e de Minas Gerais (1975-1979)
Maria Heloiza Batista Lourenço1
Pedro Ernesto Fagundes2
“Força ninguém tem, força se cria, e espaço político a gente conquista.”Therezinha Godoy Zerbini
IntroduçãoO surgimento do Movimento Feminino pela Anistia
(MFPA) coincide com a celebração do Ano Internacional da Mulher (1975), data escolhida pela ONU, e com as comemorações dos 30 anos da anistia política após o fim da ditadura do Estado Novo (1937-1945). É impossível falar do MFPA sem associar essa organização a figura de sua fundadora: Therezinha Zerbini. Em 1975, declarado ano Internacional da Mulher pela Organização das Nações Unidas (ONU), criou junto com outros familiares de presos desaparecidos políticos do Movimento Feminino Pela Anistia (MFPA). Therezinha Zerbini proferiu uma fala durante essa Conferência Internacional sobre as mulheres, realizada na cidade do México.
Participar do evento, organizada pela Organização das
1 Graduada em História pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES, desenvolve pesquisa sobre o período da Lei da Anistia no Brasil no Grupo de Estudos sobre a Ditadura Militar.
2 Pedro Ernesto Fagundes é Doutor em História Social pela UFRJ. Atualmente é professor de História e Memória do Departamento de Arquivologia da UFES. Também é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em História da mesma universidade (PPGHIS/UFES). Essa pesquisa contou com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do estado do Espírito Santo (FAPES), por meio do edital Pesquisador Capixaba.
Das utopias ao Autoritarismo
34
Nações Unidas (ONU), como um dos marcos do Ano Internacional das Mulheres, serviu de inspiração para a futura líder das militantes da Anistia. De fato, pouco depois, em 23 de junho de 1975, Therezinha Zerbini junto com um grupo de mulheres paulistas, fundou o primeiro núcleo da entidade.
Nesses primeiros momentos as militantes concentraram suas atividades em reuniões, visitas á outras lideranças políticas e religiosas. Também foram adotadas outras atividades, entre elas: atos públicos, lançamento de manifestos, coleta de abaixo-assinados e até mesmo a edição de um jornal, em 1977, chamado “Maria Quitéria”. Uma das primeiras atividades do movimento foi lançar um documento apresentando as principais propostas e objetivos da organização. Assim, surgiu o chamado “Manifesto da Mulher Brasileira em favor da Anistia”, texto que marca a fundação do MFPA:
Nós, mulheres Brasileiras, assumimos nossas responsabilidades de cidadãs no quadro político nacional. Através da História, provamos o espírito solidário da Mulher, fortalecendo aspirações de amor e justiça. Eis porque, nós nos antepomos aos destinos da nação, que só cumprirá a sua finalidade de Paz, se for concedida a ANISTIA AMPLA E GERAL a todos aqueles que foram atingidos pelos atos de exceção. Conclamamos todas as Mulheres, no sentido de se unirem a este movimento, procurando o apoio de todos quantos se identifiquem com a ideia da necessidade da ANISTIA, tendo em vista um dos objetivos nacionais: A UNIÃO DA NAÇÃO! (ZERBINE, 1979, p.27).
O aparecimento do MFPA evidenciou o pioneirismo feminino na campanha pela Anistia no Brasil (BARRETO, 2011). Internamente, a conquista da Anistia, segundo os documentos da entidade, seria um direito do povo. Ou seja, logo, não resultaria de uma mera concessão do regime militar. Nesse prisma, essa meta seria alcançada através da pressão da sociedade. Dessa forma, a Anistia seria um passo fundamental para o retorno do Estado Democrático de Direito no país.
Entretanto, é sempre importante destacar o contexto
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
35
político carregado da criação do MPFA para compreendermos os limites políticos que marcaram a época da fundação da organização. O mandato do general Geisel estava ainda em seus primeiros anos, ou seja, a censura, a Lei de Segurança Nacional (LSN), a cassação de mandatos de parlamentares da oposição e, sobretudo, o aparato regressivo estava em pleno funcionamento.
Segundo Fabíola Brigante Del Porto, na visão dessas mulheres, a Anistia não era entendida como um pedido de perdão, mas sim um “[...] instituto de Direito, um ato que promoveria a reconciliação da nação consigo mesma” (DEL PORTO, 2002, p. 84). Nesse momento, o grupo já é constituído por 10 mulheres. Além de Therezinha Zerbine e sua filha Eugênia Cristina, faziam parte do Movimento: Aldenora de Sá Porto, Virgínia Lemos Vasconcellos, Neusa Cunho Mello Franco, Margarida Pereira Neves Fernandes, Lila Galvão Figueiredo, Yara Peres Santestevan, Cristina Sodré Dória e Ana Lobo.
Em 15 de dezembro de 1975 é eleito o concelho diretor do Movimento, sediado em São Paulo. Terezinha Zerbini é oficializada como presidente. Rapidamente o MFPA se espalha pelo país em formato de núcleos. Mas, antes de tratarmos da organização da entidade, gostaríamos de apresentar alguns dados de uma das personagens mais importantes da transição democrática: Thezerinha Zerbini.
Therezinha ZerbiniE impossível falar do MFPA sem associar essa organização
a figura de sua fundadora: Therezinha de Godoy Zerbini. Nascida em 12 de dezembro de 1928, em São Paulo, Therezinha Zerbini, como era mais conhecida, casou-se em 1951, com Euryale de Jesus Zerbini, um militar de carreira que, em 1964, ocupou a posição de comandantes da guarnição de Caçapava (LEITE, 2012).
Como inúmeros militares que se opuseram ao Golpe de 1964, o general Euryale de Jesus Zerbini sofreu uma serie de perseguições
Das utopias ao Autoritarismo
36
e teve sua carreira militar afetada por defender a legalidade. Por esse motivo, Therezinha Zerbini nunca concordou com a prisão do companheiro, pois afirmava que ele havia sido preso por se recusar a participar do golpe militar de 1964. A situação do marido, um militar cassado, serviu para aproximar Therezinha Zerbini da oposição ao governo militar.
A prisão do general Euryale Zerbini somado as primeiras ações reivindicatórias de Zerbine contra o regime militar, permitem que ela e seu esposo tenham contato com alguns seguimentos de resistência a ditadura, entre eles setores progressistas assim como a Igreja e o movimento estudantil. Em 1968, Frei Tito, através de contatos com a família Zerbini consegue um sítio para a realização de um congresso – que viria a ser o XXX Congresso Nacional da União Nacional dos Estudantes.
Como destacou numa entrevista para Paulo Moreira Leite, em diversas oportunidades, a futura líder do MFPA arrecadou dinheiro para colaborar com perseguidos políticos (LEITE, 2012). Numa dessas ocasiões. Therezinha Zerbini encaminha o pedido a um amigo de seu esposo, que concede um sítio no interior do estado de São Paulo, na cidade de Ibiúna.
Em outubro de 1968 centenas de jovens se encontram no sítio para a realização do congresso. No entanto, durante os trabalhos dos agentes do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) a maioria dos estudantes foi presa, inclusive Frei Tito. A “queda” do Congresso de Ibiúna motivou Therezinha Zerbini a colaborar na criação do movimento das Mães Paulistas contra a violência, depois das prisões dos estudantes.
Em decorrência dessa militância e das investigações sobre o congresso, em novembro de 1969, Therezinha Zerbini foi presa. Alguns meses depois Zerbini foi libertada. Entretanto, em 1970, despois de condenada com base da Lei de Segurança Nacional (LSN), a futura líder do MFPA, passou mais alguns meses na prisão.
A frente do MFPA, segundo DUARTE (2012), Therezinha Zerbini ficou marcada por sua postura considerada por alguns como
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
37
“durona” e “autoritária”. Por essa razão, sua posição e forma de ação dentro do MFPA causaram discordância com integrantes de alguns núcleos pelo país, como veremos de forma mais detalhada no tópico sobre o núcleo cearense. Nos próximos tópicos, procurando “reencontrar” a história da participação dessas militantes e a transição democrática brasileira, pretendemos analisar os núcleos da entidade nos seguintes estados; Ceará, Minas Gerias, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Os núcleos do MFPA: CearáO núcleo cearense, do Movimento Feminino pela Anistia
em Fortaleza, foi fundado no dia 16 de março de 1976, em Fortaleza. A frente do MFPA/CE, como presidente, estava Nildes Alencar Lima, irmã do Frei Tito. Como muitos outros católicos de sua geração, Nildes Lima iniciou sua atuação política Juventude Estudantil Católica (JEC) e na Juventude Independente Católica.
No ano de 1975, Lima foi convidada por Zerbini para participar do MFPA, quando seu irmão já havia falecido. Contrariando sua família que receava que outro membro da família sofresse perseguição. Até 1979 Lima foi a única presidente do núcleo. Profissionalmente atuava como pedagoga.
Uma peculiaridade do núcleo MFPA/Ceará foi o fato de, internamente, existirem dois grupos que atuavam na entidade. Duarte (2012) indica que um desses grupos adotava uma postura mais politizada. Essas militantes eram conhecidas como o “Grupo da Maria”. O nome era uma menção a Maria Luíza Menezes Fontenele, uma das líderes do grupo.
Ainda segundo Duarte (2012), Fontenele era professora universitária da Universidade Federal do Ceará (UFCE). Destacou-se por ser uma figura carismática e popular da política cearense. Em 1978 foi candidata à deputada estadual pelo MDB, e vinculou-se a causa da anistia. Engajou-se na política formal juntamente ao MFPA/Ceara como uma forma de escapar da repressão.
Das utopias ao Autoritarismo
38
Durante o período de militância no MFPA, o “Grupo da Maria” identifica-se com ideias ligadas ao Partido Comunista do Brasil (PC do B), apesar de possuir algumas “dissemelhanças com o Partido e apontar uma atuação mais independente” (DUARTE, 2012, p. 161). Para Maria Luíza Fontenele, o Grupo teria percebido na fundação do núcleo local do MFPA a possibilidade de criar e articular outros movimentos sociais. Obviamente que a noção de luta pela Anistia era partilhada pelo “Grupo da Maria”, porém, havia o interesse em outras bandeiras políticas, bem como a derrubada do sistema capitalista.
Por outro lado, o outro grupo era composto pelos familiares de presos políticos. Estas militantes interpretavam a ação do “Grupo da Maria”, no interior do MFPA/Ceará, de forma crítica. Isto porque, pensavam que essas práticas mais radicais poderiam comprometer o objetivo central da entidade: a libertação dos seus parentes. Na visão do grupo de familiares, o posicionamento do Grupo subvertia a bandeira principal do MFPA.
As ações do Movimento eram decididas em reuniões feitas inicialmente de forma quinzenal. Posteriormente, esses encontros passaram a acontecer semanalmente, que ocorriam primeiramente em Igrejas, salões paroquiais e na sede do MDB, e posteriormente, na escola infantil Instituto Alencar, estabelecimento que pertencia a Nildes Alencar. Na opinião de Duarte (2012) a questão da visibilidade do MFPA/CE era uma das fontes de discordância: para os familiares era necessário agir de forma discreta; para as mais politizadas, era preciso reunir mais pessoas a fim de ganhar mais visibilidade e apoio público, como estratégia política.
Um aspecto em comum acordo para todo o Movimento seriam as manifestações públicas, porém, havia discordância em como se colocar nos espaços escolhidos. Um exemplo de manifestação pública seriam as vigílias, feitas em solidariedade as greves de fome realizadas pelos presos políticos, e essas dividiam muitas opiniões e conflitos. Os eventos se transformavam em ato de protesto, mas também de sofrimento familiar explícito, e a disputa se iniciava ainda nas reuniões de preparação, e davam-se pela escolha de canções, ou até mesmo sobre os discursos que seriam expostos.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
39
No MFPA/Ceará, a relação estabelecida entre as militantes da Anistia e a Igreja é feita através da pessoa de Dom Aloísio Lorscheinder que “estava à frente da Arquidiocese de Fortaleza, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e do Conselho Episcopal Latino-Americano” (DUARTE, 2012, p. 175).
O apoio de Dom Aloísio também se tornou outro ponto de conflito. Para os familiares, a presença do arcebispo deveria ser utilizada em situações de maior dificuldade para os presos políticos. Para o “Grupo da Maria”, deveria ser utilizada a presença do arcebispo no avanço da luta, envolvendo a Igreja nas ações de expansão do MFPA, mesmo que esse apoio não fosse discutido com a diretoria. Contudo, tal situação gerava nova discordância.
É necessário salientar, que assim como buscaram apoio da Igreja, o MFPA buscava apoio também de outras entidades, tais como: Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Movimento Democrático Brasileiro (MDB) e, individualmente a intelectuais e escritores. Esse apoio visava à abertura de espaços em que as militantes pudessem se expressar. Para além dos conflitos internos, o MFPA/Ceará também protagonizou embates com a presidente nacional do movimento, Therezinha Godoy Zerbini. Nesse aspecto, apoiar ou discordar das ideias da presidente, se consolidou como um dado a mais na disputa entre familiares e o “Grupo da Maria”.
Therezinha Zerbini participava ativamente das ações do núcleo, através de visitas a este, ou mesmo de longe, por meio de cartas. Acompanhando o cotidiano do Movimento, Therezinha Zerbini pensava estar evitando a utilização do MFPA por partidos ou organizações políticas, que poderiam desvirtuar a luta específica do grupo. Apesar dos esforços de Zerbini, como destacamos, grupos com ligações partidárias participavam da entidade.
A ampliação dos objetivos do MFPA, na luta não só pela anistia, mas principalmente pelo enfrentamento dos militares, foi um dos principais pontos de conflito. Outro motivo de discórdia foi a adaptação forçada pelo “Grupo da Maria” em permitir a presença de homens nas atividades do MFPA/CE (DUARTE, 2012, p. 186). Um
Das utopias ao Autoritarismo
40
relatório com propostas para o Congresso Nacional da Anistia, em outubro de 1978, demonstra a tentativa em tornar os núcleos locais do MFPA mais autônomos, com a possibilidade de elaboração do próprio estatuto. Entretanto, Zerbine refuta a ideia, afirmando que o Movimento era uma entidade própria, legal e com estatuto registrado em cartório, na cidade de São Paulo.
No Ceará, como dissemos, a participação de homens em reuniões do Movimento ocorria livremente, e este foi outro ponto de discordância estabelecido com a presidente. Haja vista, que, a participação de homens no Movimento era vetada no Estatuto Nacional. A ampliação na discussão pela luta da anistia foi outro aspecto de discordância entre o núcleo do Ceará e Zerbine.
Esse debate foi realizado com outras entidades, como o Comitê Brasileiro pela Anistia (CBA), por meio do projeto apresentado pelo governo de João Batista Figueiredo. O MFPA, em seu início, não defende uma anistia ampla, geral e irrestrita. Segundo Duarte (2012), inicialmente, o MFPA defendia um modelo de anistia ampla e geral. Na prática essa visão que significava não apoiar a anistia de acusados de crimes de sangue. Ou seja, crimes em que o enfrentamento tenha ocasionado derramamento de sangue.
O fato de ser registrado em cartório e estar composto por um público predominantemente feminino não isentou o MFPA de ser vigiado pelos órgãos repressivos. Basta verificar, segundo Duarte (2012), que policiais disfarçados eram enviados as reuniões, inclusive aquelas que ocorriam nas igrejas. Militantes eram seguidas e fotografadas, até mesmo durante o dia. Mas, o ato mais expressivo foi sofrido por Maria Luíza Fontenele que, segundo Duarte (2012) foi ameaçada de morte e alertada sobre a possibilidade de ser vítima de flagrante de porte de drogas. A seguir trataremos dos núcleos do MFPA nos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
Os núcleos do MFPA na região SulSegundo RODEGHERO; DIENSTMANN; TRINDADE
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
41
(2011), o núcleo do MFPA no Rio Grande do Sul surgiu em 20 de junho de 1975. O evento de fundação foi realizado na sede da Associação Rio-Grandense de Imprensa (ARI). Nessa mesma reunião, Lícia Margarida Macêdo de Aguiar Peres foi eleita presidente do MFPA/RS. Lícia Peres, como era conhecida, na época era estudante do curso de Ciências Sociais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRS).
Essa militante do movimento estudantil era casada com Glênio Peres, vereador do Movimento Democrático Brasileiro (MDB), em Porto Alegre. Segundo as autoras, Peres foi procurada por Dilma Rousseff, que na época cursava Economia na mesma universidade. Rousseff, que havia convivido com Therezinha Zerbini no Presidio Tiradentes. Assim, a ex-presidiária política e futura presidente do Brasil, foi uma das incentivadoras da criação do núcleo do MFPA/RS (RODEGHERO; DIENSTMANN; TRINDADE, 2011 p.32).
Lícia Peres aceitou a proposta feita por Dilma Rousseff e imediatamente iniciou o processo de recrutamento de novas militantes para a entidade. Nesse processo, Peres convidou algumas figuras importantes para a atuação do MFPA, entre elas: a escritora Zulmira Guimarães Cauduro – conhecida como Mila Cauduro – que havia se candidatado a deputada estadual, em 1974, pelo MDB. A anistia foi uma das bandeiras defendidas por Cauduro. Outra figura convocada foi Enid Backes, ligada a Associação dos Sociólogos do Rio Grande do sul.
Inicialmente, Mila Cauduro presidiu o núcleo gaúcho no período compreendido entre 1976 a 1979. Sua área de atuação pública permeava a assistência social, literatura e a política. Atuou ainda na Legião Brasileira de Assistência, da Associação Sul-Rio-Grandense aos Lázaros e Defesa contra a Lepra, do Centro Social Frederico Ozanam (RODEGHERO; DIENSTMANN; TRINDADE, 2011).
Ainda no âmbito partidário, Cauduro participou da fundação do Partido Democrático Trabalhista (PDT), em 1979, onde foi eleita vice-presidente nacional. Foi pré-candidata à suplência do Senado em 1978, porém teve sua candidatura rejeitada pelo Diretório
Das utopias ao Autoritarismo
42
Regional do MDB. As principais reinvindicações do núcleo gaúcho do MFPA, além da questão da anistia, empreendiam duas bandeiras distintas: a primeira seria defender todos os atingidos no seu direito de homem e cidadão, que estava assegurado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, além de lutar pela anistia ampla, visando à pacificação da família brasileira.
A segunda era:promover a elevação cultural, social e cívica da mulher, através de cursos, palestras e atuações no desenvolvimento de sua consciência moral e cívica, alertando-a e orientando-a para a compreensão de suas responsabilidades perante a sociedade e integração da família na comunhão social (RODEGHERO; DIENSTMANN; TRINDADE; 2011 p.130).
Nesse sentido, podemos afirmar que a campanha do MFPA/RS possuía dois pilares: a obtenção da anistia e a conquista pelo direito de lutar, do espaço para a participação política.
O MFPA/RS, assim como outros núcleos em outros estados, procurou apoio da Igreja Católica na pessoa do Cardeal Dom Vicente Scherer, que estava à frente da Arquidiocese de Porto Alegre. As integrantes do Movimento procuraram o Cardeal e utilizaram como argumento o pronunciamento feito por Dom Paulo Evaristo Arns, arcebispo de São Paulo, que pedia além da anistia a presos políticos, o julgamento público de todos os acusados de crimes políticos e a proteção legal de defesa.
As mulheres solicitaram a celebração de uma missa pela pacificação da família brasileira, mas, não receberam de Dom Vicente o apoio esperado. Para o Cardeal, era necessário analisar o Manifesto e as consequências da sua participação em uma atividade de cunho político. Na opinião do religioso, era preciso dissociar os presos políticos daqueles que estavam presos “implicados pelo Código Penal” (RODEGHERO; DIENSTMANN; TRINDADE, 2011, p.38).
As autoras descrevem uma particularidade importante do MFPA/RS, a presença de mulheres que tinham relações familiares
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
43
com lideranças políticas exiladas, como podemos observar no trecho:Quando D. Vicente se levantou, num gesto de despedida, quatro senhoras de meia-idade e bem vestidas se aproximaram do Cardeal:
- Estamos aqui por causa do nosso irmão.
- Gostaria de abraçar o Jango aqui, disse o Cardeal.
- O Senhor abraçará todos um dia, respondeu uma das irmãs do ex-presidente. Quando D. Vicente reconheceu Francisca Rotta Brizola, perguntou:
- E ele, como está?
- Bem de saúde e com saudade dos amigos, respondeu a irmã do ex-governador (RODEGHERO; DIENSTMANN; TRINDADE, 2011, p.39).
Dessa forma, quatro irmãs de Jango se fizeram presentes: Maria Goulart Macedo, Iolanda Goulart, Maria Goulart Dorneles e Cila Goulart de Moura Vale. Cauduro tinha laços de compadrio com Brizola (RODEGHERO; DIENSTMANN; TRINDADE, 2011, p.39). Observamos então que o objetivo de unir e pacificar a família brasileira que estava presente nos escritos do MFPA não era uma questão apenas teórica. Como destacamos, o núcleo era composto por familiares de exilados que lutavam para o reestabelecimento de sua própria família. Características que não foram registradas nos outros dois núcleos analisados nesse trabalho.
Logo após o lançamento do núcleo gaúcho, a primeira ação empreendida pelo grupo de mulheres foi o recolhimento de assinaturas visando apoio ao Manifesto da Mulher Brasileira. Além disso, havia a busca por apoio e adesão ao Movimento em cidades do interior de Porto Alegre.
Portanto, no ano de 1975, as principais atividades empreendidas pelo MFPA/RS foram a coleta de assinaturas e a entrega de abaixo-assinados e do Manifesto para as lideranças da Câmara Federal e do Senado, e também para o Presidente da República. Somadas, essas assinaturas chegaram a 12 mil e foram entregues às autoridades em Brasília. É necessário salientar que esse panorama
Das utopias ao Autoritarismo
44
descrito a cima deu destaque ao MFPA/RS no que diz respeito ao quadro nacional da entidade.
O trabalho realizado pelas integrantes do MFPA/RS quanto à coleta de assinaturas fez com que a população em geral, segunda a autoras, tivesse boa receptividade. Ademais, passaram a contar com o apoio do setor jornalístico para a divulgação das atividades do núcleo em prol da anistia.
Segundo RODEGHERO; DIENSTMANN; TRINDADE, (2011), foi realizada uma parceria entre o MFPA/RS e o Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Mesmo que o MFPA/RS se declarasse apartidário – inclusive essa era uma postura duramente defendida por Therezinha Zerbini, como já demonstramos nesse trabalho – suas militantes participavam dos comícios do partido divulgando a bandeira da anistia, buscando apoio de parlamentares e pressionando o MDB para que tomasse posições mais firmes na defesa da anistia. Além de estabelecer contato com o Setor Feminino do partido, estreitaram alianças com Setor Trabalhista e o Setor Jovem medebista.
O segundo núcleo da região sul foi organizado na cidade de Florianópolis. O MFPA/SC foi fundado em 27 de novembro de 1977. A formação desse núcleo está diretamente ligada a chamada “Operação Barriga Verde”. Essa ação das forças de segurança foi executada na cidade de Florianópolis em novembro de 1975. Segundo SILVA (2015), em sua pesquisa sobre a atuação das mulheres catarinenses na luta pela anistia, essa operação foi uma ação conjunta dos órgãos de repressão que pretendiam encontrar e capturar os principais membros do Partido Comunista Brasileiro (PCB) no Estado.
As ações empreendidas por essa Operação foram extremamente violentas, inclusive, segundo SILVA (2015), contaram com a participação de integrantes do Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna, o DOI-CODI. No total, foram presas 41 pessoas, entre estes professores e estudantes da Universidade Federal de Santa Catarina. Todos os detidos foram presos sob a alegação de pertencerem ao PCB.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
45
Devido aos desdobramentos da “Operação Barriga Verde”, o movimento estudantil da UFSC organizou-se e foram tomadas as primeiras providências para a estruturação do MFPA/SC. Os militantes de ambas as entidades trabalhariam juntos visando auxiliar os familiares das pessoas atingidas pela “Operação Barriga Verde”.
Nessa fase inicial, coube Margaret Grando, estudante da UFSC, realizar os primeiros contatos com Therezinha Zerbini. Grando transportou de São Paulo para Florianópolis o material de divulgação necessário para o inicio do trabalho, entre eles: jornais, documentos.
Além disso, ela teria entrado em contato com as esposas dos presos Marcos Cardoso Filho e Roberto Motta, respectivamente, Marise Maravalhas e Maria Rita Bessa Motta, para colaborar no início das atividades do MFPA/SC. Semelhante a outros núcleos estaduais, em Santa Catarina, o núcleo local também encontrou apoio da Igreja Católica, em especial, na figura do Bispo Dom Afonso Niehues.
Inclusive, devido ao reduzido número de militantes, várias reuniões aconteciam na Cúria Metropolitana de Florianópolis, conhecida como “Casa do Bispo”. Dom Afonso também teve grande importância nas diversas cartas trocadas com órgãos da Anistia Internacional, onde explicava a situação brasileira e solicitava ajuda (SILVA, 2015, p. 57).
As principais atividades das militantes do MFPA/SC foram: a distribuição de informativos sobre a questão da Anistia, que inclusive continha denúncias sobre as condições dos presos políticos e também de seus familiares. Foi lançado também, em 07 de agosto de 1977, um manifesto intitulado “Por uma Anistia Ampla, Geral e Irrestrita”, documento elaborado em resposta ao projeto de anistia do governo militar enviado ao Congresso Nacional. Nesse documento as críticas estavam direcionadas a previsão de uma anistia restrita e parcial (SILVA, 2015, p. 56). No próximo tópico apresentaremos a trajetória do núcleo de Minas Gerais.
Das utopias ao Autoritarismo
46
Os núcleos do MFPA: Minas GeraisEm junho de 1977 foi fundado em Belo Horizonte o núcleo
mineiro do Movimento Feminino pela Anistia. O núcleo mineiro foi o terceiro, antecedido por São Paulo e Rio de Janeiro. Inicialmente, reuniu cerca de 300 mulheres.
Na Assembleia de fundação do MFPA/MG foi discutido e decidido que os objetivos básicos do Movimento seriam:
anistia dos presos e exilados; apoio e desenvolvimento de diversas atividades em defesa dos Direitos Humanos e das Liberdades Democráticas; defesa dos direitos da mulher (BARRETO, 2011, p. 89).
No que tange aos direitos da mulher, existia uma luta contra a discriminação em relação à sociedade patriarcal e machista brasileira. Ainda nessa Assembleia, Helena Grecco foi eleita para ocupar a presidência do MFPA/MG.
Em um primeiro momento, a bandeira de luta do MFPA/MG seria a questão da anistia e a violação dos direitos humanos. Durante o caminho de luta, outras bandeiras foram agregadas a estas, tais como racismo, condições de vida de populações mais carentes, incluindo menores de idade.
A partir de 1978, ocorreu dentro do núcleo uma preocupação com relação a sua expansão. A intenção era que a luta pela anistia fosse ampliada e divulgada entre outros setores da sociedade. Sendo assim, a partir desse ano iniciou-se uma campanha pela expansão do MFPA/MG para o interior das cidades de mineiras. A cidade de Juiz de Fora seria a mais visada, isto porque no local existia um presídio, onde estavam quatro presos políticos.
Sobre a organização BARRETO (2011) afirma que o núcleo mineiro era administrado em forma de Regimento Interno, pelos órgãos: Assembleia Geral, Diretoria Executiva, Conselho Geral e Conselho de Representantes. A Assembleia Geral era o órgão máximo do MFPA. Constituía-se em uma reunião das sócias convocadas de acordo com o Estatuto e Regimento Interno do MFPA/MG.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
47
A convocação era feita com dez dias de antecedência. Somente associadas poderiam votar nas decisões da Assembleia. As deliberações da Assembleia eram tomadas pela maioria. Não seriam contados votos em branco. As reuniões eram feitas uma vez por ano, geralmente no mês de dezembro e, extraordinariamente, quantas vezes fossem necessárias, após ser convocada pelo Conselho Geral, Diretoria Executiva e Conselho de Representantes.
Quanto a Diretoria Executiva, seu mandato seria de dois anos, podendo haver reeleição sendo composta por quatro membros: Presidente, Vice-Presidente, Secretária Geral e Tesoureira. O Conselho Geral era composto por sete membros e dois suplentes eleitos em Assembleia Geral. Os mandatos do Conselho Geral e da Diretoria Executiva eram concomitantes.
As integrantes do MFPA/MG organizavam-se em grupos de base que discutiam e encaminhavam as atividades do Movimento. Em 1978, ainda segundo BARRETO (2011), o núcleo contava com vinte grupos, separados de acordo com interesses comuns ou de bairros. Cada grupo contava com cerca de 10 integrantes. Havia também algumas comissões, formadas por pessoas de diferentes grupos, que eram convocadas para realizar tarefas específicas do Movimento.
As atividades desenvolvidas pelo núcleo mineiro variavam em diversas frentes: desde trabalhos assistenciais, assim como visitas aos presos políticos, até os trabalhos de natureza política, como confecções de boletins de protestos contra a ditadura militar, e a favor da anistia política e em defesa dos direitos humanos.
Outras atividades realizadas pelo MFPA/MG foram: manifestações públicas; apoio às greves de fome feita pelos presos políticos dos presídios de Itamaracá, Bangu e Frei Caneca; envio de cartas a grupos da Anistia Internacional e a outros comitês no exterior e panfletagens. Ainda na área de divulgação, o núcleo mineiro chegou a editar boletins oficiais da entidade. Nos informativos as militantes adotavam uma linguagem acessível. A intenção era atingir todos os setores da sociedade.
Das utopias ao Autoritarismo
48
Algumas conclusões:O MFPA deveria se consolidar como um espaço de luta
reservado apenas para mulheres. Segundo Zerbini, essa característica seria uma “estratégia de guerra” (DUARTE, 2012, p. 74). Ainda segundo essa dirigente, essa seria a única forma do movimento ter visibilidade: incomodando o governo militar.
Ainda nesse sentido, o MFPA utilizou aquilo que Duarte (2012), denomina de “jogo de gênero”. Segundo essa estratégia, as mulheres utilizavam a seu favor o pensamento disseminado na sociedade de “mães”, “pacificadoras” e até “apolíticas”:
Jogavam com o gênero, interpretando o mito de guardiã do lar, com suas características de fragilidade, emotividade, ignorância política [...]. Sua força, segundo Capdevila, repousa justamente sobre a atitude de confundir as outras facetas de identidade: mulheres corajosas; determinadas; animadas pelo pensamento político sobre as quais desliza o estereótipo do feminino doméstico (DUARTE, 2012, p. 49).
Assim, é necessário problematizar a importância histórica da utilização do gênero como estratégia de luta empreendida por essas mulheres. Como DUARTE (2012) exemplifica tal estratégia também foi utilizada no movimento político argentino conhecido como Madres da Plaza de Maio3.
Em seus protestos contra a ditadura argentina, esse grupo de mulheres utilizava como símbolo um lenço branco cobrindo suas cabeças. A intenção era reportar essa imagem a figura da mãe/avô/esposa em busca do filho/neto/esposo desaparecidos. Ainda segundo a autora, essas mulheres jogaram com o gênero utilizando-o em sua causa política. No entanto, tal estratégia resultou em embates com grupos feministas e homens que desejavam participar do Movimento.
Por último, gostaríamos de registrar um fato que se destacou no decorrer da pesquisa sobre o MFPA: o espaço reduzido sobre a
3 As “Mães da Praça de Maio” é uma organização de mulheres da Argentina (mães, avós) que tiveram seus filhos e netos desaparecidos por lutarem contra ditadura civil-militar instaurada.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
49
entidade no conjunto da literatura sobre a ditadura militar brasileira. Ademais, a falta de documentos e bibliografia sobre a trajetória de Threzinha Zerbini e suas companheiras, na atualidade, existem um volume muito maior de obras sobre Comitê Brasileiro pela Anistia (CBA).
Como demonstramos nesse trabalho, a luta pela anistia foi uma luta em que as mulheres brasileiras assumiram um papel de protagonistas. Inicialmente, através dos núcleos do MFPA, as mulheres estiveram na linha de frente das mobilizações pela anistia. Entretanto, nas últimas décadas esse protagonismo não motivou a produção de um grande volume de pesquisas sobre o MFPA.
No geral, uma das explicações para essa situação deve-se a “histórica” falta de espaço destinado às mulheres na História. Em nossa opinião, os estudos sobre os núcleos estaduais do MFPA é uma oportunidade para preencher essas páginas vazias. Seja como for, finalizamos esse texto ressaltando a necessidade da ampliação de trabalhos que recuperem o protagonismo do MPPA nas mobilizações pela Anistia no Brasil.
Referências bibliográficas:BARRETO, Anna Flávia Arruda Lanna. Movimento feminino pela anistia: a esperança do retorno à democracia. Curitiba, PR: CRV, 2011.
DEL PORTO, Fabíola Brigante. A luta pela anistia no regime militar brasileiro: a constituição da sociedade civil no país e a construção da cidadania. 2002. 144f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Estadual de Campinas, São Paulo, 2002.
DUARTE, Ana Rita Fonteles. Jogos de memória: O Movimento Feminino Pela Anistia no Ceará (1976-1979). Fortaleza: INESP, UFC, 2012.
DOM Paulo Evaristo Arns. Jornal Opinião. Rio de Janeiro. ed. 128, 18 abr. 1975.
LEITE, Paulo Moreira. A mulher que era o general da casa: história da resistência civil à ditadura. Porto Alegre: Arquipélago Editorial, 2012.
RODEGHERO, Carla; DIENSTMANN, Gabriel; TRINDADE, Tatiana.
Das utopias ao Autoritarismo
50
Anistia, ampla, geral e irrestrita: uma luta inconclusa. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 2011.
SILVA, Mariane Da. O Movimento Feminino Pela Anistia: o engajamento e a participação das mulheres catarinenses entre 1975 e 1979. 2015. 2015. 95f. Trabalho de Conclusão de Curso-Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2015.
ZERBINE, Therezinha Godoy. Anistia: semente da liberdade. São Paulo: [s.n.], 1979.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
51
Abusos da ditadura militar contra as mulheres: o uso da categoria violência de gênero
Ayala Rodrigues Oliveira Pelegrine1
Violência e gênero nas pesquisas sobre a ditadura militarO período da ditadura militar no Brasil (1964-1985) conta,
atualmente, com uma volumosa produção bibliográfica no campo da historiografia. Apesar disso, é curioso notar o predomínio de determinados temas de dimensão exclusivamente política nas análises, como o caráter militar ou civil-militar do golpe de 1964,2 a constituição e atuação do aparelho repressivo,3 a luta armada de enfrentamento ao regime4, a resistência civil-democrática e o movimento pela anistia5. A historiografia, muitas vezes, ainda silencia o debate das questões relacionadas ao regime sob uma perspectiva de gênero. Sobre isso, MARCELINO (2011, p. 22) afirma que:
A discussão construída sobre os anos da ditadura, de modo geral, tende a ressaltar somente a dimensão política da censura que existia no período. Na verdade, a época é lida, como um todo, sobretudo a partir da chave política. Questões como o gênero e a sexualidade, e outras relacionadas ao plano comportamental, quando mencionadas, são tomadas apenas como epifenômenos de uma variante política fundamental. Assim, a história do Brasil entre 1964 e 85 tem sido reduzida a história política da ditadura militar.
Conforme observa RAGO (2014, p. 7), além de política, a história da ditadura militar é essencialmente androcêntrica. Ela reflete as posições normativas de gênero, socialmente construídas
1 Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em História Social das Relações Políticas da Universidade Federal do Espírito Santo.
2 Ver: ALONSO; DOLHNIKOFF (2015); DREIFUSS (1981); FICO (2004; 2014).3 Ver: FICO (2001; 2003); MAGALHÃES (1997).4 Ver: REIS FILHO (2000); RIDENTI (2004); ROLLEMBERG (2003); SALES (2015).5 Ver: ALMEIDA; WEISS (1998); AQUINO (1999); CODATO (2005);
NAPOLITANO (2011).
Das utopias ao Autoritarismo
52
no interior de uma sociedade patriarcal, além da própria realidade histórica dualista, que, ao considerar o sujeito humano universal masculino, privilegia a participação dos homens no desenvolvimento do espaço público e na politização da vida cotidiana, enquanto exclui as mulheres por considerá-las a representação da esfera privada (PERROT; HALL, 1991, p. 27).
Mais recentemente, algumas interpretações têm buscado romper com esse aspecto tradicionalmente político e masculino das abordagens sobre o período. O esforço por tal rompimento se dá na esteira de um movimento maior de renovação da história, que vem ocorrendo nas últimas décadas com a emergência de novos objetos e perspectivas de análise. SOIHET (1997, p. 399-402) demonstra que, com essa renovação, os pesquisadores passam a se debruçar mais sobre temáticas e grupos sociais até então excluídos do seu interesse, contribuindo diretamente para a introdução dos estudos sobre as mulheres e sua atuação na esfera pública.
É importante destacar que essa expansão nos limites da historiografia e consolidação do feminino como campo de pesquisa são fenômenos favorecidos, reciprocamente, pela dinâmica social. Ambos estão relacionados à emergência das campanhas feministas, a partir da década de 1970, nos Estados Unidos e em outras regiões do mundo – inclusive no Brasil, em pleno contexto autoritário. A eclosão do movimento feminista serviu, duplamente, para apresentar à sociedade as reivindicações das mulheres e provocar uma forte demanda de informações sobre as questões que estavam sendo debatidas, mobilizando estudantes e docentes pela criação, nas universidades, de cursos destinados aos estudos das mulheres. Nessa direção, TILLY (1994, p. 31) considera que:
[...] certamente toda história é herdeira de um contexto político, mas relativamente poucas histórias têm uma ligação tão forte com um programa de transformação e de ação como a história das mulheres. Quer as historiadoras tenham sido ou não membros de organizações feministas ou de grupos de conscientização, quer elas se definissem ou não como feministas, seus trabalhos não foram menos marcados pelo movimento feminista de 1970 e 1980.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
53
Numa tentativa de acompanhar esse alargamento nas fronteiras da pesquisa histórica e compreender o lugar as mulheres durante a ditadura militar, algumas análises acabam adotando uma ótica mais descritiva, que busca evidenciar a presença feminina e tornar os fatos relacionados às mulheres “fatos da história” (TILLY, 1994, p. 41). Desse modo, concentram-se, sobretudo, na participação feminina na resistência armada ao regime, focalizando o aspecto da importância numérica nas organizações de guerrilha ou da preponderância de algumas nos postos de comando e na elaboração de estratégias e ações contra o governo.6
Presas a abordagens pouco analíticas, tais pesquisas se limitam por não utilizar o gênero como categoria conceitual. De acordo com SCOTT (1998, p. 5), tal categoria é interessante porque permite compreender de que maneira as diferenças biológicas entre fêmeas e machos se transformam em diferenças sociais entre mulheres e homens, enquanto seres sociais culturalmente construídos. Para SAFFIOTI (1999, p. 82), o gênero também é uma categoria histórica, portador de símbolos culturais evocadores de representações e conceitos normativos que permitem a produção de significados, instituições sociais e identidades subjetivas. O gênero dá sentido à organização social e cultural da diferença entre os sexos. Ele representa o conjunto de normas, estabelecidas pela sociedade e pela cultura, modeladoras dos seres humanos em homens e em mulheres, que se expressam nas relações entre essas duas categorias e nos papeis sociais que define para cada uma delas.
Segundo NADER (2002, p. 464-465), os papeis sociais possuem como forma elementar e mais efetiva as relações de gênero. Eles são duplamente determinados. Primeiramente, por fatores biológicos, porquanto, antes mesmo do nascimento, os pais delineiam a trajetória de vida dos filhos com base no sexo. Depois, por fatores culturais, uma vez que a família é o primeiro meio social a produzir no indivíduo os interesses culturais do ambiente histórico em que se insere, reforçando as diferenças biológicas entre machos e fêmeas. Tais determinações influenciarão diretamente nos padrões
6 Ver COLLING (1997); CARVALHO (1998); FERREIRA (1996).
Das utopias ao Autoritarismo
54
comportamentais e no desempenho das funções determinadas pelo gênero, potencializando as diferenças entre mulheres e homens, minimizando as características comuns de ambos e definindo as hierarquias que serão, a todo tempo, manuseadas nas relações sociais de poder.
Desconsiderando os conceitos de gênero e papel social, as abordagens sobre o lugar das mulheres durante a ditadura deixam de ponderar sobre como as distinções dicotômicas, estabelecidas para o feminino e o masculino, foram manipuladas pelo Estado autoritário. Mais do que isso, acabam não dando conta de questões fundamentais relacionadas à violência de gênero sofrida por essas mulheres. Quando tratam da violência contra as mulheres, geralmente a relacionam aos conceitos de controle social, violência de Estado ou violência institucional, percebendo o Estado como um órgão central de controle, detentor do monopólio legítimo da violência.
Por essa ótica, não percebem a violência contra as militantes como uma violência específica pelo fato de serem mulheres, motivada por desafiarem a hierarquia das relações sociais de gênero e ousarem escapar ao ambiente privado e aos papeis sociais aos quais estão determinadas, se levantando na luta política contra um Estado despótico. Conforme BANDEIRA (2014, p. 449), é preciso ir além disso, pois é pela perspectiva de gênero que se entende o fato de a violência contra as mulheres cometida pelo Estado militar emergir da questão da alteridade. Tal tipo de violência não se refere somente à ações políticas de aniquilação do “inimigo político”, um indivíduo visto nas mesmas condições de existência e valor que seu perpetrador. Essa violência é, sobretudo, motivada pelas relações assimétricas de poder, baseadas na condição de sexo e dissolutas no cotidiano de mulheres e homens.
O uso da modalidade violência de gênero possibilita reconhecer que as ações violentas são produzidas em contextos sociais e históricos específicos, nos quais a centralidade das ações violentas – físicas, sexuais, psicológicas, morais ou patrimoniais – incide sobre a mulher, no âmbito privado ou público. Esse tipo de violência concentra-se, historicamente, sobre os corpos femininos e expressa as
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
55
desigualdades marcantes das relações hierárquicas de gênero, as quais são frutos da construção social.
No seio da cultura patriarcal brasileira, a construção social é bastante rígida e os mitos da virilidade e da feminilidade funcionam como elementos substanciais na formação de homens e mulheres. Além disso, dão suporte e fortalecem as diferenças hierárquicas entre ambos (NADER, 2001, p. 106). A lógica patriarcal estabelece que o papel social feminino se relaciona à esfera privada e familiar, a sexualidade da mulher é voltada à reprodução de filhos legítimos e o padrão comportamental recatado, passivo, submisso, honrado e moralmente aceito. Por sua vez, associa o masculino à potência da sexualidade, ao poder, ao domínio, ao sentimento de posse e à violência, concentrando o protagonismo social, os valores materiais e encerrando sua atividade na esfera pública.
De acordo com NADER [et. al.] (2016, p. 259), desde a extensa e rural família colonial, passando pela urbano-nuclear e burguesa do século XIX, o sistema de divisão e hierarquização dos padrões comportamentais e sociais conforme o sexo vem sobrevivendo às inúmeras mudanças sociais no Brasil. A conservação da teia de tradições, valores, costumes e hábitos garante a sobrevivência da lógica patriarcal, mantendo a mulher numa posição subalterna em relação à naturalizada dominação do homem.
O patriarcado tem como paradigma a ideia de que os homens têm o poder de usar da violência para submeter as mulheres (GROSSI, 1998, p. 303). No seio dessa lógica, sobrevivem, paradoxalmente, representações negativas das mulheres, que as classificam como criaturas irracionais, desprovidas de senso crítico e tino intelectual, escravas de seu corpo e suas paixões, histéricas, desobedientes, e representações positivas, que as apresentam como mães e esposas ideais, guardiãs da moral, frágeis, dóceis, incapazes de tomar decisões e, por isso, necessitadas de direção e submissão (COLLING, 2014, p. 45).
É preciso mencionar que, conforme já demonstrado, a partir dos anos 1970, as campanhas feministas provocam uma
Das utopias ao Autoritarismo
56
profunda mudança nos paradigmas ocidentais e, em função disso, tais representações das mulheres sofrem um forte abalo. No Brasil, o feminismo de “segunda onda”7 desponta num cenário completamente desfavorável, refutando os rótulos patriarcais, desorganizando os costumes, reclamando a liberdade sexual e exigindo a participação feminina na vida pública.
Assim como o mercado de trabalho, as universidades públicas experimentam a inédita entrada maciça de mulheres, enquanto produtoras do conhecimento e estudantes, e isso fortalece o debate e o engajamento nas questões relacionadas ao lugar feminino na sociedade. A emancipação das mulheres não era um fenômeno acidental, que pudesse ser administrado por uma forma de Estado conservadora, moralista e antifeminista (PEDRO; WOLFF, 2011, p. 400). A violência foi a solução para contê-la.
Violência de gênero contra as mulheres nos anos de chumboPosto isso, é necessária uma reflexão historiográfica mais
atenta sobre os crimes perpetrados pelo Estado militar contra as mulheres com base no gênero. É preciso pontuar que o momento máximo dos abusos se deu durante os chamados anos de chumbo, período entre finais de 1968, em que há a decretação do Ato Institucional n. 5, e finais de 1973, durante o governo do general Emílio Médici (1969-1974). A violência atingia níveis absolutos, adquirindo caráter de política de Estado e instrumentando o poder e a dominação baseada no gênero.
Segundo os indicadores oficiais do projeto “Brasil: nunca mais” (ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, 1985, p. 70), quando a ditadura investiu largamente no reforço de sua máquina repressiva
7 Conforme Woitowicz e Pedro (2009, p. 44), o feminismo no Brasil, caracterizado como de “segunda onda” surge na década de 1970, em meio ao período mais radical da ditadura militar, com a participação de mulheres exiladas. A prática característica do movimento reside na realização de grupos de reflexão e debate sobre questões como trabalho feminino, participação política, liberdade sexual, igualdade de direitos, aborto, políticas públicas para as mulheres, condições de trabalho, violência e autonomia do corpo.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
57
e criou uma extensa comunidade de segurança e informação8, os números das denúncias de tortura explodiram, saltando de 85 em 1968 para 1.027 em 1969; 1.206 em 1970; 788 em 1971; 749 em 1972 e 736 em 1973. Nos anos de chumbo, a relação umbilical entre o autoritarismo e as representações patriarcais e sexistas dos militares fica ainda mais explícita. São, “por excelência, o tempo da tortura, dos alegados desaparecimentos e das supostas mortes acidentais” (ALMEIDA; WEISS, 1998, p. 332).
É indispensável considerar o peso das representações patriarcais e da construção social de gênero para entender as manipulações, discriminações e violações experimentadas pelas militantes durante os anos de chumbo. Somente partindo do entendimento de que a violência é um fenômeno complexo, enraizado nas relações de poder baseadas no gênero, na sexualidade, na identidade e nas instituições sociais (GIFFIN, 1994, p. 148) é que se pode compreender de que forma ela foi operada pelos militares – homens – no controle social das mulheres, seus corpos e sua sexualidade.
Os informes do “Brasil: nunca mais” (ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, 1985, p. 34) e da Comissão Nacional da Verdade (BRASIL, 2014c, p. 366-378) apontam que, enquanto prática sistemática, a tortura apresentava métodos padronizados de maus tratos, englobando recursos físicos e psicológicos comuns: xingar, ameaçar, encapuzar, espancar, ministrar choques elétricos e palmatórias, afogar, sufocar, estrangular, simular fuzilamentos, aplicar técnicas como o telefone9 e a geladeira10, manter de pé por
8 Conforme Carlos Fico (2001, p. 17), a comunidade de segurança e informação da ditadura foi constituída por um conjunto de órgãos e agentes especializados na coleta e armazenamento de dados sobre a subversão, além das ações repressivas, ligados por uma espécie de acordo que supunha sigilo e lealdade, selado pelo sentimento de comprometimento com a causa anticomunista e os objetivos da “revolução” de 1964.
9 Técnica de aplicação de pancada com as mãos em concha nos dois ouvidos, ao mesmo tempo, que poderia levar ao rompimento dos tímpanos e à surdez (BRASIL, 2014c, p. 369).
10 Técnica de origem britânica em que o preso é confinado em uma pequena cela forrada com placas isolantes, sem orifício por onde penetre luz ou som externo. Um sistema de refrigeração alterna temperaturas baixas com temperaturas altas.
Das utopias ao Autoritarismo
58
muitas horas, colocar no pau de arara11, impedir o sono, fornecer pouca comida e água. Porém, apesar da uniformização, homens e mulheres eram supliciados de maneiras específicas:
os perseguidos políticos tiveram seus corpos encaixados na condição de prisioneiras e prisioneiros. No exercício da violência, mulheres foram instaladas em loci de identidades femininas tidas como ilegítimas (prostituta, adúltera, esposa desviante de seu papel, mãe desvirtuada etc.), ao mesmo tempo que foram tratadas a partir de categorias construídas como masculinas: força e resistência físicas. Nesses mesmos espaços de violência absoluta, também foi possível feminilizar ou emascular homens (BRASIL, 2014c, p. 366-378).
Nessa direção, a partir dos apontamentos de AZEVEDO (1985, p. 56), pode-se depreender que a violência de gênero cometida pelos militares funcionou como um instrumento do machismo patriarcal contra as mulheres, cujo vetor caminha no sentido homem contra mulher tendo em vista a falocracia predominante no caldo cultural brasileiro (SAFFIOTI, 1999, p. 83). Ela contribuiu para a manutenção das desigualdades entre mulheres e homens e a conservação do próprio sistema de dominação masculina. Julgadas como subversoras dos papéis sociais de “moças de família”, esposas e mães, as mulheres tiveram seus corpos transformados em objetos pelos torturadores. Sobre isso, CARRERA (2005, p. 64) postula:
La dictadura exalta una única identidad femenina a la que deben ajustarse las mujeres, la identidad mariana, de madre-esposa, fiel compañera del soldado, salvadora de la “patria”, figura femenina que se presenta como “gran madre” [...]. Esta representación de las mujeres será acompañada de una serie de mecanismos discursivos y
Acendem-se, em ritmo rápido e intermitente, pequenas luzes coloridas, ao mesmo tempo em que um alto-falante instalado dentro da cela emite sons de gritos, buzinas e outros, em altíssimo volume. A vítima, geralmente despida, é mantida por períodos que variam de horas até dias, muitas vezes sem qualquer alimentação ou água (BRASIL, 2014c, p. 372).
11 Técnica de suspensão do indivíduo através de um travessão de madeira ou metal, com pés e mãos atados, geralmente para aplicação de outras técnicas de tortura (BRASIL, 2014c, p. 373).
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
59
de control (social, jurídico, y en muchos casos represivos) que harán efectivo el nuevo orden de género. La ideología militar en tanto expresión máxima de lo masculino, y con el poder del aparato del Estado en sus manos, configurará este mapa de tutela sobre los cuerpos de las mujeres [...].12
Para SAPRIZA (2005, p. 44):En la tortura, se puso de manifiesto, al extremo, la asimetría de poderes de varones y mujeres. Se planteó en crudo la relación entre poder, cuerpo, género femenino e ideología. Allí se “jugó” el abuso, la violación a los cuerpos, se practicó la perversión como un programa de avasallamiento como la conquista de un trofeo.13
Os informes do “Brasil: nunca mais” e os relatos expostos no relatório da Comissão Nacional da Verdade dão a ler que a violência contra os corpos femininos adquiriu contornos variados, como a típica humilhação do inimigo homem, através do abuso de suas companheiras, filhas, esposas, mães; a colocação da mulher em seu “devido lugar”, como depositário dos impulsos masculinos e não como ator político; a satisfação dos desejos sexuais dos agentes repressivos; a demonstração de poder sobre as vítimas, em situação de submissão e vulnerabilidade. JELÍN (2001, p. 102) assevera que a prática do abuso sexual14 contra as militantes era quase uma regra:
12 (Tradução livre) A ditadura enaltece uma única identidade feminina à qual as mulheres devem se ajustar, a identidade mariana, de mãe-esposa, fiel companheira do soldado, salvadora da “pátria”, figura feminina que representa a “grande mãe” [...]. Esta representação das mulheres será acompanhada de uma série de mecanismos discursivos e de controle (social, jurídico e, em muitos casos, repressivos), que efetivarão a nova ordem de gênero. A ideologia militar, como expressão máxima do masculino e com o poder do aparato do Estado em suas mãos, impõe este projeto de tutela sobre os corpos das mulheres [...].
13 (Tradução livre) Na tortura, ficou absolutamente clara a assimetria de poder entre homens e mulheres. Estabeleceu-se, de forma crua, uma relação entre poder, corpo, gênero feminino e ideologia. Ali se perpetrou o abuso sexual, a violação dos corpos, praticou-se um programa de perversão e de subjugação como a conquista de um troféu.
14 No capítulo dedicado à violência sexual e de gênero, o relatório da Comissão Nacional da Verdade (BRASIL, 2014d, p. 418-419) adota a definição preconizada pela Organização Mundial de Saúde, segundo a qual é considerada violência sexual quaisquer atos sexuais ou tentativas de realizar ato sexual, comentários ou investidas
Das utopias ao Autoritarismo
60
Los informes existentes sobre la tortura indican que el cuerpo femenino siempre fue un objeto “especial” para los torturadores. El tratamiento de las mujeres incluía siempre una alta dosis de violencia sexual. Los cuerpos de las mujeres – sus vaginas, sus úteros, sus senos -, ligados a la identidad femenina como objeto sexual, como esposas y como madres, eran claros objetos de tortura sexual.15
A tortura física englobava sevícias intensas contra os corpos das mulheres, consideradas “machos”, “duronas”, resistentes, subversivas, “terroristas”, militantes políticas que ousaram subverter os padrões normativos do feminino e se aproximar do estereótipo masculino. Uma vez que no interior do contrato original do patriarcado os homens detêm a preponderância do poder, podendo se apropriar, inclusive sexual e violentamente, do corpo feminino e “zelar” pela obediência da mulher aos padrões comportamentais estabelecidos (SAFFIOTI, 2004, p. 53), os corpos das militantes presas sofreram abusos sexuais de toda sorte, como a nudez forçada, os choques elétricos nos seios, mamilos, vagina, as penetrações não consentidas – o que muitas vezes ocorria na presença de filhos e familiares, como forma de potencializar o constrangimento, a dor e o sofrimento. As mulheres também sofreram violações psicológicas e morais, fundamentadas na noção sexista dos papeis sociais femininos
sexuais não consentidas, para comercializar ou de outra forma controlar a sexualidade de uma pessoa através do uso da coerção, realizados por qualquer pessoa e em qualquer ambiente. Abrange toda ação praticada em contexto de relação de poder, quando o abusador obrigada a outra pessoa à prática sexual ou sexualizada por meio de força física, influência psicológica ou uso de armas e drogas. Além da penetração vaginal, anal e oral, também constituem violência sexual golpes nos seios; golpes no estômago para provocar aborto ou afetar a capacidade reprodutiva; introdução de objetos e/ou animais na vagina, pênis e/ou ânus; choque elétrico nos genitais; sexo oral; atos físicos humilhantes; andar ou desfilar nu ou seminu diante de homens e/ou mulheres; realizar tarefas nu ou seminu; maus-tratos verbais e xingamentos de cunho sexual; obrigar as pessoas a permanecer nuas ou seminuas e expô-las a amigos, familiares ou estranhos; ausência de privacidade e negação de artigos de higiene no uso de banheiros.
15 (Tradução livre) Os informes existentes sobre a tortura indicam que o corpo feminino sempre constituiu um objeto “especial” para os torturadores. O tratamento das mulheres sempre incluiu uma alta dose de violência sexual. Os corpos das mulheres – suas vaginas, seus úteros, seus seios -, vinculados à identidade feminina como objeto sexual, como esposas e mães, eram nitidamente objetos de tortura sexual.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
61
e perpetradas por ações de discriminação, desrespeito, rejeição, depreciação, humilhação, agressão contra sua idoneidade, acusações falsas, xingamentos, insultos, agressões verbais, difamação e injúria.
A gravidez não significava dispensa à tortura. Os relatos presentes no relatório da Comissão Nacional da Verdade mostram ter havido uma peritagem distinta na tortura dos corpos das grávidas, com a utilização de técnicas individualizadas quando se pretendia evitar ou efetivar o aborto, até mesmo quando se objetivava esterilizar a mulher. Os impactos que tamanha violência causaria às mulheres e à vida futura dos bebês que conseguissem sobreviver não era uma preocupação entre os torturadores. Inclusive, cabe registrar que, além das próprias militantes, a violência vitimava suas famílias, quer pela prisão, quer pelo desaparecimento ou assassinato de suas mulheres e filhos, contrastando com o projeto social que os governos militares apregoavam, atravessado por um discurso bastante conservador acerca da importância da família nuclear, heterossexual e reprodutiva.
ConclusãoA partir do exposto, pode-se depreender que as análises
historiográficas acerca do lugar das mulheres na ditadura militar a partir de uma perspectiva de gênero ainda estão em processo de amadurecimento, apesar de sua evidente urgência. O gênero permite compreender o conjunto de normas, estabelecidas pela sociedade e pela cultura, que modelam os seres humanos em homens e em mulheres, e se expressam nas relações entre ambos e nos papeis sociais definidos para cada um. Desse modo, no seio de uma cultura patriarcal e sexista como a brasileira, a categoria desnaturaliza as concepções e atribuições de gênero percebidas, historicamente, como intrínsecas a homens e mulheres, possibilitando vislumbrar como essas foram instrumentalizadas nas relações de poder difusas na sociedade.
O gênero viabiliza interpretar as manipulações praticadas pelo Estado militar em seus crimes contra as mulheres. Mais exatamente, a categoria violência de gênero oportuniza entender como a estruturação baseada na hierarquia de gênero e
Das utopias ao Autoritarismo
62
sexualidade transpareceu na violência estatal, explicitando o caráter tradicionalmente patriarcal e sexista das representações militares acerca do feminino. Os relatos contidos no relatório da Comissão Nacional da Verdade e os informes do projeto “Brasil: nunca mais” (ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO, 1985) confirmam essa conjectura, ao darem a ler que, as mulheres foram as principais vítimas da violência de gênero praticada pelo Estado autoritário, sobretudo durante os anos de chumbo, quando a tortura adquiriu caráter de política oficial.
As militantes se arriscaram a desafiar a “natural” ordem de gênero, que inscreve a mulher no âmbito privado, nunca no domínio público, e, mais grave, se atreveram na luta contra um determinado regime político. Ao ousarem se arriscaram a romper a lógica patriarcal que orienta a definição dos papeis sociais a serem desempenhados pelas mulheres na sociedade brasileira, se elegeram “merecedoras” das violações. O abuso do corpo feminino pelos agentes repressivos – homens – revelou uma conotação muito específica, de natureza psicológica, moral, física e, principalmente, sexual. Num contexto em que as mulheres reclamavam emancipação, liberdades no campo da sexualidade e direitos ao seu próprio corpo, as militantes foram silenciadas e violentadas exemplarmente, como forma de dizer à sociedade o que poderia ocorrer caso mais mulheres se desvirtuassem do modelo hegemônico do feminino.
Referências:Fontes:
ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO. Brasil: Nunca Mais (BNM). São Paulo, projeto A, t. 6 v. 12, 1985.
BRASIL. Relatório Comissão Nacional da Verdade. Volume I, Parte II, Cap. 3: Contexto histórico das graves violações entre 1946 e 198. Brasília: CNV, p. 85-108, 2014a.
BRASIL. Relatório Comissão Nacional da Verdade. Volume I, Parte III, Cap. 9: Tortura. Brasília: CNV, p. 328-398, 2014c.
BRASIL. Relatório Comissão Nacional da Verdade. Volume I, Parte III,
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
63
Cap. 10: Violência sexual, violência de gênero e violência contra crianças e adolescentes. Brasília: CNV, p. 400-435, 2014d.
Bibliografia complementar:
ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de; WEISS, Luiz. Carro-zero e pau-de-arara: o cotidiano da oposição de classe média ao regime militar. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz (Org.). História da vida privada no Brasil, vol. 4. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.
ALONSO, Angela; DOLHNIKOFF, Miriam. (Org.). 1964: do golpe à democracia. São Paulo, Editora HEDRA, 2015.
AQUINO, Maria Aparecida de. Censura, Imprensa e Estado autoritário (1968-1978): o exercício cotidiano da dominação e da resistência – o Estado de São Paulo. Bauru: EDUSC, 1999.
AZEVEDO, Maria Amélia. Mulheres espancadas. A violência denunciada. São Paulo: Cortez, 1985.
BANDEIRA, Lourdes Maria. Violência de gênero: a construção de um campo teórico e de investigação. Sociedade e Estado, v. 29, n. 2, p. 449-469, 2014.
CARVALHO, Luis Maklouf. Mulheres que foram à luta armada. São Paulo: Globo, 1998.
CODATO, Adriano Nervo. Uma história política da transição brasileira: da ditadura militar à democracia. Revista de Sociologia e Política, Curitiba, n. 25, p. 83-106, 2005.
COLLING, Ana Maria. A resistência da mulher à ditadura militar no Brasil. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 1997.
DREIFUSS, René Armand. 1964: a Conquista do Estado Ação Política, Poder e Golpe de Classe. Petrópolis, VOZES, 1981.
FERREIRA, Elizabeth Fernandes Xavier. Mulheres, militância e memória: histórias de vida, histórias de sobrevivência. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996.
FICO, Carlos. Como eles agiam: os subterrâneos da ditadura militar – espionagem e polícia política. Rio de Janeiro: Editora Record, 2001.
FICO, Carlos. Espionagem, polícia política, censura e propaganda: os pilares básicos da repressão. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucília de Almeida Neves (Orgs.). O tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 167-207.
Das utopias ao Autoritarismo
64
FICO, Carlos. Versões e controvérsias sobre 1964 e a ditadura militar. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 24, nº 47, p. 29-60, 2004.
FICO, Carlos. O Golpe de 1964: momentos decisivos. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2014.
GIFFIN, Karen. Violência de Gênero, sexualidade e saúde. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 10 (supl. 1), p. 146-155, 1994.
GROSSI, Miriam Pillar. Rimando amor e dor: reflexões sobre a violência no vínculo afetivo-conjugal. In: PEDRO, Joana Maria; GROSSI, Miriam Pillar (Orgs). Masculino, feminino, plural. Florianópolis: Mulheres, 1998, p. 293 -313.
JELÍN, Elizabeth. Los trabajos de la memória. Madrid/Buenos Aires: Siglo XXI, 2001.
MAGALHÃES, Marionilde Dias Brepohl de. A lógica da suspeição: sobre os aparelhos repressivos à época da ditadura militar no Brasil. Revista Brasileira de História, Sçao Paulo, v. 17, n. 34, p. 203-220, 1997.
MARCELINO, Douglas. Subversivos e Pornográficos. Censura de livros e diversões públicas nos anos 1970. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2011.
NADER, Maria Beatriz. Mulher: do destino biológico ao destino social. Vitória: EDUFES, 2001.
NADER, Maria Beatriz A condição masculina na sociedade. Dimensões, Vitória, n. 14, p. 62-85, 2002.
NADER, Maria Beatriz. et al. A violência contra as mulheres em Vitória (ES): caminhos para a compreensão e enfrentamento do problema. In: FERREIRA, Sérgio Rodrigo da Silva; RODRIGUES, Alexsandro; MONZELI, Gustavo (Orgs.). A política no corpo: gêneros e sexualidade em disputa. Vitória: EDUFES, 2016, p. 206-232.
NAPOLITANO, Marcos. Coração civil: arte, resistência e lutas culturais durante o regime militar brasileiro (1964-1980). Tese de Livre-Docência em História, Faculdade de História, USP, São Paulo, 2011.
PEDRO, Joana Maria; WOLFF, Cristina Scheibe. As dores e as delícias de lembrar a ditadura no Brasil: uma questão de gênero. História Unisinos, v. 15, n. 3, p. 398-405, 2011.
PERROT, Michelle; HUNT, Lynn; HALL, Catherine. Ergue-se a cortina. In. PERROT, Michelle (Org.). História da Vida Privada: da Revolução Francesa à Primeira Guerra. São Paulo: Companhia das Letras, vol. 4, 1991, p.13-76.
RAGO, Margareth. Mulheres na linha de frente. Jornal Unicamp, Campinas,
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
65
ed. Unicamp, n. 592, p. 7, mar./abr. 2014. Disponível em: <http://www.unicamp.br/unicamp/ju/592/mulheres-na-linha-de-frente>. Acesso em: 13 dez. 2017.
REIS FILHO, Daniel Aarão. Ditadura militar, esquerdas e sociedade. Zahar, 2000.
RIDENTI, Marcelo et al. Resistência e mistificação da resistência armada contra a ditadura: armadilhas para os pesquisadores. In: REIS, Daniel Aarão; RIDENTI, Marcelo; MOTTA, Rodrigo Patto Sá (Orgs.). O golpe e a ditadura militar: 40 anos depois (1964-2004). Bauru/SP: EDUSC, 2004, p. 117-124.
ROLLEMBERG, Denise. Esquerdas revolucionárias e luta armada. In: DELGADO, Lucília de Almeida Neves; FERREIRA, Jorge (Orgs.). O tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003, p. 2-39.
SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. Já se mete a colher em briga de marido e mulher. Perspectiva, São Paulo, vol. 13, nº. 4, p. 82-91, out./dez.1999.
SAFFIOTI, Heleieth Iara Bongiovani. Gênero, patriarcado, violência. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004.
SALES, Jean Rodrigues. Guerrilha e revolução: a luta armada contra a ditadura militar no Brasil. Rio de Janeiro: Lamparina, 2015.
SAPRIZA, Graciela. Memorias del cuerpo. In: ANDÚJAR, Andrea; DOMÍNGUEZ, Nora; RODRÍGUEZ, María Inés (Orgs.). História, género y política en los 70. Buenos Aires, Feminaria, 2005. Disponível em: <http://www.feminaria.com.ar/colecciones/temascontemporaneos/temascontemporaneos.asp#007>. Acesso em: 16 dez. 2017.
SOIHET, Rachel. História das mulheres. In. CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo (Orgs.) Domínios da história: ensaios de teoria e metodologia. Rio de Janeiro: Campus, 1997, p. 399-429.
TILLY, Louise A. Gênero, História das Mulheres e História Social. Cadernos Pagu, Núcleo de Estudos de Gênero/Unicamp, Campinas, SP, v. 3, p. 29-62, 1994. Disponível em: <www.cppnac.org.br>. Acesso em: 10 dez. 2017.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
67
A atuação da imprensa no contexto ditatorial (1968-1978)
Davi Elias Rangel Santos1
A História do Tempo Presente permite ampliar a compreensão sobre o conhecimento histórico. Nessa perspectiva insere-se o papel da imprensa durante a Ditadura Militar (1964-1985). A estrutura do sistema repressivo montada pelos militares, bem como, a atuação dos órgãos de repressão e a censura, visavam reprimir toda oposição e controlar a informação para preservar o regime. Neste quadro social e político, a imprensa foi fundamental para contribuir com uma determinada visão sobre contexto da época.
A ditadura militar e a relação com a imprensaNo contexto ditatorial, os editoriais e matérias assinadas
pelos jornalistas seguiam na direção ao pensamento do grupo que representava os interesses do jornal, isto é, eles falavam em nome daqueles que os patrocinavam. Os grandes jornais da época que possuíam um alcance maior de divulgação nacional2 estavam inseridos na lógica do capitalismo liberal, pois sobreviviam não só das assinaturas e vendas dos seus periódicos mais da publicidade, da propaganda e do patrocínio privado que fazia toda diferença no superávit financeiro das empresas de comunicação.
Essa relação entre o interesse privado versus o público como um dos elementos determinantes de interferência na esfera pública vai ao encontro da discussão estabelecida pelo pensador alemão Jurgen Habermas que entende o espaço público como “local de encontro, o
1 Mestrando em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do ES. Tema da dissertação: A memória positiva sobre a Ditadura Militar no ES: construindo o consentimento (1971-1975). Email: [email protected]
2 Foram eles: O Globo, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo, Jornal da Tarde, O Estado de São Paulo e a Revista Veja (SMITH, 2000, p. 97).
Das utopias ao Autoritarismo
68
lócus de todos nós e onde se manifesta o debate, por meio do qual o político se revela” (HABERMAS, 2003, p. 45).
A esfera pública para ele é o espaço da discussão política, das ideias e ações de pessoas privadas em prol de uma coletividade3. É nesse espaço que são debatidas e pensadas as necessidades da sociedade e as demandas que precisam ser atendidas pelos governos. Estes são os responsáveis pela administração da coisa pública. Através desse diálogo que se produz uma comunicação efetiva em busca do bem comum.
Sobre a opinião pública, o filósofo alemão entende que ela é forjada pela imprensa a qual deve ser racional e seguir um padrão moral tendo por objetivo tornar as decisões, as ações do grupo dominante públicas. Assim, passa a exercer a função de equilíbrio entre o poder administrativo e seu grupo de influências; ao mesmo tempo em que se torna o espaço de mobilização e de comunicação da sociedade civil, que precisa de visibilidade para ter suas necessidades atendidas. Interessante observar que a imprensa se coloca na função de porta-voz do povo.
O ato de tornar públicas as ações do governo, transforma seu exercício numa prática transparente e compreensível ao público. Ao transportar as decisões do poder até diversas camadas da opinião pública, a imprensa torna visíveis as demandas do público para o poder. Decorre daí uma ideia de representatividade que se diferencia da representatividade institucional encarnada nos partidos, eleições e representantes políticos. A história da opinião pública, portanto, se confunde com a história da imprensa (CARVALHO, 2010, p. 28).
A questão central é que Habermas critica o fato da imprensa ter se transformado num império da opinião pública não pública4, exercendo um papel coercitivo sobre a sociedade. Ela passa a atender as demandas dos grupos econômicos que a financia em virtude da lógica capitalista do lucro. HABERMAS (2003, p. 63) afirma:
3 Para maiores informações ver Habermas (2003).4 Para maiores informações ver também Bourdieu (1983).
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
69
a imprensa passa a atender as demandas dos grupos econômicos que a financia, os interesses privados, exercendo um papel coercitivo sobre a sociedade em virtude da lógica capitalista do lucro.
A estrutura de funcionamento da imprensa será modificada por influências de fora do seu métier que não possuem relação com natureza da sua função, mas com o papel dentro do contexto capitalista de produção na qual ela está inserida. A imprensa seria a instituição por excelência no processo de evolução da esfera pública. Ela cataliza a luta política partidária; politiza o público; potencializa a opinião pública. Entretanto, enquanto instituição de pessoas privadas com interesses públicos, a imprensa se transforma numa instituição pública de interesses privados.
Compreende-se que a imprensa é um ator social e político, porém, com um viés econômico que lhe determina objetivos, metas visando lucros financeiros para aumentar renda e as receitas das empresas jornalísticas de propriedade privada. Ao mesmo tempo ela possui um outro viés que é o de um espaço social, isto é, um organismo atuante na esfera pública, fundamental para o exercício da cidadania e da participação democrática
A imprensa brasileira também conserva sua meta de atuar como foro social. Idealmente, considera estar desempenhando um importante papel cívico ao proporcionar informações, debates e comentários. A imprensa se vê e passa a ser vista como um fator essencial para a cidadania responsável e a participação democrática (SMITH, 2000, p. 20).
Essas duas perspectivas, a de uma empresa de negócios e de ator político são as que geram tensões e conflitos com o Estado.
A imprensa brasileira acostumou-se a depender do Estado no que se refere a concessão de empréstimo bancários e aquisição de máquinas, de materiais gráficos, bem como, redes de rádio e televisão. MARCONI (1980, p. 98) afirma que “a maioria dos jornais simplesmente se acomodou, preferindo conviver pacificamente com a censura para evidente prejuízo de seus leitores, ouvintes e
Das utopias ao Autoritarismo
70
telespectadores” a enfrentar o regime. O regime militar utilizou-se de pressões econômicas para enquadrar alguns órgãos de comunicação.
Essas represálias contra a independência de certos órgãos da imprensa se materializaram na maior ou menor dificuldade de conceder empréstimos, na maior facilidade de permitir a importação de equipamentos vitais, na concessão ou não de publicidade oficial, nas pressões sobre anunciantes particulares (MARCONI,1980, p. 127).
Além do Estado, os anunciantes e investidores, donos dos próprios jornais movimentam os recursos ao desenvolvimento do próprio negócio. Essa proximidade com o poder estabelecida numa relação de dependência torna a imprensa um importante instrumento de controle social. SMITH (2000, p. 21) diz que “O Estado procura usar a imprensa como meio de controle da sociedade”. Durante a Ditadura Militar este ramo empresarial prosperou.
Considerando que a tiragem era tão baixa, a receita da grande imprensa provinha mais da publicidade do que das vendas aos leitores ... Seus proprietários admitiram publicamente que sem a publicidade os jornais não sobreviveriam ... Essa estrutura de receita deixava os jornais a mercê dos seus grandes anunciantes (SMITH, 2000, p. 57).
SOARES (1989) afirma que os jornais passaram a depender menos das vendas e mais dos recursos oriundos da publicidade que eram bancadas pelo Estado. Isso gerava pressões, conflitos de interesses entre os donos de jornais e seus patrocinadores. “A censura e a pressão econômica eram as principais formas de reprimir a liberdade de atuação da imprensa no Brasil” (SOARES, 1989, p. 27).
Os grandes jornais do país possuíam prestígio e poder, embora suas tiragens não atingissem muitos leitores. Isso se dava porque elas possuíam qualidade profissional, apoiavam a manutenção do status quo e eram instrumentos de dominação e manipulação mesmo havendo resistências no interior da imprensa.
A grande imprensa tinha uma tiragem numericamente baixa, mas elevada em termos de poder e influência. A qualidade da grande imprensa era razoavelmente
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
71
profissional ... Seu projeto visava claramente a apoiar o Status quo, conquanto isso não significasse necessariamente que ela se comportasse de maneira covarde em relação ao Estado (SMITH, 2000, p. 58).
Mesmo assim, a vulnerabilidade da imprensa era grande tanto no aspecto financeiro e profissional quanto o de segurança, em virtude dos instrumentos repressivos a disposição da Ditadura. A censura foi o meio mais rápido utilizada pelos militares. Outros meios também para obstruir o trabalho da imprensa foram utilizados com frequência: auditoria financeira, suspensão da publicidade, impedimento de empréstimos bancários entre outros5. Os governos eram os grandes clientes da imprensa (SMITH, 2000, p. 224).
A imprensa brasileira esteve e está na mão da classe dominante e, portanto, veicula para a opinião pública apenas a ideologia dominante, ela trabalha a favor da principal função de um Estado capitalista: assegurar a reprodução das relações sociais de produção (MARCONI, 1980, p. 138).
No período ditatorial foram construídos verdadeiros oligopólios que controlavam a informação que circulava no Brasil. O controle dos meios de comunicação nas mãos de poucas empresas jornalísticas gerava um controle maior da opinião pública, uma “uniformização das informações, colocando em risco o pluralismo das opiniões, condição essencial para uma verdadeira liberdade de informação” (MARCONI, 1980, p. 140)6.
O autoritarismo no contexto ditatorialA presença forte do Estado na economia, na política, na
cultura é um traço marcante da história brasileira. Por isso, além de definirem as regras do jogo decidem quem tem permissão para jogar, “atuar no Brasil é ter relação com o Estado” (MARCONI, 1980, p. 19). Ora a imprensa é aliada ora opositora ao estado de acordo com
5 Para maiores informações, ver Smith (2000).6 Seriam estes: Editora Abril, Grupo Globo, Diário Associados, O Estado de
São Paulo, Grupo Folha, Grupo Bloch e Jornal do Brasil (MARCONI, 1980, p. 139).
Das utopias ao Autoritarismo
72
as circunstâncias do presente. Já apoiou como também ajudou a derrubar presidentes.
Para tanto, deve-se olhar para os anos que antecederam a março de 1964. No momento pré-golpe, a partir do restabelecimento do presidencialismo em 1963 e dos plenos poderes a João Goulart, os jornais que possuíam uma concepção liberal de opinião pública de forma a qual “não se contrapusessem aos poderes instituídos e às regras que preservavam a democracia formal” (CARVALHO, 2010, p.121), se uniram em torno de uma mesma pauta: criar A Rede da Democracia7, firmando um posicionamento político contrário a ameaça a manutenção do status quo que representava as Reformas de Base de Jango.
A imprensa liberal se via como instituição responsável pela opinião pública, uma esfera de atuação na sociedade, desde que não gerassem manifestações populares contra a ordem vigente e sempre comprometida com a preservação das instituições e interesses dos grupos dominantes. Ela soube articular os discursos liberal e autoritário de forma a dar um sentido político próprio no contexto do pré-golpe e que culminou com o golpe.
Os jornais se colocaram na posição de porta-vozes autorizados e representativos de todos os setores sociais comprometidos com uma opinião que preservasse os tradicionais valores da sociedade brasileira ancorados na defesa da liberdade e da propriedade privada (CARVALHO, 2010, p. 158).
Quase a totalidade da imprensa apoiou o golpe em 1964, afirma Marconi (1980). Poucos jornais posicionaram-se contra o golpe como o caso do jornal Última Hora. Muitos outros, mesmo sem esclarecerem abertamente, apoiaram a Ditadura.
Em 1964 a imprensa foi a catalizadora do movimento golpista juntamente com outros setores da sociedade civil, como a classe média e alta, Igreja Católica, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) entre outros que se levantaram contra a mobilização de massas feitas por João Goulart como o comício na Central do Brasil.
7 Para maiores informações, ver Carvalho (2010).
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
73
Os empresários dos meios de comunicação expressaram claramente seus posicionamentos ao apresentarem à opinião pública um produto (jornal) tendencioso, parcial, além de terem demitido jornalistas independentes que não concordavam com o alinhamento e a acomodação frente as imposições do governo “revolucionário”. A busca constante dos militares foi a tentativa de legitimidade buscada junto a sociedade.
A relação entre a Ditadura e a imprensa neste contexto se deu diretamente por meio da censura. A questão que chama atenção em relação a Ditadura do Estado Novo (1930-1945) é a tentativa constante dos militares em esconder a ação censória nos jornais e periódicos. A busca pela legitimidade criava essa posição ambígua e dicotômica entre o apoio civil e a repressão aos opositores. Segundo SMITH (2000, p. 33) “O regime também se via constrangido por uma extraordinariamente ambivalente, porém, constante busca de legitimidade”. Embora os Atos Institucionais foram ao longo dos anos iniciais do regime forjando o seu caráter autoritário, o marco da censura política de forma institucionalizada se deu a partir do AI-5 promulgado em 13 de dezembro de 19688. Após este Ato a censura se tornou ativa nos órgãos da imprensa responsáveis pela divulgação da informação. Entretanto, desde o golpe de 1964 os órgãos de repressão já pressionavam os jornais a demitirem seus jornalistas mais críticos.
Seria exagero afirmar que a imprensa brasileira vinha gozando de inteira liberdade para noticiar fatos após o golpe de 1964. O recém-criado SNI já ensaiara as suas primeiras pressões junto aos proprietários de órgãos de comunicação para que os jornalistas considerados contestadores da revolução fossem sumariamente demitidos (MARCONI, 1980, p. 37-38).
O AI-5 suspendia todas as garantias constitucionais. Foi a partir dele que “a censura a imprensa se intensificou” (FICO, 2004, p. 253), tornando-se sistêmica, rotineira e partindo diretamente dos donos do poder naquele contexto histórico. Afirma ALVES (1985) que sua maior consequência foi o uso descontrolado do aparato repressivo
8 Para maiores informações sobre o contexto do pré-golpe, ver Gaspari (2014) e Ferreira e Castro (2014).
Das utopias ao Autoritarismo
74
do Estado na busca por eliminar seus opositores9. Em alguns casos, parte da imprensa reconhecia sua força e procurava espaços de manobras dentro do rígido sistema de controle do estado ditatorial.
Entretanto, a tentativa da imprensa de tirar vantagens da pouca liberdade que possuía, fê-la seguir o caminho do consentimento com a ditadura e não de confrontamento, assegura SMITH (2000).
A grande imprensa versus a imprensa alternativa: duas categorias da imprensa durante ditadura militar (1968-1978)
Para uma melhor compreensão da relação entre a imprensa e o governo ditatorial é importante entender duas categorias da imprensa durante a Ditadura Militar: a Grande Imprensa e a Imprensa Alternativa. Uma majoritária, dominante comercialmente; a outra mais crítica, não conformista e de relativo alcance social.
A imprensa alternativa era representada por jornais ou periódicos que não possuíam alcance nacional e se limitavam apenas ao seu alcance regional e não possuíam aporte financeiro suficiente para sobreviver em meio a repressão e a censura estabelecida pelos órgãos repressivos. Fato é que muitos desses órgãos de divulgação foram fechados ou faliram por falta de recursos financeiros10.
Os principais jornais foram: Pasquim, Opinião e Movimento. Ela experimentou e ousou no sentido de publicar aquilo que não poderia ser lançado na Grande Imprensa. De pequeno porte e poucas tiragens, esses periódicos apareciam e desapareciam com muita rapidez e não possuíam estrutura financeira capaz de suportar
9 De acordo com a tabela apresentada por Alves, com base nas informações do Diário Oficial entre os períodos de abril de 1964 a dezembro de 1979, o AI-5 serviu como justificativa para punição de mais de 1.607 pessoas entre parlamentares, prefeitos e governadores cassados.
10 No caso capixaba foi o jornal Posição: de caráter alternativo, combativo partiu para o enfrentamento a Ditadura imposta pelos militares e circulou na capital Vitória entre os anos de 1976-1979. Tinha por pauta matérias relativas aos movimentos sociais e denunciando a censura. Se tornou inviável comercialmente devido a falta de anunciantes e em decorrência de suas posições políticas. Para maiores informações ver Martinuzzo (2008).
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
75
as pressões do Estado. Mesmo tendo um alcance ainda menor de circulação, eles foram alvos da censura e da violência do estado ditatorial brasileiro.
Já a Grande Imprensa abrangia a empresas jornalísticas com capacidade de distribuição em todo território nacional como os casos dos jornais do eixo RJ-SP, como O Globo, Jornal do Brasil, Folha de São Paulo entre outros. Enquanto os jornais da Grande Imprensa sobreviviam da publicidade e da propaganda, a imprensa alternativa sobrevivia basicamente das vendas dos seus periódicos. Revistas e semanários confiscados pelo Estado levavam a falência muitos desses jornais.
Uma característica importante da imprensa brasileira era a presença de baixo número de leitores.11 SMITH (2000) afirma que os leitores tanto da Grande Imprensa quanto da Imprensa Alternativa eram membros das elites do país. PATTO (2013, p. 66) corrobora essa visão ao dizer que público que lia os jornais eram “grupos sociais privilegiados na escala social”.
Alguns fatores atribuídos para essa baixa circulação. A falta de cultura de massa no sentido da leitura do jornal, o analfabetismo, a pobreza e a presença da televisão e rádio.
Os jornais eram veículos de comunicação das elites [...]. No Brasil existe uma incapacidade de produzir um jornal que alcance as massas e as elites ao mesmo tempo (SMITH, 2000, p. 51).12
A lógica da censura prévia era estabelecer os critérios definidos pelos censores do que poderia ou não ser publicado de forma que não contrariasse o governo. Apenas alguns órgãos de divulgação da imprensa conviveram com a presença de censores em suas redações.13 A censura foi um instrumento de proteção do Estado para esconder o
11 Ver também SMITH (2000, p. 52).12 É possível perceber que o jornal é “uma espécie de comunicação entre as
elites o que influencia os debates entre elas, suas análises e discussões repercutem na sociedade enquanto produto cultural” (SMITH, 2000, p. 51).
13 Foram eles: O Estado de São Paulo, Movimento, Opinião, O São Paulo, Veja, Pasquim e Tribuna de Imprensa” (MARCONI, 1980, p. 60; SMITH, 2000, p. 97).
Das utopias ao Autoritarismo
76
autoritarismo e assim manter a aparência democrática. A censura é um instrumento de proteção do Estado, utilizado para esconder o próprio autoritarismo e, consequentemente, manter a aparência democrática: e também que a ditadura não foi integrada nem harmônica, sendo composta de diferentes setores com variados graus de autonomia (AQUINO, 1999, p. 235).
Ela determinava que todas as matérias a serem publicadas deveriam primeiro passar pelo crivo dos censores da Polícia Federal antes de serem liberadas para publicação. O regime procurava esconder da sociedade a censura política praticada na imprensa. Era comum fazer censura e não a admitir.
Porém, o tipo de censura mais comum e de maior efeito prático, restritivo era autocensura que basicamente representava um exercício restritivo interno do que podia ser publicado ou não. Ela foi uma imposição dos militares que através de procedimentos diários de controle, impedia a circulação das informações para os cidadãos, bem como, cerceava a garantia das liberdades civis.
Práticas rotineiras de bilhetinhos, telefonemas anônimos, visitas de policiais as redações, convocação de diretores e chefes de redação para prestarem depoimentos, foram fatos que exerceram uma grande pressão sobre a maioria da imprensa brasileira.
A autocensura teve um forte impacto sobre as publicações dos jornais devido ao receio de fechamento dos mesmos, das prisões, fim dos financiamentos ente outros. SOARES (1989, p. 39) afirma que a autocensura institucional era a forma mais comum de exercer o controle sobre a opinião pública. “A autocensura individual afeta o indivíduo em sua liberdade de expressão e no livre exercício do pensamento”.
Essa forma de abster conscientemente a informação por meio da autocensura foi a principal característica da imprensa brasileira. “Você sabe, mas não diz o que sabe ... o povo não fica sabendo que algo está sendo negado, subtraído” (SMITH, 2000, p. 136). A autocensura se tornou padrão de aceitação e de inércia da censura à imprensa. Ela não foi aberta e declarada a sociedade, porém funcionou no cotidiano
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
77
das redações porque a Ditadura queria legitimar-se. Foi esse sistema diário, anônimo, automático e não a força coercitiva usada pelos militares que teria “massacrado” a imprensa brasileira14.
SOARES (1989) vai dizer que a censura foi um instrumento de proteção utilizado pelo Estado ditatorial brasileiro, pois este queria apresentar-se democrático para a sociedade. A imprensa não conseguiu criar alternativas para fugir das rotinas impostas pela Ditadura. A inércia gerada através da rotina burocrática de censura, revela uma aceitação superficial por setores da sociedade da dominação imposta pelo sistema autoritário.
Como dito anteriormente, o regime autoritário queria ter legitimidade política e aceitação social. Nessa busca por legitimidade a imprensa possuía um importante papel nesse processo. Propagandas exaltando as conquistas do Estado eram constantemente publicadas para que circulassem junto aos leitores; notícias positivas do governo ditatorial por meio de Grandes Obras, Grandes Projetos como pontes, estradas, rodovias pelo país eram divulgadas com o intuito de mostrar o crescimento econômico, o desenvolvimento e que o futuro havia chegado.
Por intermédio do “Milagre Econômico” que coincidiu com o “espírito modernizante” do início dos anos de 1970, vários setores médios e industriais do país viveu um clima de grande otimismo. O problema do custo social dessas obras e a desaprovação quanto aos baixos benefícios dele para a sociedade não eram debatidos.
A ideia da “construção do novo” trazida no bojo do “Milagre Econômico” foi capaz de criar expectativas positivas, patrióticas, nacionalistas, mobilizando grande parte da sociedade. Isso mostra as formas diversificadas dos comportamentos sociais que representam o consentimento.
A historiadora Janaína Martins Cordeiro que investigou os discursos oficiais propagados pela Agência de Relações Públicas
14 Na visão de SMITH (2000, p. 12) “A censura era percebida como um sistema tão corriqueiro e abrangente que parecia funcionar automática e impessoalmente, a tudo abarcando”.
Das utopias ao Autoritarismo
78
(AERP) no governo do presidente Emílio Gastarrazú Médici (1969-1974), marcadamente permeado pelo tom otimista, no contexto das comemorações cívicas organizadas para o ano do Sesquicentenário (1972).15 O objetivo dela era compreender como se manifestou o consenso numa sociedade não democrática (a brasileira), haja vista, ser ele uma categoria que teoricamente só poderia ser aplicada em regimes democráticos.
CORDEIRO (2009) relata que embora nos lugares comuns da memória, os “anos de chumbo” foram cristalizados. A ideia de uma realidade marcadamente violenta, com perseguições e torturas para todos os lados que essa memória evoca, na verdade, foi vivida por uma pequena parcela da sociedade brasileira. Para a grande maioria esse período representou “anos de ouro”. Vários segmentos sociais passaram a largo do sistema repressivo e experimentaram uma prosperidade intensa, segurança, estabilidade e alívio em função da ação do estado contra a ameaça terrorista comunista.
É preciso compreender o milagre de forma mais ampla, como um modo de estar no mundo naquele momento e que, para além das possibilidade de ascensão econômica, oferecia também uma determinada visão de passado e expectativas de futuro promissor, a partir de um presente no qual essas pessoas deveriam apenas viver de acordo com as normas sociais estabelecidas (CORDEIRO, 2015, p. 325).
SMITH (2000, p. 47) diz que: “na busca pela legitimidade o regime transformou a imprensa numa entidade politicamente poderosa”.
Assim, é importante ressaltar que a censura sobre à imprensa no contexto ditatorial era inconstitucional. Mesmo sem respaldo no ordenamento jurídico da época a Ditadura não abriu mão da censura mesmo sendo ilegítima, coercitiva e ilegal. A censura continuou sendo praticada porque enquanto para alguns significava o cumprimento de ordens, consentimento com a ordem vigente, para outros, os militares, era atribuído um poder a imprensa que naquele contexto era exagerado.
15 Para maiores informações, ver CORDEIRO(2015).
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
79
A conciliação de instrumentos coercitivos e práticas de cooperação da imprensa com os governos militares criou uma espécie de “acordo forçado” entre o a Ditadura Militar e a imprensa. A maioria da imprensa consentiu com a autocensura imposta pelo regime. “A imprensa consentiu, porém não legitimou a censura imposta pela Ditadura” (SMITH, 2000, p. 213).
Portanto, a maneira de ver a Ditadura Militar e de fazer os discursos sobre esse período por parte da imprensa ou de sua maioria, representou o modo de ver e de fazer do próprio regime autoritário por intermédio da censura. Segundo Marconi (1980, p. 181), para Alberto Dines: “No Brasil a imprensa sempre viveu à sombra do poder controlando a informação”.
A Gazeta: o jornal capixaba no contexto ditatorial (1971-1975)
A grande imprensa capixaba, tendo por referência o jornal A Gazeta, experimentou as mesmas vicissitudes impostas pelo regime autoritário em âmbito nacional, salvo alguns traços e peculiaridades inerentes a cada região do país, em virtude da sua proximidade com o poder central ou em razão das relações de força estabelecidas pelo viés político e econômico dos estados no cenário federativo.
Entretanto, embora no cenário regional e nacional o Espírito Santo se caracterizasse como um estado discreto política e economicamente em relação aos outros entes da federação, um amplo sistema repressivo foi estruturado por órgãos ligados às forças armadas, entre os quais o Centro de Informação do Exército (CIE), o Centro de Informação e Segurança da Aeronáutica e o Centro de informação da Marinha (CENIMAR). De Angelo e Fagundes (2014, p. 158) afirmam que “A partir da década de 1970, é possível detectar a presença desses órgãos de segurança no Espírito Santo”.
Os órgãos de informação atuaram no estado também por meio das ASIs (Assessoria de Segurança e Informação) e das AESIs (Assessorias Especiais de Segurança e Informação) que marcaram
Das utopias ao Autoritarismo
80
presença em vários setores das repartições públicas capixabas38. Entretanto, um dos alvos principais era a imprensa local. “Monitorar a imprensa e os jornalistas era uma das tarefas prioritárias dos órgãos de informação que atuavam no Espírito Santo” (DE ANGELO; FAGUNDES, 2014, p. 164).
É nesse cenário repressivo e censório que se insere o jornal A Gazeta. Historicamente, um jornal com “claro posicionamento político e ligado as elites econômias” (MARTINUZZO, 2009, p. 13), sobretudo, a partir de 1948 quando foi adquirido para atender as demandas políticas do então governador do estado Carlos Lindenberg16. O referido periódico “Foi feito para atender as elites” (BOURGUIGNON, ARRUDA, 2005, p. 51).
Por conta dos interesses políticos interferindo no seu fazer diário desde então, o jornal A Gazeta passa a ser porta-voz da situação entre 1948 a 1963 num período em que 80% da população capixaba vivia no interior. Detalhe importante é que devido a ruralização do estado e a dificuldade do poder público em chegar com capacidade e presença para atender as demandas locais, os índices de analfabetismo eram altos. Assim, o jornal era consumido por um grupo restrito de cidadãos que viviam na capital Vitória, membros das elites políticas e econômicas, pois ele não tinha alcance nos municípios.
A Gazeta tinha um público leitor bastante restrito, mais urbano e mantinha-se com o resultado da venda avulsa, pouco expressiva em relação ao todo que o jornal gastava [...] Além disso, o periódico não possuía nenhum grande anunciante (SILVA et al., 2008, p. 144).
No contexto do golpe civil-militar, SILVA et al. (2008, p. 150) afirmam que “na manhã de 31 de março de 1964, as rádios e jornais capixabas já começaram a apontar sua posição favorável ou não à Ditadura de coalizão civil-militar que acabara de tomar o governo”. Segundo GENTILLI et al. (2013, p. 7), “O perfil de engajamento político à direita do jornal A gazeta foi transformado em virtude do golpe de 1964”.
16 Para maiores informações, ver FAGUNDES, OLIVEIRA, DE ANGELO (2014).
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
81
Assim, o jornal passa da linha editorial político partidário para a lógica empresarial na gestão do diretor executivo Carlos Lindenberg Filho que reassume o cargo em 1967. Além dos fatores apontados, o AI-5 teve um papel importante na mudança estrutural da grande imprensa não só capixaba mais nacional. Em função da radicalização do regime autoritário, ele “institucionalizou os sistemas repressivos que era o anseio da chamada “LINHA DURA” desde o golpe de 1964” (FICO, 2004, p. 269).
Em decorrência da censura e da repressão, o jornal A Gazeta, no contexto ditatorial, experimentou a transição daquilo que RONCHI et al. (2015, p. 02) definiram como “modelo opinativo para o informativo”. O jornal perdeu sua capacidade de apresentar ao público leitor o seu ponto de vista em relação aos fatos, assumindo uma lógica empresarial de um discurso mais objetivo, direto e imparcial. Para conquistar vantagens econômicas o jornal se alinhou ao discurso do poder autoritário.
A primeira metade dos anos de 1970 também configurou como um período em que as empresas dos meios de comunicação formaram verdadeiros conglomerados econômicos.
Apesar de a época do regime ditatorial ter sido um período de tensão dentro das redações, foi nesse tempo também que se estabeleceram as grandes empresas nacionais e locais de comunicação. Esses grupos assimilaram a censura oficial de maneira mais intensa, mais por questão de sobrevivência empresarial do que por ideologia, haja vista que a Ditadura recaiu por todos os setores da sociedade brasileira que, de alguma maneira, discordavam do regime imposto (RONCHI et al., 2015, p. 09).
No Espírito Santo o jornal A Gazeta estruturou-se numa linha organizacional empresarial, alinhando a profissionalização jornalística profissional dos seus funcionários, visando dar mais objetividade aos textos publicados, com a aquisição de modernos equipamentos da época que a tornaram uma potência da informação no cenário local. “O jornal adotou o perfil editorial da grande imprensa nacional” (RONCHI et al., 2015, p. 08). Ele se tornou o interlocutor das elites políticas e intelectuais do estado.
Das utopias ao Autoritarismo
82
Na década de 1970 a empresa pagava os melhores salários do mercado local e atraía profissionais gabaritados e de destaque. Vale citar que parte dos jornalistas ligados a grande imprensa comungavam dos princípios e valores do regime e que “não aderiram a ideia do retorno à democracia” (ASSAD, 2014, p. 6).
É correto afirmar que além o instrumento da censura foi um poderoso recurso persuasivo e de controle das informações divulgadas na sociedade capixaba. A censura foi percebida e sentida nas redações dos principais jornais do estado, tais como: A Gazeta, Jornal da Cidade, A Tribuna, O Diário e o jornal alternativo Posição que funcionou entre os anos de 1976-1979.
Considerações finaisA proposta de análise do presente, na vertente seguida pela
História do Tempo Presente, objetiva compreender as demandas sociais do presente em relação ao passado recente da nossa história, as representações do nosso passado ditatorial visando discutir o papel desempenhado pela imprensa capixaba na construção de uma memória positiva sobre a ditadura militar no Espírito Santo.
Para tal análise é necessário entender a dinâmica do controle da informação estabelecida pelo regime militar, como ela se inseriu no meio da imprensa de forma a contribuir para a produção do consenso pró-ditadura. Na questão local, é importante compreender quem produziu e quem patrocinou a propaganda e a publicidade utilizadas nos meios de comunicação no Espírito Santo nos anos de 1971 a 1975; os interesses políticos e econômicos ligados ao poder autoritário, bem como compreender como se construiu o discurso oficial do Regime Militar em solo capixaba, os caminhos trilhados pela comunicação/informação do governo estadual neste recorte histórico e suas contribuições para o fortalecimento do discurso pró-ditadura perante a sociedade local.
Relevante é identificar a presença do consentimento, através das formas de comportamentos sociais tais como: a indiferença, o
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
83
silêncio, a apatia, fascinação, adesão declarada, submissão declarada e que podem ter sido um elo entre a sociedade capixaba e a ditadura militar. Para tal fim, é essencial uma análise sobre o consenso social no período de 1971-1975 em território capixaba que supere os embates, as batalhas pela memória que produziram e ainda produzem uma bipolarização entre dominadores e vítimas que é frágil e limitadora para retratar o contexto histórico pesquisado, escondendo as variáveis complexas e heterogêneas sociais.
O Regime Militar brasileiro (1964-1985) é um período que nos mostra indícios de várias relações complexas entre a sociedade civil e o regime autoritário em solo capixaba, que carece de maior compreensão e estudo para trazer à tona as realidades vividas e sentidas pelo povo, as relações de poder constituídas entre os atores políticos e econômicos que estavam em cena naquele contexto ditatorial.
Referências BibliográficasALVES, Maria Helena Moreira. Estado e oposição no Brasil (1964 a 1984). Rio de Janeiro: Editora Vozes, 1985.
AQUINO, Maria Aparecida de. Censura, Imprensa, Estado Autoritário (1968-1978). O exercício cotidiano da dominação e da resistência. O estado de São Paulo e Movimento. São Paulo: editora Edusc, 1999.
BOURGUIGNON, Letícia Rezende; ARRUDA, Patricia. A Gazeta: uma longa história de tradição e transformações. In: MARTINUZZO, José Antônio (Org.). Impressões capixabas: 1965 anos de jornalismo no Espírito Santo. Vitória: DIO-ES, 2005, p. 10-20.
CARVALHO, A. As atividades político-partidárias e a produção de consentimento. In: QUADRAT, Samantha Viz; ROLLEMBERG, Denise (Orgs.). A construção social dos regimes autoritários 1: legitimidade, consenso e consentimento no século XX. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000, v. 2, p. 219-250.
CARVALHO, Aloysio Castelo de. A Rede da Democracia. O Globo, O Jornal e Jornal do Brasil na queda do governo Goulart 1961-1964). Niterói: Editora UFF, 2010.
CORDEIRO, Janaína Martins. O país do presente comemora o seu Sesquicentenário: ditadura, consenso e comemorações no Brasil (1972). In:
Das utopias ao Autoritarismo
84
Quadrat, Samanta Viz; Rolemberg, Denise (Orgs.) História e memoria das ditaduras do século XX, v.2. Rio de Janeiro: FGV. 2009.
CORDEIRO, Janaína Martins. A Ditadura em Tempos de Milagres: Comemorações, orgulho e consentimento. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2015.
FAGUNDES, Pedro Ernesto et al. O estado do espírito santo e a ditadura (1964-1985). Vitória: GM, 2014, p. 85-113.
FICO, Carlos. A pluralidade das censuras e das propagandas da Ditadura. In: REIS, Daniel Arão; RIDENTI, Marcelo; MOTTA, Rodrigo Patto Sá (Orgs). 1964-2004 40 anos do golpe: ditadura militar e resistência no Brasil. Rio de Janeiro, Editora: 7letras, 2004, p. 10-20.
GASPARI, Elio. A Ditadura Envergonhada. Rio de Janeiro, 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Intríseca, 2014.
GUERRA, João; GENTILLI, Victor. Transformações do jornalismo impresso capixaba no século XX: o caso de A Gazeta. In: 11º ENCONTRO NACIONAL DE HISTÓRIA DA MÍDIA, 2017, São Paulo. Anais: São Paulo, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2017, p. 1-14.
HABERMAS, Jurgen. Mudança estrutural da esfera pública: investigação quanto a uma categoria da sociedade burguesa. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003.
MARCONI, Paolo. A censura Política na imprensa brasileira (1968-1978). São Paulo: Editora Global, 1980.
MARTINUZZO, José Antônio (Org.). Quase 200 anos: a Imprensa na História capixaba. Vitória, Editora DIO-ES, 2005.
MARTINUZZO, José Antônio. A imprensa na história capixaba. 7º ENCONTRO NACIONAL DE HISTÓRIA DA MÍDIA, 2009, Fortaleza. Anais: Fortaleza, Universidade de Fortaleza, 2009, p. 1-15.
RONCHI, Ana Carolina; PORTO, Camille; DORNELLAS, Raquel et al: O olho do dono protege o gado: jornalismo e Ditadura Militar no Espírito Santo. 10º ENCONTRO NACIONAL DE HISTÓRIA DA MÍDIA, 2015, Rio Grande do Sul. Anais: Rio Grande do Sul, UFRGS, 2015, p.1-12.
SMITH, Anne-Marie. Um acordo forçado: o consentimento da imprensa à censura no Brasil. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2000.
SOARES, Gláucio Ary Dillon. A censura durante o regime militar autoritário. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 4, n. 10, p. 21-43, 1989.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
85
Atestado de Ideologia Política: repressão e ideologia política na ditadura militar (1964-85)
Amarildo Mendes Lemos (IFES)1
O presente trabalho tem o objetivo de identificar a alguns aspectos da ação de vigilância social do aparato repressivo, no Espírito Santo durante a ditadura militar sobre a sociedade capixaba, em especial, na vida de pessoas que não militaram em organizações políticas ou em movimentos sociais. Por meio da análise de documentos relativos à emissão do atestado de ideologia investigamos o papel da polícia política no âmbito da produção de informações e produção de documentação sobre a vida das pessoas como parte da repressão que se realizava sobre o conjunto da sociedade com vistas a anular a expressão e a circulação de ideias contrárias ao regime militar.
No presente, a emergência do “consenso neoliberal” traz à tona, novamente, o problema da ideologia única. A estrutura institucional da democracia e da liberdade promovida no ocidente se choca com o Estado de ideologia única que, em harmonia com os imperativos do capital, promove a redução da democracia ao pleito eleitoral dominado por partidos políticos submissos ao capital (MÉSZARÓS, 2012, p.14). A tendência à uniformidade ideológica e política com vistas a suprimir movimentos contrários à síntese liberal-conservadora da direita política pode ser verificada no Brasil no movimento organizado Escola Sem Partido, que reúne organizações não-governamentais, partidos políticos, empresários, religiosos, entre outros, na luta contra o que eles chamam de doutrinação ideológica. Segundo o movimento criado pelo procurador de Justiça do estado de São Paulo, Miguel Nagib,
EscolasemPartido.org é uma iniciativa conjunta de estudantes e pais preocupados com o grau de contaminação político-ideológica das escolas brasileiras, em todos
1 O autor é mestre em História pela UFES e professor de História do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (campus Serra); e-mail: [email protected].
Das utopias ao Autoritarismo
86
os níveis: do ensino básico ao superior. A pretexto de transmitir aos alunos uma “visão crítica” da realidade, um exército organizado de militantes travestidos de professores prevalece-se da liberdade de cátedra e da cortina de segredo das salas de aula para impingir-lhes a sua própria visão de mundo. Como membros da comunidade escolar – pais, alunos, educadores, contribuintes e consumidores de serviços educacionais –, não podemos aceitar esta situação.EscolasemPartido.org foi criado para dar visibilidade a um problema gravíssimo que atinge a imensa maioria das escolas e universidades brasileiras: a instrumentalização do ensino para fins políticos, ideológicos e partidários. E o modo de fazê-lo é divulgar o testemunho das vítimas, ou seja, dos próprios alunos. Pela descontaminação e desmonopolização política e ideológica das escolas. Pelo respeito à integridade intelectual e moral dos estudantes. Pelo respeito ao direito dos pais de dar aos seus filhos a educação moral que esteja de acordo com suas próprias convicções (sic).
Apoiar iniciativas de estudantes e pais destinadas a combater a doutrinação ideológica, seja qual for a sua coloração; Orientar o comportamento de estudantes e pais quanto à melhor maneira de enfrentar o problema; Oferecer à comunidade escolar e ao público em geral análises críticas de bibliografias, livros didáticos e conteúdos programáticos; Promover o debate e ampliar o nível de conhecimento do público sobre o tema “doutrinação ideológica”, mediante a divulgação de atos normativos, códigos de ética, pareceres, estudos científicos, artigos e links dedicados ao assunto (NAGIB. Quem Somos).
A perseguição àquilo que o movimento Escola Sem Partido chama de doutrinação ideológica tem produzido projetos de lei que buscam garantir que a ideologia política e religiosa do movimento seja protegida pelo Estado. Nesse sentido, eles atuam na promoção daquilo que o filósofo István Mészáros chamou de Estado de ideologia única, atendendo aos imperativos do capital. Segundo Mészáros,
Nas sociedades capitalistas liberal-conservadoras do Ocidente, o discurso ideológico domina a tal ponto a determinação de todos os valores que muito frequentemente não temos a mais leve suspeita de
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
87
que fomos levados a aceitar, sem questionamento, um determinado conjunto de valores ao qual se poderia opor uma posição alternativa bem fundamentada, juntamente com seus comprometimentos mais ou menos implícitos. O próprio ato de penetrar na estrutura do discurso ideológico dominante apresenta as seguintes determinações ‘racionais’ preestabelecidas: a) quanto (ou quão pouco) nos é permitido questionar; b) de que ponto de vista; e c) com que finalidade.
Naturalmente, aqueles que aceitam de modo imediato a ideologia dominante como a estrutura objetiva do discurso ‘racional’ e ‘erudito’ rejeitam como ilegítimas todas as tentativas de identificar os pressupostos ocultos e os valores implícitos com que está comprometida a ordem dominante. Assim, em nome da ‘objetividade’ e da ‘ciência’, eles precisam desqualificar o uso de categorias vitais do pensamento crítico. Reconhecer a legitimidade de tais categorias seria aceitar o exame dos próprios pressupostos que são assumidos como verdadeiros, juntamente com as conclusões que podem ser – e efetivamente o são – facilmente delas extraídas (MÉSZARÓS, 2012, p.58).
A preocupação com a ideologia política não é algo perdido no passado da ditadura militar. Chamamos a atenção para a presença em nossa realidade do problema do entendimento da divergência em relação à ideologia dominante como doutrinação, algo que se assemelharia à catequese, só que teria no lugar dos padres, professores acusados de impor sua forma de ver o mundo a alunos caracterizados como vítimas. O estudo do instrumento utilizado pela ditadura para controle social pretende trazer a compreensão dos problemas trazidos para a sociedade no passado e alertar para os problemas que vivemos no presente no que diz respeito à pretensão punitiva de determinados grupos que querem levar para o âmbito do Estado leis cujos fundamentos autoritários podem suprimir as liberdades democráticas estabelecidas no texto constitucional brasileiro promulgado em 1988.
Nesse sentido, Mészarós acrescenta queSeria ilusória a tentativa de explicar a ideologia meramente pelo rótulo de “falsa consciência”, pois o que define a ideologia como ideologia não é seu alegado desafio à
Das utopias ao Autoritarismo
88
“razão”, nem sua divergência em relação às normas preconcebidas de um “discurso científico” imaginário, mas sua situação real em um determinado tipo de sociedade. As funções complexas da ideologia surgem exatamente dessa situação, não sendo minimamente inteligíveis em termos de critérios racionalísticos e cientificistas abstratos a elas contrapostos, o que constitui meramente uma petição de princípio (MÉSZARÓS, 2008, p.8).
O ideal democrático, da forma como foi concebido na modernidade, não se harmoniza com o estabelecimento de limites à crítica da realidade, com o estabelecimento de um Estado de ideologia única. No entanto, um regime autoritário como o que se instalou no Brasil em 1964, arrogava para si o título de democrático. Mais ainda, nos documentos pesquisados, comumente encontramos carimbada a seguinte frase: “A Revolução de 64 é irreversível e consolidará a democracia no Brasil”. Porém, consolidar a democracia deveria significar a promoção da liberdade de pensamento e a autorização do dissenso, como forma de construção dos consensos a serem estabelecidos. A ditadura fez o contrário disso, impôs o consenso pelo medo da violência e também por meio da exclusão social que contou com o atestado de ideologia para ser realizada. Nesse sentido, a ditadura corresponde diretamente em termos ideológicos àquilo que é exigido no atestado de ideologia política, ou seja, a correspondência dos pensamentos e ações dos indivíduos aos valores da classe dominante, sem questionamentos que coloquem em xeque o status quo.
Origens do Atestado de Ideologia Política O fundamento jurídico-legal que permitiu a tipificação
e o enquadramento de determinadas formas de pensar/agir como “subversivo” tem raízes na “Lei Monstro” criada no contexto da Era Vargas e que permitiu ao Estado brasileiro combater ideologias políticas revolucionárias e partidos políticos calcados nessas ideologias, em especial o Partido Comunista do Brasil (PCB). Nesse contexto, a revolta comunista de 1935, condenada como um movimento que pretendia submeter a nação brasileira a um governo
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
89
estrangeiro, permitiu a “coesão ideológica anticomunista de militares, conservadores e autoritários” no Brasil (REZNIK, 2004, p.56). Após esse evento, tanto nas forças armadas como no restante da sociedade a repressão política de caráter anticomunista promoveu prisões e punições a partir de critérios ideológicos, com os crimes contra a ordem política e social tipificados.2
O temor propagado pela propaganda anticomunista conduziu o Brasil à ditadura do Estado Novo (1937-45). Nesse contexto, a repressão política se intensificou. No decreto-lei n.º 5.452, de 1º de maio de 1943, lemos no artigo 530:
Não podem ser eleitos para cargos administrativos ou de representação econômica ou profissional: a) os que professarem ideologias incompatíveis com as instituições ou os interesses da Nação.3
A repressão política realizada na ditadura do Estado Novo tinha como objetivo principal a repressão ao comunismo, contudo, a segurança do Estado era um tema que colocava sob vigilância política não só comunistas, mas também nazistas, fascistas e democratas. A vigilância política é indissociável do trabalho policial da polícia política. A existência de uma agência estatal com a finalidade de realizar a função de polícia política no Brasil data de 1933. No entanto, segundo Luiz Reznik, a documentação disponível demonstra que as atividades da Delegacia Especial de Segurança Política e Social (Desps) criada em 1933 e organizada em 1934 no Rio de Janeiro, na época distrito federal, se intensificaram após a Lei de Segurança Nacional e revolta comunista de 1935, em abril e novembro respectivamente.
Tanto o atestado de ideologia política, quanto a organização de delegacias especializadas em crimes relacionados com a ordem política e social têm origem no Estado Novo. Com a redemocratização em 1945 não foi abolida imediatamente a legislação que exigia a cobrança desse instrumento de controle nos órgãos públicos e autorizava que empresas também solicitassem. Em março de 1944 foi
2 A lei nº 38, de 04-04-1935 definiu crimes contra a ordem política e social.3 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del5452.htm#art530a.>
Acesso em: 20/07/2018.
Das utopias ao Autoritarismo
90
criada a Divisão de Polícia Política e Social (DPS) a aprtir da estrutura da Polícia Civil do Distrito Federal. Em 1945 a DPS foi extinta e foi criada a Delegacia de Ordem Política e Social (DOP) que tinha na sua estrutura interna dois setores especializados: “fiscalização trabalhista” e “ordem pública” (REZNIK, 2004, p.111-2).
A estrutura policial passou por um processo de estruturação e divisão do trabalho que permitia arquivamento, classificação e acesso a informações controladas pelo Serviço de Informações que atendia toda burocracia estatal, bem como empresas privadas que queriam saber sobre os “bons antecedentes” de seus empregados ou de candidatos a vagas de emprego ou concursos. O “nada consta” também era necessário para obtenção de registro de armas, participação em eleições de sindicato, entre outros motivos (REZNIK, 2004, p.118). Apesar das várias finalidades, a polícia se adaptou ao crescimento do mundo urbano-industrial que ensejou o aparecimento de movimentos de massa e grupamentos ideológicos aos quais o Estado desejava manter o controle. No contexto interno de transformações socioeconômicas e externo de Guerra Fria, o Estado brasileiro adotou uma Constituição de feição democrática, mas também se preocupou em definir crimes contra a ordem social e política na Lei de Segurança Nacional de 1953.
A regulamentação que pôs fim ao atestado de ideologia política foi o resultado de uma luta política travada por sindicatos e diversos movimentos sociais que se iniciou no governo de Eurico Gaspar Dutra (1946-1950). Somente em com a lei nº 1.667, de 1º setembro de 1952 que o atestado de ideologia política foi formalmente abolido. Em seu texto lemos: “Art 1º É revogada a alínea a do Art. 530 do Decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho). Art 2º É proibida, sob qualquer pretexto ou modalidade, a exigência do atestado de ideologia, ou qualquer outra que vise a apreciar ou a investigar as convicções políticas, religiosas ou filosóficas dos sindicalizados”.4
Enquanto a opinião pública se mobilizava para defender o 4 <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/1950-1969/L1667.htm>. Acesso
em 20/07/2018.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
91
monopólio estatal do petróleo, o mesmo não acontecia para repudiar a Lei de Segurança Nacional (REZNIK, 2004:91). Assim, o período democrático trouxe consigo o debate sobre as liberdades individuais, porém, a questão social e a mobilização dos trabalhadores por direitos trabalhistas associadas à existência de garantias constitucionais às liberdades individuais faziam com que instituições de direito privado, empresas, políticos (sobretudo os udenistas) e membros da polícia política se preocupassem com a segurança do Estado, para não dizer da propriedade. Tal preocupação se dava tanto na esfera federal e como na estadual. No Espírito Santo, na Lei Nº 719 de 07/03/19535, vemos:
Art. 21 – À Delegacia da Ordem Política e Social compete:
a) – a matéria relacionada com a ordem política e social, a economia regular e com crimes e contravenções referentes à organização do trabalho, à paz pública, à fé pública e à administração pública;
b) – fiscalizar os embarques e desembarques de passageiros por via terrestre e as pessoas em trânsito ou residentes em hotéis e habitações coletivas;
c) – controlar o fabrico, depósito, comércio e uso de explosivos e inflamáveis, armas e munições, substâncias corrosivas, tóxicas e entorpecentes;
d) – o serviço de registro de estrangeiros e o de porte individual de arma;
e) – a execução de todos os serviços secretos da Polícia Civil (destaques meus).
A questão da organização do trabalho, ou seja, o controle sobre a força de trabalho e dessa forma sobre os trabalhadores é um aspecto fundamental do trabalho das polícias políticas. A segurança do Estado, no contexto da economia capitalista requer trabalhadores disciplinados e distantes de ideologias que contestem o sistema econômico. Dessa forma, embora a lei nº1.667, de 1º de setembro de
5 Lei Nº 719 de 07/03/1953, publicada no diário oficial em 14/04/1953. <http://www.al.es.gov.br/antigo_portal_ales/images/leis/html/LO0719.html>. Acesso em 20/07/2018.
Das utopias ao Autoritarismo
92
1952 tenha extinguido formalmente o atestado de ideologia política, é possível encontrar registros de queixas contra a continuidade do mesmo procedimento, sem contudo utilizar a mesma terminologia. Em agosto de 1953 encontramos registros desse tipo de situação. Os movimentos de trabalhadores insistiam na acusação da permanência da perseguição política aos trabalhadores afirmando que sob o disfarce de “atestado de antecedentes criminais e políticos”,6 continuava a ser cobrado o atestado de ideologia política pelo Departamento Administrativo do Serviço Público (1938-1986), órgão criado durante a ditadura do Estado Novo “diretamente subordinado à Presidência da República, com o objetivo de aprofundar a reforma administrativa destinada a organizar e a racionalizar o serviço público no país, iniciada anos antes por Getúlio Vargas”(FGV-CPDOC).
Em nota do jornal O Globo de 08 de agosto de 1953, na matéria “O DASP não exige atestado de ideologia política”, o diretor de seleção e aperfeiçoamento do DASP negou que continuasse exigindo atestado de ideologia política e afirmou que tratava-se de um prova de investigação social, afirmando que
é um processo normal de apuração de idoneidade para o exercício de cargo público e, nesse sentido, se tem pronunciado invariavelmente, o Judiciário. (…) Qualquer pessoa de bom senso compreenderá a necessidade de se evitar que ingressem na administração pública e sejam investidos de autoridade que o Estado delega a seus servidores, indivíduos de maus antecedentes (APERJ. Dossiê: Atestado de Ideologia Política).
Em resposta, na defesa dos trabalhadores sai nota intitulada “O Atestado de Ideologia” no jornal O Dia de 09 de agosto de 1953 com o seguinte trecho:
Diz o diretor desse serviço [DASP] que é mentira o que se afirma com relação ao assunto, pois nunca se exigiu ali o famigerado atestado de ideologia aos que ingressam nos quadros do serviço público, mas apenas um atestado de “investigação social”, passado pela Polícia… Valha-nos
6 O DASP não exige atestado de ideologia política. O Globo, 08 ago. 1953. Arquivo Público do Rio de Janeiro. Dossiê: Atestado de Ideologia Política.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
93
Deus, pois os homens públicos dêste país já não sabem nem mesmo distinguir o alcance e o sentido dos vocábulos! Qual será a diferença encontrada pelo DASP entre um “atestado de ideologia” e um atestado de “investigação social”? Quem passa esse último? A mesma repartição que passava o outro, isto é, a Delegacia de Ordem Política e Social. E o que é “investigação social”, que objetivo tem, senão o de comprovar exatamente aquilo que o “atestado de ideologia” comprovava, que o portador não era elefante, mas coelhinho inofensivo por pensamentos, palavras e obras? Onde está, portanto, a diferença? Há apenas uma questão de nomes, mas os objetivos são os mesmos, num e noutro caso (APERJ. Dossiê: Atestado de Ideologia Política).
A pesquisa que fizemos não nos permite ainda afirmar que houve continuidade do uso do atestado de ideologia política ou de documento equivalente antes do golpe de 1964. Apesar disso, fica evidente que tanto a burocracia estatal como o empresariado se valeu da estruturação pela qual passou a Polícia Política, cuja profissionalização, modernização e nacionalização permitiu a normalização de procedimentos e constituição de um etos que objetivou a homogeneização de valores, concepções e códigos comuns, o que foi facilitado pelo intercâmbio de correspondência entre os agentes (REZNIK, 2004, p.148). A partir dessa modernização do aparato policial, a capacidade de acesso e circulação da informação, bem como do controle social sobre os trabalhadores foi aprimorado, permitindo a exclusão de indivíduos que não se adequavam à ideologia dominante.
Aparato repressivo estatal: autonomia e neutralidade ou alinhamento à ideologia dominante?
O aparato policial, montado durante em 1933, adquiriu cada vez mais organicidade e ao longo da década de 1950 uma ampla rede internacional foi se constituindo. Polícias, agências de inteligências e chancelarias diplomáticas do ocidente capitalista mantiveram, nesse período, estreitas relações para estabelecer “um conjunto de
Das utopias ao Autoritarismo
94
informações que subsidiasse o exercício de propaganda e repressão à ideologia e à ação comunistas” (REZNIK, 2004, p.174). Nesse sentido, Brasil e Cuba compareceram, como observadores, no XX Congresso da Comissão Internacional de Polícia que contou com 77 delegados de 36 países, que se encontram entre 11 e 15 de junho de 1951. Após a participação do Brasil no evento, o delegado de Segurança Política da Divisão de Polícia Política e Social do Departamento Federal de Segurança Pública, José Picorelli, apontava o conjunto de mudanças percebidas na polícia política brasileira e avaliava positivamente as transformações percebidas no trabalho por eles realizados. Segundo Picorelli, os departamentos de segurança
estruturaram serviços de investigações, criaram seções especializadas, instituíram setores técnicos, seriaram atribuições específicas, varreram regulamentos obsoletos, adotaram pesquisa científica, ergueram escolas de polícia, difundiram livros e revistas de policiologia, servindo-se, num labor de assimilação incessante, das lições de mestres, dos cadastros de prática, da experiência de aparelhamentos e organizações congêneres (REZNIK, 2004, p.175).
Com o Golpe de 1964, toda estrutura montada e conhecimento produzido durante a Era Vargas (1930-45) e durante o período democrático (1946-64) foi incorporada à estrutura repressiva montada pelos militares. É importante destacar que a estrutura policial durante a ditadura militar estava a serviço de uma ideologia política específica, a extrema direita, e correspondia aos interesses demandados pelo governo realizando espionagem, interrogatórios, prisões, torturas, atentados e homicídios (FICO, 2001). Da mesma forma, na base da hierarquia da estrutura montada em nível federal, nos estados a ideologia dominante era a mesma. O poder da ideologia não é algo que resulta do aspecto repressivo, ou seja, da violência imposta sobre a sociedade. O aparato repressivo, a estrutura policial, reforça a ideologia dominante, já que
o poder da ideologia dominante é indubitavelmente enorme, não só pelo esmagador poder material e por um equivalente arsenal político-cultural à disposição das classes dominantes, mas também porque esse poder ideológico só pode prevalecer graças à preponderância
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
95
da mistificação, por meio da qual os receptores potenciais podem ser induzidos a endossar, “consensualmente”, valores e práticas que são, na realidade, totalmente adversos a seus interesses vitais (MÉSZARÓS, 2008, p.8).
Na Delegacia de Ordem Social e Política (DOPS) no Espírito Santo, por exemplo, subordinada ao Governo do Estado do Espírito Santo, cumpriu funções de vigilância sobre questões ideológicas durante a Era Vargas e também depois durante o período democrático entre 1946 e 1964. Após o golpe de 1964, essa delegacia especializada integrou-se ao Sistema Nacional de Informações, e continuou sendo, após a criação do sistema DOI-CODI (reunia o Destacamento de Operações e Informações e o Dentro de Operações de Defesa Interna, cuidando da inteligência e da repressão, respectivamente), parte muito importante na consecução dos objetivos estabelecidos pelos militares em âmbito federal. Com a implantação do sistema DOI-CODI, a autonomia da DOPS foi reduzida, sendo limitada pelo Exército brasileiro que assumiu o controle do Estado brasileiro indicando todos os presidentes do período.
É importante destacar que o controle militar do Executivo não implica na exclusão de civis do aparelho estatal. O sistema DOI-CODI, criado em 1970, tem na sua origem a Operação Bandeirantes, criada em 1969, a qual contou com o financiamento de empresários para sua existência, demonstrando um caráter classista do golpe de 1964 e da ditadura que se seguiu. A respeito do papel dos civis na ditadura, Pedro Henrique Pereira Campos, afirma que:
a burguesia industrial paulista tinha como importante elemento constitutivo o grupo de empreiteros de obras públicas, e Delfim em várias decisões beneficiou o setor, como na ampliação das verbas para investimentos em obras e na reserva do mercado nacional às empreiteras brasileiras, para além dos favorecimentos individuais a empresas como a Camargo Corrêa. O poder de Delfim em suas gestões como ministro e a certa intocabilidade das áreas sob sua responsabilidade por outros agentes do aparelho de Estado, inclusive militares e o presidente da República, eram expressões do poder central que a burguesia brasileira tinha no regime ditatorial, com
Das utopias ao Autoritarismo
96
posição privilegiada para a fração industrial paulista (CAMPOS, 2017, p.308).
Além dos interesses da burguesia brasileira na repressão aos movimentos sociais e políticos ligados aos trabalhadores, evidente na criação da Operação Bandeirantes, o DOI-CODI, não se formou e se articulou somente a partir de iniciativas de brasileiros. Os serviços secretos que formaram a estrutura repressiva brasileira receberam maior qualificação a partir de relações com outros países desde a formação da Polícia Política no Brasil. Assim, a articulação da estrutura policial brasileira foi realizada a partir de diretrizes e conhecimentos adquiridos por meio de cursos de formação e capacitação realizados pelos estadunidenses que visavam o estreitamento de relações para obtenção de informantes e pessoas leais aos EUA. Segundo Martha Huggins, a aproximação da principal agência de inteligência dos EUA - CIA (Central Intelligence Agency) - das polícias estrangeiras tinha entre os seus objetivos cultivar
Relações com pessoal de polícia que pudesse informações secretas à CIA. As polícias políticas, em particular, eram alvos da CIA, ... [uma vez que] possuíam informações diretas sobre comunistas, ‘perturbadores da ordem’, políticos, militares ambiciosos, agitadores operários (...) [e poderiam] prestar serviços especiais para os Estados Unidos (LOBE, apud HUGGINS, 1998, p.105).
Por meio dos serviços secretos, os EUA garantiram apoios políticos nos países sob a sua influência e o sucesso almejado em relação aos seus objetivos e aos de suas empresas. Nesse sentido, a existência de oposição política no governo federal ou em governos estaduais era contornada pela articulação com as polícias políticas, com os serviços secretos, que desde a Segunda Guerra Mundial foram estreitando laços com os EUA e aderindo ao ideal anticomunista. Assim, independentemente da ideologia política do governo estabelecido, as conexões se mantiveram por meio de políticos, empresários e policiais alinhados com os EUA. Para tanto, conforme salienta o ex-chefe da CIA, Allan W. Dulles, a espionagem, no governo dos EUA, foi levada à posição mais influente do que em qualquer lugar do mundo. Allan Dulles reconhecia que a CIA deveria seguir o modelo do Serviço de
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
97
Segurança soviético, o qual além de ser uma organização de polícia secreta, de uma organização de espionagem e contraespionagem, constituía-se num “instrumento para a subversão, manipulação e violência, para intervenção secreta nos assuntos de outros países” (ARENDT, 2012, p.665).
A aproximação dos serviços secretos do Brasil com a CIA por meio de cursos de formação se justificava pelo argumento da profissionalização e formação de uma polícia técnica dotada de modernos conhecimentos, cujos fundamentos científicos permitiriam a neutralidade dos agentes em relação às ideologias políticas em conflito na arena política. Diante desse problema, concordamos com Martha Huggins, estudiosa da relação entre polícia e política, para quem “uma polícia aparentemente ‘neutra’ em relação à política e às classes contribuiu para mascarar e mistificar as relações de força realmente desiguais que impregnam uma hierarquia de classes sociais, da qual a polícia é parte e sustentáculo” (HUGGINS, 1998, p.12). Para Huggins, o monopólio da violência e o controle do aparato repressivo realizados na esfera estatal expressavam interesses dos grupos políticos e, sobretudo, das classes que controlavam o Estado.
Diferentemente dessa interpretação, na análise do papel da polícia secreta a partir da leitura da filósofa Hanna Arendt, identifica-se que o aparato repressivo desfruta de autonomia em relação aos grupos políticos. Segundo Arendt, mesmo as formações políticas democráticas dos chamados países centrais, dotados de um complexo industrial-militar moderno receberiam a interferência do governo invisível, ou seja, as democracias europeias e a americana também estavam submetidas ao poder secreto. Assim, nos governos constitucionais, os serviços secretos funcionariam para Hanna Arendt como um “Estado dentro do Estado” (ARENDT, 2012, p.566) por possuir o monopólio de “informações vitais” (ARENDT, 2012, p.567-8).
Dessa forma, segundo o pensamento arendtiano, os chefes políticos eleitos nos sistemas democráticos não conseguiriam garantir o controle sobre o serviço secreto. Somente no totalitarismo essa situação se inverteria e haveria a subordinação do aparato repressivo ao chefe de Estado. Isto porque, ao contrário do papel da polícia nos
Das utopias ao Autoritarismo
98
regimes democráticos, o “dever da polícia totalitária não é descobrir crimes, mas estar disponível quando o governo decide aprisionar ou liquidar certa categoria da população” (ARENDT, 2012, p.566). No totalitarismo, afirma Arendt, “os serviços secretos já não sabem coisa alguma que o líder não saiba melhor que eles. Em termos de poder, a polícia desceu à categoria do carrasco.” (ARENDT, 2012, p.567). Apesar disso, mesmo tendo sua importância reduzida, visto que a condenação de alguém à morte não requer formação de culpa, a polícia secreta permaneceria como principal instituição dos governos totalitários. Para Arendt, tanto a polícia secreta totalitária como a não-totalitária podem tirar
proveito das vítimas, suplementando o orçamento oficial autorizado pelo Estado por meio de certas fontes não ortodoxas, associando-se simplesmente a atividades que deveria combater, como o jogo e a prostituição. Esses métodos ilegais (...) iam desde a cordial aceitação de subornos até a franca chantagem, muito contribuíram para que os serviços secretos se libertassem das autoridades públicas, fortalecendo a sua posição como um Estado dentro do Estado (ARENDT, 2012, p.568-9).
A degeneração das ações policiais no controle e realização de atividades criminosas como furtos, contrabando, jogos clandestinos, assassinatos entre outras ilegalidades, quando parte “do aparelho de controle social se desburocratiza – p. ex., rompendo os vínculos formais com a burocracia oficial – mesmo se mantendo secretamente vinculado ao sistema formal de controle,” pode ser entendida como o resultado da criação de sistemas extremamente racionalizados de repressão.
Para Martha Huggins, a degeneração das ações policiais se relaciona com o modelo de profissionalização adotado pelas polícias. Assim, o estudo do processo de profissionalização do trabalho permite conhecer “as raízes e a dinâmica dessa dialética de internacionalização, centralização e recrudescimento do autoritarismo contra a degenerescência no interior de um sistema de controle social altamente racionalizado e moderno” (HUGGINS, 1998, p.27). De acordo com Huggins, o treinamento vendido pelos Estados
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
99
Unidos à América Latina, no contexto da Guerra Fria, configurava-se como uma “chantagem protecionista” que contribuiu para “a degenerescência e privatização da segurança interna convertida em mercadoria”, também transformou a “ação policial e a ‘segurança interna’ em produtos definidos pelo cliente, ‘comprados e vendidos dentro de um mercado’ promovendo ainda mais a expansão da expiral da degenerescência” (HUGGINS, 1998, p.28).
O estreitamento de relações durante o período democrático (1946-64), com o treinamento de polícias pelos EUA, resultou em condições de controle social adequadas a regimes autoritários uma vez que aumentou a eficiência do Estado no sentido de sufocar a participação dos cidadãos e a dissensão política. Os EUA incentivaram, de uma forma ou de outra, “a existência do governo autoritário mediante a militarização do controle interno”. Assim, ao contrário de ser um
recurso apolítico de transferência internacional de tecnologia (…) o treinamento de polícias estrangeiras tem sido utilizado quase exclusivamente para promover interesses e objetivos políticos específicos de segurança nacional dos Estados Unidos (HUGGINS, 1998, p. 9).
A interferência dos EUA nos assuntos internos da América Latina se relaciona com a aproximação com os governos autoritários que atuam na promoção de sua ideologia política. Relacionar o ideal democrático do governo dos EUA com o ideal democrático assumido pelos militares golpistas no Brasil pode parecer contraditório, porém, o discurso golpista de Carlos Lacerda já apontava suas semelhanças. A defesa das liberdades democráticas de Lacerda era articulada em um discurso que reconhecia a intervenção militar na derrubada de um presidente eleito pelo voto popular como algo legítimo e mais, como uma forma de salvaguardar a democracia.
O elitismo e o golpismo são características identificadas em toda a trajetória da UDN. O golpismo presente na UDN se relaciona diretamente com a visão de Carlos Lacerda. O “liberalismo restrito” corresponde diretamente ao elitismo e à sua “crença inabalável na presciência das elites”. A aceitação de um regime autoritário
Das utopias ao Autoritarismo
100
em 1964, o qual seria “transitório e necessário para a realização da democracia”, ou como disse Lacerda “defender o golpe para evitar o golpe por via eleitoral” não contrasta com o elitismo do partido diante do “confronto entre liberalismo e democracia, entre liberdade e igualdade” (BENEVIDES, 1981, p.282).
Assim, a criação do Sistema Nacional de Informações, em 13 de junho de 1964, com a “finalidade de superintender e coordenar nacionalmente as atividades de informação e de contra-informação, em particular aquelas de interesse para a segurança nacional” (KORNIS) contou com uma estrutura formada ao longo de décadas, a qual reproduziu uma ideologia específica e reprimiu ações e pensamentos contrários.
Ao fator exógeno, evidenciado por Martha Huggins, se relacionaram dessa forma aspectos endógenos na formação de uma estrutura repressiva degenerada em crime organizado, como foi denunciando em jornais locais, na obra do advogado Ewerton Guimarães, A chancela do crime (1978) e recentemente nas memórias do ex-delegado da DOPS-ES, Cláudio Antônio Guerra, Memórias de uma guerra suja (2012). Degenerada ou não, a polícia política cumpriu o papel de controle ideológico. Os alcances, limites e nuances da ideologia política que fundamentava o regime instaurado em 1964 estão presentes na documentação produzida pelo aparato repressivo. O uso da polícia secreta durante a ditadura militar (1964-1985) se relaciona, portanto, diretamente com a ideologia política do próprio regime. É importante lembrar que civis e militares se valeram do aparelho legal do Estado, mas também acionaram forças clandestinas como a Scuderie Le Cocq, oficialmente uma instituição filantrópica, reconhecida como sindicato do crime.
No Espírito Santo, o ex-delegado da DOPS, Cláudio Guerra, trabalhou diretamente para o coronel do Exército, Freddie Perdigão Pereira, em uma operação chamada Setembro Negro que tinha como objetivo prender os membros de uma brigada militar para averiguar se eram ligados à esquerda política. Esse episódio ilustra como que ações clandestinas eram usadas para espraiar a sensação de medo e legitimar o regime. Ao relembrar dessa operação
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
101
Cláudio Guerra ressalta:Erramos mais uma vez. A nossa desorganização, os ciúmes, a falta de entrosamento, tudo isso acabou impedindo que esse grupo colocasse em prática o que estavam planejando: uma enorme onda de atentados no país inteiro, usando a mesma tática nossa de atribuir a violência das ações à esquerda. Mais um erro de informação que acabou contribuindo para a abertura política (GUERRA, 2012, p.135).
Sabemos que não eram somente as organizações de esquerda que eram vigiadas. Arena e Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade, entre outros, também foram alvo dos agentes da DOPS, como podemos ver na documentação disponível produzida pelos órgãos ligados ao Sistema Nacional de Informações. Os conflitos internos e as disputas pelo poder político levaram os militares a manter vigilância sobre empresas, instituições religiosas, educacionais, de entretenimento, e ligadas ao meio ambiente.
A vigilância se valia da tortura para se informar e ampliar o conhecimento sobre os atores e se preocupava com os diversos temas que podiam reunir coletividades, justamente por que nessas ocasiões o debate sobre o regime político poderia acontecer. A tortura, uma prática presente antes e depois da ditadura, era parte de um sistema montado a partir de uma ideologia política que definia quem eram os elementos subversivos. Sua prática é justificada pela legitimidade atribuída à guerra contra o comunismo, para se produzir informações sobre o conjunto da sociedade e combater o inimigo interno. Essa formação ideológica servia de parâmetro não só para a violência como para a emissão do chamado Atestado de Ideologia Política.
O atestado de ideologia política na ditadura militar (1964-1985)
Para além dos poucos que aderiram à luta armada e
Das utopias ao Autoritarismo
102
dos que buscaram a estratégia da luta política, de forma pacífica, encontramos nos arquivos da polícia política capixaba nomes de outras pessoas que também tiveram suas vidas vigiadas. Os Dossiês pessoais formam um conjunto com 165 pessoas, algumas das quais conhecidas por sua militância e apoio à luta armada, como é o caso do jornalista Marcelo Amorim Neto que participou da publicação do livro, Memórias de uma guerra suja, narrado pelo ex-delegado Cláudio Guerra. Amorim, ex-militante preso por 13 meses, ressalta na apresentação da obra que na sua opinião “foi bom para o país que os militares tenham vencido aquela guerra suja dos anos 1970. O Brasil hoje é melhor do que seria se nós – o outro lado – os tivéssemos derrotado” (GUERRA, 2012, p.19).
Na direção contrária da interpretação de Marcelo Netto sobre o período, os estudos históricos tem apontado para a construção de uma memória social que polarizou a realidade histórica vivida e reduziu-a a dois sujeitos históricos: de um lado os militares e de outro a esquerda armada. A construção da memória do período 1964-1985 a partir dessa tensão entre a guerrilha e a ditadura deixa de lado outros aspectos da realidade como as divisões internas na caserna e também a existência de diversos movimentos de oposição ao regime militar. Nesse sentido, a tese de Vitor Amorim Ângelo (2011, p. 205) chega à seguinte reflexão:
Ao longo do trabalho buscamos analisar a relação entre a ditadura e a luta armada no Brasil e seus reflexos na memória social contruída a respeito daqueles anos. Contudo, a dinâmica do período militar não esteve reduzida a esses dois pólos, embora seja possível, como fizemos, analisar a ditadura a partir da tensão entre o regime e a guerrilha. (...) A luta armada (...) pouco teve de luta propriamente dita, embora a tese de que o Brasil vivia em uma guerra revolucionária durante a ditadura tenha ganhado força.
Assim, a realidade brasileira comportava mais nuances do que a visão dicotômica do período apresenta. Essa visão dicotômica da realidade está presente na documentação produzida pela DOPS capixaba. O fato de ter participado do Congresso da UNE, que
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
103
se encontrava na ilegalidade, em 1968, era motivo para que mais de uma década depois fosse negada ao requerente um atestado de ideologia política, prejudicando o mesmo em sua vida social. Encontramos indícios de que esse tipo de documentação continuou sendo requisitado até 1990 aqui no Espírito Santo, enquanto que em São Paulo existe uma lei de 1979 que proibiu a solicitação de atestado de antecedentes político-sociais para posse ou ingresso no serviço público estadual.
Os requerimentos para emissão do Atestado de Ideologia Política, nos Dossiês da DOPS-ES,estão classificados da seguinte forma: para fins de naturalização; aquisição de passaporte; para fins empregatícios; para fins diversos; para fins eleitorais; utilização de materiais explosivos; para fins de comercialização e depósito de fogos e artifícios; comércio e posse de armas, munições e explosivos. Além disso, encontramos na documentação as seguintes finalidades específicas para candidatos ao cargo de vigilante; para apresentação às Forças Armadas (por ocasião do alistamento militar obrigatório); para concurso de Juiz de Direito; para participar de direção de sindicato; para apresentação ao Detran para retirar Carteira Nacional de Habilitação (CNH); concurso Petrobrás; cargo na Companhia Vale do Rio Doce (CVRD, hoje Vale); cargo na Companhia Siderúrgica Tubarão (CST, hoje ArcelorMittal Tubarão); cargo na Samarco Mineração; iniciação na Maçonaria (sic); registro de candidatura a cargo político; registro de profissão (Conselho Regional de Contabilidade; de Medicina).
Das utopias ao Autoritarismo
104
Figura 1: Atestado de Ideologia Política. DES_0_INV_DPES_92. No texto podemos ler o seguinte: Atesto para os devidos fins que José Carlos da Silva não registra
antecedentes incompatíveis com o regime Democrático (27-09-1973 e 16-12-1971, respectivamente). Comprovante pagamento de taxa Requerimento de atestado de ideologia política BRESAPEES.DES.O.MP.3, p.168 BRESAPEES.DES.O.MP.3 -,
p.154. Fonte: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo.
O requerimento podia ser realizado por pedido próprio do interessado ou por pedidos oriundos de órgãos públicos ou de empresas, que encaminhavam suas listas de novos funcionários para a DOPS com o objetivo de identificar a presença de “subversivos” em seus quadros de funcionários. Assim, a delegacia que era demandada para perseguir e capturar os “inimigos da nação” também era responsável por emitir o atestado de ideologia política.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
105
Como havia um controle ideológico e social amplo e organizado por meio da Comunidade de Informações e o sistema repressivo integrava polícias estaduais, Marinha, Aeronáutica e com a centralização e comando das ações de controle político concentravam-se no Exército (FICO, 2001), as informações eram replicadas para todo o sistema e quando alguém solicitava o atestado de ideologia política os pedidos de busca se realizavam nos diversos arquivos caso houvesse novas informações que não estavam disponíveis imediatamente ao delegado da DOPS.
Na documentação observamos, por ora, que o delegado determinava ao investigador que realizasse uma investigação e produzisse um relatório após o seu serviço. A partir das conclusões e julgamentos realizados, depois de estar em posse do histórico individual era dado o parecer da DOPS. Esse procedimento, calcado na premissa que existem ideologias políticas permitidas e outras proibidas, atuou diretamente sobre a vida de muitas pessoas conforme massa documental disponível no Arquivo Público Estadual do Espírito Santo. Esses documentos não são, obviamente, um testemunho da verdade, mas permitem ao pesquisador conhecer mais sobre a ditadura civil-militar a partir da documentação oficial produzida para sustentar o próprio regime.
Ao observar a relação entre Estado e sociedade partimos da consideração que muitos setores da sociedade legitimaram o golpe de 1964. Movimentos religiosos, empresariais, dos meios de comunicação e políticos legitimaram o golpe de estado, que se realizava para supostamente salvar democracia. O regime militar produziu a autoridade e definiu o conteúdo político a ser colocado como gabarito para o julgamento. Consolidar a democracia no Brasil não passava, contudo, pelo cumprimento de um conteúdo fundamental da democracia, a autorização do dissenso, o reconhecimento da pluralidade, já que no lugar das liberdades individuais estava um pensamento padronizado, calcado numa estrutura repressiva. “Subversivo nos meios estudantis e sindicalizados”, eis uma caracterização comum em documentos diferentes que reflete o perfil de alguém que mesmo não sendo preso, torturado ou morto, mas está
Das utopias ao Autoritarismo
106
impossibilitado, por outro lado, de requerer o Atestado de Ideologia Política.
Aly Edmundo Poletti, por exemplo, pleiteou um emprego na Petrobrás em 1971, porém, era um “elemento considerado subversivo nos meios estudantis e sindicalizados” por “agitação no sindicato ferroviário”. Apesar de conceituado e estigmatizado, dessa forma, não há detalhamento na documentação dos atos que levaram a esse julgamento. Paradoxalmente, seu nome não consta nos nomes elencados nos 165 Dossiês Pessoais da DOPS, o que leva a dois caminhos, ou Aly foi fichado e sua documentação sumiu ou ele não era considerado uma pessoa importante no conjunto das ações e objetivos da DOPS.
Nos documentos da DOPS encontramos mencionadas na documentação pesquisada até então, uma relação direta das seguintes empresas com essa delegacia: Aracruz Florestal, Escelsa, Telest, Nova Brasília, Cimento Paraíso, Bom Preço, Frigorífico Paloma, Aracruz Celulose, Samarco, CST, CVRD, Novotel, Transportadora Continental, Vitória Disel, COFAVI, Portocel, SAMA. Viação Águia Branca, Sindicato dos Arrumadores “Minas Forte”, Chocolates Vitória, Garoto, FINDES, Dadalto. A ligação do aparato repressivo com o empresariado é mencionada especificamente em um documento gerado após um “levante dos operários daquela empresa num total de quase 200 homens que estavam destruindo as instalações da cantina” (Caixa 29 – p.93). A empresa Morrison Knudsen Internacional de Engenharia S. A. (MKI) possui um dossiê datado entre os anos de 1975 e 1979 no qual consta um relatório advertindo que
Os órgãos de segurança não têm conhecimento dos operários ali contratados pelas empreiteiras. O certo seria que as empreiteiras e sub-empreiteiras, depois de contratar os operários, enviassem cópias xérox da relação para o DPM de Guarapari, DOPS e PM/2, pois assim poderíamos verificar se haveria algum elemento subversivo ou fugitivo da justiça, de outros estados (Ibidem).
Nota-se que a empresa não fazia um levantamento do histórico de todos os componentes de seu quadro de funcionários.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
107
No entanto, o tal levante ocorrido na empresa Morrison não tinha relação alguma com qualquer ideologia política. O que fica evidente é que havia insatisfação com os maus-tratos sofridos. Os agentes da DOPS constataram alguns fatores explicativos para o “quebra-quebra”: péssima qualidade da alimentação; falta de higiene; policiais militares e vigilantes tratavam operários com brutalidade, sendo que os guardas “desciam o pau nos peões”. Mas mais especificamente o que ocasionou o evento foi o fato de o décimo-terceiro salário não ter sido pago no final do ano de 1975. O ocorrido gerou a necessidade de a empreiteira citada encaminhar uma lista com os funcionários para averiguação por parte da DOPS. As listas dos funcionários antigos e dos recentes foram encaminhadas ocupando longas páginas da documentação com um total de 208 páginas.
Com uma plataforma política direcionada para a defesa dos interesses populares o político Max de Freitas Mauro possuía um dossiê pessoal, e inúmeras referências em outros dossiês como o do MDB/PMDB, na Delegacia de Ordem e Política Social. Em um evento que aglutinou a esquerda capixaba realizado em 1984, seminário Paz e Democracia, promovido com o objetivo de legalizar os partidos comunistas, algumas personalidades foram premiadas. Entre elas encontramos o então deputado federal pelo PMDB, Max de Freitas Mauro, homenageado pela sua atuação política nacional. À frente do seu nome encontra-se, nos registros feitos pelo agente da DOPS entre parênteses a sigla PC do B.7 Obviamente eles sabiam que Max era do PMDB, pois estava registrado assim, mas a sigla do Partido Comunista do Brasil aparece erroneamente identificando-o como um membro da célula desse partido. Em outro documento podemos observar que Max é classificado como “elemento infiltrado de tendência anarquista” (MAURO, 2002, p.91).
Por identificações equivocadas como essas que os próprios militares costumavam chamar os policiais das delegacias de ordem e política social de “corruptos, incompetentes, desonestos e preguiçosos” (RAMOS, 2010, p. 128). No entanto, os arquivos da repressão ainda não foram exaustivamente pesquisados, sobretudo
7 BRESAPEES.DES.O.MP.3, p.184.
Das utopias ao Autoritarismo
108
em relação ao estado do Espírito Santo. Muito do modus operandi do aparato repressivo e das dificuldades e facilidades encontradas por eles ainda está por ser revelado. Reconhecemos a impossibilidade de reconstituição de todos os casos vividos, cujos fragmentos podem ser encontrados na documentação. No entanto, as narrativas produzidas na documentação permitem conhecer mais sobre o papel desse tipo de procedimento e de suas imbricações no conjunto das relações sociais.
A incompatibilidade com o “Regime Democrático” imposto com o Golpe de 1964 podia ser o resultado de inimizades com pessoas do aparato repressivo ou ligadas a ele; questionamentos sobre salário, moradia, saúde; críticas a membros do governo federal ou estadual, ou a militares. A ideologia do regime requeria a concordância acima de tudo, a ausência de questionamentos como fundamento básico do sujeito compatível com o “Regime Democrático”. Nunca o dissenso, sempre o consenso. A Segurança Nacional nos moldes da ideologia dominante, mais do que perseguir o comunismo, perseguiu a divergência, o contraditório e, dessa forma, contribuiu tanto para a exclusão dos divergentes como para afirmação dos valores compatíveis com o autoritarismo do regime.
Considerações finaisO fenômeno do controle social e político por meio da
polícia política durante a ditadura militar (1964-1985) não pode ser separado de ações de violência tout court. A eliminação física foi um expediente utilizado em muitas ocasiões para a eliminação de adversários do regime militar. No entanto, o trabalho realizado pela polícia política e seus efeitos ultrapassam os casos desse tipo violência. Tortura, assassinato, ocultação de cadáver e ameaças às famílias de militantes comunistas são acontecimentos denunciados durante o próprio regime militar e vieram ao grande público em 1985, nos estertores da ditadura, na obra Brasil: nunca mais, um testemunho e um apelo, nas palavras do cardeal Paulo Evaristo Arns, para que esses absurdos fossem extintos. Porém, o trabalho de vigilância política trouxe muito prejuízo à sociedade, sem que a mesma, muitas vezes,
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
109
tomasse consciência das amplas consequências da ação da polícia política sobre ela.
A partir de nossa pesquisa, procuramos tornar evidente que, juntamente à atividade de repressão, a polícia também atuou no setor de inteligência promovendo a vigilância sobre o conjunto da sociedade, não reduzindo sua atuação a pessoas enquadradas como criminosos pela Lei de Segurança Nacional, conforme a tipificação penal vigente naquele período. Todas as formas políticas (autoritárias e democráticas; direita, centro e esquerda) ou movimentos que poderiam ser produzir impactos políticos foram objeto de atenção do sistema repressivo. Assim, a extensão dos prejuízos causados à sociedade pela ação de uma estrutura repressiva moldada por uma ideologia única de conteúdo autoritário vai além do cálculo do número de pessoas apreendidas, torturadas e mortas.
Os serviços de inteligência aliados à ação repressiva permitiam a seleção de determinados padrões ideológicos e comportamentais socialmente aceitos. A vigilância com vistas à manutenção de uma ordem política e social instaurada a partir do Golpe de 1964 permitiu reprimir o contraditório e restringir um conjunto de ações que se chocavam com a ideologia hegemônica. Dessa forma, o controle sobre o tecido social se realizava de forma a reservar os altos degraus da estrutura social para os que, com sua ideologia, reforçavam a dominação política exercida pelo regime, que cuidava para que a ordem econômica e social fosse preservada.
A presença de valores e posturas autoritárias no presente se relaciona com esse longo período em que os lugares sociais eram determinados pelos “bons antecedentes” que indicavam que a ideologia política de determinada pessoa era compatível com o “Regime Democrático” dos golpistas. No presente, vemos saudosismo em relação ao período em que os militares governaram o Brasil e apologia a “Intervenção Militar Constitucional”. Como no passado, os golpistas procuram controlar a produção e reprodução da ideologia como forma de eliminar o dissenso e garantir a existência de uma ideologia única, o Estado de ideologia única, de que falou István Mészáros, como um imperativo do capital.
Das utopias ao Autoritarismo
110
Referências:Endereços eletrônicos:
NAGIB, Miguel. Escola Sem Partido. Objetivos. Disponível em: <http://www.escolasempartido.org/objetivos>. Acesso em: 27 jul. 2018.
NAGIB, Miguel. Escola Sem Partido. Quem somos. Disponível em: <http://www.escolasempartido.org/quem-somos> Acesso em: 20 jul. 2018.
FGV-CPDOC. Departamento Administrativo Do Serviço Público (DASP). Disponível em: <https://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/AEraVargas1/anos37-45/PoliticaAdministracao/DASP>. Acesso em: 20 jul 2018.
KORNIS, Mônica. Serviço Nacional de Informação (SNI). Disponível em: <http://www.fgv.br/CPDOC/BUSCA/dicionarios/verbete-tematico/servico-nacional-de-informacao-sni>. Acesso em: 20 jul. 2018.
Arquivos:
Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APE-ES). Fundo Delegacia de Ordem Social e Política do Espírito Santo (DES). Caixa 29. BRESAPEES.DES.O.MP.3, p.184.
Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro (APERJ). Fundo Divisão de Polícias Políticas do Rio de Janeiro (PPRJ). O Atestado de Ideologia. O Dia, 09 ago. 1953.
O DASP não exige atestado de ideologia política. O Globo, 08 ago. 1953.
Bibliografia:
ARQUIDIOCESE DE SÃO PAULO. Brasil: nunca mais. 3. ed. Editora Vozes: Petrópolis, 1985.
ÂNGELO, Vitor Amorim de. Ditadura Militar, esquerda armada e memória social no Brasil. São Carlos: EDUFSCar, 2011.
ARENDT, Hanna. Origens do Totalitarismo. Antissemitismo, imperialismo, totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
BENEVIDES, Maria Victória de Mesquita. A UDN e o udenismo: ambiguidades do liberalismo brasileiro (1945-1965). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1981.
CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. Estranhas Catedrais: as empreiteras
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
111
brasileiras e a ditadura civil-militar, 1964-1988. Niterói: Eduff, 2017.
GUERRA, Cláudio; MEDEIROS, Rogério de; NETTO, Marcelo. Memórias de uma Guerra Suja. Rio de Janeiro: Topbooks editora, 2012.
FICO, Carlos. Como eles agiam. Os subterrâneos da Ditadura Militar: espionagem e polícia política. Rio de Janeiro: Record, 2001.
HUGGINS, Martha K. Polícia e Política: relações Estados Unidos/ América Latina. São Paulo: Cortez, 1998.
MAURO, Max de F. A luta de um democrata contada pelo arbítrio: pronunciamento sobre o uso político do serviço secreto brasileiro. Brasília: Coordenação de Publicações da Câmara dos Deputados, 2002.
MÉSZÁROS, István. Filosofia, Ideologia e Ciência Social. São Paulo: Boitempo editorial, 2008.
MÉSZÁROS, István. O poder da ideologia. São Paulo: Boitempo, 2012.
REZNIK, Luís. Democracia e Segurança Nacional. A Polícia Política no pós-guerra. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2004.
RAMOS, Luiz Fernando. Nossa vigilância é a sua segurança: a cooperação CENIMAR e Dops/MG. SINAIS – Revista Eletrônica. Ciências Sociais, Vitória, CCHN, UFES, n.07, v.1, p. 123-144, jun. 2010.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
113
A Atuação dos Órgãos de Repressão no Espírito Santo (1964-1985)
Márcio Gomes Damartini1
Quando analisamos o período militar no Espírito Santo, identificamos que grande parte da sociedade capixaba colocou-se a favor dos militares. Por conseguinte, essa visão positiva em relação ao golpe acontecido em 1964 serviu para a construção de um ideário que minimizava a ação dos órgãos de repressão no Estado. Contudo, com os estudos mais recentes, essa visão uníssona passou a ser questionada, principalmente a partir da disponibilização dos documentos oriundos das vigilâncias e da ação desses órgãos no Espírito Santo, que se intensificou a partir de 1968. Entretanto, desde a tomada de poder pelos militares houve expurgos, prisões e tortura das pessoas ou grupos ligados ao ex-presidente João Goulart no território capixaba.
De acordo com FAGUNDES (2014, p.10), a saída do presidente provocou reação dos setores alinhados com o Governo Federal no Espírito Santo. A Frente de Mobilização Popular (FMP/ES) e a União Estadual dos Estudantes (UEE/ES) elaboraram notas que foram publicadas no Jornal A Gazeta, criticando o golpe dado pelos militares no Brasil. Outra ação do grupo contrário à derrubada do Presidente foi uma passeata realizada no dia primeiro de abril de 1964.
Contudo, segundo o autor, a onda repressiva que gerou centenas de detenções e prisões de sindicalistas foi muito mais abrangente do que a reação dos partidários do presidente. Assim como aconteceu a nível nacional, o expurgo dos contrários ao golpe no Espírito Santo foi muito grande. Fora os membros da FMP e da UEE, dirigentes do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) e militantes do Partido Comunista Brasileiro (PCB) foram detidos durante horas ou até por semanas. Para o pesquisador, o caso mais extremo foi o acontecido com o militante estudantil Jaime Lana Marinho, estudante de Odontologia da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES)
1 Mestre em História (UFES) e professor da rede estadual de ensino do ES.
Das utopias ao Autoritarismo
114
e dirigente da UEE/ES que durante o período de sua detenção foi submetido a uma série de pressões e torturas. E a repressão atingiu outros setores da sociedade capixaba.
FAGUNDES (2014, p.10) ressalta que houve a cassação do parlamentar Ramon de Oliveira Neto, acusado de ter ligações com o Presidente deposto. Fora do parlamento, um dos locais em que as ações repressivas funcionaram de forma intensiva foi na UFES. Primeiramente houve o afastamento do Professor Manoel Xavier Paes Barreto do cargo de reitor da universidade, sendo que a única “acusação” que pesava sobre ele era o fato de ter sido nomeado por João Goulart. E aprofundando a “limpeza ideológica” dentro da instituição, foram instalados vários inquéritos administrativos. No que pese todo esse expurgo realizado no Espírito Santo, logo após o golpe militar vários setores da sociedade capixaba se organizaram para festejar a “revolução” de 1964.
Segundo o pesquisador, vários eventos foram organizados no Estado, com destaque para as Marchas da Família com Deus. A primeira mobilização aconteceu no dia 15 de abril de 1964, data da posse do presidente Humberto Castelo Branco, havendo uma grande comemoração nos dias anteriores e posteriores à posse, com destaque para a publicação de várias notas em jornais.
Para o autor, entre as entidades que fizeram uso do espaço jornalístico destaca-se a Câmara Municipal de Vereadores de Vitória, a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) e a Federação do Comércio do Estado do Espírito Santo (Fecom-ES). Também aproveitando a imprensa para externar o seu apoio à tomada do poder pelos militares, parte do empresariado capixaba patrocinou um caderno especial na edição de A Gazeta, do dia 19 de abril. O matutino publicou as mensagens da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (ALES) e de várias empresas, que viram na ação dos militares a salvação do Brasil da ameaça comunista. Dentre tantos eventos de apoio, o que mobilizou mais setores da sociedade capixaba foi a “Marcha com Deus pela Liberdade”. O historiador destaca que o evento aconteceu em vários locais do Brasil, tendo como base a luta anticomunista, que se aglutinou em torno de várias entidades, dentre elas a Igreja
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
115
Católica, as Forças Armadas, grupo de mulheres, totalizando cerca de 69 marchas, fora as acontecidas no Espírito Santo.
Segundo o autor, a primeira marcha no Estado aconteceu na cidade de Cachoeiro do Itapemirim. Na edição do Jornal A Gazeta, do dia 23 de abril, foi noticiado o sucesso do evento. Na mesma edição foram divulgados os preparativos da Marcha em Vitória, que aconteceria dia 25 de Abril, ação destacada também pelas emissoras de rádio. O evento foi organizado por grupos de senhoras, que mobilizaram toda sociedade para participação no evento. Os preparativos para a Marcha receberam grande espaço para divulgação no Jornal A Gazeta, na edição do dia do evento. Segundo o autor, o veículo de comunicação noticiou que a Marcha foi a maior manifestação popular da história do Espírito Santo. Em relação ao evento em si, o noticiário destacou a amplitude de setores que participaram bem como a relação dos oradores, demonstrando como vários setores da sociedade capixaba aceitavam a intervenção militar. Ainda de acordo com o jornal, o ponto culminante da manifestação foi o discurso do coronel Newton Reis, representante do comando revolucionário no Espírito Santo.
Analisando as mobilizações, fica explícito o amplo apoio das classes médias urbanas, que juntamente com os outros setores, principalmente a elite empresarial e política, deram a ação realizada pelos militares. Esses atores sociais sempre quiseram passar uma imagem positiva do período militar, ocultando que a repressão funcionou no Estado.
A ação do aparato repressivo no Espírito SantoComo destacamos o apoio dado inicialmente ao Golpe
Militar no Espírito Santo foi bem maior do que a resistência à derrubada do Presidente. De acordo com Fagundes e Angelo (2014, p. 152), mesmo com a perversa herança dos grandes projetos industriais implantados no Estado durante o Período Militar, o aspecto mais ressaltado é a visão positiva da ação dos militares no Espírito Santo, chegando a se tornar praticamente uma história oficial. Desse modo
Das utopias ao Autoritarismo
116
essa memória positiva serviu para encobrir todo o processo de perseguição, prisão e tortura de várias pessoas no território capixaba. Essa visão parcial passou a ser questionada a partir de uma série de ações, como a organização dos arquivos e a realização de vários trabalhos que mostraram uma visão mais completa desse período no Espírito Santo.
O processo de perseguição que aconteceu no Estado teve seu auge no final da década de 1960 e início da década de 1970 quando o Serviço Nacional de Informação (SNI), articulado com outros órgãos, funcionou a todo vapor na vigilância e perseguição aos subversivos.
O aumento da repressão a partir da atuação do SNIDe acordo com FAGUNDES e ANGELO (2014, p. 154), a
repressão mais intensa no Estado ocorreu com a implantação do SNI na capital capixaba. O documento mais antigo emitido pelo órgão é datado de novembro de 1968, um mês antes da decretação do AI-5. Trata-se de um ofício assinado pelo coronel José Sylvio Alves, chefe da agência do SNI/Vitória, e encaminhado ao diretor da Faculdade de Medicina da UFES solicitando informações como nome, endereço, sexo, ocupações anteriores e atividades políticas dos investigados pelo órgão. No documento, a chefia do SNI na capital capixaba solicita que todas as informações sejam encaminhadas para a sede do órgão. Os autores destacam que existia preocupação em sanear ideologicamente o campus da universidade, principalmente porque o movimento estudantil foi o setor mais incisivo na crítica aos militares no final da década de 1960.
Essa solicitação de informações feita pela agência estadual do SNI a outro órgão fazia parte do modus operandi do aparato repressivo montado nos estados. No caso do Espírito Santo, o SNI atuou em conjunto com os outros órgãos de repressão, como o Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), o Departamento da Polícia Federal (DPF), a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Militar e o 3º Batalhão de Caçadores (BC). Excetuando esses órgãos ligados à segurança pública – para reforçar a vigilância sobre os
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
117
órgãos federais existentes no Estado, como por exemplo, a UFES – foram criadas as Assessorias de Segurança e Informação (ASI) e as Assessorias Especiais de Segurança e Informação (AESI).
FAGUNDES (2013, p. 306) destaca que a vigilância exercida na UFES aconteceu a partir de 1971 e estendeu-se durante todo o regime militar. O autor ressalta que houve, durante esse período, as chamadas ondas repressivas, períodos em que havia maior produção de documentos, vigilância e outras ações que afetaram o cotidiano da instituição. Houve também a proibição ou suspensão de entidades estudantis, abertura de inquéritos contra professores e funcionários, confisco de material e documentos e prisões. Dentre as ondas repressivas destaca-se a que aconteceu a partir de 1977, com a vigilância ao movimento estudantil, principalmente na atuação do Diretório Acadêmico do Centro de Biomedicina (DACBM) e o do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (DACCJE), que contribuíram de forma decisiva para a reorganização do Diretório Central dos Estudantes (DCE).
FAGUNDES e ANGELO (2014, p. 160) ressaltam que as ASI, mesmo instaladas em órgãos públicos diferentes, atuavam de forma sincronizada. Um exemplo dessa ação articulada foi a fiscalização realizada pela Delegacia Regional do Trabalho no Espírito Santo (DRT/ES) sobre os sindicalistas. Para atingir seu objetivo, a Delegacia mantinha estreitas ligações com vários órgãos de segurança, dentre eles o DOPS. Essa preocupação com a vigilância sobre os sindicalistas capixabas era justificável principalmente a partir de meados da década de 1970, com a organização da Frente Sindical, articulação realizada entre os sindicatos capixabas visando à retomada da direção das entidades que tinham dirigentes indicados pelo Ministério do Trabalho. Um dos grupos mais atuantes nessa Frente foram os professores da rede estadual do Espírito Santo, que mesmo não podendo sindicalizar-se, visto que a lei não permitia, mantiveram estreitas ligações com esses sindicalistas devido à proximidade ideológica. Vale ressaltar que a ligação entre os órgãos não se dava somente dentro do Estado.
Os autores apontam que não foi somente a agência do SNI
Das utopias ao Autoritarismo
118
de Vitória que solicitava informações sobre as atividades acadêmicas da UFES. A Agência Central do SNI, em Brasília, também solicitou informações sobre a designação do professor-estudante Domingos de Freitas Filho para membro da “Comissão de Estudo de Tempo Integral”. Esse pedido de informação foi datado de maio de 1969, ou seja, depois da decretação do AI-5, que ocorrera em dezembro de 1968. Como vimos anteriormente, a atuação do SNI no território capixaba é anterior ao AI-5. Contudo, com a decretação desse ato os órgãos de repressão tiveram maior liberdade de atuação, ou seja, foi dada “carta branca” para a realização de atos legais e ilegais, que no Estado intensificou-se a partir de 1971.
Os pesquisadores destacam que os primeiros efeitos do AI-5 foram sentidos logo no início de 1969, com a cassação do mandato do deputado federal Mário Gurgel e dos deputados estaduais Daílson Laranja e José Ignácio Ferreira, todos pertencentes ao Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Em agosto do mesmo ano, a agência central do SNI solicitou informações de doze cidadãos capixabas, a maioria parlamentares. As informações levantadas eram sobre a naturalidade, estado civil, nome dos pais, endereço, dentre outras. Segundo os autores, o que chama atenção são as informações solicitadas nos itens 18, 19 e 20: atividades criminais, atividades políticas e outras informações. As informações políticas da Ficha-conceito do deputado federal Mário Gurgel “explica” a sua cassação:
Subversivo. Ligado aos comunistas. Ligado às entidades sindicais comuni-janguistas. Em Abr 64 tomou parte e foi um dos oradores mais ardorosos e exaltados (...). Nesse comício atacou violentamente as Forças Armadas [...]. Em 1966 foi eleito Deputado Federal pelo MDB. Em 1967 foi submetido a processo de Investigação Sumária, pela Comissão de Aplicação do Ato Institucional do Estado do Espírito Santo a fim de enquadramento nas sanções previstas no artigo 7º do AI nº 1. (FAGUNDES; ANGELO, 2014, p. 160)
Os autores destacam que o prosseguimento da repressão no território capixaba, após a cassação dos mandatos dos parlamentares, aconteceu através da realização da operação Gaiola, em outubro
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
119
de 1970. Essa operação, que foi comandada pelo 3º Batalhão de Caçadores, resultou na captura e detenção de vários elementos considerados subversivos, dentre eles o vereador e ex-presidente da Casa do Estudante de Cachoeiro de Itapemirim (CECI) Roberto Valadão e o jornalista Rubens Gomes. O início dessa década marca o período mais intenso da atuação dos órgãos de repressão no estado. Os pesquisadores destacam que, em 1971, houve a captura de inúmeros militantes da ala vermelha do Partido Comunista do Brasil (PC do B). No ano seguinte, além da captura dos militantes de esquerda ligados a chamada Guerrilha do Araguaia, foi aberto um IPM (Inquérito Policial Militar) que arrolou 33 pessoas suspeitas de militarem no PC do B, no qual o principal procurado foi o militante estudantil Iran Caetano.
FAGUNDES (2011, p. 29) destaca que essa movimentação levou o DOPS a aumentar consideravelmente o seu fichário. É importante destacar que dentre as cerca de 25.000 fichas que o DOPS possuía, não havia somente pessoas que atuavam dentro do Estado. O autor aponta que figuras que nunca atuaram no Espírito Santo, como o comunista Luís Carlos Prestes e a ex-guerrilheira e ex-presidente do Brasil, Dilma Roussef, também possuíam fichamento no órgão. Na década de 1980 ocorreram duas modificações na Polícia Política, através da Lei nº 3.391, de 03 de dezembro de 1980, e da Lei nº 3.705 de 28 de dezembro de 1984. De acordo com o autor, o DOPS acabou de direito em 1985. Contudo, um pouco antes do seu término o órgão ainda continuava sua rotina de vigilância. Um exemplo dessa ação foi o acompanhamento feito ao ato pró-legalização do PC do B.
No relatório feito pelos agentes fica claro que houve acúmulo de informações sobre os militantes da esquerda capixaba. Para o autor, contudo, o que mais chama atenção foi a data: 25/03/1985, ou seja, doze dias depois do início da Nova República. Os dados constantes no relatório indicam que a ação dos órgãos de segurança estavam na “contramão” do ambiente de redemocratização, reafirmado pela emenda constitucional nº 25, de 15/05/1985, que tratava das eleições diretas para todos os cargos e dos partidos políticos, que puderam voltar para a legalidade. Após a extinção do DOPS, no meado da década
Das utopias ao Autoritarismo
120
de 1980, todo o material foi levado para a sede da Polícia Federal, e após a extinção, de direito, da Polícia Política Capixaba, através da lei estadual nº 4.573, de 31 de outubro de 1991, a documentação foi transferida para o Arquivo Público do Estado do Espírito Santo (APEES). O acesso a essa documentação, fruto de um longo processo histórico, contribuiu bastante para uma nova visão sobre o regime militar no Estado.
FAGUNDES e ANGELO (2014, p. 168) apontam que alguns estudos mais atuais já questionam a positividade da Ditadura Militar no Estado. Outro dado que contribui para a crítica é em relação aos casos de tortura. Segundo os autores, o Espírito Santo teve mais denúncias de tortura que outros estados com maior extensão territorial, como Santa Catarina. Em relação aos processos existentes no Superior Tribunal de Justiça Militar (STM), o Estado possui mais denúncias que em Goiás, local de ação de grupos que aderiram à luta armada. Esses dados demonstram que houve uma ação repressora em terras capixabas, ficando claro que uma visão de memória do triunfo não se sustenta ou não deve ser considerada como a única possibilidade de interpretação da ditadura, pois, de acordo com os autores, a “vontade de silenciar sobre a repressão política é uma dos meios para consolidar o esquecimento, chave explicativa para atender as exigências de quem estava no poder, perpetuando o esforço de alguns setores no sentido de cristalizar um esquecimento ou silêncio”.
Foi essencial, para uma análise mais abrangente do Período Militar, que ocorresse a abertura dos arquivos da Polícia Política e a sua utilização em pesquisas acadêmicas. O acesso a essa documentação foi um processo lento, que no Espírito Santo só ganhou impulso a partir do projeto Memórias Reveladas.
Memórias Reveladas: o divisor de águas Em dezembro de 2008, o Arquivo Público do Estado
do Espírito Santo (APEES) iniciou sua participação no Projeto “Memórias Reveladas – Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil”, uma iniciativa da Casa Civil da Presidência da República,
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
121
coordenada pelo Arquivo Nacional. Essa parceria, junto com outras ações, proporcionou a organização e disponibilização dos arquivos da repressão ao nível de outros arquivos estaduais. De acordo com (FAGUNDES, 2012, p. 9), no ano de 2009 foram iniciados os trabalhos de tratamento e organização dos documentos do DOPS/ES, fruto da parceria institucional entre o Arquivo Público do Espírito Santo e o Arquivo Nacional.
Segundo o site do APEES, o acervo DOPS/ES constitui-se de correspondências recebidas e expedidas por órgãos da Secretaria de Segurança Pública, assim como ordens de serviços, relatórios, ofícios internos e externos, informes, radiogramas, encaminhamentos, pedidos de busca, requerimentos, atestados de conduta de ideologia política, depoimentos, inquéritos policiais, fotografias, jornais, livros, cartazes e panfletos. Esses tipos documentais contêm informações sobre diferentes assuntos, dentre eles: investigação de pessoas, instituições públicas e privadas, partidos políticos, sindicatos, organizações clandestinas, manifestações, atos públicos, eventos, eleições, movimentos grevistas e estudantis, organizações religiosas ou políticas como Aliança Nacional Libertadora e Ação Integralista Brasileira, além de fichas policiais de identificação contendo informações sobre indivíduos, instituições e municípios.
De acordo com MALVERDES e FAGUNDES (2012, p. 64) a relevância deste projeto está na organização dos arquivos para permitir o trabalho de pesquisa, pois a produção de instrumentos permite ao pesquisador reduzir a quantidade de documento a ser consultado. Juntamente a esta ação, destacam os autores, o processo de digitalização do acervo contribuirá para o amplo acesso e disseminação dos documentos, pois permitirá o acesso por meio de redes informatizadas, contribuindo ainda para a preservação dos documentos arquivísticos originais. Em relação ao local em que foi produzido, quando não existe referência, consta a indicação s.l (sem local), e quando não existe a referência da data, consta a indicação s. d (sem data), deixando a cargo do pesquisador a consulta ao dossiê. Os documentos foram separados conforme suas séries e subséries, sendo que o projeto resultou em 257 descrições e a digitalização de todo
Das utopias ao Autoritarismo
122
o material, num minucioso trabalho de identificação dos panfletos, cartazes e publicações que compõem o fundo DOPS/ES (1930-1985).
FAGUNDES (2012, p. 9) destaca que no final da década de 2000, quando se iniciou a parceria entre o Arquivo Público Estadual e o Nacional, foi celebrado convênio entre o Departamento de Arquivologia da UFES e o Arquivo Público, sendo que essa parceria propiciou aos estudantes do curso de Arquivologia o desenvolvimento de atividades de pesquisa no Arquivo. Outra iniciativa que colaborou para que o Arquivo Público do Espírito Santo garantisse o pleno acesso à informação foi a criação do Grupo de Estudo sobre os Arquivos do DOPS/ES. De acordo com o autor, esse grupo que reúne graduandos de Arquivologia e pós-graduandos em História pela UFES, tem como meta incentivar a pesquisa e a produção de trabalhos sobre o tema.
Toda essa documentação arquivada no APEES foi fruto da vigilância diária que durou quase todo século XX, intensificando-se em determinados momentos.
Modus operandi da polícia política: a prática cotidiana de vigilância
De acordo com FAGUNDES (2012, p. 16), fica bastante claro nas pesquisas, com a documentação existentes nos arquivos, que havia uma prática cotidiana de controle exercido pela Polícia Política. Essa vigilância diária durou décadas, sendo a marca principal desse período o combate a todas as manifestações contrárias ao discurso ordenador. Sendo assim, fica claro que o trabalho desenvolvido pela Polícia Política se tornou, de acordo com Horton e Hunt (1980, p. 146), sistemático e previsível, ou seja, sendo encontrados meios de atribuir responsabilidade a diferentes funcionários, formular padrões de comportamento, manter a lealdade dos participantes e desenvolver métodos de lidar com outras instituições. Segundo os autores, quando certas atividades se tornaram meios padronizados, rotinizados, esperados e aprovados para atingir metas importantes, esse comportamento foi institucionalizado.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
123
Nesse processo de vigilância diária era essencial que houvesse agentes que desempenhassem o que chamamos de papel institucionalizado, ou seja, aquele procedimento que foi padronizado, aprovado e esperado, que normalmente é cumprido de maneira bastante previsível, não importando a pessoa que o desempenhe. Os autores frisam que a instituição, para funcionar de forma satisfatória precisa, além do agente, também de um aglomerado de traços institucionais ou características que a marcam: códigos de comportamentos, atitudes, valores, símbolos, rituais, ideologias. Veremos como se deu essa ação dos agentes no Espírito Santo, destacando algumas situações vivenciadas pelos agentes na vigilância dos professores da rede estadual de ensino do Espírito Santo nos anos de 1979 a 1981.
A rotina e o papel dos agentes
De acordo com FAGUNDES (2012, p. 17), com a organização dos dossiês existentes no APEES podemos traçar ou vislumbrar como era a rotina de trabalho dos agentes do DOPS. O primeiro era a apreensão dos impressos. Posteriormente havia a solicitação da operação de vigilância, observação do evento, elaboração do relatório por agentes do DOPS/ES, abertura de ficha dos suspeitos e envio de todo o material para dossiê específico. O destino desta “linha de produção de informações” era os arquivos dos órgãos de segurança. Toda essa rotina de trabalho dependia de um pessoal qualificado e bem treinado para funcionar a contento.
HORTON e HUNT (1980, p. 148) destacam que as organizações funcionam mais suavemente quando podem atrair pessoal competente, e algumas vezes se veem prejudicadas por elementos que não se ajustam aos papéis que lhe forem atribuídos, sendo extremamente importante certo grau de uniformidade na conduta daqueles que têm determinada ação institucional. Os autores frisam ainda que um código formal é apenas uma parte do requisito total que compõe um papel institucional. Para eles, grande parte do comportamento em qualquer papel consiste em um corpo elaborado
Das utopias ao Autoritarismo
124
de tradições informais, expectativas e rotinas, que uma pessoa absorve somente através de longa observação e experiência, gerando com isso um conjunto de expectativas de comportamento que dá pequena margem a excentricidade pessoal.
No caso da Polícia Política, dificilmente os agentes da repressão podiam se afastar desse papel, pois se deixassem de atuar dentro das expectativas da instituição, em geral perdiam sua influência. Conforme assinalam os autores, era um grande desafio conseguir uma padronização na ação dos agentes nos períodos de maior repressão. Assim como os papéis de todas as espécies, os institucionais eram cumpridos com maior êxito pelos que aprenderam plenamente as atitudes e os comportamentos apropriados à determinada ação. Contudo, quanto maior a estrutura, mais alto o grau de especialização, e maior também a possibilidade de acontecer falha por parte dos agentes. No caso da Polícia Política o risco era mais elevado ocorria principalmente com aqueles que se infiltravam nas atividades para o levantamento de informações.
De acordo com FAGUNDES (2011, p. 25), um ponto a se destacar é sobre um dos princípios elementares do modus operandi da Polícia Política: o sigilo. Como em algumas operações os agentes trabalhavam infiltrados nas organizações investigadas, as ações sigilosas e a discrição nas operações foram bastante enfatizadas, tanto que os agentes eram orientados a adotar nomes de guerra, sempre andar à paisana e evitar cortar o cabelo no estilo militar. Um exemplo de uma ação não exercida de forma correta foi a vigilância de uma assembleia de professores da rede estadual de ensino do Espírito Santo, acontecida em 1979.
Como era de praxe, foi aberta uma ordem de serviço para a designação dos agentes que estariam infiltrados no ato, para detectar possíveis “elementos” estranhos à classe. Conforme relatório houve a descoberta de pessoas estranhas à União dos Professores do Espírito Santo (UPES), com destaque para o elemento conhecido como professor Tadeu. O grande problema, segundo Soares (2005, p. 184), foi que o agente da SPT, Jones Custódio de Paula, que estava responsável por fotografar o evento, foi descoberto pelos
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
125
organizadores da assembleia. Neste instante o chefe do Serviço de Investigações e Informações (SII), Valdir Xavier, precisou intervir para evitar que houvesse a entrega do filme e a agressão ao agente por parte dos professores.
FAGUNDES (2011, p. 26) destaca que outra característica da ação da Polícia Política foi a adaptação do modus operandi do Destacamento de Operações e Informações- Centro de Operações e Defesa Interna (DOI-CODI) para cada região. Os comandantes, que geralmente eram os representantes das Forças Armadas, poderiam requisitar agentes da Polícia Militar, Polícia Federal e do DOPS. No caso do Espírito Santo os “interrogatórios”, também sob o comando de militares do Exército, eram realizados nas dependências do então 3º Batalhão de Cavalaria, atual 38º Batalhão de Infantaria (BI). Nos documentos analisados fica bastante claro que a vigilância aos trabalhadores em educação da rede estadual de ensino do Espírito Santo era feita através de uma rede que envolvia os órgãos citados acima, que trocavam informações não somente dentro do Estado. No caso da pessoa acusada de tentar tomar a câmera fotográfica do agente da Polícia Política, professor Tadeu, o DOPS /ES solicitou e obteve várias informações dos órgãos de repressão do estado de São Paulo. Contudo, algumas vezes havia divergências entre os órgãos de segurança. Um exemplo aconteceu entre a Polícia Política, que trabalhava na lógica investigativa, e a Polícia Militar, que trabalhava de forma mais repressora.
Para a vigilância da assembleia dos professores da rede estadual de ensino, acontecida em maio de 1979, foram designados agentes para se infiltrar e obter informações para a posterior realização do relatório. Como havia sinalização de greve, as dependências do local do evento, a Escola do Carmo, estavam superlotadas, havendo ainda cerca de 100 estudantes do lado de fora do colégio apoiando o movimento. Contudo, de acordo com o relatório feito pelos agentes do DOPS, a ação da Polícia Militar, com lançamento de gás lacrimogêneo para dispersar os estudantes, provocou um grande tumulto, não acontecendo uma tragédia devido à condução dos trabalhos pela presidente da UPES, Myrthes Bevilacqua. Ela pediu
Das utopias ao Autoritarismo
126
que ninguém saísse do local, chamando os presentes para rezar o Pai Nosso e cantar o Hino Nacional. De acordo com o relatório, houve grande repercussão negativa em relação à ação da PM, sendo que este fato serviu para desgastar os órgãos de segurança pública perante a população. Em relação à vigilância aos professores capixabas, destaca-se a grande estrutura montada, com informações disponibilizadas para diversos órgãos até chegar, nesse caso específico às mãos do governador Eurico Rezende. E essa estrutura, que fora organizada em 1953, funcionou a todo vapor na década de 1970.
FAGUNDES (2011, p. 29) destaca que houve grande aumento na já grande massa documental do DOPS/ES, principalmente a partir dos anos de 1970. Pedidos de busca, atestados de conduta ideológica, inquéritos policiais, dossiês, fotografias, jornais, panfletos, cartazes foram alguns exemplos de conjuntos documentais amplos e diversificados produzidos por este órgão. É importante destacar que a estrutura repressiva existente no estado foi fruto de um processo que se iniciou em princípios do século XX, e que veio se aperfeiçoando, com destaque para a estruturação da Polícia Política acontecida no ano de 1953, atingindo seu auge na Ditadura (1964-1985). Segundo o autor, com o golpe de 64 os militares criaram o SNI e, com o surgimento dos órgãos de segurança ligados às Forças Armadas (CENIMAR, CISA e CIE), houve a efetiva centralização de um sistema nacional de informação e de um sistema nacional de segurança (DOI-CODI). Esse sistema, coordenado pelo Exército, na prática centralizou os órgãos de segurança regionais (Polícia Federal, Polícia Militar e Civil, DOPS).
O historiador ressalta que os materiais confiscados pelos órgãos de repressão tinham como finalidade divulgar ideias, propostas ou opiniões de certos grupos ou organizações da sociedade, que expunham publicamente suas ideias, sendo que a maioria do material era para a solicitação de verbas públicas para as áreas sociais, melhorias nas condições de trabalho ou maior democracia, e não somente o questionamento à ordem imposta. O controle e a seleção dos materiais impressos – cartazes, panfletos e jornais – que poderiam ser lidos publicamente, era uma tarefa cotidiana dos agentes da Polícia Política. Qualquer convocação para uma atividade pública – reunião,
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
127
congresso, passeata, eleição – acabava se tornando prova do “crime político” e servia de justificativa para a apreensão pelos agentes do DOPS/ES.
O autor aponta que o fato que se destaca em todo esse processo de levantamento de informações era o ato de carimbar. Esse ato representava bem mais do que um ato burocrático. No que tange a dimensão material, o carimbo servia para identificar o grau de importância, urgência e periculosidade do objeto de investigação. Por outro lado, simbolicamente, receber um carimbo dos agentes da repressão significava a estigmatização de certos grupos ou “elementos”. Se uma entidade ou indivíduo tivesse o material de propaganda apreendido, era um indicativo de que as informações coletadas seriam “socializadas” entre os vários órgãos de segurança e, possivelmente, seriam rotulados de subversivos. Além disso, frisa o autor, ler, debater, divulgar, participar ou colaborar financeiramente com esses elementos seria uma prova cabal de aceitação e colaboração com as ideias subversivas, e quem fizesse essas ações seria colocado no rol dos perigosos, justificando a prática de atos de censura e violência. Fagundes (2012, p. 18) destaca ainda que o processo de vigilância mais intensiva sobre determinados grupos ou pessoas era pela construção de estereótipos de “inimigos da ordem”, principalmente em relação à liderança sindical ou estudantil. Contudo, vale frisar que o simples fato de um grupo de pessoas se organizar, independentemente de sua orientação ideológica, era motivo para a entrada na galeria de suspeitos e sofrer vigilância.
Agora iremos conhecer melhor esses grupos que sofreram uma vigilância mais intensa por parte da Polícia Política.
Os principais alvos do aparato repressivo
O modo como os agentes se referiam ou rotulavam quem era perseguido foi um dos traços institucionais mais marcantes do modus operandi da Polícia Política. A rotulação de determinados grupos ganhou força principalmente a partir da década de 1930, com a organização da primeira onda anticomunista. Em relação à
Das utopias ao Autoritarismo
128
documentação pesquisada, oriunda da vigilância aos professores da rede estadual de ensino do Espírito Santo, dois termos tiveram destaque: elemento e subversivo. O primeiro termo era utilizado principalmente para identificar quem não fazia parte da categoria e o segundo foi utilizado para rotular a presidente da União dos Professores do Espírito Santo (UPES), Myrthes Bevilacqua Corradi, e posteriormente os professores. É importante destacar que a vigilância não se dava somente aos grupos ligados à esquerda, contudo os grupos que mais foram vigiados, perseguidos e rotulados eram os que tinham ideais mais revolucionários.
No início da organização da Polícia Política no Rio de Janeiro, no final do século XIX, mesmo que ainda não estivessem claro quais grupos cometiam crime político, não era aceito “subverter a ordem”. Outra ação duramente reprimida era a tentativa de organizar os trabalhadores, principalmente se fossem com ideias anarquistas. No decorrer do processo de institucionalização da Polícia Política, da organização das rotinas e procedimentos, também se clareou quais seriam os grupos que mais ameaçariam a ordem. Quando chegamos ao governo Vargas, a estrutura montada estava pronta para a perseguição aos subversivos, neste momento representados na sua quase totalidade pelos seguidores de Lênin, os comunistas.
De acordo com MOTTA (2002, p. 47), os comunistas foram representados ao longo da história por uma série de adjetivos, sempre como conotação negativa, como por exemplo, piratas, desvairados, paranoicos, degenerados, dementes, bárbaros, selvagens, representações essas que tinham como base temas arcaicos. Contudo, segundo o autor, os comunistas não foram acusados de serem responsáveis somente pelas mazelas do passado. Pairava sobre eles também os problemas do mundo moderno, como a inflação, visto que desestabilizavam a ordem econômica. Como um dos pressupostos centrais da ordem social era a garantia de um ambiente propício ao capitalismo, organizar os trabalhadores para lutar pelos seus direitos era inaceitável, tanto no Rio de Janeiro no final do século XIX, como no Governo Vargas e na Ditadura, de 1964 a 1985. Nesse último caso, mesmo com a chamada transição lenta e gradual proposta por
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
129
Ernesto Geisel, bastou os trabalhadores se organizarem em São Paulo e questionarem a ordem econômica para que o governo, juntamente com os empresários, esquecerem a promessa e utilizarem o aparato repressivo para acabar com o movimento.
No caso do Espírito Santo, a rotulação aos grupos perseguidos também era uma prática constante e rotineira. Um dos exemplos mais claros dessa ação aconteceu com a presidente da União dos Professores do Espírito Santo (UPES) Myrthes Bevilacqua Corradi. Durante a sua gestão à frente da UPES (1973 a 1981), foi taxada de subversiva pelo líder do Governo Élcio Álvares, na Assembleia Legislativa, Edson Machado, devido à sua constante luta na defesa dos direitos dos trabalhadores em educação da rede capixaba de ensino.
De acordo com Fagundes e Angelo (2014, p. 162), a estrutura repressiva criada no Espírito Santo, mais do que controlar os subversivos ou os “elementos” – nomenclatura bem comum e constante nos arquivos da repressão – teve como objetivo silenciar e impedir manifestações. Entre os grupos mais vigiados nas terras capixabas destacam-se os militantes do chamado novo sindicalismo, os progressistas da Igreja Católica, os participantes dos partidos políticos, a imprensa alternativa e os membros do movimento estudantil, principalmente da UFES.
Segundo os autores, no início dos anos 1970 os órgãos de repressão foram mais incisivos no combate aos grupos que aderiram à luta armada. Contudo, após a desarticulação desses grupos a vigilância voltou-se para os grupos citados acima. Mesmo no período de abertura, em 1978, os órgãos de repressão continuaram atuantes, como podemos perceber na confecção do Relatório sobre a subversão no ES, documento que pretendia apresentar uma síntese da evolução do movimento subversivo no ES pós-1972. De acordo com os autores, o relatório destaca que, após um período de apatia, devido às prisões, tortura e abertura de processos contra os subversivos, surge um novo foco de resistência no Estado: o movimento estudantil da UFES, que ganhou força devido à volta de alguns alunos afastados por força do Decreto Lei nº 477 e o surgimento do tablóide Posição.
Das utopias ao Autoritarismo
130
Segundo os autores, no ano de 1977 temos a reorganização do movimento estudantil a nível nacional. No caso do Espírito Santo, temos a retomada do movimento com a organização dos Diretórios Acadêmicos do Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas (CCJE) e do Centro de Biomédicas (DACBM). No ano de 1978, depois de intensos debates, foi realizada a eleição para a escolha da nova diretoria do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFES, sendo eleito o estudante de economia e atual governador do estado Paulo Hartung.
FAGUNDES e ANGELO (2014, p. 164) destacam que o relatório aponta o surgimento do tablóide Posição, sendo que a vigilância a esse jornal mostra uma das principais ações dos órgãos de repressão: monitoramento da imprensa e dos jornalistas. Essa vigilância gerou um dossiê temático sobre o Sindicato dos Jornalistas, com destaque para a presidência do jornalista Rogério Medeiros, um dos líderes do Novo Sindicalismo no Estado. É importante destacar que a Associação Brasileira de Imprensa (ABI), que congregava jornalistas de todo o Brasil, foi uma das entidades mais críticas a ação dos militares. Outra entidade também muito vigiada foi a Igreja Católica, principalmente devido à atuação de alguns de seus membros, que, devido a sua ação, também foram destaque no Relatório sobre a Subversão.
De acordo com os autores, a vigilância intensifica-se, a partir do ano de 1973, devido a algumas ações realizadas pelo bispo da Arquidiocese de Vitória, Dom João Batista de Motta e Albuquerque, seu auxiliar Dom Luiz Gonzaga Fernandes e parte do clero, como a criação do Conselho Pastoral da Arquidiocese de Vitória (COPAV). É importante destacar que a Igreja Católica, de apoiadora do Golpe Militar, passa a ser a instituição mais crítica à ação dos militares. Segundo os autores, devido a sua estrutura e posicionamento, a Igreja se tornou um polo aglutinador dos subversivos capixabas – militantes das oposições sindicais, do movimento estudantil da UFES e dos setores do MDB capixaba. Fagundes (2011, p. 28) destaca que outros grupos religiosos também foram vigiados: Testemunhas de Jeová, o grupo católico ultraconservador Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição Família e Propriedade (TFP), os Meninos de Deus e a 1ª Igreja Presbiteriana de Vitória.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
131
Outra entidade que inicialmente apoiou o golpe e depois reviu sua posição foi a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). De acordo com os autores, a eleição da seccional capixaba foi alvo da ação dos agentes da Polícia Política. A vigilância resultou em um documento produzido pela Agência do SNI no Rio de Janeiro, destacando que a eleição foi realizada em 09 de novembro de 1978 sendo eleita a chapa Rui Barbosa. Conforme vimos anteriormente, o reposicionamento da OAB, Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e Igreja Católica pressionou o Governo Federal a fazer a abertura do regime, mesmo com a resistência dos órgãos de repressão e boa parte do comando das Forças Armadas. A aprovação da Lei da Anistia, em 1979, a revogação da Lei de Segurança Nacional e a reforma partidária, que instituiu o pluripartidarismo, foram sinais da distensão política. Em relação à vigilância, constam no acervo do DOPS/ES documentos que comprovam que houve vigilância aos partidos fundados nesse momento – final da década de 1970 e início da década de 1980 – como o Partido dos Trabalhadores (PT), bem como do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e o PMDB, partido fundado a partir do MDB.
Segundo os autores, em 1982 tivemos as primeiras eleições diretas para governador, desde 1962. Diferentemente de outros estados do Brasil, no Espírito Santo tivemos a substituição do último governo biônico, Eurico Rezende, por seu antigo colega de partido, Gerson Camata, que disputou a eleição pelo PMDB. Esse fato marca a última vitória eleitoral da Arena e demonstra como as elites capixabas se uniram em torno dos seus interesses, como fizeram no início da Ditadura Militar. Fagundes e Ângelo (2014, p. 166) destacam que houve uma intensa vigilância dos órgãos de repressão sobre as candidaturas ligadas ao Partido dos Trabalhadores (PT). O que mais chama atenção no processo eleitoral de 1982 é a força dada aos comunistas, visto que, para os agentes da repressão, os seguidores de Lênin teriam uma série de ligações e ajudaram a eleger vários candidatos, dentre eles a subversiva e professora da rede estadual Myrthes Bevilacqua, que mesmo não sendo sindicalista, participou ativamente das lutas pela renovação sindical no Espírito Santo através da organização da Frente Sindical e na participação de vários encontros de trabalhadores.
Das utopias ao Autoritarismo
132
Os representantes do Novo Sindicalismo no Espírito Santo, devido à sua linha de ação, sofreram grande perseguição dos órgãos de repressão, principalmente quando organizaram os trabalhadores para a retomada dos sindicatos que estavam nas mãos dos dirigentes ligados ao Ministério do Trabalho. Devido à grande movimentação, tornaram-se alvo dos agentes do DOPS/ES. Dentre os sindicatos mais vigiados do estado, temos: jornalistas, engenheiros, ferroviários, médicos, trabalhadores rurais e construção civil. Mesmo sem poder se organizar em sindicatos, os professores capixabas, através da UPES, formaram a organização que mais chamou a atenção do DOPS. Somente no dossiê da entidade existem mais de 700 páginas de documentos, com destaque para o período de 1979 a 1981, quando a entidade presidida por Myrthes Bevilacqua adotou uma linha de ação mais incisiva contra o Governo. A atuação dessa liderança chamou a atenção da Polícia Política Capixaba, que abriu um dossiê individual que coletou 147 páginas de documentos.
Referências Bibliográficas:FAGUNDES, Pedro Ernesto. Foi sempre assim: Modus Operandi da Polícia Política do Estado do Espírito Santo (1930-1985). In.: FAGUNDES, Pedro Ernesto (org.). Arquivos da Repressão Política no Estado do Espírito Santo (1930-1985). Vitória: GM Editora, 2011, p. 11-34.
FAGUNDES, Pedro Ernesto. Memórias silenciadas: catálogo seletivo dos panfletos, cartazes e publicações confiscadas pela Delegacia de Ordem Política e Social do Estado do Espírito Santo. DOPS/ES (1930-1985). Vitória: GM Editora /APEES, 2012.
FAGUNDES, Pedro Ernesto. Universidade e repressão política: o acesso aos documentos da assessoria especial de segurança e informação da Universidade Federal do Espírito Santo (AESI/UFES). Revista Tempo e Argumento, Florianópolis, v. 5, n. 10, p. 295 – 316, dez. 2013.
FAGUNDES, Pedro Ernesto. A marcha da Vitória: a Marcha da Família com Deus pela Liberdade na capital do Espírito Santo. In: FAGUNDES, Pedro Ernesto; ANGELO, Vitor A. de; OLIVEIRA, Ueber (org.). O Estado do Espírito Santo e a Ditadura (1964-1985). Vitória: GM Editora, 2014, p. 10-17.
FAGUNDES, Pedro Ernesto; ANGELO, Vitor Amorim de. Grandes Projetos,
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
133
grandes esquecimentos: O Espírito Santo entre a modernização conservadora e a repressão política. In.: FAGUNDES, Pedro Ernesto; ANGELO, Vitor A. de; OLIVEIRA, Ueber (org.). O Estado do Espírito Santo e a Ditadura (1964-1985). Vitória: GM Editora, 2014, p. 140-164.
HORTON, Paul B.; HUNT, Chester L. Sociologia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1980.
MALVERDES, André; FAGUNDES, Pedro Ernesto. O catálogo seletivo e o trabalho de digitalização. In: ARQUIVO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. Memórias silenciadas: catálogo seletivo dos panfletos, cartazes e publicações confiscadas pela delegacia de ordem Política e social do Estado do Espírito Santo - DOPS/ES (1930-1985). Vitória: GM Editora/APEES, 2012, p. 64 – 67.
MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Em guarda contra o “Perigo Vermelho”: o anti-comunismo no Brasil (1917-1964). São Paulo: Perspectiva: FAPESP, 2002.
SOARES, Renato Viana. Retrato Escrito: a reconstrução da imagem das(os) professoras(es) através da mídia impressa (1945/1995). Vitória: ITB, 2005.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
135
Os 50 anos do XXX Congresso da UNE: 1968.Pedro Ernesto Fagundes1
O ano de 1968, chamado de “ano que não terminou”, representou um marco político, comportamental, artístico e cultural do século XX. Segundo RIDENTI (2009), durante o chamado “momento 68”, os fatos e acontecimentos daquele ano projetaram essa data como um dos marcos simbólicos da história recente.
Nesse texto, analisaremos um dos acontecimentos mais destacados entre os episódios de 1968: o XXX Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), na cidade de Ibiúna, no interior de São Paulo. Mas, antes de tratarmos desse evento, apresentaremos um histórico da chamada da União Nacional dos Estudantes (UNE).
A União Nacional dos Estudantes (UNE) foi criada às vésperas do Estado Novo (1937-1945), sob a inspiração de Gustavo Capanema, na época Ministro da Educação da administração do presidente Getúlio Vargas. O apoio ministerial tinha o intuito de submeter e manter sob controle político esse segmento social. Segundo ARAÚJO (2007), para alguns dos seus antigos integrantes, a verdadeira UNE só surgiu de fato a partir de seu II Congresso Nacional. Realizado em dezembro de 1938, aberto solenemente no dia 5 de Dezembro, o congresso contou com a participação de 80 associações universitárias e secundaristas, além da participação de vários professores e um representante do Ministério da Educação.
No final do congresso foi eleita uma diretoria com um compromisso estritamente político, bem como apresentado e aprovado o plano de Reforma Educacional. Outra deliberação do congresso foi a criação do Teatro do Estudante do Brasil (TEB), inspirado nos teatros universitários europeus. No inicio da década de 1940, a UNE assume posição claramente antifascista e realiza inúmeras mobilizações a
1 Doutor em História Social pela UFRJ. Atualmente é professor de História e Memória do Departamento de Arquivologia da UFES. Também é professor permanente do Programa de Pós-Graduação em História da mesma universidade (PPGHIS/UFES) e bolsista do programa Pesquisador Capixaba (FAPES).
Das utopias ao Autoritarismo
136
favor da entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Na opinião de POENER (2004), esse posicionamento representou o primeiro episódio de conflito ente a entidade e o governo de Getúlio Vargas.
Nas mobilizações contra o nazifascismo, a UNE chegou a organizar uma grande passeata em homenagem ao presidente norte-americano Franklin D. Roosevelt (1933-1945). Como dissemos, a intenção era pressionar o governo brasileiro no sentido de romper relações diplomáticas com os países do Eixo (Alemanha, Japão e Itália). Num primeiro momento, a passeata foi proibida por ordem de Filinto Müller – chefe da polícia do Distrito Federal (atual cidade do Rio de Janeiro). Entretanto, dirigentes estudantis conseguiram autorização para a realização da manifestação junto a Vasco Leitão da Cunha, então Ministro Interino da Justiça. O impasse acabou por criar atritos e indisposições com Filinto Muller – notório admirador dos regimes nazifascistas.
Nesse período, as relações entre o movimento estudantil e o Governo de Getúlio Vargas foram marcadas pela ambigüidade, haja vista, que, apesar do regime ditatorial, a entidade permanecia atuando dentro da legalidade. Em contrapartida muitos de seus dirigentes eram vigiados e até mesmo perseguidos por conta de suas ligações com o Partido Comunista Brasileiro (PCB). Essa situação mudou significativamente após o fim da Segunda Grande Guerra. O restabelecimento das bases do Estado Democrático de Direito permitiram que a UNE iniciasse mobilizações em torno do fim da ditadura do Estado Novo e da anistia de presos políticos.
No período de 1947 a 1950, a UNE ficou sob o controle de estudantes ligados ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). Nessa fase, impulsionada pelas Uniões Estaduais de Estudantes (UEE’S), a entidade foi uma das líderes da campanha “O Petróleo é nosso”. O movimento se opunha à concessão da exploração das jazidas petrolíferas por empresas estrangeiras.
Estudantes ligados à União Democrática Nacional (UDN) – partido antivarguista – assumem a direção da entidade, entre os anos de
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
137
1950 e 1956. Com destaque para Olavo Jardim Campos, na presidência da entidade, nesse período a UNE assumiu um direcionamento político mais à direita – um momento atípico durante toda existência da organização, sempre ligada às correntes de esquerda.
A partir de 1957, a UNE inicia uma série de debates sobre a chamada Reforma Universitária. Todas essas discussões, segundo FÁVERO (2009), refletiram durante a elaboração da Lei de Diretrizes de Bases da Educação (LBD). A entidade organizou o I Seminário de Reforma de Ensino, evento que teve a democratização do ensino como eixo central das discussões. Questões relativas ao ensino público e privado também pautaram o evento.
Assim, durante o I Seminário Latino-Americano de Reforma e Democratização do Ensino Superior, realizado na Bahia, em 1960, foi firmado um compromisso de luta pela democratização do Ensino Superior. As questões discutidas no I Seminário Latino Americano, vão ser retomadas em três Seminários Nacionais de Reforma Universitária – o segundo em março de 1962 e o terceiro em Belo Horizonte.
A UNE foi uma das entidades que assumiu posição de destaque, em agosto de 1961, durante a chamada “Campanha da Legalidade”. Esse movimento – liderado por Leonel Brizola, então governador gaúcho – defendia a posse do vice-presidente João Goulart, durante a crise política gerada após a renúncia do ex-presidente Jânio Quadros. A participação dos estudantes e as mobilizações populares foram fundamentais na desarticulação da tentativa de golpe.
Os anos iniciais da década de 1960 são marcados por uma série de atividades ligadas a área cultural da entidade, tais como o Centro de Estudos Cinematográficos (CEC) e dos Centros Populares da Cultura (CPC da UNE). O objetivo dos CPC’s era reunir jovens escritores, cantores, atores, enfim, estudantes ligados à arte em geral, e realizar caravanas pelo país. Os CPC’s realizaram atividades em praticamente todas as capitais. A entidade também apoiou o projeto das Reformas de Base, projeto político mais notório do presidente João Goulart.
Das utopias ao Autoritarismo
138
Como indica VALLE (2008), após o golpe Civil Militar de 1964, a entidade passou a ser alvo de uma série de represálias. Logo nos primeiros dias do novo regime, foram efetuadas cerca de cinco mil prisões em todo território nacional e entidades estudantis e centros acadêmicos foram fechados. No dia seguinte ao golpe, a sede da UNE foi incendiada, muitos dos seus dirigentes buscaram refúgio no exílio ou caíram na clandestinidade.
Igualmente impactantes foram as proibições, as perseguições, a abertura de uma Comissão Parlamentar de inquérito (CPI) conta a entidade. A UNE e, sobretudo, o movimento estudantil foi considerada um dos principais setores que apoiaram o presidente João Goulart (1961-1964). Ainda segundo VALLE (2008), tentando cercear as atividades dos estudantes os militares criaram uma legislação especifica sobre as entidades estudantis: a Lei Suplicy-Lacerda que visava impedir o funcionamento da entidade.
Para os militares e setores da grande imprensa, a UNE era chamada de “ex-UNE” e era considerada uma entidade clandestina desde 1964. Assim, no contexto de 1968, conviver com reuniões fechadas, assembleias clandestinas ou mesmo realizar congressos em lugares alternativos, como conventos católicos, já fazia parte do cotidiano do movimento estudantil brasileiro.
Um dos momentos de maior polêmica surgiu durante os debates sobre o o acordo MEC/USAID. Os chamados acordos entre o Ministério da Educação brasileiro (MEC) e a United States Agency for International Development (USAID), conhecidos como MEC-USAID, foi uma serie de instrumentos que atingiriam todos os níveis da educação brasileira (ensinos fundamental, médio e superior). Entretanto, a ação mais notória do Acordo MEC-USAID foram as propostas direcionadas para o ensino superior, chamada genericamente de Reforma Universitária efetivada com a edição da Lei nº 5.540, em 28 de dezembro de 1968.
Nesse contexto, também fazem parte dessas mobilizações as passeatas de protesto contrao assassinato do estudante Edson Luiz, a sexta-feira sangrenta, a passeata dos cem mil, a batalha da Maria
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
139
Antônia, enfim, uma série de atos ao longo de 1968 que despertaram a atenção das forças de segurança em torno do “problema estudantil”. Esse acumulo de enfrentamentos deve seu ponto culminante na chamada “queda” do Congresso de Ibiúna.
Dessa forma, o objetivo central do presente trabalho é analisar os acontecimentos pós-congresso da UNE a partir de documentos dos órgãos de repressão, notadamente um Inquérito Policial Militar elaborado pela Delegacia Especializada em Ordem de São Paulo (DEOPS/SP) chamado de “Operação Ibiúna”.
Tudo porque, durante os trabalhos do XXX Congresso da UNE, em 12 de outubro de 1968, integrantes das forças de policias invadiram um sítio na zona rural de Ibiúna (SP), local onde estavam acontecendo os trabalhos do congresso. Na ação, as principais lideranças estudantis brasileiras acabaram sendo presas.
Em linhas gerais, utilizaremos documentos produzidos pela polícia política paulista como fonte principal, especialmente, um dossiê chamado de “Operação Ibiúna”. Contendo centenas de páginas, esse documento policial reuniu informações sobre os principais esforços e etapas da ação das forças de segurança, que culminou com as prisões e posterior abertura dos processos contra os dirigentes estudantis detidos em Ibiúna. Abrangendo 112 páginas, o primeiro volume desse conjunto documental, datado de 12 de outubro de 1968, foi divido em três partes. A primeira parte, denominada “Plano de ação”, descreve as atividades de levantamento de informações sobre o local e a data do congresso estudantil.
Após apontar as “nítidas” ligações políticas entre o movimento estudantil e países como Cuba e China, os agentes passaram a tratar efetivamente das atividades de monitoramento. O passo seguinte, segundo o documento, foi realizar um levantamento geral sobre o local do evento: o sítio Murundu, localizado em Ibiúna, na região policial de Sorocaba.
Todas as investigações dessa primeira parte do “Plano de ação” foram coordenadas por quatro delegados do DEOPS/SP e contaram ainda com a participação da delegacia de Sorocaba. Um
Das utopias ao Autoritarismo
140
dos participantes da diligencia foi o notório delegado Romeu Tuma. Esse policial, entre 1966 e 1983, foi delegado do DEOPS/SP. Durante o governo do presidente José Sarney (1985-1990) ocupou o posto de Superintendente da Polícia Federal (PF), na mesma época que os arquivos dos DOPS estaduais foram levados para as superitendencias regionais da Polícia Federal (PF).2
Os agentes elaboraram um relatório com informações sobre características topográficas, pontos de saída e de segurança dos estudantes. Essa informação ratifica um dado fundamental sobre as prisões durante o congresso: segundo o documento, desde os primeiros dias de outubro de 1968, as forças de segurança de São Paulo tinham conhecimento do local do evento. Tal informação surgiu a partir de observações de moradores locais que suspeitaram, em 07 de outubro de 1968, da presença de dez estudantes estranhos na cidade.
A descrição da segunda parte do “Plano de ação” ocupou apenas 11 linhas do documento. Esse trecho abordou a operação montada que resultou na invasão e na prisão, segundo o documento, dos 693 participantes do XXX Congresso da UNE. Atuaram na ação 95 agentes do DEOPS/SP. A ação contou ainda, sem precisar o número de agentes, com o auxílio da Delegacia Regional de Sorocaba e de militares do 7º Batalhão da Força Pública de São Paulo, atualmente denominada Polícia Militar (PM).
O documento registra que as prisões ocorreram de forma “fulminante” e “sem violência”, ou seja, ainda fazendo autoelogios à precisão da ação de invasão e captura de centenas de estudantes sem precisar “disparar um tiro”. Ainda com intuito de desqualificar os estudantes, em outro trecho do mesmo documento, os agentes fizeram questão de registrar informações colhidas em depoimentos dos funcionários do Sítio Murundu sobre um “verdadeiro festival de luxúria e orgias sexuais praticadas pelos estudantes”, durante os dias do congresso.
Entre os agentes da repressão, as questões de cunho moral,
2 Entre 1994 e 2002 ocupou a cadeira de Senador pelo estado de São Paulo. Faleceu em 2009, aos 79 anos. Fonte: http://memoriasdaditadura.org.br/
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
141
melhor dizendo, a suposta falta de princípios morais dos militantes estudantis era mais um traço típico da “degenerescência” de valores e costumes dos chamados subversivos. Costumeiramente, os mesmos documentos que faziam análises sobre o comportamento político também serviam para analisar a vida e a orientação sexual dos militantes. Depois de prender e indiciar todos os participantes do XXX Congresso da UNE, os agentes do DEOPS/SP passaram a realizar o levantamento de informações sobre os detidos. Esse conjunto documental foi chamado de “Operação Ibiúna”.
Outro desdobramento das prisões em Ibiúna foi a possibilidade dos agentes do DEOSPS/SP produzirem o que ficou conhecido como “álbum de fotografias”. Apresentado em forma de anexo, essa parte da “Operação Ibiúna” é um verdadeiro “tesouro” dos arquivos da repressão, pois em suas 268 páginas registrou informações e fotografias de todos os detidos no XXX Congresso da UNE.
Os mais destacados militantes estudantis brasileiros capturados foram registrados em fotos preto e branco, com formato 10x8. A imagem apresenta, ainda, todos os detidos de frente para a câmera, segurando placas com números de identificação. Em seu conjunto, esse documento remete à tradicional imagem dos detentos “comuns”, ou seja, todos segurando placas com números de identificação em posses de perfil e frente para a câmera fotográfica.
Na parte final do documento conhecido como “Operação Ibiúna” estão as alegações dos delegados do DEOPS/SP, solicitando a abertura de inquéritos contra quase 70 militantes. Os argumentos são fundamentados na chamada Lei de Segurança Nacional (LSN) e, segundo o documento, visavam retirar das ruas “grupos de agitadores estudantis” que estariam fomentando a desordem nas universidades.
Nos anos posteriores, o conjunto documental produzido a partir da elaboração da “Operação Ibiúna” foi utilizado como um verdadeiro “banco de dados” para a repressão política. Isso porque as informações gerais compiladas e, sobretudo, os “álbuns de fotografias” com imagens dos principais dirigentes estudantis brasileiros foram uma ferramenta empregada no monitoramento e na identificação dos
Das utopias ao Autoritarismo
142
militantes que posteriormente foram detidos.
Essa posterior utilização dos documentos do dossiê “Operação Ibiúna” na identificação de militantes pode ser observada através de um documento produzido pela Agência São Paulo do Serviço Nacional de Informação (SNI). Segundo o Encaminhamento nº 140/SNI/ASP, de 02 de fevereiro de 1969, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo teria enviado copias da chamada “Operação Ibiúna” para a Agência Central do SNI.3 O mesmo documento indica que cópias também foram despachadas para as agências do SNI de Belo Horizonte e da cidade do Rio de Janeiro.
Como veremos a seguir, enquanto a polícia política paulista concentrava sua atenção em atividades rotineiras de fichamentos, transferências e interrogatórios para a elaboração do dossiê “Operação Ibiúna”, em diversas cidades do país os militantes estudantis realizaram diferentes manifestações de solidariedade e protestos contra as prisões dos delegados do Congresso de Ibiúna.
Sendo assim, os desdobramentos das prisões em Ibiúna repercutiram por muito tempo. Para muitos, participar, direta ou indiretamente, daquele evento significou um período na prisão, problemas acadêmicos e, posteriormente, o rótulo de subversivo. Esse é um dos aspectos fundamentais da “queda” do Congresso de Ibiúna: seus efeitos posteriores. Podemos classificar esses efeitos em dois momentos: um primeiro momento marcado por desdobramentos que atingiram imediatamente os dirigentes do ME e, num segundo momento, ações que repercutiram no cotidiano acadêmico.
Nesse primeiro momento podemos citar a prisão das principais lideranças estudantis brasileiras. Simultaneamente, foram afastados quase 700 militantes da atuação nas entidade estudantis, especialmente, da direção da UNE. Nos meses subsequentes, diversos entidade estudantis em nível local e estadual (DCE’s e UEE’s) foram fechadas. Dessa forma, os estudantes perderam seus mais destacados canais de expressão.
3 Encaminhamento nº 140/SNI/ASP. Acervo SNI. Arquivo Nacional.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
143
Ainda entre as repercussões imediatos após as prisões podemos apontar a própria elaboração do dossiê “Operação Ibiúna”. Numa única ação os agentes do DESPOS/SP tiveram acesso privilegiado a informações sobre os principais dirigentes estudantis brasileiros. Através das fichas de identificação e do chamado “álbum de fotografias” os integrantes da polícia política paulista produziram dados fundamentais – endereços, fotografias e dados acadêmicos – sobre esses militantes. Dessa forma, podemos afirmar que a “Operação Ibiúna” foi, durante a Ditadura Militar, a operação policial mais efetiva contra o movimento estudantil.
Num segundo momento, a “queda” do XXX Congresso de Ibiúna, teve efeitos no recrudescimento da repressão nas universidades. Nos anos subsequentes, como aponta FAGUNDES (2013), o Governo Militar ampliou as atividades, os instrumentos e a estrutura da repressão e monitoramento no interior dos campus. Uma dessas “inovações” foi o chamado Decreto nº 477, de fevereiro de 1969.
Ele foi mais um instrumento típico do estado ditatorial brasileiro. Tanto que foi chamado pelos membros da comunidade universitária de “AI-5 do movimento estudantil”. Seus seis artigos são mais um exemplo de como os militares utilizaram instrumentos jurídicos de exceção para limitar as manifestações da oposição.
No mesmo sentido, por meio da Portaria nº 10, BSB, de 13 de janeiro de 1971, foi marcada a criação das primeiras Assessorias Especiais de Segurança e Informação (AESI). Em sua pesquisa MOTTA (2014), no período final da ditadura militar, a denominação mais comumente utilizada para identificar esse órgão era ASI. Ainda segundo o autor, a partir do surgimento desse mecanismo específico, o aparato de vigilância adquiriu um importante instrumento para a coleta de informações dentro das universidades.
As prioridades desses órgãos eram: coleta de informações sobre atividades das lideranças estudantis e professores, controle da nomeação para cargos, viagens de docentes e discentes para eventos científicos, censura de livros, proibição de manifestações, confisco
Das utopias ao Autoritarismo
144
de material considerado “subversivo”, entre outras. Assim, as AESI atuaram como mais um mecanismo de controle e vigilância da chamada “Comunidade de Informação”.
A criação das ASI/AESI representou uma violência cotidiana no interior das universidades. Outro aspecto importante de se destacar — além da ameaça de prisão, tortura, expulsão ou morte — é que essa estrutura de repressão significou a ação permanente de um instrumento de intimidação e constante ameaça para discentes, professores e funcionários.
Representou, também, o estabelecimento de práticas rotineiras de invasão da intimidade de cidadãos não engajados em movimentos de resistência armada. Dessa forma, a violência, a suspensão, a desconfiança, o sigilo e o silêncio passaram a compor o cotidiano, sobretudo, das universidades. O emprego dessa tática serviu para — momentaneamente — silenciar, desarticular e desorganizar as entidades estudantis.
A partir do adensamento da repressão política, foi colocada em prática uma série de iniciativas contra os setores da oposição, no geral, e os militantes estudantis, em particular. Assim, uma das principais marcas desses período foi a estruturação de um amplo aparato para vetar os últimos espaços de contestação ao regime.
Mas, retomando a “Operação Ibiúna, as mobilizações das entidades estudantis e da “União das mães” surtiu efeito, em 12 de dezembro de 1968, depois de quase dois meses de protestos, os últimos estudantes detidos foram liberados. Exatamente um dia após a libertação do último detido no Congresso de Ibiúna o Governo Militar editou seu mais notório Ato Institucional. Em 13 de dezembro de 1968, pouco mais de 60 dias depois da queda do Congresso de Ibiúna, os hierarcas do Regime Militar decretaram o chamado Ato Institucional nº 5.
Editado durante o governo do general Costa e Silva (1967-1969) esse decreto foi o sinal mais evidente da decomposição do cenário político e econômico daquela época. São muitos os argumentos utilizados pelos militares para assinar o AI-5, entre eles:
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
145
o adensamento das manifestações estudantis de 1968, um episódio envolvendo sindicalistas – durante as comemorações do dia 1º de maio – e o governador do estado de São Paulo e os primeiros indícios da atuação de grupos que aderiram a luta armada.
Esses episódios serviram como sinal de alerta para a necessidade de endurecimento do Governo Militar. O pretexto final para o “fechamento” do regime militar foi a negativa do Congresso Nacional em autorizar a abertura de um processo contra o deputado federal Moreira Alves, que teria sugerido um “boicote” aos militares em virtude da repressão contra os estudantes.
A partir dessa data os militares obtiveram plenas prerrogativas para agir em todos os espectros da sociedade, em parte atendendo um clamor das tropas que existia desde 1964. O AI-5, entre outros medidas, autorizou o fechamento do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais. O decretou permitia, sem impor milites para a Presidência, suspender direitos políticos; Legislar por decreto e baixar atos institucionais e complementares.
A partir do AI-5 seria possível também suspender o direito a habeas corpus; julgar civis, acusados de crimes políticos passaram a ser julgados por tribunais militares; de demitir, remover, aposentar funcionários civis e militares; demitir ou remover juízes e Decretar estado de sítio sem restrições. Como destacamos, o desejo de endurecer o regime fazia parte dos planos dos setores militares mais radicais desde o Golpe de 1964.
Em outras palavras, o ambiente político no Brasil pós-1968 teve como uma de suas principais consequências para o movimento estudantil a desarticulação das entidades estudantis mais relevantes e o cerceamento das atividades políticas dos dirigentes estudantis mais engajados. Apesar disso, recorrendo a espaços alternativos, os militantes estudantis continuaram suas ações no interior das universidades, inclusive durante os chamados “anos de chumbo”.
Como as recentes pesquisas sobre o movimento estudantil brasileiro durante a década de 1970 indicam, houve continuidade na
Das utopias ao Autoritarismo
146
organização do movimento depois do AI-5. Durante esse período, segundo CANCIAN (2010) foi possível realizar protestos, retomar as atividades culturais e novas tendências estudantis surgiram. Assim como novas reinvindicações e formas de mobilização.
Na opinião de MULLER (2016), os militantes estudantis continuaram ativos e com papel de destaque durante todos os episódios da transição política brasileira. A própria UNE retornaria suas atividades com a realização de seu congresso de reorganização, em 1979. Contudo, como indica as inúmeras celebrações dessa efeméride, o “mito de 1968” permanece inalterado.
Referências bibliográficas:ARAUJO, Maria Paula Nascimento. Memórias estudantis: da fundação da UNE aos nossos dias. Rio de Janeiro: Ediouro, 2007.
CANCIAN, Renato. Movimento estudantil e repressão política: o ato público na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1977) e o destino de uma geração de estudantes. São Carlos: Editora da Universidade Federal de São Carlos (EdUFSCar), 2010.
FAGUNDES, Pedro Ernesto. Universidade e repressão política: o acesso aos documentos da assessoria especial de segurança e informação da Universidade Federal do Espírito Santo (AESI/UFES). Tempo e Argumento, v. 5, p. 295-316, 2013.
FÁVERO, Maria de Lourdes de A. A UNE nos tempos do autoritarismo. 2ª ed. Rio de Janeiro: UFRJ.
MOTTA, Rodrigo Patto Sá. As universidades e o regime militar. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.
MULLER, Angélica. O Movimento Estudantil na resistência a Ditadura Militar (1969-1979). Rio de Janeiro: Gramond, 2016.
POENER, Arthur. O Poder Jovem: História da participação dos estudantes desde o Brasil-Colônia até o governo Lula. 5ª ed. Rio de Janeiro: Booklink, 2004.
VALLE, Maria Ribeiro do. 1968: o diálogo é a violência: movimento estudantil e ditadura militar no Brasil. Campinas: Ed. da Unicamp, 1999.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
147
A recorrente “ameaça vermelha” e seus efeitos no contexto da transição para a democracia
Maxlander Dias Gonçalves1
Questões concernentes à transição para a democracia
A principal preocupação dos militares com a transição para a democracia envolvia um fator pregresso; aquilo que havia disparado o que eles chamam de “Revolução de 1964”. Na listagem militar tem-se a desordem política ocasionada pela pluralidade partidária e suas disputas em razão do Estado, demonstrando um parco sentimento patriótico e republicano - o que impedia o país de avançar e tornava a corrupção prática contínua; os efeitos sociais de uma cultura impregnada por valores tidos como imorais e corruptores da família e dos bons costumes; e o cerne: a teoria de que o Brasil estava ameaçado por uma recorrente “ameaça vermelha”, fruto das ideias comunistas. Portanto, a passagem de um sistema a outro, num rito de liberalização consistia na propalada distensão lenta, gradual e segura. Os itens dessa transição são múltiplos e remontam o final do governo Geisel e início do mandato de João Figueiredo.
O que pareceria um governo errático aos olhares mais apressados categorizou-se historicamente como uma gestão estrategista na perspectiva do lugar do Estado na abertura política. Segundo NAPOLITANO (2014, p. 231), Geisel buscava “dotar o regime e o governo de instrumentos para conduzir a transição para o governo civil com mão de ferro”, na medida em que, sendo um anticomunista convicto foi o primeiro a reconhecer o governo comunista de Angola; tendo os Estados Unidos da América como um aliado não se furtou em discordar de Jimmy Carter no que tange aos direitos humanos e o acordo nuclear com a Alemanha e; em benefício de muitos artistas oposicionistas viabilizou uma política cultural que acabava por dirimir a censura.
1 Professor de História do Instituto Federal de Rondônia (IFRO-Ariquemes). Doutorando do PPGHIS/UFES
Das utopias ao Autoritarismo
148
De acordo com Alfred Stepan foram as contradições do aparelho de estado que levaram à distensão. Foi na dialética da concessão e conquista envolvendo militares e sociedade civil que tal projeto se equacionou. “Essas contradições fizeram com que um dos componentes do Estado - os ‘militares enquanto governo’ - procurasse aliados na sociedade civil e lhes facilitasse mais poder” (STEPAN, 1986, p. 19).
Para STEPAN (1986, p. 46) não havia prova documental que legitimasse o discurso comumente aceito de que Geisel foi escolhido “para liderar o que passou a ser conhecido como abertura”, inclusive porque uma parcela expressiva do exército se opunha ao projeto de transição. Entretanto, apesar desses aspectos tácitos, Geisel implementou uma agenda de liberalização amparada por instrumentos autoritários, convencendo a comunidade de segurança e as forças armadas de “que os militares enquanto governo estavam no comando e que não perderiam o controle do processo de liberalização” (STEPAN, 1986, p.55).
Elio Gaspari (2016) é mais enfático ao atribuir a Ernesto Geisel um papel vitorioso naquele período histórico. Ganhara todas, diante de cenários políticos adversos dentro e fora da caserna e dos bons resultados econômicos do ciclo anterior. Negociava dentro dos limites que a conjuntura impunha, bem como se adiantava aos impasses que espreitavam. Como num tabuleiro de xadrez movia as peças numa tentativa de manter o cronograma de abertura proposto. Assim, quando o MDB se excedia no combate ao governo, como se estivesse prestes a tomar conta do poder, Geisel respondia com uma reação governamental: “e cada vez que se fazia uma reação se estava praticamente dando um passo atrás na abertura”, reiterara o general posteriormente (D’ARAUJO; CASTRO, 1997, p. 420).
Diferentemente de Ernesto Geisel, cujo personagem a memória liberal fez questão de resguardar, a historiografia de um modo geral reservou a João Figueiredo outro papel. É a partir dele, sem dúvida, que o projeto envolvendo distensão, abertura e, por fim, transição entra em seu desfecho. “A distensão transformara-se em abertura, apontando o caminho para a transição democrática”, pontua NAPOLITANO
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
149
(2014, p. 281). Todavia era notória a sua fragilidade política, o que não evitava comparações com o seu antecessor e mentor.
Somadas a crise econômica com os levantes operários e movimentos de rua, além da insistência de parcela do exército em frear a abertura, tem-se um governante que foi mais conduzido que condutor da transição. A estratégia inicial só não se perdera em seu governo em razão da “tibieza da oposição moderada que ganhava força ao longo do processo” (NAPOLITANO, 2014, p. 283). De algum modo, apesar de um personagem claudicante, o governo do general Figueiredo conseguira na política algo que ele não conseguira na economia, dadas as recorrentes crises, quando analisados os resultados conquistados com a anistia e a reordenação partidária. A equação dividir para somar articulada na caserna surtiu um efeito político esperado.
Os alvos vermelhos da comunidade de segurança e da censura
Segundo Maria Helena Moreira Alves (2005, p. 208) o aparato repressivo estatal tem no Serviço Nacional de Informações (SNI) o grande catalisador das informações que chegam à presidência e demais setores do Executivo, com uma particularidade, fruto de sua autonomia enquanto órgão de inteligência, que é “erigir-se em fonte paralela de decisões governamentais”.
Essa comunidade de segurança possui ainda outros dois elementos articulados que envolvem a ação repressiva local por meio das Polícias Militares e as Forças Armadas em sua tarefa de controle político interno. Conforme argumento de Carlos Fico (2007, p. 175), são três os pilares básicos de uma comunidade de segurança no contexto de qualquer ditadura: “a espionagem, a polícia política e a censura”, tendo ainda a propaganda política enquanto suporte ideológico para as demais ações.
Do ponto de vista orçamentário pairam muitas incertezas quanto à estrutura erguida para perseguir opositores e estabelecer a
Das utopias ao Autoritarismo
150
vigilância social, dado o fato de suas cifras não serem divulgadas com veracidade, mas há uma compreensão geral que os gastos eram vultosos e o governo defendia tal investimento (ALVES, 2005, p. 209). “O SNI chegou a ter 2.500 funcionários”, contando ainda com colaboradores e temporários remunerados conforme demanda, além de uma Escola Nacional de Informações que almejava formar espiões civis como a CIA estadunidense, porém tal experiência não alcançou êxito - e isso seria um demonstrativo de como a ditadura era preponderantemente militar e não civil-militar (FICO, 2007, p. 178).
No contexto da transição permanecia em voga um jargão consagrado entre os militares brasileiros há décadas: “a ameaça vermelha espreita o país”. A comunidade de segurança via comunismo em tudo, inclusive nos militares que instrumentalizavam a abertura. “Os agentes de informação consideravam como fato estabelecido a existência de uma conspiração, qual seja, a escalada do ‘movimento comunista internacional’” (FICO, 2007, p. 179). Acreditavam que o MDB estava completamente aparelhado, que os jornalistas, o clero politizado e os intelectuais de esquerda estavam por trás do movimento de redemocratização e o retorno aos quartéis só faria crescer o avanço subversivo. Sob o militar Euler Bentes, candidato do MDB à presidência da república contra João Figueiredo em 1978, havia um cerco de grampos telefônicos e vigilância coordenados pelo SNI tendo como justificativa o fato do mesmo ter pensamentos esquerdistas que, nessa ocasião, tornavam-se notórios (GASPARI, 2016). Na prática, o trabalho dos agentes de informações envolvia escolher um suspeito para, posteriormente, providenciar-lhe uma culpa (FICO, 2007, p. 180).
De acordo com Elio Gaspari (2016) a ascensão de João Figueiredo à presidência colocava a comunidade de informações em rota de colisão com um dos seus chefes no passado. Num semestre em 1978, por exemplo, 26 bombas haviam explodido sem que os inquéritos tivessem esclarecido as causas e os culpados, e o Comando de Caça aos Comunistas seguia sua ação de destruição de arquivos, invadindo Diretórios Acadêmicos, como o da Faculdade de Arquitetura da Universidade Mackenzie, em São Paulo.
De fato, a tendência de acobertamento dos casos de tortura
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
151
envolvendo militares permanecia uma grande incógnita no trânsito rumo à democracia, especialmente a partir do abrandamento da censura com o fim do AI-5, e o enfrentamento proposto pela chamada imprensa livre. Isso não impediu que o semanário Movimento fosse processado com base na lei de Segurança Nacional após fazer circular uma edição cuja reportagem denunciava os casos de corrupção envolvendo o governo Geisel e a campanha de Figueiredo no Colégio Eleitoral. Entretanto a percepção geral é que as condições haviam mudado tanto para os movimentos civis quanto para a reação governamental. Não era o que pensava a comunidade de segurança.
Somente no primeiro ano de governo Figueiredo doze atentados à bomba ocorreram. Os alvos tornaram-se as sedes dos jornais, bem como as bancas que os distribuíam. Elio Gaspari (2016) atribui total culpa à “tigrada”.2 Destarte, importa perceber nesta ocasião o quanto as ações truculentas do aparato repressor buscavam sobrevida em meio a uma estrutura que definhava na medida em que as funções de seus membros escasseavam. Restava-lhe o velho fantasma do PCB e do Movimento Comunista Internacional.
Desconectada com o centro do governo ou não, a “tigrada” refletia uma clara preocupação de João Figueiredo quanto à transição política em si. Tendo a base civil dos militares se esfacelado com o milagre econômico e estreitado a margem de negociação, restava então evitar “a emergência de grupos políticos muito à esquerda” e as “políticas de apuração das violações de direitos humanos” (NAPOLITANO, 2014, p. 283).
Do ponto de vista da censura é impossível falar no estabelecimento da mesma no contexto da ditadura militar pelo simples fato dela nunca ter deixado de existir no Brasil. Vem de antes e segue depois. “A censura durante o regime militar tinha um modus operandi plenamente reconhecível” agindo fortemente sobre a TV e o rádio, exercendo uma função antiga “e plenamente estabelecida pela
2 Versão tida como “cínica” por Fico, pois as ordens vinham do alto comando militar (2007, p.171). Recentemente esses fatos foram confirmados na divulgação de um memorando da CIA. Disponível em: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1969-76ve11p2/d99. Acesso em 16 jul. 2018.
Das utopias ao Autoritarismo
152
legislação anterior ao regime” (NAPOLITANO, 2014, p. 130).
Porém, com o AI-5, uma atividade censória mais complexa e sistêmica se estabeleceu no contexto da ditadura militar e “o Ato foi usado imediatamente para a censura da imprensa” (FICO, 2007, p. 189). Em alguns jornais havia censores diuturnamente vigiando o processo de produção. Em outros casos pairava uma espécie de autocensura que tanto poderia representar um colaboracionismo ideológico para com o regime quanto uma tentativa de evitar problemas maiores com os militares, inviabilizando os negócios. Esta última opção também era a preferência da ditadura a fim de não se indispor com parcela do empresariado que a apoiou na derrubada de Jango e menos ainda se identificar com uma espécie de getulismo estadonovista (NAPOLITANO, 2014, p. 131).
A censura atingia tanto o noticiário, cujas reportagens deveriam fugir das “proibições determinadas” pelo Ministério da Justiça, quanto as diversões públicas, proibindo peças teatrais, cinematográficas e musicais. No primeiro tópico orbitava um desejo em torno da informação que não deveria circular, pois isso seria uma garantia da ordem. No segundo paira uma compreensão de que é necessário manter a moral e os bons costumes. Em muitas situações o prejuízo financeiro acarretado pela censura acabava por inviabilizar um espetáculo de um determinado artista. Outros adaptaram suas obras para de algum modo prosseguir acessando os financiamentos públicos (FICO, 2007, p. 192).
A sociedade civil contra o regime militarO movimento estudantil teve caráter preponderante a partir
de 1977 com a retomada das ruas (LACERDA, 2015, p. 82). Desde 1968 não havia tantos estudantes enfrentando o regime. Apenas em 1973, em razão da morte do estudante Alexandre Vanucchi Leme, houve tamanha agitação, especialmente em São Paulo. Porém, conforme MOTTA (2014) o ano de 1977 foi crucial em cada batalha pela volta da democracia, colocando pessoas nas ruas, desafiando o governo em sua tentativa de evitar manifestações da oposição.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
153
Entre as pautas constavam a luta por direitos humanos, anistia e constituinte e de algum modo o movimento estudantil forçou os limites da distensão oficial acendendo a luz do perigo vermelho nos quartéis. A problemática a ser resolvida pelos militares ganharia ares de drama quando em São Bernardo do Campo uma greve operária desafiou o regime em 1978.
De fato, o censo de 1970 já apontava o que os sindicalistas denunciariam sobremaneira na ocasião das paralisações:“a distribuição de renda tinha piorado no Brasil na década de 1960, mostrando um ponto fraco nos sólidos resultados econômicos divulgados pelo governo” (PRADO; EARP, 2007, p. 228). Na prática o regime estava diante de uma forte contradição ao comemorar um crescimento do PIB ágil e pungente até o ano de 1973, porém o ônus seria sentido por todos em 1978 quando a dívida externa triplicaria de modo tão rápido quanto inexplicável de antemão pelos analistas.
Os militares encomendaram uma pesquisa a fim de combater tais dados de desigualdade social. A explicação que se seguiu definia o fenômeno da desigualdade enquanto provisório, pelo fato das pessoas terem mudado de categoria no fator produtividade. “Com a continuidade do crescimento, e a maior oferta de mão-de-obra qualificada e educada, a distribuição de renda tenderia a melhorar” (PRADO; EARP, 2007, p. 232). Fato é que a taxa média de crescimento de 11% ao ano entre 1969 e 1973 não conteve a crise seguinte que “revelava a fragilidade financeira e a dependência brasileira dos insumos básicos da economia, como o petróleo” (NAPOLITANO, 2014, p. 150).
Explicações econômicas à parte o fato é que a crise permanecia na mesa do trabalhador brasileiro que sentia a política de arrocho e contenção salarial fruto de políticas que de algum modo também ajudariam a explicar o “milagre econômico” sob o ponto de vista interno. Os anos finais do regime seriam marcados pela combinação recessão-inflação-desemprego.
Em setembro de 1977 os metalúrgicos lançaram a campanha de reposição dos 34%, em decorrência das perdas concernentes à maquiagem dos dados inflacionários do ano de 1973. Não por acaso,
Das utopias ao Autoritarismo
154
no dia 12 de maio de 1978 dois mil operários da Saab-Scania cruzaram os braços. As perdas salariais eram um fator aglutinador, mas não explicavam a mobilização do sindicato dos metalúrgicos como um todo. A pauta da autonomia e liberdade sindical era recorrente nas falas de lideranças como Lula.
De algum modo esta greve trouxe uma série de novidades para o cenário político brasileiro. Acabaria por pautar os limites da transição para a democracia no entendimento da caserna e do empresariado brasileiro; desembocaria na criação de um novo partido político e renovaria o quadro sindical bem como seus métodos de organização para o próximo período.
Por não ter uma liderança orientada pela militância tradicional das históricas paralisações trabalhistas brasileiras tornara-se quase impossível para o governo reprimir a ação paredista. Não encontravam o elemento subversivo comunista, que sempre fora o ponto crucial para culpabilização de quaisquer indivíduos que ousavam insubordinação. “Sem piquetes, a repressão policial ficava momentaneamente desnorteada” (NAPOLITANO, 2014, p. 276). Ao considerar a greve ilegal o TRT acabou dando o combustível necessário para que mais operários parassem. O saldo chegou a 40 mil pessoas. No ano seguinte seriam 180 mil e definitivamente os operários entravam em cena.
João Figueiredo inicia sua presidência em 1979 com duras tarefas para serem cumpridas e os piquetes grevistas problematizavam a proposta de abertura do governo. Não que fosse esse o desejo dos sindicalistas, todavia a questão econômica e o horizonte que se espreitava definiria por fim a ação dos metalúrgicos. “Se brigar por melhores salários é fazer política, então nossa greve é política”, dissera Lula (NAPOLITANO, 2014, p. 286). A greve durou 14 dias com poucas conquistas, mas evidenciou o prestígio daqueles trabalhadores organizados que receberam apoio de estudantes, intelectuais e trabalhadores de outras categorias.
A comemoração do Dia do Trabalhador confirmaria esta virada do movimento sindical brasileiro ao lotar o Estádio de
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
155
Vila Euclides em São Bernardo do Campo. Entretanto o problema da transição se ampliava. “As lideranças políticas afinadas com o governo, como o senador Jarbas Passarinho, temiam uma ‘reação termidoriana’”, pois a leitura da mídia liberal que apoiava o governo desde a deposição de Jango era que um clima pré 1968 rondava o país novamente, o eterno espectro comunista, e isso poderia dificultar o roteiro de abertura (NAPOLITANO, 2014, p. 287).
O regime militar contra a “ameaça vermelha”A transição para a democracia gestada na caserna tinha a
recorrente “ameaça vermelha” como ponto de inflexão. A constatação de uma parcela dos militares, especialmente os infiltrados na comunidade de segurança, de que os comunistas continuavam organizados no país e utilizavam tanto o MDB, quanto a CNBB, bem como o movimento estudantil e sindical para prosseguir com o seu projeto de tomada do poder nas terras brasileiras, movia o debate e as ações no contexto da abertura política.
Rodrigo Patto Sá Motta (2000) define o anticomunismo no contexto pré-1964 enquanto uma “indústria” que, ademais, possibilitava saldos nas urnas. “O objetivo era aproveitar-se do pavor provocado pelo comunismo” e, enquanto autêntico defensor da moral e dos bons costumes da sociedade brasileira, auferir vantagens eleitorais (MOTTA, 2000, p. 202). Os dividendos dessa ação bem arquitetada, tendo a imprensa enquanto lócus da amplificação desse discurso, chegavam também a doações que indivíduos faziam a organizações que combatiam os comunistas, e apoio popular a medidas governamentais diversas. Assim, a “indústria” do anticomunismo garantia justificativas para intervenções autoritárias na institucionalidade brasileira. “Com algumas adaptações e modificações, este roteiro básico foi encenado no Brasil duas vezes, em 1937 e 1964” (MOTTA, 2000, p. 204).
Dentre os argumentos utilizados para frear a distensão estava lá o mesmo discurso que havia unificado uma base social heterogênea nos primeiros anos da década de 1960. Segundo Motta (2000, p. 286), “o anticomunismo adquiriu uma importância
Das utopias ao Autoritarismo
156
preponderante, constituindo-se na fagulha principal a detonar o golpe militar”. Na prática o perigo vermelho permanecia em suspenso como uma argamassa fresca prestes a ser utilizada.
A presença dessa ameaça no imaginário social do Brasil tem raízes profundas apoiadas em dispositivos de segurança e vigilância que foram instrumentalizados a partir da ascensão de Vargas, especialmente com a consolidação do Estado Novo, mas tornou-se efetiva a partir da divisão do mundo em duas supostas frentes de comando, tendo os EUA e a URSS à frente no pós Segunda Guerra. Com a derrubada do governo Fulgêncio Batista em Cuba (1959), mais do que nunca, o território da América tornava-se um ambiente cujas restrições ao ideário soviético ganhava força sob a batuta estadunidense. “Este pensamento, alinhado à ‘contenção’ do comunismo, foi fundamental para delinear as linhas gerais da Doutrina de Segurança Nacional (DSN), propagada pela Escola Superior de Guerra” (NAPOLITANO, 2014, p. 10).
A cantilena se repetia no governo de Ernesto Geisel. Algumas de suas posturas, como no citado caso angolano, fazia com que uma parcela do exército rejeitasse a sua política de transição. O general Silvio Frota era um deles. Objetivava conquistar a indicação para ser o próximo general-presidente, apesar da escolha de Geisel por João Figueiredo. Conforme Gaspari (2016), a predileção de Geisel por Figueiredo consistia no fato de Silvio representar um autêntico retrocesso.
Dentre as diversas atitudes tomadas por Frota constavam a exacerbação do elemento subversivo e uma constante declaração de guerra aos “inimigos da Revolução de 1964”, especialmente os internos. “Desde 1977, remetia à Presidência da República longos relatórios alarmistas e críticos à orientação do governo e à ‘infiltração’ de comunistas e subversivos” (NAPOLITANO, 2014, p. 269). Acabou demitido do Ministério do Exército, entretanto permanecia, juntamente com outros tantos militares na tarefa de reaglutinar setores da sociedade ante ao iminente perigo comunista.
Conforme assinala Elio Gaspari (2016) os empresários chegaram por último na mesa de negociações sobre os trâmites das
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
157
liberdades democráticas porque temiam os trabalhadores organizados. Preconizavam, inclusive, caso a abertura não procedesse conforme criam ser o caminho ideal, que o estado de exceção retornasse prontamente.
No governo Geisel o porão da ditadura não parou de trabalhar com suas práticas de extermínio e tortura. Houve um recrudescimento da caça aos comunistas, tendo como alvos os membros do PCB (por mais que o mesmo não estivesse ativo, ou tenha participado da luta armada). Seu governo buscava institucionalizar os canais de diálogo autorizando uns e desautorizando outros conforme o fator ideológico. Já ao final de sua gestão o aparelho de tortura viria a ser desmontado, mas sendo substituído por um instrumento paralelo, de terror, cujo principal alvo permanecia sendo o mesmo caricato comunista subversivo.
A escalada de violência foi intensa entre 1978 e 1981, com 51 atentados contra órgãos de imprensa, livrarias e instituições diversas, tendo como algozes o MAC (Movimento Anticomunista), CCC (Comando de Caça aos Comunistas) e GAC (Grupo Anticomunista). O governo João Figueiredo assistiria a essas ações, do mesmo modo que Geisel, sem tomar qualquer iniciativa punitiva ou ao menos pressionar pela conclusão de investigações. A suposta ameaça vermelha pautava o trabalho de muitos agentes do estado que insistiam na teoria de que a transição seria um atentado ao legado da “Revolução de 1964”.
O episódio do Riocentro foi emblemático. Uma bomba explodiu dentro de um carro no estacionamento. Em uma delas o efeito foi moralmente devastador para os militares, pois dentro do carro que o artefato explodiu estavam dois agentes do DOI-Codi do Rio de Janeiro e, conforme a imprensa apurara, estavam “trabalhando”. O capitão Wilson Machado sobreviveu, mas o sargento Guilherme Pereira não teve o mesmo destino. Todavia o inquérito policial instaurado concluiu que a “a esquerda havia colocado as bombas no carro para matar os militares que estavam lá apenas para cumprir ‘missões rotineiras’ de vigilância” (NAPOLITANO, 2014, p. 295). Conforme assinala Gaspari (2016), muitas versões foram criadas pelos militares para o terror do Riocentro anos depois, sendo esta, original, a mais absurda, demonstrando o quanto o imaginário anticomunista
Das utopias ao Autoritarismo
158
latente no país poderia eximir-lhes de uma culpa.
Os agentes de segurança do estado também buscaram criminalizar o movimento sindical que ressurgia no chamado “cinturão vermelho” do ABC paulista. Frei Chico, que ficou preso durante 48 dias após uma ação contra membros do Partido Comunista, fora usado como bode expiatório para que entregasse o seu irmão Lula. De fato, as paralisações que tomaram conta do setor metalúrgico não tinham nada a ver com ações partidárias da esquerda e sim com a luta sindical em razão de perdas salariais, mas o setor empresarial enfatizara em documento que um clima pré-1964 rondava o país. Acirrava-se assim um discurso que de algum modo ecoava no ciclo da transição. Com o Movimento Feminino Pela Anistia algo parecido ocorreu. Segundo o SNI o grupo tinha vinculações com o Movimento Comunista Internacional.
A transição, já no início dos anos 1980, mantinha minimamente um cronograma, agora também pautado pela nova realidade das lutas sindicais, estudantis e pelo retorno dos exilados já e atividade na reorganização dos novos partidos políticos. As mudanças atingiam também a comunidade de segurança cujos serviços vinham se tornando obsoletos desde a última investida de Geisel contra Ednardo Mello, apeado do comando do II Exército em 1976. O terrorismo militar precisava então fabricar fatos que lhe providenciasse existência enquanto aparelho de repressão.
Alguns episódios guardam um autêntico ar de comicidade. Nos aprontos para a eleição no Colégio Eleitoral cartazes com a imagem de Tancredo, uma foice e um martelo eram acompanhados da inscrição: PCB - chegaremos lá. Nas prisões e solturas que se seguiram ficou claro que se tratava de uma ação de propaganda anticomunista a fim de gerar mais um desgaste à abertura. Maluf utilizava do discurso anticomunista para denunciar a candidatura do seu adversário dizendo que o mesmo possuía um acordo secreto com a esquerda. Agentes de segurança se infiltravam em passeatas e manifestações portando bandeiras vermelhas a fim de acentuarem o clima de acirramento, levando inclusive o general João Figueiredo a queixar-se da ordem política que espreitava o país e que ele mesmo não assistiria tais eventos de modo passivo (GASPARI, 2016).
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
159
Considerações FinaisNo contexto sociopolítico brasileiro há uma recorrência
da “ameaça vermelha” entendida de forma bastante fluida pelos sujeitos, todavia, com resultados consideráveis para a formação de um imaginário social. Conforme assinala Motta (2000), o sentimento anticomunista teria nascido de modo espontâneo com base no medo do desconhecido e, assim, a identidade comunista que se consagrou historicamente no Brasil foi conectada à imagem do mal, com todo ideário que circunda tal termo. Dessa feita, uma mentalidade política se formou, na alvorada do golpe militar e no transcorrer de toda a ditadura, tendo o seu oposto como o paradigma.
O combate ao iminente “golpe vermelho” instrumentalizava ações, unificava bases sociais difusas e orientava as instituições para o descumprimento de prerrogativas quando estivesse diante do “subversivo”. O discurso da “ameaça vermelha” unificou parcela considerável da sociedade civil, possibilitou o golpe militar, justificou a violação de direitos humanos e dificultou a transição para a democracia.
De fato, em algumas ocasiões da recente história brasileira seria cabível a crença em um levante comunista, dados os fatos históricos que a demonstram. Neste ponto caberia uma razoável justificativa para a antítese comunista. Entretanto, conforme discute MOTTA (2000), mais do que o perigo comunista real, a unidade em torno do “perigo vermelho” somava aspectos de convicção a elementos de manipulação. Não era um fanatismo simplista, mas um componente ideológico importante para os sujeitos que defendiam a erradicação de todo o fator que supusesse a modificação do status quo.
Portanto, no contexto da transição para a democracia, a “ameaça vermelha” apareceu mais enquanto um emblema que resgatava imagens de um passado recente da história brasileira no instante em que bases sociais se unificaram em torno de um adversário comum do que um autêntico perigo para as instituições nacionais na etapa final do regime. Porém, os mesmos militares não se furtaram em utilizar da repetida estratégia do imaginário anticomunista para colocar a abertura política em xeque. Em certo sentido a iniciativa de uma parcela do
Das utopias ao Autoritarismo
160
exército que se utilizava do terror para frear a transição não obteve êxito, contudo há que se refletir sobre os efeitos desse insistente discurso de “ameaça vermelha” para a democracia que se constituía.
Referências Bibliográficas:ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e Oposição no Brasil (1964-1984). Bauru: EDUSC, 2005.
D’ARAÚJO, Maria Celina; SOARES & CASTRO, Celso (Orgs.). Ernesto Geisel. 2. ed Rio de Janeiro: FGV, 1997.
FICO, Carlos. Espionagem, polícia política, censura e propaganda: os pilares básicos da repressão. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida Neves (Orgs). O tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p.167-205.
GASPARI, Elio. A ditadura acabada. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2016.
LACERDA, Gislene Edwiges de. O movimento estudantil e a transição democrática brasileira: memórias de uma geração esquecida. Tese (Doutorado em História Social) – Programa de Pós-graduação em História Social (UFRJ), Rio de Janeiro, 2015.
MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Em guarda contra o perigo vermelho: o anticomunismo no Brasil (1917-1964). Tese (Doutorado em História Econômica) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (USP), São Paulo, 2000.
MOTTA, Rodrigo Patto Sá. As Universidades e o Regime Militar: cultura política brasileira e modernização autoritária. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.
NAPOLITANO, Marcos. 1964: História do regime militar brasileiro. São Paulo: Contexto, 2014.
PRADO, Luiz Carlos Delorma; EARP, Fábio Sá. O “milagre” brasileiro: crescimento acelerado, integração internacional e concentração de renda. In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida Neves (Org.). O tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 209-241.
STEPAN, Alfred. Militares: da abertura à Nova República. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. (Estudos brasileiros, v. 92).
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
161
A cultura política e a justiça de transição no Brasil: um estudo de história do tempo presente
Guilherme Gouvêa Soares Torres1
IntroduçãoCom as palavras abaixo, René Rémond inicia seu ensaio
Uma história presente, texto que abre o livro Por uma história política (1988):
A História, cujo objeto precípuo é observar as mudanças que afetam a sociedade, e que tem por missão propor explicações para elas, não escapa ela própria à mudança. Existe portanto uma história da história que carrega o rastro das transformações da sociedade e reflete as grandes oscilações do movimento das ideias. É por isso que as gerações de historiadores que se sucedem não se parecem: o historiador é sempre de um tempo, aquele em que o acaso o fez nascer e do qual ele abraça, às vezes sem o saber, as curiosidades, as inclinações, os pressupostos, em suma, a “ideologia dominante”, e mesmo quando se opõe, ele ainda se determina por referência aos postulados de sua época (RÉMOND, 2003, p. 13).
Ao se referir à disciplina história como uma disciplina presente, René Rémond aponta para uma questão importante: ela não é estanque, nem tampouco engessada, mas passa pelas próprias mudanças que tem por objeto. Logo, a história também é histórica.
No ensaio, Rémond traça as características gerais do movimento historiográfico do qual fora parte e testemunha durante os anos 1980. Nos capítulos do livro por ele organizado, são indicados temas importantes do retorno: as eleições, os partidos políticos, a associação, etc. A emergência das temáticas políticas indica uma nova compreensão social acerca da questão; nesse sentido, os estudos tradicionais do político não comportam mais as relações acerca deste.
1 Mestrando do PPGHIS-UFES sob orientação do professor Dr. Pedro Ernesto Fagundes.
Das utopias ao Autoritarismo
162
A historiografia tradicional sucumbiu perante as transformações trazidas pelos historiadores dos Annales: a possibilidade de penetrar em realidades sociais mais profundas barrou os estudos de gabinete, episódicos e pautados nas vidas de grandes personalidades públicas. Além disso, é fundamental citar a mudança na compreensão acerca da natureza das fontes históricas, possibilitando o acesso a uma gama muito mais ampla de registros do que os meros arquivos oficiais. Passa a ser mais importante para o conhecimento histórico conhecer a vida das camadas mais baixas da população (RÉMOND, 2003, p. 15-19). O estigma atribuído aos historiadores tradicionais, aliado ao prestígio acadêmico dos Annales contribuiu para o ostracismo dos estudos ligados à história política.
O retorno ao político2 teve aspectos experienciais (p. 23) e acadêmicos (p. 28-29; 32). A experiência das duas guerras mundiais, a pressão das relações internacionais na vida interna dos Estados, a incidência dos fatos políticos nas experiências individuais, as crises dos liberalismo e o aumento das atribuições do Estado, dentre tantas outras questões teve na academia o impulso de uma interdisciplinaridade renovada (ciência política, análise do discurso, estatística), a aplicação de metodologias próprias da escola dos Annales ao estudo do político, como o trato quantitativo das fontes, a possibilidade de inserir à longa duração os temas políticos, o que contribui para desmistificar a imagem positivista arraigada à história política.
Por uma história política é um livro importante para nos situarmos em relação ao profícuo contexto da historiografia francesa em fins dos anos 1970. A obra não esgota, de forma alguma, o conjunto das discussões na Europa naquele momento; pelo contrário: eis uma obra seminal para indicar a fertilidade daquele contexto. Em 2018, completa 30 anos e nos cabe discutir: qual a atualidade da obra?
É indiscutível a necessidade de, a partir dos instrumentos
2 Cito tal expressão em itálico mais por uma compreensão geral acerca do fenômeno do que propriamente algo utilizado pelo próprio autor; este inclusive discorda da expressão e demonstra o porquê disso, já que outros estudos sobre o político foram publicados mesmo antes e durante o hiato, o que contribui para embasar os aspectos da mudança mais adiante (p. 26-28).
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
163
de análise postos à disposição por Rémond e os demais historiadores do político, refinar e adequar aos cenários do século XXI. Por uma história política data do período final da Guerra Fria, onde o fim do sistema soviético, a reunificação da Alemanha eram acontecimentos em ebulição. O papel dos Estados Unidos na geopolítica global tendo Donald Trump na presidência3, a ascensão de partidos de extrema direita na Europa, o cenário eleitoral conturbado no Brasil após o impeachment da presidente Dilma Rousseff - processo, este, bastante questionado e questionável.
Diante de tais questões, é importante pensar o tema em várias frentes: a definição de cultura política, a transição política no Brasil, a justiça de transição e a influência dos legados autoritários no tempo presente brasileiro. Irei por partes.
A cultura política e a transiçãoPara a discussão da transição política no Brasil, tem sua
validade ao se buscar entender a natureza dos comportamentos políticos. Não é o intuito utilizar o termo para imobilizar possibilidades de explicação histórica, mas sim compreender como agem os indivíduos e por que agem dessa forma.
Mas, afinal: o que é cultura política?Os historiadores entendem por cultura política um grupo de representações, portadoras de normas e valores, que constituem a identidade das grandes famílias políticas e que vão muito além da noção reducionista de partido político. Pode-se concebê-la como uma visão global do mundo e de sua evolução, do lugar que aí ocupa o homem e, também, da própria natureza dos problemas relativos ao poder, visão que é partilhada por um grupo importante
3 No dia em que escrevo esse artigo, o presidente Donald Trump assinou com Kim Jong-un, ditador norte-coreano, um acordo de desnuclearização da península coreana, o que implica um fim das tensões militares na região, que datam da década de 1950. Muitos são os cenários ao horizonte: qual o impacto se o acordo não for cumprido? E, ainda mais: se for? Disponível em: https://www.cartacapital.com.br/internacional/donald-trump-e-kim-jong-un-assinam-acordo-de-desnuclearizacao Acesso em 12/06/2018
Das utopias ao Autoritarismo
164
da sociedade num dado país e num dado momento de sua história (BERNSTEIN, 2008, p. 31 - grifo meu).
O conceito tem a sua validade ao pensarmos as práticas introduzidas pelo regime autoritário quanto comportamentos anteriores que levaram ao golpe de 1964 ou ainda foram reaproveitadas e reinterpretadas pela ditadura instaurada em 01/04/1964. Cabe indicar, em linhas gerais, quais seriam os aspectos de tal cultura política, para assim compreender a relação com o processo de transição democrática no Brasil, bem como o impacto das medidas da justiça transicional durante o período da Nova República.
Portanto, ao pensarmos na relação entre a cultura política brasileira e a transição democrática, tendo em vista as questões ligadas à justiça transicional, dizem respeito à forma como aos aspectos da cultura política que se relacionam com a sustentação do regime, bem como as características do processo de entrega do poder tem a ver também com tal conceito. Tal relação não se dá de graça: é fundamental enfatizar a aproximação teórico-metodológica com o retorno do político. O conceito de cultura política tem sua importância fundamental no contexto, cabendo, portanto, sua devida contextualização.
A permanência do passado autoritário na democracia brasileira é um exemplo de comportamento político no tempo presente. As falas elogiosas à ditadura feitas pelo deputado Jair Bolsonaro (um presidenciável) e a possibilidade de uma intervenção militar, aventada pelo general Hamilton Mourão em setembro de 20174 são exemplos de práticas e representações por detrás de ações determinantes na cena política como o golpe de 1964.
No caso do Brasil, os estudos do professor Rodrigo Patto Sá Motta possuem central relevância para pensar a cultura política brasileira. Indica:
Faz-se necessário apresentar sumariamente o que se
4 Disponível em: <https://politica.estadao.com.br/noticias/geral,general-fala-em-possibilidade-de-intervencao-militar-e-e-criticado-por-comando-das-forcas,70002005185>. Acesso em: 17 jul. 2018
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
165
entende por cultura política brasileira e seu elemento chave, a acomodação, antes de abordar sua incidência no período ditatorial. Cultura política seria um conjunto de representações, valores e padrões de comportamento político comuns a determinado grupo, sem que isso signifique qualquer forma de atavismo. O campo da política supõe o protagonismo de agentes que fazem escolhas: há sempre margem para a opção entre diferentes caminhos de ação. O argumento é que as escolhas podem sofrer a influência da cultura política, que oferece aos agentes alguns padrões de ação já inscritos nas tradições, mais atraentes e viáveis por terem gerado sucesso em ocasiões anteriores. Assim, não há porque supor oposição entre a influência de padrões culturais e a escolha dos agentes políticos. A cultura política indica caminhos e estratégias com maiores chances de sucesso que, por isso, podem tornar-se opções interessantes para os agentes envolvidos (MOTTA, 2016, p. 14).
A acomodação indicada por Sá Motta é um termo vital para se pensar as relações de determinados grupos da sociedade civil (imprensa, oposição, etc.) com o regime militar. Longe de desconsiderar o papel da repressão e das violações dos direitos humanos, cabe lançar um olhar além do maniqueísmo entre militares bandidos contra a sociedade vítima. É fundamental entender quem ganhou, quem perdeu e quem foi indiferente aos anos de arbítrio, seja na defesa dos próprios interesses, seja por simplesmente não ter interesses importantes em jogo.
Tendo em vista o termo utilizado pelo professor, cabe pensar o contexto da transição e as estratégias utilizadas naquele contexto e durante a Nova República, quando da implementação de medidas transicionais. Importa assinalar que, para Rodrigo Patto Sá Motta, em outro artigo (2009, p. 30) provoca o leitor sobre o papel da conciliação em diversos contextos da história política brasileira. Seria esta a tônica da nossa cultura política?
Importa frisar que, em se tratando de justiça de transição, é preciso levar em conta que um regime autoritário insere determinadas práticas políticas e que por vezes alteram a cultura política de um país
Das utopias ao Autoritarismo
166
ou se adaptam a ela. São os legados autoritários.
O cientista político italiano Leonardo Morlino (2013) elenca três dimensões dos legados autoritários - os valores, as instituições e os comportamentos5 - e dois tipos de legados autoritários - introduzidos pelo regime autoritário ou partes da cultura política do país e readaptados pelo regime. Por sua vez, enumera as qualidades quanto ao procedimento, conteúdo e resultado.
Morlino busca pontuar o grau de impacto das ditaduras nos sistemas políticos emergentes após a derrocada dos autoritarismos. Essa relação se dá mediante diversos aspectos. Os conceitos trabalhados pelo autor abarcam tanto o que está diretamente envolvido pelos regimes autoritários quanto pelo período anterior, que compõem a cultura política desses países. Cabe também destacar que o processo de transição para a democracia é fundamental para definir tanto a qualidade democrática no momento posterior, como também indica a relação com a ditadura. Para entender essa relação, Morlino enumerou três dimensões de influência dos regimes e que compõem o legado autoritário; são essas: duração, inovação e tipo de transição6.
No caso da transição brasileira, podemos situar a transição
5 Os valores são constituídos pelo componente ideológico dos regimes; a dimensão institucional diz respeito aos elementos introduzidos ou que são sustentáculos das ditaduras, como exército ou Igreja; os comportamentos dizem respeito aos silêncios, a fenômenos eleitorais e de massa, etc.
6 MORLINO (p. 269) define duração como “a extensão de tempo durante o qual o regime autoritário permanece no poder”; inovação como “...tanto o grau de transformação como a institucionalização de regras, padrões, relações e normas autoritários que são muitas vezes simbolizados por uma nova constituição, pela criação de novas instituições” e por reforço ou enfraquecimentos de interesses particulares; tipo de transição como “...forma como a transição do poder autoritário favorece responsáveis e/ou contestatários”, além de dizer respeito à manutenção (ou não) de normas institucionais e à influência ao eleitorado no momento imediatamente posterior. Defende também Morlino que “tipos contínuos ou descontínuos de transição medeiam se e a que ponto os legados autoritários persistem” (ibid). No caso brasileiro, a inovação não possui tanta importância enquanto legado, visto que o regime foi duradouro e adaptou muitas características do período anterior, como, por exemplo, o funcionamento, ainda que deficitário, do Parlamento. Graças a tais características, vemos uma transição conciliatória, pactuada, marcada por continuidades institucionais e com limitadas medidas de punição e reparação.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
167
brasileira a partir do governo do general Ernesto Geisel (1974 - 1979). É possível perceber comportamentos de conciliação e acomodação e algumas iniciativas denotam tal caráter e há permanências ainda no tempo presente brasileiro. Cabe, portanto, indicar a importância da cultura política no processo, os legados autoritários e a relação entre estes.
A transição brasileiraÉ importante relembrar que o processo de entrega do
poder aos civis foi profundamente conciliatório e negociado, caráter este denominado por Alexandra Barahona de Brito (2013) como em câmera lenta. Ressalto aqui novamente que o controle das decisões pelos militares só foi possível graças ao desmonte das guerrilhas armadas e da centralização das ações de oposição ao regime por grupos politicamente mais moderados. A partir de 1974, o MDB passa a exercer um papel predominantemente no processo, impulsionado pela retumbante vitória eleitoral naquele ano.7 Tais medidas contribuíram para que durante o período democrático, os militares não tivessem que lidar com a questão da responsabilidade.
Portanto, ao considerarmos o alto grau de controle do processo político conseguido pelos militares, podemos caracterizar a transição brasileira como profundamente pactuada, ou seja, com as elites autoritárias - no caso do Brasil, as Forças Armadas - exercendo suas prerrogativas para evitar o máximo de dano possível.
7 Além da Lei de Anistia, a Reforma Partidária teve um papel central ao fragilizar as oposições e acentuar o caráter controlado da transição. Após o fim do bipartidarismo, outros partidos emergem na cena política, fragmentando os setores que se colocavam contrariamente ao regime. Para citar como exemplo dentro das esquerdas, o PT, fundado em 1980, disputou o papel de representante da classe trabalhadora com o trabalhismo de Leonel Brizola, que, por sua vez, fundou o PDT em 1980 após a entrega da sigla do PTB a outros grupos políticos (FREITAS, 2011, p. 59; NAPOLITANO, 2017, p. 362). A grande força emergente naquele momento era o PMDB, fundido ao PP (Partido Popular e não o atual Partido Progressista). Este partido seguiu a maré da conjuntura política, tendo formado uma chapa para a eleição indireta de 1984 que alçou Tancredo Neves à presidência da República, tendo por vice José Sarney, ex-membro da ARENA e do PDS, partido que surgiu da agremiação governista do regime militar e mais tarde veio a se tornar o PFL.
Das utopias ao Autoritarismo
168
Isso se reflete na Lei de Anistia (1979), que beneficiou também os torturadores e a pacífica entrega do poder aos civis, coroada pela eleição indireta de Tancredo Neves e José Sarney - ex-membro da ARENA - a presidente e vice.
De 1985 e 1995, poucas medidas foram tomadas pelos governos a respeito do passado autoritário brasileiro. Cabe destacar a transferência dos registros policiais aos governos estaduais pelo governo Collor (1989-1992), o que não uniformizou a questão do acesso aos documentos do período militar (BARAHONA DE BRITO, 2013, p. 239). Durante os anos Sarney, foram mantidos o Conselho de Segurança Nacional e o Serviço Nacional de Informação (BARAHONA DE BRITO, 2013, p. 237-238).
As primeiras medidas de transição do Governo Federal foram tomadas durante o mandato de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). FHC criou, em 1995, a Comissão de Familiares dos Mortos e Desaparecidos por Razões Políticas (CFMDRP). Tais trabalhos culminaram no reconhecimento da responsabilidade do Estado brasileiro na morte de 136 pessoas por razões políticas e na promulgação da Lei 9.140 de 4 de dezembro de 1995 (BARAHONA DE BRITO, 2013, p. 241).8
As vitórias eleitorais de Lula e Dilma representam a chegada de um partido progressista ao poder, o Partido dos Trabalhadores. De bases operárias e sindicais, o PT passa por uma inflexão, indo de uma postura anti sistêmica a maior pragmatismo, após maus resultados eleitorais, tendo por marco dessa mudança a ascensão de José Dirceu à presidência do partido na segunda metade dos anos 1990.
8 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9140.htm>. Acesso em 17 ago. 2017. A lei “Reconhece como mortas pessoas desaparecidas em razão de participação, ou acusação de participação, em atividades políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, e dá outras providências”, tendo sido alterada pela 10.536 de 14 de agosto de 2002, que estendeu o período contemplado pela lei até 5 de outubro de 1988. Importa destacar o artigo 2º da Lei: “A aplicação das disposições desta Lei e todos os seus efeitos orientar-se-ão pelo princípio de reconciliação e de pacificação nacional, expresso na Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979 - Lei de Anistia.” A inserção deste trecho no corpo da lei denota a tônica das medidas de transição e tal princípio esteve por detrás das outras medidas tomadas pelos governos da Nova República.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
169
Em tais mandatos, percebe-se uma disposição maior a lidar com aspectos do passado autoritário brasileiro. Todavia, as políticas desses governos tiveram limites claros, especialmente durante o governo Lula. A lida com a memória da ditadura militar brasileira foi mais presente durante o governo Dilma, especialmente no primeiro mandato.
O governo Lula apresentou uma orientação ambígua em suas políticas do passado. Por um lado, é importante destacar a extensão das políticas compensatórias por parte do Estado brasileiros em relação aos perseguidos políticos do período militar9. Além disso, é no mesmo governo que são criados os projetos Direito à Memória e à Verdade e Memórias Reveladas, além do Memorial da Anistia e as Caravanas da Anistia, que incentivaram novos pedidos de anistia (BARAHONA DE BRITO, 2013, p. 244-245), além do anúncio da criação da Comissão Nacional da Verdade em dezembro de 2009, sancionada pela 12.528 de 18 de novembro de 2011. Todavia, o governo se mostrou suscetível às pressões dos militares, tendo inclusive cedido em algumas ocasiões, como, por exemplo, a recusa em revisar as leis de sigilo 8.159/91 e 11.111/05, a respeito das quais o Supremo Tribunal Federal havia declarado inconstitucionais, em resposta à ação do Procurador Geral da República Antonio Fernando Barros e Silva de Souza. Desta forma, foi mantido o segredo de arquivos mais sensíveis por mais 60 anos, sob o argumento de que tal segredo era necessário por questões de segurança (BARAHONA DE BRITO, 2013, p. 247)10.
Durante o governo Dilma, houve mais esforços nas medidas
9 Um exemplo é a fórmula de compensação estabelecida em Comissão Interministerial em decreto de 27 de agosto de 2003 e a extensão do período pela Lei 10.875, de 1º de junho de 2004 (BARAHONA DE BRITO, 2013, p. 244).
10 O Caso Viegas, em 2004, indica a ambiguidade das medidas de transição no governo Lula. A divulgação de fotos de um prisioneiro que se supôs ser Vladimir Herzog pelo Correio Braziliense foi respondida com uma nota do comandante do Exército falando em movimento comunista internacional, dentre outros exemplares de retórica de Guerra Fria e relativizando a morte do jornalista. A celeuma gerada por tal nota foi resolvida com uma breve nota do comandante, reafirmando os ideais democráticos das Forças Armadas. O desgaste levou ao pedido de demissão do ministro da Defesa José Viegas, desautorizado frente à ação dos militares. Foi substituído pelo vice-presidente, José de Alencar (cf. D’ARAÚJO, 2012).
Das utopias ao Autoritarismo
170
transitórias. Em 2011, como já foi dito, foi sancionada a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, juntamente com a Lei de Acesso à Informação. Um avanço fundamental dessa lei é que o acervo relativo a violações dos direitos humanos não poderá ser classificado como “ultrassecreto”, não ficando, portanto, em sigilo no prazo máximo (no caso, 25 anos)11.
Importante indicar o trabalho de Maria Celina D’Araújo, que traça um percurso histórico do papel das Forças Armadas na sociedade brasileira na Nova República, em Militares, Democracia e Desenvolvimento (2010). O conceito corporativismo (p. 125) é fundamental para se entender o papel de salvaguarda institucional adotado pelas Forças Armadas no tema da Lei da Anistia (p. 146) e na questão do acesso aos arquivos do período ditatorial, mantendo as restrições com o fito de proteger toda a classe.
Transição, Cultura Política E Tempo Presente Nas décadas finais do século XX, o político está em evidência
mais do que nunca; os traumas dos totalitarismos e dos autoritarismos, as experiências da Guerra Fria, a descolonização na África e na Ásia, as revoluções políticas e comportamentais, dentre tantos outros eventos, chamam a atenção dos historiadores e suscitaram novas reflexões, influenciando até mesmo a forma de se pensar a disciplina. O próprio RÉMOND (2003, p. 22) aponta que este retorno é fruto de uma conjugação entre realidade e percepção, ou seja, como interage o historiador diante das questões do próprio tempo e como elas interferem na forma de se fazer a disciplina.
A história do tempo presente é um reflexo dessas perspectivas e questões colocadas diante do historiador. O seu nome já indica uma possível contradição: história do tempo presente. Como pensar o presente historicamente? Não seria a história coisa do passado? Como inserir tal objeto em uma lógica de sequência temporal?
11 Os documentos do período poderiam ser classificados como ultrassecretos (25 anos de inviolabilidade), secretos (15 anos), reservados (05 anos), podendo ser renovada a inviolabilidade por apenas uma vez (BARAHONA DE BRITO, 2013, p. 250).
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
171
Importa destacar a questão da demanda social para a História do Tempo Presente; para Agnes Chaveau e Philippe Tétart (1999, p. 7-10), a história do tempo presente coloca em evidência a questão da relação entre o historiador e seu tempo: quais são os jogos de influência entre os climas ideológicos e os contextos históricos? Por sua vez, RIOUX (1999) indica que a relação com o tempo e com a memória durante o século XX apontaram a necessidade do registro e do trato históricos (1999, p. 43-44).
A leitura de Rioux se aproxima com a de Henry Rousso (2001), que indica a renovação do campo de estudos sobre a memória (p. 94) e a importância de questões sensíveis para a memória coletiva e a influência para a escrita da história (p. 95). Rousso cita como exemplo de passado sensível a França de Vichy, seu objeto de estudo.
Aqui no Brasil, questões referentes à ditadura militar permanecem muito atuais, não somente para a academia, como também como objeto de disputas no seio da sociedade. Nos últimos anos, diante da crise política deflagrada durante o governo Dilma e agravada pelo impeachment desta em 2016. Neste contexto, o passado autoritário esteve presente em diversas circunstâncias, como a emergência das manifestações por intervenção militar12 e nas falas do deputado federal Jair Messias Bolsonaro (PSC-RJ) que, em votação pela admissibilidade do relatório do deputado Jovair Arantes (PTB-GO) pelo impeachment de Dilma, homenageou o torturador Carlos Alberto Brilhante Ustra, o terror de Dilma Rousseff13 Mais recentemente, manifestações de generais - incluindo o comandante do Exército, general Eduardo Villas Boas - a respeito do papel das Forças Armadas e da intervenção militar indicam a relevância do imaginário acerca da questão e que ainda persiste: a missão das três forças seria uma espécie de Poder Moderador, intervindo em contextos de crise e temor da instabilidade.
12 Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,manifestantes-pedem-intervencao-mil i tar-com-base-em-regra-que-nao-existe-na-constituicao,1668381>. Acesso em: 11 ago. 2017
13 Disponível em: <https://extra.globo.com/noticias/brasil/coronel-ustra-homenageado-por-bolsonaro-como-pavor-de-dilma-rousseff-era-um-dos-mais-temidos-da-ditadura-19112449.html>. Acesso em: 11 ago. 2017.
Das utopias ao Autoritarismo
172
Considerando o destaque obtido pelo militar nos últimos anos e as falas dos generais, é importante levantar alguns questionamentos. É no contexto de crise do governo Dilma Rousseff (considero este período os anos entre 2013 e 2016), Bolsonaro ganhou notoriedade, tornando-se até mesmo um presidenciável. Por sua vez, as declarações dos generais passaram a ecoar uma demanda de determinados grupos sociais em apoio a uma intervenção militar.
Para a cientista política portuguesa Alexandra Barahona de Brito (2013), o primeiro mandato da petista representou um ponto de inflexão na história das políticas de transição no Brasil. A criação da Comissão Nacional da Verdade, a postura da presidenta frente às pressões dos militares acerca de tais medidas foram, sem sombra de dúvida, fundamentais no que diz respeito à relação das instituições democráticas para com o passado autoritário, especialmente a Comissão da Verdade, que, apesar de não ter papel jurídico, contribuiu para a expressão de vozes silenciadas pela ditadura.
A considerar o papel desempenhado pelo governo Dilma, não é equivocado buscar compreender as reações suscitadas a partir de sua experiência biográfica. A própria fala de Bolsonaro em homenagem a Ustra reflete claramente tal vínculo.
Não pretendo aqui simplesmente ligar a queda de Dilma às medidas transicionais de seu governo; na verdade, elas foram um componente a mais, vindo a alimentar o anticomunismo fortemente presente na cultura política brasileira (MOTTA, 2009, p. 30). Quando Dilma caiu em 2016, tais aspectos vieram à tona e acredito que as ações de seu governo quanto à revisão histórica da ditadura militar contribuíram para engrossar esse caldo. Todavia, a questão mais pertinente a se colocar neste momento é: por que 32 anos após a entrega do poder aos civis, quase 30 de vigência da Constituição Cidadã, o autoritarismo emerge em discursos e práticas justo no momento em que há mais ações a se combatê-lo?
Dizer que é uma mera reação é reducionismo. O que está envolvido é a permanência desses valores passados, revistos e ressignificados no presente. É o próprio passado que não passa
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
173
(ROUSSO, 2001, p. 95; DELACROIX , 2012, p. 359). Tal permanência se assenta em diversos fatores.
A ausência de uma memória coletiva traumatizada acerca da ditadura militar é um ponto importante, pois o período acaba por ser pintado como uma ditabranda14, de modo que pareça inócuo proceder com a investigação.
Paralelo a isso, pode-se ligar à forma como a sociedade brasileira lida com a violência, algo também vinculado à cultura política nacional, mas, mais ainda, muito próximo de nossa realidade em 2018. O chavão Bandido bom é bandido morto ecoa no silêncio da sociedade sobre a ditadura militar, no que diz respeito à prática da tortura. Importante frisar, como bem o-faz Daniel Aarão Reis (2013, p. 228) que esta foi uma prática de Estado de 1935 a 197915 .
Este silêncio está relacionado ao procedimento de transição para a democracia. Como já foi citado, a anistia foi um pacto social firmado sobre três silêncios, o que, por sua vez, indicam uma forma de se lidar com a ditadura, tanto no passado, quanto no presente: houve largo apoio da sociedade civil ao regime, atestado pelas Marchas da Família com Deus pela Liberdade16 e a adesão pelo menos até os anos do Milagre Econômico.
Ao redor desse pacto social foi construído um discurso sobre o passado que buscou conferir a diversos grupos (como a imprensa, por exemplo) o atributo de ter resistido ao regime e vinculá-los à ideia de oposição democrática (NAPOLITANO, 2017, p. 364). Tal discurso permanece e se afirmou enquanto memória hegemônica, de modo que, para esses grupos, tem que manter isso aí.
A compreensão do processo de transição é fundamental
14 Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1702200901.htm>. Acesso em: 11 ago. 2017
15 Como já foi dito anteriormente, o autor considera que a ditadura teve seu fim em 1979; todavia, esta datação apresentada no parágrafo acima marca também o fim do AI-5, de modo a apontar, portanto, o abrandamento do regime no que diz respeito às práticas de violência.
16 A respeito das marchas, cf.: FAGUNDES (2014).
Das utopias ao Autoritarismo
174
para compreender a construção da democracia em períodos pós-autoritários; muitos autores, como o já citado Leonardo Morlino buscaram compreender a relação entre a justiça de transição e a qualidade da democracia. Não adentrarei na discussão do cientista político italiano, apenas levantar esse ponto para concluir o texto.
O passado autoritário brasileiro permanece na democracia brasileira. O modo limitado como foram tratadas as políticas do passado é um reflexo disso. Ao controlar o processo, os militares foram capazes de criar mecanismos para evitar as punições e manter certas prerrogativas durante o período civil, de modo a barrar um empreendimento de justiça de transição de fato, mantendo tais políticas no nível da reparação sem reformar profundamente as instituições ou responsabilizar os envolvidos em crimes durante a ditadura. A relevância dada às reações dos militares em questões espinhosas acerca de acesso aos documentos e da Comissão Nacional da Verdade, chegando até mesmo a configurar cenários de crise institucional, atestam como o jogo democrático brasileiro permanece atrelado ao entulho autoritário. O mesmo é possível dizer da aceitação que vem tido o já citado deputado Jair Bolsonaro, despontando como uma figura importante para o cenário eleitoral de 2018. Não quero aqui dizer que todos os possíveis eleitores do pré-candidato concordam com as suas posturas elogiosas à ditadura militar, apenas anotar o significado que o fenômeno tem no nosso contexto. O autoritarismo permanece como uma solução para as crises democráticas.
Diante da história do século XX, permeada por acontecimentos traumáticos, cabe ao historiador propor questões de modo a desfatalizar o sofrimento. A sociedade que cria a violência pode ela compreender e a ela combater. O papel do historiador é fundamental nesse processo (FARGE, 2011, p. 23).
O estudo da justiça de transição entrelaça o presente e o passado, ao buscar compreender a influência dos legados autoritários e o modo a se combater. O pesquisador que se debruça sobre esse tema e outros a ele ligados está diante não somente de um objeto como qualquer outro, mas da responsabilidade ética frente à verdade histórica; aquela dos rastros apagados e das vozes silenciadas, que
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
175
emergem no relato histórico (LAFER, 2012, p. 16-17).17 Para François Dosse (2017, p. 32), a responsabilidade do historiador possui três funções: crítica, cívica e ética e opera em duas frentes: a desmistificação da memória coletiva e a formação de consciência histórica.
Tal relação com a memória traz pontos fundamentais. Os usos do passado no espaço público atravessam a história, através de perspectivas diferentes e com intenções diferentes. Um claro exemplo disso é a memória do fascismo na Itália, que flutuou da condenação a reabilitação (TRAVERSO, 2007, p. 44). Tais presenças mostram que o passado não é algo morto, enterrado e descansando em paz, mas permanece vivo, mutável e com uma relação nem sempre simples com a história e a historiografia. A força da memória perpassa a escrita da história e leva ao confronto entre narrativas. Temas importantes deram impulso para que os historiadores assumissem seu olhar a recortes mais próximos, como o regime de Vichy e a Guerra da Argélia e trazem o historiador ao debate público como um perito ou juiz (TRAVERSO, 2007, p. 64; ROUSSO, 2017, p. 220).
Frente às questões colocadas, o relato histórico não se mantém frio e objetivo, mas atravessado constantemente pelo clima ideológico, pela dificuldade em lidar com um tempo fragmentado e com profundas feridas abertas durante os períodos estudados. Essa escrita nunca está acabada e é esse caráter que relembra a importância de sua escrita: o objeto é vivo, dialoga contigo e busca respostas.
Referências bibliográficas:PINTO, António Costa. O governo Lula e a construção da memória do regime civil-militar. In.: PINTO, António Costa. MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes (org.). O passado que não passa: a sombra das ditaduras na Europa do Sul e na América Latina. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2013, p. 215 - 233.
BARAHONA DE BRITO, Alexandra. “Justiça transicional” em câmara
17 LAFER, Celso. Justiça, História, Memória: Reflexões sobre a Comissão da Verdade. In.: ARAÚJO, Maria Paula; FICO, Carlos; GRIN, Mônica (org.). Violência na história: memória, trauma e reparação. Rio de Janeiro: Ponteio, 2012, p. 9-18.
Das utopias ao Autoritarismo
176
lenta: o caso do Brasil. PINTO, António Costa. MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes (org.). O passado que não passa: a sombra das ditaduras na Europa do Sul e na América Latina. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2013, p. 235 - 260.
BERNSTEIN, Serge. Culturas Políticas e Historiografia. In.: AZEVEDO, Cecília; ROLLEMBERG, Denise; BICALHO, Maria Fernanda Baptista; KNAUSS, Paulo; QUADRAT, Samantha Viz (org.). Cultura Política, Memória e Historiografia. Rio de Janeiro, Editora FGV, 2008, p. 29 -46.
CHAVEAU, Agnes. TÉTART, Philippe. Questões para a história do presente. In.: CHAVEAU, Agnes. TÉTART, Philippe (orgs.). Questões para a história do presente. São Paulo: Edusc, 1999, p. 7 - 38.
D’ARAÚJO, Maria Celina. Militares, democracia e desenvolvimento. Brasil e América do Sul. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2010.
D’ARAÚJO, Maria Celina. Limites políticos para a transição democrática no Brasil. In.: ARAÚJO, Maria Paula. FICO, Carlos; GRIN, Mônica (org.). Violência na história: memória, trauma e reparação. Rio de Janeiro: Ponteio, 2012, p. 29 - 40.
DELACROIX, Christian: DOSSE, François; GARCIA, Patrick. Correntes históricas na França: Séculos XIX e XX. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2012.
DOSSE, François. História do Tempo Presente e Historiografia. In.: LAPUENTE, Rafael Saraiva; GANSTER, Rafael; ORBEN, Tiago Araújo (Orgs.). Diálogos do Tempo Presente: Historiografia e História. Porto Alegre: Editora F, 2017, p. 15 - 36.
FARGE, Arlette. Lugares para a história. Belo Horizonte: Autentica, 2011.
FREITAS, Auxilia Ghisolfi de. Da crítica anti-sistêmica ao pragmatismo: a trajetória do Partido dos Trabalhadores. In.: PEREIRA, Valter Pires; OLIVEIRA, Ueber José (org). O PT na institucionalidade democrática brasileira. Vitória: GM Editora, 2011, p. 57 - 80.
LAFER, Celso. Justiça, História, Memória: Reflexões sobre a Comissão da Verdade. In.: ARAÚJO, Maria Paula; FICO, Carlos; GRIN, Mônica (org.). Violência na história: memória, trauma e reparação. Rio de Janeiro: Ponteio, 2012, p. 9-18.
MORLINO, Leonardo. Legados autoritários, política do passado e qualidade da democracia na Europa do Sul. In.: PINTO, António Costa; MARTINHO, Francisco Carlos Palomanes (org.). O passado que não passa: a sombra das ditaduras na Europa do Sul e na América Latina. Rio de Janeiro: Editora Civilização Brasileira, 2013, p. 261 - 294.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
177
MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Desafios e possibilidades na apropriação da cultura política pela historiografia. In.: MOTTA, Rodrigo Patto Sá (org.). Culturas políticas na história: novos estudos. Belo Horizonte: Argumentum, 2009, p. 13 - 38.
MOTTA, Rodrigo Patto Sá. A estratégia de acomodação na ditadura brasileira e a influência da cultura política. PAGINAS, ano 8, n. 17, p. 9-25, 2016.
NAPOLITANO, Marcos. A imprensa e a construção da memória do regime militar brasileiro (1965-1985). Estudos Ibero-americanos, Porto Alegre, v. 43, n. 2, p. 346-366, 2017.
RÉMOND, René. Uma história presente. In.: RÉMOND, René (org.). Por uma história política. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003.
RIOUX, Jean-Pierre. Pode-se fazer uma história do presente? In.: CHAVEAU, Agnes; TÉTART, Philippe (org.). Questões para a história do presente. São Paulo: Edusc, 1999, p. 39 - 50.
ROUSSO, Henry. A memória não é mais o que era. In.: FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaína (org.). Usos e abusos da história oral. Rio de Janeiro: FGV, 2001, p. 93 - 101.
ROUSSO, Henry. A última catástrofe. A história, o presente, o contemporâneo. Rio de Janeiro: FGV Editora, 2017.
TRAVERSO, Enzo. El pasado. Instrucciones de uso. Historia, memoria, politica. Marcial Pons: Madrid, 2007.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
179
A história do tempo presente: um balanço da justiça de transição no Brasil
Dinoráh Lopes Rubim Almeida 1
IntroduçãoEste trabalho tem como objetivo discutir como a
história do tempo presente revitalizou e abrigou um amplo movimento de renovação historiográfica, com ampliação de fontes, interdisciplinaridade, a nova história política, a diversidade temática, a valorização da história oral e a relação dialética entre memória e história. Analisaremos a aplicação da História do Tempo Presente no Brasil, através da justiça de transição, que liga fatos de um passado recente à atualidade.
A história do tempo presente A História do Tempo Presente (HTP) é uma modalidade
da História que se refere a uma história recente: últimas décadas do século XX e o século XXI. Sua periodização é móvel, que se desloca com o desaparecimento dos testemunhos. Isso é uma peculiaridade da HTP, que diferentemente da história periodizada, não está presa a tempos definidos.
Essa modalidade enfrenta várias demandas históricas, conforme enumerados por Ferreira (2012):
a) a questão da falta de recuo e de distanciamento dos fatos;
b) a disponibilidade de fontes; a legitimidade científica;
c) o confronto do historiador com o testemunho dos
1 Doutoranda do Curso da Pós-Graduação em História Social das Relações Políticas pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES); Professora do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES), Campus de Alegre. E-mail: [email protected]
Das utopias ao Autoritarismo
180
coetâneos;
d) os eventos inacabados; os problemas de delimitação cronológica (devido as balizas móveis);
e) as memórias e as identidades e a questão da história judiciária.
Para cada um desses “problemas” apresentados, a autora traz respostas a tais questões baseadas em autores como Bédarida, Delacroix, Peschanski, Pollak, Rousso, Chartier e outros. E segundo FERREIRA (2012, p.108):
O estudo da presença do passado incorporado ao presente das sociedades, iniciado pelos historiadores do tempo presente, abre novas temáticas e abordagens para pesquisadores de outros períodos.
Em 1978, foi criado na França o Institut du Temps Présent (IHTP), com a finalidade de garantir a objetividade dos estudos, apresentar bases científicas e defender o domínio desse objeto pelos historiadores profissionais, afastando amadores, e apresentando os desafios metodológicos e epistemológicos dessa modalidade histórica, bem como abarcando uma interdisciplinaridade, que se bem utilizada, muito contribui para o trabalho do pesquisador.
Com o tempo, as questões anteriormente apresentadas, vem sendo respondidas, e a HTP vem apresentando notável crescimento no meio acadêmico e ocupando um lugar expressivo na pesquisa historiográfica. De acordo com BÉDARIDA (2006, p. 221), fundador e presidente do IHTP até o ano de 1991,
a história do tempo presente é feita de moradas provisórias. [...] Sua lei é a renovação. Seu turnover verifica-se muito rapidamente. Mas é consolador pensar que seus adeptos têm o privilégio de uma fonte da eterna juventude.
As críticas sofridas pela HPT devido à proximidade dos historiadores em relação aos acontecimentos pesquisados, o que, segundo alguns, poderia provocar um olhar limitado sobre os mesmos, vem sendo desconstruída, e há uma grande adesão de pesquisadores que defendem a escrita a história do presente ou do imediato.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
181
De acordo com DELGADO & FERREIRA (2014, p. 8), “a configuração da história do tempo presente está relacionada inexoravelmente à dimensão temporal”, ou seja, é justamente a contemporaneidade dos fatos que faz surgir esse novo redimensionamento na matriz histórica que tem mobilizado historiadores de todo o mundo. Não há como limitar uma data para se enquadrar a história do tempo presente, mas há como aproveitar recursos “vivos” que podem ser documentados pelos historiadores contemporâneos, como a história oral. Além de vários outros recursos que são revitalizados e em parceria com o avanço tecnológico tem contribuído para o enriquecimento historiográfico.
Segundo RIOUX (1999, p. 46), “o argumento da “falta de recuo” não se sustenta, pois é o próprio historiador, desempacotando sua caixa de instrumentos e experimentando suas hipóteses de trabalho, que cria sempre, em todos os lugares e por todo o tempo, o famoso recuo.” Afinal, a falta de distanciamento/recuo dos fatos pode ser positiva, pois proporciona um maior entendimento do que está sendo estudado, uma vez que o historiador faz parte do contexto.
Quanto a disponibilidade de fontes, ela não é escassa, ao contrário, é superabundante, inclusive contando com a memória dos testemunhos, onde se pode trabalhar com a história oral (que deve ser tratada sob os devidos critérios e métodos históricos). Destacamos ainda, que o historiador pesquisa e relata, não é um juiz que tem a função de julgar e sentenciar, portanto, a história não deve jamais possuir uma postura judiciária.
Quanto aos fatos dos historiadores do Tempo Presente escreverem sobre eventos inacabados, devemos lembrar que a história não é uma verdade absoluta, poderá ser sempre revisada e reescrita, e nunca poderemos dominar a verdade, no máximo, aproximar-se dela. Devemos enfatizar que a HTP contribuiu abrindo fontes para abordagens futuras; segundo BÉDARIDA (2006, p. 221) “o tempo presente é reescrito indefinidamente, utilizando-se o mesmo material, mediante correções, acréscimos e revisões.”
Portanto, é possível se fazer uma história do presente,
Das utopias ao Autoritarismo
182
pois a história não é imóvel, e o historiador sempre sofre a influência do contexto que está inserido, independente da época que elege como seu objeto de estudo. Por se tratar de uma história imediata, o pesquisador pode não dispor de todos os documentos disponíveis do período, pois alguns ainda podem não estar abertos ou mesmo em construção, portanto, cabe a ele, promover métodos de investigação acertados e aproveitar as vantagens empíricas da proximidade com os fatos. O historiador não pode simplesmente arquivar um acontecimento contemporâneo, quando o mesmo vem sendo questionado constantemente a nível nacional ou mundial. O pesquisador tem, portanto, a tarefa de exumar e tornar inteligível tal acontecimento, daí a importância de uma história do tempo presente.
A memória, no sentido básico do termo, é a presença do passado. Portanto, não admira que tenha interessado aos historiadores do tempo presente, depois de outros, já que essa presença, sobretudo, a de acontecimentos relativamente próximos como as revoluções, as guerras mundiais ou as guerras coloniais, acontecimentos que deixam sequelas e marcas duradouras, tem ressonância em suas preocupações científicas: como arquivar tranquilamente e em silêncio a história de Vicky, quando no mesmo momento esse período era alvo de uma interrogação obsessiva em escala nacional? (ROUSSO, 2006, p. 94).
Portanto, como historiadores, seria possível não pesquisar e escrever sobre eventos de grandes repercussões, como o terrorismo, os problemas de imigração na Europa, a primavera árabe, a crise política e econômica brasileira e mundial, a mídia e a política, os arquivos da repressão no tempo do regime militar, os conflitos no Oriente Médio e tantos outros assuntos, só porque somos contemporâneos a tais fatos? Nós historiadores devemos delegar essa função a jornalistas, economistas e sociólogos, e só depois de um longo distanciamento analisar tais acontecimentos? Não me parece coerente incumbir tais responsabilidades a outros profissionais e sentarmos na arquibancada como meros expectadores que assistem o desfile dos acontecimentos e depois de anos procurar analisá-los.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
183
Como diz NOIRIEL (1998): “Toda história é contemporânea”. E merece a atenção e o trabalhos dos seus coetâneos.
É certo que um distanciamento dos acontecimentos nos amplia a visão, a participação e a articulação de atores nos fatos. Porém, o historiador deve ter a sensibilidade de perceber: a história não é imóvel, as fontes históricas não são inócuas. As mudanças e variações de interpretações sobre um mesmo fato histórico são uma realidade na historiografia, independente do período em que o mesmo é escrito. E a responsabilidade de escrever a história do tempo presente é nossa.
Segundo DELGADO & FERREIRA (2014, p.8), a história do tempo presente envolve ferramentas importantes aos pesquisadores: “o campo constitutivo e temporalidade, pluralidade de fontes e de procedimentos de pesquisa e diversidade temática.” Acreditamos portanto, que o historiador do imediato, tem muito a contribuir na construção de fontes históricas que muito auxiliarão em pesquisas futuras, que poderão ou não trazer percepções distintas sobre um mesmo fato.
Destacamos que a nova história política apresenta-se renovada com novos métodos de análises, novos conceitos e técnicas de pesquisas; ampla (voltada para uma sociedade global, abordando todos os atores e aspectos da vida coletiva); pluridisciplinar; quantitativa (apoderando-se de dados numéricos); e com uma pluralidade de ritmos, abordando acontecimentos de rápida, média, longa e longuíssima duração. Segundo RÉMOND (2003) após essa renovação, a história política passa a preencher todos os requisitos necessários para ser reabilitada e viver um renascimento.
A cronologia do ressurgimento da história política está intimamente ligada a ênfase que a história do presente tem vivenciado, bem como, a sua ligação com a memória. Essa trilogia – história política, história do presente e memória - vem sendo muito utilizada entre os pesquisadores e vem ganhando grande vigor na atual historiografia. Para CHAUVEAU e TÉTARD (1999), os historiadores do político construíram a vanguarda da história do presente.
Das utopias ao Autoritarismo
184
No Brasil, a História do Tempo Presente fortificou-se a partir dos anos de 1990. Indubitavelmente, a presente pesquisa, com seu aparato em cultura política, tem como parte estruturante o fato de estar inserida na modalidade da História do Tempo presente
A noção de “história do tempo presente” teve uma ampla difusão tanto no mundo germânico, em que nasceu, quanto, posteriormente, no mundo francófono a contar dos anos 1980-90. Ela teve também um desenvolvimento notável na América Latina, sobretudo no Brasil, em que os centros e revistas do “tempo presente” se multiplicaram nos anos 1990 -2000. Esse interesse se explica pelas atenção que as historiografia francesa e alemã, deram as crises do século XX, à violência das guerras e às violências políticas, que interessam por definição países que saíam da ditadura e da guerra civil, daí a noção de presença de noções muito próximas, como a de “historia actual”, mais próxima da história imediata, de “história vivida”, ou de “passado vivo”, forjadas também no mundo hispanófono, em que o adjetivo “vivo” remete à presença tanto do passado quanto de atores vivos. Portanto, houve lá cerca de 30 anos uma circulação de conceitos e das noções que exprimem a necessidade de agarrar o legado das catástrofes recentes para as analisar ou compreender o impacto a médio prazo (ROUSSO, 2016, p.233)
Para Rousso, as catástrofes têm trazido interesse e inquietações na sociedade e por isso exigido dos historiadores uma resposta, daí a valorização da História do Tempo Presente. O Holocausto, a 2ª Guerra Mundial, a Guerra Fria, o terrorismo, tem sido temas muitos requisitados na Europa e América anglo-saxônica. Porém na América Hispânica e no Brasil, o tema que tem sido levantado é justamente as ditaduras militares, no qual este trabalho se insere. A HTP tem singularidades em sua modalidade histórica, que se bem aproveitadas passam a ser um valioso instrumento para o pesquisador.
Quanto a sua periodização, já mencionada acima, podemos afirmar que ela tem variações cronológicas que não a prendem a apenas um momento histórico, como cita Rousso (2016, p. 246) “o território da história do tempo presente é uma fronteira
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
185
constantemente móvel”. Há discussões que a HTP possa ter começado em 1915, 1940, 1945 ou 1989, não existe um marco definitivo, mas há a concordância de que uma catástrofe serve de marco inicial, e como Rousso menciona acima, tivemos muitas. Defendemos a ideia de que enquanto houver testemunhas vivas, coetâneos, há história do tempo presente. Se essa abordagem perdurar, daqui uns anos, quando todos os contemporâneos da 2ª Guerra mundial e do holocausto tiverem falecido, o marco se moverá. Essa história de acontecimentos recentes, traz desafios metodológicos, éticos, mas também um estilo de história acelerada, sempre em movimento, e cada vez mais rápido.
“Nada muda tanto quanto o passado”. Esse provérbio russo traz em sua essência uma realidade que o historiador deve ter a sensibilidade de perceber. Dentro da História do Tempo presente isso é uma constante.
A tardia justiça de transição no BrasilO historiador deve preocupar-se em estudar as versões
de partes da memória coletiva oficializada que há sobre os fatos históricos, bem como compreender as ausências, os esquecimentos e os silêncios que tais fatos carregam. Portanto, buscando exemplificar a aplicabilidade da História do Tempo Presente, analisaremos a justiça de transição do Brasil, pois a mesma traz ao público memórias subterrâneas que estavam imersas desde o período da ditadura militar brasileira, iniciada com o golpe civil-militar de 1964 e encerrada com as eleições indiretas de 1985 e a transição do poder aos civis.
Segundo POLLAK (1989), as memórias subterrâneas permanecem imersas devido a um conjunto de interesses sociais, econômicos e políticos dos que detém o poder. Isso é notório na história sobre o período de transição democrática do Brasil, que por anos manteve em silêncio e no esquecimento, relatos e fatos traumáticos, que só vieram oficialmente ao conhecimento público a partir do processo de justiça de transição, que comparado com os demais países da América Latina, aconteceu de forma tardia em nosso país.
Das utopias ao Autoritarismo
186
Consideramos como Justiça de Transição as medidas de reparação, que buscam compensar os que foram atingidos pela repressão de regimes autoritários, punir culpados e averiguar as verdades dos fatos. Porém, a própria Lei de Anistia do Brasil (Lei nº 6.683, de 28 de agosto de 1979, regulamentada pelo decreto nº 84.1433, de 31 de outubro de 1979, no Governo do presidente-general João Baptista Oliveira de Figueiredo) tem bloqueado a ação da justiça de transição, no que diz respeito ao julgamento e punição dos responsáveis pelos crimes políticos contra os Direitos Humanos.
ARAÚJO (2004) pontua oito atores políticos que foram essenciais na luta democrática que se travou na segunda metade da década de 1970 e na primeira metade da década de 1980, são eles: o movimento estudantil, a Igreja Católica, o Movimento Democrático Brasileiro (MDB), a imprensa alternativa, as associações de moradores, as associações de profissionais liberais, o movimento sindical e os movimentos das minorias políticas. O movimento estudantil levou o movimento político de volta às ruas, ganhando a simpatia da população e o apoio de outros setores de oposição ao regime. Os estudantes denunciavam prisões políticas, torturas e defendiam causas importantes, como em 1978 na Campanha pela anistia. A grande vitória dos estudantes ocorreu em 1979, quando a União Nacional do Estudantes (UNE) foi recriada. O movimento se fortaleceu como ator radical na resistência democrática.
Tais movimentos, passaram a ter como pauta comum a luta pela Lei da Anistia e a Campanha das Diretas Já, ou seja, a democratização do país, entre outras causas. No entanto, ambos acontecimentos acabaram sendo utilizados como pilares da solução negociada, que encerrou o ciclo da ditadura militar.
Segundo FICO (2017), a resistência democrática não conseguiu acelerar a abertura política, uma vez que o fim da ditadura militar foi controlada pelos milicos; no entanto percebemos que as demandas sociais que surgiram desses muitos movimentos de resistência, ganharam forças e foram representados democraticamente na Constituição de 1988. Essa visão de Fico pode ser questionada, levando-se em conta que os movimentos de resistência tiveram o papel
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
187
importante de reacender as lutas por direitos sociais e políticos, e de certa forma, levou o governo a mover-se em relação a uma resposta a tais manifestações.
Porém, é notório a manipulação da minoria dominante na política e na economia do país, uma vez que a Lei da Anistia não foi ampla, nem geral ou irrestrita, ela atendeu a uma combinação de interesses por parte de militares do governo, e a elite econômica e política, anistiando torturados (exceto os enquadrados em “crimes de sangue”) e torturadores. De acordo com FICO (2010, p. 321) “o “grupo restrito do conselho político” de Ernesto Geisel (Golbery, Petrônio, Portella e poucos outros), que pensou a anistia como instrumento de enfraquecimento do MDB, também pode ter planejado a suposta manobra.”
Não era a anistia reivindicada pelos familiares de presos políticos, de mortos e de desaparecidos, dos militantes de esquerda, dos exilados, dos movimentos estudantil, sindicalista, artístico, feminista, associações de profissionais liberais e vários outros segmentos que se empenharam na campanha. Entretanto, não podemos desprezar a conquista, mesmo que parcial, da resistência democrática. Os brasileiros receberam com festa os exilados que começaram a chegar a partir de outubro de 1979.
A Emenda “Dante de Oliveira” da campanha de eleições diretas para presidente foi derrubada pelo Congresso, e em 1985, o Colégio Eleitoral escolheu o novo presidente do Brasil. Tais exemplos demonstram a construção de uma história, tida como oficial, a partir dos interesses da uma minoria. Portanto, a transição política foi negociada e consensuada, entre os militares e as forças econômicas. Os militares voltaram aos quartéis, sem sofrerem represálias pelos crimes contra os direitos humanos, e respaldados pela lei.
Não foi uma transição sonhada pelos movimentos de resistência à ditadura, mas acabou sendo assimilada e aceita pelo povo brasileiro. O caráter de negociação e conciliação da transição democrática não foi apenas uma imposição dos militares, pois a história da sociedade brasileira é traçada por alianças consensuadas
Das utopias ao Autoritarismo
188
que envolvem os interesses dos governantes e a elite econômica. Tais alianças que resultaram na abertura política brasileira, acabaram por retardar a justiça de transição no país, que agindo de forma discreta, pode perder a oportunidade de confrontar a tradição conciliatória imperante na cultura política brasileira.
De acordo com FICO (2013b), depois do término do regime militar, o Brasil entrou em uma fase de latência, de suspensão: quase não se falava da ditadura. Isso foi muito diferente em outros países da América Latina que também viveram regimes militares. Na Argentina, por exemplo, a ditadura acabou depois de uma guerra fracassada, com a qual os militares argentinos tentaram recuperar o apoio popular, ocupando as Ilhas Malvinas, território disputado com a Inglaterra. Com a derrota, não tiveram como se manter no poder e logo após, no regime civil, as juntas militares foram levadas a julgamento e condenadas.
O trauma diante da violência brutal do regime militar marca a transição argentina. No caso do Brasil, os traços fundamentais de sua transição são a impunidade e a frustração causadas pela ausência de julgamento e ruptura com o passado – que, por assim dizer, tornaram a transição inconclusa, em função da conciliabilidade das elites políticas. Foi esse componente de frustração – diante da anistia que perdoou os militares, da campanha pelas eleições diretas que fracassou, enfim, da constatação de que os militares conduziram a transição exatamente como queriam – que, de algum modo, estimulou as tímidas iniciativas de justiça de transição no Brasil a partir da chegada ao poder de governos presididos por pessoas que combateram a ditadura, Fernando Henrique Cardoso, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff (FICO, 2013b, p. 248)
Tal fase de suspensão, citada por Fico, durou até 1995, quando notamos uma tímida medida no governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi a concessão de atestados de óbito para os mortos e desaparecidos políticos, de acordo com a Lei nº 9.1404, de 04 de dezembro de 1995, atendendo ao apelo de familiares que tiveram parentes desaparecidos durante a ditadura militar e não puderam enterrar seus corpos ou ter a certidão de óbito.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
189
Em 2002, a Lei nº 10.5595, de 13 de novembro de 2002, foi criada com a tarefa de indenizar financeiramente as vítimas da repressão. O cálculo era feito com base no tempo de afastamento das atividades profissionais dos atingidos, o que gerou distorções e elevadas indenizações.
No ano de 2009, o Brasil sofreu uma pressão internacional ao ser condenado pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos (CIDH) a respeito de graves violações contra os direitos humanos durante a repressão política, sendo o país levado a apurar e fazer o reconhecimento público de sua responsabilidade diante de tais violações. Nesse contexto, o governo da presidenta Dilma Vana Rousseff, procedeu a abertura dos acervos da ditadura militar, tidos como secretos e confidenciais, ou seja, foi concedida a Lei de acesso à informação, através da Lei nº 12.5276, de 18 de novembro de 2011, e do Decreto nº 7.7247, de 16 de maio de 2012. Trata-se de uma considerável aquisição para a pesquisa histórica e para o cidadão brasileiro.
Outro passo importante no processo da justiça de transição, foi a criação da Comissão da Verdade (Lei nº 12.5288, de 18 de novembro de 2011), instalada oficialmente em 16 de maio de 2012, também no governo da presidenta Dilma Vana Rousseff, com a finalidade de examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas no período de 18 de setembro de 1946 até 5 de outubro de 1988, data da promulgação da sétima Constituição brasileira. Porém, a Comissão Nacional da Verdade, busca a chamada “verdade factual”, mas não possui poderes punitivos.
Para FERREIRA (2012, p. 101) a história do tempo presente, que durante muito tempo foi objeto de resistência e interdições, entrou na ordem do dia no Brasil, não só como objeto de pesquisa acadêmica, mas também como um tema desafiador para os historiadores do ponto de vista ético e político.
Segundo a autora, a constituição da Comissão Nacional da Verdade levantou várias questões para os historiadores, como
Das utopias ao Autoritarismo
190
por exemplo: o “envolvimento institucional não acaba por atribuir ao historiador o papel de juiz da história?”. Essa é uma questão extremamente séria, uma vez que sabemos que não há verdade absoluta e que futuramente poderá haver revisões na escrita da história com fatos novos? E num documento institucionalizado isso é possível? Deixaremos essa reflexão para uma outra ocasião, por merecer um maior aprofundamento analítico.
No entanto, não podemos minimizar a importância desses dois instrumentos: Lei de Acesso à Informação e a Comissão da Verdade, que sendo instalados no mesmo dia (16 de maio de 2012), são canais imprescindíveis para trazer ao conhecimento da sociedade brasileira o que realmente se passou nos anos da ditadura militar, as memórias subterrâneas dessa história do presente, onde muitos que dela participaram ainda estão vivos e podem testemunhar sobre esse período da história.
Em 10 de dezembro de 2014, a Comissão Nacional da Verdade, composta por seis membros, entregou seu Relatório Final2 a presidente Dilma Rousseff. O relatório composto de 4.328 páginas, distribuídos em 03 volumes, levou 2 anos e 7 meses de trabalho para ser concluído. Ele possui 1.121 depoimentos e apresenta 80 audiências e sessões públicas feitas em 20 unidades da Federação. No volume III, consta o registro de 434 pessoas entre os mortos e desaparecidos (210 desaparecidos, 191 mortos e 33 corpos encontrados), sendo 377 pessoas responsabilizadas por torturas e assassinatos durante os 21 anos da ditadura militar brasileira (1965-1985). Entre as suas recomendações, a Comissão Nacional da Verdade (CNV) sugere a revisão da Lei de Anistia de 1979, para que se possa processar os agentes responsáveis pelas gravíssimas violações aos direitos humanos descritas no relatório.
O objetivo da CNV é efetivar o direito à memória e a verdade histórica e promover a reconciliação nacional. A primeira Comissão da Verdade a ser instalada foi em Uganda, em 1974, e posteriormente mais de 40 Comissões da Verdade foram criadas
2 Disponível em: <http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/>. Acesso em: 02 fev. 2018.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
191
pelo mundo com o intuito de averiguar crimes cometidos contra os direitos humanos pela repressão de regimes autoritários. Na América Latina, dez países criaram a Comissão da Verdade, muitos logo após o fim de sua fase ditatorial.
A justificativa para a lentidão brasileira para a execução da justiça de transição diante dos demais países, como mencionado anteriormente, pode ser analisada dentro do contexto da tradição política conciliatória da história brasileira, que busca amenizar e lançar no esquecimento social fatos que possam prejudicar atores que protagonizaram as alianças da transição democrática do Brasil.
Embora, tal Comissão tenha se instalado de forma tardia no Brasil, 27 anos após o fim da ditadura, não podemos ignorar sua contribuição para a história política e a memória desse recente período da história brasileira, que podemos considerar como a história do presente, pois fez emergir através de um veículo institucionalizado pelo governo, memórias subterrâneas que trazem uma nova visão para a sociedade brasileira desse período de nossa história. A questão é: O povo brasileiro está realmente interessado em conhecer esse passado tão recente? Ou conhecer esse passado só interesse a alguns poucos grupos sociais?
A partir da formação da CNV, surgiram no Brasil a formação das Comissões Estaduais da Verdade e as Comissão da Verdade em diversas Universidades do Brasil, que foram palcos de forte vigilância e repressão política durante a ditadura militar. Essas Comissões têm investigado a ação das Assessoria Especial de Segurança e Informação dentro de diversas Universidades Brasileiras, pesquisa que merece uma especial atenção. Uma vez que os centros acadêmicos eram focos de pessoas pensantes, questionadoras e inconformadas.
Para vigiar esses “centros pensantes” e evitar qualquer insurreição, o governo de Emílio Garrastazu Médici (1979-1974),
Das utopias ao Autoritarismo
192
do grupo “Linha dura”, com o Decreto 4773 e o AI-54 nas mãos, desenvolveu uma gestão de forte repressão, destacando-se a perseguição, prisão e tortura de “subversivos” nas esferas sociais. Esse caso é notório dentro das Universidades, onde os órgãos do governo atuaram assiduamente. Segundo MOTTA (2008b, p. 38) o governo monitorou “33 Universidades”, através da Assessoria Especial de Segurança e Informação (AESI), sendo as primeiras criadas pela Portaria nº 10, BSB, de 13 de janeiro de 1971, com intuito de coibir manifestações contrárias à ditadura. Posteriormente, a AESI passou a adotar a nomenclatura de Assessoria Especial de Segurança (ASI). Ressaltamos que as ASI’s reportavam-se aos órgãos de Vigilância do Governo e não respondia ao Ministério de Educação e Cultura (MEC).
O principal objetivo da AESI era espionar as atividades da comunidade universitária (esferas federal e estadual), investigando e levantando informações de docentes, técnicos administrativos e discentes que tivessem uma postura política contrária ao governo ditatorial, e de maneira geral, eram rotulados de “comunistas” ou “subversivos”. O órgão interferia no cotidiano da instituição, na estrutura e no ensino, e foi empregado para silenciar e desarticular as entidades estudantis.
A atuação das ASI (ou AESI) revela verdadeira obsessão em impedir a infiltração comunista e soviética nas universidades, dedicando-se, por exemplo, a monitorar o ensino de russo nas instituições brasileiras e a vigiar os
3 Decreto 477, de 26 de fevereiro de 1969, conhecido como o “AI-5 do movimento estudantil”, que em seu artigo 1º, delimita seus alvos: estudantes, professores e funcionários das instituições de ensino superior público ou particular. Neste artigo também, são especificados atos considerados “subversivos” e apresentadas as punições correspondentes. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0477.htm >. Acesso em: 20 jun. 2018
4 Ato Institucional nº 5, AI-5, baixado em 13 de dezembro de 1968, durante o governo do general Costa e Silva, foi a expressão mais acabada da ditadura militar brasileira (1964-1985). Vigorou até dezembro de 1978 e produziu um elenco de ações arbitrárias de efeitos duradouros, concedendo amplos poderes ao Executivo Federal, limitando os poderes legislativo e judiciário, além de restringir vários direitos civis. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-05-68.htm>. Acesso em: 20 jun. 2018.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
193
estudantes retornados da URSS com diplomas obtidos naquele país. Essas agências não protagonizaram ações espetaculares, tampouco tinham poder inconteste, uma vez que alguns reitores nem sempre obedeciam a suas recomendações. Mas, em sua ação cotidiana, miúda, elas ajudaram a retirar da vida acadêmica um de seus elementos mais preciosos, a liberdade. Durante sua existência, elas contribuíram para criar nas universidades ambiente de medo e insegurança, que certamente atrapalhou a produção e reprodução do conhecimento, sobretudo nas áreas de saber mais visadas, para não falar do empobrecimento do debate político (MOTTA, 2008a, p. 45-46).
A AESI coletava informações sobre atividades das lideranças estudantis e de professores, interferia na nomeação de cargos, controlava viagens de docentes e discentes para eventos científicos, censurava livros e materiais estudantis, proibia manifestações, proibia ou suspendia entidades estudantis, efetuava prisões, entre outras coisas. Nesse contexto de suspeição vários professores e técnicos administrativos foram perseguidos ou demitidos. Muitos alunos foram suspensos das aulas, perderam bolsas e outros benefícios ou foram desligados da Universidade.
Quanto a atuação dos governos militares nas universidades, notamos avanços e retrocessos, modernização e repressão; tudo isso gera uma polêmica entre alguns pesquisadores sobre a verdadeira intenção dos militares quanto aos projetos e as reformas no setor educacional. A respeito da modernização que se intensificou na década de 1970, é importante analisar um crescimento de ofertas de cursos superiores, a ampliação das universidades, a expansão dos cursos de pós-graduação e da infraestrutura de pesquisa e instalações, a modernização da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES); tendo em contrapartida, a queda na qualidade do ensino, em especial no nível de graduação.
O AI-5 coincidiu com a decisão política de implantar efetivamente a reforma universitária, ao fim de um processo de debates e indefinições que se arrastaram entre 1964 e 1968. O impulso modernizador guardava relação umbilical com o recrudescimento do autoritarismo, já que o
Das utopias ao Autoritarismo
194
poder discricionário foi utilizado para remover obstáculos às alterações e impor agenda única aos grupos que se digladiavam em torno das propostas de mudança. Além disso, a aposta nas reformas significava, simultaneamente, uma estratégia de seduzir lideranças descontentes com os novos rumos políticos, oferecendo a elas, como uma espécie de compensação, aumento de investimentos na educação superior e na pesquisa. [...] Em fevereiro de 1969 foi editado o Decreto-Lei n.464, que estabelecia prazo de noventa dias para todas as universidades adaptarem seus estatutos às prescrições da Lei da Reforma Universitária (n.5.540). Claramente, o comando militar desejava acertar o passo da ofensiva repressora com o ritmo da modernização (MOTTA, 2014, p. 242).
O Presidente Geisel, tomou posse em 15 de março de 1974, com o discurso de uma abertura lenta, gradual e irrestrita, lema que se concretizou de forma inversa ao longo do seu mandato. Dentro das Universidades, por exemplo, as ASI’s, criadas no governo de seu antecessor, Presidente Emílio Garrastazu Médici, atuaram freneticamente. A partir do momento que o regime militar decide pela modernização e incentivo a pesquisa nas universidades, com a ampliação da oferta de vagas estudantis, consequentemente houve aumento de docentes acadêmicos, era inevitável que um grupo intelectual, pensante e questionador, começasse a se organizar e a incomodar a cúpula da política brasileira.
Nisso fica latente um paradoxo no governo militar: modernizar e reprimir. Quando se ampliaram as vagas universitárias, expandiram o leque de professores acadêmicos, e se investiram em pesquisa e avanços técnicos e tecnológicos, os governos ditatoriais começaram a pisar em uma zona movediça, pois era natural que emergisse uma massa pensante que conflitasse com a atuação do governo ditatorial. Desenvolver e modernizar as universidades sem gerar um grupo sólido de visão contrária as atrocidades de um regime autoritário, era algo impossível.
O grande paradoxo do regime militar brasileiro – e essa afirmação não vale apenas para o sistema universitário brasileiro – residiu no fato de expressar, a um só tempo,
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
195
impulsos conservadores e modernizantes que por vezes geraram ações contraditórias. O desejo modernizador implicava desenvolvimento econômico e tecnológico. [...] No entanto, o sucesso das políticas modernizadoras colocava em xeque as utopias conservadoras, pois solapava as bases da sociedade tradicional ao promover a mobilidade social e urbana em ritmo acelerado. Aí reside uma das mais peculiares manifestações contraditórias do regime: seu sucesso econômico levava à destruição da ordem social defendida por muitos de seus apoiadores. Por outro lado, se levado às últimas consequências, o programa conservador oporia obstáculos à modernização, pois o expurgo de todos os “suspeitos” e “indesejáveis”, grupo bem presentado na elite universitária do país, significaria perda de quadros fundamentais para o projeto modernizante (MOTTA, 2014, p. 289)
Surge, portanto, uma contradição, o governo tecnocrata passa a ter que vigiar e reprimir a massa que ajudou a constituir para que fosse utilizada no processo de modernização da nação. Controlar isso, era um desafio que se avolumou na segunda metade da década de 1970, e acabou contribuindo para o processo de transição política que se firmou a partir de 1978, envolvendo diversos grupos sociais, com maior destaque para os movimentos estudantis. Apesar de os historiadores terem se esforçado para entender com maior segurança o que se passavam dentro dos Campi, Infelizmente somente 09 Universidades concluíram até o momento os trabalhos de suas Comissões da Verdade, são elas: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP); Universidade Federal da Bahia (UFBA); Universidade Federal do Espírito Santo (UFES); Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); Universidade de Brasília (UNB); Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP); Universidade de São Paulo (USP) e Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Que esses relatórios possam ser utilizados para enriquecer nossas pesquisas e trabalhos sobre uma história tão recente do nosso país, e que infelizmente permanece obscura para a grande maioria dos brasileiros.
Das utopias ao Autoritarismo
196
Considerações Finais A História do Tempo Presente tem aberto um importante
e amplo espaço de pluralidade de fontes e novos procedimentos metodológicos, entretanto, a realidade temporal da história do imediato nos leva a ouvir vozes múltiplas que algumas vezes se complementam e em alguns casos são conflitantes, apesar disso o pesquisador tem vencido as diversas críticas e desafios que a HTP vem sofrendo nas últimas décadas.
Interessante ressaltar tal pensamento:Sabemos que a história do tempo presente, mais do que qualquer outra, é por natureza uma história inacabada: uma história em constante movimento, refletindo as comoções que se desenrolam diante de nós e sendo portanto objeto de uma renovação sem fim. Aliás, a história por si mesma, não pode terminar (BÉDARIDA, 2006, p. 229)
Constatamos que essa modalidade da “história inacabada” vem ganhando reconhecimento e espaço, o que se percebe através da elaboração deste e de muitos trabalhos acadêmicos, que tem desenvolvido pesquisas ligadas linha da História do Tempo Presente e através de investigações e de demonstrações empíricas, tem vencido as interdições e as resistências contra as quais sempre lutou.
A abordagem do trabalho da justiça de transição do Brasil, vem corroborar para a importância dessa modalidade histórica, ao trazer ao conhecimento público um passado recente de crimes contra os direitos humanos e a democracia. Uma competência que não pode ser entregue a amadores, mais a profissionais da História que dominam as técnicas do processo e sabem que a história está o tempo todo se desenrolando diante de nós.
Referências:Bibliografia:
ARAÚJO, Maria Paula Nascimento. A luta democrática contra o regime militar na década de 1970. In.: REIS, Daniel Aarão; RIDENTI, Marcelo;
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
197
MOTTA, Rodrigo Patto Sá (Orgs.). O golpe e a ditadura militar: 40 anos depois (1964-2004). Bauru: Edusc, 2004, p. 161-175.
BÉDARIDA, François. Tempo Presente e Presença da História. In: FERREIRA, Marieta de Moraes; AMADO, Janaína (Orgs.). Usos & abusos da história oral. 8. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p.219-229.
CHAUVEAU Agnès; TÉTARD, Philippe. Questões para a História do Presente. In.: CHAUVEAU Agnès; TÉTARD, Philippe. Questões para a História do Presente. São Paulo: EDUSC, 1999, p. 7-37.
DELGADO, Lucilia de Almeida Neves; FERREIRA, Marieta de Moraes (org.). História do Tempo Presente. Editora FGV: Rio de Janeiro, 2014.
FERREIRA, Marieta de Moraes. Demandas sociais e História do Tempo Presente. In: VARELLA, Flávia; MOLLO, Helena Miranda; PEREIRA, Mateus Henrique de Faria; MATA, Sérgio (org.). Tempo presente & usos do passado. Rio de Janeiro: FGV, 2012.
FICO, Carlos. A negociação parlamentar da anistia e o chamado “perdão aos torturadores”. Revista Anistia Política e Justiça de Transição, Brasília, Ministério da Justiça, n. 4, p. 318-333, 2010.
FICO, Carlos. Ainda à espera da verdade e justiça: O que leva o Brasil a não punir os responsáveis pelos crimes cometidos durante os 21 anos de regime, a exemplo do que fizeram os argentinos? Revista Carta na Escola, ed. 76, 2013a.
FICO, Carlos. Violência, trauma e frustração no Brasil e na Argentina: o papel do historiador. Topoi, Rio de Janeiro, v. 14, p. 239-261, 2013b.
FICO, Carlos. Ditadura militar brasileira: aproximações teóricas e historiográficas. Tempo e Argumento, Florianópolis, vol. 9, n. 20, p. 5‐74, 2017.
MOTTA, Rodrigo Pato Sá. Incômoda memória: os arquivos das ASI universitárias. Acervo. Rio de Janeiro, v. 16, p. 32-50, 2008a.
MOTTA, Rodrigo Pato Sá. Os olhos do regime militar nos campi: as assessorias de segurança e informações das universidades. Topoi, Rio de Janeiro, v. 9, p. 30-67, 2008b.
MOTTA, Rodrigo Pato Sá. As Universidades e o Regime Militar: cultura política brasileira e modernização autoritária. Rio de Janeiro: Zahar, 2014.
NOIRIEL, Gerard. Qu’est -ce que l’histoire contemporaine? Paris: Hachete, 1998. Capítulo I
POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos,
Das utopias ao Autoritarismo
198
Rio de Janeiro, v. 2, n. 3, p. 3-15, 1989.
RÉMOND, René. Uma história presente. In.: RÉMOND, René (Org.). Por uma história política. Trad. Dora Rocha. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003, p. 13-36.
RIOUX, Jean Pierre. Pode-se fazer uma história do presente? In: CHAUVEAU Agnès; TÉTARD, Philippe (Orgs.). Questões para a História do Presente. São Paulo: EDUSC, 1999, p. 39-50.
ROUSSO, Henry. A memória não é mais o que era. In: AMADO, Janaína; FERREIRA, Marieta Moraes (Orgs.). Usos & abusos da história oral. 8. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006, p. 93-101.
ROUSSO, Henry. A última catástrofe. Rio de Janeiro: FGV editora, 2016.
Acervo On Line:
BRASIL. Ato Institucional Nº 5, de 13 de dezembro de 1968. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 13 dez. 1968. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ait/ait-05-68.htm>. Acesso em: 20 jun. 2018.
BRASIL. Comissão Nacional da Verdade, Brasília, DF. Disponível em: <http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/>. Acesso em: 02 fev. 2018.
BRASIL. Decreto-Lei Nº 477, de 26 de fevereiro de 1969. Diário Oficial da União, Poder Executivo, Brasília, DF, 26 fev. 1969. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0477.htm>. Acesso em: 20 jun. 2018.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
199
“Nossa bandeira jamais será vermelha”! – As disputas em torno do controle da narrativa na
sociedade brasileira polarizada e a afirmação de um passado que não passa
Ariel Cherxes Batista1
“Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado”.
IntroduçãoAtualmente discute-se muito nos meios historiográficos
sobre o papel do historiador frente ao período de crise política e social existente no Brasil iniciado após as jornadas de junho de 2013 e de certa forma consumado com o impeachment em Dilma Rousseff no ano de 2016. Destaca-se como marco nesta conjuntura, o fenômeno da disputa de narrativas e a presença de um “passado que não passa” no tempo presente brasileiro. Afirmamos isto a partir da ideia de que:
A história é o estudo do passado, certamente, mas também uma explicação do presente em que vivemos. (O passado é), um tempo do qual emergimos e que continua, com efeito a pesar sobre nós (ROUSSO, 2016, p. 174).
Ao observar o Brasil, buscando como distância uma noção dicotômica, evidencia- se a permanência de discussões e a busca pela supremacia em relação aos discursos no que tange a opinião pública. De certa forma ocorre uma disputa pelo controle da democracia, o que soa inclusive estranho. Durante a conjuntura pré-impeachment, os conservadores trataram em seu nicho de inúmeras razões que justificavam o afastamento presidencial, após ocorrer o impeachment, aumentaram sua influência com a sociedade ganhando assim a oportunidade de poder opinar em diferentes meios de comunicação de forma maciça. De certa maneira, estes que são
1 Mestrando do PPGHIS-UFES.
Das utopias ao Autoritarismo
200
considerados intelectuais pela opinião pública, ocupam um espaço que normalmente é maior do que sempre tiveram, e com o sucesso obtido com o impeachment, aumentaram sua zona de influência. A disputa de narrativas em alguns momentos tende a ficar mais aguda. A conjuntura pré e pós golpe (impeachment) nos faz atestar isto a partir dos fatos ocorridos.
Os dois grupos que se opõem na disputa de narrativas possuem explicações assim como lembranças diferentes para os episódios catastróficos ocorridos no passado republicano brasileiro e estas memórias estão associadas aos bons e maus usos que os indivíduos fazem do que passou.
A esquerda lembra do passado como vítima. Rememora o golpe dado por Vargas de forma oportunista em 1937 e a repressão durante o Estado Novo, além dos expurgos ocorridos durante a Ditadura Militar que para seus mentores “mudou o Brasil”. Atualmente o Golpe de 2016 que parece inconcluso, mostra-nos o fato de que questões do passado ditatorial brasileiro ainda não estão resolvidas, por exemplo as discussões em torno da Lei da Anistia que começa a vigorar a partir de 1º de janeiro de 1979 e perdoou torturadores e torturados. De certa maneira, a fragmentação da esquerda brasileira nestes três contextos sócio-políticos explica o seu enfraquecimento ao ponto de não ter tido poder de reação em nenhuma das ocasiões citadas.
Por sua vez, a Nova direita brasileira busca esquecer o passado, e com suas ações demonstra isto. Uma vez esquecido os problemas transcorridos, as preocupações passam a ser apenas o que vem à frente. O grande problema nisto é que golpear a democracia nas ocasiões em que a disputa de narrativas aumenta, faz parte da cultura política da direita brasileira, deste fator trataremos a frente. As únicas lembranças destes períodos por parte da Nova direita brasileira são de forma elogiosa. O passado é rememorado por este grupo político, como o objetivo de apontar benfeitorias desenvolvidas após as deposições, além disso, as lembranças postas em questão exaltam uma suposta salvação nacional. Por fim, destaca-se o fato de que em todos estes processos de salvamento, o discurso
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
201
se fundamenta em torno da ideia de que o perigo comunista foi mandado para longe ou mesmo superado. O medo em relação ao perigo vermelho é um elemento que atravessa conjunturas. É fato, que: “O temor de muitos agentes sociais ao comunismo era sincero e não instrumental” (MOTTA, 2002, p. 178).
Contudo:O anticomunismo forneceu argumento principal para as duas rupturas institucionais mais graves do período republicano, que deram origem aos regimes autoritários mais duradouros já experimentados (ou sofridos) pelo país (MOTTA, 2002, p. 280).
Recentemente, o anticomunismo reapareceu como fator para justificar o impeachment sofrido por Dilma Rousseff em 2016, no decorrer do artigo irei discorrer mais elementos que explicam esta ideia.
Os bons e os maus usos do passado na disputa de narrativas a partir da cultura política e representaçõesÉ bastante comum na atualidade ouvir dos saudosistas ao
Regime Militar brasileiro ocorrido entre 1964-1985, frases como: “Naquele tempo era melhor”.
“Na ditadura aconteceu o milagre econômico”.
“Foi um período de pleno emprego”.
“Na ditadura não havia corrupção”.
“Na ditadura não havia bandidagem solta nas ruas”.
Entre outras frases que demonstram total desconhecimento e ignorância sobre o período histórico em questão. Estes discursos contemporâneos acontecem por conta de variadas demandas existentes na sociedade que ainda não foram resolvidas. Segundo Enzo Traverso: “A dimensão política da memória coletiva (e os abusos que a acompanham) não podem afetar a forma de escrever a história” (TRAVERSO, 2007, p. 18).
Das utopias ao Autoritarismo
202
Contudo, isto está ocorrendo por conta de um sistema social que atrapalha as tradições e fragmenta as existências. O conceito de cultura política desenvolvido por Serge Berstein, e de seu concebimento a partir da visão global de mundo, da evolução do lugar que o homem ocupa na sociedade, e do partilhamento de um conjunto de ideias por um grupo importante desta sociedade num dado momento de sua história, nos auxilia a compreender como este período de expurgos mantém permanências e boas lembranças mesmo que irreais na atualidade. Segundo Serge Berstein, a “[...] cultura política (é) um grupo de representações portadoras de normas e valores que vão muito além da noção reducionista de partido político” (BERSTEIN, 2009, p. 32). Ou seja, corresponde a uma visão global de mundo e de sua evolução em relação aos homens e ao lugar que ocupam em seu meio social.
O conceito de cultura política foi originalmente desenvolvido nas décadas de 1950 e 1960 por cientistas sociais norte-americanos que se inspiraram em autores do século XIX interessados pelos impactos de valores e comportamentos culturais sobre a política. Apenas no período posterior a Guerra Fria quando as ciências sociais norte americanas se internacionalizam é que o conceito de certa forma se difundiu. Num primeiro momento isto ocorreu a partir de uma noção etnocêntrica ao se pensar os Estados nacionais e os comportamentos e ideais políticos presentes neles. Em contrapartida, na França a cultura política foi trabalhada antropologicamente, buscando evidenciar a existência de diversos comportamentos e maneiras de agir em disputa, ou seja, a cultura política desenvolvida pelos franceses é vista de forma pluralista.
Neste sentido apoiando-se na ideia de uma história do tempo presente observamos o fato de que um acontecimento na sociedade pode ocasionar a transformação da cultura política vigente. De certa forma esta mudança está associada ao que Henry Rousso dá o nome de última catástrofe. Nas palavras do autor:
toda história contemporânea começa com a última catástrofe em data, e em todo caso a última que parece a mais loquaz, senão a mais próxima cronologicamente (ROUSSO, 2016, p. 24).
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
203
O essencial na cultura política é a constituição de um todo homogêneo que após os elementos interdependentes serem apreendidos permitem a percepção do sentido dos acontecimentos. Portanto, a principal questão seguindo esta ideia é o substrato filosófico da cultura política que é definido de acordo com o tipo de sociedade que estamos nos referindo (podem ser inúmeras e estas podem apresentar variações em seu interior) e da cultura global da mesma.
Em suma, são os fatores explanados acima fundidos a diversidade de comportamentos políticos que são responsáveis por definirem as culturas políticas subjacentes inseridas numa sociedade global. É debruçando sobre estas ideias que conseguimos observar na história do Brasil Republicano a partir da década de 1930, uma cultura política marcada com traços de autoritarismo e de anticomunismo, e estes elementos ainda se fazem presentes na atualidade, por exemplo quando alguns indivíduos rememoram o Regime militar brasileiro como algo benéfico, ou mesmo no caso do nosso objeto de estudo, o temor ao comunismo na atualidade servindo de pretexto para a retirada de uma chefe de Estado.
A cultura política do Brasil pós década de 1930 é anticomunista e autoritária, visto o fato de que um dos principais inimigos políticos de Vargas, eram os comunistas na pessoa de Luís Carlos Prestes. Seguindo esta linha de pensamento, o plano Cohen que inicia a ditadura do Estado Novo em 1937, utiliza como argumento uma suposta invasão soviética no Brasil. Nesta conjuntura a opinião pública se une ao presidente Getúlio Vargas e de certa forma autoriza o golpe de Estado que trouxe a primeira experiência ditatorial no Brasil. O temor anticomunista ligado a saídas autoritárias continua presente na política brasileira das décadas seguintes, pois um dos pretextos para se empreender o golpe militar em 1964 é o impedimento que o comunismo novamente assole o país, desta vez mediante a política empreendida pelo presidente João Goulart que foi deposto, mesmo que este nunca houvesse se declarado comunista. Neste ponto o conceito de representações de Roger Chartier nos auxilia no sentido de que:
Das utopias ao Autoritarismo
204
As representações do mundo social [...], embora aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinadas pelos interesses de grupos que as forjam (CHARTIER, 1987, p. 17).
A partir do excerto acima podemos afirmar ser a luta de representações ligada ao que é político, pois o objetivo principal nos embates em torno da narrativa é a afirmação. Esta ideia se complementa ao pensarmos o fato de que: “Se o político deve se explicar-se antes de tudo pelo político, há também no político mais que o político”. (REMOND, 2003, p. 36)
Por fim nossa análise se complementa apoiando-se na análise de Roger Chartier, nas palavras do autor:
“As percepções do social não são discursos neutros – produzem estratégias e práticas – sociais, escolares e políticas - que tendem a impor uma autoridade à custa de outros por ela menosprezados, a legitimar um projeto reformador ou a justificar, para os próprios indivíduos, as suas escolhas e condutas” (CHARTIER, 1987, p. 17).
A ação dos indivíduos sobre o mundo são atos de poder, ou seja, atos políticos. Afirmamos isto no sentido de que:
nos momentos de crise os grupos hegemônicos tendem a se defender das ameaças a ordem social (as que imaginam existirem) reforçando a superioridade da qual desfrutam e que se encontra em risco (SILVA, 2004, p. 26).
As representações não devem ser entendidas a partir de uma dicotomia, pois são interligadas. Se constroem por um processo em que os interesses da sociedade se ligam ao ato de militar. Ou seja, “as ações e práticas sofrem influência não passiva das representações, que muitas vezes moldam os comportamentos dos grupos sociais”. (MOTTA, 2002, p. 25)
A partir de nossa análise, observamos que tanto em 1937, quanto em 1964 e atualmente em 2016 (na conjuntura pós-impeachment), nenhuma das ações comunistas denunciadas e temidas pela sociedade brasileira ocorreram, elas jamais existiram. O comunismo brasileiro em nenhum momento de nossa história foi
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
205
superior politicamente ou mesmo tomou o poder utilizando-se de métodos revolucionários, mas sempre foi fruto de intensa oposição. Todavia,
a ameaça comunista serviu como pretexto para justificar golpes autoritários, reprimir movimentos populares, garantir interesses imperialistas ameaçados pelas campanhas nacionalistas, ou seja, manter inalterado o status quo (MOTTA, 2002, p. 24).
A discussão principal na disputa de narrativas brasileira – O Anticomunismo
A partir dos desdobramentos políticos ocorridos no Brasil relacionados às jornadas de junho de 2013, a bipolarização da sociedade em Coxinhas e Petralhas após as eleições de 2014 vencidas por Dilma Rousseff sobre Aécio Neves, evidenciamos a formação e desenvolvimento de um terceiro grande surto anticomunista. Todavia nesta onda de anticomunismo contemporânea atestamos ser apenas o interesse o fator mais em voga, deixando de lado a ideologia. Muitas permanências de nossa última catástrofe ainda pairam no imaginário social brasileiro e por conta disto, noções jocosas, pejorativas e horrendas, mas nem sempre verdadeiras relacionadas aos comunistas no passado ainda continuam a ser proferidas, o que de certa forma faz com que o temor ao perigo vermelho se faça presente na atualidade. A não superação e/ou permanências de períodos extremos passados, nos mostra como eles controlam presente.
A incompreensão do presente nasce fatalmente da ignorância do passado. Mas talvez não seja menos vão esgotar-se em compreender o passado, se não se sabe nada do presente (ROUSSO, 2016, p. 127).
De certa maneira, podemos afirmar que esta situação se relaciona a lei da Anistia promulgada em 1979 durante o Regime Militar. O perdão dado a torturadores e torturados, fez com que as marcas de nosso período ditatorial permanecessem naqueles que as sofreram e deixou livre os que as desenvolveram. Muitos deste
Das utopias ao Autoritarismo
206
segundo grupo continuaram sendo agentes políticos em nossas instâncias legislativas e executivas, e criaram herdeiros políticos que ainda defendem a bandeira do anticomunismo atrelado a outros fatores que nem se entrecruzam com as ideias comunistas. Contudo, muitos parlamentares em atividade atualmente fazem isto de forma confusa. Resta saber se por ideologia ou interesse oportunista.
No livro: Em guarda contra o perigo vermelho, Rodrigo Patto Sá Motta traça um panorama geral sobre a primeira e a segunda onda anticomunista no Brasil, assim como os seus três primeiros surtos em 37, 46 e 64. Sua tese é desenvolvida apresentando as bases, as matrizes, a iconografia, e o imaginário anticomunista no Brasil em três conjunturas, a de 1937 a de 1946 e a de 1964. O primeiro e o último surto respectivamente são quando estouram as duas ondas anticomunistas que levam o Brasil as duas rupturas institucionais que ocorreram em nossa república. Ao fim do livro duas citações dizem respeito ao futuro do comunismo e do anticomunismo, nas palavras do autor:
A análise das duas grandes ondas anticomunistas, que colocou em contraste as conjunturas de 1935-1937 e 1961-1964, permitiu mostrar a complexa interação entre ruptura e permanência. No decorrer do tempo, diversos aspectos da tradição anticomunista foram mantidos e reproduzidos, ao mesmo passo que novas configurações e temas vieram à baila, acompanhando a dinâmica da história (MOTTA, 2002, p. 279-280).
No limiar do novo milênio, tudo indica, o anticomunismo parece fenecer junto com seu adversário e razão de ser, o comunismo. [...] Não estamos afirmando que não existe futuro para propostas de esquerda e nem, tampouco, que não ocorrerão mais disputas opondo grupos conservadores a mobilizações favoráveis a mudanças sociais (MOTTA, 2002, p. 281).
O autor como historiador que é não buscava com esta citação desvendar o futuro, todavia sua ideia se concretizou e hoje podemos dizer que estamos sofrendo o reflexo de uma terceira onda anticomunista e de um quarto surto.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
207
A ruptura institucional ocorrida não foi autoritária ou militarizada (mesmo que elementos ligados às forças armadas vez ou outra dão o ar da graça palpitando sobre a política, para a sociedade e sobre quais devem ser as maneiras de se solucionar os problemas brasileiros). Sendo assim, cabe nesta discussão analisar os desdobramentos iniciados a partir das jornadas de junho de 2013, de que momento histórico eles se enraízam e como se assemelham e ao mesmo tempo diferem das duas outras ondas de anticomunismo já citadas. Além disso, vale explanar o motivo de se considerar o momento atual brasileiro como a terceira onda anticomunista brasileira.
Duas palavras são fundamentais e devem ser consideradas ao tratarmos sobre o anticomunismo no Brasil, ideologia e interesse. Nos dois primeiros surtos anticomunistas ocorridos em 1937 e 1964, observa-se a presença destes fatores no sentido de que existiam organizações e indivíduos que de fato temiam o perigo vermelho.
Sem nenhuma dúvida, havia anticomunistas convictos, indivíduos que realmente acreditavam na existência do perigo e agiam em consonância com esta crença. Podem até ser chamados de tolos ou fanáticos [...] Seu conservadorismo era sincero (MOTTA, 2002, p. 170).
Entretanto, outros indivíduos se aproveitavam do temor social colocando em questão às forças inspiradas em Moscou ou Cuba num segundo momento, utilizavam-se disto para angariar benefícios políticos e econômicos para seu usufruto. Aliando estas duas práticas (a ideologia e o interesse) contribuíram no desenvolvimento do temor ao anticomunismo.
Os chamados industriais do Anticomunismo, aproveitavam-se do pavor provocado pelo comunismo, convencendo a sociedade da necessidade de determinadas medidas, ou mesmo colocavam-se na condição de campeões do anticomunismo, para com isto auferir vantagens, por exemplo votos. Em outras palavras era e ainda é uma manipulação oportunista a partir do temor das massas ao comunismo visando um sucesso político ou até mesmo econômico. O deputado federal Jair Messias Bolsonaro desenvolve exatamente este tipo de prática hoje e com estas ideias promove o discurso de ódio justificando
Das utopias ao Autoritarismo
208
o derramamento de sangue ocorrido na Ditadura Militar daqueles que eram contrários ao regime e a priori eram e ainda hoje são taxados de comunistas por ele e pelos adeptos de seu discurso.
Por fim, mas não menos importante, é necessário tratarmos sobre como as matrizes do anticomunismo atuam no anticomunismo atual. Nas duas primeiras ondas anticomunistas no Brasil, o Catolicismo, o Nacionalismo e o Liberalismo eram os elementos principais contrários ao comunismo, e em seus discursos e práticas demonstravam isto.
O catolicismo, pois: O comunismo não se restringiria a um programa de revolução social e econômica. Ele se constituía numa filosofia, num sistema de crenças que concorria com a religião em termos de fornecer uma explicação para o mundo e uma escala de valores, ou seja uma moral. A filosofia comunista opunha-se aos postulados básicos do catolicismo: negava a existência de Deus e professava o materialismo ateu; propunha a luta de classes violenta em oposição ao amor e à caridade cristãs; pretendia substituir a moral cristã e destruir a instituição da família; defendia a igualdade absoluta contra as noções de hierarquia e ordem embasadas em Deus (MOTTA, 2002, p. 20).
O nacionalismo, pois o comunista é visto como um “estrangeiro”, estava a serviço de Moscou e a partir da década de 1960 para Cuba. Segundo Motta:
A existência de fortes vínculos unindo nacionalismo (patriotismo) e anticomunismo pode ser observada nas políticas adotadas pelos regimes originados das duas mais importantes ofensivas anticomunistas: Estado Novo e Regime Militar (MOTTA, 2002, p. 36).
Por último, temos o liberalismo, pois de certa forma: Os liberais recusavam (recusam) o comunismo por entender que ele atentava contra os dois postulados referidos, a liberdade praticando o autoritarismo político e, o direito à propriedade, na medida em que desapossava os particulares de seus bens e os estatizava (MOTTA, 2002, p. 38).
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
209
No anticomunismo brasileiro atual as matrizes clássicas do anticomunismo permanecem estabelecidas e possui o auxílio de alguns elementos catalisadores que lhe orientam no seu desenvolvimento, são eles: a literatura politicamente incorreta, a proliferação das Fake News e o extremismo político evidenciados no discurso dos indivíduos que pedem uma intervenção militar como forma de resolver os problemas da política e da sociedade brasileira.
A história politicamente incorreta coloca em depreciação a história oficial. Enaltecendo o passado que não passa, o seu sucesso serve de discurso no jogo político aos grupos que preferem que a sociedade não se lembre de seu passado conturbado. Os Guias politicamente incorretos da história são de autoria e criação de Leandro Narloch, possuem um tom irônico, simplificações e informações equivocadas, com o objetivo de endossar uma perspectiva da história supostamente coerente com a direita liberal.
Por sua vez, as Fake News, sempre foram um fenômeno existente na política, mas ganharam destaque com a eleição do candidato Donald Trump nos Estados Unidos no ano de 2016. Podemos considerar as Fake News como um tipo de imprensa marrom que consiste na distribuição deliberada de desinformação ou boatos por jornal, televisão, rádio, ou mesmo online, por exemplo em redes sociais. O objetivo da proliferação destas notícias falsas é a enganação para a obtenção de ganhos financeiros e políticos.
No Brasil o Movimento Brasil Livre – MBL, Think Tank brasileira ligada a Atlas NetWork2 é o órgão que mais espalha Fake News relacionadas a esquerda brasileira e foi um dos principais desencadeadores do golpe de 2016 que depuseram Dilma Rousseff. Think Tank é uma expressão que pode ser traduzida por “centro de pensamento”. É um termo criado nos Estados Unidos e utilizado para designar organizações que se dedicam a produzir e/ou difundir pesquisas, ideias e projetos de políticas públicas com o objetivo de
2 A Atlas Network — Think Tank legalmente denominado Atlas Economic Research Foundation, sediado em Washington, D.C. — atua, desde 1981, na defesa e propagação de concepções da direita ultraliberal, com organizações parceiras em todos os continentes.
Das utopias ao Autoritarismo
210
influenciar governos e/ou conformar uma certa opinião pública. Em geral, buscam transmitir uma imagem técnica, tentando afastar-se de uma identificação estritamente ideológica, mesmo que claramente defendam determinadas concepções políticas e ideológicas, por exemplo o anticomunismo e no caso do Brasil a partir de 2013 o antipetismo.
Por sua vez, o MBL, criado em novembro de 2014 logo após a reeleição de Dilma Rousseff, tem sua origem na organização Estudantes pela Liberdade sediada em Belo Horizonte. Esta organização é financiada pela Atlas Network e “treina” estudantes com base nos ideais do ultraliberalismo e de certa forma desenvolve ideias anticomunistas. O sucesso do MBL ocorre após seus criadores e seguidores atrapalharem as ações do MPL – Movimento Passe Livre que reivindicava a diminuição no valor nas passagens dos ônibus coletivos em diversas capitais brasileiras e a melhoria nos serviços. Defendendo as privatizações e o Estado mínimo, a organização possui como líder, Kim Kataguiri, estudante de economia que fazia sucesso postando vídeos “engraçados” no portal YouTube. De cabelos compridos e barba, Kim simboliza para a entidade a juventude “que saiu do Facebook para as ruas”. Vale lembrar que o Movimento Passe Livre e diversos outros movimentos sociais já faziam isto antes mesmo do surgimento do Facebook. Entretanto o MBL discursa defendendo este protagonismo inexistente.
O extremismo político da Nova direita brasileira está relacionado ao deputado federal Jair Messias Bolsonaro, atualmente candidato à presidência da república. Militar reformado do exército, o parlamentar desenvolve um discurso extremista que também é saudosista ao Regime militar no Brasil. A sua principal proposta política versa sobre o armamento da população. Bolsonaro pode ser visto na atualidade como um elemento do “passado que não passa” brasileiro, ligado a uma cultura política autoritária brasileira que em 1937 e 1964 a partir de suas práticas, representações e discursos desenvolveram regimes ditatoriais.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
211
Considerações finaisO repúdio a uma determinada ideologia mostra temor a ela.
O anticomunismo brasileiro logrou e ainda hoje detém sucesso pela atuação da opinião pública. Como cidadãos de um país marcado pela sua frágil democracia, devemos analisar os discursos em voga na disputa de narrativas para que os fatos reproduzidos por ela nem sempre virem verdade. No tempo presente brasileiro a crença no perigo vermelho beira a uma espécie de insanidade de seus mentores. As instituições ou indivíduos que desenvolvem ou ensaiam em seus discursos e práticas algo que seja entendido como uma defesa a entidades e organizações que possuem a alcunha de social em seu nome, ou que utilizam a cor vermelha como marca, ou são por exemplo a favor dos direitos humanos (incluindo negros, quilombolas, dependentes químicos, a comunidade LGBT, as mulheres, ou qualquer que seja a minoria) e por fim, que são contrários ao impeachment sofrido por Dilma Rousseff em 2016, são taxados de esquerdistas, e por conseguinte comunistas. O anticomunismo da atualidade brasileira, não mira em um inimigo, mas acerta em vários e estes de certa forma não são necessariamente elementos da esquerda, mas são assim considerados. É fato que nas conjunturas dos dois primeiros surtos anticomunistas, o perigo vermelho era real, por conta do quadro político internacional. Nestas conjunturas o regime soviético e num segundo momento o cubano também. Entretanto como já referido, o oportunismo foi utilizado para justificar experiências golpistas.
O crescimento e fortalecimento do conservadorismo é algo visível e assustador no Brasil da conjuntura pós impeachment, cabe aos grupos políticos que se denominam progressistas a tarefa de combater o golpismo, o oportunismo e a manipulação de ideias que beiram às práticas anticomunistas. É reparável o fato de que o anticomunismo da terceira onda se desassemelha em vários elementos dos surtos ocorridos em 1937 e 1964, mas assim como os anteriores finalizou em golpe nas instituições políticas e como já dito utilizou do oportunismo e da manipulação da realidade estereotipando os inimigos políticos em questão.
Das utopias ao Autoritarismo
212
Referências bibliográficas:BERSTEIN, Serge. Culturas políticas e historiografia. In: AZEVEDO, Cecília et al. (Orgs). Cultura política, memória e historiografia. Rio de Janeiro: FGV, 2009.
CHARTIER, R. A história cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 1987.
MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Em guarda contra o “Perigo Vermelho”: o anticomunismo no Brasil (1917 – 1964). São Paulo: Perspectiva: FAPESP, 2002.
REMOND, René. Por uma História Política. Rio de Janeiro: FGV, 2003.
ROUSSO, Henry. A última catástrofe: a história, o presente, o contemporâneo. Tradução Fernando Coelho e Fabrício Coelho. Rio de Janeiro: FGV, 2016.
SILVA, G. V. Representação social, identidade e estigmatização: algumas considerações de caráter teórico. In: SILVA, G. V.; FRANCO, S. P.; LARANJA, A. L. (Orgs). Exclusão social, violência e identidade. Vitória: Flor e Cultura, 2004, p. 13-30.
TRAVERSO, Enzo. El passado, instruciones de uso. Historia, memoria, política. Madrid: Marcial Pons, 2007.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
215
Da utopia à conquista do direito à livre determinação. As comunidades indígenas
mexicanas e seus processos de construção das autonomias
Antonio Carlos Amador Gil1
Para falarmos das conquistas pelo direito à livre determinação, é importante resgatarmos a história da ratificação da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho – OIT pelo México e a reforma constitucional mexicana de 1992. Se por um lado, a reforma constitucional mexicana de 1992 retirou direitos referentes à terra, uma vez que, ao modificar o artigo 27, o governo de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) tornou os ejidos (propriedades coletivas) indígenas passíveis de mercantilização, ou seja, passíveis de compra e venda, alteração que mexia diretamente com a base da cultura indígena e era uma exigência dos grupos empresariais e financeiros norte-americanos, para a assinatura do Tratado de Livre Comércio, visto que não admitiam a proteção de uma estrutura coletiva que impedia a estruturação completa de um mercado de terras capitalista, por outro lado, a reforma constitucional de 1992 reconheceu, em seu artigo 4, a composição pluricultural do México. A nova redação do artigo 4 dizia o seguinte:
Art.4 - A nação mexicana tem uma composição pluricultural originalmente sustentada em seus povos indígenas. A lei protegerá e promoverá o desenvolvimento de suas línguas, culturas, costumes, recursos e formas específicas de organização social, e garantirá a seus membros o acesso efetivo à jurisdição do Estado. Nos processos e litígios agrários em que sejam partes, serão levadas em conta as suas práticas e costumes jurídicos nos termos estabelecidos por lei. (DIARIO OFICIAL, p. 5, 28 jan. 1992. Tradução nossa).2
1 Antonio Carlos Amador Gil é professor titular de História da América na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e pós-doutor em História da América. E-mail: [email protected].
2 Art.4 - La Nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada
Das utopias ao Autoritarismo
216
O reconhecimento expresso neste artigo 4º, que foi realocado para o artigo 2º na reforma constitucional de 2001, está profundamente associado com as mudanças ocorridas a partir dos anos de 1980 e inícios de 1990. Uma das mudanças fundamentais no direito internacional foi a convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) – Convenção sobre Povos Indígenas e Tribais, aprovada em 1989 em Genebra e que foi ratificada pelo México em 5 de setembro de 1990, entrando em vigor em 5 de setembro de 19913 . O México foi o segundo país, depois da Noruega, a ratificar a Convenção 169 da OIT.
Apesar da aparência “progressista” da postura do governo de Carlos Salinas de Gortari sobre os direitos indígenas, a meta principal das reformas salinistas era fortalecer o desenvolvimento capitalista do México no âmbito da globalização, sem se preocupar nem com a dependência em relação aos Estados Unidos nem com os choques que essa estratégia poderia produzir com as aspirações dos agora reconhecidos “povos indígenas”. O governo salinista demorou um pouco para mostrar que aquilo que queria oferecer aos indígenas mexicanos era o multiculturalismo neoliberal, um regime de direitos que desenharia uma fronteira clara entre a figura que Charles Hale (2006) chamou de “o índio permitido” e “o índio radical demais”, que pretenderia acrescentar ao seu direito de conservar seu idioma e sua cultura o controle de recursos.
Mesmo com todas as limitações, a partir da ratificação da Convenção 169 da OIT em diversos países da América Latina, têm sido aprovadas reformas constitucionais que estabeleceram artigos e políticas favoráveis ao reconhecimento da pluralidade cultural e étnica. Apesar das limitações destas iniciativas, que se restringem, geralmente,
originalmente en sus pueblos indígenas. La Ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. En los juicios y procedimientos agrarios en que aquellos sean parte, se tomárán en cuenta sus prácticas y costumbres jurídicas en los términos que establezca la ley.
3 A aprovação da Convenção 169 da OIT – Convenção sobre Povos Indígenas e Tribais, pelo Congresso Nacional Brasileiro, deu-se somente em 2002 e sua promulgação pelo governo brasileiro em abril de 2004 (Decreto 5.051 de 19 de abril de 2004).
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
217
a aspectos culturais, têm surgido políticas de “discriminação positiva” que têm produzido, paralelamente, processos de re-etnificação ou etnogênese. É interessante notar como, em diversos países da América Latina, ressurgem os movimentos indígenas e, cada vez mais, se operacionalizam, ou até mesmo, recriam-se ou inventam-se as identidades étnicas.
No mesmo momento em que ocorreu esta reforma constitucional no México, estava sendo gestado o movimento zapatista em Chiapas que se insurgiu no momento em que entrou em vigor o Tratado de Livre Comércio com os Estados Unidos e Canadá, em 1º de janeiro de 1994. Como bem definido por Gemma van der Haar em seu trabalho “El movimento zapatista de Chiapas: dimensiones de su lucha”, podemos destacar três dimensões do projeto político zapatista: a luta agrária, a luta pelo reconhecimento legal dos direitos e das culturas indígenas e a construção das estruturas do governo autônomo. Ou seja, o movimento zapatista não se restringiu somente às reivindicações agrárias, foi além, visto que incorporou a luta pelo pluralismo e pela construção das autonomias (HAAR, 2005).
Segundo Consuelo Sánchez, em seu texto Autonomía y pluralismo. Estados plurinacionales y pluriétnicos, o pluralismo que reivindicam os movimentos indígenas tem um significado substancialmente diferente do sustentado pelos liberais pluralistas e a maioria dos multiculturalistas. A reivindicação de pluralidade cultural dos povos indígenas se trata de um enfoque que se distancia da cultura liberal-capitalista e busca subverter o atual movimento de integração capitalista, também chamado de globalização neoliberal (SÁNCHEZ, 2010, p. 273).
Para os movimentos indígenas que lutam por sua autonomia, o Estado neoliberal e antes dele, o Estado republicano (após as independências) e o Estado colonial, representam formas de colonialismo pois sustentam um colonialismo endógeno e exógeno que se expressa no domínio e despojo dos povos indígenas e a subordinação de seus países aos interesses capitalistas estrangeiros.
Para os povos indígenas a imposição do liberalismo e
Das utopias ao Autoritarismo
218
sua perspectiva de direitos humanos e de cidadania significou uma imposição colonialista, pois o liberalismo se converteu num obstáculo para a livre determinação e para a fundação de um projeto político fundado numa autêntica diversidade.
Héctor Díaz-Polanco e Consuelo Sánchez em seu trabalho El debate autonómico, publicado no livro México diverso: el debate por la autonomía, demonstram que o projeto defendido pelos zapatistas supõe a reforma do Estado e a renovação do pacto federal visto que é necessária uma nova distribuição territorial do poder do Estado que incorpore as regiões autônomas como parte da organização vertical dos poderes da nação e uma descentralização política, administrativa e de recursos. Os zapatistas propõem a criação das regiões autônomas como um novo ente territorial que tenha personalidade jurídica, organização político-administrativa e patrimônio próprio. Ou seja, são precisas mudanças constitucionais para criar um Estado descentralizado, democrático, includente e respeitoso da pluralidade (DÍAZ-POLANCO; SÁNCHEZ, 2002, p. 138-139).
Em abril de 2001, o Congresso Nacional mexicano inicia e conclui as discussões e votações sobre a reforma constitucional sobre matéria indígena. Vicente Fox, eleito pelo Partido de Ação Nacional (PAN) em 2000, com o apoio do Partido da Revolução Democrática (PRD), promulga a nova lei indígena federal em 29 de abril de 2001.
Esta reforma constitucional foi fortemente rechaçada pelo Exército Zapatista de Libertação Nacional - EZLN que divulgou um comunicado afirmando a traição do governo, declarando que não faria mais contato com as esferas governamentais e seguiria em rebeldia. O rechaço do EZLN se deveu ao fato de que a nova lei indígena federal apagou todas as referências a territórios indígenas e aos direitos à associação política para além do nível municipal que estavam incluídas na proposta original da multipartidária Comissão de Concórdia e Pacificação, comissão que articulou os Acuerdos de San Andrés, documento assinado em fevereiro de 1996, em San Andrés Larráinzar, em que o governo mexicano compromete-se a outorgar os direitos indígenas sobre autonomia, justiça e igualdade aprovados nas mesas de negociações.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
219
Héctor Díaz-Polanco e Consuelo Sánchez mostram a incongruência da proposta governamental pois ao mesmo tempo em que se reconhece a autonomia das comunidades indígenas, não foram criadas as condições para o exercício político da autonomia, uma vez que omitem o reconhecimento das comunidades indígenas como entidades de direito público. O governo ardilosamente aparenta fazer mudanças mas, na verdade, não muda nada (DÍAZ-POLANCO; SÁNCHEZ, 2002, p. 148).
Alejandro Cerda García (2011), em seu trabalho Construyendo autogobierno: repensar la ciudadanía desde la autonomía, publicado no livro Imaginando zapatismo: multiculturalidad y autonomía indígena en Chiapas desde un municipio autónomo, reforça este enfoque e reitera que as modificações legislativas, em relação aos direitos e culturas indígenas, que foram aprovadas em 2001, reduziram a autonomia ao âmbito do comunitário sem reconhecer sequer a sua personalidade jurídica.
Neste período, entre 2001 e 2005, o movimento zapatista se voltou para suas atividades internas nas regiões ocupadas, até que em agosto de 2005 divulgou a Sexta Declaração da Selva Lacandona, conclamando à construção de uma outra forma de fazer política. De acordo com esta declaração, documento dividido em três partes, emitido pelo Comitê Clandestino Revolucionário Indígena – CCRI, o EZLN fez, em sua primeira parte, um resumo dos acontecimentos, e deixou claro que, após a “Marcha pela dignidade indígena” de 2001 e o fracasso da luta pelo reconhecimento dos indígenas mexicanos pelo Congresso da União, o diálogo e a negociação tinham sido em vão, e os zapatistas decidiram então pelo cumprimento, sozinhos e unilateralmente, dos Acuerdos de San Andrés quanto aos direitos e às culturas indígenas. Ou seja, entre 2001 e 2005, os zapatistas se dedicaram a aumentar e fortalecer os municípios autônomos rebeldes zapatistas de forma autônoma e independente.
De acordo com a Sexta Declaração, os zapatistas avisaram que queriam estabelecer uma política de alianças com organizações e movimentos não eleitorais que se definissem, em teoria e na prática, como de esquerda, de acordo com as seguintes condições: que
Das utopias ao Autoritarismo
220
não fizessem acordos de cúpula para impor na base, mas sim que fizessem acordos para ir juntos, para ouvir e organizar a indignação; que não levantassem movimentos que depois fossem negociados às custas daqueles que os integravam, mas sim que levassem sempre em consideração a opinião dos que deles participavam; que não procurassem presentes, posições, vantagens, cargos públicos ou cargos de poder, indo sempre além dos calendários eleitorais; que não tratassem de resolver os problemas da nação mexicana a partir de cima, mas sim que construíssem a partir de baixo e para os debaixo uma alternativa à devastação neoliberal, uma alternativa de esquerda para o México. Os zapatistas convidaram a todos os que lutavam a partir dos princípios acima relatados para que participassem diretamente com os zapatistas da campanha nacional para a construção de outra forma de fazer política, de um programa de luta nacional e de esquerda e, no caso do México, por uma nova Constituição. Ou seja, o zapatismo criticava a política como uma esfera especial, monopolizada por um grupo de profissionais, fora do controle social e alheia aos anseios da sociedade civil, somente se voltando para ela nos momentos eleitorais, num quadro de participação restrita da democracia representativa.
Segundo Juan Diez em seu trabalho “Os múltiplos processos de construção da autonomia do movimento zapatista”, apesar das leituras abstencionistas ou antieleitorais que muitos críticos fizeram no momento da divulgação da Sexta Declaração da Selva Lacandona, o que os zapatistas propuseram, a partir da Sexta Declaração, foi o rompimento das negociações com a classe política visto que os zapatistas estavam indignados com a traição da classe política durante a votação da nova proposta sobre direitos indígenas que foi precedida por intensas negociações e mobilizações. Juan Diez deixa claro que não se tratava de uma conclamação a não votar, de não participar da política, mas uma proposta renovada em que a tarefa fundamental, a partir de 2005, seria o encontro e conhecimento dos diferentes grupos, coletivos e pessoas que lutavam contra o capitalismo, entre os quais deveriam ir discutindo, coordenando e articulando as novas iniciativas políticas. Portanto,
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
221
mais que uma posição antipolítica, como muitos criticaram, o movimento zapatista pareceu procurar desafiar a noção dominante de política, revestindo-a de novos sentidos (DIEZ, 2012, p. 220).
O posicionamento dos zapatistas trouxe muitos problemas para a luta política partidária naquele momento. Apesar de proporem uma nova forma de fazer política, se afastaram da luta eleitoral, o que fez com que o movimento fosse bastante criticado pelos que consideravam a luta pelo poder político através das eleições um momento essencial e muito importante. Araceli Burguete Cal y Mayor (2007), em seu texto De organizaciones indígenas a partidos étnicos: nuevas tendencias en las luchas indias en América Latina, a partir da análise de diversos autores, revela outros caminhos. A autora mostra que a decepção experimentada por diversos movimentos indígenas, na América do Sul, em relação ao sistema político que não conseguiu dar resposta às demandas de modificação do Estado, de uninacional para plurinacional, conduziram vários movimentos, como a CONAIE, no Equador, e o movimento dos Cocaleros, na Bolívia, a incorporar em sua agenda, a luta pelo poder político e se transformar em um partido político. Podemos falar de novos atores, “os partidos étnicos” que seriam organizações autorizadas a participar em eleições locais ou nacionais, cujos líderes e a maioria de seus membros se identificaram a si mesmos como parte de um grupo étnico não governante cuja plataforma eleitoral inclui demandas e programas de natureza étnica ou cultural.
Como já colocado aqui, a Reforma constitucional mexicana de 2001 não permitiu o reconhecimento das comunidades indígenas como entidades de direito público e a possibilidade de que os indígenas se associassem enquanto “povos”. Consuelo Sánchez (2010) lembra que, no Direito Internacional, os termos “povos” e “minorias” aparecem ligados a direitos diferentes. O termo “minoria” se associa a certos direitos culturais (religião, língua e vida cultural própria) que podem ser exercidos individualmente ou coletivamente dentro dos Estados Nacionais existentes. Já o termo “povo” está vinculado ao direito de livre determinação e compreende o direito e a liberdade de decidir coletivamente seu estatuto político e rumo econômico e sociocultural.
Das utopias ao Autoritarismo
222
Um momento marcante para os povos indígenas foi o reconhecimento de seu direito à livre determinação na Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que foi aprovada em 13 de setembro de 2007. Em seu terceiro artigo, a declaração afirmou que “os povos indígenas têm o direito à livre determinação. Em virtude desse direito determinam livremente sua condição política e perseguem livremente o seu desenvolvimento econômico, social e cultural”. Consuelo Sánchez ressalta que este direito é um princípio geral que requer ainda a sua concretização. Ou seja, os povos indígenas têm que lutar efetivamente para exercer este direito. Segundo a autora, os movimentos indígenas têm diversos caminhos que podem variar desde a criação de entidades autônomas dentro de um Estado pré-existente até a constituição de um Estado nacional próprio.
Juan Diez (2012) discute que os processos autonômicos, mais que uma sobrevivência ou volta ao passado, evidenciam, antes, a criação de novas sociabilidades e instituições que combinam elementos “tradicionais” e “modernos”, que vão desde as longas discussões em assembleias comunitárias para a construção de consensos até o questionamento da exclusão das mulheres nas assembleias.
Gilberto López y Rivas (2004), em seu livro Autonomías: democracia o contrainsurgência, afirma que a autonomia, como uma das formas de exercício da livre determinação, implica o reconhecimento dos governos autônomos municipais ou regionais no interior do Estado nacional. Ou seja, autonomia não é independência e não implica em soberania. Os zapatistas colocam que a autonomia é uma entidade menor no interior de uma entidade maior única e soberana, de maneira que o que se discute no dia a dia do movimento são as formas possíveis de relação das comunidades autônomas com o Estado e não uma suposta ameaça ou possibilidade de desintegração nacional. As autonomias constituem, de fato, formas de reconhecimento de direitos, principalmente, no caso zapatista, de direitos coletivos – direitos dos povos indígenas, direitos de entidades etnicamente diferenciadas. Contudo, a inclusão da autonomia como um direito constitucional é considerada por
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
223
alguns governos como um fator de ruptura nacional.
Segundo Consuelo Sánchez (2010), os mecanismos que os movimentos indígenas propõem para alcançar o seu direito à livre determinação não são homogêneos. Em todos os movimentos indígenas, a reivindicação principal é a adoção da autonomia. A autora ressalta que podem existir várias interpretações sobre os elementos da autonomia. Há variações em relação à aplicação do controle do território, ao autogoverno, à administração da justiça, à participação nos órgãos de decisão nacional, aos mecanismos para garantir a autonomia e as condições para a realizá-la e aos níveis e âmbitos territoriais para o exercício da autonomia. Ou seja, a autora deixa claro que as interpretações que os movimentos indígenas têm sobre a autonomia não são fixas e podem modificar-se de acordo com os processos sociopolíticos nacionais.
Consuelo Sánchez (2010) destaca que há uma falta de clareza sobre o significado dos conceitos de autonomia e livre determinação. Tendo isto em mente, a autora quer esclarecer o que constitui um regime de autonomia e suas relações com as demandas dos povos indígenas. O autogoverno é um dos elementos fundamentais da autonomia e implica modificar profundamente a organização política e territorial do Estado. Tendo isto em vista, alguns movimentos indígenas, principalmente os mais politizados e, porque não dizer, revolucionários, são mais exigentes em relação à noção de território. Para estes movimentos indígenas, o reconhecimento da autonomia transcende a concepção de território prevista na Convenção 169 da OIT, que define território como a totalidade do habitat que os povos originários necessitam para a sua sobrevivência e que incluem, em seu sentido mais amplo, seus usos rituais, religiosos e culturais. Eles reivindicam uma base política territorial, um território com jurisdição própria para que suas coletividades possam exercer o governo, a justiça e outros poderes. Isto quer dizer que os povos indígenas contemporâneos mais radicais querem ter “governos próprios” que possuam uma jurisdição que legalmente reconheça suas atribuições sobre um âmbito territorial específico. Os governos latino-americanos atuais têm muita dificuldade em aceitar a dimensão
Das utopias ao Autoritarismo
224
territorial reivindicada por estes processos autonômicos indígenas mais radicais.
Segundo John Gledhill (2012), autor de “Limites da autonomia e da autodefesa indígena: experiências mexicanas”, para os indígenas de Ostula, no estado mexicano de Michoacán, por exemplo, o conceito de território transcende o marco da reforma agrária conformando-se de certa maneira ao conceito nahua do altépetl (entidade étnica e territorial em que se organizaram os indígenas mexicanos no período da formação do domínio asteca). Tal conceito indígena defende que deve existir uma relação entre o domínio territorial e a soberania de um grupo humano portador de uma identidade sociopolítica integrada e única. A “comunidade indígena” se define por meio das práticas íntimas de viver, morrer, trabalhar, venerar suas divindades e fazer peregrinações, contrair matrimônios e manter todo tipo de relações de sociabilidade dentro do território em que exercem sua soberania. Conheciam-se os limites do seu território não por mapas feitos por engenheiros, mas pela experiência de se viver neles, por se conhecerem as histórias sociais vinculadas aos seus lugares, e por se manterem suas fronteiras. O território se vincula estreitamente com as estratégias políticas dos movimentos indígenas. Trata-se de um processo ativo, uma dinâmica de apropriação simbólica e material em um processo histórico determinado. Esta concepção permanece nos dias de hoje e, por isso, vemos a mobilização de diversas etnias indígenas que resistiram durante todo este período e agora querem construir seus processos de autonomia em seus territórios específicos.
Juan Diez (2012) nos mostra que há vários desafios para a implementação da autonomia nos moldes propostos pelos zapatistas, dentre eles, destaca a cultura política dominante no México. O autor explica que as autonomias indígenas não são modelos estabelecidos, mas sim diferentes propostas e experiências concretas que se nutriram de múltiplos antecedentes históricos, ao mesmo tempo em que vêm se constituindo e se modificando ao longo dos anos. Em um contexto como o mexicano, marcado por uma cultura política profundamente paternalista, hierárquica e vertical, o surgimento e fortalecimento
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
225
de propostas e práticas que procuram a construção de autonomias, reforçando os aspectos de horizontalidade e multiplicidade representam um grande desafio, visto que é preciso uma importante mudança cultural e política.
Araceli Burguete Cal y Mayor, em seu texto “Una década de autonomías de facto en Chiapas (1994-2004): los límites”, publicado em 2005, destaca e reconhece o desafio proposto pelos zapatistas com a criação das Juntas de Bom Governo. A autora mostra que, contrariamente à imagem idílica das comunidades zapatistas, a vida cotidiana é muito complexa e difícil, visto que num contexto de escassos recursos, de pobreza e de carência de alternativas, a sobrevivência é uma batalha diária. Segundo a autora, um dos principais objetivos da criação das Juntas de Bom Governo é passar de uma autonomia de fato defensiva, a uma autonomia de fato construtiva. Segundo Burguete Cal y Mayor (2005), as autonomias de fato zapatistas são demarcações imaginadas, uma vez que não estão territorializadas nem se constituem de maneira compacta. Seus membros são grupos de pessoas, de número variável, dispersos por uma determinada área que não tem, necessariamente, continuidade entre eles. O sentimento de pertencimento se concretiza a partir de um sentimento de filiação a uma comunidade em resistência que garante direitos e obrigações diferenciadas. A noção de comunidades imaginadas, segundo a autora, é um resultado recente das próprias mudanças vividas pelo zapatismo. Para Burguete Cal y Mayor, a prolongação da fase de conflito tem feito com que o EZLN sofra um fenômeno simultâneo de crescimento e fragmentação.
Vemos que a autora mostra as dificuldades das comunidades zapatistas, ou seja, não podemos idealizar o movimento. Apesar de todas as dificuldades nos processos de implementação das autonomias, a resistência e a permanência do movimento, depois de tantos anos, demonstraram que as práticas zapatistas de construção das autonomias conseguiram avançar da utopia para sua efetiva realização e influenciaram muitos outros movimentos étnicos indígenas.
Segundo John Gledhill (2012), no início de julho de 2009, notícias sobre a comunidade indígena de Santa María Ostula,
Das utopias ao Autoritarismo
226
localizada no município de Aquila, apareceram nas manchetes principais dos jornais nacionais. No dia 29 de junho, apoiado por suas próprias polícias comunitárias e pelas comunidades indígenas, um numeroso grupo de homens e mulheres de Ostula conseguiu recuperar o controle do território de mais de 700 hectares, conhecido como La Canahuancera, depois de mais de 40 anos de usurpação por moradores não indígenas do povoado vizinho de La Placita. A invasão do terreno disputado tinha sido planejada por uma assembleia comunal. Quarenta famílias se assentaram em Xayakalan para desenvolver um novo projeto autonomista com base na livre determinação e na autodefesa. O governo do Estado prometeu o reconhecimento da legitimidade da polícia comunitária de Ostula como uma “defesa rural”. No entanto, não conseguiu cumprir as promessas de solucionar o conflito agrário. Nem tampouco outorgou reconhecimento oficial ao assentamento, decisão que impediu a entrega de serviços públicos e demais ajudas.
Gledhill (2012) mostra que grupos paramilitares, na região próxima a Ostula, desfrutavam de um amplo grau de impunidade quando acossavam comunidades que pretendiam expressar a sua autonomia sob a forma de lutas para conseguir maior controle sobre seus recursos. O recurso à autodefesa, portanto, foi uma resposta ao fato de que nenhum nível do Estado defendeu os interesses dos comuneros, nem ofereceu a eles as mínimas garantias de segurança.
Para Gledhill (2012), diversas regiões do México contam com recursos minerais e a história do século XIX parece se repetir. Isto nos faz pensar nos projetos de desenvolvimento capitalista que provocaram o processo de desamortização das comunidades indígenas com a consequente expulsão dos indígenas de suas terras e florestas de uso comum na segunda metade do século XIX, no processo histórico conhecido como Reformas Liberais. Este processo alcançou níveis significativos no decorrer do governo de Porfírio Diaz e foi um dos motivos para o levantamento indígena durante a Revolução mexicana. É possível ver semelhanças com a experiência recente da costa pacífica michoacana relatada por Gledhill, ou outras experiências de despojo de comunidades indígenas em outras regiões do México.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
227
Como consequência das generosas facilidades outorgadas, por exemplo, ao avanço do capitalismo extrativista transnacional e ao agronegócio, por muitos governos latino-americanos, abundam exemplos, tanto no México como em outros países da região, de agudos conflitos entre comunidades indígenas e empresas mineradoras ou empresas do agronegócio que desfrutam do apoio, aberto ou dissimulado, do Estado.
John Gledhill (2012) destaca novos elementos desestruturadores como, por exemplo, o narcotráfico que é um elemento que complica esta história. A violência está produzindo um saldo crescente de pessoas deslocadas. Isto não é uma novidade, pois o governo mexicano, por exemplo, desde os anos de 1990, estimulou a ação de grupos paramilitares contra os zapatistas. No caso da região de Ostula, em Michoacán, o que preocupa hoje, segundo o autor, é que as comunidades indígenas da região estão cada vez mais divididas devido à ação do narcotráfico e dos paramilitares e têm perdido grande parte da capacidade que tinham para se mobilizar e se defender. Por isso, vemos cada vez mais presentes, as novas expressões autonomistas que reivindicam a autodefesa armada como uma das formas de conseguir a segurança das comunidades indígenas e a defesa de seus recursos nas condições atuais.
Hoje em dia, nos noticiários sobre o México, se destacam as notícias sobre a violência e as disputas dos carteis do narcotráfico em algumas regiões mexicanas. Além destes fatores desestabilizadores, os grupos étnicos indígenas têm que enfrentar o racismo que impera nas esferas jurídicas e governamentais. Isto ficou claro nos debates na Câmara de Deputados e no Senado mexicanos no momento da discussão da reforma constitucional sobre direitos indígenas que previa a inclusão das autonomias na constituição mexicana. As altas esferas governamentais e o judiciário mexicanos não conseguiram conceber a possibilidade de autogovernos indígenas. Mesmo tendo o exemplo da experiência nicaraguense que mostrou que a autonomia concedida foi um fator de pacificação de conflitos na sociedade nicaraguense, o debate em torno dos direitos indígenas não avançou no momento das reformas constitucionais.
Das utopias ao Autoritarismo
228
Os movimentos indígenas, de maneira geral, e o movimento zapatista, naquele momento, têm reivindicado não somente o direito de proteção de suas línguas, mas também de seus usos e costumes desde que não sejam incompatíveis com os direitos humanos vigentes nas leis de seus países e nos tratados internacionais. Ficou claro para os movimentos, naquele momento no México, que a recusa governamental em reconhecer os direitos propostos nos Acuerdos de San Andrés radicava na incapacidade de reconhecimento dos direitos indígenas por uma cultura profundamente marcada pelo etnocentrismo. As sociedades latino-americanas contemporâneas profundamente marcadas pela herança colonial e pelos projetos de homogeneização cultural implementados pelos Estados independentes no decorrer do século XIX têm muitas dificuldades em reconhecer as diferenças e os direitos do outro civilizacional indígena. A estrutura etnocêntrica construída no decorrer do século XIX, ainda se mantém, visto que apesar do reconhecimento de alguns direitos culturais, os grupos dominantes continuam a desqualificar as práticas e costumes indígenas.
John Gledhill (2012) se posiciona de maneira muito enfática sobre a situação política do México nestes últimos anos. Para ele, houve um processo de fragmentação do Estado e de fragmentação dos cartéis do narcotráfico, ambos os processos impulsionados tanto pela impunidade oferecida através da proteção de políticos e elementos das forças de segurança oficiais, como pelas lutas para controlar as “praças” de exploração do tráfico.
Costuma-se explicar o aumento constante da violência no México pela fragmentação dos carteis, mas, segundo o autor, é impossível compreender este aumento sem se perceber que a fragmentação do Estado permitiu que diferentes grupos de criminosos passassem a desfrutar do apoio de distintos segmentos dos poderes municipal, estadual e federal. Por isso, John Gledhill, de maneira bastante perspicaz, se pergunta sobre a falta de resposta dos diferentes níveis de governo contra a escalada de violência no México. Para ele, esta falta de resposta que tem aumentado os níveis de ataque e destruição de comunidades indígenas, retomaria
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
229
o projeto das elites nacionais e estrangeiras de destruição das propriedades comunais indígenas ocorrido no decorrer do século XIX. Interessante a relação feita pelo autor. De fato, não estaríamos assistindo ao retorno do velho projeto das elites nacionais e transnacionais que hoje em dia cobiçam os recursos existentes nos territórios das comunidades indígenas?
A importância da experiência do movimento zapatista, sua resistência e permanência e, principalmente, suas propostas práticas de autonomia, mesmo analisando suas contradições e problemas, mostra que o movimento zapatista conseguiu se converter em um símbolo global para movimentos antissistema, como também teve um impacto profundo sobre o movimento indígena nacional no México e em outros países. Sua influência estimulou a adoção generalizada de demandas que reivindicavam um ou outro modelo de autonomia indígena, mesmo por parte de grupos ainda empenhados em continuar trabalhando pela via jurídica e institucional (DÍAZ-POLANCO, 2007).
Para concluir, gostaria de ressaltar as múltiplas formas da política autônoma das classes subalternas e os processos de autonomia dos grupos étnicos indígenas, em curso, em algumas regiões da América Latina, suas experiências práticas e suas lutas por reconhecimento político e constitucional. Apesar de todas as dificuldades, diferentes grupos étnicos indígenas que antes se viram forçados a aderir a uma ideia de nação totalmente abstrata e imposta de cima para baixo, hoje trilham um caminho inverso, tentando definir seus espaços de autonomia. Devido à sua importância, temos que discutir, cada vez mais, como os novos movimentos indígenas, que têm surgido em diversas partes de nossa América, constroem e fortalecem o curso das lutas antissistêmicas e nos trazem novas formas de pensar a autonomia, a democracia e a participação política, uma vez que pesquisar os novos movimentos indígenas e suas autonomias nos permitem discutir novas formas de pensar o sistema representativo na sociedade latino-americana atual.
Das utopias ao Autoritarismo
230
Referências Bibliográficas:BURGUETE CAL Y MAYOR, Araceli. Una década de autonomías de facto en Chiapas (1994-2004): los límites. In: DÁVALOS, Pablo (Org.). Pueblos indígenas, Estado y democracia. Buenos Aires: CLACSO, 2005, p. 239-278.
BURGUETE CAL Y MAYOR, Araceli. De organizaciones indígenas a partidos étnicos: nuevas tendencias en las luchas indias en América Latina. Revista LiminaR. Estudios sociales y humanísticos, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ano 5, v. 5, n. 2, p. 144-162, dez. 2007.
BURGUETE CAL Y MAYOR, Araceli.; GONZÁLEZ, Miguel; ORTIZ-T., Pablo (Coords.). La autonomía a debate. Autogobierno indígena y Estado plurinacional en América Latina. Quito: FLACSO, Sede Ecuador: Cooperación Técnica Alemana - GTZ: Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas – IWGIA: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social - CIESAS: Universidad Intercultural de Chiapas - UNICH, 2010.
CERDA GARCÍA, Alejandro. Construyendo autogobierno: repensar la ciudadanía desde la autonomía. In: CERDA GARCÍA, Alejandro. Imaginando zapatismo: multiculturalidad y autonomía indígena en Chiapas desde un municipio autónomo. México: Universidad Autónoma Metropolitana; Miguel Ángel Porrúa, 2011, p. 125-160.
Convenção n° 169 sobre povos indígenas e tribais e Resolução referente à ação da OIT/ Organização Internacional do Trabalho. Brasília: OIT, 2011.
DIARIO OFICIAL de la Federación (México). Decreto por el que se reforma el Artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 28 jan. 1992, p. 5. Disponível em: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_art.htm>. Acesso em: 23 out. 2018.
DÍAZ-POLANCO, Héctor. La rebelión zapatista y la autonomía. México, D.F.: Siglo Veintiuno, 2007.
DÍAZ-POLANCO, Héctor.; SÁNCHEZ, Consuelo. El debate autonómico. In: DÍAZ-POLANCO, Héctor; SÁNCHEZ, Consuelo (Orgs.). México Diverso: el debate por la autonomía. México D.F.: Siglo Veintiuno Editores, 2002, p. X135-XX167.
DIEZ, Juan. Os múltiplos processos de construção da autonomia do movimento zapatista. Ciências Sociais Unisinos, São Leopoldo, v. 48, n. 3, p. 215-224, set./dez. 2012.
EZLN. Sexta Declaración de la Selva Lacandona. 30 de junho de 2005. Disponível em: <http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2005/06/30/sexta-
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
231
declaracion-de-la-selva-lacandona/>. Acesso em: 10 ago. 2018.
GLEDHILL, John. Limites da autonomia e da autodefesa indígena. Experiências mexicanas. Mana, Rio de Janeiro, v. 18, n. 3, p. 449-470, 2012.
HALE, Charles R. Mas que un indio (More than an indian): racial ambivalence and the paradox of neoliberal multiculturalism in Guatemala. Santa Fe, NM: School for Advanced Research Press, 2006.
LÓPEZ Y RIVAS, Gilberto. Autonomías: democracia o contrainsurgencia. México, D.F.: Ediciones Era, 2004.
SÁNCHEZ, Consuelo. Autonomía y pluralismo. Estados plurinacionales y pluriétnicos, In: BURGUETE CAL Y MAYOR, Araceli; GONZÁLEZ, Miguel; ORTIZ-T., Pablo (Coords.). La autonomía a debate. Autogobierno indígena y Estado plurinacional en América Latina. Quito: FLACSO, Sede Ecuador: Cooperación Técnica Alemana - GTZ: Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas – IWGIA: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social - CIESAS: Universidad Intercultural de Chiapas - UNICH, 2010, p. 259-290.
VAN DER HAAR, Gemma. El movimiento zapatista de Chiapas: dimensiones de su lucha. Rural and Indigenous Mobilisation in Latin America, 2005. Disponível em: <http://www.iisg.nl/labouragain/documents/vanderhaar.pdf>. Acesso em: 15 ago. 2018.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
233
Representações e imaginário da cultura política comunista cubana na década de 1950
Ana Paula Cecon Calegari1
IntroduçãoOs comunistas cubanos fundaram em 1925 o Partido
Comunista de Cuba (PCC) que esteve vinculado, desde seus primórdios, com a União Soviética e com a matriz ideológica do bloco comunista. De sua fundação até 1938, o PCC permaneceu na clandestinidade e só conseguiu o registro eleitoral num momento de abertura política dirigida pelo general Fulgencio Batista que, já na década de 1930, comandava o exército cubano e imprimia suas decisões ao poder executivo nacional. O período compreendido entre os anos de 1940 e 1952 corresponde à Segunda República cubana, época de normalidade democrática com a ocorrência de eleições periódicas e liberdade política. Neste contexto, o PCC, que passou a chamar-se Partido Socialista Popular (PSP) em 1944, participou de amplas coalizações, fortaleceu-se internamente com o crescimento do número de seus filiados, definiu mais claramente um projeto político voltado, principalmente, para questões trabalhistas e para a ampliação do poder estatal, inseriu-se em sindicatos e consolidou sua organização interna. O cenário político mudou quando, em 10 de março de 1952, o general Batista deu um golpe de Estado e instalou uma ditadura no país. Ao golpe soma-se o acirramento da Guerra Fria e a perseguição aos comunistas em toda a América Latina, região marcada por relações econômicas e políticas bem próximas aos Estados Unidos e ao capitalismo financeiro.
Este artigo insere-se nas questões colocadas anteriormente e tem como objetivo analisar alguns elementos da cultura política dos comunistas cubanos, filiados ao Partido Socialista Popular, durante
1 Graduada em História na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e mestra pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Atualmente, cursa o doutorado na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e desenvolve uma pesquisa sobre a cultura política comunista em Cuba nas décadas de 1950 e 1960..
Das utopias ao Autoritarismo
234
a década de 1950. A seleção temporal justifica-se pelas mudanças conjunturais daquele decênio, que provocaram alterações nas concepções partidárias, especialmente os impactos do XX Congresso do Partido Comunista da União Soviética (PCUS) em 1956, o fomento dos Estados Unidos à ditadura insular de Fulgencio Batista e o forte anticomunismo que havia dentro de Cuba. O texto divide-se em dois momentos. Inicialmente, apresentaremos alguns referenciais teóricos que balizaram a investigação e, logo após, abordaremos três questões relacionadas à cultura política, quais sejam: as representações das relações de Cuba com os Estados Unidos, a referência à URSS como modelo de sociedade e o processo de desestalinização dentro do PSP. Não é a pretensão do texto fazer uma inserção profunda em tais questões, mas destacar os elementos mais marcantes que influenciaram na trajetória dos comunistas cubanos naquela temporalidade.
O partido é um objeto privilegiado para o estudo da história política por ser uma instituição que tem como função a mediação política entre as necessidades sociais da população e um discurso ou projeto que reúne tais demandas (BERSTEIN, 2003, p. 61). De acordo com Marc Lazar (1999), quanto aos partidos políticos, “seus objetivos, suas referências fundadoras, suas estruturas organizacionais, suas maneiras de conceber e de fazer a política, seus tipos de militantes ou de responsáveis diferem fortemente, o que tem algum vínculo com sua cultura.” Esta passagem é importante devido a ressalva quanto às especificidades sociais, históricas e conjunturais, pois os partidos não funcionam de maneira monolítica, mas, ao contrário, agem de forma dialética e nem sempre seu comportamento apresenta-se ao pesquisador de modo coerente com os ideais políticos defendidos pela agremiação. Também os aspectos locais e nacionais influenciam a configuração dos partidos e sua cultura política, cabendo o pesquisador a atenção quanto aos seus elementos genuínos e aqueles que são compartilhados com outras culturas ou grupos, pois, como salientou Serge Berstein (1998, p. 354), existe, no interior de uma nação, zonas de abrangência onde valores são partilhados por diversas culturas políticas.
Ainda dialogando com Serge Berstein, o autor apontou
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
235
também que os partidos são “depositários de uma cultura política com a qual comungam seus membros e que dá origem a uma tradição, muitas vezes transmitida através de gerações” (2003, p. 69). E, segundo o autor, é através da categoria de cultura política que o pesquisador pode compreender “as motivações que levam os homens a adotar este ou aquele comportamento,” além de ser possível entender as “experiências vividas” (1998, p. 359), individuais ou coletivas, e as motivações dos atos políticos a partir da compreensão dos elementos partilhados por grupos “que reclamaram dos mesmos postulados e viveram as mesmas experiências” (Idem). Deste modo, a validade do conceito para a análise dos partidos reside na preocupação com as questões subjetivas, como a crença em mitos, os rituais, as emoções na tomada de decisão e colocam em questão a influência destes elementos no comportamento político dos homens e mulheres que compõem as organizações.
Conforme a definição de Marc Lazar (1999), a categoria de cultura política
representa um conjunto de ideias, de valores, de símbolos e de crenças e uma multidão diversificada de regras e de práticas que, combinadas, dão um significado ao real, estabelecendo as regras do jogo, formando os comportamentos políticos e conduzindo à inculcação de normas sociais.
Tanto Lazar (1999) quando Rodrigo Patto Sá Motta (2013, p. 18) destacaram que o estudo da categoria passa pela preocupação com as representações criadas pelos grupos humanos (intelectuais, partidos, etc.), as quais inclui a “ideologia, linguagem, memória, imaginário e iconografia, implicando a mobilização de mitos, símbolos, discursos, vocabulários e diversa cultura visual [...].”
Focaremos o estudo em uma cultura política específica, que é a comunista. Corroboramos com Rodrigo Patto Sá Motta (2013, p. 18), para quem
o estudo do comunismo como cultura política pode oferecer compreensão mais rica das motivações para adesão [à causa política], que não se restringiram à
Das utopias ao Autoritarismo
236
identidade ideológica ou à defesa de interesses de classe.
É importante lembrar que para o caso do PSP, sua cultura política esteve relacionada com os valores e projetos formulados na União Soviética, pois o partido nasceu e se manteve vinculado aos pressupostos da Terceira Internacional.2 Consoante com o historiador Geoff Eley (2005, p. 295), as instruções emitidas pelo V Congresso do Comintern, em 1924, eram para formar os PC’s à imagem bolchevique e a “bolchevização” significava o centralismo estrito de organização, o respeito disciplinado pelas diretivas do Comintern e da teoria leninista, enfim, o estabelecimento de uma linha uniforme centrada no modelo russo. Para o estudo do objeto em questão é fundamental também considerar a importância que teve a ascensão de Stalin e o trabalho da Terceira Internacional na difusão de símbolos, ritos, ideologias e representações que emanavam na experiência da Revolução Russa e do governo da União Soviética, cuja hegemonia sobre os partidos comunistas do ocidente foi enorme a partir da década de 1920. Esta influência, porém, não excluiu a presença de aspectos genuínos relativos às especificidades nacionais no corpo documental e na ação política dos cubanos.
Por exemplo, um elemento simbólico bem marcante é o emblema do PSP (imagem 1), formado por um machete e um martelo apoiados sobre um livro, ao invés do uso da foice e do martelo. O machete é a representação do instrumento usado pelos trabalhadores no corte da cana, principal atividade econômica de Cuba, o martelo aludia às atividades industriais desenvolvidas pelos “obreiros”, referência aos trabalhadores industriais, e o livro pode significar tanto o estudo do marxismo, defendido ferrenhamente pela direção partidária como condição fundamental para a militância de seus membros, quanto os textos teóricos que guiavam os comunistas, cuja referência intelectual (Karl Marx, Engels, Lenin e Stalin) era muito mais clara do que aquela que orientava os outros partidos nacionais. Outra característica que marcou fortemente o PSP foi a referência aos
2 O termo refere-se aos vários movimentos comunistas a nível internacional. A partir da Revolução Russa iniciou-se a etapa da Terceira Internacional ou Comintern, cujo objetivo era criar uma União Mundial das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
237
heróis cubanos que lutaram nas guerras de independência do século XIX, como José Martí3 e Antonio Maceo4. Assim como destacou Marc Lazar para o caso do PCF, também o PSP “inventou tradições” quando colocava seus membros como os verdadeiros continuadores da luta pela independência política e econômica da ilha, uma vez que, na concepção do partido, Cuba ainda não havia alcançado sua emancipação por causa da ingerência norte-americana nos interesses insulares. Os comunistas cubanos intitulavam-se como “os verdadeiros mambís”, referindo-se aos lutadores pobres e camponeses que atuaram da Guerra de 18955 e colocavam-se como herdeiros daquele comportamento político que previa a doação pessoal na luta pela emancipação. Podemos afirmar que a referência à história e aos símbolos nacionais eram usados pelo PSP para justificar seu projeto político e tornar os elementos ideológicos de sua cultura política coerentes com a realidade insular. Interesse-nos agora avançar um pouco no debate sobre as questões centrais do artigo para mostrar como as representações mudaram ou foram mantidas de acordo com as alterações conjunturais da década de 1950.
Representações e imaginárioAs representações da história cubana feitas pelos comunistas
fornecem um caminho para a investigação de sua cultura política e há dois elementos que aparecem de maneira predominante dos documentos partidárias: o nacionalismo e o anti-imperialismo. Os
3 Intelectual cubano que organizou o Partido Revolucionário Cubano e invadiu a ilha em 1895 dando início a guerra que levaria a independência do país em relação à metrópole espanhola. As preocupações intelectuais de Martí voltaram-se para a questão da construção da nacionalidade e da independência insular.
4 General do exército libertador de 1895. O PSP recorreu bastante à figura de Maceo por causa do papel que ele desempenhou na libertação da ilha e por ele ser negro, pois a defesa da igualdade racial era um elemento bastante marcante do projeto partidário.
5 A guerra de 1895 durou três anos, opôs das tropas espanholas e os exércitos cubanos e levou à independência da ilha. Nos meses finais do conflito, após o bombardeio de uma navio estadunidense por tropas espanholas, os EUA decidiram enviar seu exército para Cuba a fim apoiar as forças “nacionalistas.”.
Das utopias ao Autoritarismo
238
comunistas cubanos se consideravam os verdadeiros representantes dos interesses da nação e elaboraram seu projeto político sempre apontando para as especificidades nacionais, com ênfase para a desigualdade social e o atraso econômico, além, é claro, de acionarem os “mambís,” as lutas de independência e os heróis da pátria, como dito anteriormente. Já o anti-imperialismo referia-se à negação e denúncia do comportamento político e econômico norte-americano em relação à Cuba e aos países subdesenvolvidos, basicamente, e à condenação da intromissão estadunidense nos assuntos internos insulares, inclusive por causa do apoio às ditaduras cubanas da primeira metade do século XX e às intervenções armadas na ilha.6 Expressões como economia deformada, semicolonial e semifeudal faziam parte do vocabulário socialista popular e eram usadas para justificar o estágio de desenvolvimento econômico insular. Nesta época, o movimento comunista internacional acreditava em etapas do desenvolvimento socioeconômico e na leitura dos cubanos, a ilha vivia um período de inserção no capitalismo, mas ainda possuía traços da colonização espanhola, como a economia agrária dependente do mercado externo. A superação desta etapa era prevista no projeto político do PSP como condição para a industrialização do país e a realização da revolução, pois, como havia previsto Karl Marx, esta só se daria em países industrializados. O PSP também relembrava a Emenda Platt, usando-a para provar que Cuba não havia alcançado verdadeiramente sua independência política e, mesmo após a revogação dela em 1933, as ingerências da embaixada norte-americana orientavam a política interna e externa de Cuba de uma maneira bem profunda.
Os Estados Unidos eram também associados aos grandes capitalistas que exploravam os povos oprimidos da América Latina e quase sempre eram representados como o Tio Sam numa versão esquelética com feição maldosa e ardilosa (imagem 2), normalmente numa posição de ataque, pronto para cometer algum ato de violência ou protegendo seus próprios interesses. A eliminação da dependência ao capital norte-americano e à influência dos EUA sob a ilha era
6 As ocupações militares estadunidenses na ilha estava respaldadas pela citada emenda Platt, que foi anexada à constituição cubana de 1901 e em três ocasiões as tropas norte-americanas ocuparam Cuba: de 1906 a 1909, em 1912 e de 1917 a 1923.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
239
entendida como condição para a realização da revolução em Cuba, pois a independência em relação ao “norte imperialista” abriria caminho para a soberania nacional, a liberdade na tomada de decisões políticas e a ruptura dos vínculos de exploração econômica e subordinação da ilha frente aos EUA. É importante lembrar que o anti-imperialismo fazia parte de outras culturas políticas insulares, especialmente as de esquerda, que recorriam a argumentos semelhantes aos dos comunistas, enfatizando as discrepâncias dos vínculos econômicos entre os dois países.
Na década de 1950, o discurso antiamericano se acentuou na documentação partidária. Os comunistas acusavam os Estados Unidos de sustentar diplomaticamente a ditadura, de apoiar a Confederação dos Trabalhadores Cubanos (CTC) na retirada do direito dos trabalhadores, na contenção das greves e na formulação de acordos prejudiciais para a ilha e, principalmente, de fornecer armas para Batista e disponibilizar a base de Guantánamo para o abastecimentos de aviões que bombardeavam os rebeldes no Movimento 26 de Julho na Sierra Maestra. Na passagem abaixo, observa-se o teor das denúncias feitas pelo PSP:
o imperialismo, que apoiou e colocou Batista no poder, o sustenta com suas armas, claro que fazendo pedacinhos a soberania, a honra e o decoro nacionais. Os cubanos que combatem o despotismo terrorista e sangrento de Batista são atacados por armamentos entregues pelo próprio imperialismo. Não pode se dar mais escandalosa e denunciadora prova de que o imperialismo sustenta o regime e afasta quem se opõe a ele (PSP, 12/6/1957, p. 4)
Para os comunistas, a perpetuação do regime ditatorial era associada à sustentação militar e política fornecida pelos norte-americanos. Este apoio era entendido como uma forma de limitar a soberania insular, pois o povo cubano era contrário ao regime e, consequentemente, apoiá-lo era uma forma de frustrar os anseios nacionais. Podemos afirmar que, ao longo dos anos 1950, com o acirramento da Guerra Fria, o posicionamento da ditadura ao lado dos Estados Unidos e o fomento deste país ao regime insular, o ataque ao imperialismo norte-americano foi acentuado pelos comunistas,
Das utopias ao Autoritarismo
240
que o consideravam como o causador principal dos males nacionais.
Outro elemento marcante na cultura política comunista foi a referência à URSS. A Revolução Russa, de 1917, que modificou a influência das diversas ideologias que coexistiam por aqui e suplantou a influência do anarquismo no meio sindical. O leninismo, diz José Aricó (1987, p. 436), se converteu, na América Latina, na ideologia de todas as forças que surgiram no pós-guerra com objetivos de transformação política e social. A União Soviética, a “pátria do socialismo,” foi uma referência política para todos os partidos comunistas pois era vista como um modelo de sociedade e revolução a ser seguido. Tal modelo, para David Priestland (2012, p. 226), implicava na devoção “ao coletivismo, ao trabalho e à produção, e sua criação – a classe trabalhadora industrial – era agora o herói da história.” Na América Latina, região onde os mais importantes PC’s formaram-se após 1917 e foram fruto dos esforços da Terceira Internacional, a referência à URSS foi um elemento marcante da cultura política comunista.
Alguns dos traços mais comuns da manifestação desta cultura era a publicação de reportagens em comemoração ao aniversário da Revolução Russa, de Stálin e do surgimento da União Soviética (URSS) em 30 de dezembro de 1922. Textos produzidos na URSS e no leste europeu circulavam dentro de Cuba, sejam em edições especiais impressas pela editora Páginas, que pertencia ao PSP, seja junto à revista Fundamentos7 ou ao jornal Notícias de Hoy.8 Os comunistas cubanos defendiam os avanços sociais e econômicos do bloco socialista e também o estabelecimento de relações econômicas entre Cuba e os soviéticos alegando a validade financeira do rompimento da cortina de ferro. A União Soviética era representada como o país da liberdade e da abundância, da paz e do socialismo. Em 1952, Aníbal Escalante, diretor de jornal Notícias de Hoy, e Blas Roca, secretário
7 Revista mensal de artigos teóricos com interpretações dos marxistas sobre a conjuntura, a história e os problemas nacionais. Fundamentos foi lançada em 1941 e saiu, com periodicidade irregular na época da ditadura de Batista, até 1959.
8 Notícias de Hoy surgiu em 1938, sua sede foi destruída em 1949 e a edição do periódico foi interrompida por um ano. Hoy voltou a ser publicado entre 1950 e 1953, quando, neste ano, a ditadura fechou o jornal, que só voltou a circular após a vitória rebelde de 1959.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
241
geral do PSP, participaram do XIX Congresso do Partido Comunista da URSS e após o retorno à ilha, depois de dois meses de estadia no mundo socialista, publicaram no citado jornal inúmeras reportagens sobre o que consideravam como as maravilhas do comunismo. No editorial do 7 de dezembro de 1952, Escalante narrou a experiência da viagem apontando a evolução do cenário social, a “sensação de novo, de grandeza, de gloria e felicidade, de incomovível segurança e fortaleza” que se vivia na União Soviética, escreveu ele:
Eu estive ali em 1937, quando já a vida se fazia muito mais fácil, quando haviam apagado os rastros da primeira guerra imperialista, da guerra civil e da agressão de 14 potências contra o nascente poder do proletariado. Hoje, porém, o progresso enorme de 1937 parece um sonho remoto. Hoje a vida floresce esplendorosamente no país de Stálin (Escalante, 7/12/1952, p. 8)
Aníbal Escalante continuou a coluna abordando a superação do mundo socialista após a devastação da Segunda Guerra, pois era visível, na perspectiva dele, a abundância reinante e o avanço da economia naquela região. A União Soviética representava para os PC’s uma dimensão teleológica de sua doutrina, pois a finalidade para a qual tais partidos foram criados era a realização de uma revolução que provocaria o fim das classes sociais, a redistribuição dos meios de produção na fase socialista e a implantação do comunismo. Recorrer ao exemplo da URSS fazia parte deste imaginário que tinha imbuído em si uma perspectiva de futuro bem definida e inevitável, pois a crença na teoria marxista-leninista-estalinista implicava a convicção na infalibilidade do fim do capitalismo e no protagonismo dos trabalhadores na construção do novo mundo comunista, cujo exemplo da Revolução Russa era vanguarda a ser seguida.
As representações feitas pelo PSP podem ser equiparadas àquelas observadas por Jorge Ferreira para o caso brasileiro. Para o autor (2002, p. 195/98), a URSS era o sonho daqueles que queriam construir uma nova sociedade, era representada por meio de seus grandiosos monumentos arquitetônicos, pelos números de seu crescimento econômico, pela rapidez em que as cidades devastadas pela guerra civil foram reconstruídas e pela industrialização acelerada,
Das utopias ao Autoritarismo
242
enfim, a URSS era o local da utopia realizada.
Na ocasião dos 41 anos de existência da União Soviética, em 1958, os comunistas cubanos publicaram uma reportagem com informações relativas ao crescimento industrial daquela região, comparando ora com o cenário produtivo anterior à revolução, ora com a produção dos EUA. Os dados econômicos serviam para justificar o bem estar social desfrutado pela população, como a ausência de crises cíclicas, a educação e a assistência médica gratuitas, os baixos preços dos alugueis e dos artigos de consumo, o controle da inflação, o crescimento do consumo per capita de alimentos, móveis, roupas e calçados. Além disso, a União Soviética era vista como um exemplo de democracia, local onde não havia violação do domicílio e de correspondência, onde havia liberdade de imprensa, reunião e desfiles, e a possibilidade de revogar o mandato dos representantes que não cumprissem seus deveres. Por todos estes avanços, era comum exaltar e saudar os líderes e o exemplo soviético, como se vê na passagem:
Por todo seu grandioso significado, pela demonstração que entranha da invencível superioridade do socialismo, a humanidade toda saúda a URSS em 41° aniversário. Os obreiros e camponeses de nossa pátria, o melhor de nosso povo, em meio ao combate que livra por sua própria democracia e contra a opressão estrangeira, se soma a esta saudação emocionada e universal (PSP, 5/11/1958, p. 5)
Ao lado da referência à URSS estava a exaltação de Josef Stalin como o guia espiritual da humanidade e como a incorporação dos valores e do ideário da Revolução Russa, sendo este outro elemento bem marcante da cultura política comunista. No editorial da revista Fundamentos de novembro de 1944 consta o seguinte: “Stalin representa hoje o poder de uma nação unida, sem antagonismos políticos, sem divisões de classes, sem disputas raciais ou religiosas. Por esta situação extraordinária, quase se pode dizer, quando fala Stalin, que fala a União Soviética” (PSP, 11/1944, p. 395). A exaltação à URSS e à Stalin caminhou em paralelo e esteve vinculada por algumas décadas no imaginário comunista. Stalin tornou-se secretário geral do PCUS em 1922 e a influência de seu pensamento no movimento comunista
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
243
internacional foi predominante entre as décadas de 1930 e 1950.
Em fevereiro de 1950 foi publicado em Fundamentos um texto de Blas Roca intitulado “A honra de ser estalinista,” uma homenagem pela comemoração dos 70 anos de idade do líder russo. No texto, Stalin é apresentado como o responsável pela libertação do mundo do exército nazista, pela vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial e como o paladino da paz. Além disso, suas qualidades pareciam inesgotáveis e representavam os ideais do verdadeiro homem novo comunista. Na passagem abaixo consta a exaltação àquela figura:
Nós vemos em Stalin ao líder valoroso e genial da classe obreira, ao sábio maestro, ao guia sagaz e firme em cuja palavra sempre podemos confiar, em cuja orientação podemos encontrar sempre a via segura da luta e do triunfo. Nós estamos orgulhosos de que nossa classe, a classe obreira; de que nossa causa, a causa do socialismo, tenha produzido um líder assim, tão abnegado, tão firme, tão valente, tão honrado, tão sábio, tão previsor, tão audaz e cauteloso ao mesmo tempo, tão flexível na tática e tão intransigente com os princípios, como Stálin; um líder que, irmão de armas de Lenin, ao que ele mesmo chamou “a águia das montanhas” e de quem foi o colaborador mais próximo, pode ser chamado com razão o Lenin de hoje (Roca, 2/1950, p. 104)
De acordo com Robert Mcneal (1986, p. 268/70), a ideia de que “Stalin era Lenin de hoje” foi uma das formulações mais repetidas dentro do campo socialista. Ainda segundo o autor, a partir da morte de Lenin, em 1924, iniciou-se um processo de culto a este líder bolchevique, incluindo a mumificação e exposição de seu corpo no mausoléu localizado, ainda hoje, na praça vermelha, em Moscou. Josef Stalin canalizou o culto à Lenin, colocando-se como o seu maior e legítimo herdeiro. A primeira manifestação pública de celebração à Stalin, segundo Jorge Ferreira (2002, p 220), aconteceu na comemoração de seu 50° aniversário, em 1929, e o culto a ele desenvolvido a partir de então foi estimulado pelo PC da URSS. O pravda, jornal do PCUS, publicou quase que diariamente, na década de 1930, homenagens ao líder, ajudando a construir a imagem de Stalin como o “amigo das crianças,” o “pai dos povos” e o “guia dos
Das utopias ao Autoritarismo
244
proletários” (Idem, p. 221).
Diversos textos de Josef Stalin foram publicados também em jornais e revistas do Partido Socialista Popular e vinham acompanhados de comentários sobre as qualidades do líder. Era comum também a comemoração feita pelo partido na data do aniversário de Stálin, saudando-o por seus feitos históricos e desejando-o vida longa. Este processo de culto pode ser percebido já no começo da década de 1940, quando neste ano noticiou-se pela primeira vez a celebração do natalício do líder soviético na primeira página de Notícias de Hoy. Quando retornou da viagem feita na ocasião do XIX Congresso do PCUS, Aníbal Escalante, ao ser inquirido sobre Stalin, não poupou elogios e respondeu o seguinte:
Stalin, o grande guia, o chefe da humanidade, o homem da paz e da independência dos povos, o teórico e o prático da causa do proletariado e dos camponeses, o homem mais temido pelos bandidos imperialistas e o mais amado pelas massas de todos os confins, o grande Stalin está muito bem de saúde, forte, animoso, abrindo todos os dias caminhos para o progresso da ciência marxista-leninista, a ciência da construção do mundo novo, a ciência da salvação da humanidade, como o demonstra sua formidável obra “Problemas do socialismo na União Soviética” (que cimenta as bases teóricas da passagem gradual da sociedade socialista à comunista) e seu genial discurso de apenas dez minutos, que abriu novas perspectivas à humanidade na luta pela democracia, a independência nacional e a paz. (Escalante, 7/12/52, p. 8)
Na ocasião do falecimento de Stalin, o jornal, durante dias, lamentou o acontecido. Na edição de 6 de março de 1953, na coluna “notas do diretor,” novamente Aníbal Escalante escreveu que Stalin era imortal, pois o seu legado não morreria, assim como o leninismo continuou guiando os comunistas mesmo depois do falecimento de Lenin (PSP, 6/3/53, p. 6). Ambos os líderes entraram para o panteão dos heróis comunistas e continuariam guiando os povos de todo o mundo com a teoria e o exemplo que deram em vida (imagem 3). Naquela ocasião ainda, o PSP enviou mensagens de condolências ao PCUS e organizou homenagens póstumas à Stalin celebradas em
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
245
reuniões do partido. As referências à Stalin e ao seu exemplo não se restringiram ao campo das ideias e tiveram, inclusive, desdobramentos na forma como os PC’s se organizaram internamente. De acordo com Geoff Eley (2005, p. 297), o arranjo organizativo que predominou na época estalinista implicava na tomada burocrática de decisões dentro dos partidos, na redução da democracia interna partidária, na conformidade acrítica à linha da URSS e obediência à Moscou, sendo que todos estes foram características percebidas na trajetória do PSP.
O apego aos referenciais soviéticos, que se apresentaram muitas vezes como um culto, uma crença, não pode ser explicado levando em conta que os homens tomam somente decisões racionais. Rodrigo Patto Sá Motta (2013, p. 17) chamou a atenção para o fato de que quando os homens tomam decisões há diversas opções que orientam suas ações, “e os fatores culturais (sentimentos, identidade, valores) podem exercer maior ou menor influência, a depender do contexto e das escolhas dos atores.” Nesta mesma perspectiva, David Priestland no decorrer do capítulo “Homens de Aço,” contido no livro “A bandeira vermelha,” deu alguns exemplos do envolvimento dos russos na “missão messiânica” lançada pela Revolução de 1917 e defendeu que nem sempre a adesão ao regime e ao bolchevismo era motivada pela obrigação ou pela força. O autor considerou fatores como a cultura, a crença naquele modelo e a perspectiva de um futuro melhor como motivadores do comportamento daqueles homens. Em suma, os fatores ideológicos, a vinculação a um corpo teórico, a um círculo de relações políticas influenciaram na forma como os comunistas representaram os referenciais de sua cultura e sem esta perspectiva dificilmente entende-se os motivos para a adesão ao comunismo e a constituição dos elementos daquela cultura política.
O abandono da referência à Stalin só aconteceu em fevereiro de 1956, quando os crimes e as arbitrariedades políticas cometidos por ele foram denunciados por Nikita Kruschev no XX Congresso do PCUS. No evento, conforme David Priestland (2012, p. 389), aconteceu uma reunião “secreta” composta somente por membros do PCUS e nela Kruschev destacou a responsabilidade de Stalin pela tortura e morte de “comunistas honestos e inocentes”, pela
Das utopias ao Autoritarismo
246
deportação de uma grande quantidade de pessoas e pela traição dos princípios leninistas. O processo de desestalização, isto é, o abandono da referência ao líder como o grande exemplo a ser seguido pelos comunistas foi lento e com pouca reflexão dentro do Partido Socialista Popular, ao menos segundo os documentos públicos veiculados pelo PSP na época. As informações que chegavam à ilha vinham das agências norte-americanas de informação e o partido questionou inicialmente a veracidade dos primeiros relatos procedentes do norte. Somente depois de alguns meses após o fim do Congresso foi que os cubanos tiveram acesso ao informe de Kruschev na íntegra. Só então admitiram os eventos que ocorreram na URSS reconhecendo que Stalin havia cometido um erro ao estimular o culto à personalidade, mas não admitiram ou, pelo menos, não publicaram nada sobre os crimes cometidos por ele. No exceto abaixo aparece a posição do PSP diante daquela conjuntura:
As agências imperialistas apresentam os comunistas daqui, confundidos e sem saber o que fazer ante o que chama de ‘o caso Stalin.’ [...] A verdade é que o relevante papel de Stalin na história não poderá ser apagado por ninguém, o que não impede que seja necessário – como fez o congresso do PC da URSS – criticar para corrigir os erros que teve sua obra. (PSP, 28/3/1956, p. 1).
Ainda no calor dos acontecimentos, o bureau executivo do Comitê Central do PSP se reuniu em abril daquele ano para adotar medidas concernentes aos recentes eventos. Das resoluções da reunião ficou decidido manifestar o acordo do partido às críticas feitas à Stalin, por corresponderem à violação do princípio leninista de direção coletiva e porque a postura de Stalin havia causado danos à causa comunista. Decidiram também publicar cinco mil exemplares do informe de Kruschev, bem como refletir, em outros momentos, sobre a crítica e autocrítica feita no XX Congresso (PSP, 11/4/1956, p. 1). Como destacou Jorge Ferreira (2002, p. 291), “[...] as mensagens vindas de Moscou abalavam certezas, desestabilizavam crenças e alteravam relatos míticos.” E o resultado desta assertiva de Ferreira foi o desaparecimento progressivo do nome de Stalin na documentação do PSP, bem como a referência aos seus feitos e méritos, tão comuns
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
247
antes do XX Congresso. Na reportagem sobre o 41° aniversário da URSS, citada anteriormente, consta nome de Lenin, Marx e Engels, mas a referência à Stalin já havia desaparecido.
Ainda em abril de 1956, o PSP publicou um folheto com um texto retirado do jornal pravda, intitulado “Por que o culto à personalidade é alheio ao espírito do marxismo-leninismo?”. O conteúdo do documento era uma sistematização daquele assunto tão recorrente no mundo soviético e, apesar de louvar alguns méritos de Stalin, reconhecia o erro do líder ao estimular o culto à sua pessoa. O discurso defendido pelo partido era uma repetição das críticas já feitas dentro da URSS, de que o culto à personalidade era oposto à ideia de direção coletiva e do centralismo democrático.
Segundo Franz Marek (1987, p. 311), um dos efeitos deste processo de desestalinização, conhecido também como degelo, foi o desenvolvimento, no ocidente, do chamado “renascimento do marxismo,” marcado pela remoção de alguns traços do período estalinista, especialmente o conteúdo daquilo que se conhecia como “marxismo-leninismo,” pela recuperação e releitura de textos de Karl Marx, assim como pela reaproximação e descoberta dos trabalhos de Gramsci, Rosa Luxemburgo, Lucaks e da Escola de Frankfurt. Ao curso destes acontecimentos, no decorrer dos anos 1960, acrescenta-se o fortalecimento do terceiro-mundismo, a nova relação da Igreja Católica com os movimentos sociais após o Concílio Vaticano II, as guerras de independência na descolonização afro-asiática e os conflitos armados, muitos dos quais inspirados na Revolução Cubana, evento que provocou ainda mais alterações na cultura política comunista insular e novamente a mutação e imutabilidade mostrará os artifícios políticos do PSP para sobreviver em meio a um processo que transformou profundamente a ilha.
Considerações finaisPela análise da documentação partidária, notamos as
transformações e o enraizamento de ideias e comportamentos na cultura política dos comunistas cubanos, bem como sua transformação
Das utopias ao Autoritarismo
248
de acordo com as mudanças conjunturais. Quando observamos as representações feitas sobre os Estados Unidos, fica claro a acentuação das denúncias contra a ingerência norte-americana na política insular nos anos 1950, contra o sufocamento econômico da ilha, cuja culpa era atribuída aos EUA, e o fomento da ditadura devido ao apoio diplomático e fornecimento de armas. Elemento antigo da literatura partidária, o anti-imperialismo era visto como o principal entrave do desenvolvimento insular, causa da frustação da independência de Cuba e consequente limitação de sua soberania, a qual estava ainda mais comprometida num contexto em que Batista se aliou ainda mais aos norte-americanos.
A referência à União Soviética se manteve como o norte político dos cubanos. A “pátria do socialismo” significava uma dimensão teleológica dos PC’s e alcançar a revolução e o estágio de desenvolvimento social dos soviéticos era o objetivo para o qual foram criados. Por isso, acreditamos que perenidade das referências à URSS se justifica por ela estar no cerne da cultura política comunista ocidental e pelos partidos terem se subordinado à Internacional Comunista, de modo que este elemento, especificamente, estava profundamente enraizado na cultura comunista. Uma forma de observar isso é avaliar o abandono da referência à Josef Stalin a partir de 1956 quando, após o XX Congresso do PCUS, foi determinado dentro da Rússia o abandono do culto ao líder. O Partido Socialista Popular, obedecendo as diretrizes vindas de seu campo de influência, seguiu as ordens emanadas do bloco socialista e abandonou a referência e o culto dedicado à Stalin já há duas décadas.
Como falamos, a cultura política deve ser analisada a partir de uma dialética que imprime a ela transformações constantes, mas não se pode esquecer que ela guarda elementos mais perenes, de difícil transformação. Tanto Marc Lazar (1999) quanto Serge Berstein (1998, p. 357) destacaram o caráter mutável ou adaptável da cultura política como ações imprescindíveis para que ela não decline ou desapareça. O comportamento do PSP em relação às questões analisadas mostrou o quão adaptável foi o partido no que tange ao abandono das referências à Stalin, mas também imutável quanto à vinculação e o culto à URSS
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
249
e ao anti-imperialismo. Estas opções políticas comprova, em nossa perspectiva, o caráter maleável do comportamento dos comunistas e acreditamos que esta é uma das razões para a longevidade da instituição que existiu durante quase quatro décadas na história insular.
Referências:
Fontes:ESCALANTE, Aníbal. Notas del director: Stalin. In: Partido Socialista Popular. Notícias de Hoy, ano XVI, número 54, 5 de março de 1953.
ESCALANTE, Aníbal. Notas del director: Regreso y esbozo. In: Partido Socialista Popular. Notícias de Hoy, ano XV, número 291, 7 de dezembro de 1952.
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR. 41 años de socialismo victorioso. Carta Semanal. Época 2°, número 273, 5 de novembro de 1958.
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR. Comunicado del PSP. Sobre el CC Congreso del PC de la URSS. Carta semanal, Época 2ª, número 139, 11 de abril de 1956.
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR. Editorial: Stalin. Revista Fundamentos, ano IV, número 39, novembro de 1944.
PARTIDO SOCIALISTA POPULAR. La bancarrota de los imperialistas y sus mentiras antisoviética. Carta semanal, Época 2ª, número 137, 28 de março de 1956.
ROCA, Blas. El honor de ser stalinistas. Revista Fundamentos, ano X, número 95, fevereiro de 1950.
Referências bibliográficas
ARICÓ, José. O marxismo latino-americano nos anos da Terceira Internacional. In: HOBSBAWM, Eric (Org.). História do marxismo; o marxismo na época da Terceira Internacional: o novo capitalismo, o imperialismo, o terceiro mundo. Volume VI. Tradução de Carlos Nelson Coutinho, Luiz Sérgio N. Henriques e Amélia Rosa Coutinho. — Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987, p. 419-459.
BERSTEIN, Serge. A cultura política. In: Rioux & Sirinelli (Org.). Para uma história cultural. Lisboa: Estampa, 1998.
Das utopias ao Autoritarismo
250
BERSTEIN, Serge. Os partidos. In: Rémond, René (Org.). Por uma história política. Tradução Dora Rocha. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003.
ELEY, Geoff. Forjando a democracia: a história da esquerda na Europa, 1850-2000. São Paulo: Editora Fundação Perseu Abramo, 2005.
FERREIRA, Jorge. Prisioneiros do mito: cultura e imaginário político dos comunistas no Brasil (1930-1956). Niterói: EdUFF; Rio de Janeiro: Mauad, 2002.
LAZAR, Marc. Fort et fragile, immutable et changeante… la culture politique communiste. In: BERSTEIN, Serge. Les cultures politiques en France. Paris: Seuil, 1999. [Texto traduzido].
MAREK, Franz. A desagregação do estalinismo. In: BADALONI, Nicola et. al. História do marxismo. O marxismo na época da terceira internacional: de Gramsci à crise do estalinismo. Volume 10. Tradução de Carlos Nelson Coutinho e Luiz Sérgio N. Henriques. Rio de Janeiro: Terra e Paz, 1987, p. 307-319.
MCNEAL, Robert. As instituições da Rússia de Stálin. In: HEGEDUS, András et. al. História do marxismo. O marxismo na época da terceira internacional: a URSS, da construção do socialismo ao estalinismo. Volume 7. Tradução de Carlos Nelson Coutinho e Luiz Sérgio N. Henriques. Rio de Janeiro: Terra e Paz, 1986, p. 241-272.
MOTTA, Rodrigo Patto Sá. A cultura política comunista: alguns apontamentos. In: NAPOLITANO, Marcos; CZAJKA, Rodrigo; MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Comunistas brasileiros: cultura política e produção cultural. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2013, p. 16-36.
PRIESTLAND, David. A bandeira vermelha: uma história do comunismo. Tradução Luis Gil Reyes. São Paulo: Leya, 2012.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
251
“Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la Universidad”: relações entre
o movimento estudantil e a Nueva Canción no Chile entre 1964 e 1973
Ulisses Malheiros Ramos1
IntroduçãoA Nueva Canción chilena foi um movimento musical
que surgiu durante a década de 1960, com uma produção predominantemente relacionada às críticas sociais e à valorização da cultura e elementos populares, sobretudo para a idealização de uma identidade nacional, além da elevação das classes populares como protagonistas das lutas políticas do país. Pretendemos demonstrar algumas relações existentes entre esse movimento e a juventude chilena que vivenciou as efervescências dos eventos ocorridos na década de 1960, que consolidaram a juventude no campo das discussões políticas. Nosso recorte é compreendido entre os anos de 1964 e 1973, período em que a Nueva Canción chilena se formou e obteve destaque e, também, em que ocorreram episódios relevantes ligados a participação da juventude universitária. Neste recorte temporal, dois governantes exerceram a presidência no Chile: Eduardo Frei Montalva, do Partido Democrata Cristiano (PDC), entre 1964 e 1970; e Salvador Allende, da Unidad Popular (UP), entre 1970 e 1973. Ambos os governos viveram os desdobramentos da Guerra Fria, um conflito ideológico que influenciou de diferentes formas as conjunturas internas dos países latino-americanos.
Pretendemos demonstrar como se configurou a relação existente entre os desdobramentos das manifestações estudantis e a formação e atuação do movimento da Nueva Canción no cenário político do país, além de identificar como a atuação dos estudantes foi representada pelo movimento da Nueva Canción em relação à
1 Mestrando pelo programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo.
Das utopias ao Autoritarismo
252
construção do Estado Popular planejado pelo governo Allende.
O contexto chileno entre 1964 e 1970: entre eventos políticos e a inserção do movimento estudantil.
A Revolução Cubana foi um dos eventos mais marcantes da conjuntura política latino-americana da Guerra Fria. A Revolução ocorrida em 1959 e sua declaração como socialista em 1961 causou uma série de reações na América Latina, sobretudo sobre as possibilidades de novas revoluções ou a consolidação de governos de esquerda. Em vista disto, os Estados Unidos, que antes de fins dos anos 1950 não acreditavam em uma real ameaça comunista na América Latina, recrudesceram suas relações com os países latino-americanos. Houve, por exemplo, a criação da Aliança Para o Progresso, que consistia no estabelecimento de uma cooperação entre o país norte-americano e os países latino-americanos, com o intuito de contornar os obstáculos econômicos e desenvolver políticas para a resolução de problemas sociais, a exemplo da Reforma Agrária, com o intuito de evitar a organização de sublevações como a de Cuba e a proliferação do ideário comunista (YOCELEVZKY, 1987, p. 117). Porém, não houve uma aceitação pacífica em relação ao programa. A esquerda, por exemplo, considerava a Aliança um instrumento do imperialismo norte-americano sobre a América Latina; enquanto os setores que geralmente apoiavam as relações com os Estados Unidos não concordavam com a realização de todas as reformas sociais propostas pela Aliança. O Chile, por exemplo, foi um dos países que participou, entretanto, o presidente Eduardo Frei, depois de alguns anos, pela falta de resultados que ocorreu em seu governo, afirmou sua decepção com o plano, escrevendo, inclusive, o artigo “A aliança que perdeu seu rumo” (LACERDA, 2004, p. 130).
Entre as décadas de 1950 e 1960, a América Latina passou, também, por mudanças socioeconômicas, não somente em decorrência dos desdobramentos da Guerra Fria, mas também devido a fatores como o avanço tecnológico e o crescimento populacional urbano. O cenário foi propício para a proliferação de uma cultura
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
253
desterritorializada2 através dos meios de comunicação de massa, fato que gerou um processo de suplantação de alguns aspectos culturais nacionais (GARCIA, 2005, p. 16-17). A historiadora Tânia Garcia coloca que, no âmbito cultural, este processo de suplantação pode ser denominado como “aculturação”, ao mencionar que estas mudanças,
impostas de fora para dentro, provocaram manifestações reativas na sociedade. Para determinados setores, sobretudo aqueles ligados às artes de espetáculo – música, cinema e teatro –, a maneira encontrada de se contrapor à onda asfixiante de aculturação seria realçando a identidade nacional (GARCIA, 2005, p. 17).
É importante destacar, portanto, que neste contexto os diferentes campos, a exemplo do político e da cultura, estiveram envolvidos e possuíam correlações. O Chile foi um dos países que assinaram os acordos da Aliança. Neste caso, é importante ressaltar que o país possuía problemas sociais graves, relacionados à participação da população nas tomadas de decisão do Estado e pelas condições de vida precárias de uma significativa parcela da população em relação a uma minoria abastada (AGGIO, 1993, p. 17). Os índices ligados à inclusão social aumentaram gradativamente entre as décadas de 1960 e 1970, entre o Governo Frei e o Governo Allende.
Em meio a este contexto, a Democracia Cristã levou às eleições o candidato Eduardo Frei, propondo uma terceira via entre o capitalismo e o socialismo, denominada “Revolução em Liberdade”, com um plano de governo essencialmente voltado à realização de reformas, visando, inclusive, a integração das camadas populares – com respaldo nos acordos da Aliança Para o Progresso, que marcaram as relações deste governo com financiamento norte-americano (YOCELEVZKY, 1987, p. 135). Mas as reformas, em sua completude, não obtiveram os êxitos planejados, a exemplo da Reforma Agrária – no campo – e do programa de construção de moradias populares –
2 Este termo consiste em criações oriundas da cultura de algum local específico e que, devido à difusão em larga escala através dos meios de comunicação, se tornaram produtos e adquiriram um caráter desterritorializado, uma vez que passaram a ser consumidas em várias partes do mundo, sendo afastadas de seu local de origem e afetando a valorização da cultura genuína de outras regiões.
Das utopias ao Autoritarismo
254
na cidade –, visto que ambas foram obstruídas durante sua execução, tendo dentre os fatores para tal decisão a insatisfação de parte da elite que era aliada ao governo e se posicionou contrária a algumas medidas (YOCELEVZKY, 1987, p. 117). No entanto, houve alguns avanços no que diz respeito às lutas populares, a exemplo dos camponeses, que puderam regulamentar suas organizações a partir de uma lei promulgada durante o governo de Frei, que possibilitou, também, a legalização de sindicatos de trabalhadores urbanos e mineiros (GOMEZ, 1985, p. 15).
Para as eleições de 1970, a Unidad Popular, uma coalizão de partidos resultante da união da esquerda chilena, venceu as eleições com seu representante, Salvador Allende. Seu plano de governo tinha como meta a construção, por meio das decisões democráticas, de um Chile socialista, evento peculiar que ficou conhecido como a “via pacífica ao socialismo”, haja vista a escolha por uma via não armada. Seu Governo possuía como prioridades: “a) a nacionalização das riquezas básicas e estatização de parte dos meios de produção; b) organização de um sistema de participação dos trabalhadores; e c) estabelecimento de uma nova ordem institucional – o Estado Popular” (BORGES, 2013, p. 86).
Seu governo foi marcado pela tentativa de realizar estas medidas, e obteve alguns êxitos, porém, também houve a formação de uma forte oposição, que usou de uma série de paralisações e boicotes, inclusive com suporte estadunidense (MAGASICH-AIROLA, 2013, p. 44). A própria esquerda chilena, diante das reações da oposição, obteve divergências em relação aos caminhos da “via chilena”, com uma parcela da esquerda enxergando a via armada como um caminho eficaz diante daquela conjuntura, opção esta que foi repudiada por Salvador Allende (AGGIO, 1993, p. 143). As hostilidades ganharam proporção e obtiveram seu estopim em 11 de setembro de 1973, quando ocorreu o golpe que instaurou uma ditadura no Chile.
Os grupos da esquerda latino-americana da época tinham, segundo Claúdia Gilman, que desenvolveu obras sobre o ideário dos anos sessenta, a percepção “generalizada de uma transformação inevitável e desejada do universo das instituições, da subjetividade,
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
255
da arte e da cultura, percepção sob a qual eventos verdadeiramente inaugurais foram interpretados” (GILMAN, 2003, p. 40), a exemplo da Revolução Cubana. Gilman coloca, ainda – inspirada por Albert Hirschman para traçar um comportamento coletivo – que houve um interesse repentino e intenso pelos assuntos políticos em diferentes instâncias da sociedade (GILMAN, 2003). Os estudantes latino-americanos, por exemplo, foram envolvidos por essas reações e realizaram manifestações a partir de seus espaços, que, inicialmente, eram as universidades. No Chile, por exemplo, desde 1964, pelo menos, “muitas das chamadas Juventudes Políticas chilenas começaram a manifestar explicitamente sua adesão a novos modelos ideológicos e de ação política” (SAAVEDRA, 2005, p. 4). Os modelos das Universidades chilenas, no entanto, não condiziam com os anseios advindos destas transformações. A participação dos estudantes era mínima nas tomadas de decisão, que ficavam a cargo das autoridades universitárias. Não obstante, as mudanças vieram a ocorrer com vigor em 1968, quando ocorreu uma Reforma Universitária no país. O cientista político Carlos Huneeus, que realizou uma análise da Reforma de 1968, sintetiza a mudança de rumo afirmando que:
ela modificou de maneira substancial o conteúdo e as orientações das funções universitárias, estabeleceu uma nova estrutura de autoridade e poder que permitiu a participação da comunidade universitária no governo das universidades e se esforçou por buscar uma melhor inserção destes esforços para conquistar o desenvolvimento e a modernização do país (HUNEEUS, 1988, p.8).
A questão é que a juventude passava por um período importante de mudanças, em relação ao contexto chileno, de comportamento diante da conjuntura do país. Certamente, ao perpassarmos por 1968, não podemos deixar de ressaltar a relevância da efervescência internacional que deixou este ano emblemático em vários aspectos relacionados à juventude, que sofreu a influência de fatídicos eventos internacionais como: o Massacre de Tlatelolco, sobre os estudantes mexicanos; a repercussão da morte de Che Guevara, assim como da Guerra do Vietnã; além dos desdobramentos dos movimentos ocorridos na França e do aumento de debates sobre
Das utopias ao Autoritarismo
256
questões raciais, de gênero e sexualidade. A geração desta década, de uma maneira mais generalista, vivenciou mudanças que foram, por vezes, marcadas por rupturas no âmbito dos padrões de sociabilidade e de estética (SAAVEDRA, 2005, p. 4).
Carlos Hunneus afirma que o contexto chileno de estabilidade democrática possibilitou maior êxito nos anseios da juventude em tornarem sua participação mais efetiva (HUNNEUS, 1988, p. 29). Diferentes autores que publicaram obras sobre a História Política Chilena da primeira década do século XX, estendendo até o fim do Governo Allende, fazem referências ao histórico institucional chileno de estabilidade política, visto que desde os anos 1930 os presidentes foram todos eleitos e cumpriram seus mandatos sem interrupções reconhecidas como ilegais, além de destacarem possíveis conquistas sociais e políticas das diferentes classes da sociedade por meios democráticos. O historiador Alberto Aggio, por exemplo, ao analisar as circunstâncias históricas que levaram a Unidad Popular ao poder com um plano socialista de governo, destaca que:
contrastando com os modelos anteriores de construção do socialismo, o discurso que sustentava o projeto estratégico do governo encabeçado por Salvador Allende, sempre explicitado na fala do presidente, enfatizava a ideia de que o desenvolvimento econômico, a estrutura institucional, a organização social e sobretudo as condições políticas do Chile permitiam a adoção de ‘um segundo caminho para o socialismo’, ‘dentro dos marcos do sufrágio, em democracia, pluralismo e liberdade’(AGGIO, 1993. p. 16).
Esta estabilidade condicionou a Unidad Popular a lançar um candidato e disputar as eleições, ainda que seu plano fosse a edificação de um Estado socialista. Todavia, depois de eleito, vivenciando as crises oriundas de diferentes fatores, sobretudo aqueles advindos dos boicotes da oposição, Salvador Allende viu a esquerda aliada ao governo dividir suas opiniões sobre os rumos da via chilena ao socialismo. Pinto Vallejos (2005), em seu texto “Hacer la revolución en Chile”, dispõe os partidos da esquerda chilena que protagonizaram esse debate como “gradualistas” e “rupturistas”.
Vallejos destacou que todos os partidos de esquerda
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
257
possuíam o marxismo como essência e o plano de construir um Estado Socialista e anti-imperialista, porém com visões diferentes em relação à trajetória até a conquista política do poder. Os gradualistas podem ser representados pelos partidos que defendiam a via não armada, imbuídos pela tradição política chilena, enquanto os rupturistas podem ser representados pelos partidos que defendiam a via armada (VALLEJOS, 2005, p. 13-15). O Partido Comunista, junto a uma parcela do Partido Socialista e do Movimento de Ação Política Unitária não defendiam a via armada, mas acreditavam na chegada gradual ao socialismo, realizando, primeiramente, algumas reformas necessárias, acreditando que o sistema chileno possibilitava este caminho. Por outro lado, o Partido Socialista, com a maioria de seus adeptos, e a maioria dos adeptos do MAPU (Movimento de Ação Política Unitária), além da Izquierda Cristiana e do Movimiento de Izquierda Revolucionário, inspirados pelos acontecimentos de Cuba, acreditavam na revolução armada como meio para a edificação de um Estado Popular, pois, segundo sua concepção, seria uma forma de evitar que a oposição se organizasse por meio de boicotes, por deterem os meios de produção, ou por golpe civil-militar (ROLLE, 2005, p. 2).
O Movimento da Nueva Canción Chilena e a atuação da juventude.
O movimento da Nueva Canción Chilena se formou em meio a este contexto, no entanto, obteve diferentes fases, as quais procuramos organizar através de alguns eventos em sua trajetória que marcaram sua construção enquanto movimento de canção engajada – desde os trabalhos precursores ao auge de sua repercussão.
A musicista folclorista Violeta Parra – de origem camponesa, vinda do sul do Chile para Santiago na juventude – ainda na década de 1950 fez viagens pelo interior do Chile com a finalidade de recompilar os ritmos folclóricos do país, incluindo a recuperação de instrumentos típicos. Entretanto, Violeta Parra não se restringiu a questões rítmicas, mas observou, também, a desigualdade social chilena, principalmente com as pessoas do campo. Isto pode ser percebido a partir do estilo
Das utopias ao Autoritarismo
258
de composição da autora, que passou a compor canções com forte influência rítmica folclórica, com letras que expunham críticas aos problemas sociais do país e com críticas direcionadas as autoridades chilenas (SIMÕES, 2010, p. 142). Violeta se suicidou em 1967, antes de a Nueva Canción Chilena alcançar seu auge de produção, porém, após sua morte, a musicista foi amplamente reconhecida como a precursora do movimento.
Os filhos de Violeta Parra, Ángel Parra e Isabel Parra, criaram, em Santiago, um espaço cultural chamado a Peña de Los Parra, que contou com a presença de jovens músicos que vieram a compor os principais nomes do movimento, para além dos filhos de Violeta Parra, a exemplo de um dos principais expoentes do movimento, o músico Víctor Jara. A Peña foi um importante local de socialização destes músicos, onde foi discutida, pelos jovens, a produção de grandes folcloristas, sobretudo a de Violeta Parra, levando a debates sobre o conteúdo crítico em relação à realidade social chilena que, posteriormente, veio a ser uma das principais características do movimento. A Nueva Canción foi mais reconhecida como tal a partir de 1969, com a realização do Festival da Nueva Canción Chilena, quando os músicos alcançaram maior reconhecimento em relação a seus estilos de composição e performance (SCHMIEDECKE, 2014, p. 25-26).
No decorrer dos anos entre o governo de Eduardo Frei Montalva e Salvador Allende, é possível analisar a maneira como as letras das canções sofreram mudanças de estilo. A historiadora Natália Ayo Schmiedecke, que dedicou seu mestrado e seu doutorado ao estudo da Nueva Canción, concluiu que as mudanças das canções estiveram sempre relacionadas às expectativas da população em relação às melhorias de condições de vida. A autora ressalta que durante o governo de Eduardo Frei Montalva o “presente” era sempre retratado como um momento ruim que deveria ser superado, enquanto o “futuro” era colocado como o período em que as melhorias iriam acontecer, o que servia de motivação para seguir sem desistir. Mais próximo ao fim do governo de Frei, com a esperança da eleição de um governo popular, as letras possuíam um teor voltado para a
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
259
convocação à luta, acreditando que o esperado futuro estava iminente. Já durante o governo Allende, as canções possuíam uma tendência a exaltar a importância da participação popular na edificação daquilo que havia sido esperado, da utopia que alimentou as esperanças durante os anos de luta árdua: um governo popular que satisfizesse os anseios sociais (SCHMIEDECKE, 2013, 172-173).
O envolvimento dos integrantes da Nueva Canción com as manifestações políticas do país podem ser exemplificadas a partir da participação de seus integrantes em partidos políticos, como era o caso de integrantes filiados ao Partido Comunista, além da relação do movimento com a juventude universitária. Diferentes grupos foram formados por estudantes, como por exemplo: Humarí, Inti-Illimani e Quilapayún. E o expoente Víctor Jara, ainda que não fosse um universitário, teve uma vida ligada ao espaço da Universidade, visto que o mesmo era, também, diretor de teatro e realizava apresentações nos teatros universitários (SCHMIEDECKE, 2013, p. 86).
As Peñas, além da Peña de Los Parra, surgiram, também, em diferentes cidades do Chile, sendo frequentadas, majoritariamente, por estudantes universitários. O grupo musical Quilapayún, por exemplo, iniciou sua trajetória fazendo apresentações na Peña de Valparaíso, enquanto Inti-Illimani começou na Peña da Universidade Técnica do Estado – ambos importantes grupos da Nueva Canción Chilena (SCHMIEDECKE, 2013, p. 45). Os conteúdos engajados das canções produzidas por esses jovens e a tendência pela releitura das canções folclóricas com o uso de instrumentos típicos levavam ao cenário musical chileno uma nova vertente musical. Para compreender este destaque é importante a realização de um breve mapeamento do cenário da música popular da época.
Em meados da década de 1920, surgiu nos setores urbanos do Chile a Música Típica, após uma forte onda de imigração do campo para cidade. Esta corrente tinha como principal característica a evocação do passado da vida no campo, em suas letras, e a utilização dos aspectos rítmicos da canção folclórica chilena bem próximos à sua pureza – exceto pelo uso de técnicas vocais mais modernas, para se adaptarem às cidades, que se configuravam como o novo espaço
Das utopias ao Autoritarismo
260
de reprodução das músicas (GONZÁLEZ, 1996, p. 26). A Música Típica se tornou a principal corrente musical chilena, reconhecida internacionalmente. Entretanto os setores progressistas do país observaram e criticaram as letras desta corrente, que representavam uma cultura mais elitista (a exemplo dos proprietários de terra), ainda que oriunda do campo, julgando que esta não era a verdadeira imagem do Chile, ressaltando a necessidade de se representar outros setores, o que foi capaz de comprometer a legitimidade da Música Típica como a canção popular chilena (GONZÁLEZ, 1996, p. 28). Já na década de 1960, esta vertente se encontrava desgastada.
Entre as décadas de 1950 e 1960 uma corrente alternativa à Música Típica se formou no Chile, o Neofolclore. Em meio ao processo de “aculturação”, os artistas neofolcloristas se voltaram às músicas folclóricas chilenas no intuito de inaugurar uma vertente de canção popular, visto o desgaste da Música Típica. As composições surgidas deste empenho se relacionavam muito mais aos aspectos formais da canção do que à representação social propriamente dita, havendo uma maior preocupação com as vocalizações e outras técnicas modernas. Devido a isso, parte dos músicos foi criticada por criar “arranjos rebuscados” demais, que se distanciavam dos aspectos populares (GONZÁLEZ, 1996, p. 29). No entanto, o Neofolclore, durante seu período de apreciação, conseguiu despertar o interesse de parte da população para as canções de raiz folclórica, o que contribuiu para o cenário de formação da Nueva Canción chilena, que surgiu posteriormente.
Schmiedecke destacou a importância das novas características de estilo que vieram a ser identificadas com a Nueva Canción diante da Música Típica e do Neofolclore, afirmando que esses novos conjuntos inovaram ao compor canções instrumentais, algo pouco comum, tendo também como importante particularidade o “fato de muitos dos membros desses grupos serem filiados à Juventude Comunista” (SCHMIEDECKE, 2013, p. 45).
Além da relação dos universitários com a Nueva Canción através da participação em grupos musicais, os estudantes militantes dos partidos de esquerda estiveram não somente em consonância com
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
261
o movimento em relação à luta política, por questões ideológicas, mas contribuíram de maneira fundamental para a gravação e publicação de discos de artistas do movimento. Natália Ayo Schmiedecke explica, em seu artigo “A Discoteca del Cantar Popular (DICAP) entre 1968 e 1973: música, engajamento político e sociabilidade na Nova Canção Chilena”, que a indústria fonográfica dos anos 1960, no Chile, não dava aos músicos da Nueva Canción Chilena muito espaço para a divulgação de seus trabalhos, devido ao modelo musical ao qual as mídias estavam acostumadas à veicular em relação a canção chilena, tramitando entre a Música Típica e o Neofolclore. A autora indica, ainda, que os músicos utilizavam, na maioria das vezes, a disponibilidade de algumas gravadoras independentes. Somente em 1968, o Departamento Cultural das Juventudes Comunistas criou o selo Jota Jota, que pouco tempo depois veio a se chamar Discoteca del Cantar Popular (DICAP), que se tornou o principal meio de realização das gravações dos discos do Movimento da Nueva Canción Chilena (SCHMIEDECKE, 2012, p. 306).
Ao fim da década de 1960, quando se anunciava a candidatura de Salvador Allende e já se programara a “via pacífica ao socialismo”, vários músicos da Nueva Canción declararam seu apoio ao governo. Houve a composição de canções que foram direcionadas à campanha eleitoral e, nos discos de artistas do movimento, canções que não possuíam este princípio, mas que traziam de alguma forma elementos que levassem ao público o ímpeto para acreditar nas propostas da Unidad Popular.
O empenho da esquerda durante a campanha das eleições de 1970 era envolvido por um clima de expectativas positivas em relação ao Governo da Unidad Popular. E enquanto a juventude, o anseio por mudanças não era diferente, visto que os jovens militantes acreditavam na importância de sua participação. E neste ponto, é importante destacar que se trata da juventude ligada, principalmente, à esquerda. A historiadora Ximena Saavedra, que realizou pesquisas sobre a juventude revolucionária chilena neste período, indica que os jovens
estavam convencidos de que era um dever seu [...]
Das utopias ao Autoritarismo
262
fazer com que as mudanças acontecessem [...]. Este sentimento ético, assim como a percepção da necessidade e iminência de mudanças, com uma clara consciência de que para conquistá-las era necessário tomar o poder, era especialmente poderoso no imaginário da esquerda chilena e, em particular, no mundo jovem desse setor político [...] (SAAVEDRA, 2005, p. 5).
Esta tomada de consciência foi comum à década de 1960, sobretudo aos anos finais desta década. E relativo ao período que finalizava o Governo de Frei, destacamos um disco do movimento da Nueva Canción que foi envolvido pelas expectativas da esquerda chilena: o disco de Víctor Jara, “Pongo en tus manos abiertas”, de 1969. Neste disco, há canções que fazem menções a personagens importantes da esquerda internacional latino-americana e chilena, como as canções “A Luis Emilio Recabarren” e “Zamba del Che”, respectivamente relacionadas ao fundador do Partido Comunista Chileno – Luis Emilio Recabarren – e a Che Guevara, símbolo de resistência para a esquerda latino-americana. Há também, no disco, a canção “Plegaria a un labrador”, que consiste em uma convocatória à luta política, com uma aspecto que se assemelha a uma oração cristã, direcionada ao povo chileno, e “Preguntas por Puerto Montt”, que questionava sobre a morte de dez pessoas que moravam na pequena cidade de Puerto Montt, ao sul do Chile, durante o governo de Eduardo Frei pela polícia chilena – uma crítica realizada ao governo em valor à vida das pessoas das camadas populares que foram mortas sem justificativas. Este disco possui diferentes aspectos críticos do movimento e inclui também uma canção voltada a participação dos estudantes em relação as mudanças sociais e políticas do país, “‘Movil’ oil special”, canção em que Víctor Jara destaca a insatisfação dos estudantes que “han dicho basta por fin”, atrelando aos jovens as pautas de luta da esquerda chilena que apoiava a candidatura do governo da Unidad Popular, que pode ser representado através do trecho: “Somos los reformistas, los revolucionarios, los antiimperialistas de la Universidad”.
O governo da Unidad Popular, não obstante, teve que lidar com a oposição em suas manifestações, para além dos embates nas instituições políticas. O contexto em 1972, por exemplo, mais
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
263
precisamente em outubro deste ano, esteve repleto de boicotes ao governo de Salvador Allende, com destaque para uma grande paralisação que alcançou diferentes setores, principalmente os responsáveis pelo transporte de mantimentos. Mas, ainda que isto tenha comprometido também outros setores fundamentais, um movimento de voluntários foi capaz de dar continuidade, em parte, aos trabalhos essenciais. A canção de Víctor Jara, “Que lindo es ser voluntario” dialogou com este cenário e exaltou a importância desta ação perante as circunstâncias, inclusive relacionando-a com a trajetória de Emílio Recabarren – referente a uma continuidade –, uma personalidade que simbolizava força e resistência (SCHMIEDECKE, 2013, p. 175). Destacamos o trecho:
Si la montaña no viene anda hacia ella/ Las metas de Recabarren son las estrellas/ Qué cosa más linda es ser voluntario/ Construyendo parques para el vecindario/ Levantando puentes, casas y caminos/ siguiendo adelante con nuestro destino […].
Os integrantes da Nueva Canción sofreram a repressão do Governo Militar chileno que se instaurou com o golpe de 11 de setembro de 1973. Alguns integrantes foram feitos prisioneiros, a exemplo de Ángel Parra, e outros saíram do país em exílio. Víctor Jara, entretanto, foi preso no dia do golpe, levado ao Estádio de Chile, torturado e morto na primeira semana após o fim do Governo da Unidad Popular.
A atuação efetiva deste movimento na “via pacífica ao socialismo” levou seus integrantes a uma posição importante no cenário cultural e político do país, sobretudo em relação à ideia de mudança no comportamento da população chilena em se empenhar na construção do Estado Socialista, no qual eram depositadas as esperanças das realizações que viriam a corresponder os anseios das camadas populares. A retratação dos diferentes indivíduos destas camadas e a idealização destes como capazes de juntos realizarem as construções necessárias, contava, também, com a participação de um setor da sociedade que disputou sua autonomia e liberdade na década anterior: os estudantes universitários. A juventude que não somente
Das utopias ao Autoritarismo
264
fez parte do movimento, foi fundamental para sua formação e foi representada como parte da população capaz de realizar a revolução sistêmica do Chile, com base em suas atividades que contribuíram com o Governo da Unidad Popular.
Referências Bibliográficas:AGGIO, Alberto. Democracia e socialismo: a experiência chilena. São Paulo: Ed. da UNESP, 1993.
GILMAN, Cláudia. Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina. Buenos Aires: Siglo XXI, 2003.
GOMEZ, Sérgio. El Movimiento Campesino em Chile. Programa Flacso, Santiago de Chile, p. 1-49, 1985. Disponível em: <http://flacsochile.org/biblioteca/pub/memoria/1985/000930.pdf> Acesso em: 16 jul. 2018.
GONZÁLEZ, Juan Pablo. Evocación, modernización y reivindicación del folclore en la música popular chilena: el papel de la performance. Revista Musical Chilena, Santiago, n. 185, p. 25-37, jan./jul. 1996. Disponível em: <http://www.analesii. ing.uchile.cl/index.php/RMCH/article/download/13833/14112>. Acesso em: 18 abr. 2018.
HUNEEUS, Carlos. La Reforma Universitária: veinte años después. Santiago: Corporação de Promoção Universitária, 1988.
LACERDA, Gustavo Biscaia de. Panamericanismos entre a segurança e o desenvolvimento: a Operação Panamericana e a Aliança para o Progresso. 2004. 170 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de Ciências Sociais, Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2004. Disponível em: <http://www.funag.gov.br/ipri/btd/index.php/10 dissertacoes/944-panamericanismoentre- a-seguranca-e-o-desenvolvimento-a-operacao-panamericana-e-a-alianca-para-o-progresso>. Acesso em: 5 jul. 2017.
MAGASICH-AIROLA, Jorge. Allende, la UP y el Golpe. Santiago: Aún Creemos en los Sueños, 2013.
ROLLE, Cláudio. La “Nueva Canción Chilena”: el proyecto cultural popular y la campaña de gobierno de Salvador Allende. In: CONGRESSO DA IASPM-AL, III, 2000, Bogotá. Anais... Bogotá: IASPM, 2005. Disponível em:< https://www.musicadechile.com/home/articulos/La_NCCH_el_proyecto_cultural_popular_y_la_campan~a_presidencial_y_gobierno_de_Allende.pdf> Acesso em: 10 jul. 2018.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
265
SAAVEDRA, Ximena Vanessa Goecke. Juventud y política revolucionaria en Chile en los sesenta. Santiago: Cesc, 2005. Disponível em: <http://www.cedema.org/uploads/Juventud%20y%20Politica%20Revolucionaria.pdf>. Acesso em: 17 jul. 2018.
SCHMIEDECKE, Natália Ayo. A Discoteca del Cantar Popular (DICAP) entre 1968 e 1973: música, engajamento político e sociabilidade na Nova Canção Chilena. In: X Congreso de la Asociación Internacional para el Estudio de la Música Popular Latinoamericana, 2012, Córdoba, Argentina. Enfoques interdisciplinarios sobre músicas populares en Latinoamérica: retrospectivas, perspectivas, críticas y propuestas. Actas del X Congreso de la IASPM-AL. Montevidéo: IASPM-AL; CIAMEN (UdelaR), 2012, p. 301-312. Disponível em: < http://www.cih.uem.br/anais/2011/trabalhos/87.doc >. Acesso em: 28 jul. 2018.
SCHMIEDECKE, Natália Ayo. “Tomemos la historia en nuestras manos”: utopia revolucionária e música popular no Chile (1966-1973). 2013. 297 f. Dissertação (Mestrado) – Curso de História, Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Franca, 2013. Disponível em: < https://acervodigital.unesp.br/handle/11449/93254> Acesso em: 6 jul. 2018.
SCHMIEDECKE, Natália Ayo. Os primeiros festivais da Nova Canção Chilena e a invenção de um movimento musical. Artcultura, Uberlândia, v. 16, n. 28, p. 23-37, jan. 2014. Semestral. Disponível em: <http://www.seer.ufu.br/index.php/artcultura/article/view/30606>. Acesso em: 17 jul. 2018.
SIMÕES, Silvia Sônia. La nueva canción chilena: o canto como arma revolucionária. História Social, Campinas, v.18, p.137-156, 2010. Disponível em:<http://www.ifch.unicamp.br/ojs/index.php/rhs/about/contact>. Acesso em: 26 abr. 2018.
VALLEJOS, Julio Pinto. Hacer la revolución en Chile. In: VALLEJOS, Julio Pinto (Coord.) Cuando hicimos historia: La experiencia de la Unidad Popular. Santiago: LOM, 2005, p. 9-33.
YOCELEVZKY, Ricardo. La democracia chilena y el gobierno de Eduardo Frei (1964-1970). México, D.F.: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, 1987.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
269
Sob os ditames da modernidade: a ressignificação dos rituais funerários na Vitória da segunda
metade do século XIXJúlia Freire Perini1
IntroduçãoA partir da problematização do significado da
modernidade feita por Reinhart Koselleck, podemos destacar a crítica que reside na tentativa de compreender as distintas estruturas temporais vinculadas à experiência dos homens na história. Para tanto, o historiador alemão produziu sua própria teoria crítica dos tempos modernos analisando as mudanças na percepção temporal vivenciadas pelos europeus entre os anos de 1750 e 1850 que trouxe à tona uma inflexão entre aquilo que ele denominava como o espaço de experiência e o horizonte de expectativa. Estas duas categorias analíticas foram instrumentalizadas por Koselleck para perscrutar as novas perspectivas em relação ao tempo que foram traduzidas na incorporação de neologismos ou na alteração do significado de antigos conceitos políticos para dar conta de demandas surgidas naquele momento (KOSELLECK, 2006).
Impulsionados pela descoberta do novo mundo, pelo advento do conhecimento “exato” das ciências naturais, assim como pelo surgimento das primeiras máquinas e da revolução industrial, os europeus dos séculos XVIII e XIX teriam, aos olhos de Koselleck, produzido uma ordenação semântica do tempo na qual o futuro passava a predominar sobre o presente, dando lugar a concepções filosóficas que tendiam a enxergar a história como um singular coletivo ou, em outras palavras, como uma grande marcha da humanidade rumo ao inexorável caminho do progresso. Entretanto, na interpretação do
1 Doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em História pela Universidade Federal do Espírito Santo sob orientação da professora Drª Juçara Luzia Leite. Este texto é o desdobramento de uma pesquisa financiada pela CAPES. O e-mail para contato com a autora é: [email protected]
Das utopias ao Autoritarismo
270
historiador alemão, tais leituras ignorariam o caráter multifacetado das experiências temporais humanas, o singular coletivo inerente à interpretação moderna da história se sobrepunha de maneira violenta sobre outras possibilidades mais plurais de entendimento não apenas de uma, mas de distintas histórias passíveis de serem produzidas pelas sociedades humanas.
Partindo, portanto, da problematização do significado da modernidade e do entendimento de que esse fenômeno não se deu forma homogênea no mundo ocidental, buscamos desenvolver uma narrativa que elucide parte do desenrolar de questões relacionadas à forma de lidar com a morte e com a alteração das sensibilidades sobre o morrer na capital do Espírito Santo na segunda metade do século XIX em diante.
Para tanto, é necessário inferir que a recepção da modernidade no Espírito Santo não se deu de forma linear e progressiva. Os distintos grupos que compunham aquela sociedade não aceitavam passivamente as interpelações que alteravam sua maneira de compreender e experimentar o mundo no que tangia às questões relacionadas ao morrer, assim como não abriam mão das suas tradições em prol de novas representações sem antes promoverem disputas por suas formas de ler o mundo.
A modernização e a crescente propagação de meios capazes de fornecer novos padrões para a cultura e para o comportamento - dentre eles: os jornais2 e, posteriormente, os clubes de debates de ideias republicanas3 - atingiram diretamente os representantes dos grupos dominantes no Brasil oitocentista. As ideologias modernas e os novos mecanismos de difusão da informação funcionavam como
2 Dentre os meios divulgadores de ideias estão a tipografia de Pedro A. de Azevedo, onde foi produzido o primeiro periódico regularmente publicado na província, nomeado “Correio da Vitória”. Posteriormente, outros jornais surgiriam, tais como: “A Província do Espírito Santo” e “O Espírito Santense”.
3 Joaquim Pires de Amorim (1985, p. 28) afirma que vários espaços foram criados para discutir as ideias republicanas no Espírito Santo após 1887. Como exemplo, temos: o Clube Republicano, em Cachoeiro, o Clube de São José do Calçado e o de Vitória. Também foram palco de debates a maçonaria e o Clube Literário Saldanha Marinho.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
271
vetores e referências em torno de práticas tidas como próximas ou distantes de um modelo civilizacional, de modo que a própria sensibilidade dos indivíduos passava a ser objeto de disputa entre os distintos representantes de discursos modernizadores ou mais inclinados à manutenção da tradição.
As disputas e os dilemas acerca da sensibilidade no oitocentos brasileiro
Conforme foi destacado no trabalho de Alain Corbain (1987) a existência da instituição de uma vigilância olfativa na Europa do século XVIII, bem como seus efeitos na nova sensibilidade teriam interferido na saúde pública, especialmente no que dizia respeito aos odores dos cadáveres em decomposição, da circulação e renovação do ar e da transmissão de doenças por meio dele. Ao investigar as sensações olfativas, Corbin trazia a discussão sobre as mudanças dos hábitos referentes ao entendimento de uma nova necessidade de purificação do ar nos espaços públicos das cidades europeias em tempos modernos. Estes apareceriam em decorrência dos valores advindos da ascensão de uma nova classe social: a burguesia, que buscava por meio do controle dos odores, principalmente os corporais, uma espécie de diferenciação social. Este grupo iria instituir novos padrões higiênicos domésticos e pessoais que entrariam em vigência na Europa dos séculos XVIII e XIX. Por isso, prosseguia Corbin, odores que eram anteriormente tidos como indiferentes ou tolerados, passaram a ser alvo de controle, ocasionando uma ressignificação do sentido social dos odores na moderna sociedade europeia (CORBIN, 1987, p. 71).
É importante ressaltar também os debates acerca da higienização do espaço urbano haviam sido realizados de forma pioneira por Michel Foucault, quando o autor formulou que as novas configurações do poder na era moderna permitiram que a medicina social requisitasse o controle da circulação de ar e da água na Europa do século XVIII. Em outras palavras, o ar foi tornado objeto de estudo da ciência moderna e considerado um transmissor
Das utopias ao Autoritarismo
272
de doenças. De acordo com a medicina setecentista, uma medida importante para evitar problemas de saúde seria a de permitir a circulação do ar. Para tanto, foi preciso realizar reformas urbanas no sentido de abrir ruas, demolir casas mal executadas que obstruíam a circulação dos ares e vapores, além de secar pântanos e elevar pontes (FOUCAULT, 2012, p. 159).
Na esteira desses debates empreendidos por Corbain e Foucault, a mudança na sensibilidade olfativa de parte da população urbana ao longo do século XIX pode ser um fator indicativo deste paulatino processo de disputa pelo imaginário em torno do significado dos sentidos na realidade brasileira. A emergência de distintas concepções de higiene, salubridade e bem-estar ocorreria de forma concomitante ao surgimento de novos critérios qualitativos para o estabelecimento do significado dos bons e dos maus odores. Estes novos padrões, por sua vez, seriam decisivos no sentido de se estabelecer rupturas com importantes elementos da tradição como, por exemplo, a maneira de se compreender a morte e os rituais religiosos a ela relacionados.
O cheiro da morte – oriundo dos cadáveres que se encontravam enterrados nas igrejas –, assim como outros odores, aos poucos passaria a ser um fator importante a ser considerado entre aqueles que ao longo do século passaram a propor mudanças significativas na tradição cristã de trato com o além-vida. No Rio de Janeiro, por exemplo, esse tipo de problema passara a ser relatado ao menos desde 1825. No periódico Diário Fluminense, publicado no dia 27 de dezembro do referido ano, temos um relato anônimo que tratava da seguinte forma a respeito deste tema:
O seu diário de 18 de novembro deste ano traz um documento do desvelo e solicitude do governo a bem dos povos, que cobrindo a S. M. o Imperador de glória, estabelece no Rio de Janeiro, e no Brasil todo, a que estender-se deve a sua determinação, uma casa de saúde pública. –Falo da portaria dos enterros dentro das igrejas, provém, e de tempo muito moderno, de uma terrível superstição. Quem tiver algumas luzes na história das nações saberá sem dúvida, que os artigos desconheçam
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
273
este costume danoso. Os egípcios e os gregos, sem bem me lembro, não só privavam os lugares consagrados à adoração das divindades de serem depósitos dos mortos, como até faziam enterrar os cadáveres fora das cidades. (Diário Fluminense, Nº148, 1825, p. 599)
O autor desse escrito, que se autodenominava para o redator do Diário Fluminense como “Seu novo correspondente”, se referia pejorativamente aos que se posicionavam a favor da manutenção dos enterramentos nos templos como “os supersticiosos”. Em sua opinião, manter os corpos enterrados nos templos religiosos significaria colocar o país na posição de bárbaro e menos civilizado se comparado a outras nações ocidentais: “espero ver em breve tempo o Império do Brasil livre de um mal horroroso, que (como disse um filósofo) só há sofrido nos países onde a escravidão aos mais indignos usos, deixa subsistir um resto de barbárie que envergonha a humanidade. ” (Diário Fluminense, nº148, 1825, p. 600).
No lado oposto a esse debate, também no Rio de Janeiro, uma década e meia mais tarde, Luís Gonçalves dos Santos, o “Padre Perereca”, contrapunha os argumentos expostos pelos defensores da mudança no referido ritual. Em uma passagem de um livro publicado em 1839, o eclesiástico respondia às queixas relacionadas aos odores dentro dos templos católicos, justificando o costume das inumações nos templos a partir da ideia de que o descanso dos defuntos em terras abençoadas amenizava a dor dos entes vivos daqueles que partiram para o além. Vejamos o restante das críticas do religioso católico descritas por Reis:
O correspondente se queixava do cheiro dos cadáveres. Perereca contrapunha à sensibilidade olfativa dos “melindrosos modernos” aquela dos católicos piedosos. “Apesar de que por tão dilatada série de anos não tivesse havido tantas caixas de tabaco, tantos vidrinhos de espíritos cheirosos, tantos frasquinhos de água de Colônia, etc., os narizes dos nossos avoengos não sentiam, não se incomodavam.” E por que não? Porque, entre outras razões, o “incomodo passageiro do mau cheiro dos defuntos” era um ato de fé e porque a dor da perda amainava na certeza de que os entes queridos jaziam em terra abençoada,
Das utopias ao Autoritarismo
274
esperando-os para “participar com eles dos mesmos jazigos, e das mesmas honras” (REIS, 1991, p. 268)
O padre ressaltava a importância da manutenção dos sepultamentos no interior das igrejas embasando parte de sua defesa nos princípios da caridade cristã. Esse ideal compreendia uma série de atitudes caras ao católico oitocentista, dentre as quais, podemos mencionar: a assistência aos pobres, às viúvas, aos órfãos, além do cuidado com os doentes desvalidos. Nesse mesmo grupo de ações caridosas, incluía-se também a participação nos rituais funerários e a feitura de preces e orações que tinham por objetivo amenizar a dor dos parentes do morto, contribuindo para salvação da alma do defunto. As práticas da caridade cristã estavam entre os pré-requisitos tidos como fundamentais para a salvação da alma e é por esse motivo que as discussões sobre o afastamento dos mortos do interior das igrejas entravam em rota de colisão com um projeto de vida que tinha por finalidade a salvação eterna. Havia, portanto, tolerância em relação ao cheiro em nome de um bem maior.
Também na província capixaba essa mudança na tolerância olfativa, em conformidade com os novos parâmetros de higiene e civilização, pode ser percebida. Assim como na capital do império, a vigilância do odor no Espírito Santo passou a ser alvo de incômodos e reclamações, muitas vezes manifestada por membros da camada dirigente4 local. Mais do que qualquer outra camada social, esse grupo tomou as rédeas do debate rumo à modernização do Brasil em meados do século XIX. O contato com ideias vanguardistas europeias a respeito de distintas práticas culturais movimentou os grupos dominantes do país no sentido de transformar a nação brasileira em algo que se assemelhasse ao velho continente, principalmente no que tangia aos hábitos e aos costumes.
4 Assim como Ilmar R. Mattos (1987, p. 1), entendemos por camada dirigente um grupo heterogêneo composto por homens letrados - jornalistas, políticos, médicos -, que desempenharam um importante papel como artífices da política e da mudança dos costumes da população.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
275
Entre a tradição e a modernidade: as conciliações em torno da morte empreendidas pelas camadas dirigentes capixabas
A existência desses debates no Espírito Santo pode ser documentada ao menos desde a virada da primeira para a segunda metade do século XIX. Em uma carta escrita nesta época e direcionada ao redator do jornal Correio da Victória5, por exemplo, um anônimo dava sinais claros de desagrado em relação à higiene e ao cheiro do espaço urbano da capital, especialmente em função do medo provocado pelas moléstias que afetavam a população:
[...] E quando cheguei ao canto da rua em frente à casa em que mora o Sr. Luiz Pinto aí escapei de morrer sufocado com o maldito cheiro de pútridos miasmas que do tal lugar exalavam cujo lugar bem se pode chamar de cloaca da cidade por que nessa mesma ocasião e à minha vista foram algumas negras fazer despejos de águas impuras, lixo e....... e o digno local (morando tão perto e tendo dois guardas que o coadjuve!) não olha para tudo isto!!! Sr. Redator, esses homens não temem as Febres Amarelas? Não respeitam as ordens do que recomenda a limpeza a bem da salubridade pública, como foi estampado em sua folha? E por Sr. Redator, eu digo que meu filho e meu neto tem razão.
Publicando estas linhas muito obrigada lhe ficará o pai do Z. (Correio da Victória, 1850, ed. 30)
Não só os cheiros como as más condições de salubridade do espaço público passavam a ser motivo de preocupação de parte da população vitoriense. Ademais, a qualidade do ar e a existência dos maus odores tornavam-se fatores a serem considerados na avaliação da qualidade dos espaços públicos. Essas reclamações e julgamentos passavam a figurar de forma cada vez mais frequentes nos jornais da província, avolumando-se e se estendendo ao menos até o período republicano.
Os odores passavam a influenciar no apreço da qualidade
5 O jornal "Correio da Victória", de orientação conservadora, surgiu em 1849 para divulgar as ordens e atos governamentais, isto é, era um veículo de divulgação das decisões do Executivo capixaba. (MATTEDI, 2010, p. 24).
Das utopias ao Autoritarismo
276
de vida da população, que passaria a apelar para a intervenção das autoridades no espaço urbano. Não é de se espantar, portanto, que esse tipo de discussão logo tenha chamado a atenção do poder público, levando alguns de seus representantes a posicionar-se em relação à necessidade de resolução destas novas questões.
De todo modo, assim como no Rio de Janeiro, essas alterações na forma de se sentir e interpretar os odores, não ocorreram de forma linear e consensual. Da mesma maneira que na realidade carioca, e em especial no concernente aos assuntos eclesiásticos, seria mister repensar a relação entre elementos da tradição e as necessidades trazidas pela vida civilizada.
Essa tentativa de realinhar modernidade e tradição já era perceptível no relatório apresentado pelo presidente de província Antônio Pereira Pinto6 no ano de 1849 no periódico Correio da Victória:
A filosofia do século passado tinha criado o ceticismo, e feito nascer a dúvida nas crenças, as doutrinas porém, derramadas nos sábios discursos de Bossuets, dos Massillons, e tantos outros luminares da causa do cristianismo, e ao depois tão vitoriosamente sustentadas no livro sublime, que imortalizou o nome de Chateaubriand, fizeram aparecer a reação e os tempos presentes aceitaram com entusiasmo a revelação de Jesus Cristo e as verdades da religião cristã. Apenas a revolução francesa de 1793, parodiando burlescamente os erros da propaganda passada, quis de novo inaugurar o predomínio das ideias libertadoras, que escritores, aliás de subida ilustração, haviam antes vulgarizado. A Revolução Francesa porém, era um colosso com pés de barro, as ideias políticas, e religiosas, que pretendeu plantar na Europa, como seus meteoros, duraram apenas em quanto o seu brilho pareceu fascinar algumas inteligências mais exaltadas, sumiram-se porém com ela no vórtice ensanguentado [...] (Correio da Victoria, 1849, ed. 5)
6 Antonio Pereira Pinto foi presidente de província no Rio Grande do Norte, no Espírito Santo e em Santa Catarina. Foi também deputado geral representando os capixabas nos anos de 1857 a 1860 e de 1861 a 1864.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
277
No documento, Pereira Pinto tratava primeiramente da importância da religião católica, destacando a solidez de seus postulados face aos desenvolvimentos filosóficos do último século. O século das luzes e mesmo a Revolução Francesa de 1789 não haviam - apesar de seu aporte para o progresso - sido capazes de abalar o “entusiasmo a revelação de Jesus Cristo e as verdades da religião cristã”. A ciência não progredira ignorando a religião, pelo contrário, teria sido dela dependente. Esse esforço em resguardar as contribuições do Cristianismo para o advento desses novos tempos se dava especialmente com o intuito de amenizar o impacto desses novos preceitos sobre práticas e rituais sagrados. Logo, higienizar os templos e proibir os sepultamentos em seu interior não seria um princípio meramente mundano, mas uma premissa tanto religiosa quanto científica:
Em verdade, é uma profanação converter a casa de Deus, que só deve rescender o aroma das flores, e o cheiro dos incensos em depósitos de miasmas tão nocivos à saúde daqueles, que no silêncio dos templos, de envolta com fervorosas orações, procuram o bálsamo salutar, que a Religião Católica ministra aos que compreendem, e invariavelmente creem nos seus santos mistérios. (Correio da Victória, 1849, ed. 5)
Pereira Pinto não defendia a proibição dos enterramentos nos templos por ser menos religioso ou por duvidar dos princípios da religião católica, tampouco por pretender uma separação da igreja e do Estado (ou o fim do padroado). Seu esforço no sentido de propor mudanças nos rituais de sepultamento ocorria no contexto de uma tentativa cada vez mais presente de conciliar preceitos religiosos com os ideais seculares-científicos.
As reclamações a respeito dos cheiros e a tentativa de conciliar tradição e modernidade continuaram a existir nas décadas seguintes. Em 1854, logo após surtos epidêmicos de febre e disenteria causarem muitas mortes no Espírito Santo, Sebastião Machado Nunes7, então presidente de província, descrevia problemas semelhantes àqueles
7 Sebastião Machado Nunes foi político no período do Império brasileiro e presidente da província do Espírito Santo no ano de 1854.
Das utopias ao Autoritarismo
278
apontados por seu antecessor. Contudo, apesar de mencionar o perigo das enfermidades e o incômodo com os odores dos defuntos, o problema dos enterramentos nos templos era em alguma medida relativizado:
Julgo oportuna a ocasião para lembrar-vos que a conveniência de adotardes uma medida que em outros lugares tem tido um efeito benéfico sobre a salubridade pública: falo da proibição dos enterramentos dentro do recinto desta cidade. Bem que esteja convencido que os enterramentos dentro das igrejas, como atualmente são feitos, não podem exercer influência alguma perniciosa, quando esta capital se acha no seu estado normal, atento o seu pequeno número, com tudo no estado de crise, como o em que nos achamos, devem comprometer a salubridade do lugar entretendo, e talvez desenvolvendo, e aumentando os miasmas deletérios, que são causas imediatas da epidemia. (RELATÓRIO com que o exm. sr. dr. Sebastião Machado Nunes, presidente da província do Espirito Santo abriu a sessão ordinária da respectiva Assembleia Legislativa no dia vinte e cinco de maio do corrente ano. Victoria, Typ. Capitaniense de P.A. d’Azeredo, 1854, p. 16-17)
Nunes defendia que a proibição dos sepultamentos dentro das igrejas deveria ocorrer em função dos casos de epidemias que assolavam a cidade. Isto é, na visão do político, se o quadro da salubridade pública não tivesse sido alterado, o local das inumações poderia ser mantido. Essa relativa “tolerância” em relação ao mau cheiro e às suas consequências no “estado normal” da capital revela a intenção do presidente de província à época de contemporizar a possibilidade de preservação de elementos significativos do antigo ritual cristão de sepultamento, sucumbindo apenas de forma parcial aos ditames da percepção secular de entendimento do morrer.
Na década subsequente, todavia, o perigo de propagação de novas epidemias trouxe consigo a necessidade de maior controle da qualidade do ar. Em função disso, cada vez mais os vapores, miasmas, cheiros e ares passaram a ser alvo de regulamentação com o intuito de garantir que o seu controle se tornasse o vetor de uma nova noção de salubridade. No relatório do presidente de província Eduardo
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
279
Pindaiba de Mattos8 de outubro de 1864, essa preocupação com referências à salubridade pública se mostrava evidente:
Salubridade pública
Continua a ser lisonjeiro o estado de salubridade pública nesta província, para o que muito concorre o seu excelente clima.
Todavia cumpre notar que em relação a esta capital alguns focos de miasmas existem que alterando inevitavelmente a pureza do ar dão causa ao aparecimento de moléstia miasmáticas, como sejam as febres perniciosas, tifos e outras que com mais ou menos intensidade se desenvolvem na mudança das estações.
Apontarei como principais fontes desses miasmas entre outras as seguintes: o pântano misto do Campinho, a inundação da vala que existe na rua da Várzea e Largo da Conceição, o cemitério público pela posição que ocupa, e as águas estagnadas e mais ou menos constantes do lugar conhecido por Palame. (RELATÓRIO apresentado à Assembleia Legislativa Provincial do Espirito Santo no dia da abertura da sessão ordinária de 1864 pelo 1º vice-presidente, Dr. Eduardo Pindaiba de Mattos. Victoria, Typ. Liberal do Jornal da Victoria, 1864, p. 10)
Diferente de Nunes, não existia no relatório apresentado por Pindaiba de Mattos a preocupação explícita em resguardar o ritual religiosos de sepultamento de acordo com determinadas condições. Pelo contrário, os cemitérios dos templos e aqueles a eles adjacentes passavam a ser vistos como focos reais dos miasmas e das moléstias que interferiam na saúde pública e na qualidade de vida da população.
Corroborando as falas de Pindaíba de Mattos e engrossando a vertente rumo à aceitação dos ideais científicos, o redator do Jornal da Victória9 e também presidente da câmara municipal de Vitória,
8 Eduardo Pindaíba de Mattos nasceu em São Luís em 1831 e morreu em Petrópolis em 1913. Foi desembargador, juiz e político brasileiro. Ocupou os cargos de chefe de polícia, presidente e vice-presidente de províncias. No ano de 1863, ele ocupou o cargo de vice-presidente no Espírito Santo.
9 O “Jornal da Victória” foi fundando em 1864 e circulou até o ano de 1869. Esse periódico tinha como proprietário e principal redator Muniz Freire. Nele, eram
Das utopias ao Autoritarismo
280
Delecarliense Drummond de Alencar Araripe publicaria três anos mais tarde um texto de caráter pedagógico voltado para a instrução dos moradores da província. Segundo este documento, os moradores de uma cidade pensada em conformidade com os ditames da saúde pública deveriam:
3º Remover do interior das habitações e de suas dependências tudo quanto possa contribuir direta, ou indiretamente para a corrupção e viciação do ar atmosférico [...]
6º Empregar fumegações repetidas com o enxofre nos quartos, e outros lugares em que tenha sucumbido alguns doentes de cólera, fazer caiá-los e abandoná-los depois por dois dias à ventilação e arejamento. [...]
9º Resguardar o corpo da humidade e das variações atmosféricas, usando-se de roupas apropriadas ao tempo; ter cuidado de muda-las logo que se chegue suado à casa, a fim de evitar a supressão rápida da transpiração, que pode constituir-se uma causa ocasional da moléstia, e ordenar que sejam estendidas fora dos aposentos de descanso e em lugar arejado, as roupas suadas, máxime as de lã ou seda, as quais mais facilmente se deixam impregnar dos miasmas infectuosos. (Jornal da Victória, 1867, ed. 290.)
Esse esforço no sentido de divulgar hábitos adequados aos padrões higienistas da época ocorria com o intuito de evitar que novos surtos epidêmicos surgissem pela capital. O texto se tratava de um documento elaborado pela Junta Central de Higiene Pública do Rio de Janeiro e ao divulgá-lo em seu periódico, Alencar Araripe tinha o objetivo de fornecer informações para o público capixaba sobre o que estava em voga em termos de modelo para a saúde pública no Brasil. Ao dar visibilidade a esse documento, o jornalista cumpria em certa medida o papel de intermediador entre os padrões de civilização do centro para a periferia10. Os principais elementos atacados em seu
defendidas ideias relacionadas ao Partido Liberal. 10 O Espírito Santo era descrito por alguns homens do século XIX, nesse caso
o presidente da Câmara dos Vereadores de Vitória, Joaquim Corrêa de Lírio, como atrasado em relação à outras cidades (Salvador, Rio de Janeiro, Recife, São Paulo) no que se referia aos costumes higiene e saúde.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
281
texto eram os miasmas, os odores, a circulação do ar e a instituição de novos padrões higiênicos pessoais. Mais uma vez os cuidados olfativos, apareciam como alvo de vigilância e controle entre alguns dos mais influentes membros da alta sociedade capixaba.
Assim como os políticos e os jornalistas, também a classe médica participaria deste debate sobre a necessidade de controle dos odores e de mudança em antigas práticas religiosas. Em consonância com a comunidade científica da época, em 1871 o médico Manoel Goulart de Souza11 escrevia no jornal Correio da Victória com o intuito de condenar a forma como os enterramentos se davam na capital capixaba. Além disso, ele deixava explícito o seu descontentamento no que dizia respeito à conservação e localização das necrópoles na cidade. Respaldado por seus conhecimentos médicos, o autor do texto não poupava críticas às condições de salubridade a que os habitantes vitorienses estavam condicionados:
É como higienista que condenamos a colocação dos cemitérios nas sacristias das igrejas e contíguos a elas, onde por falta de observância dos princípios que devem presidir sua colocação, não poucas vezes temos sentido cheiros dos cadáveres: incontestavelmente são os de São Francisco os que estão em melhores condições. (Correio da Victória, 1871, ed. 38)
O médico tentava conciliar os valores religiosos com as necessidades da saúde pública da comunidade vitoriense oitocentista. Fazendo questão de colocar-se na posição de “higienista”, Goulart preocupava-se em estabelecer para si um lugar de fala que o eximisse de uma possível acusação de desrespeito em relação às práticas e tradições cristãs. Tomando a razão científica como base do questionamento das práticas funerárias e se valendo de sua autoridade como profissional da saúde, o médico endossava os valores caros à modernidade, no que dizia respeito aos costumes funerários:
Grande é o prejuízo que daí parte para saúde pública,
11 O médico higienista Manoel Goulart de Souza ocupou diversos cargos entre as décadas de 1860 e 1890, dentre eles, podemos citar: deputado da assembleia provincial, inspetor de saúde pública, inspetor de saúde em portos, provedor da Santa Casa de Misericórdia.
Das utopias ao Autoritarismo
282
embora, na opinião dos entendidos, não importe conhecer a natureza do terreno, posto que húmido muitas vezes, tem-se pouca consideração da localidade; o cadáver na argila torna-se em massa compacto e dificilmente desprendem-se os gases produzidos por putrefação, e se por outro lado devemos evitar os enterramentos em terrenos saturados de matérias animais, aí nos parece o cemitério do Campinho, terra que já merece o nome de lama humana. (Correio da Victória, 1871, ed. 38)
O incômodo causado pelos gases que se desprendiam dos cadáveres e os efeitos negativos decorrentes do acondicionamento inapropriado dos defuntos nos cemitérios passava a ser visto como um ataque à saúde da comunidade. Por isso, ao atribuir à região conhecida como Campinho a pecha de “lama humana”, Goulart de Souza manifestava sua repulsa e sua sentença condenatória frente ao estado em que se encontrava a localidade.
A geografia do espaço dos mortos se tornara alvo de ataques por intervenções higiênicas e também, sensoriais. Conviver com o cheiro da decomposição dos cadáveres deixava de ser algo aceitável entre parte dos membros dos setores dirigentes da sociedade. No fragmento ainda é possível perceber que suas palavras, enquanto cientista, estavam sendo negligenciadas:
Ameaçados do terrível flagelo que agora reina em Buenos Aires com intensidade que nunca a América do Sul registrou em sua história, convém que digamos algumas palavras em relação a nós; se tivermos a felicidade de que elas sejam ouvidas, ficaremos ainda mais tranquilos, porque cumprimos com o dever para com a religião e satisfazemos os princípios aconselhados pela ciência do velho de Cós. (Correio da Victória, 1871, ed. 38)
O embate entre a tradição religiosa e a modernidade permanecia em curso, mas agora na voz de um médico que, assim como os políticos, escolhia bem as palavras com o intuito de influenciar a percepção de seus contemporâneos sobre o significado do ritual funerário. Um argumento utilizado na tentativa de mesclar e adaptar tais costumes aos ditames do moderno, era a necessidade das camadas dirigentes colocarem em prática os princípios advogados
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
283
pela ciência, de modo que, o não cumprimento das determinações da medicina passava a ser visto como um desvio.
Esse objetivo era compartilhado por Francisco Gomes d’Azambuja Meirelles no jornal O Espírito-Santense12 que, assim como Goulart de Souza, atuava como médico e no mesmo ano defendia mudanças na forma de sepultar os mortos em conformidade com os postulados da saúde pública:
Nada se há feito no sentido de remover os males que experimentamos pela existência deste pântano tão próxima a esta capital, porque todos dizem que o aterro dele é muito dispendioso, e que os cofres da província não comportam semelhante despesa, entretanto para a salubridade pública melhorar seria suficiente impedir que as águas que descem da montanha corram para o mangue, e conservar este fechado com muros, de modo que sempre estivessem cheios d’água, para fazer desaparecer os eflúvios que infectam esta cidade, pois são estes os únicos meios aconselhados pela higiene quando o aterro é impraticável. Além desta causa natural para o desenvolvimento de epidemias, temos as exalações miasmáticas dos nossos cemitérios onde os enterramentos feitos sem as cautelas, sem se observar preceito algum higiênico, pois as sepulturas não tem a profundidade exigida, não se lança sobre o cadáver terra alguma e são abertas para se retirar delas esqueletos sem ter decorrido o tempo preciso para isso, pelo que tem acontecido encontrar-se o cadáver ainda não consumido, do que resulta a propagação das moléstias por influência miasmáticas e por consequências maior duração da epidemia. (O Espírito-Santense, 1871, ed. 50)
Meirelles apontava para o fato de que os cemitérios continuavam no centro da capital e que as condições dos sepultamentos ainda não haviam se adequado plenamente à lógica prescrita pelos cânones da ciência. Não havendo mudanças nos rituais, tampouco providências do poder público, os cemitérios e as práticas funerárias
12 O “Espírito Santense” (1870-1889) publicava sobre política e novidades científicas. Além disso, também tinha espaço em suas páginas para arte literária e notícias. Era defensor de ideias conservadoras. Seu redator e proprietário era Basílio Carvalho Daemon.
Das utopias ao Autoritarismo
284
permaneciam na mira dos médicos, dos políticos e de outros homens de letras capixabas.
Mais de dez anos após as reclamações desses profissionais da saúde, Muniz Freire e Cleto Nunes - dois dos mais proeminentes políticos capixabas do período - publicavam um texto no jornal A Província do Espírito-Santo13 no qual as críticas da década anterior eram reiteradas:
Ninguém aborda de boa mente um cadáver senão pelo império de uma força estranha ou das grandes dedicações, todos sabem que o contato daquele corpo em dissolução é sumamente nocivo à nossa saúde, à economia de nossa vida, e entretanto nem todos lembram-se que esse pedaço de matéria que se decompõe arredado alguns passos apenas, vai atuar do mesmo modo sobre nossa atmosfera e sobre a nossa própria vida. (A Província do Espírito-Santo, 1882, ed. 36)
Além de reclamar do perigo à saúde provocado pelos enterramentos à moda antiga, os políticos se referiram aos corpos como “pedaços de matéria”, cuja permanência em espaços inapropriados poderia ameaçar a vida da comunidade. Utilizando a terminologia científica para referir-se aos corpos dos cristãos, o texto de Freire e Nunes fornece o tom do nível de avanço do discurso secular sobre o imaginário religioso a respeito da morte àquela época:
Há certas necessidades públicas que embora se imponham ao espírito das populações, contudo já por que não se pode palpar dia a dia os prejuízos derivados do adiamento de sua satisfação, já pelo desleixo com que nas cidades atrasadas se encara muitos dos fatores das desgraças sociais, cujo plano de ação não se passa aos olhos de todos, e por ser inobservável é menos considerável, por estas e outras razões vai sendo protelado indefinidamente o estudo dos meios concernentes a obviar os males resultantes da permanência de tais necessidades, sobre os quais o mais
13 O jornal "A Província do Espírito Santo" foi fundado por Cleto Nunes Pereira e José M. C. Muniz Freire, proeminentes figuras do cenário político capixaba. De acordo com Thiago Z. Barros (2007), esse periódico assumira uma postura combativa em defesa do progresso do país e faria um jornalismo fora dos padrões da imprensa oficial.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
285
das vezes inconscientemente todos estão [sic] acordes.
A remoção dos cemitérios para um ponto mais distante da capital pode ser efetuada sem o peso de um compromisso superior, com o qual nas suas atuais circunstâncias financeiras a província por si só não poderia sobrecarregar, se todas as diversas corporações religiosas, irmandades e confrarias desta capital, que são imediatamente interessadas aliás, unissem os seus contingentes de acordo com a câmara municipal e com um auxilio muito menos oneroso, que lhes seria regateado, dos cofres provinciais. (A Província do Espírito-Santo, 1882, ed. 36)
As necessidades públicas deveriam se sobrepor às crenças e às superstições individuais. A associação feita entre os antigos hábitos de enterrar nos cemitérios contíguos às igrejas com o atraso, o velho e o retrógrado, demonstram o esforço destes jornalistas no sentido de deslegitimar algumas práticas que insistiam em permanecer no imaginário dos cidadãos na penúltima década do século XIX.
Do final da década de 1840 até o início dos anos 1880, o problema dos enterramentos nas igrejas – e dos cemitérios a elas contíguos - esteve presente como assunto a ser tratado pelos grupos dirigentes capixabas. Envolvendo delicadas concepções cristãs a respeito do próprio sentido da morte, este era um debate que encontrava nas sensibilidades – na forma de sentir e avaliar cheiros e sentimentos - um importante vetor de interpretações e de disputas.
Se no início essas discussões ainda cogitavam conciliar de maneira harmônica os antigos rituais com os cânones da ciência, ao longo das décadas de 1860, 1870 e 1880 a necessidade de combater o cheiro da morte – e os perigos a ele relacionados – se tornara uníssono no discurso de jornalistas, políticos e médicos preocupados em prover a saúde e o bem-estar aos seus concidadãos.
Com o argumento de combate aos cheiros e às moléstias, a morte aos poucos deixava de ser um assunto de crença individual – da alçada da igreja e das irmandades – e tornava-se objeto de preocupação do público e da comunidade de cidadãos. Em outras palavras, ao longo do século XIX capixaba a morte afastou-se gradualmente de
Das utopias ao Autoritarismo
286
um domínio exclusivo do sagrado, para ser esquadrinhada e gerida de acordo com os ditames do moderno saber científico.
Esse processo de despersonalização dos sentidos do além vida fica ainda mais claro se nos debruçarmos sobre os contornos que a morte – entendida como objeto de gestão – passou a ter, sobretudo, entre os dirigentes capixabas ao longo deste período.
Referências:Fontes:
Jornais
Rio de Janeiro:
DIÁRIO FLUMINENSE- 1825
Espírito Santo:
CORREIO DA VICTÓRIA- 1849; 1850; 1871.
JORNAL DA VICTÓRIA- 1864; 1867.
A PROVÍNCIA DO ESPÍRITO-SANTO- 1882.
O ESPÍRITO-SANTENSE- 1871; 1883.
Documentos Oficiais:
Relatórios de presidente de província apresentados a Assembleia Legislativa Provincial- 1849, 1854, 1864, 1869, 1872, 1873, 1874, 1875, 1877, 1878, 1883, 1896, 1911, 1912, 1913.
Bibliografia:
AMORIM, Joaquim Pires de. A trajetória dos partidos políticos capixabas até 1930. Revista do Instituto Jones dos Santos Neves, nº 1, p. 28-29, 1985.
BARROS, Thiago Zanetti de. Imigração estrangeira no jornal A Província do Espírito Santo (1882/1889). 2007. 130 f. Dissertação (Mestrado em História) - Programa de Pós-Graduação em História Social das Relações Políticas, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2007.
CORBAIN, Alain. Saberes e odores: o olfato e o imaginário social nos séculos
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
287
XVIII e XIX. São Paulo: Companhia das Letras. 1987.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. São Paulo: Graal, 2012.
JASMIN, Marcelo Gantus e JÚNIOR, João Feres (org.). História dos Conceitos: debates e perspectivas. Rio de Janeiro: Editora PUC-Rio; Edições Loyola; IUPERJ, 2006.
KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto; PUC-Rio, 2006.
MATTEDI, José Carlos. A imprensa capixaba no século XIX. In: BRITES, J. G. (Org.). Aspectos históricos da imprensa capixaba. Vitória: Edufes, 2010, p. 24-43.
MATTOS, Ilmar Rohloff de. O Tempo Saquarema. São Paulo: Hucitec, 1987.
REIS, João José. A morte é uma festa: ritos fúnebres e revolta popular no Brasil do século XIX. São Paulo: Companhia das Letras, 1991.
SCOLFORO, Jória Motta. O último grão de areia na ampulheta da vida: poder, política e falecimentos nos periódicos “Correio da Victoria”, “Jornal da Victoria” e “O Espírito - Santense”. 2011. 129 f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História Social das Relações Políticas, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2011.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
289
O Barão do Itapemirim e a política indigenista no sul do Espirito Santo
Tatiana Gonçalves de Oliveira1
IntroduçãoCom a promulgação do novo Regulamento das Missões de
1845 se restitui oficialmente o cargo de Diretor e estabeleceu-se em todas as províncias do Império uma Diretoria Geral de Índios, que deveria cuidar do estabelecimento dos aldeamentos e da catequese e civilização dos índios. É a partir desse novo cenário político que pretendemos analisar a atuação da Diretoria Geral dos Índios no Espírito Santo sob a gestão do primeiro barão do Itapemirim, Joaquim Marcelino da Silva Lima.
O barão do Itapemirim: um nobre da terraPela biografia do barão de Itapemirim feita por Levy Rocha
(1866) sabemos que ele nasceu em uma família pouco abastada, tendo vindo com o pai, um músico, para o Espírito Santo por volta de 1802. O Correio Mercantil trouxe em suas páginas outras informações interessantes sobre Joaquim Marcelino da Silva Lima.
O Sr. Barão de Itapemirim, desde a idade de 18 anos, tem prestado ao Brasil valiosos serviços. Sendo nesta idade nomeado tenente de milícias, foi encarregado pelos governadores da província não só dos cortes de madeiras para obras públicas, mas da vigilância dos destacamentos e obstar a invasão dos gentios [...] Já no tempo do reinado do Sr. D. João VI, S. Ex. foi condecorado com o habito da ordem de cristo como justa remuneração de seus serviços, elevado a comendador da mesma ordem pelo Sr. D. Pedro I, e com o oficialato da imperial ordem da Rosa e título
1 Doutoranda em História no Programa de Pós-graduação da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, desenvolvendo tese acerca do processo de expropriação das terras indígenas no Espírito Santo, na segunda metade do século XIX. Bolsita Faperj, email:[email protected].
Das utopias ao Autoritarismo
290
de barão com grandeza por sua majestade o Imperador D. Pedro II (CORREIO MERCANTIL, 1859, p.2).
Joaquim Marcelino da Silva Lima, segundo essa notícia do Correio Mercantil e também de acordo com a crônica escrita por Basílio Daemon (1894-1893), foi tenente do Segundo Regimento de Milícias do Rio Doce, desde julho de 1813, atuando, entre outras coisas, na “pacificação” dos índios do rio Doce. O título de barão só conseguiu 28 anos depois. Segundo o jornal Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial do Rio de Janeiro (1861, p.54), Silva Lima obteve o título de barão por decreto de 15 de novembro de 1841. Mas foi apenas em 1849 que ele foi agraciado com a honra de grandeza. O baronato com grandeza, concedido por D. Pedro II, colocou o barão de Itapemirim entre os “grandes do Império” (OLIVEIRA, 2016).
Ser um “grande” e “titular” do Império, ou seja, possuir um título com a honra de grandeza, significava possibilidade de acesso à corte e ao Imperador. Jéssica Mafrim Oliveira analisou, em sua dissertação de mestrado, a importância da concessão de títulos de nobreza no Segundo Reinado do Brasil. Trabalhou a relação dessas concessões por províncias, especificamente nas mais importantes, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O tipo de título concedido também variou muito por província. Os títulos de nobreza em ordem de grau, de baixo pra cima, era barão sem grandeza, barão com grandeza, visconde sem grandeza, visconde com grandeza, conde, marquês e duque. Estes “três últimos títulos possuíam inerentemente a qualidade de grandeza” (OLIVEIRA, 2016, p.18).
Para Oliveira (2016, p.16), a diferença fundamental entre a nobilitação no Império do Brasil em relação àquela praticada no Império Português é que “a partir de 1822 os títulos não mais poderiam ser de juro e herdade, sendo doravante, apenas honoríficos”, ou seja, os títulos não eram mais hereditários e valia apenas para o agraciado, e após sua morte o título retornava para o patrimônio heráldico do Império. Além disso, o agraciado com o título de nobreza no Império Português obtinha vários privilégios financeiros, como isenção de impostos, o que não ocorria no Império do Brasil.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
291
A autora também apresenta os critérios utilizados para a concessão de títulos pelo imperador. Estes poderiam variar entre “serviços prestados ao Estado, destinados aos políticos e militares e serviços prestados à humanidade” (OLIVEIRA, 2016, p.23). O barão de Itapemirim certamente se enquadrava no primeiro critério, pois como vimos desde os 18 anos já atuava prestando serviços ao Estado, como tenente do Segundo Regimento de Milícias do Rio Doce. Contudo, a honra de grandeza só foi adquirida por Marcelino da Silva Lima em 1849, quando ele já era Diretor Geral dos Índios e vice-presidente da Província do Espírito Santo. Como Diretor Geral de Índios ele também se enquadrava no segundo critério, já que no discurso oficial do indigenismo a catequese dos indígenas figurava como um serviço à humanidade, pois retirava àqueles do seu estado de “selvageria” e lhes introduzia os princípios da “civilização”.
Segundo Levy Rocha, foi por volta de 1827 que Joaquim Marcelino da Silva Lima saiu de Benevente, atual Anchieta, para morar na vila de Itapemirim. Não se sabe ao certo se nessa data já estava casado com sua segunda esposa, Leocádia Tavares Brum, que passou a assinar Tavares Silva após seu casamento. Seu segundo matrimônio foi importante para estabelecer alianças com uma das mais importantes famílias de fazendeiros da região sul, os Tavares Brum. O pai de Leocádia, José Tavares de Brum2, obteve uma vasta sesmaria ao longo do rio Itapemirim, por volta de 1799, onde fundou um considerável patrimônio, com sede na propriedade Fazendinha (O ESTADO DO ESPÌRITO SANTO, 1895, p.2). A partir da aliança local que fez com os Tavares Brum, por meio do seu casamento, o futuro barão de Itapemirim foi ocupando diversos cargos políticos, tendo ao longo tempo, como de vice-presidente e substituindo a 14 presidentes (CORREIO MERCANTIL, 1859, p.2).
Joaquim Marcelino da Silva Lima foi eleito 17 vezes primeiro vice-presidente da província do Espírito Santo, então é possível que ele tenha substituído o presidente da província por mais
2 José Tavares de Brum também se destacava na esfera política local, atuando como vereador na Câmara de Itapemirim, entre 1824 e 1829 e foi eleito o primeiro juiz de paz de Itapemirim (1829-1832).
Das utopias ao Autoritarismo
292
de 8 vezes. Mais importante do que contabilizar a quantidade de vezes que o barão do Itapemirim administrou a província do Espírito Santo, apesar desse dado ser relevante, é entender a importância que a sua posição, enquanto primeiro vice-presidente da província e constante substituto na chefi a do executivo provincial, foi decisiva para a consolidação de seu bando nas disputas políticas que se confi guravam. Nesse sentido, é preciso discutir o peso político do vice-presidente como membro de uma elite local. No caso do Espírito Santo essa discussão se faz muito importante porque os vice-presidentes assumiram a administraram da província numa porcentagem muito próxima a dos presidentes escolhidos pelo imperador, como podemos observar no gráfi co abaixo.
Fonte: Daemon, Basílio, 1834-1893. Província do Espírito Santo: sua descoberta, história cronológica, sinopse e estatística. Coordenação, notas e transcrição de Maria
Clara Medeiros Santos Neves. – 2.ed. – Vitória : Secretaria de Estado da Cultura; Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, 2010.
Ao analisar o papel dos vice-presidentes na organização do poder local no Mato Grosso, no período entre 1834 e 1857, Ernesto Cerveira de Sena demonstra como naquela província o vice-presidente não era um mero substituto. Nesse sentido, Sena enfatiza a importância desses agentes políticos na organização do poder local no Mato Grosso. A esse respeito ele também enfatiza que o posto de vice-presidente era “ambicionado pelos grupos locais, ao mesmo tempo em que servia de moeda de troca, seja entre o governo central e os
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
293
homens públicos da região, seja entre os próprios grupos políticos do lugar” (SENA, 2012, p.76).
O cargo de vice-presidente foi criado pelo Ato Adicional de 1834, que também instituía um regimento para os presidentes de província, função já existente desde 1823. Enquanto os presidentes eram homens de fora da província, escolhidos pelo Imperador para atuarem como seus “delegados” (SLEMIAN, 2007, p.20), os vice-presidentes eram sugeridos pela Assembleia provincial, fazia-se uma lista com seis nomes que era levada para a escolha do imperador (SLEMIAN, 2007, p.21). Segundo Sena, o vice-presidente era quase sempre membro da elite política provincial, que tinha seus correligionários na Assembleia Legislativa Provincial (SENA, 2012, p.81).
A trajetória política de Joaquim Marcelino da Silva Lima foi marcada pela formação de um importante núcleo de apoiadores que mantinham sua aliança com o barão em troca de favores e cargos políticos. Além de ter sido escolhido várias vezes primeiro vice-presidente, exercer o cargo de Diretor Geral de Índios por aproximadamente 14 anos, ocupado a presidência da província do Espírito Santo por muitos anos, Silva Lima também foi deputado provincial em cinco legislaturas (DAEMON, 2010).
A Diretoria Geral dos Índios no Espírito Santo (1846-1860)O Diretor Geral de Índios era nomeado pelo Imperador.
Na província do Espírito Santo o primeiro Diretor Geral foi um dos políticos mais influentes da região, Joaquim Marcelino da Silva Lima, o barão do Itapemirim. O recorte escolhido para analisarmos a atuação da Diretoria Geral dos Índios no Espírito Santo, durante a gestão do barão do Itapemirim, entre 1846 e 1860, se deu em função das limitações dadas pelas próprias fontes para outros períodos. As correspondências da Diretoria Geral dos Índios, encontradas no Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, correspondem exatamente ao período em que o barão esteve à frente daquela administração, ou seja, 1846-1860. A partir desta data não encontrei
Das utopias ao Autoritarismo
294
uma documentação específica da Diretoria, sendo que a questão dos povos indígenas ficou dispersa em outros documentos, como aqueles relativos à política de terras e colonização.
Segundo Levy Rocha, por decreto de D. Pedro II, de 2 de Julho de 1846, José Marcelino da Silva Lima foi nomeado Diretor Geral dos Índios da província do Espírito Santo, gozando das honras de Brigadeiro. Já Sônia M. Demoner menciona o ano de 1845 como data inicial do exercício de José Marcelino da S. Lima na Diretoria Geral dos Índios. Não encontrei o documento citado por Rocha, e Demoner apenas menciona a data sem nomear a fonte de sua informação. No entanto, em minha investigação documental das Correspondências relativas à Colonização e Catequese (1843-1860), a rubrica de José Marcelino da Silva Lima como Diretor Geral dos Índios só aparece entre 1846 e 1860.
A tabela nos dá uma dimensão de como as informações acerca da Diretoria Geral de Índios ficou escassa a partir de 1860, quando o barão do Itapemirim faleceu. Interessante notar também que um dos maiores adversários locais do barão, Comendador João Nepomuceno Gomes Bittencourt , assumiu a Diretoria Geral dos Índios e nela ficou até 1867, quando o filho do barão do Itapemirim foi nomeado para o cargo. Além de ter exercido diversos cargos políticos, o barão do Itapemirim era dono de uma das fazendas mais ricas e prósperas da região sul do Espírito Santo, na então vila de Itapemirim. Levy Rocha nos diz que sua fortuna era uma das maiores daquela região, que “foi proprietário de diversas fazendas e algumas centenas de escravos e os seus domínios estendiam por muitas léguas no sul do Estado, possuindo, ainda, a seu serviço, dois navios costeiros” (RELATÓRIO PROVINCIAL, 1867, p.41). Todavia, é ao menos curioso que alguém com uma posição política consolidada e uma fortuna considerável tenha tido interesse em exercer por 14 anos o posto de Diretor de Índios.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
295
Tabela I: Diretores Gerais de Índios do Espírito Santo (1846-1889)Nome Ano
Joaquim Marcelino da Silva Lima Entre 1846 e 1847
Gaspar Manoel de Figueiroa (interino)3 Entre 1848 e 1849
Joaquim Marcelino da Silva Lima Entre 1850 e 1854Doutor Rufino Ruiz Lapa
(interino)4 1855
Joaquim Marcelino da Silva Lima Entre 1856 e 1860 Sem Informação Entre 1861e 1866
Comendador João Nepomuceno Gomes Bittencourt ?Até 18675
Capitão Joaquim Marcelino da Silva Lima (filho do falecido barão
de Itapemirim)1867
Sem Informação Entre 1868 e 1885Comendador Domingos Vicente
Gonçalves de Souza 1886-1889
Fonte: APEES (Arquivo Público do Estado do Espírito Santo).Correspondências relativas à Colonização e Catequese, 1848-1860. Fundo Governadoria, série 751,
livro 387.
Durante a gestão do barão do Itapemirim como Diretor Geral dos Índios os dois principais aldeamentos da província, o do Mutum, no rio Doce e o Imperial Afonsino, no rio Castelo, foram criados. Apesar do grande número de indígenas que habitavam o
3 Substituiu ao barão de Itapemirim na Diretoria Geral dos Índios enquanto o mesmo tratava da saúde na corte.
4 Substituiu ao barão de Itapemirim na Diretoria Geral dos Índios enquanto o mesmo tratava da saúde na corte.
5 De acordo com o Relatório do presidente de província, Carlos de Cerqueira Pinto, no ano de 1867, obtive a informação de que naquele ano o comendador João Nepomuceno Gomes Bittencourt obteve a demissão do cargo de Diretor Geral de Índios, sendo substituído pelo filho do falecido barão do Itapemirim, o capitão Joaquim Marcelino da Silva Lima. <http://www-apps.crl.edu/brazil/provincial/esp%C3%ADrito_santo>. Acesso em 28/08/2017
Das utopias ao Autoritarismo
296
Espírito Santo, Vânia Maria Losada Moreira destaca que estes estavam em diferentes estágios de contato e de transculturação, governados por meio de regras legais ou costumeiras (MOREIRA, 2010).
O Barão do Itapemirim e as terras dos índios de Benevente: uma querela com a colônia do Rio Novo
Havia uma diversidade tão grande de povos indígenas na província do Espírito Santo no século XIX, que a genérica denominação Botocudo ou Purí não consegue exemplificar. E como enfatizou Vânia Moreira, eles estavam inseridos em distintos estágios de contato com a sociedade nacional. A Diretória Geral dos Índios foi criada no Espírito Santo em 1846 sob a gestão do barão do Itapemirim, que nela permaneceu até seu falecimento em 1860. Durante esse período encontramos na documentação um interessante conflito envolvendo os índios da vila de Benevente, atual Anchieta, e a colônia do Rio Novo. Nessa querela o barão do Itapemirim se colocou do lado de seus tutelados.
A colônia do Rio Novo foi um empreendimento particular da Associação Colonial Agrícola do Rio Novo, que obteve autorização do imperador para a fundação deste estabelecimento, por meio do Decreto Imperial 1.566, de 24 de fevereiro de 1855 (BRASIL, COLEÇÃO LEIS DO IMPÉRIO, 1855, p.154). O presidente da Associação, Caetano Dias da Silva, era português e grande proprietário em Itapemirim e, segundo nos informa Johann Jakob Von Tschudi (1860), tinha parentesco com a família Bittencourt, que como vimos, era a grande opositora dos Silva Lima. A sede da nova colônia foi na fazenda de Caetano Dias da Silva, denominada Limão. O governo Imperial concedeu 20 léguas de territórios devolutos, entre os rios Itapemirim e Benevente, para a fundação da colônia e a vinda dos primeiros imigrantes.
A querela que surgiria em torno da fundação desta colônia envolveu as terras dos índios de Benevente. Estas, vendidas para Caetano Dias da Silva para o estabelecimento da sobredita colônia,
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
297
estavam ocupadas por indígenas, tendo sido registradas pelo Diretor Geral de Índios, Barão de Itapemirim, em 28 de março de 1855.
O barão de Itapemirim, como Diretor Geral dos Índios desta província do Espírito Santo, em observância dos artigos 91, 94 e 100, do Cap. 9º do Regulamento de 30 de Janeiro de 1854, para execução da Lei nº 601 de 18 de Setembro de 1850, declara que os índios do município de Benevente são há muitos anos senhores e possuidores das terras compreendidas entre a margem do norte do rio Itapemirim e a lagoa denominada Maimbá[...] (REGISTRO PAROQUIAL DE TERRAS DE BENEVENTE, 1855)
O Barão de Itapemirim registrava as terras daqueles indígenas em consonância com as determinações da Lei de Terras de 1850 e de seu regulamento de 1854. Segundo Márcia Motta, a Lei de Terras de 1850, regulamentada pelo Decreto Nº 1.318, de 30 de janeiro de 1854 buscou resolver as situações ligadas à ocupação das terras no Império (MOTTA, 1998, p.160). Além disso, determinou os meios de acesso e outras questões relativas à reserva de porções de terras devolutas6 para colonização, abertura de estradas, fundação de povoações e para o aldeamento de índios (MOTTA, 1998, p.141). Todos os possuidores de terras a partir da sobredita lei deveriam registrar as suas terras, qualquer que fosse o título. O Registro Paroquial de Terras servia, assim, como uma declaração de posse, mas não garantia a propriedade, sendo apenas a primeira etapa de um longo processo, custoso e demorado.
O art. 94º do Decreto de 30 de janeiro de 1854, que regulamentou a Lei de Terras de 1850, foi citado pelo barão do Itapemirim para justificar o registro de terras possuídas por indígenas considerados “menores”. Segundo este artigo, os registros devem ser feitos por “seus pais, tutores, curadores, diretores ou encarregados da administração de seus bens” (VASCONCELLOS, 1885, p.80). Por que o barão do Itapemirim acionou os mecanismos legais do Decreto de 30
6 Segundo Márcia Motta, a Lei de Terras de 1850 definiu como devolutas todas as terras que não estavam sob os domínios públicos e nem pertencessem a nenhum particular, independente da ocupação. O acesso a essas terras só se daria, em teoria, por compra.
Das utopias ao Autoritarismo
298
de janeiro de 1854 para defender a legitimidade das posses dos índios de Benevente? A hipótese é que o Diretor Geral de Índios tinham esses índios incluídos nas suas redes de alianças.
Para Márcia Motta, “registrar ou não sua terra, contar ou não com o reconhecimento de seus confrontantes era, em suma, uma questão difícil e estava relacionada á existência ou não de uma teia de relações pessoais já consolidadas, capaz de legitimar os limites territoriais declarados” (MOTTA, 1998, p.72). O barão registrou as terras dos índios de Benevente sem mencionar os confrontantes. A questão que se coloca é por que o barão de Itapemirim compra essa briga contra o empreendimento colonial do Rio Novo e a favor dos indígenas de Benevente? Estes índios tinham realmente direitos sobre aquelas terras? Essas questões são relevantes, primeiramente, para compreendermos o quanto as alianças com os indígenas do sul da província eram importantes para as redes de poder do barão de Itapemirim e em segundo, para a compreensão das políticas indígenas acionadas para a manutenção dos direitos originários sobre suas terras.
O barão do Itapemirim, além de recorrer à Lei de Terras e seus regulamentos para registrar as terras dos índios de Benevente, partia do princípio de que eles detinham sobre as terras um direito que se originava da qualidade de primeiros e naturais habitantes das terras do Brasil. Logo, o direito daqueles índios de Benevente se fundava justamente no caráter étnico. Segundo o jurista Mendes Júnior, “[...] aos índios estabelecidos não há uma simples posse, há um título imediato de domínio, não há, portanto, posse a legitimar, há domínio a reconhecer [..]” ( MENDES JÙNIOR, 1912, p.59).
O diretor da colônia do Rio Novo e seus advogados utilizaram o discurso da descaracterização étnica dos índios de Benevente para questionar o direito deles sobre as terras em litígio, afirmando que aqueles indígenas estavam confundidos à população nacional (CORRESPONDÊNCIA DA REPARTIÇÃO GERAL DE TERRAS, 1855, p.22). Esse discurso foi utilizado em várias situações que envolviam a tomada das terras indígenas.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
299
Em abril de 1855 o governo Imperial enviara o tenente João Joaquim da Silva Guimarães para medir as terras concedidas ao empresário Caetano Dias. No entanto, o Diretor Geral dos Índios, que na época também ocupava a presidência da província, mandou suspender os trabalhos da demarcação (CORRESPONDÊNCIA DA REPARTIÇÃO GERAL DE TERRAS, 1855, p.22). Ao embargar a demarcação daquelas terras, o barão do Itapemirim foi acusado por seus opositores de estar protegendo “índios de nome”7 e de ter interesses obscuros sobre aqueles territórios. A querela pôde ser recuperada analisando alguns jornais da corte e da província do Espírito Santo. Além disso, achamos alguns rastros desse embate na pauta dos debates da Assembleia Geral.
De simples polarizações com discursos e acusações nos principais jornais da província e da corte, a questão da gestão do barão do Itapemirim transformou-se, pouco depois, em pauta dos deputados na Assembleia Geral Legislativa. Dentro do expediente da sessão do dia 25 de agosto de 1857 estava em discussão sobre as denúncias feitas contra o barão pelos “males que tem causado a colônia do Rio Novo” (DIÁRIO DO RIO DE JANEIRO, 1857, p.2). A sessão foi adiada e não encontrei mais registros de possíveis desdobramentos desse debate. Contudo, as denúncias contra a forma com que o barão de Itapemirim lhe dava com a colônia do Rio Novo continuaram.
No discurso deputado Pereira Pinto à Câmara dos Deputados, na sessão de 25 de agosto de 1857, ele teceu algumas considerações a respeito do desenvolvimento da província do Espírito Santo. Mencionou o problema da distinção entre pequenas e grandes províncias, por sua arrecadação e representação e das dificuldades encontradas pelo Espírito Santo em adquirir recursos do governo imperial. Segundo o deputado, uma das principais fontes para o crescimento da província do Espírito Santo estava no desenvolvimento
7 Manuela Carneiro da Cunha (2012) nos mostra como o direito originário dos indígenas a suas terras foi burlado ao longo da História. No período imperial muitos subterfúgios foram lançados para esse fim, um dos mais recorrentes era o discurso de uma aparente assimilação, considerando os índios totalmente integrados à sociedade nacional, e, portanto, sem direito a suas terras, já que eram classificados como “índios de nome”.
Das utopias ao Autoritarismo
300
da colonização (JORNAL DO COMÉRCIO, 1857, p.1). Continuou sua fala expondo os problemas que o projeto de colonização estava sofrendo por falta de investimento do governo geral, pondo em destaque a questão da colônia do Rio Novo e a interferência do barão de Itapemirim no desenvolvimento da mesma.
No entendimento do deputado, o primeiro entrave que o barão de Itapemirim pôs ao andamento da colônia do Rio Novo consistiu em uma alegação de que as terras que Caetano Dias havia contratado com o governo imperial pertenciam ao patrimônio dos índios de Benevente (JORNAL DO COMÉRCIO, 1857, p.1). O presidente da sessão alertava ao deputado sobre o desvio do assunto, mas o mesmo continuou sua exposição e observava que “o Sr. Barão de Itapemirim exercendo o lugar de diretor dos índios, desde 10 ou 12 anos, jamais lembrou-se de pugnar pelos seus interesses, antes sempre consentiu que sobre esses terrenos se tivessem posses, e ele mesmo as fez, como consta” (JORNAL DO COMÉRCIO, 1857, p.1).
A questão em torno da não medição dos terrenos vendidos para a Associação colonial Rio Novo foi também pauta no jornal Correio Mercantil, no ano de 1855. A crítica recaia sobre o então presidente da província do Espírito Santo, Sebastião Machado Nunes, que segundo o jornal, não era um presidente, “mas somente instrumento cego de um indivíduo que sabe aproveitar-se das circunstâncias” (CORREIO MERCANTIL, 1855, p.1). O alvo direto da foi o barão de Itapemirim acusado de supostamente ter manipulado Machado Nunes a nomear um parente seu para juiz comissário para os municípios de Itapemirim, Anchieta e Guarapari. O jornal concluiu dizendo que o Diretor Geral de Índios era um “homem envolvido em questões de posse de terreno” (CORREIO MERCANTIL, 1855, p.1). Certamente o Jornal queria expor que Sebastião Machado Nunes, como aliado do barão de Itapemirim, usou sua posição como presidente de província para favorecer a nomeação de outros aliados do barão em cargos importantes, como o de juiz comissário.
O Jornal Correio Mercantil publicou, em 6 de maio de 1855, um abaixo-assinado de alguns fazendeiros e lavradores do município de Itapemirim contra barão do Itapemirim. Com o título
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
301
“Súplica”, acusavam o Diretor Geral dos Índios de pretender tornar os índios “legítimos possuidores das terras compreendidas entre os rio Itapemirim e o de Benevente e isto sob o pretexto de um dos antigos reis do Reino Unido” (CORREIO MERCANTIL, 1855, p.1). Segundo a acusação, o Diretor Geral dos Índios teria entrado com recurso ao governo para impedir a medição de vinte léguas de terrenos devolutos vendidos pelo governo imperial ao major Caetano Dias da Silva.
Os fazendeiros argumentavam dois motivos para justificar seus direitos às posses legítimas daquelas terras. Em primeiro lugar porque “são possuidores de suas respectivas propriedades por si e por seus antepossuidores, desde longas datas, o que só basta para firmar o seu direito” (CORREIO MERCANTIL, 1855, p.1). Segundo, porque o Diretor Geral dos Índios demorou muito tempo para reconhecer aqueles terrenos como sesmaria dos índios de Benevente (CORREIO MERCANTIL, 1855, p.1). O documento deixa claro que esses fazendeiros que viviam na terra registrada para os índios de Benevente eram posseiros que invadiram aqueles terrenos e reclamavam pra si o direito sobre parte dessas terras. Esse cenário de conflitos pelas terras da antiga sesmaria indígena de Benevente envolveu diferentes interesses: dos próprios índios, do empreendedor da colônia Rio Novo, do barão do Itapemirim e de posseiros que viviam naquelas terras.
Em defesa do embargo feito pelo Diretor Geral de Índios, barão do Itapemirim, à demarcação de terras na sesmaria indígena, o jornal Correio da Vitória afirmava, em suas páginas que a sociedade do Rio Novo e seus advogados teriam, juntamente com a presidência da província, ignorado o mais essencial: que as terras pertenciam aos índios de Benevente. De acordo com o jornal, ignoraram que as doações e sesmarias concedidas aos índios “foram restabelecidas e confirmadas, não só antes, mas como depois da incorporação da capitania ao domínio da coroa [...]” (CORREIO DA VICTÓRIA, 1855, p.1). Salientou-se ainda que, já em 1759 aquelas terras foram demarcadas e estavam na posse dos índios da então aldeia Reritiba, depois transformada em vila com o nome de Nova Benevente (CORREIO DA VICTÓRIA, 1855, p.1). Mas os advogados da
Das utopias ao Autoritarismo
302
Sociedade do Rio Novo responderam “que a doação de terras para o aldeamento ficou sem efeito por não ter havido tal aldeamento [...]” (CORREIO DA VICTÓRIA, 1855, p.1).
Os advogados estavam errados em afirmar que havia prescrevido o direito dos índios de Benevente sobre suas terras. O reconhecimento do direito dos índios sobre suas terras foi estabelecido para certos grupos, e como demonstra Manoela Carneiro da Cunha, a Lei de Terras de 1850 determinou que as terras dos índios não poderiam ser enquadradas na categoria de devolutas, pois os títulos dos índios sobre suas terras era originário (CUNHA, 2012, p72). Contudo, para além da discussão teórica da lei, Vânia Moreira enfatiza a necessidade de compreendê-la na prática, e de que forma ela afetou a experiência histórica dos índios nos contextos analisados. Ao analisar a aplicação da lei de Terras na província do Espírito Santo, Moreira (2002, p.163) enfatizou que a interpretação da lei foi ambígua, em certos momentos favorecia o direito dos indígenas e em outros os espoliava em favor da colonização. Nesse sentido conclui a historiadora, que a interpretação da lei poderia reconhecer aos índios o título legítimo sobre as terras de antiga sesmaria ou, ao contrário, negá-lo e restituir aquelas terras ao Estado como devolutas.
A Lei de Terras de 1850 seria enfática no sentido de estimular a colonização das terras devolutas, e como colocou Moreira, sua interpretação muitas vezes entendeu sob esse conceito as terras indígenas. O embargo do barão à demarcação das terras dos índios de Benevente para a Colônia do Rio Novo não foi aceito pelo Ministério de Negócios da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, que ponderou, contudo, que fosse fixado um prazo de no máximo seis meses, dentro do qual os posseiros e sesmeiros da terra indígena de Benevente seriam obrigados a legitimar e revalidar suas posses e sesmarias, sob pena de entrarem em comisso, findo o prazo (CORRESPONDÊNCIAS DA REPARTIÇÃO GERAL DE TERRA, 1855).
Apesar da decisão contrária aos índios de Benevente, as terras em litígio só foram demarcadas para a Colônia do Rio Novo em 1862. Segundo nos informa Basílio Daemon (1834-1893), a colônia do Rio Novo passou para o Estado em 1861, com a denominação de
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
303
Imperial Colônia do Rio Novo, sendo dividida em dois territórios. O 1.º Território foi dividido em lotes e vendido a prazo a colonos estrangeiros em 1856, nas adjacências do rio Novo e Itapemirim. Já o 2º Território foi sendo demarcado a partir de 1861, ao longo dos rios Piúma e Benevente.
As críticas à venda das terras dos índios de Benevente continuaram nos jornais, como observamos no Correio da Vitória, já no final do ano de 1855. O jornal afirmava que o governo não poderia vender essas terras, pois “os índios que ainda existem, filhos, netos e sucessores dos primeiros senhores e possuidores dessas doações e títulos, são os verdadeiros donos dessas terras” (CORREIO DA VICTÓRIA, 1855, p.2). Nesse sentido afirmava o Jornal, ancorado na lei de Terras de 1850, que aquelas não eram terras devolutas, uma vez que “os índios de Benevente não só tem, por si e seus descendentes de antiga e nova raça, morada habitual e cultura, como também um solar de foros e nobreza de vila e corpo de governança” (CORREIO DA VICTÓRIA, 1855, p.2). Logo, eram terras com ocupação e cultivo e não entravam na categoria de devolutas.
Considerações FinaisCertamente não podemos esquecer que as acusações contra
o barão de Itapemirim vinham de bandos antagônicos ao dele. Estes grupos eram os mais diversos e variavam desde a escala local, provincial e nacional. Vimos que localmente o barão foi construindo suas redes de influência, casando com a filha de um abastado fazendeiro na vila de Itapemirim, que também se destacava na política local. Na província, o barão foi construindo suas alianças em torno da sua posição política, ora como vice-presidente da província do Espírito Santo, deputado e principalmente, substituindo os presidentes na administração do executivo provincial. Na corte, o barão conseguiu ser notado, foi considerado um dos “grandes do Império” e, portanto, tinha acesso mais facilitado ao Imperador e seus ministros. Logo, não podemos tomar essas denúncias, senão, como constatações da grande influência que o barão de Itapemirim tinha na província do Espírito
Das utopias ao Autoritarismo
304
Santo. A partir destas observações cabe perguntar novamente; por que um homem com o poder e prestígio de Joaquim Marcelino da Silva Lima ficaria por 14 anos no cargo de Diretor Geral de Índios? O registro da correspondência da Diretoria Geral dos Índios nos indica que as ações do barão de Itapemirim como Diretor Geral de Índios eram mais enfáticas e visíveis com os índios do sul da província do Espírito Santo, especialmente os Purí.
A hipótese que procurei sustentar entende que o barão do Itapemirim tinha seu poder e suas redes ancoradas não só em sua riqueza e posição política, mas também em suas alianças, que não se restringiram a seus correligionários políticos na província e na corte, mas se estendiam aos indígenas que tinha sob sua tutela. Ao ficar por 14 anos na administração da Diretoria Geral dos Índios, Joaquim Marcelino da Silva Lima deteve por igual período o controle da mão de obra dos índios aldeados na província do Espírito Santo.
Nas disputas envolvendo as terras dos índios de Benevente o barão do Itapemirim interviu a favor destes e os colocou sob suas redes de proteção. Ao registrar as terras dos índios de Benevente Joaquim Marcelino da Silva Lima comprou uma briga com o empreendimento colonial Rio Novo. Para além de pensar o barão como um “protetor” dos índios, entendemos que ele os tinha sob suas redes de interesse. As terras dos índios de Benevente eram importantes nas disputas entre o barão do Itapemirim e o presidente da colônia Rio Novo, Caetano Dias da Silva. O barão conseguiu protelar por um tempo a demarcação daquelas áreas em disputa e com isso favoreceu os índios de Benevente, contudo, o processo de expropriação daquelas terras continuou e se intensificou com a morte do Diretor Geral de Índios em 1860.
ReferênciasDocumentos do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo:
APEES (Arquivo Público do Estado do Espírito Santo). Registros Paroquiais de Terras de Benevente. Fundo Agricultura, Série DCTC, Livro 75, 1854-1857.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
305
APPES (Arquivo Público do Estado do Espírito Santo). Correspondências relativas à Colonização e Catequese, 1843-1845. Fundo Governadoria, série 751, livro 386.
APPES (Arquivo Público do Estado do Espírito Santo). Correspondências relativas à Colonização e Catequese, 1848-1860. Fundo Governadoria, série 751, livro 387.
Correspondências da Repartição Geral de Terras com a presidência da Província do Espírito Santo. Fundo Governadoria, Série Novas Séries, Livro nº 4, 20 de dezembro de 1855.
Correspondências da Repartição Geral de Terras com a presidência da Província do Espírito Santo. Fundo Governadoria, Série Novas Séries, Livro nº 4, 27 de dezembro de 1855.
Jornais:
Almanak Administrativo, Mercantil e Industrial. Rio de Janeiro, 1861, p.54. Disponível em Biblioteca Nacional Digital: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. Acesso em 5 de setembro de 2017 .
Correio da Victoria. Vitória, nº89, Ano VII, 13 de outubro de 1855. Disponível em Biblioteca Nacional Digital: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=218235>. Acesso em 4 de setembro de 2017.
Correio Mercantil. Rio de Janeiro, Ano XII, nº 184, 5 de julho de 1855, p.1. Disponível em Biblioteca Nacional Digital: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. Acesso em 5 de setembro de 2017.
Correio Mercantil. Rio de Janeiro, Ano XII, nº 124, 6 de maio de 1855, p.1. Disponível em Biblioteca Nacional Digital: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. Acesso em 5 de setembro de 2017.
Correio Mercantil. Rio de Janeiro, Ano XVI, nº 267, 30 de setembro de 1859, p.2. Disponível em Biblioteca Nacional Digital: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. Acesso em 5 de setembro de 2017.
Diário do Rio de Janeiro. Ano XXXVII, nº 165, 18 de junho de 1857, p.2. Disponível em Biblioteca Nacional Digital: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. Acesso em 5 de setembro de 2017.
Diário do Rio de Janeiro. Ano XXXVII, nº 232, 26 de agosto de 1857, p.2. Disponível em Biblioteca Nacional Digital: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. Acesso em 5 de setembro de 2017.
Das utopias ao Autoritarismo
306
Jornal do Comércio. Rio de Janeiro, Ano XXXII, nº 240, 31 de agosto de 1857, p.1. Disponível em Biblioteca Nacional Digital: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>. Acesso em 5 de setembro de 2017.
O Estado do Espírito-Santo. Vitória, Ano XIV, S/N, 10 de novembro de 1895, p.2. Disponível em Biblioteca Nacional Digital: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/.Acesso em 5 de setembro de 2017.
Bibliografia:
BRASIL. Decreto de 24 de Fevereiro de 1855 - Autoriza a incorporação e aprova os Estatutos da Companhia denominada – Associação Colonial do Rio Novo. Coleção de Leis do Império do Brasil – 1855- Tomo XVI, Parte I.
Daemon, Basílio, 1834-1893. Província do Espírito Santo: sua descoberta, história cronológica, sinopse e estatística. Coordenação, notas e transcrição de Maria Clara Medeiros Santos Neves. – 2.ed. – Vitória: Secretaria de Estado da Cultura; Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, 2010.
MENDES JÚNIOR, João (1912). Os indígenas do Brazil, seus direitos individuais e políticos. São Paulo: Typ. Hennies Irmão.
TSCHUDI, Johann Jakob Von. Viagem à província do Espírito Santo: imigração e colonização suíça 1860. Vitória : Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, 2004.
VASCONCELLOS, José Marcelino Pereira de. Livro das Terras ou coleção da Lei, Regulamentos e Ordens. 4º ed. Rio de Janeiro: H. Laemmert, 1885.
Bibliografia Citada:
CUNHA, Manuela Carneiro da. Índios no Brasil: história, direitos e cidadania. São Paulo: Claro Enigma, 2012.
DEMONER, Sonia Maria. A presença de missionários capuchinhos no Espírito Santo - século XIX. Vitória, FCAA, 1983.
MOREIRA, Vânia Maria Losada. Terras indígenas do Espírito Santo sob o regime territorial de 1850. Revista Brasileira de História (Impresso), São Paulo, v. 22, n.43, p. 153-169, 2002.
MOREIRA, Vânia Maria Losada. A serviço do Império e da nação: trabalho indígena e fronteiras étnicas no Espírito Santo (1822-1860). Anos 90 (UFRGS. Impresso), v. 17, p. 13-54, 2010.
MOTTA, Márcia M. M. Nas fronteiras do poder: conflito de terra e direito à terra no Brasil do século XIX. Rio de Janeiro: Vício de Leitura: Arquivo
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
307
Público do Estado do Rio de Janeiro, 1998.
MOTTA, Kátia Sausen da. Juiz de paz e cultura política no início do Oitocentos (Província do Espírito Santo, 1827-1842). Dissertação (Mestrado em História) – Universidade Federal do Espírito Santo, Centro de Ciências Humanas e Naturais, 2013.
OLIVEIRA, Jessica Mafrim de. Entre “grandes” e titulares: os padrões de nobilitação no Segundo Reinado. (Dissertação de Mestrado)- Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, 2016.
SENA, Ernesto Cerveira de. Além de eventual substituto. A trama política e os vice-presidentes em Mato Grosso (1834-1857). Almanack. Guarulhos, n.04, p.75-90, 2º semestre de 2012.
SLEMIAN, Andréa. Delegados do chefe da nação: a função dos presidentes de província na formação do Império do Brasil (1823-1834). Almanack Braziliense, [S.l.], n. 6, p. 20-38, nov. 2007. ISSN 1808-8139. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/alb/article/view/11669>. Acesso em: 15 junho, 2018.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
309
Uma região de fronteira: anomia, grilagem e desordem na Zona Contestada
Leonardo Zancheta Foletto1
No tempo em que a metrópole dividiu em capitanias o território da América Colonial Portuguesa e entregou a colonização aos donatários, não havia nenhum conhecimento geográfico do interior, senão numa pequena área, próximo aos locais mais populosos. As regiões litorâneas eram as que mais prosperavam, por isso, em algumas das Cartas Régias de doação, foi impossível demarcar o ponto em que elas terminavam, em outras, como na de Vasco Fernandes Coutinho, tomou a forma genérica – “[...] as cinquentas léguas se estenderão e serão de largo ao ponto da costa, e entrarão na mesma largura pelo sertão e terra firme dentro tanto quanto puderem entrar e for da minha conquista [...]” – (AGUIRRE, 1922, p. 8).
Competia ao donatário, portanto, penetrar o território afim de submetê-lo efetivamente à sua jurisdição, sob pena de perdê-lo. Mas, doutra parte, o próprio governo do rei criou, por outros motivos, todas as dificuldades imagináveis à penetração por parte do donatário da Capitania do Espírito Santo, um dos mais infelizes do século XVI (A DIVISA ESPÍRITO SANTO E MINAS GERAIS, 1947, p. 1). Nesse sentido,
Os confins ocidentais do Espírito Santo que, primitivamente entravam pela terra firme a dentro tanto quanto pudessem entrar e fossem da conquista portuguesa, como prescrevia a carta régia de doação a Vasco Fernandes Coutinho, de 1º de Janeiro de 1534, foram sendo paulatinamente recalcados para leste, pelas conquistas que sucessivamente realizaram no sertão, os penetradores de São Paulo e de Minas, na incessante procura das riquezas minerais (LAUDO ARBITRAL DO SERVIÇO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO DO EXÉRCITO, 1945, p. 4).
1 Licenciado em História. Mestrando em História Social das Relações Políticas pelo Programa de Pós-Graduação em História (PPGHis) pela Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes). Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (FAPES). [email protected].
Das utopias ao Autoritarismo
310
A Zona do Contestado (Ver figura 1), que compreende boa parte do vale do rio Doce, foi palco de embates desde o começo da sua colonização. Após a chegada dos primeiros colonos à região, até então desconhecida e inóspita, tiveram que colocar à prova sua força e vontade para “desbravarem” a região. Além de enfrentarem todas adversidades naturais à região – coberta por densas florestas, repletas de animais selvagens e habitadas em sua maioria pelos botocudos -, também se defrontaram contra os infortúnios inerentes às ambições políticas e econômicas do próprio homem (PONTES, 2007, p. 15).
Não se estabeleceu nenhum ato oficial em que ponderava a expansão para o litoral. Tanto a carta régia de 23 de novembro de 1709 criando a capitania geral de São Paulo e Minas, como o alvará de 2 de dezembro de 1720, desligando Minas e elevando-se à categoria de capitania, silenciaram quanto aos limites com o Espírito Santo. Só posteriormente (início do século XIX), quando se iniciou as primeiras comunicações diretas2, em virtude das necessidades do fisco, foi praticado o primeiro ato estabelecendo uma linha divisória entre as capitanias de Minas Gerais e Espírito Santo (LAUDO ARBITRAL DO SERVIÇO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO DO EXÉRCITO, 1945, p. 4).
Não havia interesse em demarcar, com precisão, as divisas entre as duas capitanias. Era tudo mata cerrada, a zona limítrofe ao norte do rio Doce, era, naquele tempo, quase inacessível, por causa dos ferozes índios aimorés, que a habitavam. Nenhum ato concreto de jurisdição era praticado em tão longínquas e inacessíveis terras. A demanda por conhecer e determinar os pontos de confinação entre as Capitanias (mais tarde entre as Províncias e, finalmente, entre os Estados federados) surgiria apenas mais tarde, com a utilização dos espaços territoriais e com a prática neles da jurisdição estatal – abrindo espaço para a consequente ação tributária. Só então começavam a ocorrer os conflitos jurisdicionais, demandando uma definição mais
2 Mais importante que todas estas novas vias de penetração do litoral para Minas, é a do Rio Doce. Ela ocupa seriamente a administração pública porque, geograficamente, é de fato pelo Espírito Santo, e não pelo Rio de Janeiro, a saída natural da Capitania.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
311
precisa dos limites territoriais de cada um dos estados (ANDRADE; OLIVEIRA, 1958, p. 253).
Figura 1: Mapa dos municípios que compunham a Região Litigiosa ao norte do rio Doce até 1963. Fonte: MURAMATSU (2015, p. 105).
Das utopias ao Autoritarismo
312
O ápice da chamada questão lindeira se dá a partir do início do século XX, quando os mineiros iniciaram um pujante processo de expansão agrícola em direção à Serra dos Aimorés, a leste do seu território. Em busca de uma saída ao litoral, adentraram em densas matas, excedendo seus limites territoriais, até aquele momento incertos e, em tese, pertencentes ao Estado do Espírito Santo. No mesmo passo, capixabas e baianos começaram a fazer um movimento semelhante, porém, rumo a oeste.
Desde o fim do século XVIII, com o declínio da produção aurífera, a população mineira começou a se deslocar em busca de outras atividades que pudessem substituir a mineração. Com o início da República no Brasil, concedendo autonomia administrativa, jurídica e tributária aos estados, deu novos contornos às questões territoriais. Passa a ocorrer, segundo Pontes, um “[...] movimento centrífugo, acarretando frentes de ocupação em todas as direções, principalmente rumo ao Leste, de encontro ao mar, do qual precisava para escoar seus produtos [...]” (PONTES, 2007, p. 38). Tratava-se, doravante, da busca por ensejos em garantir as necessidades à sobrevivência. Conforme acentua Foweraker (1982, p. 42) “[...] os camponeses vão para a fronteira em busca de terras para se estabelecer, e assim proverem sua subsistência [...]”.
A migração mineira em direção à Serra dos Aimorés foi amplamente apoiada pelos órgãos oficiais. Vale destaque, como por exemplo, a atividade organizada pela Companhia do Mucuri, dirigida por Teófilo Otoni, que estimulava a ocupação das montanhas ao leste. Nas primeiras décadas do século XX, a Serra dos Aimorés era ainda uma região desconhecida, tanto pelo governo do Estado do Espírito Santo quando pelo de Minas Gerais. Terras ainda a serem exploradas, ocupadas e colonizadas. Contudo, o movimento migratório mineiro vai ocorrer, naquele contexto, sem que ainda houvesse uma demarcação dos limites entre as duas unidades federativas. Nestas circunstâncias, afirma Elio Ramires (2015, p. 38):
[...] o deslocamento da frente de expansão mineira colocava na ordem do dia, para o Espírito Santo, a questão da demarcação definitiva da divisa, em função de que este
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
313
considerava que o avanço mineiro ocupava terras que considerava estar sob sua jurisdição. O apoiamento [sic], através de investimentos em infraestrutura, à criação de povoados e vilas por cidadãos mineiros, levado a cabo pelos sucessivos governos de Minas Gerais, provocava apreensões, acreditamos que, em certa medida, descabidas, no imaginário das autoridades capixabas, preocupadas com a disposição bandeirante dos governos mineiros [...].
O despertar da década de 1920 entoará um cenário de disputas mais agudas entre os Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. As causas de tais ocorrências se darão devido à uma política mais consistente de ocupação por parte do governo capixaba, tanto ao norte, como, em especial, ao noroeste do Estado, visando firmar sua jurisdição sob a região. Na administração do coronel Nestor Gomes (1920-1924) o então governador fundou a Companhia Territorial de Colonização para o Norte do rio Doce. Sob o comando e ‘patrocínio’ da Companhia, migrantes vindos do sul do Estado – em sua grande maioria descendentes de italianos e outra parcela de pomeranos – foram encaminhados à região. Segundo Ribeiro (1996, p. 94), com a criação da Companhia Territorial, “[...] foram contratados agenciadores para percorrer os diversos municípios do Estado com propostas de vendas de terras nessa nova e fértil região do Norte do rio Doce, sob condições bastante vantajosas [...]”.
Apesar das conquistas realizadas ao final do século XIX, a região era ainda constituída, em sua maior parte, por densas florestas. Como destaca Pontes (2007, p. 35) de “[...] Nova Venécia, cidade ‘boca do sertão’ resultante da lenta penetração pelo vale do São Mateus [...] subindo em direção à Serra dos Aimorés, seguia-se extensas e intransponíveis matas”.
Além disso, perpetuava-se no imaginário das autoridades capixabas uma outra ideia acerca da colonização. A ideia de colaboração (presente no século XIX) já não era bem vista. Figurou-se, nunca declarada, uma real contraposição à hipotética “invasão mineira” em direção ao litoral capixaba – a busca de uma saída para o mar – no qual foi denominado aqui de Marcha para o Leste. Desse modo, o primeiro obstáculo a ser vencido, pensando na penetração
Das utopias ao Autoritarismo
314
dos colonos quando ao escoamento dos produtos, consistia na difícil travessia pelo rio Doce. Conforme Borgo; Rosa e Pacheco (1996, p. 64), “[...] o rio Doce era o limite natural entre o norte de terras devolutas e o sul em processo de colonização”.
Moniz Freire (1892-1896) ainda no século XIX, havia indicado a implantação de uma estrada de ferro que faria a ligação entre a cidade de São Mateus à Serra dos Aimorés. Contudo, foi somente no governo de Florentino Avidos (1924-1928), que o projeto de Freire pode ser contemplado. O então governador anunciou a contratação da estrada de ferro com um ramal até a cidade de Colatina-ES. De acordo com Ramires (2015, p. 48-49):
Para transpor o rio Doce e interligar o sul ao norte, foi projetada, construída e inaugurada uma ponte, a qual estava integrada ao projeto da estrada de ferro. Tal circunstância constitui-se, então, no primeiro projeto mais consistente no sentido de acelerar a ocupação do norte, desde o litoral até a Serra dos Aimorés, na divisa com Minas Gerais, através de estrada de ferro e tendo a ponte sobre o Rio Doce como ligação entre as regiões sul e norte do Estado.
Iniciada a construção em abril de 1926 e inaugurada em junho de 1928, a ponte ‘Florentino Avidos’, sobre o rio Doce em Colatina foi utilizada como estrada de ferro somente entre os anos de 1929 e 1941, quando foi desativada por determinação do Governo, por ser de bitola estreita. No entanto, a ponte permitiu superar a difícil travessia sobre o rio, influenciando consideravelmente na ocupação ao norte e em partes do noroeste do Estado do Espírito Santo. Pontes (2007, p. 90) afirma que:
[...] a travessia do rio Doce constituiu-se em uma das grandes dificuldades, que apenas foi superada com a construção da ponte de Colatina, em 1928. A partir de então a região começou a ser povoada por capixabas atraídos pelas imensas riquezas do território, procedendo do sul para o norte [...].
Ainda assim, tal política de colonização restringiu-se somente às áreas adjacentes ao rio Doce, em sua margem norte,
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
315
quando alcançando São Domingos e São Gabriel, cerca de 44 e 60 km de Colatina respectivamente, não chegando ao extremo-noroeste do Estado, como o município de Ecoporanga (RAMIRES, 2015, p. 49).
Em 1943, o então interventor do Espírito Santo, João Punaro Bley, é nomeado para a diretoria da Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), o que ocasionou na substituição da interventoria do Estado, assumindo, dessa forma, Jones dos Santos Neves. Santos Neves, capixaba de nascença (natural de São Mateus-ES), governou o Estado por duas vezes. Primeiramente como interventor federal, de 21 de janeiro de 1943 a 27 de outubro de 1945, depois como governador eleito (PSD), de 31 de janeiro de 1951 a 31 janeiro de 1955. A política de Santos Neves vai ser crucial para os rumos da contenda.
Nesse contexto, que ocorre no governo de Santos Neves a denominada Marcha para o Oeste. Este nome ao projeto foi ainda anunciado em 1943 e sua denominação fazia referência ao próprio projeto formal e de mesmo nome anunciado pelo presidente Getúlio Vargas, também 1943, durante o Estado Novo (1937-1945), que tinha como objetivo ocupar os tais vazios demográficos no território brasileiro mediante a um processo de colonização baseado em pequenas propriedades rurais e doravante, pudesse ir alterando o padrão com a apropriação dos grandes latifúndios.
Contudo, a Marcha para o Oeste, na versão Jonista, seria, no ponto de vista das autoridades capixabas, uma resposta ao avanço e ocupação mineira ao norte do Espírito Santo, em direção à Serra dos Aimorés. O deslocamento de agricultores mineiros em direção à Serra dos Aimorés provocava, como vimos, certas preocupações aos governantes capixabas. Por isso, impunha-se a ocupação e a posterior colonização da região. Endossamos as considerações de Moreira (2000) quando trata da questão do processo de colonização das margens do rio Doce que ocorreu, segundo a autora, à luz dos vazios demográficos, interpretado por ela como sendo “[...] um clichê produzido pelo Estado ou por parcelas da sociedade brasileira, com profundas raízes na história nacional do século XX [...]” (MOREIRA, 2000, p. 144). Na concepção de Moreira (1998, p.185), a Marcha para o Oeste seria, no ponto de vista das autoridades capixabas, uma
Das utopias ao Autoritarismo
316
“resposta” à suposta ameaça mineira em ocupar o norte do Espírito Santo até o litoral, a partir da Serra dos Aimorés.
Além disso, sem diretivas precisas e através das afirmativas e ambiguidades contidas nos variados discursos de Santos Neves ficou explícito a sua real intenção e concepção de ocupar esses vazios demográficos. Tal visão, apresenta nulas semelhanças com a Marcha para o Oeste, de Getúlio Vargas. O planejamento de gestão do governo Santos Neves foi organizado através do Plano de Valorização Econômica, o que dentre outras coisas, pretendia integrar física e economicamente do norte ao sul do Estado do Espírito Santo. Objetivava ocupar a região, firmar a jurisdição capixaba sobre aquele território mediante ao capital, com base na grande propriedade rural. No entanto, a ocupação desses vazios demográficos eram, na verdade, a Serra dos Aimorés, território que já vinha sendo ocupado por migrantes e pequenos posseiros agricultores – processo esse que será percursor de todo movimento político e agrário aqui estudado.
A região se torna, então, área de disputa não somente entre os dois estados, mas também por indivíduos e grupos das mais diversas naturezas (pecuaristas, grileiros, madeireiros), ávidos em estabelecer seus potentados. Enquanto isso, a população camponesa e pobre ficava à mercê dessas lideranças locais, que empregavam, dentro da lógica da lei do mais forte, métodos extremamente violentos para a manutenção ou aquisição de controle político e social.
No contexto da desordem, a região foi caracterizada por uma fartura de terras férteis e devolutas, com uma volumosa quantia de madeiras nobres. Deste modo, apresentou um acelerado crescimento populacional, porém, nenhum dos dois Estados sensibilizou olhares para a estruturação e desenvolvimento da região. Pontes (2007, p. 17) argumenta que,
Não houve de nenhum dos lados envolvidos medidas efetivas destinadas ao assentamento de colonos, à distribuição de terras devolutas e à regularização das posses existentes, ou sequer de imposição da lei e da ordem. Ao contrário, ambos os governos acabaram por atuar de forma leniente em relação às questões de ordem pública
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
317
e de desenvolvimento regional sustentado, legando as comunidades que lá se estabeleceram a sua própria sorte, sob tutela e abrigo da justiça de jagunços contratados por latifundiários e madeireiros, ou mesmo de policiais que agiam conforme suas visões e interesses particulares. Ainda que houvesse “autoridades” legalmente constituídas na Zona Contestada, faltavam-lhes exatamente aquele atributo, levando os colonizadores a seguir a ordem natural das coisas, predominando, na ausência do Estado regulador, as normas impostas à força pelos poderosos locais.
A presença capixaba no Noroeste a partir da década de 1940 fica explícita a preferência de ocupação na grande propriedade. A própria Delegacia de Terras de São Domingos, distrito do munícipio de Colatina no período, consolidou-se como um importante órgão e mecanismo para a execução dessa política fundiária, atuando com “vista grossa” aos requerimentos e compras ilegais realizadas por grileiros, que alegavam ser proprietários das áreas, com documentos até mesmo em delegacias de cidades mineiras.
A grilagem, de acordo com Martins (2010, p. 29), é como “[...] uma verdadeira indústria de falsificação de títulos de propriedade [...] registrados em cartórios oficiais, geralmente mediante suborno aos escrivães e notários [...]”. Foweraker (1982, p. 151) ainda acrescenta que:
A “grilagem” contribui para os conflitos legais que afligem as regiões de fronteira, e, apesar de ser uma prática predominantemente privada, não poderia ter prosseguimento sem, pelo menos, o conluio das administrações estadual e federal.
A grilagem usa da prática do sequestro cartorial da terra por meios fraudulentos, ocasionando ao posseiro a perca do seu pedaço de terra. Pode-se dizer, então, “[...] que o grileiro é aquele que se apropria ilegal e fraudulentamente de terras, mediante o registro e a apresentação de títulos de propriedade falsificados, ainda que oficialmente, por cartorários inescrupulosos” (GARCIA, 2015, p. 133). Na região contestada, a prática da grilagem tornou-se algo corriqueiro,
Das utopias ao Autoritarismo
318
sendo um estorvo na vida dos posseiros e pequenos camponeses. Devido ao imbróglio jurisdicional sob o território, os grileiros forjavam os registros das suas terras em cartórios de outro Estado. No que diz respeito à prática de registro de terras localizadas, em tese no Espírito Santo, nos cartórios mineiros, salienta Dias (1984, p. 122):
O título de posse que o fazendeiro Lamartine possui é concedido pelo Estado de Minas Gerais e reconhecido por autoridades do Espírito Santo. [...] Em Cotaxé, no Córrego do Pitengo e na Estrela, nas áreas abrangidas pelos alqueires do fazendeiro Lamartine, estão, há mais de 15 a 20 anos, posseiros que perderam seus direitos para uma escritura fornecida pelo Estado de Minas.
No ano de 1951 ocorreu um episódio que merece mais destaque, mesmo que superficial, pelo fato de muito bem ilustrar as tensões e os conflitos na região. Tal episódio ocorreu no Distrito de Oratório, Município de Barra de São Francisco. O relatório confeccionado pelo 1º Tenente Hildo Fraga Barboza, enviado especial pela Secretaria do Interior e Justiça em missão especial para a apuração dos fatos é bastante enfático quanto ao clima de tensão que tomou conta da região naquele ano:
[...] dirigi-me imediatamente àquela jurisdição, tendo antes comunicado ao Senhor 2º Tenente Jonas Cardoso de Mattos, Delegado de Polícia em Conceição da Barra, a finalidade da minha incumbência [...]. Tive o primeiro contato com o cabo Nicanor Costa, sub-delegado daquele Distrito, que, informou-me ser a sua permanência ali insustentável, devido a aversão votada contra si e os demais e os demais policiais, pelos extremistas, ABRAÃO LINCOLN DA CUNHA, JOSÉ CORRÊA e ANTÔNIO DOMINGOS UNIDOR, cuja antipatia já havia atingido as raias da violência (grifo nosso). [...] (RELATÓRIO POLICIAL NO DISTRITO DE ORATÓRIO, 1951, p. I).
E segue o relatório da seguinte maneira:De regresso, estive na Delegacia de Terras de Conceição da Barra, onde fui atendido pelo respectivo titular JOSÉ RUSCHI FILHO, que além das péssimas referenciais feitas aqueles maus elementos, mostrou-me inúmeras queixas
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
319
por invasões, devido não só às medidas arbitrárias feitas sobre as já legalisadas [sic], por ANTÔNIO DOMINGOS UNIDOR, como também pelos posseiros açulados contra os que ali já se encontra [sic] radicados a mais de oito (8) anos pelo amotinador LINCOLN, secundado pelo seu comparsa JOSÉ CORRÊA DE MELO [...]. Há requerentes que mesmo possuindo documentos referentes às suas posses já legalizadas, estão lutando para extirpar de suas terras, os quistos invasores [...]. Ultimamente essa crescente vem um crescente assustador, prejudicando não só os requerentes, como também o patrimônio do Estado como se ali fosse uma terra de ninguém [...] (Idem, p. II).
Além disso, nota-se, a partir do próprio relatório, a violência que era praticada na região devido à posse da terra – situação corriqueira em região típica de fronteira –
Nada ali é resolvido por meio suasórios e legais; as ameaças são constantes e a morte espreita o viajor passo a passo das emboscadas. Urge Senhor Secretário que sejam tomadas providências imediatas. O próprio Cabo Sub-delegado de Polícia em “Oratório”, que confirmará as minhas palavras, pois, já o encontrei numa espécie de marcha forçada rumando para esta capital, depois de haver mandado os seus (2) dois soldados para o Patrimônio do “Ronco” no Município de Barra de São Francisco, distante, seis (6) léguas de sua sede policial [...] (Idem, p. II).
O relatório indica a ação de grilagem no distrito de Oratório e que, de certo modo, explica a prática que sucedia-se em toda a região do Contestado, ocasionando nos diversos conflitos:
Não era minha finalidade visitar a Delegacia de Terras de São Mateus, mas, como as reclamações avolumam-se, retrocedi e ali pude ouvir os requerentes José de Oliveira Campos que tem terras requeridas nas margens do Córrego 2 de dezembro e próximo a “Bebedouro”. Queixa-se Oliveira, que com surpresa, que viu Antonio Domngos Unidor, “medir” novamente as suas terras e dividí-las entre Eufrosino e Antônio Soares (Idem, p. III).
Dois outros agricultores da região também relatam como funcionava a ação dos grileiros:
Das utopias ao Autoritarismo
320
Gabriel Ribeiro de Souza [...] viu também suas terras invadidas no córrego Santo Antônio, por José de Souza, depois de medidas por Antonio Domngos Unidor. Gustavo de Oliveira, também queixa-se de haver Manoel Rodrigues e Isidoro Caetano, passando uma linha divisória dentro de suas terras no Córrego Piriquito. Nas suas meias palavras de homem do campo, explicou-me que não tendo na ocasião dinheiro suficiente para pagar a entrada dos documentos na repartição competente, procurou o Senhor Laureano Diaz, proprietário de uma serraria em Conceição da Barra, a quem propôz [sic] a entrega de seis (6) qualidades de madeira de seus 200 hectares de terras, em troca do pagamento de pouco menos de Cr$ 2000,00. Vejamos senhor Secretário se isto é ou não uma verdadeira espoliação (Idem, p. III).
Configura-se, dessa maneira, o padrão da grande propriedade rural como política econômica e de ocupação no extremo-noroeste do Estado do Espírito Santo, o que acaba por confrontar-se com o modo de colonização que vinha em décadas anteriores sendo praticado e existente na região. A atividade era organizada e realizada no trabalho individual e familiar, em pequenas áreas produtivas. No Espírito Santo, com a política de Jones dos Santos Neves, ocorrerá o avanço da frente pioneira sobre os territórios na fronteira até então ocupados por esses pequenos proprietários.
No final do século XIX e início do século XX a fronteira passa a ser entendida como uma zona de transição entre um espaço geográfico ocupado de maneira estável e contínua por uma sociedade nacional (ALBUQUERQUE, 2005, p. 62). Os estudos norte-americanos definem o termo boundary – sendo a fronteira como divisão política e administrativa; e frontier como ideia de expansão, de conquista e de movimento constante em direção a terras livres ou selvagens. Tal acepção se afirmaria com as teorias desenvolvidas pelo historiador Frederick Jackson Turner (1861-1932), em sua tese3 sobre o oeste americano. Para Turner (1986) o oeste americano seria
3 O clássico trabalho The significance of the frontier in American History (1893) considerado o trabalho pioneiro na perspectiva da análise histórica, pensando a fronteira como frente de expansão na sociedade norte-americana e sendo ela a formadora da identidade e democracia americana.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
321
o berço da alma americana, da democracia e da identidade nacional, lugar em que os pioneiros de todas as nacionalidades teriam de lutar pelo recuo da natureza selvagem. A fronteira seria, então, a frente pioneira em expansão.
No começo do século XX, a teoria de Turner passaria a ser mais difundida e serviria de modelo também para outros países, como foi o caso do Brasil, notadamente nos anos de 1950 e 1970, quando historiadores, geógrafos, sociólogos e demais pesquisadores adotam o conceito de fronteira turniana para problematizar questões sobre a expansão pioneira em regiões internas ao país. O mito da fronteira norte-americana como lugar de perpetuação da identidade nacional influenciou também os intelectuais da denominada Marcha para o Oeste no Brasil, durante o período do Estado Novo. Os intelectuais que estudavam as chamadas zonas pioneiras, passaram a identificar a política de Vargas como sendo frentes pioneiras, possibilitando a ocupação, do que chamavam de vazios demográficos.
No modelo de Leo Waibel (1955) a zona pioneira seria como um espaço geográfico onde ocorrem a expansão acelerada da agricultura, um grande fluxo de pessoas, um aumento vertiginoso dos preços das terras, identificando cinco zonas pioneiras nos anos 1940: o norte e o sudoeste do Paraná, o noroeste de Santa Catarina, o oeste de São Paulo, a região norte do rio Doce (Espírito Santo e Minas Gerais) e a região de Mato Grosso. Assim, o avanço dessa frente pioneira acabara por ocasionar em grandes conflitos naquela sociedade que ia se constituindo na fronteira – Serra dos Aimorés –. Nesse sentido, afirma Ramires (2015, p. 57):
A ocupação do extremo-noroeste, como foi delineada na Marcha para o Oeste, traz as indeléveis marcas do avanço do capitalismo por intermédio das frentes madeireira e pecuária, as quais tinham notórios grileiros de terras devolutas como frente avançada, a garantia, quanto à estrutura da propriedade da terra, da prevalência da grande propriedade, o chamado padrão oligárquico de apropriação, e a mais que evidente ausência de projetos de colonização com base na pequena propriedade. Assim, o Estado, na mediação dos conflitos, colocava-se ao lado dos
Das utopias ao Autoritarismo
322
grandes proprietários, os quais desenvolviam uma política agressiva, baseada no uso da violência, contra aqueles setores sociais que constituíam como entraves aos seus projetos.
No que diz respeito ao processo da violência exercido na área contestada, Walace Tarcisio Pontes constatou com muito proeza que, quando o estado estava ali presente, “[...] essa presença se fazia sentir mais na cobrança de taxas e impostos do que na disponibilização de serviços básicos às comunidades [...]” (PONTES, 2007, p. 94). E acrescenta: “[...] para que os Estados impusessem seus respectivos poderes de arrecadação, não poderiam prescindir de fortes aparatos policiais [...]”, indicando, ainda, que tais aparatos eram um dos principais vetores da violência. Além disso, o problema social agravava-se pelo fato de quando o governo estadual posicionava-se, geralmente, era em favor da elite econômica e política local, como pode ser perceptível na própria imagem abaixo – policiais militares em meio aos jagunços na defesa dos interesses dos grandes proprietários (Ver figura 2).
Por se tratar de uma região praticamente sem lei, de uma frágil e ineficaz organização social, o território que apresentou um elevado número de habitantes nos anos de 1940 até meados de 1960, foi acometido com um nímio esvaziamento populacional nas décadas que sobrevieram.4
Portanto, ao cotejarmos os fenômenos políticos e sociais da Zona do Contestado Capixaba, assumimos o entendimento segundo o qual a região se enquadra naquilo que no campo da sociologia denomina de estado ou situação de anomia, que, segundo o dicionário de Filosofia Nicola Abbagnano (1998, p. 62), refere-se ao “[...] termo usado para indicar a ausência ou a deficiência de organização social e, portanto, de regras que assegurem a uniformidade dos acontecimentos sociais [...]”.
4 Estes dados são apresentados na dissertação de Mestrado de PONTES, Walace Tarcisio. Conflito agrário e esvaziamento populacional: a disputa do contestado pelo Espírito Santo e Minas Gerais (1930-1970), 2007.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
323
Figura 2: POLÍCIA e jagunços capixabas ocupam território mineiro da “zona contestada”. Fonte: Diário da Noite, Rio de Janeiro, p. 7, 9 jul. 1951.
Um dos autores que mais se debruçou sobre tal conceito foi, sem dúvida alguma, Émile Durkheim, o qual tratou do conceito a partir da reflexão daquela que talvez seja a sua questão central: a
Das utopias ao Autoritarismo
324
instituição social, para o autor um mecanismo de proteção da sociedade, um conjunto de regras e procedimentos socialmente padronizados, aceitos, reconhecidos e endossados por ela. O termo é visto como uma condição em que as normas sociais e morais são confundidas, pouco esclarecidas ou simplesmente ausentes, isto é, as mudanças bruscas e repentinas na sociedade fazem com que as normas, até então estabelecidas e satisfatórias, tornem-se obsoletas.
Em vista disso, os fenômenos políticos e sociais que ocorrem a reboque do problema da questão lindeira não são casos isolados. Paulo Pinheiro Machado (2004), analisando o caso do Contestado entre os Estados do Paraná e Santa Catarina, vai salientar que o Contestado seria como um filho infeliz de dois pais adotante: a ignorância dos habitantes e falta de um policiamento eficaz e duradouro. Seguindo o raciocínio, que mesmo que os estudiosos da Guerra Sertaneja não relacionam o processo de disputa de limites como causa direta do movimento caboclo, vista da complexidade deste movimento social, destaca que o longo período de indefinição entre as divisas marcou profundamente a natureza da ocupação da região e o perfil social e político destas comunidades. Sendo assim, não nos abstém afirmar que os problemas oriundos na fronteira entre Espírito Santo e Minas Gerais podem também ser relacionados com a duradoura indefinição dos limites entre os dois Estados, ocorrendo, em nosso entendimento, na lógica de ausência do poder estatal, que seria o provedor da ordem e da disciplina, no qual podemos associar ao conceito de anomia.
No contexto do avanço da frente pioneira que ocorrem a união dos interesses entre madeireiros, pecuaristas e os próprios grileiros. Todos esses necessitavam de usufruírem das terras para expandirem suas atividades econômicas, em que, dessa forma, juntaram-se na tentativa de expulsar os posseiros/pequenos proprietários ali presentes. Para alcançarem tais objetivos utilizavam de todos os mecanismos disponíveis – desde a contração dos próprios jagunços como o apoio da polícia militar, conforme foi visto na figura. Nessa tentativa, afirma Dias (1984, p. 12):
A indústria madeireira aliou-se aos latifundiários, numa luta comum, tentando usurpar as posses e benfeitorias
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
325
camponesas. Para isso, com seu poder de compra, contrataram jagunços e corromperam, durante anos, a Justiça, a Polícia Militar do Espírito Santo e membros das administrações Jones Santos Neves, Carlos Lindenberg e Francisco Lacerda de Aguiar.
Os rotineiros choques que irão ocorrer entre os posseiros e pecuaristas/grileiros na região extrema do noroeste, particularmente em Ecoporanga no Estado do Espírito Santo, resultaram, dentre outras situações, das divergências presentes entre os dois modos de produção – os posseiros e pequenos camponeses praticam de uma agricultura de subsistência, familiar e local, e posteriormente são acometidos com os interesses das grandes fazendas, produção em larga escala e a própria devastação das lavouras para o uso da pastagem, ou seja, a produção da frente pecuária. Os choques entre essa elite agrária e a resistência camponesa será um marco para a memória e história dessa região. Esses choques são, num todo, segundo Foweraker (1982, p. 168) “[...] uma luta de classes, travada pela apropriação do excedente e pela apropriação da terra [...]”.
A violência praticada contra os posseiros na região é resultado de toda uma conjuntura que formou-se – uma região de fronteira, o choque entre os modos de produção, a resistência camponesa, a ausência de leis (de um Estado regulador) e por fim, da indefinição dos limites (o que consequentemente ocasionava em dupla jurisdição e quase nula prática da justiça) tornando a região um “terreno fértil” para tais práticas violentas. Segundo Pontes (2007, p. 92) essa violência era exercida mediante “[...] ameaças, agressões físicas, espoliação de bens e atentados contra a vida que se sucederam cotidianamente no rastro da impunidade e ausência quase completa do Estado [...]”. Acirram-se os conflitos e transforma a região em uma verdadeira “rinha” política, pela posse da terra e por fim, pela sobrevivência. Dessa forma, a região aqui estudada – a Serra dos Aimorés – se enquadra como uma região de fronteira, em que impera os conflitos sociais e a violência.
Por meio das negociações fraudulentas com entidades governamentais e demais autoridades, os grileiros buscavam
Das utopias ao Autoritarismo
326
comprovar a titularidade das terras já ocupadas por posseiros por meio de títulos adquiridos e muitas das vezes forjados, originando os conflitos pela posse da terra (GARCIA, 2015, p. 64). Intensifica-se, dessa maneira, todas as formas de luta por parte dos posseiros, que mediante às agressões e à falsos títulos, procuravam de todas as formas resistir e não abandonarem as suas terras.
Os limites políticos e jurídicos dos Estados são territórios de disputas. Parecem representar territórios claramente demarcados, no entanto, as fronteiras estão em constante movimento, impulsionados por correntes migratórias e um amplo desenvolvimento do capitalismo, com estratégias geopolíticas, econômicas e culturais e por diversas formas de circulação de mercadorias.
Podemos compreender a fronteira como um lugar [...] privilegiado da observação sociológica e do conhecimento sobre os conflitos e dificuldades próprios da constituição do humano no encontro de sociedades que vivem no seu limite e no limiar da história. É na fronteira que se pode observar melhor como as sociedades se formam, se desorganizam ou se reproduzem (MARTINS, 2014, p. 10).
Dessa maneira a fronteira assumiria diferentes caráteres “[...] fronteira da civilização (demarcada na barbárie), fronteira espacial, fronteira de culturas e visões de mundo, fronteira de etnias, fronteira da história e da historicidade do homem. E, sobretudo, fronteira do humano [...]” (Idem, p. 11). Mas um lugar que também se identifica várias outras tensões: globalização e nacionalismo, nação e região e etnia e nação.
A região de fronteira é vista como um lugar perigoso, espaço da ilegalidade e da violência. Torna-se, então, área de disputa não somente entre os Estados, mas também por indivíduos e grupos das mais diversas naturezas, ávidos em estabelecer seus potentados. Enquanto isso, a população pobre fica à mercê dessas lideranças locais, que empregavam, dentro da lógica da lei do mais forte, métodos extremamente violentos para a manutenção ou aquisição de controle político e social.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
327
Portanto, as fronteiras são fenômenos bem complexos, não se restringindo a limites estabelecidos nos mapas, divisas ou tratados diplomáticos. As fronteiras não são abstratas e nem estáticas, mas estão em constante movimento. A fronteira política hoje é entendida como o lugar da alteridade, da passagem, do contato e um espaço para integração entre as populações locais e as nações.
Referências BibliográficasDocumentação:
A DIVISA ESPÍRITO SANTO-MINAS GERAIS, 1947. Documentos da Secretaria do Interior e Justiça, 1947-1948.
Laudo Arbitral do Serviço Geográfico e Histórico do Exército. 1941. Documentos da Secretaria do Interior e Justiça, 1945.
Ofícios expedidos pelo Governador do Estado do Espírito Santo. Relatório - Distrito Policial de Oratório, referência 510, 1951, Vitória, 27 ago. 1951.
Obras:
ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo, Martins Fontes, 1998.
AGUIRRE, Araujo. Limites entre os Estados do Espirito-Santo e Minas. Revista do IHGES, Vitória, n. 3, p. 7-26, 1922.
ALBUQUERQUE, José Lindomar Coelho. Fronteiras em movimento e identidades nacionais: a imigração brasileira no Paraguai. 2005. 265f. Tese (Doutorado em Sociologia) - Programa de Pós-Graduação em Sociologia, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2005.
ANDRADE, Darci Bessone de Oliveira; OLIVEIRA, Antonio Gonçalves de. As questões de limites com o Estado do Espírito Santo: (ao norte do rio Doce). Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1958. v. 3.
BORGO, Ivan Anacleto Lorenzoni; ROSA, Lea Brígida Rocha de Alvarenga; Renato José Costa. Norte do Espírito Santo: ciclo madeireiro e povoamento. Vitória: EDUFES, 1996.
DIAS, Luzimar Nogueira. Massacre em Ecoporanga: lutas camponesas no Espírito Santo. Vitória: Cooperativa dos Jornalistas do Espírito Santo, 1984.
FOWERAKER, Joe. A luta pela terra: a economia política da fronteira pioneira no Brasil de 1930 aos dias atuais. Rio de Janeiro: Zahar, 1982.
Das utopias ao Autoritarismo
328
GARCIA, Elio Ramires. Do Estado União de Jeovah à União dos Posseiros de Cotaxé: transição e longevidade. 2015. 204 f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História Social das Relações Políticas, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2015.
MACHADO, Paulo Pinheiro. Lideranças do contestado: a formação e a atuação das chefias caboclas, 1912-1916. Editora da UNICAMP, 2004.
MARTINS, José de Souza. O Cativeiro da Terra. São Paulo: Editora Contexto, 2010.
MARTINS, José de Souza. Fronteira: a degradação do outro nos confins do humano. São Paulo: Editora Contexto, 2014.
MOREIRA, Vânia Maria Losada. Brasilia: a construção da nacionalidade - um meio para muitos fins (1956 – 1961). Vitória: Edufes, 1998.
MARTINS, José de Souza. Vazios demográficos ou territórios indígenas?. Dimensões, Vitória, n. 11, p. 137-144, 2000.
MURAMATSU, Luiz Noboru. Movimento camponês e camponês em movimento (Estudo histórico da violência na frente pioneira do noroeste do Espírito Santo: 1950-1960). 2015. 342 f. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-Graduação em História Social das Relações Políticas, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2015.
PONTES, Walace Tarcisio. Conflito agrário e esvaziamento populacional: a disputa do contestado pelo Espírito Santo e Minas Gerais (1930-1970). 2007. 183 f. Dissertação (Mestrado em História) – Programa de Pós-Graduação em História Social das Relações Políticas, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, 2007.
TURNER, Frederick Jackson. La frontera en la historia americana. San José: Universidad Autónoma de Centroamérica, 1986.
WAIBEL, Leo. As zonas pioneiras do Brasil. Revista Brasileira de Geografia, v. 17, n. 4, p. 3-37, 1955.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
331
A Irmandade de Nossa Senhora das Mercês de Mariana: vivência da fé, dinâmica associativa e
composição social (Minas Gerais, Brasil, séculos XVIII-XIX)
Vanessa Cerqueira Teixeira1
Irmandades, devoção mercedária e apropriações do culto nas Minas Setecentistas
As associações leigas, denominadas confrarias ou irmandades, foram organizações fraternais compostas por indivíduos irmanados por um sentimento de identificação, além de interesses e devoções em comum. Unidas para a promoção da piedade, da caridade e do culto público, eram dedicadas a um santo protetor ou a uma invocação mariana específica, divididas por critérios como qualidade, cor, condição, naturalidade ou profissão. Cada grupo social possuía seus oragos preferenciais, pois se identificavam com suas histórias ou por cada um garantir um “poder” distinto no mercado de bens simbólicos, promovendo uma “assistência” diferenciada (SALLES, 1963; BOSCHI, 1986, BORGES, 2005). Inspiradas nas ordens mendicantes, sua origem remete à Idade Média Ocidental, mais exatamente ao século XIII, e representaram a conquista dos fiéis pela participação na vida religiosa (VAUCHEZ, 1995). Na Idade Moderna, em meio à Reforma Católica e à expansão da fé com os empreendimentos coloniais, disseminaram-se do Velho Continente para os territórios recém-povoados, chegando à América portuguesa, onde tiveram papel preponderante, com destaque para a região mineira, tendo em vista as restrições de instalação do clero regular.2
1 Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto. Bolsista Capes. E-mail: [email protected]. Este trabalho é um recorte da dissertação de mestrado defendida em fevereiro de 2017 no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Juiz de Fora.
2 A proibição acontecera sob a alegação de envolvimento no extravio do ouro, por estimularem a população ao não pagamento de impostos, participação em rebeliões e insubordinação à Coroa e Bispos diocesanos, já que seguiam sua própria
Das utopias ao Autoritarismo
332
Nesse sentido, juntamente à malha paroquial, elas edificavam seus templos, administravam a vida religiosa local e prestaram auxílio mútuo entre seus membros durante os infortúnios da vida e após a morte. Em contexto escravista, possibilitavam a maior participação dos “homens de cor” e o desenvolvimento da sociabilidade urbana, bem como contribuíam para a constituição da configuração social e das identidades, para a interação e ascensão sociais e demarcação de lugar ocupado em uma sociedade hierárquica e desigual, como as de Antigo Regime (BORGES, 2005; PRECIOSO, 2014; DELFINO, 2015).
Neste trabalho apresentaremos uma devoção em particular, a destinada ao culto de Nossa Senhora das Mercês, disseminada nas Minas Setecentistas por meio de uma apropriação desenvolvida pelos “pretos crioulos”, os negros nascidos nos domínios portugueses da América, entre escravos, forros ou livres (LIBBY; FRANK, 2009). Nesse período, cerca de vinte associações leigas sob a invocação das Mercês foram fundadas, e nos dedicaremos a uma delas, a irmandade localizada em Mariana, primeira cidade e sede do Bispado da Capitania (BOSCHI, 1986). A partir de uma perspectiva cultural (CHARTIER, 2002), almejamos, primeiramente, a compreensão da constituição do culto mercedário por parte dos leigos em terras mineiras, para, em seguida, adentrarmos em nossa proposta principal, compreendendo quem foram os fiéis agremiados, esses sujeitos que se reconheciam como crioulos e se organizaram enquanto grupo com interesses e expectativas em comum. Mas, o que teria direcionado a formação desses grupos em irmandades mercedárias?
A história de Nossa Senhora das Mercês tem origem espanhola, datada aproximadamente de 1218, período marcado pela dominação dos mouros que tomavam parte da Península Ibérica e obrigavam os cristãos a tornarem-se cativos. Estes só alcançariam a liberdade se convertidos à fé islâmica. A relação duradoura e conflituosa entre cristãos e muçulmanos esteve intrinsicamente ligada ao contexto de Nossa Senhora das Mercês, enquanto grande mediadora dos fiéis escravizados. A Ordem Real e Militar de Nossa
hierarquia. Contudo, não foi possível controlar sua presença totalmente (BORGES, 2005).
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
333
Senhora das Mercês da Redenção dos Cativos, que em 2018 celebra seus 800 anos,3 teve origem pelos investimentos de São Pedro Nolasco e São Raimundo da Penaforte, junto ao rei de Aragão D. Jaime I. Muito difundida pela Europa através de ordens regulares e das associações leigas iniciadas no século XIII, a devoção teve como intuito inicial promover a libertação dos cristãos brancos cativos sob o poderio mouro. Com o passar do tempo, o culto mercedário foi reconstruído em um novo contexto, passando a se relacionar também com a libertação dos indivíduos escravizados de ascendência africana que, embora convertidos ao catolicismo, permaneciam em cativeiro (SILVA, 2012; PRECIOSO, 2014).
Augusto de Lima Jr. (2008) alegara que a grande difusão do culto mercedário nas Minas Setecentistas ocorreu pela busca, crença e desejo de libertação. Os devotos alforriados se filiariam a essas associações em agradecimento à graça concedida, e os escravizados em virtude da intercessão que ainda estaria por vir. Porém, tal visão se ampara no simples conhecimento da narrativa que dera origem à invocação mariana em questão; precisamos ir além. Diferente dos africanos, grande parte dos crioulos não precisava ser convertida, pois já nascia em meio ao cristianismo, mesmo com o contato com as práticas religiosas africanas de seus familiares. Todavia, o batismo em nada modificava seu estatuto e eles não se tornavam cristãos livres por isso, como expõe Luiz Felipe Alencastro (2000) ao analisar uma carta régia de 1557.4 Outro fator corresponde aos processos de “crioulização” e de crescimento do número de descendentes de africanos alforriados e nascidos em liberdade a partir da segunda metade do século XVIII na Capitania das Gerais, período de surgimento e proliferação das associações dedicadas à Senhora das Mercês. Outro ponto importante
3 A devoção mercedária se encontra ativa no Brasil (Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Goiás, Piauí, Bahia, Minas Gerais): em colégios, seminários, creches, casas de recuperação, paróquias, dioceses e pastoral carcerária, além das ordens terceiras e irmandades. Cf. <http://mercedarios.com.br/>, acesso em 30 de maio de 2018.
4 A escravidão foi tema de inúmeros sermões, aparecendo como castigo e resgate do pecado, como remissão e salvação na vida além-túmulo. A salvação das almas ocorreria duplamente, ao serem os infiéis convertidos à fé cristã, por meio do cativeiro, e após sua morte, com sua passagem pelo terceiro local (ALENCASTRO, 2000).
Das utopias ao Autoritarismo
334
é o fato de que os crioulos buscavam se diferenciar dos africanos traficados que já possuíam suas irmandades próprias, como Nossa Senhora do Rosário, São Benedito e Santa Efigênia (PINHEIRO, 2006; SOUZA, 2010; DELFINO, 2015). Segundo Manuela Carneiro da Cunha (1986) e Anderson Oliveira (2006), a escolha dos santos e o compartilhamento de símbolos eram fatores indispensáveis na formação da identidade de qualquer grupo, e os fiéis mercedários construiriam sua identidade e também demarcariam suas fronteiras (BARTH, 1998). Dito isso, consideramos que a grande difusão da devoção ocorrera também em função do crescimento de uma nova camada social, levando a novas perspectivas e expectativas.
A aproximação desses sujeitos com o culto mercedário também pode ter ocorrido pelo empreendimento de religiosos e missionários, como foram os casos de outras devoções: São Benedito pelas ordens franciscanas, Santa Efigênia e Santo Elesbão pelas ordens carmelitas, e o Rosário pelas ordens dominicanas e jesuíticas (OLIVEIRA, 2008). Na América portuguesa, a Ordem de Nossa Senhora das Mercês foi estabelecida no Estado do Maranhão e Grão-Pará, impulsionada por frades mercedários que vieram do Vice-Reino do Peru, em 1639, com o capitão-mor Pedro Teixeira. Com sua instalação na nova região, tinha como suas principais funções a atividade missionária, a educação de cristãos, a conversão e catequese de indígenas. Riolando Azzi (1976) apontou a importância do grande serviço da Ordem “ao bem das almas dos infiéis”. A conversão de gentios foi sempre citada pelos que se dedicaram aos estudos de seus conventos em Belém e no Maranhão, sem desconsiderar o grande número de escravos negros que possuíam (SILVA DE CASTRO, 1974; MOTT, 2009). Assim sendo, nos questionamos, qual teria sido o papel dos frades e missionários mercedários nas Minas? Em carta régia de 12 de julho de 1722, enviada para o governador da Capitania, descobrimos ao menos a presença de padres do convento do Maranhão na região mineradora, sendo solicitada a proibição de sua permanência, como de quaisquer outras ordens regulares.5
5 APM. Originais de Alvarás, Cartas e Ordens Régias, 1721-1725, Secretaria do Governo da Capitania (Seção Colonial), SC-20, p. 21-22.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
335
Embora ainda não tenhamos indícios sobre o papel efetivo da Ordem Mercedária quanto à assimilação e à aproximação dos crioulos com as Mercês, nos chama a atenção a relação sempre reafirmada entre o culto mercedário e a libertação dos cativeiros temporal e espiritual, visto que a Senhora das Mercês era considerada uma intercessora quanto à libertação do cativeiro em vida, uma mediadora do resgate no purgatório e a responsável por livrar qualquer alma cativa vivendo em sofrimento.
A Irmandade de Nossa Senhora das Mercês de Mariana: origem, dinâmica interna e vida associativaA Irmandade de Nossa Senhora das Mercês de Mariana foi
criada em 1749, conforme consta em sua documentação mais antiga, um livro de entrada de irmãos, e em termo de sujeição à jurisdição ordinária assinada pelos “crioulos de Nossa Senhora das Mercês” no mesmo ano.6 Ao se firmarem como uma associação fundada pelos “pretos crioulos”, o grupo demarcava distinções de qualidade, cor e procedência, ressaltando que se entendiam como “nacionais do Reino e Conquista de Portugal”. Não seriam admitidos naturais da “Ethiopia”, salvo os da “Ilha de São Thomé”, por serem considerados seus semelhantes.7 Com essa atitude os indivíduos identificados como crioulos possivelmente buscavam se distinguir dos africanos traficados, mesmo que estes tenham nascido em terras africanas que também correspondessem às conquistas portuguesas, abrindo uma exceção apenas aos habitantes da Ilha de São Tomé. Acreditamos que um indício para compreender a ressalva é o fato de que, segundo Mary Karasch (2000), o termo crioulo seria o designativo mais comum aos escravos nascidos no Brasil, mas que também se aplicava ocasionalmente aos nascidos em colônias portuguesas da África: os “crioulos africanos” de Cabo Verde, Ilha do Príncipe, São Tomé, Angola ou Moçambique. A aproximação cultural, religiosa e
6 AEAM. Livro de fundação de irmandades e capelas, 1748-1765. Armário 8, prateleira 1, p. 14.
7 AEAM. Compromisso da Irmandade Escapulário das Mercês de Mariana, 1771. Armário 8, prateleira 1.
Das utopias ao Autoritarismo
336
linguística, a identificação pelo critério de pertencimento, além do desenvolvimento do processo de “crioulização” são pontos ainda a serem explorados ao longo de nossas pesquisas (HEYWOOD, 2008).
Conforme expresso em seu Livro de Compromisso8, documento que sintetizava suas principais normas e guiava a vida da agremiação, ao fazer petição para entrar, os fiéis deveriam informar nome dos pais, pátria e onde foram batizados, não sendo admitidos ladrões, vagabundos, feiticeiros e revoltosos. O critério de admissão afirmava ainda que brancos e pardos seriam aceitos, expondo que todos iriam “lucrar das indulgências que ganha quem entra por irmão nesta santa irmandade”, informação que certamente chamaria a atenção e promoveria o aumento da associação. Nos Compromissos de outras irmandades mercedárias foi possível observar que seus membros também se identificavam como “pretos crioulos”, os “vulgarmente chamados crioulos” ou como os possuidores de “acidente de cor”. Muitas delas acharam importante reforçar em suas normas que seu principal objetivo era a remissão dos irmãos nos cativeiros corporal e espiritual, durante a vida e a morte (PRECIOSO, 2014).9
As principais normas que guiavam a associação e as tomadas de decisão eram de responsabilidade de um grupo eleito anualmente. A união desses oficiais que ocupavam os principais cargos formava a Mesa Administrativa, composta por juiz, escrivão, tesoureiro, procurador e doze irmãos. Atendendo à pobreza da agremiação, segundo o Compromisso, foi determinada a existência de dois juízes e duas juízas, sendo o primeiro nomeado em eleição, presidindo todos os atos da irmandade. Nomeavam-se também doze mordomas, escolhendo duas delas para procuradoras das esmolas dos doentes, e elas deveriam ter o cuidado de saber se existiam irmãos enfermos
8 AEAM. Compromisso da Irmandade Escapulário das Mercês de Mariana, 1771. Armário 8, prateleira 1.
9 AEAM. Compromisso da Irmandade de N. S. das Mercês de São Bartolomeu, 1807. Armário 8, prateleira 1; Compromisso da Irmandade de N. S. das Mercês de São Gonçalo de Rio Abaixo, 1782. Armário 8, prateleira 1. APNSP-SJDR. Compromisso da Irmandade de N. S. das Mercês de São João del-Rei, 1806; Compromisso da Irmandade de N. S. das Mercês dos pretos crioulos... na Villa de San Jozé..., 1796 (Projeto Brasiliana USP).
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
337
e onde moravam para comunicar ao juiz ou procurador. Também deveriam ser escolhidos dois zeladores e duas zeladoras que cuidariam do recolhimento das esmolas para conservação e seguimento da irmandade, e um andador. As eleições para os cargos eram realizadas na véspera das festividades do dia de Nossa Senhora das Mercês, 24 de setembro, como também estipulavam as Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia (VIDE, 1853). Todas as decisões que envolviam o encontro dos membros diretores ocorriam no consistório ou na sacristia, como expressam os termos de reuniões.
A Irmandade de Mariana destacava ainda as obrigações básicas e funções dos irmãos, como ser temente a Deus; guardar seus Mandamentos; ser devoto à Virgem; confessar nos santos jubileus da irmandade; participar das procissões e missas da capela, sendo esta filial da Santa Sé Catedral, custeada pelos próprios membros para festejarem e louvaram a Deus, pensando sempre no bem de suas almas; assistir irmãos doentes; e pedir esmolas nas ruas com a bacia em enterros. A irmandade tinha como grande obrigação socorrer os irmãos zelosos que precisassem de auxílio a qualquer instante. Em capítulo próprio, discutia o interesse em conceder alforrias aos irmãos cativos. O irmão escravo que fosse zeloso por sua irmandade seria ajudado pelos outros membros a conseguir sua coartação. Durante a festa de Nossa Senhora das Mercês ocorreria, quando houvesse recurso disponível, o auxílio para a libertação de algum irmão escravo, para o dote de casamento de alguma irmã ainda moça e libertação de irmão preso na cadeia, não podendo este ter roubado ou matado.10
Segundo Patrícia Mulvey (1976), além do enterro dos irmãos falecidos e dos sufrágios pelas almas, uma das funções socioeconômicas mais importantes das irmandades de homens de cor era o empréstimo de dinheiro para a compra das cartas de liberdade dos irmãos escravos. Para exemplificar a questão, a autora mostra o caso das irmandades de Sabará e do Tijuco: a primeira ajudou seus membros escravos a obterem a permissão de seus senhores para a compra de sua liberdade e ainda emprestava o dinheiro necessário
10 AEAM. Compromisso da Irmandade Escapulário das Mercês de Mariana, 1771. Armário 8, prateleira 1.
Das utopias ao Autoritarismo
338
aos irmãos; a segunda, além de auxiliar seus membros cativos, se envolvia em longos processos judiciais com seus senhores em caso de revogação da libertação. A Irmandade das Mercês do Sumidouro, por exemplo, garantia em seu Compromisso que o ouro que sobrasse dos ornatos e festejos seria aplicado para a libertação de algum irmão cativo ou preso; enquanto a Irmandade de São João Del Rei estipulava a libertação do cativeiro ilegítimo (PRECIOSO, 2014).11 Em São Bartolomeu, os irmãos escravos deveriam consultar a vontade de seu senhor sobre sua filiação e ocupação de cargos. Caso o irmão quisesse se libertar, a confraria ajudaria com a esmola que pudesse, e através desse ato de caridade os irmãos mostravam-se “legítimos filhos da Santíssima Virgem Redentora dos Cativos”.12
Como aponta Leonara Lacerda (2015), o auxílio às alforrias era prestado em prol de melhores condições de vida para os irmãos devotos que mereciam. Dessa forma, a escolha dos parceiros conjugais e redes sociais (como o compadrio e as relações de trabalho), bem como a participação em confrarias, possibilitavam múltiplas percepções de acesso à liberdade e estratégias, formando um “horizonte de expectativas” enquanto projeções de futuro e projetos de vida possíveis (KOSELLECK, 2006). As estratégias individuais e coletivas de membros de irmandades de “homens de cor”, como as Mercês, também têm nos instigado, seja requerendo à Coroa a extensão de privilégios e benefícios, como a permissão de conceder alforrias13 aos membros escravos ou ainda quando pretendiam defender a libertação do cativeiro, utilizando-se, com uma nova interpretação, da legislação e concessões régias referentes ao caso dos indígenas na América portuguesa (1611) ou dos descendentes de africanos em Portugal (1773). É interessante apontar que, com a administração pombalina e os novos ares da Ilustração, quando ocorrera, ao menos no âmbito formal, a supressão
11 APNSP-SJDR. Compromisso da Irmandade de N. S. das Mercês de São João del-Rei, 1806.
12 AEAM. Compromisso da Irmandade de N. S. das Mercês de São Bartolomeu, 1807. Armário 8, prateleira 1.
13 Concessões régias feitas em 1688-1689 aos pretos das confrarias do Rosário de Lisboa (MULVEY, 1976).
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
339
dos critérios de limpeza de sangue nas irmandades, houve também a libertação dos descendentes de africanos no Reino, em 1773, o que teria intensificado os pedidos de resgate de escravos e de extensão dos privilégios alcançados. Distintas leituras, interpretações e apropriações de leis, alvarás e concessões régias surgiriam adaptadas à realidade dos sujeitos nascidos nas conquistas portuguesas, embora os discursos dessas documentações fossem restritos ao Reino e não a toda a extensão do Império (FALCON, 1996; SILVA, 2001; ANDRADE, 2018).
Escravidão e categorias de distinção étnico-social na América portuguesa
As irmandades dedicadas a Nossa Senhora das Mercês nas Minas Setecentistas se caracterizaram por agremiarem os negros nascidos nos domínios portugueses da América. Nesse sentido, é necessário compreendermos agora o que significava ser crioulo, comparando regiões e períodos, além das outras categorias sociais relacionadas. Os africanos traficados para o Novo Mundo foram comumente chamados de “pretos” ou “negros”, demarcando seu caráter estrangeiro (outsiders) e a condição de cativo, embora estivessem ainda subdivididos de acordo com grupos étnicos ou “grupos de procedência”, as chamadas “nações” constituídas a partir da experiência colonial (SOARES, 2000). Para Mary Karasch (2000, p. 37), o termo “negro” era destinado aos africanos, também sendo sinônimo de escravo, enquanto “’preto’, porém, parece ter sido um termo um pouco mais neutro para ‘negro’, especialmente nos casos em que a nacionalidade ou o status legal de uma pessoa negra era desconhecido”14. No século XIX, de acordo com Sheila Faria (1998), tais denominações faziam referência à condição escrava, fosse atual ou passada. A noção de “africano”, contudo, não aparece nos documentos históricos, visto que essa é uma caracterização
14 O termo “‘boçal (buçal)’ se aplicava tanto ao africano novo como ao que não aprendera os costumes portugueses ou brasileiros depois de muitos anos de escravidão. Por outro lado, se um africano falasse português e se comportasse como um assimilado, então o nome apropriado era ‘ladino’” (KARASCH, 2000, p. 43).
Das utopias ao Autoritarismo
340
do pesquisador para indicar os procedentes do tráfico atlântico (BRÜGGER; OLIVEIRA, 2009). Vejamos, agora, o caso dos crioulos.
No dicionário de Raphael Bluteau, o termo “crioulo” designava o “escravo, que nasceu na casa do seu senhor” (BLUTEAU, 1712-1728, p. 613), estando intimamente ligado ao cativeiro e à reprodução desses escravos. O dicionário de Moraes Silva (1813) adicionaria o fato do crioulo não ser comprado, também se referindo à condição de escravo. Já Antonil relatou que o termo remetia aos indivíduos que “se criaram desde pequenos em casa dos brancos, afeiçoando-se a seus senhores, dão boa conta de si. E levando bom cativeiro, qualquer deles vale por quatro boçais” (ANTONIL, 1711, p. 122). Neste caso, as ideias de fidelidade ou afetividade estão mais presentes, além de mostrar que os crioulos seriam mais especializados em seu trabalho. No século XIX o viajante Rugendas (1972) retratou os crioulos como mais próximos e adaptáveis aos costumes do Novo Mundo, pois não teriam que carregar uma “bagagem” cultural e antigas tradições, como os povos de origens africanas. Entretanto, considerando sua ascendência e reconhecendo a proximidade com seus familiares, é possível que os crioulos estivessem em uma condição intermediária entre as origens africanas e os traços culturais próprios à experiência na América (RUSSELL-WOOD, 2005). Seriam diferentes dos africanos, apesar destes serem fundamentais na formação da identidade crioula (REZENDE, 2013).
Na historiografia observamos algumas variações quanto às explicações do uso do termo “crioulo”, diferindo de acordo com o local e o período analisado, pautadas principalmente por registros paroquiais. Segundo Douglas Libby e Zephyr Frank (2009), em Minas o “crioulo” se referia ao negro nascido no Brasil com mãe de origem africana, demarcando distinções de cor e procedência. Além disso, o crioulo nascia escravo quando filho de mãe escrava, e livre quando filho de mãe forra. Os pais poderiam ser negros, crioulos ou pardos; enquanto os filhos de pais brancos seriam comumente classificados como pardos, mulatos ou até mestiços. O consenso entre os especialistas está no fato dos filhos de escravas africanas serem designados como crioulos, entretanto, as gerações seguintes são mais
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
341
difíceis de classificar. Por vezes a designação se mantinha, mas em outros casos poderia desaparecer.
Já para Mariza Soares (2002), o termo “crioulo”, observado para a experiência do Rio de Janeiro, também era normalmente relacionado ao filho de africano nascido no Brasil, mas a autora complementa que era também uma condição provisória, visto que o filho deste último não receberia a designação. Com isso, percebeu um “apagamento” da designação no decorrer da descendência e que essa designação se manteria apenas com a manutenção do tráfico, ou seja, com a chegada de novos africanos que aqui teriam seus filhos. Para ela, no século XIX se generalizaria o uso do termo para todos os afrodescendentes nascidos nas sociedades colonial e imperial. Outros autores, como Hebe Mattos de Castro (1995), relacionam o termo exclusivamente à experiência do cativeiro, sendo os crioulos geralmente escravos ou forros recentes. Para Sheila Faria (1998), o crioulo seria obrigatoriamente um escravo, não podendo nascer livre; e seus filhos seriam ainda comumente chamados de pardos. É possível perceber que o termo era muito fluido, visto de diversas formas ao longo do tempo e em cada região.
Com base em nossas pesquisas, tendemos a concordar com os resultados obtidos por Douglas Libby e Zephyr Frank (2009) para a América portuguesa, embora avancemos um pouco. Consideramos que o termo “crioulo” aponta inicialmente para a distinção do negro traficado de terras africanas, demarcando uma fronteira para os que nasciam no Império Ultramarino Português (colônias portuguesas) ou, de forma mais abrangente, abarcando toda a Ibero-América (KARASCH, 2000; PAIVA, 2015). Com o passar das gerações a classificação tornava-se mais complexa, mas poderia ser mantida. Sendo escravo ou não, o termo carregava consigo um histórico familiar de cativeiro. Rodrigo Rezende (2013) observou que o termo foi designado a inúmeros tipos de enlaces matrimoniais, ambos nascidos em meio à sociedade colonial. Os crioulos formavam nações no sentido de terem procedências e origens, e estavam constantemente amalgamados à realidade da escravidão. Devemos, portanto, compreender a abrangência e multiplicidade de sentidos para
Das utopias ao Autoritarismo
342
distintas localidades, como nas pesquisas de Linda Heywood (2008) sobre o processo de “crioulização”, e propor comparações e conexões que abarquem a complexidade dessa categoria social em perspectiva atlântica, não definida apenas dentro de uma espacialização política previamente delimitada, mas desenvolvida por meio das interações socioculturais e das trajetórias dos sujeitos.
Ainda é preciso esclarecer que, para Mariza Soares (2002), como ser crioulo era uma condição provisória, as gerações seguintes não seriam identificadas dessa forma, mas apenas por sua condição de escravo ou forro. Em vista disso, a autora considerou que eles não constituíram um grupo estável com interesses comuns. Assim como Daniel Precioso (2014), não concordamos com tal afirmativa, pois os crioulos se instituíram como grupo e possuíram uma identidade pautada por critério de pertencimento, fortemente atrelada à devoção mercedária no contexto confrarial das Minas Setecentistas, unindo a simbologia da libertação à aquisição de benefícios espirituais próprios de sua religião, mas também por convergirem sua busca pela distinção e mobilidade social, bem como pela demarcação do lugar social ocupado. Com efeito, devemos considerar ainda a atuação e a representação social desses indivíduos em meio à sociabilidade urbana, à administração paroquial, às relações de poder local e à posição de vassalos do poder Real.
Enquanto isso, o termo “pardo” seria usado para designar os nativos de alguma ascendência africana, fazendo referência à tonalidade da pele. Mesmo se referindo a um tipo de condição social, se tratava principalmente da miscigenação de origens africanas e europeias (LIBBY; FRANK, 2009). Daniel Precioso (2014) observou que o termo aparecia com dois sentidos nas documentações, às vezes correspondia ao filho de branco e preto, mas também poderia representar o indivíduo de cor e livre que, por meio de estratégias de mobilidade social, conseguiu se distanciar da experiência do cativeiro. Em Russell-Wood (2005) vemos ainda uma distinção entre as categorias de pardo e mulato. Embora ambas designassem os mistos entre as duas raças, o pardo seria o indivíduo trabalhador, integrado na sociedade e moralmente aceitável, enquanto o mulato
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
343
era representado como um vadio, preguiçoso, desonesto e insolente. Outra designação de miscigenação, o termo “cabra” correspondia à ascendência africana e se referia aos filhos de pais de origens mistas (LIBBY; FRANK, 2009). Sendo assim, observamos que é preciso analisar cada região e período de forma específica, tendo em vista o tráfico e a reorganização dos grupos, das novas categorias sociais com a dinâmica da escravidão, das identidades e das culturas no Novo Mundo.
Os irmãos mercedários: composição social e sociabilidade em Mariana
Nesse momento, apresentaremos os fiéis agremiados à Irmandade das Mercês de Mariana, com o intuito de conhecer seu perfil social, destacando informações quanto ao gênero, à qualidade e à condição, por exemplo. Ao longo de nossa pesquisa, em uma análise quantitativa, identificamos 1440 nomes, com base nos Livros de Entrada de Irmãos, entre os anos de 1753 a 1830. Do total de registros constatamos que 663 (46,04%) correspondem a homens, 774 (53,75%) a mulheres e 3 (0,21%) estavam ilegíveis. Quanto a esse resultado, Marcos Aguiar (1993) já havia apontado sobre a predominância feminina em suas análises de irmandades de cor em fins do século XVIII e início do XIX. Além disso, a presença feminina na maioria das vezes estava desatrelada à entrada de cônjuge. Segundo o autor, também os forros e os livres se destacaram na vida associativa desse período, como veremos a seguir.
Tendo em vista o número de entradas de irmãos, observamos um maior número de inscritos nas décadas de 1770, 1790, 1800 e 1810, como exposto na tabela a seguir. É preciso ressaltar ainda que em alguns anos não foram feitos termos, como em 1756, 1759, 1764, 1768, 1778. 1785, 1823 e 1828.
Das utopias ao Autoritarismo
344
TABELA 1: Número de entradas de irmãos por décadas15 Período Nº de entradas
1753-1758 26 entradas1760-1769 61 entradas1770-1779 167 entradas1780-1789 72 entradas1790-1799 160 entradas1800-1809 526 entradas1810-1819 367 entradas1820-1830 54 entradas
S/D 7 entradas
Na década de 1770, período de confecção do Livro de Compromisso, se observou o primeiro momento de maior agremiação, com destaque para o ano de 1777. Possivelmente uma grande maioria dos irmãos filiados, que não possuíam seu termo oficializado, se organizou para fazê-lo. Entretanto, o início do século XIX marcou o momento de maior agremiação, o que acompanhava o movimento de “crioulização” observado em Minas, um período de crescimento do número de crioulos.16 Na Irmandade de Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia – a “Mercês de Cima” –, da Freguesia de Nossa Senhora do Pilar de Vila Rica, por exemplo, o número de entradas também cresceu muito a partir da década de 1770, e a maior quantidade de agremiados foi verificada no início do século XIX (PRECIOSO, 2014).
Segundo Russell-Wood (2005), a primeira metade do século
XVIII correspondeu ao período de maior número de manumissões, enquanto a segunda metade apresentaria uma recessão
15 Fonte: AEAM. Livro de entrada. Irmandade de Nossa Senhora das Mercês (1749-1810). Prateleira P, nº3; AEAM. Livro de Entrada. Irmandade de Nossa Senhora das Mercês (1815-1829). Prateleira P, nº 4; AEAM. Livro de Entrada. Irmandade de Nossa Senhora das Mercês (1777-1814). Prateleira P, nº 32.
16 Hebe Mattos de Castro (1995) também utilizou o termo “crioulização” para se referir ao crescente número de crioulos na sociedade colonial de fins do século XVIII e início do XIX.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
345
em função do declínio minerador. Inúmeros estudos, como o recentemente produzido por Leonara Delfino (2015), apontam para um aumento gradual de crioulos nas mais diversas freguesias e para a expansão da população crioula em Minas Gerais a partir do século XIX. Para Daniel Precioso (2014, p. 97), o mais provável é que as irmandades mercedárias tenham sido um “reflexo do aparecimento de uma ampla camada de forros, que despontou em virtude da prática da alforria e do processo de crioulização das escravarias mineiras”; mas acrescentamos aí as gerações seguintes, dos já nascidos em liberdade. Também podemos analisar essa questão em comparação às cifras levantadas pelo autor sobre a população de Mariana através do Rol dos Confessados de 1809. A cidade possuía 1.795 homens (49,16%) e 1.856 mulheres (50,84%). Do total de indivíduos, 2.481 (67,95%) eram livres e 1.170 (32,04%) eram escravos. No início do século XIX o número de livres era muito superior ao de escravos, tanto entre os homens quanto entre as mulheres, o que se diferenciava da situação de algumas décadas anteriores. Com novas demandas, muitos indivíduos buscavam outros espaços de sociabilidade. Dito isso, ao analisarmos o critério “qualidade” dos membros, demarcando ao mesmo tempo cor e procedência, deparamo-nos com os seguintes dados:
TABELA 2: Qualidade dos membros e divisão entre homens e mulheres. Séculos XVIII e XIX.17
Qualidade Mulher Homem TotalCrioulo 89 75 164 (11,39%)Pardo 32 15 47 (3,26%)
Preto/negro 22 16 38 (2,64%)Cabra 6 5 11 (0,76%)
Branco 1 3 4 (0,28%)
N/C 625 551 1176 (81,67%)
17 AEAM. Livro de entrada. Irmandade de Nossa Senhora das Mercês (1749-1810). Prateleira P, nº3; AEAM. Livro de Entrada. Irmandade de Nossa Senhora das Mercês (1815-1829). Prateleira P, nº 4; AEAM. Livro de Entrada. Irmandade de Nossa Senhora das Mercês (1777-1814). Prateleira P, nº 32.
Das utopias ao Autoritarismo
346
Independente da irmandade se considerar uma associação “crioula”, ou seja, fundada e destinada aos “pretos crioulos”, como ressaltado em seu Compromisso,18 o número de indivíduos que foram classificados de tal forma foi baixíssimo em relação ao total de entrantes. É importante ressaltarmos que dos 164 indivíduos crioulos, 72 (43,9%) eram forros, 79 (48,17%) eram escravos e apenas 13 (7,92) não mencionaram condição alguma. Além de certo equilíbrio, vemos que a categoria crioula se encontrou frequentemente atrelada à existência de uma condição a ser demarcada, seja de cativo ou de liberto. Tal fato se aproxima em certa medida ao que foi exposto por Sheila Faria (1998) e Hebe Mattos (1995), mas acreditamos que a categoria não estaria obrigatoriamente associada a uma condição.
Um número também muito inferior foi o referente aos pardos, que podem, como os crioulos, ter constantemente mascarado o estigma de sua cor. Acreditamos que no meio confrarial a distinção entre crioulos e pardos, enquanto forros ou livres, poderia ser mais fluida, tendo em vista as grandes ausências de demarcação nos registros; mas também consideramos que os pardos possuíam sim o interesse de demarcar suas fronteiras em relação aos crioulos e aos negros, mesmo que na prática a situação fosse mais complexa. Ao mesmo tempo em que eram semelhantes por serem nascidos na América portuguesa, pardos e crioulos mantiveram muitos conflitos, como o caso de Vila Rica. Neste exemplo ainda estava em jogo o reconhecimento social e financeiro de arquiconfrades e terceiros de cor. Em Mariana foi possível perceber casos de membros que pertenceram às Mercês e à Arquiconfraria do Cordão de São Francisco. Esta associação aceitava, além dos pardos, os crioulos e pretos forros, embora seu Compromisso não demarcasse a predominância de nenhum grupo específico.19 A documentação não restringia a entrada de escravos, mas não foi algo comum. As cláusulas restritivas foram frequentes em irmandades de pardos, e a falta de restrição não indicava obrigatoriamente a aceitação, como mostrou Marcos Aguiar (1993).
18 AEAM. Compromisso da Irmandade Escapulário das Mercês de Mariana. 1771. Armário 8, prateleira 1.
19 AEAM. Compromisso da Arquiconfraria do Cordão de São Francisco de Mariana, 1760. Armário 8, prateleira 1, nº 21
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
347
As irmandades, embora direcionadas a determinadas qualidades de membros, não eram instituições fechadas. Uma maior interação poderia ser observada entre o grupo fundador da associação e camadas sociais semelhantes ou superiores a ele; contudo, exceções eram realizadas em meio à vivência e a entrada de grupos de camadas inferiores era muitas vezes tolerada (PRECIOSO, 2014). O distanciamento em relação aos grupos inferiores na hierarquia social poderia nos parecer mais lógico, mas é necessário termos em mente que as circunstâncias e as possibilidades de interação direcionariam às melhores possibilidades para os sujeitos caso a caso. Certas vezes os pardos poderiam se aproximar mais dos brancos do que dos crioulos, e estes poderiam almejar seu distanciamento imediato dos africanos. Contudo, a dinâmica escravista e a vida confrarial proporcionariam múltiplas possibilidades. As relações sociais nem sempre tendiam ao “embranquecimento”, sendo a realidade mais complexa. No caso das Mercês de Mariana, uma maior distinção seria promovida, já em seu Compromisso, em relação aos pretos, que também apresentaram baixo número entre os agremiados. Com um maior número de mulheres, ressaltamos que as cláusulas restritivas comumente as desconsideravam privilegiando possíveis enlaces matrimoniais. Dos 38 membros identificados como pretos, encontramos 2 benguelas, 7 minas e 24 angolas, sendo a aproximação entre estes últimos e os crioulos já amplamente destacada na historiografia.
Já os indivíduos brancos não possuíam a necessidade de declarar sua cor ou a condição de livre em seu cotidiano; dessa forma, é impossível saber o real número de brancos agremiados às Mercês. Entretanto, é interessante apontar que a presença de homens brancos nas associações de homens de cor, como também na ocupação de cargos administrativos, pode ser interpretada como uma pretensão de reconhecimento social, de ampliação de redes de contatos e espaços de sociabilidade, bem como para maiores possibilidades de obtenção de benefícios diretos ou indiretos. Filiavam-se por devoção, mas também para promover um maior controle dos negros (SCARANO, 1978).
Quanto à condição dos membros, identificamos que 432 (30%) eram escravos, sendo 218 homens, 213 mulheres e um ilegível;
Das utopias ao Autoritarismo
348
104 (7,22%) eram forros, sendo 41 homens e 63 mulheres; e 904 (62,78%) registros de membros não declararam condição (Tabela 3). Segundo nossos dados, o número de escravos foi superior ao de forros, mas possivelmente muitos destes últimos podem não ter relatado sua condição, o que ocorreria com o distanciamento de sua vida cativa anterior (CASTRO, 1995). Na “Mercês de Cima” de Vila Rica a situação foi distinta, pois o número de forros foi maior ao de escravos, bem como em São José Del Rei (SILVA, 2012; PRECIOSO, 2014).
TABELA 3: Condição dos membros e divisão entre homens e mulheres. Séculos XVIII e XIX.20
Condição Mulher Homem Ilegível TotalEscravo 213 218 1 432 (30%)Forro 63 41 - 104 (7,22%)N/C 498 404 2 904 (62,78%)
O grande número de registros sem informação quanto à qualidade, cor e condição é surpreendente, talvez se referindo principalmente à população de cor nascida em liberdade. Em vista disso, primeiramente precisamos destacar os problemas presentes na própria documentação. Os registros de entrada são sempre muito incertos, e muitas vezes também encontramos condições em transição, como quando há a informação de um membro escravo e uma pequena anotação posterior informando que ele se alforriou. Agora, imaginemos quantas pessoas tiveram sua condição social alterada ao longo do tempo e não registraram isso nas fontes confrariais. Os lugares ocupados pelos indivíduos na hierarquia social poderiam oscilar, e as fontes também refletem isso, pois um mesmo indivíduo poderia ser registrado de duas formas diferentes em documentos distintos. Além disso, nem todos os indivíduos que aparecem sem marcadores sociais nas documentações devem ser considerados como brancos ou livres, pois a negligência dos produtores dos registros também era grande.
20 Fonte: AEAM. Livro de entrada. Irmandade de Nossa Senhora das Mercês (1749-1810). Prateleira P, nº3; AEAM. Livro de Entrada. Irmandade de Nossa Senhora das Mercês (1815-1829). Prateleira P, nº 4; AEAM. Livro de Entrada. Irmandade de Nossa Senhora das Mercês (1777-1814). Prateleira P, nº 32.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
349
Nesse sentido, o silêncio das cores, como analisou Hebe Mattos de Castro (1995), pode estar relacionado à posição, ascensão e mobilidade sociais e ao esforço produzido pelo próprio homem de cor e seus descendentes. Tal questão expressa o contexto vivenciado na fluida e diversificada sociedade estamental mineira. A noção de cor “não designava, preferencialmente, matizes de pigmentação ou níveis diferentes de mestiçagem, mas buscava definir lugares sociais, nos quais etnia e condição estavam indissociavelmente ligadas” (CASTRO, 1995, p. 98-99). Como a mudança de posição social poderia levar à ausência da demarcação ao longo do tempo, a alteração do ambiente de sociabilidade também poderia ocorrer. Segundo Kellen Silva (2012), um escravo alforriado poderia almejar, por exemplo, seu deslocamento do Rosário às Mercês, ou ainda permaneceria em ambas. Entre as décadas de 1750 e 1770 a ausência da qualidade foi predominante nos registros, aparecendo algumas vezes a partir de 1780. Em períodos de registro de muitos irmãos, como em 1777, a categoria se encontra totalmente ausente. É possível que seja opção do próprio escrivão, visto que alguns faziam registros detalhados, enquanto outros eram mais relapsos. Mesmo em anos em que essa ausência é mais frequente, a condição é registrada, possivelmente sendo considerado mais importante demarcar as fronteiras entre livres, forros e escravos.
A partir de Fernanda Pinheiro (2006) vemos que, diferente das Mercês, muitos indivíduos das irmandades negras de Mariana declararam condição social, pois nos registros do Rosário, entre 1750 e 1819, foram constatados 64,5% de membros escravos e 26,5% de forros. Dentre os indivíduos que não declararam cor e condição, a autora demonstrou que possivelmente seriam os brancos pobres ou os descendentes de pretos libertos, o que aponta para a fluidez das categorias, tanto da cor da pele como da posição social garantida pela atividade econômica desempenhada. Fernanda Pinheiro (2006) rebate ainda a ideia de um processo de “crioulização” a partir de meados do século XVIII no Rosário em Mariana, pois enquanto no último decênio a irmandade recebia apenas noventa e quatro novos membros, a Mercês recebia cerca de oitocentos e oitenta e cinco
Das utopias ao Autoritarismo
350
matrículas entre 1790 e 1815. Este seria, então, um momento de maior destaque das associações mercedárias em detrimento ao Rosário? A relação entre essas irmandades, segundo Caio Boschi (1986), era de complementaridade, pois havia certa interação entre elas. O que as diferenciaria era o ideal de resgate dos cativos, próprio às Mercês. Tal visão, contudo, é insuficiente, pois as alforrias também poderiam ser almejadas pelos agremiados ao Rosário; e, por mais que a devoção mercedária tivesse esse ideal, nem sempre foi possível aos seus membros promover libertações. Esse foi o caso da Irmandade das Mercês de Mariana. Acreditamos que essas associações agremiavam públicos distintos, e o momento de auge vivido pelas Mercês correspondeu antes a um novo contexto com novas demandas sociais. Dessa forma, as irmandades mercedárias podem ser entendidas também como frutos da estratificação das populações de cor em meio à diversificada sociedade colonial.
As relações socioculturais existentes entre as irmandades e seus membros, entretanto, não deixaram de existir. Para Fernanda Pinheiro (2006), a ligação direta e imediata entre africanos e crioulos era indispensável para a aceitação destes nas confrarias negras. Além disso, esses crioulos agremiados ao Rosário poderiam não ver a necessidade de buscar outro espaço de sociabilidade. Apesar das possibilidades de mobilidade vistas constantemente em Minas, nas normas confrariais percebemos claramente a necessidade da demarcação de fronteiras, assim como da afirmação de identidades. As interações, longe de significar a eliminação das fronteiras, acentuavam as diferenças grupais; contudo, tais fronteiras não eram estanques ou impermeáveis, mas possibilitavam o contato e a troca de símbolos, significações e sentidos através da negociação e das lutas de representação (DELFINO, 2015).
A partir dos Livros de Entradas das Mercês de Mariana21 é possível observar informações sobre escravos e seus
21 AEAM. Livro de entrada. Irmandade de Nossa Senhora das Mercês (1749-1810). Prateleira P, nº3; AEAM. Livro de Entrada. Irmandade de Nossa Senhora das Mercês (1815-1829). Prateleira P, nº 4; AEAM. Livro de Entrada. Irmandade de Nossa Senhora das Mercês (1777-1814). Prateleira P, nº 32.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
351
proprietários, relações matrimoniais, filiação, habitação, ocupação, cargos administrativos e agregação à casa de alguém. Através da sociabilidade promovida pelas irmandades vemos as alianças verticais ou horizontais formadas. O compartilhamento do espaço de sociabilidade construído era um prolongamento de outros espaços de convívio. A demarcação de fronteiras abriria brechas para a interação promovida por africanos, crioulos, pardos e brancos em meio a diferentes tipos de relações sociais.
Considerações FinaisAo se aventurarem pelos montanhosos sertões e, a custo de
sangue e suor, formarem os núcleos urbanos mineradores, indivíduos de qualidades, crenças e costumes distintos se uniram no território que posteriormente se tornaria a Capitania de Minas Gerais. Com eles se desenvolveram inúmeras possibilidades de miscigenação, biológica e cultural, que geraram uma sociedade complexa, fluida e multifacetada. A sociedade mineira, em parte herdeira do mundo estamental e caracterizada pela classificação e hierarquização social, teve de se adaptar às condições da inconstância do ouro. O enriquecimento, o acesso aos cargos e as redes de contatos eram formas de burlar as normas e os valores estabelecidos, bem como promover a mobilidade social de homens de cor que viveram ou não a experiência do cativeiro (SILVEIRA, 1996; PAIVA, 2001). Como expôs Hebe Mattos de Castro (2001, p. 155), “a escravidão e a multiplicação de categorias sociais referentes à população afrodescendente se mostrariam como a face mais visível da constante expansão do Antigo Regime em perspectiva atlântica”. Pardos, crioulos ou negros apresentavam graus distintos na hierarquia social, mas compartilhavam o fato de estarem, ou terem estado, próximos à fronteira que separava liberdade e escravidão.
Como nos foi possível observar, a Irmandade de Nossa Senhora das Mercês de Mariana, embora fundada pelos denominados “pretos crioulos”, agregava, mesmo que em graus distintos, indivíduos pretos, crioulos, pardos, cabras e brancos, entre livres, escravos e libertos. A pluralidade e a diversidade existentes no interior das
Das utopias ao Autoritarismo
352
irmandades, bem como a grande quantidade de registros silenciados quanto aos designativos étnico-sociais, fazem com que múltiplas questões precisem ainda ser problematizadas. Deduzimos que o grande número de indivíduos agremiados que não mencionaram qualidade, cor ou condição corresponderia aos descendentes de homens de cor alforriados ou já nascidos em liberdade em fins do século XVIII. Crioulos nascidos livres, assim como seus futuros descendentes, possivelmente não mencionavam tais demarcações no ato de entrada, pois com certeza faziam questão de não ressaltar seu histórico familiar escravo. Dessa forma, provavelmente os membros sem maiores informações seriam crioulos forros ou nascidos livres, pardos ou brancos pobres.
Consideramos, assim, que a segregação de grupos étnicos em irmandades distintas é muito fluida, pois diferentes categorias sociais acabavam participando de uma mesma associação. O “ser crioulo” não corresponderia apenas ao efeito de um processo de estratificação social rígido; devemos considerar que esses sujeitos constituíam os mecanismos de configuração/reconfiguração das distinções sociais e étnicas, principalmente quando buscavam sua atuação em coletividades. Isso significa, por exemplo, repensar o que simbolizava para indivíduos de distintas qualidades a agremiação em uma instituição representada como crioula. Compreendemos que as Irmandades das Mercês nas Minas foram instituições crioulas, mesmo que tenham possuído membros de categorias diversas, pois é em sua ação política e na construção de um “espaço público” que ser crioulo fazia sentido. Ser crioulo dependia da lógica do agrupamento coletivo e do reconhecimento, por isso no decorrer de nossas pesquisas propomos que tal categoria corresponderia a algo ainda maior do que o âmbito biológico e demográfico.
Referências:Fontes Manuscritas:
Arquivo Eclesiástico da Arquidiocese de Mariana:
Livro de Registro Geral da Cúria. Provisões, Sentenças, Termos e Portarias,
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
353
1768-1770. Armário 2, prateleiras 1-4, p. 67; Livro de fundação de irmandades e capelas, 1748-1765, Armário 8, prateleira 1, p. 14; Compromisso da Irmandade Escapulário das Mercês de Mariana, 1771, Armário 8, prateleira 1; Livros de Entrada da Irmandade de N. S. das Mercês, 1749-1810, Prateleira P, nº3; 1815-1829, Prateleira P, nº 4; 1777-1814, Prateleira P, nº 32; Compromisso da Irmandade de N. S. das Mercês da Freguesia de São Bartolomeu, 1807, Armário 8, prateleira 1; Compromisso da Irmandade de N. S. das Mercês de São Gonçalo de Rio Abaixo, 1782, Armário 8, prateleira 1; Compromisso da Arquiconfraria do Cordão de São Francisco de Mariana, 1760, Armário 8, prateleira 1, nº 21.
Arquivo da Paróquia de Nossa Senhora do Pilar de São João Del Rei:
Compromisso da Irmandade de N. S. das Mercês de São João del-Rei, 1806; Compromisso da Irmandade de N. S. das Mercês dos pretos crioulos incorporada na sua Igreja, que elles edificarão, ornarão, e paramentarão, na Villa de San Jozé..., 1796, Projeto Brasiliana USP. Disponível em: <https://digital.bbm.usp.br/handle/bbm/5388>. Acesso em: 28 ago. 2018.
Arquivo Público Mineiro:
Originais de Alvarás, Cartas e Ordens Régias, 1721-1725, Secretaria do Governo da Capitania (Seção Colonial), SC-20, p. 21-22.
Fontes Impressas:
ANTONIL, André João, 1650-1716. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e Minas. Lisboa, Deslandesiana, 1711.
BLUTEAU, Raphael. Vocabulario portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico... Coimbra: Collegio das Artes da Companhia de Jesus, 1712-1728.
RUGENDAS, Johann Moritz. Viagem Pitoresca através do Brasil. Tradução Sérgio Millet. São Paulo: Martins; Ed. da Universidade de São Paulo, 1972.
SILVA, Antonio Moraes. Diccionario da lingua portugueza - recompilado dos vocabulários impressos ate agora... (1789). Lisboa: Typographia Lacerdina, 1813.
VIDE, Sebastião Monteiro da. (Arcebispo, 1643-1722). Constituições Primeiras do Arcebispado da Bahia feitas, e ordenadas pelo Illustrissimo, e Reverendissimo Senhor D. Sebastião Monteiro da Vide: propostas, e aceitas em o Synodo Diocesano, que o dito Senhor celebrou em 12 de junho do anno de 1707. São Paulo: Tipografia 2 de Dezembro de Antonio Louzada Antunes, 1853. Disponível em: <http://www2.senado.gov.br/bdsf/item/id/222291>. Acesso em: 04 ago. 2018.
Das utopias ao Autoritarismo
354
Bibliografia:
AGUIAR, Marcos Magalhães. Vila Rica dos confrades. A sociabilidade confrarial entre negros e mulatos no século XVIII. 1993. 318 f. Dissertação (Mestrado em História) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1993.
ALENCASTRO, Luiz Felipe de. O trato dos viventes: formação do Brasil no Atlântico Sul. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.
ANDRADE, Francisco Eduardo. Cativeiros e enredos de libertação dos devotos de cor nas Minas da América portuguesa. Revista Brasileira de História das Religiões, Ano X, n. 30, p. 149-175, jan./abr. 2018.
AZZI, Riolando. A Ordem das Mercês no Brasil: Instalação, Expansão e Extinção. Convergência, p. 558-575, nov. 1976.
BARTH, Fredrik. Grupos étnicos e suas fronteiras. In: POUTIGNAT; STREIFF-FENART (Orgs.). Teorias da Etnicidade. São Paulo, Editora da UNESP, 1998.
BORGES, Célia Maia. Escravos e Libertos nas Irmandades do Rosário: Devoção e Solidariedade em Minas Gerais, Séculos XVIII e XIX. Juiz de Fora: UFJF, 2005.
BOSCHI, Caio César. Os Leigos e o Poder. Irmandades Leigas e Política Colonizadora em Minas Gerais. São Paulo: Ática, 1986.
BRÜGGER, Sílvia Maria Jardim; OLIVEIRA, Anderson. Os Benguelas de São João del Rei: tráfico atlântico, religiosidade e identidades étnicas (Séculos XVIII e XIX). Tempo, Rio de Janeiro, v. 13, n. 26, p. 177-204, 2009.
CASTRO, Hebe Maria Mattos de. Das Cores do Silêncio. Os significados da liberdade no Sudeste Escravista – Brasil – século XIX. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1995.
CASTRO, Hebe Maria Mattos de. A escravidão moderna nos quadros do Império português: o Antigo Regime em perspectiva atlântica. In: FRAGOSO, João; BICALHO, Maria Fernanda e GOUVÊA, Maria de Fátima Silva (Orgs.). O Antigo Regime nos Trópicos: a dinâmica imperial portuguesa (séculos XVI-XVIII). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
CHARTIER, Roger. A história cultural: entre práticas e representações. 2. ed. Lisboa: DIFEL, 2002.
CUNHA, Manuela Carneiro da. Antropologia do Brasil: mito, história e etnicidade. São Paulo: Brasiliense/EDUSP, 1986.
DELFINO, Leonara Lacerda. O Rosário dos Irmãos Escravos e Libertos: Fronteiras, Identidades e Representações do Viver e Morrer na Diáspora Atlântica.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
355
Freguesia do Pilar-São João Del-Rei (1782-1850). 2015. 526 f. Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2015.
FALCON, Francisco. As práticas do reformismo ilustrado pombalino no campo jurídico. Bilros, Rio de Janeiro, 8, p. 73-87, 1996.
FARIA, Sheila de Castro. A colônia em movimento. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1998.
HEYWOOD, Linda. De português africano: a origem centro-africana das culturas atlânticas crioulas no século XVIII. In: HEYWOOD, Linda. (Org.). Diáspora negra no Brasil. São Paulo: Contexto, 2008, p. 101-124.
KARASCH, Mary. A vida dos escravos no Rio de Janeiro, 1808-1850. São Paulo: Cia das Letras, 2000.
KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto; Ed. PUC-Rio, 2006.
LIBBY, Douglas; FRANK, Zephyr. Voltando aos registros paroquiais de Minas colonial: etnicidade em São José do Rio das Mortes, 1780-1810. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 29, n. 58, p. 383-415, 2009.
LIMA JÚNIOR, Augusto de. História de Nossa Senhora em Minas Gerais. Belo Horizonte: Editora PUC‐Minas, 2008.
MOTT, Luiz. Travessuras de um frade sodomita no Convento das Mercês de Belém do Pará (1652-1658). Revista Estudos Amazônicos, v. IV, n. 2, 2009, p. 11-35, 2009
MULVEY, Patrícia. The black lay brotherhoods of Colonial Brazil: a History. 1976. 339 f. Tese (Doutorado) - City University of New York, Nova York, 1976.
OLIVEIRA, Anderson José Machado de. Santos de Cor: hagiografia e hierarquias sociais na América Portuguesa (Século XVIII). RIHGB, Rio de Janeiro, a. 169 (438): p. 09-27, jan./mar. 2008.
OLIVEIRA, Anderson José Machado de. Devoção e identidades: significados do culto de Santo Elesbão e Santa Efigênia no Rio de Janeiro e nas Minas Gerais no Setecentos. Topoi, Rio de Janeiro, v. 7, n. 12, p. 60-115, jan./jun. 2006.
PAIVA, Eduardo França. Escravidão e Universo Cultural na Colônia. Minas Gerais, 1716-1789. Belo Horizonte: UFMG, 2001.
PAIVA, Eduardo França. Dar nome ao novo: uma história lexical da Ibero-América entre os séculos XVI e XVIII (as dinâmicas de mestiçagens e o mundo do trabalho). Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2015.
Das utopias ao Autoritarismo
356
PINHEIRO, Fernanda Aparecida Domingos. Confrades do Rosário: Sociabilidade e identidade étnica em Mariana – Minas Gerais (1745-1820). 2006. 205 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2006.
PRECIOSO, Daniel. Terceiros de cor: pardos e crioulos em ordens terceiras e arquiconfrarias (Minas Gerais, 1760-1808). 2014. 356 f. Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014.
REZENDE, Rodrigo Castro. Crioulos e crioulizações em Minas Gerais: designações de cor e etnicidades nas Minas sete e oitocentista. 2013. 397 f. Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013.
RUSSELL-WOOD, John. Escravos e libertos no Brasil colonial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
SCARANO, Julita. Devoção e escravidão: a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos no Distrito Diamantino no século XVIII. 2. ed. São Paulo: Ed. Nacional, 1978.
SALLES, Fritz Teixeira de. Associações Religiosas no Ciclo do Ouro. Belo Horizonte: UFMG, 1963.
SILVA, Kellen. A Mercês Crioula: estudo iconológico da pintura de forro da igreja de Nossa Senhora das Mercês dos Pretos Crioulos de São José Del Rei, 1793-1824. 2012. 271 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal de São João Del-Rei, São João Del-Rei, 2012.
SILVA, Luiz Geraldo. Esperança de liberdade. Interpretações populares da abolição ilustrada (1773-1774). Revista de História, v. 144, p. 107-149, 2001.
SILVA DE CASTRO, Emilio. La Orden de la Merced en el Brasil. Rio de Janeiro: Departamento de Imprensa Nacional, 1974.
SILVEIRA, Marco Antônio. O Universo do Indistinto. Estado e Sociedade nas Minas Setecentistas (1735-1808). São Paulo: Hucitec, 1996.
SOARES, Mariza de Carvalho. Devotos da cor: identidade étnica, religiosidade e escravidão no Rio de Janeiro, século XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2000.
SOUZA, Daniela dos Santos. Devoção e Identidade: o culto de Nossa Senhora dos Remédios na Irmandade de São João del-Rei, séculos XVIII e XIX. 2010. 187 f. Dissertação (Mestrado em História) - Universidade Federal de São João Del-Rei, São João Del-Rei, 2010.
VAUCHEZ, André. A espiritualidade na Idade Média ocidental: séc. VIII-XIII. Lisboa: Estampa, 1995.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
357
A Fazenda Imperial: independência e organização das instituições fazendárias
Daiane de Souza Alves 1
Introdução José Ferreira Borges2, deputado às Cortes Constituintes
Portuguesas em 1821, definia finanças enquanto termo que designava Fazenda do Estado entre os europeus e como fisco para os romanos. As finanças, segundo Borges (1856), compreendiam além dos réditos materiais arrecadados pelo Estado, a sua administração e a forma de sua imposição. Nesse sentido, à administração das finanças cabia as cobranças e o emprego que seria dado às arrecadações, e às imposições compreendia a teoria das contribuições. Podendo ser definida como Syntetologia, essa ciência ensinava aos governantes, seus conselheiros e funcionários “os meios de prover as necessidades do Estado político com os recursos do Estado social” (BORGES, 1831, p. 6).
Tal como Borges, Amaro Cavalcanti em Elementos de Finanças estava preocupado em realizar um estudo prático da doutrina financeira, principalmente a partir dos trabalhos produzidos na França e Alemanha sobre as finanças públicas. Designava o conjunto das atividades financeiras do Estado Brasileiro como “ciência financeira ou finanças a doutrina da Economia do Estado” (CAVALCANTI, 1896, p. 7). Para ele, a organização das finanças dependia de como seriam ensinados os princípios e normas que constituíam a economia, e, consequentemente, como seriam empregadas e administradas as rendas a partir das necessidades da vida pública.
O advento dos estudos sobre tal ciência seria fundamental para os principais teóricos do Estado do século XX, tornando a fiscalidade eixo central para o estudo da formação dos Estados na
1 Aluna do Programa de Pós-graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto - MG.
2 José Ferreira Borges é autor um do Dicionários jurídico comercial português, publicado em 1856 na cidade do Porto.
Das utopias ao Autoritarismo
358
Europa. Nesse sentido, Charles Tilly, compreende como Estado as “organizações que aplicam coerção, distintas das famílias e dos grupos de parentesco e que em alguns aspectos exercem prioridade manifesta sobre todas as outras organizações dentro de extensos territórios” (TILLY, 1996, p. 6). A fiscalização, arrecadação e a coerção garantem que se mantenham essas unidades políticas sobre determinada circunscrição geográfica.
Assim como Tilly, Norbert Elias em Processo Civilizador se ocupou de atribuir os meios pelo qual o Estado se formou e estabeleceu as suas bases. Segundo o autor, “o monopólio da tributação juntamente com o monopólio da força física forma a espinha dorsal do Estado” (ELIAS, 1994, p. 88). Nesse sentido, a fiscalidade, pode ser entendida enquanto campo de arrecadação que prevê as receitas e despesas do Estado. Desta forma provém as suas necessidades, que são divididas através dos tributos que são arrecadados junto aos povos, e que se distribuem dentro de determinado território.
No Brasil, os estudos sobre fiscalidade se concentram nas construções institucionais, destacam-se os trabalhos de Wilma Peres Costa, que a partir dos preceitos da sociologia fiscal de Joseph Schumpeter, utiliza as categorias de tax state e de dominium state. O primeiro correspondendo a forma como foram institucionalizados os impostos pelo liberalismo e no segundo no absolutismo. Para Costa (2003), no Brasil do século XIX predominou o dominium state apesar de ter existido esforços de desenvolver a fiscalidade a partir do tax state. A construção do fisco nacional após 1822 se firma em meio a conflitos e, principalmente, em meio a manutenção de estruturas coloniais, o que não favoreceu o fortalecimento de uma soberania central no estado monárquico. Vale ressaltar o trabalho de Aidar Costa (2012), ainda que retomando o período colonial, para compreender as formas de centralização do Estado português, que remontava à organização fazendária em torno das provedorias e regida pelo Conselho Ultramarino. Garantindo o que Costa afirma como a manutenção das formas como se institucionalizaram as arrecadações no Primeiro Reinado, próximas às características que foram herdadas do absolutismo.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
359
Outro trabalho relevante ao tema, é a tese publicada por Ângelo Carrara (2014), em que o autor se debruça sobre a Fiscalidade imperial ao longo de todo o século XIX. Mais especificamente sobre o Primeiro Reinado o autor ressalta que, com a centralização das receitas mais importantes nas mãos do governo imperial a partir do estabelecimento de um novo sistema fiscal se garantiu que se resguardasse e se configurasse elementos indispensáveis ao funcionamento das instituições estatais e de um aparato administrativo que se estendesse por todo o território nacional.
No geral, as discussões que ocupam os espaços legislativos do Primeiro Reinado versam essencialmente sobre as formas de se organizar essas instituições nunca experienciadas pelos domínios portugueses na América, e, além disso garantir a manutenção do território em meio às indefinições em relação às províncias. Para isso, segundo Costa (2003), postergaram-se as discussões acerca da fiscalidade, o que levou à manutenção de parte das estruturas coloniais durante a primeira experiência liberal do Brasil.
O princípio da instabilidadeA criação da Secretaria de Estado e Negócios da Fazenda
no Brasil em 06 de abril de 1821 é considerado o marco da separação entre as secretarias dos negócios do Brasil e Fazenda. Tal determinação expedida por D. João VI, pode ser compreendida, segundo Mircea Buesco (1984), como uma nova forma de organização local que buscava ser mais autônoma. Esteve aliada ao retorno do monarca a Portugal em meio ao decreto das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa e dos conflitos gerados pela Revolução do Porto. Sendo assim, partimos da hipótese de que a implementação desta instituição no Reino do Brasil contribuiu para uma maior organização das repartições fiscais, na medida em que todas estariam ligadas ao Erário Régio e à pessoa do Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Fazenda.
A Secretaria ficaria sob a responsabilidade de d. Diogo de Menezes, o Conde de Louzã, segundo o decreto de 22 de abril do
Das utopias ao Autoritarismo
360
mesmo ano emitido pelo príncipe regente D. Pedro. Como atribuições o então ministro também assumiria a presidência do Erário Régio e do Conselho da Fazenda, ambos órgãos criados no Brasil após a transferência da Corte Portuguesa em 1808. Para Fábio Barcelos, a separação das secretarias de estado, neste contexto, tinha um caráter político, que reforçaria no ministro e secretário o papel da presidência do Erário Régio, posteriormente definido como Tesouro Nacional3 (BARCELOS, 2014).
A reorganização dos órgãos fazendários portugueses no Brasil a partir de 1808 modificou a relação estabelecida entre as instituições – Conselho de Fazenda e Erário Régio – e as Juntas de Administração e Arrecadação da Real Fazenda, que de maneira descentralizada regulavam as arrecadações, pagamentos, e todas as atribuições fiscais em nível regional/provincial. O Erário Régio, desde alvará de 28 de junho de 1808, era responsável pela “mais exata administração, arrecadação, distribuição, assentamento e expediente” da Real Fazenda. Seus objetivos primordiais estavam em arrecadar, distribuir e administrar todos os negócios pertencentes à Fazenda Real, tanto do Brasil, como de todas as possessões ultramarinas portuguesas, seguindo o mesmo modelo do Erário Régio português estabelecido em Lisboa em 1761 (BARCELOS, 2014, p. 23). Ao Conselho de Fazenda caberia as mesmas normas estabelecidas pelo dito alvará, contudo, suas atribuições cumpriam o arbítrio das jurisdições contenciosa e voluntária no que dizia respeito aos bens e direitos da Coroa (RIBEIRO, 2017). Com a instalação dessas repartições nos trópicos, as Juntas de Administração e Arrecadação da Real Fazenda que antes se submetiam a esses órgãos em Lisboa passam a responder às determinações dessas instituições no Brasil.
O movimento constitucionalista inaugurado no Porto em 1820 e a exigência por parte dos revoltosos do retorno da família real portuguesa para a Europa, gerou um clima de instabilidade nos trópicos. Sendo o ponto de partida, a instalação de uma Junta
3 Tal determinação manifestava a substituição do termo “real” por “público”, enfatizando a busca por enquadrar as instituições dentro das novas ideias políticas “liberais” que contrastavam com as antigas práticas do Antigo Regime.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
361
Provisória de Governo em janeiro de 1821 na província do Pará, constituída de maneira espontânea, a partir da experiência lusa iniciada com o movimento vintista. A ratificação das Juntas no Brasil se concretizou com decreto de 29 de setembro de 1821, em que se determinou que caberia a esses governos autônomos, elegidos dentro das províncias, “toda a autoridade e jurisdição na parte civil e econômica, administrativa e de política em conformidade com as leis existentes” (COLEÇÃO..., Parte I, 1822, p. 225-226). Sendo assim, as antigas Juntas de Fazenda, presididas pelos governadores/capitães generais teriam seu governo destituído e passariam a ser chefiadas pelo seu membro mais antigo. Com o estabelecimento deste decreto, que colocava sob a tutela do Reino de Portugal a organização fiscal e fazendária do Brasil, tais repartições perderiam seu campo de influência no plano local, além de significar um maior afastamento das decisões tomadas no Rio de Janeiro.
Segundo Cláudia Chaves (2017), tal determinação das Cortes de Lisboa em relação à submissão dos governos provisórios ao Rio de Janeiro, propiciou que novos conflitos surgissem entre essas repartições e as Juntas da Fazenda. Somado a esse aspecto, a aprovação do decreto de 11 de janeiro de 1822, que decidia sobre a extinção de tribunais criados no Rio de Janeiro piorava o quadro de disputas, na medida em que tais decisões ameaçavam todo o avanço institucional alcançado pelo Reino do Brasil com a transferência da Corte em 1808.
Para Roderick Barman (1988), a autonomia que o decreto de 29 de setembro de 1821 gerava para as províncias não seria compatível com a manutenção do governo central no Rio de Janeiro e nem com a permanência do Reino do Brasil criado em 1815. A junta da província da Bahia, segundo Barman, foi a que mais se aproximou das determinações das Cortes lisboetas, por ser a única a formalmente repudiar a autoridade do príncipe regente. Pará e Maranhão também se mantiveram aliados a Lisboa. As demais províncias ou foram colocadas ao lado do curso dos eventos, como foi o caso de Piauí, Mato Grosso e Goiás ou não renunciaram a lealdade ao Príncipe, mas apenas cessaram apoio ativo ao seu governo.
No que tange à situação financeira, o novo status dado às
Das utopias ao Autoritarismo
362
províncias retirava ou pelo menos diminuía o campo de ação do Rio de Janeiro, que detinha posição dominante tanto em relação ao governo como em relação ao comércio desde 1808, principalmente com a abertura dos portos e com os tratados de 1810. Com a singularidade assumida pelas juntas governativas no controle econômico e militar provincial, o repasse das “sobras” das Juntas da Fazenda não estavam sendo enviados para o Tesouro Nacional, limitando as receitas do governo regente aos impostos da cidade e província do Rio de Janeiro. Além disso, a saída da Corte e a crise política instaurada depreciou o comércio e arruinou a confiança nos negócios (BARMAN, 1988).
O governo do Rio de Janeiro, diante dessas necessidades, convocou pelo decreto de 16 de fevereiro de 1822 um Conselho de Procuradores Gerais das Províncias com a responsabilidade de aconselhar o príncipe em todos os negócios do Reino, sendo eles os projetos de reforma e nas medidas e planos que fossem mais urgentes. Teriam assento membros eleitos em todas as províncias, os ministros e secretários de Estado e seria presidido pelo próprio regente (COLEÇÃO..., Parte II, 1822). Deste projeto resultou a instauração de uma Comissão que estaria destinada à análise da situação em que se encontrava o Tesouro Público. Em fevereiro de 1822, Dom Pedro determina à Secretaria de Estado e Negócios da Fazenda (Cadernos MAPA..., 2018)4, na pessoa de seu Ministro Caetano Pinto de Miranda Montenegro, que se criasse uma Comissão do Tesouro para examinar as finanças do Reino do Brasil, com a incumbência de junto ao Tesouro Público, buscar informações e soluções para os seguidos déficits orçamentários. Estiveram presentes na Comissão além do Ministro e Secretário de Fazenda, os conselheiros do príncipe Manoel Jacinto Nogueira da Gama5 e José Joaquim Carneiro de Campos6
4 O cargo de ministro e secretário de Estado dos Negócios da Fazenda foi criado no Brasil pelo decreto de 6 de março de 1821, pelas Cortes Gerais, Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa, sendo responsável pela Fazenda Nacional, através do Tesouro Público e suas repartições.
5 Nogueira da Gama consolidou sua carreira política no Rio de Janeiro, como Conselheiro de Capa e Espada do Conselho da Fazenda em 1821, na administração de D. Pedro do Conselho de Estado, por duas vezes como Ministro da Fazenda e Senador do Império.
6 O futuro Marquês de Caravelas, José Joaquim Carneiro de Campos, ocupou
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
363
e os negociantes Francisco José Fernandes Barbosa e José Antônio Lisboa. No geral, a Comissão estava encarregada de buscar meios de solucionar as dívidas do Tesouro e realizar o exame do estado atual da Fazenda Pública. Em relatório apresentado ao regente, os membros levantaram pontos fundamentais relativos às articulações estabelecidas entre o governo do Rio de Janeiro e os governos provisórios.
Se as demais províncias deste Reino continuassem a remeter, como dantes, para o Tesouro, as sobras de suas rendas, sem maior inconveniente não temos estas sobras, nem sabemos quando poderemos contar com elas, e não serão bem fundados os nossos cálculos, se esperarmos obtê-las antes de vermos radicadas a união das mais importantes províncias, e de se acharem os seus respectivos governos estabelecidos sobre bases mais seguras; nem é da prudência destes na vacilância e fermentação, em que tudo se acha, distrair para fora ainda as mais pequenas somas. À vista disso, a comissão cairia na mesma condição se depois de ter mostrado a urgência do pagamento das dívidas de que trata, propusesse a Vossa Alteza Real, que o mandasse reservar para época incerta dos restabelecimentos da união, e tranquilidade geral de todas as províncias; ou esquecendo-se do estado atual da renda ordinária, por ela pretendesse que se fizesse o pagamento de uma despesa avultada e extraordinária (VIANA, 1922, p. 196).
A partir dessa exposição, a Comissão buscou meios para se contornar os déficits apresentados. Estando limitada apenas às rendas da província do Rio de Janeiro, o único meio possível seria a emissão de títulos e letras de câmbio do Tesouro, que seriam pagos em prazos de 15, 18, 21 e 24 meses, com juros de 6%, consignando-se para pagamento as rendas da Alfândega. Deixaram claro os membros que se esperava o “bom senso e do patriotismo dos diretores deputados e acionistas do Banco do Brasil” (FRANCO, 1973, p. 35) que seriam os responsáveis pela emissão desses bilhetes de crédito. O relatório foi entregue em 24 de maio de 1822, e possuía em anexo o voto separado de José Antônio Lisboa, que considerava antecipada e prematura
cargo na Secretaria de Estado da Repartição dos Negócios da Fazenda em Portugal, tornando-se Conselheiro efetivo de Capa e Espada no Conselho da Fazenda no Brasil em 1821.
Das utopias ao Autoritarismo
364
qualquer deliberação que se tomasse no sentido de propor as reformas que deveriam ser feitas no Tesouro Público e “apontar meios para restabelecer o seu crédito”, sem que tivesse o completo conhecimento das circunstâncias e estado do Tesouro (VIANA, 1996, p. 196).
Mesmo em Portugal, durante a Assembleia das Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, deputados brasileiros que tomaram assento para discussão do projeto de Constituição deixavam claro que legislar sobre o Brasil requeria conhecimento sobre as necessidades do Reino. Em sessão de 04 de julho de 1822, Muniz Tavares, representante da província de Pernambuco, salientou que as leis econômicas votadas para Portugal não poderiam se enquadrar no Brasil, que necessitava de uma legislação diferente, e que a discussão apenas seria possível na presença de procuradores dos povos do Brasil, na medida em que o Congresso não tinha conhecimentos precisos das circunstâncias dos trópicos (VIANA, 1922).
A presença de deputados brasileiros que tomaram assento nas Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, denota características do momento político em que se encontrava o Brasil, sob o julgo das decisões metropolitanas através das Juntas Governativas. Como afirma Rogério Forastieri (1996), esses representantes saem de regiões que possuem pouco contato entre si, que possuem problemas que não são comuns a eles, e são tratados como brasileiros. A declaração de Feijó, enquanto deputado por São Paulo, talvez tenha sido a mais emblemática, ao afirmar que não se tratavam de deputados do Brasil, porque cada província se governava de maneira independente.
A província de São Paulo assumiu papel de destaque, perante à instabilidade política gerada pelo jogo de forças estabelecido entre as Cortes de Lisboa e a regência no Rio de Janeiro. O governo provisório de São Paulo que se encontrava sob a presidência de João Carlos de Oeynhausen, antigo governador e capitão general da província, tinha como membros José Bonifácio de Andrada e Silva como vice-presidente e seu irmão Martim Francisco Ribeiro de Andrada como secretário de interior e fazenda. Bonifácio que em 22 de maio de 1822 se encontrava como membro do Conselho dos Procuradores Gerais das Províncias convocou o presidente Oyenhausen a comparecer
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
365
à Corte e suprir sua ausência no governo provisório com Martim Francisco. A convocação, como afirma Chaves (2017), foi entendida enquanto manobra dos Andradas para assumirem o controle político e fazendário da província e terminou com a aclamação destes e com a visita do príncipe regente a São Paulo. Nesse sentido, a presença do regente na província foi fundamental para se oficializar o apoio da Junta Governativa paulista ao governo no Rio de Janeiro, assumindo centralidade a atuação dos Andradas ao redigirem a Representação que foi levada à Assembleia das Cortes em Lisboa.
Sim, Augusto Senhor, é impossível que os habitantes do Brasil, que forem honrados, e se prezarem de ser homens, e mormente os Paulistas, possam jamais consentir em tais absurdos e despotismos: sim, Augusto Senhor, V. A. Real deve ficar no Brasil, quaisquer que sejam os projetos das Cortes Constituintes, não só para o nosso bem geral, mas até para a independência e prosperidade futura do mesmo Portugal (SOUSA, 1922, p. 145).
Com a separação política entre Brasil e Portugal em setembro de 1822, cria-se em torno do imperador a responsabilidade de reforçar a manutenção do território junto aos grupos da porção norte do Brasil, de forma a se articular no âmbito dos poderes locais e consequentemente conseguir as bases de apoio a seu governo no Rio de Janeiro. Esse apoio não se deu de maneira imediata, visto que o reconhecimento das províncias como um todo só se concretizou em 1823, em meio a embates e principalmente a negociações entre o centro e as províncias. Como afirmam Jancsó e Pimenta (2000, p. 392), a “instauração do Estado brasileiro se dá em meio à coexistência, no interior do que fora a América portuguesa, de múltiplas identidades políticas” que se referiam a projetos nacionais e a realidades diferentes entre si.
Nas disputas pela manutenção do Imperador no Brasil e o reconhecimento das Cortes da independência, tiveram papel proeminente os irmãos Andrada, Martim Francisco e José Bonifácio. Devido à organização desses personagens em torno da permanência do príncipe na América, da separação com Portugal e pela participação
Das utopias ao Autoritarismo
366
efetiva na Junta Governativa da Província de São Paulo7, os irmãos Andrada assumiram as pastas do Ministério da Fazenda e Império, respectivamente em julho de 1822.
José Bonifácio e Martim Francisco encontraram dura oposição durante seu ministério, principalmente dos setores mais liberais ligados à maçonaria e aos principais periódicos da época, o “Reverbéro Constitucional Fluminense” e o “Correio do Rio de Janeiro”, sob as lideranças de Joaquim Gonçalves Ledo e Januário da Cunha Barbosa. No que tange à questão fazendária, Martim Francisco, apesar de possuir formação em Matemática e Ciências Naturais pela Universidade de Coimbra e ter experiência no controle da organização da Fazenda na província de São Paulo, foi duramente criticado através da imprensa da época por sua recusa aos empréstimos externos, causando pouca adesão às suas políticas por parte do setor mercantil e comercial do Rio de Janeiro (OLIVEIRA, 2003).
Afastados os irmãos Andrada do Ministério em 1823, caberia ao Imperador a nomeação de novos integrantes para as pastas do Império e Fazenda. Contudo, apesar da grande pressão dos setores liberais pela demissão desses personagens, não se modificaram radicalmente os grupos que assumiram tais governos, sendo nomeado para a pasta da Fazenda Manoel Jacinto Nogueira da Gama, mineiro, importante liderança política, com ampla experiência nos setores fazendários, tendo participado da Junta de Administração e Arrecadação da Real Fazenda da Província de Minas Gerais em 1803, como escrivão do Erário Régio em 1808 e como Conselheiro de Capa e Espada do Conselho da Fazenda até 1823, sendo posteriormente membro do Conselho de Estado de Sua Majestade durante o Primeiro Reinado (RIBEIRO, 2010). Nesse contexto, como afirma Maria Fernanda Martins (2007), é importante perceber que apesar das alterações na estrutura político-institucional durante o período imperial, elas não foram necessariamente acompanhadas por mudanças nos quadros dirigentes dessas mesmas instituições. Corroborando a tese da autora,
7 Na Junta Governativa da Província de São Paulo, eletiva, José Bonifácio Ribeiro de Andrada assumiu o posto de vice-presidente enquanto Martim Francisco Ribeiro de Andrada exercia a função de secretário de Fazenda.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
367
Eder Ribeiro (2010), ao se debruçar sobre o Conselho de Estado de Dom Pedro I, constata que a formação estatal do Brasil no Primeiro Reinado não se desvencilhou dos antigos laços que costuravam as relações pessoais à política, mesclando interesses privados com os da administração pública, formando grupos de interesse em torno do Estado e da sua composição administrativa e institucional.
Outrossim, a partir das características pautadas nas continuidades de tais grupos familiares em relação ao governo central, se torna fundamental a compreensão e investigação das bases e as características de suas permanências. Devemos, portanto, segundo Martins, entender quais foram as estratégias para a ascensão política e perpetuação no poder, com ênfase nas relações de matrimônio e na grande diversificação de suas atividades e atuação. Segundo a autora,
a ação dessas elites parece demonstrar que muitas vezes o capital econômico dos indivíduos, especialmente daqueles cuja fortuna tinha origem no comércio, por si não pareciam suficientes para manter prestígio político (MARTINS, 2007, p. 422).
A distinção social só seria possibilitada através dos laços de matrimônio, enriquecimento e por meio da burocracia e cargos honoríficos. Segundo Camila Borges, durante a regência de D. João ocorreu uma inflação no número de hábitos concedidos pela Coroa portuguesa, padrão que se manteve mesmo posteriormente à independência. As condecorações foram usadas em momentos delicados da Corte ameaçada, durante a criação do Império independente e mesmo com o processo de fortalecimento do poder central, período marcado por constantes conflitos regionais, em que se fazia necessário apoio dos diferentes setores das elites centrais e provinciais. A nobilitação foi, assim, tanto almejada pelas elites quanto uma estratégia do imperador para assegurar o poder, porque o privilégio de conceder hábitos mantinha nas mãos de D. Pedro um instrumento fortemente ambicionado pelas elites e ao qual ele poderia recorrer segundo seu interesse (BORGES, 2013).
Sendo assim, em meio a embates e negociações do imperador e as elites centrais e provinciais, foram mantidas as bases
Das utopias ao Autoritarismo
368
políticas que garantiram a legitimidade do regente e sua autonomia em relação às determinações das Cortes de Lisboa (DOLHNIKOFF, 2003). Tal projeto, como afirma Costa (2005), só foi possível graças aos interesses na manutenção da escravidão e principalmente do tráfico atlântico, que foram os principais condutores da manutenção da unidade territorial e da solução dinástica.
Como parte do pacto político estabelecido entre o monarca e o “povo” do Rio de Janeiro, seria necessário criar as bases constitucionais para o Estado do Brasil (SOUZA, 1999). Destarte, por decreto de 3 de junho de 1822, convocava-se uma
Assembleia Luso Brasiliense que investida daquela porção de soberania que essencialmente reside no povo deste grande e riquíssimo continente, constitua as bases sobre que devam erigir sua independência (RODRIGUES, 1927, p. 25).
A preservação do território, com a opção pelo Império do Brasil expressava a primeira vitória do projeto monárquico-constitucional, revelava, nas palavras de Ilmar Mattos (2005, p. 20), “como os herdeiros eram também construtores” e deixava em evidência o papel da cidade do Rio de Janeiro como a sede da monarquia na pessoa de D. Pedro. Reforçava também a escolha constitucional com a convocação da Assembleia Constituinte do Brasil, onde se encontravam presentes os principais artífices da separação política.
No primeiro discurso proferido pelo Imperador na Sessão de Abertura da Assembleia Constituinte de 1823, toma centralidade a situação em que se encontra o Tesouro Público, vista como deficitária, na medida que suas despesas excediam as suas receitas que se mantinham majoritariamente sob a arrecadação da província do Rio de Janeiro (CALMON, 1977).
Entretanto, apesar de ser de primordial interesse a situação das finanças, pouco se falava em mudanças na estrutura econômica e social. Para José Honório Rodrigues, a eleição de uma Comissão específica dentro da Assembleia para tratar dos assuntos econômicos demonstrou o interesse que essa matéria tinha nas discussões da
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
369
Casa. Foram eleitos membros o ministro e secretário de Estado dos Negócios da Fazenda Manuel Jacinto Nogueira da Gama – futuro Marquês de Baependi, Martim Francisco Ribeiro de Andrada, José de Resende Costa, o Barão de Santo Amaro e Toledo Rendon. Em plano nacional as matérias econômicas e fiscais pouco foram debatidas pelos deputados, sendo a principal definição dada a de que só seriam fixadas as despesas pela autoridade nacional (RODRIGUES, 1977).
Nogueira da Gama, que assumiu a Secretaria de Estado e Negócios da Fazenda após a demissão de Martim Francisco Ribeiro de Andrada em 17 de julho de 1823 foi o primeiro ministro da fazenda a publicar um relatório com as demonstrações das situações das províncias. No preâmbulo do documento o secretário de estado e negócios da fazenda especificava que o fato de não existir um mesmo modelo de balanço para todas as províncias dificultava o trabalho do Ministério em sistematizar essas informações e transformá-las em úteis às possíveis soluções a cargo do Tesouro para a questão orçamentária. Neste relatório se pretendeu expor o estado da Fazenda Pública nos anos de 1821, 1822 e 1823, e organizar os orçamentos para os anos de 1823, 1824 e 1825. Segundo o ministro
Seria bom, e mesmo necessário, além de mais exato, para obter-se um verdadeiro, e cabal conhecimento da importância anual das positivas rendas, e despesas públicas de cada uma das províncias a cargo da dita repartição, seu déficit, e sua dívida ativa, e passiva; que fosse possível tomar-se um mesmo ano para termo das Operações de todas; isto é, que a demonstração do que pertencesse a cada Províncias, se considerasse, relativa ao mesmo ano, e que fossem idênticos os princípios das demonstrações, para se tirarem resultados coerentes (BRASIL..., 1823, p. 7).
O futuro Marquês de Baependi sistematizou em forma de relatório a situação das finanças desde o seu trabalho como escrivão deputado da Junta da Fazenda de Minas Gerais em 1808, quando enviou a D. Rodrigo de Sousa Coutinho três peças, cartas que enfatizavam a capacidade que a capitania de Minas Gerais tinha de sair do ostracismo em que se encontrava e “tornar a ser útil ao Real Tesouro” (RIBEIRO, 2017, p. 292). Em 1812, com cargo de escrivão da mesa do Real Erário,
Das utopias ao Autoritarismo
370
Nogueira da Gama publica uma representação sobre a atual situação das finanças do Brasil. Nesse contexto o autor esclarece que pretende ter demonstrado que a situação das finanças não é o mais deplorável, desde que as capitanias enviem ao governo do Rio de Janeiro, na pessoa de D. João VI, as sobras de suas rendas, tão importantes para o desenvolvimento do império luso brasileiro (CARREIRA, 1889).
Pretendemos demonstrar com estes excertos que a escolha do Imperador em nomear esse personagem em específico como Ministro e Secretário de Estado dos Negócios da Fazenda advém tanto de sua ampla experiência na administração fazendária, como de sua formação em Matemática em Coimbra, além de sua importância durante o processo de independência e sua ampla ligação com os setores dos negociantes e graças aos laços de parentesco que estabeleceu com o português comerciante de escravos e senhor de engenhos Braz Carneiro Leão ao casar-se com sua filha D. Francisca Mônica Carneiro da Costa, testamenteira e principal herdeira de Nogueira da Gama (LOBARINHAS, 2003).
Para Wilma Peres Costa (2003, p. 185), a impressão que podemos ter do “Estado que se formava e que com isso buscava uma maneira de se relacionar com as províncias, enquanto herdeiro das instituições de origem metropolitana e incapaz de coletar as sobras provinciais”, é que ele foi mantenedor, tanto em sua organização institucional quanto nos centros de tomada de decisão. Não que não considerasse a necessidade de reformas, como afirma Chaves (2017), mas por optar pela manutenção do território e com isso pelo não enfrentamento.
A manutenção do modelo de administração herdado do Antigo Regime, funcionava para as elites provinciais como forma de reforçar suas autonomias e a manutenção dos seus poderes, como afirma Chaves (2017). Contudo, com a separação política algumas dessas instituições sofreram algumas modificações: o Erário Régio nesses termos, como dito anteriormente, transformou-se em Tesouro Público e o Conselho de Fazenda permaneceu durante o Primeiro Reinado, mas de maneira menos proeminente. As Juntas Fazenda, no entanto, continuaram a exercer seu papel de arrecadadoras, e
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
371
consequentemente reforçaram o seu poder no plano local. Como órgãos provinciais estavam majoritariamente dissociadas do poder central com sede na Secretaria de Estado e Negócios da Fazenda, como é possível perceber em todos os relatórios de fazenda publicados de 1823 até 1830. No geral, os secretários se queixavam da demora no envio dos relatórios provinciais, que seriam informações fundamentais para o exame da fiscalidade e da situação do Tesouro em plano nacional.
Na Constituinte de 1823 os deputados também não se referiam a mudanças profundas na organização fazendária e fiscal do território, apesar de considerarem essas discussões essenciais para o ordenamento do Estado. Os pontos que tiveram mais evidência diziam respeito ao governo das províncias e da extinção dos governos provisórios. Para o deputado alagoano Souza Mello, por exemplo, que apresentou projeto de lei em 07 de maio de 1823, seria primordial a nomeação pelo Imperador do novo governador para cada província, que deveria assumir também a presidência da Junta da Fazenda, demonstrando novamente a tese de Chaves de que no geral essa elite provincial estaria mais preocupada em garantir sua influência no plano local do que em reformar todo o aparelho estatal.
Com a dissolução da Constituinte por decreto de 12 de novembro de 1823, convocou o Imperador a criação de seu Conselho de Estado que estaria responsável pela elaboração de uma constituição que seria apresentada às Câmaras Municipais até dezembro de 1823. Outorgada a Constituição no ano de 1824, uma sessão específica trataria dos assuntos relacionados à fazenda, o capítulo três, composto dos artigos 170, 171 e 172. Decretava que toda a receita e despesa da Fazenda Nacional estava encarregada do Tesouro Nacional administraria a partir de suas repartições provinciais os recursos do Estado. Previa também as atribuições da Assembleia Geral sobre todas as contribuições diretas e por fim deixava a cargo do Ministro de Estado da Fazenda a publicação de relatório anual que deveria conter o balanço geral da receita e despesa do Tesouro Nacional do ano antecedente e o orçamento de todas as despesas do ano futuro (CONSTITUIÇÃO..., 1824).
Das utopias ao Autoritarismo
372
Novas regras seriam colocadas em jogo com a Constituição, principalmente no que tange à representação nacional e à divisão dos poderes, apareceria em cena personagens que colocariam na equação que se desenrolava desde a emancipação política novas variáveis, principalmente na forma como se organizavam as instituições no Brasil. O Poder Legislativo agora delegado à Assembleia Geral seria a responsável pela criação de leis, sua interpretação e suspensão. Estaria também sob sua tutela a fixação das despesas públicas e a repartição das contribuições diretas, ou seja, essa instituição separada em duas câmaras – Senado e a Câmara dos Deputados – teria relação direta com a organização do Tesouro Público Nacional, na medida em que regulariam a autorização do governo a contrair empréstimos, estabeleceriam os meios pelo qual se pagaria a dívida pública, administrariam os bens nacionais, toda a organização de pesos, medidas e moedas.
Todas essas atribuições da Assembleia Geral e sua correlação com a Secretaria de Estado e Negócios da Fazenda foram primordiais para a manutenção do Império do Brasil em um contexto de incertezas como foram os primeiros anos da independência. Esse período foi fundamental para a sustentação do Estado que se encontrava com pesados déficits e para o reconhecimento do Império do Brasil enquanto nação soberana. No seio dessas instituições se organizaram algumas das principais reformas fiscais e fazendárias durante o período regencial que não serão tratadas nesse artigo, mas que fazem parte do escopo da pesquisa.
Referências:Fontes manuscritas:
Arquivo Nacional do Rio de Janeiro (ANRJ)
AN. Série Fazenda. Província de Mato Grosso. BR JANRIO 9F – Junta de Fazenda. Sessão de Manuscritos. Arquivo Nacional.
AN. Série Fazenda. Província de Minas Gerais. BR JANRIO 9F – Junta de Fazenda. Sessão de Manuscritos. Arquivo Nacional.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
373
AN. Série Fazenda. Província de Alagoas. BR JANRIO 9F – Junta de Fazenda. Sessão de Manuscritos. Arquivo Nacional.
AN. Série Fazenda. Província de Pernambuco. BR JANRIO 9F – Junta de Fazenda. Sessão de Manuscritos. Arquivo Nacional.
AN. Série Fazenda. Província de Rio Grande do Norte e Paraíba. BR JANRIO 9F – Junta de Fazenda. Sessão de Manuscritos. Arquivo Nacional.
AN. Série Fazenda. Província de São Paulo. BR JANRIO 9F – Junta de Fazenda. Sessão de Manuscritos. Arquivo Nacional.
Fontes Publicadas:
Anais do Parlamento Brasileiro. Câmara dos Deputados. 1826-1833. Disponível em <http://imagem.camara.gov.br/pesquisa_diario_basica.asp>. Acesso em: 21 fev. 2018.
Assembleia Constituinte, Fala do Trono, 1823. In: CALMON, Pedro (org.). Falas do Trono. Desde o ano de 1823 até o ano de 1889. São Paulo: Edições Melhoramentos, 1977.
Diários da Assembleia Geral e Constituinte do Império do Brasil. 1823.
Coleção de Leis e Decretos do Império do Brasil de 1821 a 1830. Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/legislacao/publicacoes/doimperio/colecao2.html>. Acesso em 21 fev. 2018.
BRASIL. MINISTÉRIO DA FAZENDA. Ministro (Manoel Jacinto Nogueira da Gama). Exposição do Estado da Fazenda Pública do ano de 1821 a 1823. Disponível em: <http://www-apps.crl.edu/brazil/ministerial/fazenda>. Acesso em: 21 fev. 2018.
A Malagueta (RJ). 1821 a 1829. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Disponível em <http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=364568_01&pasta=ano%20182&pesq>. Acesso em: 21 fev. 2018.
Revérbero Constitucional Fluminense (RJ). 1821 a 1822. Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Disponível em <http://memoria.bn.br/DocReader/docreader.aspx?bib=364568_01&pasta=ano%20182&pesq>. Acesso em: 21 fev. 2018.
Fonte Secundária:
BORGES, José Ferreira. Princípios de Syntelologia: compreendendo em geral a teoria do tributo e em particular observações sobre a administração e
Das utopias ao Autoritarismo
374
despesas de Portugal em grande parte aplicáveis ao Brasil. Londres, Impresso por Bighan, 1831.
CARREIRA, Liberato de Castro. História financeira e orçamentária do Império do Brasil desde a sua fundação. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1889.
CAVALCANTI, Amaro. Elementos de finanças: (estudo theorico-pratico). Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1896.
FRANCO, Afonso Arinos de Melo. História do Banco do Brasil. Primeira Fase – 1808-1835. 1973.
ROCHA, Justiniano José da. Biografia de Manoel Jacinto Nogueira da Gama Marquês de Baependi. Rio de Janeiro: Tipografia Universal de Laemmert, 1851.
VIANA, Vitor. Histórico da formação econômica do Brasil. Ministério da Fazenda. Comemoração do 1º Centenário da Independência do Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1922.
SOUSA, Alberto. Os Andradas. São Paulo: Tipografia Piratininga, 1922, v.2.
Bibliografia:
AIDAR, Bruno Costa. A reforma do Tesouro Nacional e os liberais moderados. In: RIBEIRO, Gladys Sabina; CAMPOS, Adriana Pereira. (Orgs.). Histórias sobre o Brasil no oitocentos. São Paulo: Alameda, 2016, p. 15-38.
AIDAR, Bruno Costa. A vereda dos tratos: fiscalidade e poder regional na capitania de São Paulo, 1723-1808. 2012. 517 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2012.
AIDAR, Bruno Costa. Poder regional e fiscalidade colonial na capitania de São Paulo, 1723-1808. In: XI Congresso Brasileiro de História Econômica e 12ª Conferência Internacional de História de Empresas, 2015, Vitória. Anais do XI Congresso Brasileiro de História Econômica e 12ª Conferência Internacional de História de Empresas, 2015.
ALMEIDA, Paulo Roberto. A diplomacia financeira no Império. Revista da Associação Brasileira em Pesquisa em História Econômica, v. 4, n. 1, p. 7-47, 2012.
ALMEIDA, Paulo Roberto. Formação da diplomacia econômica no Brasil: as relações econômicas internacionais no Império. 3. ed. rev. Brasília: FUNAG, 2017.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
375
BARCELOS, Fábio Campos. A Secretaria de Estado dos Negócios da Fazenda e o Tesouro Nacional. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2014. Disponível em: <http://www.arquivonacional.gov.br/images/virtuemart/product/A-secretaria-de-Estado-dos-Neg%C3%B3cios-da-Fazenda-e-o-tesouro-NacionalFINAL-com-FICHA.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2018.
BARMAN, Roderick J. Brazil: The Forging of a Nation, 1798-1852. Stanford: Stanford University Press, 1988.
BORGES, Camila. Mercê e Nobilitação. A construção das elites imperiais através dos hábitos das ordens honoríficas. In: BESSONE, Tânia Maria; GUIMARÃES, Lucia Maria P.; NEVES, Lucia Maria Bastos (Orgs.). Elites, fronteiras e cultura do Império do Brasil. Rio de Janeiro: ContraCapa, 2013, p. 33-64.
BUESCO, Mircea. História Administrativa do Brasil; Organização e administração do Ministério da Fazenda no Império. Brasília, Fundação Centro de Formação do Servidor Púbico, v.13, 1984.
CALMON, Pedro. Falas do Trono: desde o ano de 1823 até o ano de 1889, acompanhadas dos respectivos votos de graça da Câmara Temporária, coligidas na Secretaria da Câmara dos Deputados. Imprensa: Brasília, Instituto Nacional do Livro, 1977.
CARRARA, Ângelo. Fiscalidade e Formação do Estado Brasileiro (1808-1889). Tese de titular apresentada à Universidade Federal de Juiz de Fora. 2014.
CHAVES, Cláudia Maria das Graças. A administração fazendária na América Portuguesa a Junta da Real Fazenda e a política fiscal ultramarina nas Minas Gerais. Almanack, Guarulhos, n.05, p. 81-96, 2013.
CHAVES, Cláudia Maria das Graças. As Juntas de Fazenda e o processo de provincialização do Brasil. In: XXII Congresso Brasileiro de História Econômica ABPHE – Rio de Janeiro, 2017. Anais Eletrônicos do Congresso Brasileiro de História Econômica – ABPHE, 2017. Disponível em: <http://www.abphe.org.br/uploads/ABPHE%202017/13%20As%20juntas%20de%20fazenda%20durante%20o%20processo%20de%20provincializa%C3%A7%C3%A3o%20no%20Brasil.pdf>. Acesso em: 16 abr.2018.
COSTA, Wilma Peres. O Império do Brasil: dimensões de um enigma. Almanack Braziliense. n. 1, 2005.
COSTA, Wilma Peres. A fiscalidade e seu avesso: centro e províncias na constituição da estrutura fiscal brasileira na primeira metade do século XIX. In: CHAVES, Cláudia Maria das Graças; SILVEIRA, Marco Antônio (Orgs.).
Das utopias ao Autoritarismo
376
Território, conflito e identidade. Belo Horizonte, MG: Argvmentvm; Brasília, DF: CAPES, 2007, p. 127-148.
COSTA, Wilma Peres. Do domínio à nação: os impasses da fiscalidade no processo de Independência. In: JANCSÓ, István (Org.). Brasil: Formação do Estado e da Nação. São Paulo: Hucitec; Ed. Unijuí; Fapesp, 2003, p. 143-194.
COSTA, Wilma Peres. Finanças e construção do Estado: fontes para o estudo da história tributária no Brasil do século XIX. Revista America Latina en la Historia Economica, 2014.
DOLHNIKOFF, Miriam. Elites regionais e a construção do Estado Nacional. In: JANCSÓ, István (Org). Brasil: Formação do Estado e da Nação. São Paulo: Hucitec; Ed. Unijuí; Fapesp, 2003, p. 431-468.
DOLHNIKOFF, Miriam. O pacto imperial: origens do federalismo no Brasil do século XIX. São Paulo: Globo, 2005.
FORASTIERI, Rogério. Colônia e nativismo: a história como “biografia da nação”. Hucitec: São Paulo, 1997.
JANCSÓ, István; PIMENTA, João Paulo G. Peças de um mosaico (ou apontamentos para o estudo da emergência da identidade nacional brasileira). Revista de História das Ideias, Coimbra, v. 21, p. 389-440, 2000.
LOBARINHAS, Théo. A construção da autonomia: o corpo do comércio do Rio de Janeiro. Anais do V Congresso Brasileiro de História Econômica e 6ª Conferência Internacional de História de Empresas, 2003. Disponível em: <http://www.abphe.org.br/arquivos/2003_theo_lobarinhas_pineiro_a-construcao-da-autonomia-o-corpo-de-commercio-do-rio-de-janeiro.pdf>. Acesso em: 26 fev. 2018.
MARTINEZ, Paulo Henrique. O ministério dos Andradas (1822-1823). In: JANCSÓ, István (Org.). Brasil: Formação do Estado e da Nação. São Paulo: Hucitec; Ed. Unijuí; Fapesp, 2003, p. 469-493.
MARTINS, Maria Fernanda. Os tempos da mudança: elites, poder e redes familiares no Brasil, séculos XVIII e XIX. In: FRAGOSO, João Luís Ribeiro; ALMEIDA, Carla Maria Carvalho de; SAMPAIO, Antonio Carlos Jucá de (Orgs.). Conquistadores e negociantes: Histórias de elites no Antigo Regime nos trópicos, América lusa, séculos XVI a XVIII. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2007, p. 403-434.
OLIVEIRA, Cecília Helena L. de Salles. A astúcia liberal. Relações de mercado e projetos políticos no Rio de Janeiro (1820-1824). Bragança Paulista: EDUSF e ÍCONE, 1999.
OLIVEIRA, Cecília Helena L. de Salles. Imbricações entre política e interesses
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
377
econômicos. A complexa definição dos fundamentos da monarquia no Brasil da década de 1820. Anais do Museu Paulista, Associação Brasileira de Pesquisadores em História Econômica, p. 1-23. 2003.
RIBEIRO, Eder da Silva. O Conselho de Estado no tempo de D. Pedro I: um estudo da política e sociedade no Primeiro Reinado (1826-1831). 2010. 197f. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Departamento de História, 2010.
RIBEIRO, Eder da Silva. Nas tramas da política, nos bastidores das instituições: o Conselho da Fazenda e a construção do Império luso-brasileiro nos trópicos (1808-1821). 2017. 352f. Tese (Doutorado em História). Universidade Federal Fluminense, Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Departamento de História, 2017.
RODRIGUES, José Honório. A Assembleia Constituinte de 1823. Editora Vozes: Petrópolis, 1927.
TILLY, Charles. Coerção, capital e estados europeus (1990-1992). Tradução Geraldo Gesson de Souza. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1996.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
379
Dom Frei José da Santíssima Trindade, um bispo reformador
Anna Karolina Vilela Siqueira 1
IntroduçãoDurante todo período colonial, as relações Igreja-Estado,
inclusive em Minas Gerais, mostraram-se bastante conturbadas. A ação dos Bispos defrontava-se diretamente com a atuação do poder real, devido à confusa legislação no tocante a seus direitos fiscalizadores e disciplinares. No contexto de ação do padroado régio, a faculdade episcopal de aplicar censuras e penas canônicas ficava de certa forma parcialmente inibida pelo recurso do efeito suspensivo que podia ser solicitado à Coroa.
A ação pastoral apresentou-se, assim, em formato suplementar e ratificador aos interesses da política colonizadora (BOSCHI, 1986, p. 62-86). Ademais, a autoridade dos Bispos por vezes era questionada pelas ordens religiosas, inclusive terceiras. Em Minas Gerais, por exemplo, as confrarias leigas afirmavam estar subordinados diretamente aos Gerais do Carmo (em Roma) e de São Francisco (em Castela), eximindo-se assim, inclusive, de uma obediência ao Estado português. Paralelamente, os Bispos enfrentavam a desobediência dos cabidos (BOSCHI, 1986, p. 62-81).
O período de governo de Dom José da Santíssima Trindade no Bispado de Mariana estendeu-se de 1820 a 1835, sendo ele o sexto bispo desta Diocese. Foi, assim, antecedido por Dom Frei Manuel da Cruz (1748-1764), Dom Joaquim Borges de Figueiroa (1771- 1773), Dom Bartolomeu Manuel Mendes dos Reis (1773- 1777), Dom Frei Domingos da Encarnação Pontével (1779-1793), Dom Frei Cipriano de São José (1798-1817). Dom Frei José chegou ao Bispado num momento de vacância do Seminário e, sobretudo,
1 Mestranda do Programa de Pós Graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto, MG. . E-mail: [email protected]. Este trabalho é um recorte da dissertação de mestrado ainda em andamento.
Das utopias ao Autoritarismo
380
num período “provavelmente o mais conturbado da história da diocese de Mariana” (TRINDADE, 1929, p. 22). Após sua instalação, o Bispo iniciou uma série de modificações no Seminário, tanto em âmbito material como administrativo, para que assim pudessem ser retomadas as atividades do local. Simultaneamente, entre 1821 e 1825, o bispo visitou 65 das 68 freguesias de Mariana, observando as condições da Igreja em sua Diocese e direcionando a vida pastoral e religiosa segundo as determinações de Trento, de forma articulada com a política colonizadora do Estado português. A cada visita, ele relatava minuciosamente os lugares, os dados materiais, as vivências espirituais que veio a encontrar, tornando-se, posteriormente, valiosa fonte de pesquisa histórica. Dom José foi Bispo desta Diocese até 28 de setembro de 1835, quando veio a falecer.
Sobre o episcopado de Dom José, elencamos como nossa principal problemática de pesquisa a elucidação das principais concepções e práticas que ele priorizou em sua direção eclesiástica à frente do Bispado de Mariana, sob um tríplice aspecto: 1) no que tange à vida religiosa; 2) no concernente à formação educacional; 3) no relativo aos princípios teológico-políticos fundantes da ordem social. Almejamos ainda identificar as interrelações mantidas entre esses três elementos. Dito isso, é importante, inclusive, ressaltar que pouca atenção tem sido dada à época do Bispado de D. Frei José nas análises historiográficas contemporâneas. Em nossas pesquisas, não encontramos estudos cujo foco seja o governo episcopal do Prelado, a não ser bibliografias descritivas e a transcrição de algumas Visitas Pastorais organizadas por Ronaldo Polito e José Arnaldo Lima. O que, ao nosso ver, deixa de ser um ganho para a historiografia, em especial para a história das ideias religiosas em Minas Gerais.
Tal ausência é agravada pela importância que o Seminário de Mariana exerceu no campo educacional no século XIX, ainda que esta instituição estivesse marcada por altos e baixos durante os cinco episcopados que antecederam D. José, sendo que uns possuem um período muito curto de governo e outros nem sequer chegaram a viver em Mariana.
Contudo, nossa proposta não se reduz à importância de
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
381
D. José e suas contribuições ao Seminário. Para nós, o importante é entendermos a dimensão das ideias e ações do Prelado no contexto da vida social nas Minas Oitocentistas. A relevância em aprofundarmos o estudo do Bispado de D. José está em nosso desejo de reconhecer como suas visões e ações frente ao Seminário contribuíram para a formulação e circulações de ideias no contexto de Minas Gerais, principalmente quando levamos em conta o contexto político da época, que estava num processo de transição entre duas formas de Governo, entre Colônia e Império. Desse modo, nosso objetivo é contribuir com o aprofundamento do debate em torno das relações entre sociedade e Igreja, para assim podermos compreender até que ponto as ideias desta última, como instituição promotora de ordem, afetaram a interface entre as concepções religiosas, políticas e o modo de viver de uma sociedade.
Dom José da Santíssima Trindade e o Bispado de MarianaSão poucas as informações com que nos deparamos até o
momento acerca da infância e vida de D. José, num período anterior a sua chegada ao Brasil. No artigo publicado na Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, escrito por Frei Venâncio Willeke, (WILLEKE, 1929) encontramos algumas notas sobre o mesmo, como por exemplo, parte de sua certidão de batismo, retirada do Arquivo Secreto do Vaticano, onde consta que o dito Bispo era filho de Antonio Leite e Quitéria Maria, nascido aos quatro dias do mês de junho de mil setecentos e sessenta e dois, na região do Porto, em Portugal. Chegou ao Brasil aos 16 anos, através do recrutamento promovido entre os franciscanos nas regiões de Lisboa e do Porto; os jovens assim ingressos na Ordem seriam então enviados para as missões da Bahia. Segundo Willeke, mesmo que a Província franciscana brasileira fosse autônoma desde 1657, continuavam a recrutar membros oriundos do Reino.
Já vinculado à Ordem dos Franciscanos, Frei José recebeu em 1779 o hábito da penitência e em 1780 o de professor. Cursou três anos de filosofia e teologia no Convento de Salvador, que até o
Das utopias ao Autoritarismo
382
momento não foram encontradas as datas de ordenações. Em 1787, foi nomeado pregador e em 1790 recebeu a jurisdição para confessar homens. No ano de 1793, foi nomeado Presidente da Comunidade de Paraguaçu e no final de 1796 recebeu a jurisdição de confessor geral. Em 1801, D. Frei José ganhou o cargo de companheiro de comissário dos Terceiros Franciscanos de Salvador. Retornou ao Convento de Paraguaçu, em 1802, como guardião eleito do capítulo. Após dois anos, novamente lhe foi atribuído o cargo de formação dos noviços. Governou o convento de Paraguaçu entre 1805 até 1808. Após esse período, foi diretor do convento de Salvador até 1811, onde Willeke afirma que na época “abrigava o provincialado e os cursos de estudos superiores da Ordem Franciscana, portanto a comunidade religiosa mais numerosa da Província” (WILLEKE, 1929, p. 43).
De acordo com o Livro dos Guardiões do Convento de São Francisco da Bahia, dedicou-se com extremo cuidado ao templo, como também à formação do clero. No ano de 1817, D. Frei José foi nomeado vigário provincial, governando toda a província. Seu nome aparece nas atas capitulares até a data de 13 de dezembro do dito ano. Após ter passado por todos os “cargos” importantes da congregação franciscana, e chegar a vigário geral da Província, em 13 de maio de 1818, D. João VI propõe à Santa Sé o nome de D. Frei José para o Bispado de Mariana.
O processo canônico estabelecido pelo núncio apostólico do Rio de Janeiro, baseado nas testemunhas trouxe algumas características do novo Bispo de Mariana, como por exemplo, a citação abaixo vinda de Francisco José da Costa, cônego da catedral da Bahia, cavaleiro da Ordem de Cristo, onde dizia que
tratou com o Bispo eleito por muito tempo na Bahia [...] Não é doutor nem em teologia, nem em direito canônico, mas é dotado de doutrina bastante que se requer num bispo. É exímio e eloquente pregador. Muito zeloso na pregação e no confessionário. O seu zelo tem operado muitas conversões. Não tem impedimento algum que obste à plenitude do sacerdócio (WILLEKE, 1929, p. 45).
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
383
Foi sagrado na Capela Real do Rio de Janeiro, em 9 de abril de 1820, e chegou a Mariana no dia 8 de agosto de 1820.
A atuação político-pastoral de Dom José da Santíssima Trindade em Mariana, foi inicialmente descrita através de memorialistas mineiros. Devido às concepções da escrita e pesquisa histórica de sua época, os acontecimentos são por eles narrados sem citação de fontes e sem sua crítica histórica e de linguagem. Dois foram os principais memorialistas a abordar a trajetória episcopal de Dom José da Santíssima Trindade.
O primeiro deles foi Raymundo Trindade (1883-1962), um sacerdote mineiro que estudou no Seminário de Mariana e, após ordenado, tornou se cônego, tesoureiro-mor do Cabido e chanceler da Arquidiocese. Durante os anos de 1923 a 1944, dirigiu o Arquivo Eclesiástico da Diocese de Mariana. Escreveu várias obras sobre importantes famílias mineiras e acerca da história de Minas Gerais. Em Arquidiocese de Mariana, ele tece, em contornos memorialísticos, a trajetória da Igreja marianense desde sua criação até o episcopado de Dom Silvério Gomes Pimenta, concluído em 1922. Já no livro O Seminário de Mariana, ele sintetiza aspectos vinculados às balizas institucionais e culturais desta instituição de ensino. Trindade apresenta D. José como “homem de fé viva e ardente” (TRINDADE, 1929, p. 200), cujas celebrações eram repletas de pompas e devoção à Igreja. A caridade também é uma característica que ele ressalta em D. José: “das visitas pastorais, para com as quais saia levando somas vultuosas, sempre voltava endividado, mas deixando após de si uma multidão de pobres cantando sua caridade” (TRINDADE, 1929, p. 201).
Outro memorialista de Dom José foi Diogo de Vasconcelos (1843-1927). Estudou no Seminário de Mariana e formou-se em Direito na Faculdade do Largo de São Francisco, no Rio de Janeiro. Foi membro do Partido Conservador Mineiro e é considerado um dos fundadores da historiografia de Minas Gerais. Dentre suas principais obras está História do Bispado de Mariana, onde descreve o trajeto da atuação da Igreja mineira através da Diocese de Mariana.
Das utopias ao Autoritarismo
384
Em ambos os autores, há uma versão laudatória a Dom José:O autor [Raimundo Trindade] tece comentários relevantes a respeito desta prelazia: Dom Frei José da Santíssima Trindade é de um homem industrioso que buscou sanar as necessidades regionais com relação à formação do clero [...]. Diogo de Vasconcelos traz os problemas enfrentados pelo prelado durante a Independência do Brasil (1822), os períodos do Primeiro Reinado (1822-31) e Regencial (1831-40). O cabido marianense queria perseguir contra os clérigos portugueses, tal atitude provinha de desavenças declaradas entre os naturais de Portugal e aqueles que se consideravam brasileiros. O prelado sempre procurou contornar os conflitos por meio de negociação permeada de espírito cristão (SANTANA, 2011, p. 30).
Em termos de historiografia religiosa, os trabalhos pioneiros de Riolando Azzi apresentam D. José da Santíssima Trindade como um “precursor” dos Bispos reformadores da segunda metade do século XIX, especialmente de D. Viçoso, no tocante às terras mineiras. Assim, segundo Azzi (AZZI, 1982, p. 564-576), tornar-se-ia possível vislumbrar um “espírito de reforma” na atuação de D. José, face a seu empenho pela restauração do Seminário Diocesano, ao apoio por ele conferido ao estabelecimento de institutos religiosos em Minas Gerais e à sua adesão incondicional às diretrizes da Cúria Romana. Dom Frei José esteve à frente da Diocese de 1820 a 1835, num momento de vacância do Seminário, “período […] provavelmente o mais conturbado da história da diocese de Mariana no século passado” (TRINDADE, 1929, p. 22). Após sua instalação, o Bispo inicia uma série de modificações no Seminário, para que assim os seminaristas pudessem retomar as atividades do local. As tentativas de reorganização trouxeram uma série de reformas nas estruturas materiais, e depois no estatuto do Seminário.
De acordo com Azzi, (AZZI, 1982, p. 566-568) D. José mantinha grande afinidade aos preceitos do Concílio de Trento. Mas, de forma simultânea, devido à carência de estabelecimentos educacionais no Brasil, ele considerava válido que o Seminário de Mariana propiciasse, além da formação sacerdotal, uma educação para os que permaneciam no estado laical, sobretudo entre os integrantes
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
385
dos grupos dirigentes, futuros encarregados de sustentar a ordem social e religiosa.
O processo de restauração da Diocese feita por D. José teve inicio logo na sua chegada a Mariana. O prédio do Seminário estava fechado havia nove anos e, para viabilizar a reabertura do edifício, o Bispo recorreu a suas próprias poupanças, além de solicitar contribuições aos ministros do foro e vigários paroquiais (LIMA, 1998, p. 25). Além disso, o Bispo também enviou uma carta ao então Ministro do Estado, Thomas Antônio de Vila Nova Portugal, onde citava a importância da reabertura
deste pio estabelecimento tem saído para outros os estados homens beneméritos que os tem servido, e ainda estão servindo com honra e dignidade, intentes restabelece lo, esperando o mesmo tempo com esta diligencia, não só promover a gloria de Deus, e da sua Igreja, como também que no mesmo Seminário se prepararem homens capazes para que com maior estudos em universidade servirão dignamente a um outro estado. Tenho já feito para este fim algumas aplicações ainda da minha econômica subsistência, e pedido pelos meus ministros e párocos algumas esmolas, e tendo já começado a dar exercício ao mesmo Seminário, pretendo que no principio do próximo ano entrem para dentro os estudantes.2
De acordo com Raymundo Trindade, após cinco meses de trabalho, no dia 23 de janeiro de 1821 foi reaberto o instituto.
Dom José da Santíssima Trindade e o Seminário de Mariana: práticas educacionais e formação do clero e leigos
O Seminário de Mariana data de 1750, tendo sido fundado pelo primeiro bispo da diocese, Dom Frei Manoel da Cruz. Os seminários católicos surgiram em um contexto muito preciso: foram criados por deliberação do Concílio de Trento (1545-1563):
Os preceitos e as mudanças estabelecidas por Trento
2 AEAM. Participação ao Ministro do Estado, Thomas Antônio de Vila Nova Portugal sobre a reedificação do Seminário. Arquivo 2. Gaveta 2. Pasta 36.
Das utopias ao Autoritarismo
386
visavam deter o avanço das confissões protestantes, bem como favorecer o processo de catequese e de presença institucional da Igreja Católica nos continentes recém-conquistados pela expansão europeia. Para concretização deste conjunto de metas, os seminários apresentavam-se como uma estratégia indispensável, pois através deles deveria ser formado um clero melhor formado e alinhado às determinações pontifícias (BUARQUE, 2010).
Segundo Virgínia Buarque, no documentário Um Seminário nas Terras do Ouro,
O primeiro passo dado por D. Frei Manoel da Cruz para fundação do Seminário de Mariana foi a aquisição de uma propriedade adequada. A questão foi resolvida com a doação de uma chácara, em 1749, por José de Torres Quintanilha, próspero lavrador das freguesias de Barra Longa, Furquim e São Caetano, que, a seguir, tornou-se um dos primeiros alunos do Seminário. Mas quem seriam os professores? No mesmo ano de 1749, a pedido de D. Frei Manoel da Cruz, chegou a Mariana o jesuíta José Nogueira, que passou a atuar como docente e reitor do Seminário, sendo acompanhado, logo depois, por outros religiosos da Companhia de Jesus. Este instituto foi criado no contexto da Reforma Católica, no século XVI. A Companhia de Jesus chegou ao Brasil ainda em 1549, com o propósito de promover a conversão dos indígenas e de instalar residências voltadas para o ensino, comumente chamadas de Colégios, que se tornaram os principais pólos de formação cultural da Colônia (BUARQUE, 2010).
Contudo, em 1759, ainda sob o episcopado de D. Manoel da Cruz, os jesuítas foram expulsos da Colônia portuguesa por decreto pombalino, e a formação e administração do Seminário de Mariana ficaram a cargo da Diocese.
O retorno de ordens religiosas à diocese de Mariana acontece no episcopado de D. José. Alguns frades franciscanos auxiliaram o Bispo na organização do Seminário e na ação pastoral. Após sua nomeação como bispo de Mariana em 1820, Dom José inicia uma série de modificações no Seminário, tanto nas estruturas materiais como no estatuto desta instituição.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
387
Uma das primeiras atitudes do Bispo foi a reformulação do Estatuto3 do Seminário, que estabelecia diretrizes acerca da administração (fundos do Seminário e da Fazenda), do exercício de autoridade e funções (como deveriam portar-se o reitor, vice reitor, procurador, tesoureiro, professores, párocos, sacristão, enfermeiro, cozinheiro e porteiro), dos seminaristas (vestiário, obrigações e deveres a se cumprir), do tempo letivo, feriados e distribuição das horas de estudo em as aulas do Seminário, e principalmente acerca da condução da observância moral, da correção e dos ensinamentos que devem ter os estudantes do Seminário (onde seriam pregadas a ordem escolástica ou observância literária, a retórica, a gramática latina, a filosofia, a teologia dogmática e a teologia prática).
Para essa reforma, o Seminário contava com a doação de 250 escudos anuais, provinda do imperador Dom Pedro I, que acolhera um pedido de Dom José. As principais reformas se deram, porém, no âmbito da formação eclesiástica. Desde 1814, a Companhia de Jesus havia sido restaurada, e suas lideranças intelectuais propugnavam uma preparação do clero pautada na escolástica (TRINDADE, 1929, p. 36). Foi conferido grande cuidado à observância moral, a correção e conteúdo das disciplinas lecionadas (a retórica, a gramática latina, a filosofia, a teologia dogmática e a teologia prática). Para auxiliá-lo na direção do Seminário, Dom José elegeu como reitor o Padre João Antonio de Oliveira (VASCONCELOS, 1935, p. 87).
Tal viés formativo encontrava-se obviamente associado a um alinhamento à liderança da Santa Sé, o que era fortemente criticado pelos liberais: “BISPO - um mero executor das ordens do Papa (no sistema servil)... Um soberano executor das leis de Deus na sua Diocese (segundo o sistema liberal)”4. As críticas estendiam-se à direção do Colégio do Caraça, fundado pouco depois de iniciado o episcopado de Dom José da Santíssima Trindade, e que “funcionou como uma Escola Apostólica para formação do clero lazarista e foi
3 AEAM. Estatutos Para o Regimento do Seminário Episcopal de Nossa Senhora da Boa Morte Da Leal Cidade de Mariana no Ano de 1821. Arquivo 2. Gaveta 2. Pasta 36.
4 O Universal, 19/06/1829, n. 302 apud HORÁCIO, 2009, p. 68-69.
Das utopias ao Autoritarismo
388
dirigido pelos padres da Congregação da Missão”. Ele recebeu de “D. João VI o título de Real Casa da Missão e, em 1824, do Imperador Pedro I, o de Imperial casa” (HORÁCIO, 2009, p. 69). O Colégio do Caraça gozava de grande apoio do bispo Dom José: “recomendando suas missões ou defendendo-os [os lazaristas] nos momentos de conflitos com seus variados opositores, soma-se aqui aos seus próprios esforços junto ao seminário episcopal” (LIMA, 1998, p. 37).
Mas empregando a expressão “jesuíta” como uma generalização da condição eclesiástica, O Universal manifestava-se claramente contrário ao ensino ali ministrado:
Quando veremos os nossos jesuítas do Caraça inibidos de influir sobre o espírito da mocidade e de preparar na província de Minas o longo reinado da superstição e do despotismo?5.
Devido à carência de estabelecimentos educacionais no Brasil, Dom José manteve a destinação anterior do Seminário, que acolhia não somente os direcionados à vida sacerdotal, mas também os meninos e jovens da elite mineira, que viriam a atuar posteriormente na burocracia de Estado e em funções liberais (AZZI, 1982, p. 566-568). Diogo de Vasconcelos indica, em paralelo, que D. José atentou ao amparo dos meninos pobres, mediante a subvenção a um orfanato (VASCONCELOS, 1935, p. 87).
De acordo com Freitas (FREITAS, 1938, p. 30-38), segundo as determinações do Concílio de Trento, competia ao bispo cuidar da conservação e da prosperidade do seminário diocesano. Esta é também a postura de Dom José, continuamente atento à formação espiritual dos alunos e, principalmente, à disciplina interna do Seminário. Seu propósito era o de assegurar a retidão renovação moral e espiritual do clero, para assim melhorar sua atuação no Bispado.
Relações políticas de Dom Frei José em Minas GeraisO período pós independência no Brasil foi marcado por
5 O Universal, 06/10/1828, n. 193 apud HORÁCIO, 2009, p. 69.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
389
fortes conflitos de ideais, tendo em vista o cenário conturbado entre a disputa de poder dentro das províncias e a tentativa de unificação para a formação de um Estado Nacional Brasileiro. De acordo com Maria Odila (DIAS, 1986) a disjunção do Brasil com Portugal não conduziu a concretização da unidade nacional, levando em conta que o movimento de independência não foi produzido através de uma luta nacionalista ou revolucionária unificada, dessa forma, não se poderia visualizar uma luta entre a colônia contra a metrópole no processo de emancipação política, como acorreu nas Treze Colônias, devido às contradições políticas, econômicas e sociais existentes no Brasil.
Segundo Miriam Dolhnikoff (DOLHNIKOFF, 2003) a construção do Estado nacional teve como principal característica a autonomia que as províncias tinham em relação ao governo centralizado do Rio de Janeiro. Dessa forma, essa independência garantia aos grupos dominantes maior decisão e um papel fundamental na condução da construção do Estado do Brasil pós independência, garantindo assim, a organização de uma elite política que operava dualmente na preservação do Estado e na manutenção dos laços com suas regiões. Para a autora,
A autonomia era condição para viabilizar a unidade nacional, desejada tanto por liberais como pelos conservadores. Desde o início a unidade nacional esteve entre as prioridades de ambos os grupos, e esta só poderia ser alcançada se preservada a autonomia de modo a cooptar os grupos dominantes regionais para o interior do Estado. Liberais e conservadores empenharam-se em definir as competências dos governos regionais bem como do governo central, de modo a combinar autonomia com unidade, no interior de um pacto de feições claramente federalistas (DOLHNIKOFF, 2003, p. 118).
No caso da província de Minas Gerais, segundo Fernanda Chaves (GHERARDI, 2013, p. 11), os agentes históricos presentes na região, eram formados por políticos atuantes, jornalistas e membros da elite, atuavam com dualidade numa sociedade que defendia o status tanto social, como econômico, para de certa forma forjassem o próprio país enquanto nação. Dessa forma, esses homens buscavam
Das utopias ao Autoritarismo
390
desenvolver relações sociais que levassem uma formação de alianças políticas para que o debate acerca do Estado Nacional reivindicado pudesse ampliar a soberania política dos mesmos.
De acordo com Wlamir Silva, (SILVA, 2009, p. 180-184) o liberalismo brasileiro nasceria, no século XIX, em uma sociedade escravista, em uma economia colonial e a presença da única Monarquia. Este liberalismo não conheceu revoluções sociais, rupturas de regime ou transformações capitalistas, porém, essas experiências estariam de forma indireta presentes na política que nascia nesse período.
A “soberania da razão” destacava se em especial na província de Minas Gerais, onde parte dos políticos, denominados moderados, discutiam a superioridade da razão e sua vocação civilizatória, pregando a razão como guia para a administração da província. Essa razão, contudo não era utilizada somente nos discursos dos moderados. A prática política dos moderados teria tomado posições sobre questões específicas, construindo um projeto político e estabelecendo uma base hegemônica moderada, tendo em vista a sociedade “peculiar” que esses políticos atuavam.
Para o autor, é importante destacar que a sociedade brasileira do século XIX, se caracteriza “pela relação complexa entre uma sociedade colonial ibérica tradicional e as influências do liberalismo e das experiências americanas”. Essa complexidade está relacionado a herança colonial (patrimonialismo), a escravidão, e o processo de relação sociedade e liberalismo na formação do Estado Nacional.
Desde o período Colonial, a Igreja Católica atuou nas relações sociais, políticas e econômicas no Brasil. Sua relação com o Estado importava a ambas as partes, já que a instituição, com a evangelização, ajudou o Império Português no processo de colonização da América e ao mesmo tempo conseguiu abranger o Catolicismo na colônia.
Muitos religiosos tiveram papeis importantes no cenário político nacional, segundo Oscar Lustosa (LUSTOSA, 1977) a Igreja passou por dificuldades nas missões evangelizadoras na colônia. No início do século XIX, essa situação piorou, devido às políticas “pós- proclamação da independência”, pois foram formados no Período
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
391
Colonial duas frentes de pensamento dentro do próprio clero; uma primeira seria ligada aos padres liberais, que acreditavam numa autoridade e autonomia do Bispo em relação à Santa Sé, e outra, ligada a frente conservadora do clero; cujo posicionamento era contrário dos liberais; aqui, a Santa Sé teria toda autonomia, e caberia aos prelados das províncias se voltarem ao Papa. Esses pensamentos diversos na colônia, de acordo com Lustosa, teriam sido causados pelo fato de no Brasil, não existir uma tradição política firmada. O contexto político- administrativo era dominado por consecutivas crises e instabilidade.
Na província de Minas Gerais, segundo Gabriela Almeida, os conflitos em torno da administração do Seminário também estavam presentes e se deram por três motivos principais,
Uma delas estava relacionada a gerencia da instituição de ensino, colocava-se em discussão a definição de quais setores deveriam ser responsáveis por definir os aspectos organizacionais do Seminário e a qual instância de poder os indivíduos envolvidos em sua coordenação, incluindo o bispo, haveriam de estar submetidos. Outro aspecto que movia o embate consistia nas disciplinas a serem ensinadas, discordava-se dos conteúdos a serem transmitidos, bem como a quem caberia a sua definição. Por último, destacamos as divergências em relação à liberdade de difusão de pensamentos, debatia-se a necessidade de controlá-la ou não (ALMEIDA, 2013, p. 5).
Diogo de Vasconcelos relata que D. José passou por momentos difíceis no seu episcopado. Devido às ideias que circulavam na sociedade vindas do processo de independência do país, parte do clero, especialmente nativistas, “[…] deram rédeas à insubordinação e os Cônegos da Sé romperam a macha, empecendo a autoridade do Bispo [...] quizeram obrigá-lo a perseguir os clérigos europeus e a destituir até Vigários collados, como si a revolução houvesse de subverter também a ordem da Igreja”. (VASCONCELOS, 1935, p. 87). Dessa forma, aqueles que seguiam as ideias liberais começaram a cercar o Bispo acusando o de absolutista e partidário da restauração.
Das utopias ao Autoritarismo
392
Dom Frei José da Santíssima Trindade adotou uma postura contrária às ideias liberais no campo político. Assim, em suas visitas pastorais, exortava os párocos a que
em razão do seu ofício, declame[m] contra a libertinagem que tanto grassa por desgraça digna de lágrimas de sangue, num século tão presumido de luzes, sendo este o seu principal dever, derramando no espírito do povo que lhe está cometido a verdadeira doutrina e edificando com a palavra e com o exemplo, vindo a ser o exemplar perfeito da porção do rebanho que lhe está cometido e do qual há de dar estreita conta ao Supremo Pastor e Remunerador dos bons e dos maus6.
Em outro documento, o bispo assim manifestou-se:Recomendamos com toda a força do nosso espírito ao reverendo pároco não cesse da clamar contras os libertinos, que vão grassando tão desaforados, inspirando nos seus paroquianos o espírito da verdadeira doutrina, não lhes faltando com este alimento da alma, que é o seu mais principal dever e indispensável ofício, e com especial corroborada a doutrina vocal com o mais qualificado exemplo, vindo a ser a verdadeira forma por onde se dirijam as ovelhas que lhes estão cometidas, e dos quais há de dar estreita conta ao Supremo e Justo Remunerador dos bons e dos justos 7
Dom José, em paralelo, apoiava as ideias do periódico O Telegrapho, que defendia “a Constituição de 1824 a partir da sobrevivência do Direito Divino, adaptando o velho ao novo numa síntese autoritária” (SILVA, 2002, p. 280).
Devido a tal postura, Dom Frei José da Santíssima Trindade defrontou-se com forte oposição liberal promovida por alguns presbíteros da Diocese de Mariana. Tal refutação lhe adveio desde o juramento que proferira às bases da Constituição Portuguesa, (TRINDADE, 1929, p. 192) que por contestar a livre manifestação
6 AEAM. Provimento à Freguesia do Pilar de Ouro Preto. Arquivo 2. Gaveta 2. Pasta 2
7 AEAM. Provimento à Freguesia de Antônio Dias. Arquivo 2. Gaveta 2. Pasta 2
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
393
do pensamento e a liberdade da imprensa, muito desagradou aos políticos liberais.
Aliás, a participação de presbíteros da Diocese mineira no cenário político da década de 1820 mostrava-se bastante expressiva. Na representação brasileira às Cortes de Lisboa, entre os dezenove sacerdotes, três eram mineiros: Belchior Pinheiro de Oliveira (Vigário de Pitangui), José Custódio Dias e Manuel Rodrigues Jardim. Já na Assembleia Constituinte de 1823 participaram seis sacerdotes mineiros: Belchior Pinheiro de Oliveira, José Custódio Dias, Manuel Rodrigues da Costa, José de Abreu e Silva e os cônegos Antônio da Rocha Franco e Francisco Pereira de Santa Apolônia (HORÁCIO, 2009, p. 61-62). A ativa participação de eclesiásticos na elite política mineira é atribuída pelo historiador Alcir Lenharo à sua “formação intelectual privilegiada em relação ao conjunto dos demais proprietários”, o que lhes assegurava, juntamente com o exercício do ministério sacerdotal, “prestígio e reconhecimento que lhes abriam a porta da carreira [política]” (LENHARO, 1979, p. 120).
Muitos desses sacerdotes eram também grandes proprietários de terras, como o padre José Custódio Dias, (HORÁCIO, 2009, p. 62) ou vinculados às famílias que dispunham dessas áreas, disponibilizando-lhes seus atributos no campo do discurso público e da burocracia estatal (SILVA, 2002).
Dentre esses sacerdotes que se opunham às diretrizes de Dom José encontrava-se, sobretudo, o padre Bhering, “fundador do periódico liberal mineiro O Novo Argos, deputado na Assembleia Nacional de 1834-1837 e deputado provincial em 1835-1837 e 1846-1853” (HORÁCIO, 2009, p. 61). Antonio José Ribeiro Bhering (ALMEIDA, 2015, p. 22-23) foi um padre da Diocese de Mariana, ordenado pelo então Bispo D. Frei José em 1826. Atuou como professor de Filosofia do Seminário durante 3 anos. Em 1829, o maior jornal liberal que circulava em Minas Gerais, O Universal, noticiou a exoneração do padre Bhering, que teria sido suspenso de suas atividades “por motivos muito poderosos e conhecidos por todos”.
Das utopias ao Autoritarismo
394
O então Reitor do Seminário, também recebeu do Bispo um documento onde o Bispo argumentava a necessidade de afastamento do dito padre de suas atividades, alegando que Bhering, pregava “novidades filosóficas” em suas aulas, e assim, estaria a corromper os alunos com essas ideias.
Após a expulsão, o padre não aceitou a demissão e teria iniciado uma campanha contra D. Frei José, através da imprensa (principalmente via O Universal) e também através do Conselho Geral da província de Minas Gerais.
Em 1829 padre Bhering começou a atuar em alguns cargos políticos e administrativos, nos jornais, além de continuar como professor. Essa atuação social e as relações que o mesmo estabeleceu na região fizeram com que o padre conseguisse uma atuação importante dentro da sociedade. D. José respondeu aos ataques de Bhering se juntando a uma parcela da sociedade que iam junto de seus ideais.
Em 1929, Dom José exonera o padre Bhering como professor do Seminário de Mariana, onde ele lecionava filosofia. O sacerdote foi acusado de ensinar “conteúdos infectos” aos alunos (LIMA, 1998, p. 38). O episódio gerou fortes controvérsias:
O padre Bhering, ordenado em 1º de novembro de 1826, é nomeado pelo bispo 3 meses depois, professor de filosofia e retórica do Seminário. Na condição de lente, prega livremente para seus alunos as novas ideias do pensamento filosófico, certamente de tom iluminista. Admoestado várias vezes pelo bispo, não se sente acuado, acabando por ser exonerado pelo bispo em carta de 5 de outubro de 1829. Como diz Raimundo Trindade, “foi um escândalo”. Ouro Preto cidade natal do Padre Bhering, saiu em sua defesa, conferindo-lhe a cadeira de retórica, em nítido agravo ao bispo (LIMA, 1998, p. 33).
Outros opositores do bispo eram o padre Marinho, “que além de ter sido juiz de paz de Ouro Preto em 1834, deputado provincial nas duas primeiras Câmaras e deputado geral na quarta, sexta e sétima câmara foi colaborador, já na Regência, dos periódicos liberais como Astro de Minas, Despertador Mineiro, Americano,
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
395
ambos em São João del Rei”; ele também “colaborou na Sociedade Promotora da Instrução Pública e no Constitucional, ambos de Ouro Preto, além de ter sido chefe de redação do Correio Mercantil, no Rio de Janeiro” (HORÁCIO, 2009, p. 61). Também atuava na oposição o padre José Bento Leite Ferreira de Melo, “criador dos periódicos liberais de Pouso Alegre, [...] que foi também eleito deputado nas três primeiras legislaturas (1826-1829, 1830-1833, 1834-1837) e nomeado senador em 1834” (HORÁCIO, 2009, p. 61).
Tais sacerdotes cunhavam Dom José da Santíssima Trindade como “absolutista”, pois consideravam que ele não abria mão da centralização do poder eclesiástico. Essa era a versão também apresentada por periódicos do período, entre os quais o jornal O Universal. Este jornal, de forte tendência liberal, é considerado um dos mais importantes na capitania de Minas Gerais no Primeiro Reinado, sendo editado na cidade de Ouro Preto e circulando de 18 de julho de 1825 a 10 de junho de 1842. Tal periódico teve como fundador e um dos principais colaboradores o deputado liberal Bernardo Pereira de Vasconcelos (RODRIGUES, 1986). Em um de seus artigos, O Universal assim descrevia o prelado de Mariana:
consta-nos que se achava recolhido na Cadeia Pública desta Cidade um Crioulo, que era Sacristão da Matriz do inficionado por haver roubado a âmbula, cujo desacato S. Exa Rev. [D. Frei José da Santíssima Trindade] não se envergonhou de atribuir à desenfreada liberdade dos nossos tempos, e que as suas criaturas mais sem rebuço atribuíam aos liberais8.
Como estratégia retórica, o jornal não hesitava em depreciar as atitudes e postura do bispo, desqualificando-o assim para a função eclesiástica, sobretudo para liderança das almas:
O nosso ex. Bispo querendo obsequiar ao nosso M. Imperador mandou que na missa se desse a Oração Pro peregrinantibus. Ora S. Ex. parece que não sabe o significação da palavra peregrino, o que é provável, ou injuriou o Imperador do Brasil chamando-o peregrino dentro dos seus Estados. É miserável essa gente Telegráfica
8 O Universal, 16/03/1831, n. 575 apud HORÁCIO, 2009 p. 63.
Das utopias ao Autoritarismo
396
– quando quer louvar deprime, e quando pretende deprimir, louva.9
As denúncias dos jornais incluíam casos de “expulsão de alunos e a perseguição a estudantes com o tope nacional”10, afirmando-se que “as Cadeiras de Filosofia, e Teologia passaram atrevidamente a insultar os Seminaristas de tope” e “costumam de ordinário misturar as suas explicações com insultos os mais grosseiros aos Liberais, à liberdade de Imprensa, à Soberania Nacional [...]”.11
Assim, um dos epítomes de O Universal a Dom Frei José da Santíssima Trindade era o de “déspota”:
eis [que] chega (inecredibile dictu) uma provisão de sua Ex. Rev. o senhor Bispo de Mariana D. Fr. José da Santíssima Trindade, na qual comina a todos os eclesiásticos para que nenhum assista aos Ofícios, que se [h]aviam de celebrar na Capela dos Terceiros do Carmo, sob pena de suspensão. Ó despotismo! Ó nefando despotismo! Ó abominável despotismo! Até quando cevarás tu os negros ódios, as vinganças, as intrigas, e as paixões entre os desgraçados mineiros? Quando se quebrarão as cadeias que ainda te ligam tão estreitamente contigo, ó monstro, ó mais abominável monstro? Sim, eu com razão clamo contra o despotismo, e não pode haver maior mal ao praticado pelo excelentíssimo Bispo para com os Sacerdotes dessa Imperial Cidade12.
O período pós independência e formação do Estado Nacional foi um processo de disputas de projetos políticos, tanto entre as províncias do Brasil, cada qual com seu projeto frente a Nação, quanto aos próprios membros políticos e religiosos das províncias, que buscavam uma participação ativa nas decisões regionais. Para os liberais, a Igreja atrapalhava seu projeto político pois a instituição, neste período, através do comando de D. José, estava ligada à centralização do poder e à monarquia absolutista. A Igreja por sua vez, também
9 O Universal, 2/03/1831, n. 564 apud HORÁCIO, 2009. p. 67.10 O Universal, 08/06/1831, n. 604 apud HORÁCIO, 2009 p. 65.11 O Universal, 10/06/1831, n. 605 apud HORÁCIO, 2009 p. 66.12 O Universal, 13/04/1827, n. 273 apud HORÁCIO, 2009, p. 68.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
397
buscava uma maior participação social e uma organização efetiva pautada nas diretrizes de Roma. Ambas as propostas caminhavam para a realização e defesa de um novo catolicismo dentro do Brasil e da formação da Nação que se buscava constituir como um todo.
Referências:Fontes:
AEAM. Estatutos Para o Regimento do Seminário Episcopal de Nossa Senhora da Boa Morte Da Leal Cidade de Mariana no Ano de 1821. Arquivo 2. Gaveta 2. Pasta 36.
AEAM. Participação ao Ministro do Estado, Thomas Antônio de Vila Nova Portugal sobre a reedificação do Seminário. Arquivo 2. Gaveta 2. Pasta 36.
AEAM. Provimento à Freguesia do Pilar de Ouro Preto. Arquivo 2. Gaveta 2. Pasta 2
AEAM. Provimento à Freguesia de Antônio Dias. Arquivo 2. Gaveta 2. Pasta 2
Bibliografia:
ALMEIDA, Gabriela Berthou. Jogos de poder: disputas em torno da administração do Seminário de Mariana, 1829-1835. Anais do XXVII Simpósio Nacional de História. Natal, 2013.
ALMEIDA, Gabriela Berthou. Jogos de Poderes: O Seminário de Mariana como espaço de disputas políticas, religiosas e educacionais (1821-1825). 2015. 182f. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 2015.
AZZI, Riolando. Um Franciscano entre os Bispos Reformadores. Convergência, ano XVII, n. 157, p- 564-576, nov. 1982.
BOSCHI, Caio Cesar. Os leigos e o poder: irmandades leigas e política colonizadora em Minas Gerais. São Paulo: Ática, 1986.
DIAS, Maria Odila Silva. A interiorização da metrópole (1808-1853). In: MOTA, Carlos Guilherme (Org.). 1822: Dimensões. São Paulo: Perspectiva, 1986, p. 7-37.
DOLHNIKOFF, Miriam. O lugar das elites regionais. REVISTA USP, São Paulo, n.58, p. 166-133, jun./ago. 2003.
FREITAS, José Higino de. Aplicação no Brasil do Decreto Tridentino sobre
Das utopias ao Autoritarismo
398
os Seminários até 1889. Tese de Láurea em Direito Canônico. Pontifícia Universidade Gregoriana. Roma, 1938.
GHERARDI, Fernanda Chaves. A construção das identidades políticas em Minas Gerais 1834-1844. 2013. 168f. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2013.
HORÁCIO, Heiberle Hirsgberg. Apontamentos sobre o embate entre os liberais mineiros e o bispo de Mariana Frei José da Santíssima Trindade no Primeiro Reinado. Sacrilegens, Juiz de Fora, v. 6, n. 1, p. 60-74, 2009.
LENHARO, Alcir. Tropas da Moderação: o abastecimento da Corte na formação política do Brasil, 1802-1842. São Paulo: Símbolo, 1979.
LIMA, José Arnaldo Coelho de Aguiar; OLIVEIRA, Ronald Polito de. (Orgs.). Visitas Pastorais de Dom Frei José da Santíssima Trindade (1821-1825). Belo Horizonte: Fundação João Pinheiro; Centro de Estudo Históricos e Culturais, 1998.
LUSTOSA, Oscar de F. Reformistas na Igreja do Brasil Império. São Paulo: Paulinas, 1977.
RODRIGUES, José Carlos. Ideias Filosóficas e Políticas em Minas Gerais no Século XIX. Belo Horizonte: Itatiaia; São Paulo: EDUSP, 1986.
SANTANA, Paulo Vinicius Silva de. Ministério Sacerdotal na Sé de Mariana: Posse de Livros, Organização Familiar e Atividades Econômicas (1820 a 1875). 2011. 146f. Dissertação (Mestrado em História). Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte, 2011.
SILVA, Wlamir. Liberais e povo: a construção da hegemonia liberal-moderada na província de Minas Gerais (1830-1834). São Paulo: HUCITEC, 2009.
TRINDADE, Raymundo. Arquidiocese de Mariana. Subsídios para sua história. 2. ed. [S. l.: s.n.] I volume. 1929.
VASCONCELOS, Diogo. História do Bispado de Mariana. Belo Horizonte: Edições Apolo, 1935.
WILLEKE, Frei Venâncio, OFM. Dom Frei José da Santíssima Trindade. 6º Bispo de Mariana (1820-1835). Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, Belo Horizonte, v. XII, p. 39-81, 1929.
Documentário:
Um Seminário nas Terras do Ouro. Produção de Virgínia Buarque. Mariana, MG: Laboratório de Ensino de História da UFOP, 2010. DVD.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
399
A tradição doutrinária no Tribunal da Relação do Rio de Janeiro durante o Segundo Reinado
Renan Rodrigues de Almeida1
IntroduçãoA presente comunicação insere-se no campo da História
do Brasil Imperial, em confluência com o domínio da História do Direito. O problema central em análise é a influência do Opinio Doctorum2 nos acórdãos proferidos pelo Tribunal da Relação do Rio de Janeiro durante as duas primeiras décadas do Segundo Reinado, prática esta que iria de encontro a uma concepção de “justiça de leis”, aproximando-se de uma “justiça de juízes”.
De acordo com o pressuposto teórico fornecido por Carlos Garriga e Andréa Slemian (2013), até a independência do Brasil, em 1822, e, ao menos até as duas décadas subsequentes, as decisões tomadas em nossos tribunais ainda eram regidas essencialmente pelo Opinio, o que, não raro, propiciava abusos por parte dos magistrados. Grosso modo, os autores argumentam que “[...] a ‘boa administração da justiça’ dependia do ‘bom juiz’, e do seu reto comportamento, e não das leis e de sua devida aplicação” (GARRIGA; SLEMIAN, 2013, p. 181).
Objetiva-se, desta forma, verificar se o recurso a esta fonte jurídica, típica do Antigo Regime, foi mantido durante o Segundo Reinado, tomando a jurisprudência do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro como estudo de caso. Embora o tema abarque todo o longo século XIX, escolheu-se delimitar o problema entre a reforma constitucional, com a lei de interpretação do Ato Adicional de 1834, e o fim da década de 1850, quando a maior parte dos códigos legais criados em todo o período imperial já estavam constituídos.
A pesquisa debruçou-se sobre os acórdãos proferidos pela
1 Mestrando em História pela Universidade Federal do Espírito Santo2 Opinião dos doutores. Entendimento de juristas consagrados. Doutrina.
Das utopias ao Autoritarismo
400
Relação publicados nos jornais fluminenses da época “Gazeta dos Tribunaes” (doravante denominado ‘Gazeta’) e “Correio Mercantil, e Instructivo, Político, Universal” (doravante denominado ‘Correio’), ambos disponíveis na Hemeroteca da Biblioteca Nacional Digital (http://bndigital.bn.br/hemeroteca-digital).
A Gazeta, conforme aponta Bruno Guimarães Martins (2013), foi publicada entre 1843 e 1846, editado por Paula Brito3.Tratava-se de periódico especializado em questões jurídicas, circulando três vezes por semana, direcionado a um público formado por bacharéis capazes de sustentar os custos da assinatura.
Os acórdãos da Relação do Rio de Janeiro eram geralmente publicados nas seções “Supremo Tribunal de Justiça” e “Relação do Rio de Janeiro”. Escolheu-se levantar os registros da Relação também na coluna do Supremo porque, muitas vezes, os pedidos de revista eram publicados com o do acórdão recorrido.
Quanto ao Correio, tratava-se de um jornal diário que circulou entre 2 de janeiro de 1848 e 15 de novembro de 1868, de propriedade de Francisco José dos Santos Rodrigues. Conforme apontam Abreu e Tognolo (2015), o Correio era um periódico abertamente liberal com ênfases temáticas diversificadas: política, ciências, religião, literatura, leilões, notícias diversas e outras. Sua grande longevidade, em um contexto de publicações efêmeras, demonstra sua importância para a sociedade da Corte. Os assuntos jurídicos eram abordados em colunas variadas: “Tribunaes”, “O Foro”, “Revista dos Tribunaes”, etc.
Considerando que o período de circulação da Gazeta limitou-se a alguns anos da década de 1840, optou-se por restringir os acórdãos registrados nesta década àqueles publicados por este jornal, enquanto os da década posterior (1850), pelo Correio. De modo a testar a hipótese inicial deste trabalho, a pesquisa apoiou-se, em primeiro lugar, no método analítico da História Quantitativa, cujo
3 Francisco de Paula Brito (Rio de Janeiro, 2 de dezembro de 1809 - Rio de Janeiro, 5 de dezembro de 1861): editor, jornalista, escritor, poeta, dramaturgo, tradutor e letrista. Um dos tipógrafos mais importantes do Império. Defendia a imprensa livre e foi o primeiro a inserir no debate político a questão racial.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
401
objetivo, segundo Gaulin (1998, p. 186),pode ser duplo: seja o de fornecer respostas (em termos muitas vezes, de invalidação de hipóteses) para perguntas motivadas por uma problemática histórica ampla, a única capaz de dar um sentido a resultados quantitativos que não podem por si só adquirir uma significação; seja o de autorizar a formulação de perguntas ou a emergência de problemas que não seria possível estabelecer ou basificar-se fora da linguagem cifrada (GAULIN, 1998, p. 186).
Contrariando a suposição tradicional de que os números falam por si, buscou-se compreendê-los como pistas que deveriam ser verificadas e analisadas por meio da análise qualitativa, objetivando delimitar o embasamento jurídico das decisões dos desembargadores. Desse modo, compreende-se sua importância enquanto ferramenta analítica, ajudando a responder perguntas históricas ou trazendo novas.
Não obstante o grande volume de acórdãos publicados nestes jornais, a grande maioria não expunha a totalidade do teor das decisões. Devido à impossibilidade de analisar-se a fundamentação jurídica de tais acórdãos, optou-se por excluí-los da pesquisa. Um caso exemplar é a apelação crime de número 1.019 publicado na edição 60 do Correio, em 1850, seção “Tribunaes”: “Appellante, o juizo; appellado, Luiz Antonio Fagundes. Foi juiz do feito o Sr. Pantoja. - Julgou-se confirmar a sentença appellada” (CORREIO MERCANTIL, E INSTRUCTIVO, POLÍTICO, UNIVERSAL, n. 60, 1850).
Um exemplo de texto “completo” é o acórdão publicado na página 2 da segunda edição da Gazeta, no ano de 1843, seção “Tribunal da Relação do Rio de Janeiro”:
Aggravo de petição em que é aggravante D. Francisca Maria de Jesus - Accordão em relação, etc., que tomam conhecimento do recurso por se achar o mesmo compreendido na primeira parte do § 9 do artigo 15 do regulamento de 15 de março de 1842, e tomando conhecimento delle, aggravada não foi a aggravante pelo juiz a quo [...] (GAZETA DOS TRIBUNAES, n. 2, 1843).
O cruzamento das informações compiladas, organizadas
Das utopias ao Autoritarismo
402
em tabelas, possibilitam múltiplas perspectivas analíticas. Considerando os objetivos deste trabalho, optou-se por organizar os acórdãos em quatro conjuntos de tabelas, cada um dos quais separado por década, conforme já salientado. A ênfase concentra-se nas colunas: o primeiro conjunto dividiu os acórdãos de acordo com sua “Natureza recursal”. No segundo, o mais importante para a análise, as colunas delimitam as fontes jurídicas enquanto pertencentes à “Ordem Tradicional” ou “Ordem Moderna” de acordo com as fontes específicas do direito que fundamentavam os acórdãos4. O terceiro, assim como o segundo, enfatiza as Ordens às quais os acórdãos pertencem, subdivididos, porém, em suas naturezas5 cíveis e criminais. O quarto e último conjunto relaciona especificamente a ocorrência dos Livros das Ordenações Filipinas nos acórdãos compilados. A especificidade do material exigiu a elaboração de uma terceira coluna para as tabelas de número “2” e “3”, nomeada como “Indeterminados”, cujo conteúdo será devidamente explicado mais adiante. Por ora, faz-se necessário tecer alguns comentários acerca da organização do judiciário no Império, enfatizando o papel das Relações.
Da Justiça ImperialA emancipação brasileira trouxe a esperança de nova
ordem política baseada no Estado de Direito à luz dos ideais de autodeterminação iluministas, embora sua consumação tenha ocorrido por meio de processo peculiar. Diferentemente das ex-colônias espanholas na América Latina, a
ex-colônia portuguesa, se não evitou um período inicial de instabilidade e rebeliões, não chegou a ter uma única
4 Considerando que muitos dos acórdãos possuem mais de uma fundamentação jurídica, entende-se o porquê das colunas “Total” das tabelas 2.1 e 2.2 serem superiores aos respectivos períodos nas tabelas 1.1 e 1.2.
5 A quantificação nas tabelas 3.1 e 3.2 considerou apenas as apelações cíveis e crime de cada período. Como alguns acórdãos foram fundamentados em fontes jurídicas de ambas as Ordens, os valores divergem ligeiramente daqueles encontrados nas tabelas 1.1 e 1.2, embora se tratem dos mesmos acórdãos.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
403
mudança irregular e violenta de governo [...] e conservou sempre a supremacia do governo civil (CARVALHO, 1996, p. 11-12).
Dentre as instabilidades, o fechamento da constituinte abriu importante cisão entre aqueles que apoiavam a centralidade do Imperador na nova ordem e os partidários de maior liberalidade política. A Constituição veio à luz sem a autoria de uma constituinte. O Imperador legou a tarefa a uma comissão liderada pelo Marquês de Caravelas e a colocou em votação nas diversas câmaras municipais do país. A Assembleia Nacional somente voltaria a funcionar em 1826, embora os parlamentares tivessem sido eleitos em 1824. O retorno à atividade parlamentar proporcionou a sobrevivência do polo de oposição ao Imperador, que, sem conseguir debelar a polarização política, renunciou em 1831 à Coroa e voltou a Portugal. Providenciou, porém, para que seu filho Pedro permanecesse no Brasil sob os cuidados da Regência. A solução monárquica, portanto, manteve-se como elementar na sustentação da independência do Brasil (CARVALHO, 1996, p. 17-18).
Entre os anos de 1822-1841, o país experimentou mudanças substanciais no campo do Direito. Historiadores e juristas costumam dividir o período entre 1822 a 1832 e 1833 a 1841.
Organizou-se o código criminal em 1830, que, muito elogiado em sua forma e conteúdo, conferiu ao país o primeiro estatuto, depois da constituição, com garantias à liberdade e limitações ao poder dos governantes (CALIMAN, 2015; LORENZONI, 2017). Além disso, em 1828, deu-se um regimento ao Supremo Tribunal de Justiça criado pela Constituição (art. 164). Aquela corte deveria ter a alçada de revisar violações como injustiça notória ou nulidade manifesta nas decisões dos tribunais de segunda instância do país denominados Relações. Embora projetado como instrumento de restrição dos poderes do Estado, Andréa Slemian (2013, p. 27) descreve inúmeras limitações do Supremo Tribunal no desempenho desta tarefa. Em 1827, aprovou-se o primeiro regimento dos juízes de paz criados também pela Constituição (art. 162), e, em 1828, um segundo regimento conferiu a leigos a magistratura, cuja escolha se realizava pelos titulares eleitos
Das utopias ao Autoritarismo
404
em assembleias primárias (CAMPOS, 2017). O júri, que já existia no Brasil desde 1822, foi confirmado na Constituição de 1824. O ano de 1832, enfim, consolidava os avanços da justiça cidadã com o código de processo criminal como a lei mais liberal instituída no Império em relação não apenas à justiça, mas também pelo grau de autonomia conferida às províncias (FLORY, 1986).
Em 1841, as experiências de justiça com a participação cidadã diminuíram sua importância, pois se consolidou o poder dos juízes togados por meio das restrições ao júri de acusação. Naquele ano, promulgou-se a lei 261 reformando o código do processo criminal, quando se retirou dos juízes de paz todas as atribuições policiais e suspenderam-se os júris de acusação, entregando-se a pronúncia dos crimes aos Chefes de Polícia, Juízes Municipais e Delegados de polícia6.
A reforma abrangeu também as simplificações processuais pretendidas em 1832. O artigo 120 da lei 261 revogou o artigo 14 da Disposição Provisória do Código Criminal que suprimia as réplicas e tréplicas, assim como reduziu os agravos de petição e de instrumento a apenas agravos no auto do processo. Tornava em vigor a antiga legislação, leia-se as Ordenações Filipinas, naquilo que não fosse oposta à lei. Determinou também que os agravos de petição seriam julgados pelas Relações do Distrito, e onde não fosse possível pelos próprios Juízes de Direito da Comarca dos despachos proferidos pelos juízes municipais ou de órfãos (art. 121). Enfim, o edifício verticalizara-se completamente e os juízes togados detinham completa autonomia de gerência desse Poder, embora ainda se limitasse às demandas jurídicas.
Considerando a conjuntura específica dessas transformações do Direito brasileiro, o presente trabalho buscou discutir a atuação da corte de justiça que, efetivamente, fazia o controle das sentenças obtidas em primeira instância – os Tribunais da Relação. O objetivo consistiu em observar a prática da corte em relação à aplicação das leis e o uso das doutrinas pelos magistrados de primeiro grau entre os anos de 1840-1860. No Brasil Império, em 1840, a organização judiciária estava assim distribuída:
6 Embora a pronúncia efetuada por estas autoridades devesse ser confirmada pelos juízes de Direito, ver art. 54.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
405
A criação da Relação do Rio de Janeiro, pelo Alvará de 13 de outubro de 1751, respondia às pressões exercidas pelas Câmaras municipais de Vila Rica e Ribeirão do Carmo, que se consideravam prejudicadas pela distância da Relação da Bahia. Conforme constata Rogério de Oliveira Souza (2001), tanto a criação do novo Tribunal quanto a posterior transferência da capital para a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro refletiam a mudança do eixo econômico da colônia. Na época colonial, a Relação do Rio de Janeiro abrangia todo o sul da colônia, da capitania do Espírito Santo ao Rio Grande do Sul. Depois da Independência, o Brasil manteve as antigas Relações, isto é, as da Bahia, Pernambuco, Maranhão e Rio de Janeiro. Em 1874, criaram-se mais dez Relações. A Relação do Rio de Janeiro permaneceu muito importante, sobretudo porque abrangia todas intercorrências jurídicas da Corte. E vale ressaltar que as da província do Espírito Santo também.
Como se compunham as Relações do Brasil? Quais tipos de processo julgavam? Quais eram os procedimentos adotados pelos desembargadores para o julgamento dos processos? Em primeiro lugar é preciso esclarecer que a Constituição de 1824 limitou o número de instâncias a duas: “Art. 158. Para julgar as Causas em segunda, e ultima instancia haverá nas Províncias do Império as Relações, que forem necessárias para comodidade dos Povos”. Como se viu, o Supremo
Das utopias ao Autoritarismo
406
Tribunal não julgava o conteúdo do processo, mas das sentenças. Isto é, os ministros do Supremo julgavam se havia nulidade manifesta ou injustiça notória, e se assim decidissem, mandavam a Relação reavaliar o recurso. Desta definição do papel da corte suprema do Império se pode observar o grande poder entregue às Relações, pois as decisões de direito permaneciam sob sua alçada.
Em 3 de janeiro de 1833, a mudança mais substancial ocorreu com a aprovação do regulamento das Relações do Império, que definiu a composição do tribunal por quatorze desembargadores, dos quais um era nomeado Presidente. As sessões deveriam ser públicas e os desembargadores tomavam assento numa só mesa, à direita e à esquerda do presidente. O rito de despacho manteve-se do mesmo modo que das ordenações com conferências três vezes na semana, às terças-feiras, quintas e sábados. Competia às Relações:
Art. 9º Compete às Relações.
1° Conhecer dos crimes de responsabilidade dos commandantes militares, e Juízes de Direito, recebendo as queixas, e denuncias, formando as culpas, e os mais termos até seu julgamento final, salva a providencia do § 2° do art. 155 do Código do Processo Criminal.
2° Conhecer dos casos, em que possam ter lugar as ordens de habeas-corpus na conformidade do art. 340 e seguintes do Código do Processo Criminal.
3° Conhecer dos recursos, e appellações, de que tratam os arts. 111, 167, e 301 do mencionado Código.
4° Decidir dos aggravos do auto do processo.
5° Julgar as appellações interpostas das sentenças dos Juizes de Direito, ou de seus substitutos; e do Conservador da Nação Britannica emquanto existir.
6° Julgar as appellações interpostas dos Juizes de Orphãos.
7° Julgar as appellações das sentenças proferidas pelos Juizes de Paz sobre objectos da antiga almotaceria, excedendo a alçada estabelecida no § 2° da Lei de 15 de Outubro de 1827.
8° Julgar as revistas.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
407
9° Decidir os conflictos de jurisdicção entre as autoridades nos termos da Lei de 20 de Outubro de 1823.
10. julgar as questões de jurisdicção, que houver com os Prelados, e outras autoridades ecclesiasticas.
11. prorrogar por seis mezes o tempo do inventario, havendo impedimento invencivel, pelo qual se não pudesse fazer no termo da lei.
12. julgar as suspeições, ou recusações motivadas, que forem postas aos Desembargadores.
Como se observa, as Relações possuíam amplo espectro de competências, que resultavam em diversos acórdãos tanto em matéria cível quanto criminal. Nesta pesquisa, buscou-se identificar a maneira pela qual esses magistrados orientavam suas decisões. Investigou-se nos acórdãos pistas da operação jurídica realizada para o julgamento, se havia a consulta rigorosa à lei, se o recurso à doutrina supria o raciocínio desses operadores do Direito, ou mesmo se havia algum método implícito. A tarefa foi realizada por meio da consulta aos Acórdãos publicados em periódicos, já que seria impossível acessar cada processo guardado no Arquivo Nacional. O inventário a partir da imprensa impõe restrições, pois não se pode averiguar o universo dos processos julgados na Relação do Rio de Janeiro. De todo modo, a amostragem levantada é significativa e permite aproximações relevantes do objeto desta pesquisa.
A Jurisprudência do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro no primeiro vintênio do Segundo Reinado: modernidade e
atrasoAs tabelas foram elaboradas após pesquisa em 379 edições
da Gazeta e 3.877 do Correio. A esmagadora superioridade em volume do Correio não corresponde, no entanto, à quantidade de acórdãos encontrados: enquanto neste foi registrada a ocorrência de 148 decisões da Relação da Côrte, extraíram-se 208 acórdãos da Gazeta. Considerando o foco estritamente jurídico deste último periódico, considerou-se natural que a quantidade de acórdãos publicados fosse
Das utopias ao Autoritarismo
408
maior, ainda que possua menos edições em comparação ao Correio.
Comecemos a análise pelas tabelas referentes às naturezas recursais dos acórdãos. Vale notar que nesta tabela um campo específico denominado “Não-identificado” foi inserido. Tal procedimento é decorrente da existência de acórdãos cuja natureza não foi especificada pelo jornal, situação que, mesmo após análise minuciosa, não pôde ser contornada sem correr-se o risco de imprecisão.
A primeira tabela mostra que, entre os anos de 1843 e 1846, as apelações cíveis representaram mais da metade de todos os recursos designados para a Relação da Corte, seguidas de longe pelos Embargos. Os demais casos seguem uma ocorrência relativamente equilibrada.
Embora as apelações cíveis ainda representem a maior parte dos recursos encaminhados para a Relação, percebe-se o aumento significativo de apelações crimes durante a década de 1850, enquanto os embargos diminuíram consideravelmente. De fato, comparando as duas tabelas, compreende-se que os percentuais das duas colunas relativas a esses tipos processuais praticamente se inverteram. Embora não seja tema desta pesquisa discutir os tipos processuais como embargo, agravo ou apelações em si, chama atenção a rara publicação de apelações cíveis, desconsiderando, logicamente, o ano de 1855.
O ano em questão foi responsável por mais da metade de todos os acórdãos do período. Além disso, das 61 apelações cíveis registradas em onze anos de publicações, 53 (87%) delas concentram-se neste ano. Significa que, afora esta atipicidade, a quantidade de apelações crime seria muito maior que a de cíveis. O que provocara tal desvio? Embora não possamos afirmar o porquê de tamanha discrepância entre o percentual destas causas neste ano, a análise da fonte nos possibilita ao menos discutirmos o aumento exponencial de apelações como um todo: A partir da edição 40, iniciou-se uma nova coluna no Correio, nomeada “O Foro”, especializada na legislação e jurisdição imperial, publicada duas vezes na semana. O parágrafo inicial da coluna demonstra bem o intento da publicação:
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
409
Tabe
la 1
: Tip
os d
e açõ
es p
ublic
adas
na G
azet
a dos
Trib
unai
s
% 36,8
18,2
24,9
20,1
100
Tipo
s de a
ções
pub
licad
as n
o C
orre
io3,
58,
90,
80,
82,
150
,710
,97,
08,
37,
010
0
Tota
l
77 38 52 42 208 5 13 1 1 3 74 16 10 12 10 145
Não
id
entifi
cado
s-1 1 0 1 3 1 1 0 1 0 3 14 2 0 0 22
Revi
stas
C
rime
1 4 2 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Revi
stas
cí
veis
1 6 2 2 11 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 7
Agr
avos
4 3 1 0 8 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 8
emba
rgos
18 8 14 16 56 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 4
Ape
laçõ
es
crim
e6 0 4 2 12 0 0 1 0 0 11 2 5 12 10 41
Ape
laçõ
es
civi
s45 16 29 21 11
1 1 3 0 0 3 52 0 1 0 0 60
Ano
1843
1844
1845
1846
Tota
l
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
Tota
l
Das utopias ao Autoritarismo
410
Uma das nossas illustrações, desejando auxiliar esta publicação, fez-nos a honra de confiar alguns trabalhos seus sobre a nossa legislação. Não forão trabalhos feitos para imprensa: são apenas estudos particulares, simples apontamentos, mas que encerrão ou uma importante compilação das nossas leis sobre um ponto do direito, ou reflexões acertadas à respeito de alguma questão de pratica ou jurisprudencia (CORREIO MERCANTIL, E INSTRUCTIVO, POLÍTICO, UNIVERSAL, n. 40, 1855).
O excerto evidencia a necessidade de trazer a público as principais discussões acerca das mudanças jurídico-institucionais do Império. Os autores das matérias certamente eram juristas e colaboraram com apontamentos que eram publicados em seções como “Jurisprudência”, “Bibliographia juridica”, “Chronica”, “Supremo Tribunal”, “Relação” e “Doutrina da Relação”. Esta última era a mais relevante para o nosso estudo, e foi publicada até a edição 234 do mesmo ano (1855), enquanto a coluna como um todo vigorou até o número 257.
A seção “Doutrina da Relação” não se limitava a reproduzir as decisões dos tribunais e a legislação imperial. Seus colunistas, dentre eles, um jovem José de Alencar e o já experiente Antônio Pereira Rebouças, publicavam artigos contundentes a respeito da legislação brasileira, principalmente no que tangia à Lei de 18 de setembro de 1850 (Lei de Terras) e a de 2 de setembro de 1847 (paternidade e herança), bem como ao Código do Processo Criminal, reformado em 1841. Teciam-se comentários também acerca das obras jurídicas que discutiam as transformações de nossa estrutura legal, como “Apontamentos de Direito Financeiro Brasileiro”, de José Maurício Fernandes Pereira de Barros, na edição de número 54, e o “Compendio da Theoria e prática do Processo Civil”, de Francisco de Paula Baptista, nas edições 191 e 193, ambas publicadas em 1855.
A questão cível estava em voga, algo bem explicitado neste trecho escrito por José de Alencar sobre o Compendio da Theoria e prática do Processo Civil:
Os nossos magistrados mais distinctos, os advogados mais
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
411
habeis do nosso fôro, perdem-se neste vasto labyrintho de usanças caducas e de formulas sacramentaes, em que a razão, o bom senso, a clareza e a logica lutão, e são impunemente sacrificadas a inviolabilidade de certos estylos absurdos. [...]. Já é tempo de comprehendermos que o processo é uma verdadeira sciencia que deve marchar de accordo com os estudos do direito e com o desenvolvimento progressivo da jurisprudencia, e que merece a attenção dos espiritos esclarecidos, os trabalhos dos homens profissionaes, e toda a solicitude do legislador (CORREIO MERCANTIL, E INSTRUCTIVO, POLÍTICO, UNIVERSAL, n. 191, 1855).
Esta era a realidade de um pretenso ordenamento jurídico positivo que postergou a formulação de seus códigos civis por quase um século, apesar de iniciativas neste sentido, como é o caso do Compêndio de Paula Baptista. A este respeito, Antonio Carlos Wolkmer, em referência à obra de Paulo Mercadante, discute que
Enquanto o país independente implementa sua legislação constitucional, penal, processual [criminal] e mercantil no período que se instaura com a emancipação política de 1822, sua regulamentação civil seria norteada pelas ordenações, leis e jurisprudências portuguesas, ao longo de todo século XIX (MERCADANTE apud WOLKMER, 2007, p. 21).
Entende-se, dessa forma, a necessidade de se fixar uma doutrina capaz de nortear as questões de natureza cível de nossos tribunais, neste caso, através da seção “Doutrina da Relação” do Correio. No entanto, este claro intento por si só não explica por que o ano de 1855 foi escolhido para esta publicação, assim como não explica uma tendência tão diversa entre os valores percentuais de apelações cíveis e crime nos anos subsequentes.
A seguir, apresentamos as tabelas 2.1 e 2.2, que explicitam a fundamentação jurídica dos acórdãos relacionados nos dois jornais:
Das utopias ao Autoritarismo
412
Tabe
la 2
: cla
ssifi
caçã
o do
acór
dãos
de a
cord
o co
m a
font
e de d
ireito
na G
azet
a dos
Trib
unae
s% 34
,1
19,8
25,0
21,0 ---
Total 85 50 63 53 251
Inde
term
inad
o:
33,1
%
23 14 23 23 83
Ord
em M
oder
na: 2
3,1
Cod. Proc. Crim. 2 4 2 2 10
Cod. Crim. 3 1 4 0 8
Const. Imp. 0 1 0 0 1
Decr. Imp. 1 1 2 1 5Disp. Prov. 0 1 0 2 3Avisos Imp. 0 0 2 0 2
Leis Imp. Avulsas 10 2 5 2 20
Reg. Imp. 5 1 0 3 9
Ord
em T
radi
cion
al: 4
3,8%
Doutrinas 3 1 1 2 7
Acentos 5 2 1 2 10
Alvarás 4 2 4 4 14
Provimento 0 1 0 0 1
Decreto Colonial 0 0 0 1 1
Leis Col Avulsas 2 4 2 1 9
Ordenações 27 14 17 10 68
---
1843
1844
1845
1846
Tota
l
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
413
Tabe
la 2
.1: C
lass
ifica
ção
do ac
órdã
os d
e aco
rdo
com
a fo
nte d
e dire
ito n
o C
orre
io% 2,
27,
70,
50,
51,
661
,28,
25,
56,
65,
50,
5
Total 4
Inde
term
.: 34
,97% 2 2 0 0 0 55 0 5 0 0 0 64
Ord
em M
oder
na: 4
0,98
%
Cod. Proc. Crim.
0 2 0 0 0 4 1 1 1 1 1 11
Cod. Crim. 1 1 0 0 0 5 0 1 11 8 0 27
Cod. Com 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 9
Const. Imp. 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Decr. Imp. 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 4
Disp. Prov. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avisos Imp. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leis Imp. Avulsas
0 2 0 0 1 3 1 2 1 0 0 11Reg. Imp. 0 1 0 1 0 8 1 0 0 0 0 11
Ord
em T
radi
cion
al: 2
4,05
%
Doutrinas 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 8
Acentos 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Alvarás 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
Provimento 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 4
Decreto Colonial
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leis Col Avulsas
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
Ordenações 1 2 1 0 0 15 9 0 0 0 0 28
---
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
Tota
l
Das utopias ao Autoritarismo
414
De antemão, devemos dedicar alguns parágrafos no intuito de explicarmos a inclusão da coluna “indeterminados” em ambas as tabelas. Tratam-se de decisões colegiadas cujo teor não apresentava uma fundamentação jurídica formal. Pela frequência de registros, podemos perceber a forte recorrência destes casos. A título de exemplificação, transcrevemos o acórdão de 19 de janeiro de 1850, publicado na edição de número 65 do Correio, em 8 de março de 1850. Trata-se de um embargo requerido por D. Maria Florentina Corrêa de Almeida, tutora de sua filha menor, D. Maria Luiza Gonçalves França e outros, tendo como recorrido Amaro Gonçalves dos Santos. A ação em questão, tratando de um caso de partilha, foi indeferida pela Relação,
porquanto, não havendo outros bens para pagamento do recorrido, que já era condominio do predio que lhe foi lançado, não se podendo dizer lesiva a adjudicação delle, não só porque a partilha regulou-se pela avaliação, como porque o valor do predio póde subir na praça requerida pelo recorrido, não podendo a importancia illiquida dos alugueis sustar a partilha, e o pagamento, da divida liquida do mesmo recorrido, contra a qual fica salvo aos recorrentes o seu direito para haverem esses alugueis pelos meios competentes; e sendo inquestionavel que o predio foi lançado em quinhão ao inventariado, em vista do documento a fl. 162, caducão os principaes fundamentos dos ditos embargos. Portanto e pelo mais dos autos, desprezados os ditos embargos, condemnão os embargantes ora recorrentes nas custas (CORREIO MERCANTIL, E INSTRUCTIVO, POLÍTICO, UNIVERSAL, n. 65, 1850).
Podemos apreender do conteúdo do acórdão que ao recorrido foi garantida a posse de um edifício a título de pagamento de dívidas, que outrora pertenceu, provavelmente, ao falecido marido da recorrente. Às recorrentes garantiu-se o direito de recorrerem ao valor dos aluguéis precedentes. Não há, no entanto, menção por parte dos desembargadores a qualquer fonte formal do direito que fundamente sua decisão, o que impossibilita situá-la enquanto pertencente à Ordem Tradicional ou à Moderna.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
415
Quanto às demais colunas, conforme apontam Garriga e Slemian (2013), podemos perceber na década de 1840, através da jurisprudência da Relação da Côrte, a proeminência das normas jurídicas do Antigo Regime como amparo legal das decisões dos desembargadores da Relação. Entretanto, de modo diverso à tendência apontada pelos mesmos autores, a utilização da doutrina enquanto ferramenta jurídica foi mínima. Em nosso levantamento encontramos o recurso em apenas 2,8% dos acórdãos, e 6,4%, se considerarmos apenas a Ordem Tradicional. Na década posterior, curiosamente, o resultado foi um pouco melhor: 4,4% no geral e 18,2% das tradicionais. De fato, a única fonte do Antigo Regime cuja utilização aumentou, de uma década para a outra, foi a doutrinária, embora, conforme já salientado, seu uso estivesse longe de ser decisivo para a jurisprudência do Tribunal.
O vintênio estudada repete, na verdade, a tendência já apontada por Arno Wehling (1996?) em seu trabalho sobre a atividade judicial deste Tribunal, entre 1751 e 1808. Segundo Wehling, houve redução no emprego da doutrina enquanto fonte em razão do êxito parcial da Lei da Boa Razão de 1769, que marginalizava esse recurso como fundamentação das decisões judiciais.
A década de 1850 apresenta uma tendência diversa em relação às Ordens Moderna e a Tradicional, praticamente invertendo os valores percentuais. O que teria provocado tal mudança? Primeiro, conforme demonstramos nas tabelas 1.1 e 1.2, a quantidade de apelações crime de uma década para outra, embora permaneça inferior ao número de apelações cíveis, teve um salto de 350%. Com isso em mente, analisando as tabelas 3.1 e 3.2 abaixo, constatamos que, afora as decisões “Indeterminadas”, a totalidade dos recursos-crime foi fundamentada em fontes jurídicas modernas, estimulando o crescimento do percentual desta Ordem. A ausência de códigos civis cobra seu preço, conforme já apontava José de Alencar (CORREIO MERCANTIL, E INSTRUCTIVO, POLÍTICO, UNIVERSAL, n. 191, 1855).
Das utopias ao Autoritarismo
416
Tabela 3: Apelações crime na Gazeta dos TribunaisRecursos Cíveis: 125 Recursos Crime: 19
Ordem Antiga
Ordem Moderna Indeter. Ordem
AntigaOrdem
Moderna Indeter.
48 20 57 0 16 3% 38,4 15,9 45,6 0,0 84,2 15,8
Apelações crime no CorreioRecursos Cíveis: 72 Recursos Crime: 47
25 19 28 1 38 8% 34,72 26,39 38,89 2,13 80,85 17,02
Em segundo lugar, não obstante o aumento do número de recursos-crime na década de 1850, podemos constatar a gradual mudança no eixo jurídico das causas cíveis, uma vez que o uso das normas da Ordem Moderna aumentou mais de 10% nestes casos. A este respeito, uma ressalva especial deve ser feita a respeito do então recente Código Comercial de 1850.
Lopes (2000) situa a criação deste Código no bojo das reformas legislativas desta década, como a Lei de Terras e a Lei Eusébio de Queirós. Em relação a esta última, o autor aponta os novos horizontes produtivos abertos com a liberação de capitais então concentrados no tráfico de escravos. Segundo Wolkmer (2007), o campo de incidência deste código excedia uma dimensão comercial, sendo atuante em determinadas áreas do Direito privado, enquanto o Código Civil não era escrito. Como já citado neste relatório, esta carta não veria seu nascimento naquele século.
Sua incidência, ainda que não muito expressiva em termos quantitativos, dentre as 18 fontes jurídicas que compõem a tabela 2.2, foi a sétima com maior recorrência, um desempenho digno de nota, se considerarmos o quão recente era o código. Levando em consideração a importância que lhe foi dada por Lopes e Wolkmer, podemos supor uma tendência ascendente nas décadas vindouras, embora a dimensão temporal delimitada neste trabalho impeça-nos de afirmá-lo.
De qualquer forma, o conjunto de normas de maior vulto
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
417
em ambas as décadas foi determinada pelas Ordenações Filipinas, respondendo por mais de um quarto de todas as ocorrências nos anos 1840 e, embora tenha caído para pouco mais de um décimo na década subsequente, não perdeu sua proeminência. Tal conjunto de leis era composto por 5 livros, subdivididos em títulos e parágrafos. Em seu primeiro Livro, dispunham
a respeito dos oficiais do rei [...]. O Livro II traz um conjunto de disposições sobre os estamentos privilegiados (nobreza, clero), fontes de direito, jurisdição e poderes, privilégios do rei, etc. O Livro III é essencialmente de caráter processual, embora seja ali que se encontrem as regras gerais sobre fontes, vigência das leis e coisas semelhantes, que auxiliavam o juiz no julgamento. O Livro IV traz muito do que hoje se considera matéria de direito civil, como as regras de contratos [...], relações entre servos e amos, aforamentos, censos, sesmarias, meações [e outros] [...]. O Livro V trata dos crimes e do processo penal (LOPES, 2000, p. 268).
A respeito de sua sobrevida na nova “Ordem Liberal”, Adriana Campos nos lembra que
Enquanto a elaboração e a promulgação dos códigos, determinadas pela Constituição no artigo 179 não estivessem concluídas, prevaleceriam as Ordenações Filipinas, cuja validade, ao menos em matéria civil, estendeu-se até 1917, data em que entrou em vigor o primeiro Código Civil brasileiro (CAMPOS, 2003).
Assim sendo, sua importância enquanto fonte jurídica motivou a elaboração de uma última tabela, relacionando a ocorrência de cada um de seus livros no período pesquisado. Antes de a avaliarmos, no entanto, consideremos o papel deste conjunto de leis na justiça imperial através das palavras de Lopes (2000, p. 273):
Com o advento do liberalismo da Independência e do Estado nacional brasileiro, as Ordenações vão sendo a pouco e pouco revogadas. O Livro V é logo substituído pelo Código Criminal do Império de 1830; o processo e a estrutura da magistratura são reformados pelo Código do Processo Criminal de 1832, e o processo civil vai reger-se a partir de 1850 também pelo Regulamento (decreto) 737.
Das utopias ao Autoritarismo
418
Os Livros I e II perdem sua razão de ser com os eventos revolucionários a partir de 1820 (Revolução do Porto) e 1821-1822 (Independência), sem falar na transformação do Brasil em Reino Unido (1815) e na transferência da Corte (1808). O único a ter vida mais longa foi o livro IV [justiça civil] [...].
De fato, comparando as tabelas 2.1 e 2.2, percebe-se uma queda na aplicação dessas leis de uma década para a outra, embora ainda permaneçam nos anos de 1850 como a fonte formal mais utilizada, com 15,30% de todas as ocorrências. Assim, para determinar melhor o uso das Ordenações Filipinas, resolvemos apresentar o que tratava cada um de seus livros:
Livro I – Organização Judiciária
Livro II – Organização das Ordens
Livro III – Organização Processual nos Tribunais
Livro IV – Direitos Civil
Livro V – Direito Penal
Para verificar a obsolescência de alguns dos livros das Ordenações Filipinas no Brasil do Oitocentos, consideramos agrupar os acórdãos que enunciavam sua fundamentação com base nesses livros nas tabelas a seguir.
Tabela 4: livros das ordenações filipinas nos acórdãos (Gazeta dos Tribunaes)
1843 1844 1845 1846 Total %Livro I 4 2 2 0 8 9,7Livro II 0 1 0 0 1 1,4Livro III 13 9 9 3 34 47,2Livro IV 11 4 7 7 29 40,3Livro V 0 0 0 0 0 0
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
419
Tabela 4.1: Livros das ordenações filipinas nos acórdãos (Correio)
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
Tota
l
%
Livro I 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 9,4Livro II 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0Livro III 1 3 1 0 0 6 5 0 0 0 0 16 50,0Livro IV 0 0 0 0 0 9 4 0 0 0 0 13 40,6Livro V 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0
Os resultados, como podemos observar, divergem consideravelmente da interpretação de José Reinaldo Lopes (2000). O Livro I, não obstante as mudanças proporcionadas na estrutura judiciária com a nova constituição de 1824 e leis posteriores, continuou invocado mesmo após passados trinta anos, chegando a quase 10% de todos os Livros citados em ambas as décadas. Os dispositivos deste Livro serviram de fundamento de acórdãos que tratavam especificamente das atribuições de funcionários da Justiça imperial, tais como juízes de órfãos, testamenteiros, assessores e outros. Curiosamente o Brasil possuía um regimento do Supremo Tribunal desde 1828 e dos Tribunais da Relação desde 1833.
O Livro II, por outro lado, caiu em desuso, conforme apontado pelo autor, sendo utilizado uma única vez. O livro V, seguindo a mesma tendência apontada pelo autor, não foi citado uma vez sequer. Esta última ocorrência era esperada com a vigência do Código Criminal de 1830 que aboliu aquele livro das Ordenações. De fato, antes mesmo de sua promulgação, o art. 179 da Constituição de 1824 já abolia alguns aspectos penais do Livro V: açoites (de homens livres), tortura, marca de ferro quente e “demais penas cruéis”, além de garantir a pessoalidade das penas.
Conforme afirmado por José Reinaldo Lopes (2000), o Livro IV, por tratar de matérias do Direito Civil, manteve-se recorrente nas decisões dos desembargadores da Relação. Diversamente à tendência apontada pelo autor, porém, o Livro III também permaneceu em
Das utopias ao Autoritarismo
420
uso, inclusive, foi o mais citado por esta corte, chegando à metade de todas ocorrências das Ordenações na década de 1850 (total de 32). Interessante notar que o Livro III disciplinava os processos tramitados na Justiça. No entanto, desde a publicação das Disposições Provisórias da Administração da Justiça publicadas como apêndice do Código Criminal de 1832, o Brasil editou diversas medidas de direito processual como a Lei 261 de 1841, o Decreto de 143 de 1842, o Decreto 278 de 1843 e o Decreto 737 de 1850. O Regulamento (decreto) 737 ao qual o autor se refere, apareceu apenas seis vezes.
ConclusõesEm síntese, pode-se entender que a utilização das fontes
jurídicas provenientes do Antigo Regime foi decisiva para a jurisprudência do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, mesmo após mais de vinte anos de nossa Independência.
Entretanto, as fontes indicam que, diversamente da hipótese adotada nesta pesquisa, as decisões tomadas por esta Corte no período pesquisado eram fundamentadas essencialmente em leis, e não no Opinio Doctorum. Para além disso, a tendência de nossa estrutura judicial era a de privilegiar cada vez mais os códigos legais que iam surgindo, embora ainda convivessem com as fontes oriundas do Antigo Regime, principalmente no que tange às questões civis.
Essa aparente contradição entre modernidade e tradição de nosso judiciário refletia as próprias antinomias socioeconômicas do nascente Império brasileiro. Assim, se, por um lado, um dos principais pilares da cidadania no universo oitocentista era o Direito positivo, o Estado brasileiro fora construído e sustentado, por todo o período imperial, pelo latifúndio agroexportador escravista, em uma sociedade essencialmente analfabeta, patrimonialista e patriarcal. Era em cima destas estruturas que o judiciário tinha que funcionar, o que exigia uma constante adaptação, e nenhuma das várias reformas feitas em seu sistema seria capaz de superar as contradições daquela sociedade. Como muitos contemporâneos já percebiam, o problema maior não estava nas leis.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
421
Referências:Documentos:
Correio mercantil, e instructivo, político, universal, Rio de Janeiro: Typographia do Correio Mercantil, ed. 60, ano 7, 3 de março de 1850, 4 p. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=217280&PagFis=843&Pesq=typogr>
Correio mercantil, e instructivo, político, universal, Rio de Janeiro: Typographia do Correio Mercantil, ed. 40, ano 12, 10 de fevereiro de 1855, 4 p. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=217280&PagFis=843&Pesq=typogr>
Correio mercantil, e instructivo, político, universal, Rio de Janeiro: Typographia do Correio Mercantil, ed. 65, ano 12, 7 de março de 1855, 4 p. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=217280&PagFis=843&Pesq=typogr>
Correio mercantil, e instructivo, político, universal, Rio de Janeiro: Typographia do Correio Mercantil, ed. 191, ano 12, 12 de julho de 1855, 4 p. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=217280&PagFis=843&Pesq=typogr>
Correio mercantil, e instructivo, político, universal, Rio de Janeiro: Typographia do Correio Mercantil, ed. 333, ano 14, 6 de dezembro de 1857, 4 p. Disponível em:<http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.aspx?bib=217280&PagFis=843&Pesq=typogr>
Gazeta dos tribunaes, Rio de Janeiro: Typ. Imparcial de F. de Paula Brito, ed, 2, ano 1, 10 de janeiro de 1843, 4 p. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/DocReader.asp x?bib=709492&PagFis=4&Pesq=>
Bibliografia:
ABREU, Marcia; TOGNOLO, William. Dou-lhe uma, dou-lhe duas e dou-lhe três. Vendido! – Um estudo sobre anúncios de leilões de livros no jornal Correio Mercantil (1848-1868). Goiânia: Signótica, Goiânia, v. 27 n. 1, p. 199-220, jan./jun. 2015, p. 199-220.
CAMPOS, Adriana Pereira. Tribunal do Júri: a participação leiga na administração da justiça brasileira do Oitocentos. In.: RIBEIRO, Gladys Sabina; NEVES, Edson Alvisi; FERREIRA, Maria de Fátima Moura. Diálogos entre Direito e História: cidadania e justiça. Rio de Janeiro: Ediuff, 2009, p. 219-236.
Das utopias ao Autoritarismo
422
CAMPOS, Adriana Pereira. Magistratura leiga no Brasil independente: a participação política eleitoral. In: HALPERN, Míria H. et al. (org). Linguagens e fronteiras do poder. Lisboa: ISCTE, 2011,. p. 259-273.
CAMPOS, Adriana Pereira. O farol da boa prática judiciária: dois manuais para instrução dos juízes de paz. In: CAMPOS, Adriana Pereira [et. al.]. Juízes de paz: um projeto de justiça cidadã nos primórdios do Brasil Império. Curitiba: Juruá, 2017, p. 23-46.
CAMPOS, Adriana Pereira. Tribunal do Júri: a participação leiga na administração da justiça brasileira do Oitocentos. In: RIBEIRO, Gladys Sabina; NEVES, Edson Alvisi; FERREIRA, Maria de Fátima Moura. Diálogos entre Direito e História: cidadania e justiça. Rio de Janeiro: Ediuff, 2009, p. 219-236.
CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial; Teatro de sombras: a política imperial. 2ª. ed. ver. Rio de Janeiro: UFRJ/Relume Dumará, 1996.
FIGUEIREDO, Maiara Caliman Campos. O código criminal do Império do Brasil de 1830: combinando tradição com inovação. 2015. 229 f. Dissertação de (Mmestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em História) – da Universidade Federal do Espírito Santo,. Vitória, 2015.
FLORY, Thomas. El juez de paz y el jurado em el Brasil imperial. México: Fondo de Cultura Económica, 1986.
GARRIGA, Carlos; e SLEMIAN, Andréa. Em trajes brasileiros: justiça e constituição na América ibérica. Revista de História São Paulo, n. 169, p. 181-221, jul-dez, 2013.
GRENIER, Jean-Yves. A História Quantitativa ainda é necessária? In: BOUTIER, Jean; JULIA, Dominique. Passados recompostos: campos e canteiros da História. Rio de Janeiro: Editora UFRJ / Editora FJG, 1998, pp. X-XX183-192..
LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na História: Lições Introdutórias. São Paulo: Editora Max Limonad, 2000.
LORENZONI, Lara Ferreira. Tribunal do Júri: Controvérsias e (In)viabilidade de uma Justiça Cidadã no Processo Penal Brasileiro (Séc. XIX). 2017. 130 f. Dissertação (Mde mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em Direito) – da Universidade Federal do Espírito Santo,. Vitória, 2017.
MARTINS, Bruno Guimarães. A seriedade do cômico: a Gazeta dos Tribunaes no Rio de Janeiro (1843). Manaus: INTERCOM, 2013.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
423
SOUZA, Alexandre de Oliveira Bazilio de. Das urnas para as urnas: juízes de paz e eleições no Espírito Santo (1871-1889). Saarbrüken: Novas Edições Acadêmicas, 2013.
SOUZA, Rogério de Oliveira. A Relação do Rio de Janeiro (1751-1808). Revista da EMERJ, v. 4, n. 14, pp. X140-151XX, 2001.
WEHLING, Arno. A atividade judicial do Tribunal da Relação do Rio de Janeiro, 1751-1808. Rio de Janeiro: UFRJ, [1996?].
WOLKMER, Antonio Carlos. História do direito no Brasil. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
427
Ensaio, historiografia e experiência intelectual periférica
Maro Lara Martins1
O ensaio como vocação: as formas da interpretação
De todo o debate sobre a natureza do ensaio e as tentativas de elaboração de uma teoria geral do ensaio, salta aos olhos a insuficiência de uma possível transposição desse modelo de interpretação aos estilos de escritas realizados fora do eixo europeu sem alguns retoques. Não há dúvida da tradição ensaística remontar ao contexto europeu, sofrendo lá, diversas mutações relacionadas à inscrição em tradições nacionais específicas. Associado a isso, o núcleo temático do qual os ensaístas aderiram possui como marca fundamental as variações de tempo e espaço.2
Se em Montaigne chamava a atenção a ausência de uma afeição concentrada, uma causa definida em torno de um tema ou núcleo temático, a não ser o exercício radical da liberdade de viver e escrever e de poder apresentar seu livro como a si mesmo (OBALDIA, 1995), a recepção e recriação desse estilo ao longo do tempo e espaço se alterará consubstancialmente.3
O debate sobre as origens do ensaio no continente latino-americano apresenta duas postulações. A primeira apontou o surgimento do ensaio a partir das interpretações realizadas pelos europeus no Novo Mundo, sua necessidade de descrever a paisagem
1 Doutor em Sociologia pelo Iesp/Uerj, professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Espírito Santo.
2 Neste sentido é preciso historicizar o ensaio. WEINBERG (2006).3 “Simplificando, podemos distinguir dois tipos de ensaística. Uma tradicional,
de temática variada, que cumpre uma função basicamente intelectual e que floresceu na Europa dos séculos XVI a XVIII e outro, americanizado, que se caracteriza por uma unidade temática centrada na própria identidade e por uma ativa função política, e que conheceu seu auge nos séculos XIX e XX.” HOUVENAGHEL (2002, p. 25).
Das utopias ao Autoritarismo
428
e os seus habitantes. A segunda perspectiva localizou o ensaio dentro do movimento emancipacionista do século XIX, que culminou com as Independências e construções dos Estados nacionais.
Dentro do primeiro ponto de vista, German Arciniegas (1983) apontou que a tradição ensaística no continente remontaria ao século XVI, ainda que a palavra ensaio, que nomeará o gênero mais adiante não existisse. O ensaio revelaria uma vontade interpretativa ante o Novo Mundo, ignoto, estranho, distante, que conquistadores e colonizadores intentaram apreender através do poema épico e das crônicas. Arciniegas afirmou que o ensaio esteve presente “desde os primeiros encontros do branco e do índio, em pleno século XVI” (ARCINIEGAS, 1983, p. 95). Por metáfora, a América encarnaria ela mesma um próprio ensaio. Essa metáfora que definiu a América como um ensaio se explicaria pela eclosão do grande debate que suscitou a aparição de um novo continente na geografia e no imaginário europeu.
Conquistadores, colonizadores, clérigos e mestiços estariam imersos em especulações religiosas e espirituais que postulariam que a experiência americana, sua natureza e seu homem possuiriam outro significado diferente do europeu, pois a América seria o ensaio civilizatório a aguçar as interpretações.
Seguindo essas ponderações, Arciniegas apontou que Cristóvão Colombo e Américo Vespúcio já continham elementos ensaísticos em suas reflexões. Para ele, Colombo discutiu o problema do paraíso terreal e sua correspondência nas terras que tinha a vista, retirando o debate de textos bíblicos, do catolicismo de sua época e dos geógrafos mais antigos. Américo Vespúcio provocava o debate com os humanistas de Florença acerca da cor dos homens em relação ao clima e a possibilidade de que as terras abaixo da linha do Equador fossem habitadas por seres humanos. Para Arciniegas, teriam sido estes os primeiros ensaios da literatura latino-americana.
Esta intuição de Arciniegas ganhou mais força com Héctor Orjuela (2002), que remontaria as origens do ensaio no Novo Mundo lendo de uma maneira inovadora os discursos dos sacerdotes e conquistadores que possibilitaram a emergência da cultura letrada na
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
429
América. Para ele, os séculos XVII e XVIII implicaram não somente a aparição do barroco nestas latitudes, mas também a diversificação das manifestações ensaísticas. O ensaio teria ganhado primazia graças ao estilo cultivado pelos escritores mais destacados da época, como Hernando Domingos Camargo, com sua Invenctiva Apologética, Juan de Cueto y Mena com o Discurso del Amor y la Muerte e Madre Francisca Josefa de la Concepción del Castillo, autora de Afetos Espirituales.
Com a inflexão sobre a natureza, o ambiente e as riquezas materiais e simbólicas do Novo Mundo, estes religiosos e cronistas, cujo interesse e curiosidade científica anunciavam a influência da Ilustração, compartilhavam um traço geracional baseado no assombro e na inovação que em seus horizontes de sentido se fixou a América. Para Orjuela,
os escritores sentiam a necessidade de inventariar os produtos da terra e o habitat dos aborígenes nas diferentes regiões do país e incorporavam a informação da história natural em crônica, tratados e ensaios com temas muito diversos (ORJUELA, 2002, p. 83).
No fundo, seriam hermeneutas que começaram a decodificar a fauna, a flora e os matizes do Novo Mundo, para construir mediante o exercício da escrita uma nova identidade a partir da alteridade americana, lugar onde todos os opostos se encontrariam, não para eliminarem-se senão para viverem na diferença em relação ao conhecido continente europeu. Estariam preocupados em direcionar seus escritos ao público que se encontrava do outro lado do Atlântico, no esforço de apresentar o Novo Mundo e suas particularidades a partir das diferenças que se encontravam nesses territórios. Ganharia expressões e sentidos diversos essa ambiência. Para uns, a comprovação do paraíso terreal, de um mundo idílico, e para outros, a fúria da natureza e a decadência selvagem.4
O importante é que se nota como uma nova aproximação dos textos produzidos nas circunstâncias histórico-culturais advindas da
4 Sobre as concepções de natureza nas Américas e sua genealogia, ver: GREENBLATT (1996); PRATT, (1999).
Das utopias ao Autoritarismo
430
Conquista e da experiência colonial, poderia apoiar a discussão sobre a presença da inflexão ensaística nestas terras antes do surgimento de Montaigne. Entretanto, resulta válida a ponderação de Claudio Maíz (2003) e de Leopold Zea (1972) a respeito de que o ensaio é a forma de expressão de conteúdos críticos em períodos específicos. E na América Latina, adquiriu força e constância no século XIX, quando apareceram os “desbravadores da selva e os pais do alfabeto”, como os chamou Alfonso Reyes em Passado Inmediato.5 Assim, a partir do século XIX, surgiu uma tradição de pensamento sentenciado pelo ensaio para estabelecer um diálogo com o centro assim como para gerar aquilo que Leopold Zea chamou de “consciência intelectual da América”.
Nesta perspectiva, na América Latina, o ensaio dialogaria em suas origens com as inquietudes próprias dos letrados e polígrafos do século XIX e com os ecos do pensamento ilustrado herdado da Revolução Francesa e do Enciclopedismo,6 com o liberalismo nascente, com os próceres da Revolução Americana, com o exemplo da Revolução do Haiti, assim como com a própria tradição ibérica,7 definitivos na busca pela expressão ensaística.8
5 Alfonso Reyes se referia especialmente a Andrés Bello, Domingo Faustino Sarmiento, Eugenio María de Hostos, Justo Sierra, Jose Enrique Rodó e Jose Martí.
6 Fato que levou a primazia da “Razão política” no século XIX. CARVALHO (1980) e WERNECK VIANNA (1997).
7 Como apontou BARBOSA FILHO (2000), os principais elementos que particularizaram a Ibéria em relação ao restante da Europa e que incorporaram-se à tradição americana foram: o territorialismo e sua capacidade de controle sobre espaços cada vez mais amplos, a religiosidade simples e de fronteira que transformou seu movimento territorialista em cruzada, a fixidez da estrutura social, preservada pela capacidade de drenar os conflitos internos para as zonas de expansão, conquistando-as para a reprodução da mesma morfologia social, a centralidade política da Coroa responsável pela ordem jurisdicional e corporativa.
8 Observando a língua como instrumento da independência, a partir e na literatura latino-americana, Angel Rama (2001) colocou em questão a dialética entre originalidade e representatividade, sob um eixo histórico. Rama afirmou que as letras latino-americanas jamais se resignaram com suas origens, tampouco se reconciliaram com o seu passado ibérico, gerando uma tentativa forçosa de originalidade em relação às fontes. Tal empreendimento se refere ao esforço insurgente de construção de linguagens particulares.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
431
Temos assim, que são duas as inquietudes filosóficas dos pioneiros do ensaio na América Latina: a independência e a formação do Estado. Estas questões motivaram uma forte produção ensaística na literatura latino-americana que neste sentido assinala nomes fundamentais como José Joaquín Fernández de Lizardi, Simón Bolívar, Andrés Bello, Juan Montalvo, José Bonifácio, Frei Caneca, Visconde do Uruguai, Tavares Bastos, entre outros. Depois, viriam aqueles que fariam do ensaio o âmbito literário propício para a definição de um continente que oferecia a discussão sobre o passado colonial, a análise dos traços étnicos, a constituição dos Estados nacionais, a crítica aos regimes políticos, a produção intelectual e a ontologia do ser latino-americano como temas dominantes desta nascente tradição ensaística.
Na linha divisória do passado colonial e da independência frente ao centro político ibérico podemos conferir a vocação do ensaio como construtor dos Estados nacionais latino-americanos em oposição ao contexto anterior, no qual se inseria esta região em um sentido mais amplo de pertencimento ao Império Transatlântico Português e ao Império Transatlântico Espanhol. Uma nova modalidade política se insurgiria contra as antigas valorações de pertencimento, uma nova forma de escrita se insurrecionava contra o que consideravam antigos hábitos de pensamento.9 São políticos-intelectuais que entendiam o ensaio como tribuna para inocular mensagens com maior impacto imediato do que poderiam alcançar com a poesia, o romance, obras de ficção ou tratados.
Os primeiros polígrafos e ensaístas são figuras representativas de um processo de interpretação do território para a construção do Estado (BARBOSA FILHO, 2000). Em certa medida, a independência política do espaço não trouxe consigo a criação de um centro que o contextualizara e como os sucessivos intentos de cria-lo partiam, em geral, do artifício sobre a tábula rasa, tais propósitos parecem se converter em projetos individuais, que situados de novo
9 Segundo Angel Rama (2001), essa atitude multitudinal compilou um esforço de “descolonização do espírito” e uma superação do “folclorismo autárquico”. Isso denota que a plasticidade contida no ensaio não é mera invenção combinada com vistas a uma dissensão sem substância.
Das utopias ao Autoritarismo
432
em um centro externo ao próprio território, conceberam que o Novo Mundo começaria por eles. Esses projetos são mediatizados pela reconfiguração do centro político e pelo modo como se construiu cada Estado-nação no continente. Por esse viés, é o projeto expansionista do centro político e sua penetração no ideário de cada particularidade histórica que definiu a intensidade e ampliação de cada projeto sobre determinado território.
O resultado é que se vai fomentando um permanente estado de expectativa sob a experiência intelectual. Na realidade, esse estado de expectativa era o essencial do antigo conceito de território, quando a fronteira se estendia na linha de encontro ou na confrontação com o outro. Essa permanência da expectativa como contextualização do novo espaço criado, deu lugar a um modo peculiar de se conceber a criação do Estado.
Uma breve reflexão sobre os conceitos-chaves presentes no contexto latino-americano nos dá um quadro geral das proposições levantadas neste contexto. Se no período colonial o conceito de América possuía um significado geográfico com implicações geopolíticas que indicavam a possessão desta região como parte das monarquias ibéricas, no final do século XVIII e início do XIX, o termo se converteu em bandeira de mobilização política, “acabando inclusive por integrar o nome de algumas comunidades políticas recentemente liberadas do vulgo colonial” (FERES JUNIOR, 2009, p. 9). Associado a isso, o termo americano passara a ser uma identidade política que diferenciava os europeus dos nascidos na região:
Este deslocamento semântico redundou inclusive na perda de importância relativa do termo criollo como identidade política principal. Esse exemplo histórico nos leva a uma questão teórica importante: a capacidade das instituições para mudar a cultura política, redefinido seus conceitos básicos (FERES JUNIOR, 2009, p. 60).
Redefinição observada no conceito de povo, como instância legitimadora do processo de refundação política, que de vocábulo marginal, se tornou referência constante no pensamento latino-americano. Neste sentido,
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
433
é inegável que o movimento de semantização do vocábulo povo – levado para o centro do discurso político – esteve indissociavelmente ligado a necessidade de dotar de legitimidade a ruptura com o Antigo Regime e com sua respectiva concepção de soberania (WASSERMAN, 2009, p. 118).
O conceito de cidadão, vinculado necessariamente a uma comunidade, também se alterou no período. (LOSADA, 2009) Se durante a vigência dos Impérios Ibéricos o termo cidadão estava intimamente ligado a seu par, vizinho, e indicava o pertencimento a uma cidade ou uma vila, durante o processo emancipatório passou a designar o termo cidadão a uma comunidade imaginada, nos termos de Benedict Anderson (1989). Antes, indicava um indivíduo com certos privilégios e obrigações no mundo local, para depois se ampliar a uma esfera mais ampla, conquanto o novo centro fosse ampliando e garantindo soberania sobre território.
Em geral, as disputas por soberania dos novos centros políticos, incluindo a experimentação de Bolívar, a fragmentação da América Central, e a incursão brasileira às margens do Prata, lograram diversos movimentos sociais e políticos, arrastaram regiões e suas populações ao seu movimento centrípeto e passaram lentamente a se definirem enquanto Estado-nação. Libertados do jugo imperial, estabeleceriam a criatividade para dar plástica às instituições, e conceberiam uma nova experiência e uma nova sensibilidade temporal. Seguindo este raciocínio, uma nova concepção de história e experimentação do tempo se constituiu nas primeiras décadas do século XIX, originários da desarticulação dos Impérios Ibéricos. Assim, foram as mudanças políticas que sustentaram a transformação semântica da história, sem que existisse uma elaboração intelectual prévia (PADILLA, 2009, p. 571).
Excetuando-se o caso do Haiti, modularmente representado pela violência revolucionária e sua extremada aceleração temporal, a região passaria a gestar um novo espaço de experiência com relação ao tempo histórico, em termos de uma linguagem que associaria a contemporaneidade e a filosofia da história. O conceito de história,
Das utopias ao Autoritarismo
434
deixaria de expressar-se através da concepção circular e pedagógica da historia magister vitae para a concepção moderna de história, cindindo, em linguagem koseleckeana, o espaço de experiência do horizonte de expectativa (KOSELLECK,2006). Redesenhando as modalidades políticas e se insurgindo contra as antigas valorações de pertencimento, o presente se abriria em sua diversidade de opções. Essa abertura se fecharia no momento em que cada região começou a fabricar seu próprio espelho a partir do passado que se separavam e negavam. Desta maneira, a flecha direcionada ao futuro, teria que colocar seu arco no passado.
Se até meados do século XIX, essa primeira geração de polígrafos ensaístas se voltou para as instituições e para o território, foram nas últimas décadas do século XIX que os aspectos conceituais da sociologia adquiriram notoriedade. Uma geração de ensaístas, como Rodó, Martí, Eugenio Maria de Hostos, Sílvio Romero e Euclides da Cunha, assinalariam a importância de uma reflexão centrada na sociologia deste território. No fim do século XIX e início do XX, a ação desta geração de polígrafos passou a se destacar tendo como uma de suas principais preocupações a busca pela definição de uma ontologia social que diferenciava o tempo-espaço do continente em relação a outras regiões do Ocidente. A partir dos diagnósticos, diferentes entre si, se observaria como substrato comum, a perspectiva de uma separação nítida entre o Estado e a sociedade civil. Esse diagnóstico da fratura entre a sociologia e a política, no tempo-espaço da região, se tornaria o argumento central para a busca de soluções e empreendimentos originais e criativos. Surgiria nessa geração, um profundo desconforto na aplicabilidade de modelos e respostas exógenas aos diagnósticos efetuados.
Para estes escritores, o ensaio funcionou como essa forma própria de expressão nas reflexões em torno de uma identidade ibero-americana, a qual pode se entender como a busca por uma americanidade, que definiria em forma e conteúdo grande parte da tradição ensaística continental. A proliferação do ensaio na América Latina ajudou a configurar um pensamento que tenderia a expressar-se através de uma relação com sua sociedade e sua natureza, adquirindo
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
435
uma função de impacto no mundo público, impacto que consistiria em sugerir, meditar, estimular e construir determinada realidade (GÓMES-MARTÍNEZ, 1992, p. 19-26; RAMOS, 2008). A partir de sua posição e de sua experiência intelectual, os pensadores latino-americanos tiveram que desenvolver estratégias e aceitar o axioma excludente da modernidade central do sistema-mundo, afirmação e negação, ser o mesmo e o outro, contudo sabotaram-na com as técnicas do ensaio: uma maneira de raciocinar e de pensar que exporia as ideias em forma de opiniões pessoais e provisórias.
Um bom exemplo dessa característica peculiar da tradição latino-americana seria que a construção do Estado e a ideia de nação no subcontinente não poderiam se pautar pelos desejos de homogeneidade cultural. A heterogeneidade deveria ser expressa através de um tipo de texto que fosse capaz de capturar a adversidade de um território híbrido. A construção de imagens, através das interpretações realizadas e possibilitadas pela forma escolhida de apresentação das ideias, deveria constituir-se sob um suporte de escrita que fosse possível captar a originalidade do tempo-espaço nos quais estavam inseridos. A abertura e flexibilidade do ensaio se associariam à própria plasticidade do conteúdo tratado.
A partir das características do ensaio como forma, e seu dinamismo na escrita, fora possível capturar o movimento de construir-se pela proposição de algo novo, de uma nova experiência da modernidade que apesar dos seus contratempos, se realizava fora do contexto europeu.10 O conteúdo criativo e inerente deste movimento de construção não poderia ser mediatizado pelas formas convencionais operadas em outros locais. A hipótese que se levanta é que esta experiência, que se relaciona à posição do ensaísta enquanto local em que se expressa, é transposta ao texto.11
10 Como observou Houvenaghel existe uma tendência geral em analisar o ensaio americano a partir do conteúdo, esquecendo-se da forma. “A crítica tende, claramente, a inclinar-se em favor dos conteúdos ideológicos do ensaio, em detrimento dos valores expressivos do mesmo, e por geral, recusam ademais, vincular os aspectos formais do texto ensaístico com sua mensagem ideológica.” (HOUVENAGHEL, 2002, p. 13).
11 Sobre este ponto inspiro-me em MAIA (2009) e MIGNOLO (2013).
Das utopias ao Autoritarismo
436
Esse ponto se relaciona a três questões. A primeira diz respeito a persistência de práticas cognitivas do mundo em territórios fora do eixo europeu e sua imbricação com a forma como as ideias são apresentadas. A segunda aponta para uma característica típica desses territórios, nos quais existiria uma confluência para a inventividade, em seu aspecto construtivo, e o inacabamento, se comparado, como fazem os ensaístas, a outros andamentos modernos. Outra hipótese que se levanta a partir dessas considerações, é a concepção desses territórios como um campo de experimentação da modernidade. Assim, a América Latina, na visão de seus intérpretes emergiria como um espaço de projetos.12 Não obstante, apresentariam como fundamento um caráter dialógico das análises, fazendo emergir comparações com outras experiências, como a inglesa, a norte-americana e a francesa. Emergindo com maior clareza as diferenças no andamento moderno, as singularidades do próprio território e sua natureza e a pluralidade de sua constituição societal.
Desta experiência do confronto insurgia diferentes tempos históricos que coexistiam e conferiam especial densidade à realidade que interpretaram, em um esforço de compor o mapa da cultura, revelando sua capacidade de mediador entre mundos e articulador de experiências (WEINBERG, 2006). A comparação seria um poderoso recurso não só ao cotejarem semelhanças e diferenças que se produziriam em espaços geográficos e sociais distintos, mas também entre as culturas presentes nesse espaço. Em outras palavras, a contrastividade interna presente na sociedade informaria também a contrastividade em relação ao resto do mundo, esboçando uma peculiar cartografia semântica a partir dessas relações entre tempos-espaços distintos.
No fundo, a argumentação proposta ao ensaio perpassaria a consideração de entendê-lo como uma forma, dentre outras, de teorização produzida nas margens do Ocidente brotado pela colonização europeia, e não apenas como a expressão exógena
12 Sobre esta concepção de projetos, que incluem em suas formulações o dualismo entre inventividade e pragmatismo, inspiro-me sobretudo em BARBOSA FILHO (2000) e WERNECK VIANNA (1997).
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
437
que invadiria uma tradição nacional ou regional. Explicitando o engajamento pela posição geográfica na configuração do mundo ocidental. Traria em seu bojo a presença constante do outro, que produziria a estranheza da falta ou do excesso, e que muitas vezes faria transbordar nas narrativas o sentimento de desterro, traço comum a diversos intelectuais latino-americanos.
Outro aspecto fundamental do ensaio latino-americano seria a temporalidade que o encerra. A sua imediatez revelaria a ânsia intelectual pela construção de uma modernidade americana. Essa temporalidade imediata do ensaio e sua relação direta com o pragmatismo e a inventividade oriundos da necessidade imposta pela tábula rasa em que fora posta a situação americana e periférica do século XIX. Em um primeiro momento, imperiosa necessidade de construção de seu Estado, e depois, de uma interpretação de seu território e sua população. Um movimento que oscilaria de uma proposição individual, efetuado através do ensaio, a uma concepção de palavra pública,13 e sua entrada no universo de publicização das ideias.
Durante o século XX, o ensaísmo latino-americano cresceu em autores, temas e formulações diversas sobre o progresso, a história, a política, a sociologia e a crítica da cultura latino-americana, a cidade, a desterritorialização, a função do escritor na sociedade, a crítica literária frente à poética europeia. Com o passar do tempo, o ensaio adquiriu novas feições e se abriu cada vez mais.
Um simples olhar sobre a produção ensaística do século XX pode apontar sua vasta diversidade de temas e estilos, formas e sentidos que põem em relevo um significativo leque destas identidades múltiplas do ensaio. Octavio Paz, com seu perfil filosófico poético, se abeirou de sua cultura através da psicologia da mexicanidade que se traduziu no “labirinto da solidão”, enquanto os “sete ensaios” de Mariátegui, de forte viés marxista, recuperariam o comunismo incaico ancestral como modelo de uma sociedade mais justa a ser construída. E os ensaios de conjuntura do marxismo acadêmico, como os de Ruy Mauro Marini, a desvelar o processo de espólio, subdesenvolvimento
13 Aproprio-me livremente desta concepção de palavra pública a partir de LECLERC (2004) e POCOCK (2003).
Das utopias ao Autoritarismo
438
e dependência do continente latino-americano.
O pessimismo de Martinez Estrada que refletiu sobre a psique social dos grupos rurais e urbanos da Argentina, enquanto o espirituoso Fernando Ortiz definiu a cultura cubana a partir do contraponto entre o açúcar e o tabaco, dois elementos importantes na cultura cubana, base de seu desenvolvimento econômico e cultural, que ajudariam a definir as questões antropológicas da identidade cubana, construída a partir dos processos de transculturação.
José de Vasconcelos acreditou na possibilidade, ainda que utópica, de uma nova raça cósmica que surgiria dos processos de mestiçagem do subcontinente. Carlos Fuentes concentrou na metáfora do espelho enterrado a complexidade de um continente que foi resultado da exploração colonial e ao mesmo tempo herdeira de tradições transplantadas. Alfonso Reyes, com habitual erudição e estilo, concebeu imagens, muitas vezes utópicas sobre a inteligência americana, enquanto Ángel Rama, em sua reflexão, remontou a vida cultural das cidades coloniais como células originais da cultura letrada nas Américas. Cidades letradas que são elas próprias espaços privilegiados de uma nova cultura que produziu uma literatura transcultural.
Nessa literatura de autoexame e de diagnóstico, que começou muito cedo no discurso latino-americano, a busca conduziu à indagação sobre o passado. A emergência da preocupação sociológica, que em um lento processo subsume a teoria política, condensará no ensaísmo sociológico as interpretações sobre o continente.
Experiência intelectual periférica: por uma tipologia dos intelectuais
Um dos temas clássicos das ciências sociais refere-se a uma articulação entre intelectuais, sociedade e política no andamento moderno brasileiro. Neste ponto, outra seara se abre aos olhos do analista: a questão dos intelectuais na modernidade. De fato, se está diante de um grande desafio. De maneira geral, um estudo a
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
439
respeito dos intelectuais sempre corre o risco de cair no erro da falsa generalização. A própria noção de intelectual possui um caráter polissêmico e polimorfo, sendo difícil estabelecer os contornos desse agrupamento social. Cada vez mais se torna claro, que as utilizações de métodos analíticos produzidos no contexto europeu ou norte-americano podem servir como bússolas para as pesquisas realizadas em outros contextos, entretanto, se torna necessário um processo de averiguação da pertinência teórica a partir do objeto de estudo. Generalizar a constituição e história dos intelectuais europeus ou norte-americanos, e o próprio conceito de intelectual no campo da sociologia, para o contexto brasileiro, deve ser matizado pela capacidade interpretativa do analista e pelo contexto espaço-temporal que seu objeto encerra.
Nesse tópico, parece sugestivo realizar algumas indicações sobre o termo intelectual e sobre as possíveis particularidades dos intelectuais brasileiros se contrapostos aos intelectuais de outros contextos. De um modo geral, na modernidade os intelectuais assumem diferentes papéis no mundo social, como publicistas, acadêmicos, militantes, polígrafos ou especialistas, o que corresponde a um métier ou um ofício. Participam de redes intelectuais como as Academias de Letras ou Academias de Ciências, os Institutos Históricos e Geográficos, as universidades, o que lhes confere certa capacidade organizacional. Constroem espaços de sociabilidade, redes e rotina intelectual, como os cafés, salões de encontros, aulas, seminários, clubes, revistas, editoras, jornais, movimentos políticos, partidos. Participam de debates, anátemas, cisões e dialogam entre si.
No mundo moderno, o intelectual encarna uma forma de palavra pública do mundo da criação intelectual e artística. Apesar da variedade dos meios de comunicação disponíveis e utilizados e ao público a que eventualmente se dirige, o fato é que os intelectuais são criadores, mediadores e divulgadores das obras culturais, científicas e estéticas. Através da publicização de seus textos e de seu trabalho, se embute a ideia do pensar publicamente. Outra característica é a que formam a consciência da nova geração, a partir dos modos de recepção de seu produto intelectual e são sempre reanimados através de um
Das utopias ao Autoritarismo
440
processo intertextual. Assim, criam e recriam as tradições intelectuais e culturais nas quais se inserem, ao produzir ou reproduzir conceitos e interpretações.
Se essas são as características gerais dos intelectuais na modernidade, dois pontos são fundamentais para se estabelecer uma tipologia de cada ambiente nacional ou mesmo regional, o tempo e o espaço. No caso específico do Brasil, os intelectuais estavam presentes desde seu momento fundante enquanto Estado-nação, em inícios do século XIX, entretanto, a constituição de um campo intelectual minimamente autônomo veio à tona somente em meados do século XX. Esse quadro histórico fornece elementos para se pensar os tipos de intelectuais que se fizeram presentes no caminhar da história do país. Não resta dúvida que no século XIX, principalmente a partir do Segundo Reinado, os intelectuais estiveram intimamente ligados ao Estado, tanto na composição dos locais de sua sociabilidade, como o IHGB e as próprias casas legislativas, como na extração social de seu status e capital social e político, quanto na formação de seu marcado de trabalho. Associado a essa experiência, uma particularidade marcante deste tipo de intelectual é a poligrafia. São intelectuais que versaram sobre diferentes assuntos, seja pela autoimagem criada e estabelecida por eles próprios, seja por sua formação ou mesmo pela demanda que o Estado lhes atribuía. Essa tradição de experiência intelectual, marcada pela poligrafia e pelo Estado, deixou marcas profundas na composição do intelectual à brasileira.
Seguindo essa linha de argumentação, outro ponto fundamental que caracteriza os intelectuais é o espaço em que se encontram. Aqui pensado em suas diferentes inserções, seja em determinada tradição nacional ou mesmo em termos geográficos em relação à constituição dos modelos de entrada na modernidade. Algumas interpretações, hoje clássicas, já chamaram a atenção para a particularidade dos intelectuais e das ideias em contextos fora do eixo do Atlântico Norte.
Em texto que se tornou clássico, Roberto Schwarz (2000, p. 18) apontou o deslocamento do liberalismo europeu quando apropriado pela elite brasileira no século XIX. Para ele, o contexto
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
441
brasileiro conseguiu reunir liberalismo e escravismo, liberalismo e sociedade do “favor”, constituindo-se numa síntese em que “os incompatíveis saem de mãos dadas.” Nestes termos, a própria gravitação das ideias, e a forma como se constituiria em contextos diferentes de onde se originaram, instituiria o movimento que singularizaria a história brasileira, e por conseguinte, seus intérpretes.
Dito de outra forma, a análise de Schwarz (2000, p.30) procurou especificar o mecanismo social na forma em que ele se tornaria elemento interno e ativo da cultura, uma espécie de chão histórico da experiência intelectual, “tal como o Brasil a punha e repunha aos seus homens cultos, no processo mesmo de sua reprodução social”. O estatuto do intelectual, ou dos homens cultos, como prefere Schwarz, estaria nessa dimensão de sua experiência intelectual, repositora de um conjunto de ideias originárias do contexto europeu e diferenciando-se delas pelo contexto exótico que se encontrava. “Portanto, a própria diferença, a comparação e a distância fazem parte de sua definição”
Outra análise clássica sobre o tema da experiência intelectual e da posição do intelectual latino-americano no mundo foi realizada por Silviano Santiago (2004). Para este autor, o processo de cisão e hibridização que, sendo diferente da assimilação, marca a identificação com a diferença da cultura pressupõe o deslocamento do local como forma pura, limitado por fronteiras, mas que se projeta exatamente nessas negociações fronteiriças. Tal processo geraria uma estética do reposicionamento e reinserção que permitiria olhar as coisas a partir da margem. São esses deslocamentos, no espaço geográfico ou virtual, os responsáveis pelo confronto entre parcelas de diferentes linhagens culturais.
Ainda seguindo este tema dos intelectuais e da experiência intelectual, Angel Rama (2001), inspirado em Fernando Ortiz, apontou para o processo de transculturação realizada pela experiência intelectual na América Latina. Como do conflito entre o popular e o erudito surgiria uma concepção de cultura latino-americana. Rama formulou uma teoria sobre a narrativa latino-americana e a solução encontrada pelos intelectuais para o conflito regionalismo e universalismo. Para ele, a transculturação tornou-se um modo de
Das utopias ao Autoritarismo
442
reescrever a tradição latino-americana fazendo uma síntese de seus elementos mais produtivos, eliminando os arcaísmos e incorporando elementos modernizantes. A transculturação se daria no nível linguístico, na estruturação literária e na cosmovisão, como inerente possibilidade de forjar uma identidade original capaz de interagir com as culturas “externas” através da plasticidade característica de seu trajeto regional. O estatuto do intelectual latino-americano se definiria por esse movimento de transculturação realizado para interpretar sua própria realidade. Associado a isso, Rama apontou para a emergência da literatura latino-americana como efeito da modernização social da época, da urbanização, da incorporação dos mercados latino-americanos à economia mundial, e principalmente, como consequência do surgimento de um novo regime de especialidades, que retiraria dos letrados a tradicional tarefa de administrar os Estados e obrigava os escritores a se profissionalizarem.
Sobre os temas da modernização no campo literário e na vida cultural latino-americana, Julio Ramos em seu texto Desencontros da Modernidade na América Latina articulou um duplo movimento para a sua análise. Por um lado, a perspectiva histórica da literatura como um discurso que buscou sua autonomia, ou seja, delimitou seu campo de autoridade social. E por outro, as condições que permearam a impossibilidade de sua institucionalização em fins do século XIX. Ramos demonstrou que a literatura latino-americana emergiu como um campo encarregado da produção de normas discursivas com relativa especificidade cultural, a partir das formas de autoridade do discurso literário e os efeitos históricos e sociais de sua modernização desigual. As dificuldades de autonomia contribuíram para explicar a heterogeneidade formal desta literatura, ocasionando uma proliferação de formas híbridas que desbordariam as categorias genéricas e funcionais canonizadas pela instituição literária em outros contextos. Esta heterogeneidade híbrida na qual se moveria o intelectual demonstraria a multiplicidade de formas disponíveis, como o romance, a poesia, a crônica e o ensaio, dispostos no mundo público e angariadores de legitimidade e pelo processo de escolha que os intelectuais efetuariam para elaborar suas propostas.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
443
Ramos observara uma diferença crucial da constituição da vida cultural latino-americana se comparada à Europa. Para ele, a autonomização da arte e da literatura na Europa seria corolário da racionalização das funções políticas, pressupondo a separação da literatura da esfera pública, “já que a Europa do século XIX havia desenvolvido seus próprios intelectuais orgânicos, seus próprios aparatos administrativos e discursivos.” (RAMOS, 2008, p.19) Enquanto na América Latina, os obstáculos enfrentados pela institucionalização da vida cultural, produziriam um campo literário cuja autoridade política se manifestaria de forma direta e veemente. Daí a literatura, desigualmente moderna, operar frequentemente como um discurso encarregado de propor soluções a enigmas que extravasam os limites convencionais do campo literário institucional. Julio Ramos observaria a tensão entre as exigências da vida pública e as pulsões da literatura moderna latino-americana, como uma das matrizes desta literatura, “um núcleo gerador de formas que, insistentemente, oferece(ria) resoluções para a contradição matriz.” (RAMOS, 2008, p. 21) Essa contradição intensificaria as relações do intelectual com a escrita, as formas literárias e a vida pública.
No fundo, o ponto central que Roberto Schwarz, Angel Rama, Renato Ortiz e Silviano Santiago levantaram é a contraposição de que a vida intelectual seria constituída a partir de uma mimese, de uma simples cópia da tradição intelectual do centro, e, ao mesmo tempo, chamar a atenção para as características gerais que essa posição à margem instituiu nesse tipo de experiência intelectual. Posto nestes termos, esse tipo de debate ressalta a noção de que essa experiência intelectual fornece explicações sobre os modos de pensar típicos de cada contexto nacional ou regional e as maneiras pelas quais esses intelectuais se relacionam com o centro.
Retomando o argumento da tipologia dos intelectuais, os critérios de tempo e espaço são cruciais para se estabelecer as principais características que esse grupo social teve ao longo da história. O caso brasileiro, do século XIX até meados do século XX, no qual se concentram as interpretações do Brasil analisadas nesta tese, se pode falar em intelectuais polígrafos que viveram uma experiência
Das utopias ao Autoritarismo
444
intelectual às margens da modernidade ocidental clássica, estavam às bordas do sistema-mundo, como prefere Wallerstein, ou do sistema-mundo moderno-colonial nas palavras de Aníbal Quijano (2007).
Na especificidade dos intelectuais brasileiros que constituíram o corpus da interpretação brasileira desde finais do século XIX até a década 1930 pode-se considerar que foram produtores e ordenadores de novos mundos, pela experiência intelectual e pelos produtos culturais, que os diferenciaram dos modos clássicos de entrada na modernidade. Nasceu através do ensaio feito por intelectuais polígrafos, e essa marca de origem fornece reflexões imprescindíveis à interpretação e compreensão próprias ao espaço-tempo em que foram produzidos. Entre outras coisas, porque se torna um duplo procedimento de localização. Pensar a partir de um local e pensar a partir de um tempo. Associado a isso, mais do que uma dupla consciência, ao se imiscuírem entre duas tradições de pensamento, a nacional e a do centro, os intelectuais de certas localidades forneceram as bases para a diferenciação dos projetos e encaminhamento do moderno no mundo. Como alertou Bernard Lepetit (1998, p. 88),
o sistema de contextos, restituído pela série de variações do ângulo de mira e da acomodação da ótica, possui um duplo estatuto: resulta da combinação de milhares de situações particulares e ao mesmo tempo dá sentido a todas elas.
Assim, os intelectuais são entendidos como um grupo social cuja ação se centra para a organização da cultura. Esse sentido da ação social dos intelectuais está voltado para uma racionalização do mundo, a partir de um encadeamento teórico produtor de conceitos. Ideias, que servem como uma espécie de norte orientador de indivíduos e de grupos sociais. Na modernidade brasileira, adquiriram papéis fundamentais no artifício do mundo público, na composição dos interesses, na motivação às ações sociais, nas alterações institucionais, na animação da cultura política.
Referencias bibliográficas:ANDERSON, Benedict. Nação e Consciência Nacional. São Paulo: Ática, 1989.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
445
ARCINIEGAS, Germán. Nuestra América es un ensayo. In: LARROYO, Francisco et al. Filosofía de la historia latinoamericana. Bogotá: El Búho, 1983.
BARBOSA FILHO, Rubem. Tradição e Artifício: Iberismo e Barroco na Formação Americana. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2000.
CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial. Rio de Janeiro: Campus, 1980.
FERES JÚNIOR, João. El concepto de América en el mundo atlántico (1750-1850): Perspectivas teóricas y reflexiones sustantivas a partir de una comparación de múltiples casos. In: LOSADA, Cristobal; SEBASTIAN, Javier. Diccionario político y social del mundo ibero-americano. La era de las revoluciones, 1750-1850. Madrid: Fundación Carolina Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, 2009.
GÓMES-MARTÍNEZ, José Luis. Teoría del Ensayo. México: UNAM, 1992.
GREENBLATT, S. Possessões maravilhosas: o deslumbramento do Novo Mundo. São Paulo: EDUSP, 1996.
HOUVENAGHEL, Eugenia. Reivindicacion de una vocacion americanista: Alfonso Reyes – América como obra educativa. Genebra: Livraria Droz, 2002.
KOSELLECK, Reinhart. Futuro Passado: Contribuição à semântica dos tempos históricos. Rio de Janeiro: Contraponto; PUC-Rio, 2006.
LECLERC, Gérard. Sociologia dos Intelectuais. São Leopoldo: Editora Unisinos, 2004.
LEPETIT, Bernard. Sobre a escala na História. In: REVEL, J. (Org) Jogos de Escalas. Rio de Janeiro: FGV, 1998.
LOSADA, Cristobal. Ciudadano y vecino en Iberoamérica, 1750-1850: Monarquía o República. In: LOSADA, Cristobal; SEBASTIAN, Javier. Diccionario político y social del mundo ibero-americano. La era de las revoluciones, 1750-1850. Madrid: Fundación Carolina Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, 2009.
MAIA, João Marcelo. Pensamento brasileiro e teoria social: notas para uma agenda de pesquisa. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, vol. 24, n. 71, p.155-168, out. 2009.
MAÍZ, Claudio. Problemas genológicos del discurso ensayístico: origen y configuración de un género. Acta Literaria, n. 28, p. 79-105, 2003. Disponível em: <http://www.scielo.cl/pdf/aclit/n28/art07.pdf >. Acesso em: 1 abr. 2018.
Das utopias ao Autoritarismo
446
MIGNOLO, Walter. Histórias locais/Projetos globais. Colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2013.
OBALDIA, Claire de. The Essayistic Spirit: literature, modern criticism and the essay. Clarendon: Oxford University Press, 1995.
ORJUELA, Héctor. Primicias del ensayo em Colombia: el discurso ensaystico colonial. Bogotá: Editora Guadalupe, 2002.
PADILLA, Guillermo. Historia, experiencia y modernidad en Iberoamérica, 1750-1850. In: LOSADA, Cristobal; SEBASTIAN, Javier. Diccionario político y social del mundo ibero-americano. La era de las revoluciones, 1750-1850. Madrid: Fundación Carolina Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, 2009.
POCOCK, J. G. A. Linguagens do Ideário Político. São Paulo: Edusp, 2003.
PRATT, Mary Louise. Os olhos do Império: relatos de viagem e transculturação. Bauru: Edusc, 1999.
RAMA, Angél. Literatura e Cultura na América Latina. São Paulo: Edusp, 2001. (Aguiar, Flávio; Vasconcelos, Sandra – Orgs).
RAMA, Angél. A cidade das Letras. São Paulo: Brasiliense, 1985.
RAMOS, Julio. Desencontros da Modernidade na América Latina: literatura e política no século XIX. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008.
SANTIAGO, Silviano. O cosmopolitismo do pobre: crítica literária e crítica cultural. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2004.
SCHWARZ, Roberto. Ao vencedor as batatas: forma literária e processo social nos inícios do romance brasileiro. São Paulo: Editora 34, 2000.
WASSERMAN, Fabio. El concepto de nación y las transformaciones del orden político en Iberoamérica (1750-1850). In: LOSADA, Cristobal; SEBASTIAN, Javier. Diccionario político y social del mundo ibero-americano. La era de las revoluciones, 1750-1850. Madrid: Fundación Carolina Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales y Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, 2009.
WEINBERG, Liliana. Pensar el ensayo. México: Editora Siglo XXI, 2006.
WERNECK VIANNA, Luiz. A Revolução Passiva: iberismo e americanismo no Brasil. Rio de Janeiro: Revan, 1997.
ZEA, Leopoldo. America como conciencia. México: UNAM, 1972.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
447
Espaço, paisagem e fronteira na História de Heródoto: a representação do território dos citas
como uma heterotopiaGabriela Contão Carvalho1
IntroduçãoHeródoto é considerado o autor da primeira obra em prosa
da literatura grega preservada até os nossos dias, tendo nascido em Halicarnasso, cidade próxima a Mileto, no litoral da Ásia Menor, nas primeiras décadas do século V a.C. Em sua época, Halicarnasso era um centro florescente da cultura helênica. O momento em que Heródoto empreendeu sua investigação foi um momento de grandes transformações das ideias e da mentalidade helênica, pois foi na primeira metade do século V a.C. que Atenas se tornou hegemônica na Hélade.
Em relação à obra, História, não sabemos exatamente quando foi escrita, mas apenas que, em 445 a.C., Heródoto se encontrava em Atenas, onde teria lido em público sua obra ou parte dela (KURY, 1985, p. 7). O objetivo principal de Heródoto, em História, é descrever a guerra entre o Império Persa e a Hélade ou, segundo as categorias empregadas pelo autor, entre o despotismo oriental baseado na vontade onipotente dos tiranos e na sujeição cega dos povos dominados e o governo fundado na obediência às leis e na livre determinação dos povos do Ocidente. Porém,
Heródoto não apenas descreve a guerra entre os helenos e persas, sua narrativa espelha seu interesse pelos costumes dos povos, pela sua geografia, pelas suas práticas religiosas, por tudo que compõe e forma um povo (SILVA, 2015 p. 45).
1 Mestranda em História Social das Relações Políticas pelo Programa de Pós-graduação em História, com apoio financeiro da FAPES, sob a orientação do Prof. Dr. Gilvan Ventura da Silva, na Universidade Federal do Espírito Santo, instituição pela qual é formada em licenciatura em História. Endereço eletrônico: [email protected].
Das utopias ao Autoritarismo
448
A denominação “Guerras Médicas” dada a esse conflito entre os gregos e persas provém do nome dos medas, que dominaram os persas na época dos primeiros contatos entre esses povos e as populações helênicas.
História constitui-se como uma obra de grande valia para a formação do olhar dos gregos diante do estrangeiro, o “bárbaro”, aquele que se caracteriza como diferente. A partir dessa constatação podemos observar a construção da retórica da alteridade presente na obra de Heródoto, à qual o autor recorre para caracterizar, ou seja, representar o estilo de vida dos outros povos. Embora Heródoto seja um indivíduo, ele também caracteriza-se como um sujeito coletivo, que está inserido em determinada sociedade e carrega consigo uma bagagem cultural helênica. Que Heródoto escreva para os gregos não é surpresa, como demonstra em sua fala: “não descreverei a aparência do camelo porque os helenos o conhecem” (HERÓDOTO, 1985, p. 183). Quando Heródoto produz sua representação das comunidades, dos seus territórios estrangeiros, esses espaços se constituem como estranhos e repugnantes na medida em que o termo de comparação do autor é a Grécia. A descoberta do outro e a coexistência com civilizações diferentes devem ter contribuído para os gregos tomarem consciência da originalidade e do valor de sua própria cultura, de modo que acabaram por caracterizar aquilo que lhe é diferente, como inferior, amedrontador e repugnante, assim como Heródoto faz com os citas.
A obra de Heródoto é de extrema importância para a elaboração de uma identidade coletiva grega, pois ao ser lida em público por volta de 445 a.C, proporcionou a elaboração de uma identidade cultural, em contraponto com os costumes de outras comunidades que Heródoto representa. Ao mesmo tempo auxiliou a construção de um imaginário sobre tais comunidades, como é o caso dos citas. Heródoto, em sua narrativa, costuma diferenciar aquilo que viu daquilo que ouviu, dando maior credibilidade aos fatos que viu com os próprios olhos. Ou seja, existe uma produção de saber através da visão e da fala que Hartog, em seu livro O Espelho de Heródoto, faz uma extensa análise sobre essa relação, entre a escrita e a oralidade, chegando à seguinte conclusão:
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
449
Essa é a situação da Grécia no correr do século V, que não é ainda um mundo da escrita, mas apenas um mundo da palavra escrita. Sem dúvida, há muito tempo se sabe escrever: o alfabeto sírio-fenício apareceu na primeira metade do século VIII a.C., mas a cultura oral permanece muito presente, se não preponderante, moldando estruturas mentais e o saber compartilhado pelos gregos dessa época (HARTOG, 2014, p. 302).
Ao abordar a temática sobre o contraste cultural entre os gregos e os “bárbaros”, nesse caso os citas, não podemos deixar de explicar a relação entre a construção da identidade grega e o termo “bárbaro” e muito menos a importância das Guerras Médicas na elaboração de uma fronteira política entre “bárbaros” e gregos. Logo, percebemos que foi a partir do conflito com os persas que a identidade grega exacerbou-se consideravelmente, pois até o período de Homero era empregado o termo allóthrooi para designar os estrangeiros, ou seja, aqueles que falavam outra língua. É somente a partir do século VI e V a.C. que o termo “bárbaro”, no sentido de não grego, se torna um termo antônimo.
O outro na narrativa de HeródotoDe acordo com a narrativa, a Cítia pertencia aos confins
do mundo. Localizada ao norte, estende-se às margens do mundo habitado. Seu espaço se estende do rio Borístenes (rio Dnieper) ao rio Tanais (rio Don), no litoral norte do lago Maeótis (mar Azov), atualmente região da Ucrânia, região caracterizada como majoritariamente plana, com pastagens e água em abundância, mas castigada por um inverno rigoroso. Os citas são nômades e, não praticavam a agricultura, vivendo da criação de gado. Hartog salienta que Heródoto, em sua obra, utiliza a palavra eskhatiá para caracterizar o território cita. Tal palavra representa para os gregos uma zona além das culturas. Segundo o autor “é a região ‘na ponta’, as terras de rendimento ruim e de utilização difícil ou intermitente” (HARTOG, 2014, p. 53). Apresentar o território cita como uma eskhatiá é representá-lo usando como panorama a oikouméne, é a construção de uma inversão do território grego.
Das utopias ao Autoritarismo
450
Segundo Heródoto, existem três explicações para a origem dos citas: “de acordo com os próprios citas sua origem teria sido a seguinte: apareceu naquele território, até então deserto, um homem cujo nome era Targítaos. Os pais desse Targítaos, dizem eles – não creio em sua história, mas eles a contam - teriam sido Zeus e uma filha do rio Boristenes” (Hist., IV, 5) e ele teria três irmãos: Lipôxais, Arpôxais e Coláxais (este último era o mais novo). Durante o seu reinado caíram do céu sobre a Cítia alguns objetos de ouro. Vendo-os, o irmão mais velho e o irmão do meio aproximaram-se deles com a intenção de pegá-los, mas o ouro começou a inflamar-se e o único que conseguiu pegar o ouro foi o irmão mais novo e, diante disso, os irmãos mais velhos decidiram entregar o ouro e o poder real a esse, e foi desse que surgiu o clã dos citas.
A segunda versão, contada pelos helenos habitantes do Pontos, relatava que Heraclés teria copulado com uma mulher híbrida, metade humana e metade serpente. Eles tiveram três filhos e o mais novo, chamado Cites, teria dado origem aos citas. Em seguida, a versão mais “verídica” para Heródoto relata o seguinte: os citas nômades habitantes da Ásia, pressionados pelos massagetas na guerra, fugiram atravessando o rio Araxes em direção ao território cimério, e os cimérios diante do avanço dos citas decidiram abandonar o seu território.
Observa-se que na primeira versão, na qual os citas seriam descendentes de Zeus e de uma filha do rio Boristenes, o autor destaca que não acredita na veracidade desse relato. Logo, temos aqui uma constatação de estranheza por parte de Heródoto, seguida de um questionamento. Por que Heródoto, em toda sua obra, mescla atos humanos com atos divinos e utiliza frases do tipo “providencia divina”, mas quando se trata de um mito de origem cita, questiona?
Ao analisar a primeira versão sobre a origem dos citas, a versão dos próprios citas, percebemos que existe uma relação entre os objetos e a posse do território. O irmão mais novo, aquele que consegue tomar posse de tais objetos caídos do céu, é aquele que fica com a maior porção do território e com o poder real. Assim constatamos que existe uma intima relação entre a versão contada pelos citas e a posse
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
451
do território. Desse modo, necessitamos saber qual significado esses objetos expressam, já que são instrumentos decisivos para definir o responsável pelo poder real, não podendo ser simplesmente objetos aleatórios. De acordo com Hartog (2014, p. 61),
esses quatro objetos (que, na realidade, não são mais que três, já que o jugo e a charrua constituiriam um só) simbolizam as três funções, que formavam um dos principais modelos do pensamento indo-iranianos, fieis depositários, com relação a isso, da tradição indo-europeia: a taça é o instrumento de culto e das festas; o machado uma arma de guerra; a charrua e o jugo evocam a agricultura.
Nessa versão, os próprios citas se apresentam como sedentários e agricultores e não como criadores de gados nômades. Outro fato é que na passagem da primeira versão, Heródoto diz que Coláxais pega os objetos e leva para casa, o que contradiz a versão de Heródoto sobre o nomadismo dos citas. Constatamos aqui, que estamos diante de uma comunidade que se representa como sedentária, porém, é vista pelos gregos como nômade. Desse modo, Hartog (2014, p. 63) ressalta a fragilidade da análise de Heródoto sobre as origens dos citas, na qual o autor explica que “Heródoto não somente não avalia essa versão das origens dos citas e do poder, precisando que são eles próprios que ‘dizem’ (légousi), como não leva absolutamente em conta. Com efeito, quando contam eles que Targitau, o primeiro cita, teve como pais Zeus e uma filha do rio Borístenes, o narrador observa: ‘Para mim, o que dizem não é crível’ (emoí ou pistálégontes). Se pois, o começo da história não é crível, como a sequência o será?”.
Espaço grego versus espaço cita: características de civilidade e barbárie
A compreensão da distinção entre a maneira que os citas interagem com o espaço e a maneira que os gregos interagem com o espaço é de extrema importância para entender tanto a bagagem cultural de Heródoto como sua representação da comunidade cita. Trabalhamos com o período clássico, século V a.C., no qual a
Das utopias ao Autoritarismo
452
democracia ocupa lugar central no estudo da Antiguidade Grega, porém para entender tal sociedade é necessário encará-la como um fenômeno predominantemente rural, na qual o calendário que regulava a vida no interior da referida sociedade estava baseado nas atividades agrícolas,
onde a terra era exclusiva daqueles indivíduos considerados cidadãos e onde o proprietário fundiário gozava de um importante status sócio-político, econômico e ideológico no interior da sociedade democrática ateniense (CHEVITARESE, 2000, p. 23).
Desse modo, construiu-se a ideia de que a pólis só seria verdadeiramente independente na medida em que ela fosse capaz de tirar do solo seu sustento, garantindo a subsistência de seus habitantes, sem depender de outras regiões para sua própria alimentação. Porém, os dados analisados por Chevitarese mostram que tal “pólis independente” era um ideal a ser alcançado e não uma prática possível de ser realizada.
A Grécia, localizada entre os paralelos 34 e 42 norte, é um país montanhoso, com 80% do seu território inseridos neste tipo de terreno. Este dado sugere, de imediato, que se a agricultura representava a base da sociedade grega, por um lado, a própria natureza do solo pedregoso e a falta de grandes áreas apropriadas afetavam materialmente o seu desenvolvimento, por outro” (CHEVITARESE, 2000, p. 35).
Com efeito, percebemos que o espaço grego era ordenado, organizado e normatizado, de forma que seus cidadãos interagiam com tal localidade de maneira distinta dos citas representados por Heródoto, os quais não possuíam uma distinção entre o espaço rural e o espaço urbano, exatamente por não possuírem este último. Quando Heródoto se depara com os costumes e o território cita, acaba por realizar uma inversão do que conhece como civilizado, ou seja, os costumes e o território dos gregos, construindo dessa maneira uma narrativa negativa e questionável sobre a comunidade cita, caracterizando-os como selvagens habitantes dos confins, possuidores de um território nas franjas do mundo grego. Para corroborar tal
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
453
representação, o autor utiliza também as diferenças climáticas entre as regiões, com o intuito de explicar a superioridade grega sobre os citas através de seus respectivos climas. Nessa perspectiva, Chevitarese explica como funciona o clima do território grego,
Este país está localizado no interior do clima mediterrâneo que, em termos gerais, é apresentado pelos geógrafos com as seguintes características: a maior parte das chuvas concentra-se no inverso e a seca, mais ou menos completa, prevalece no verão. O inverno, além de chuvoso, apresenta temperaturas amenas. Em contrapartida, o verão é muito quente e seco, com a ausência quase completa de nuvens (CHEVITARESE, 2000, p. 35).
A Cítia possuía um clima extremamente rigoroso. Segundo Heródoto, o calendário cita contava com um inverno de 8 meses, durante o qual o mar virava gelo, sendo os 4 meses restantes muito frios também. É como dizer que esse território possuí 8 meses de inverno rigoroso e 4 meses de “inverno simples”. Na Cítia não chove durante o inverno, o que acontece normalmente, em “todos” os outros lugares. O regime das chuvas apresentava-se, pois, invertido, em comparação com a das regiões mediterrâneas. O clima cita produz outro tipo de estranheza. Segundo Heródoto, “[...] na Cítia, os cavalos, mas não os asnos e mulas, suportam o frio, enquanto em outros lugares acontece o inverso” (HARTOG, 2014, p. 70).
O que se encontra ao norte se explica pelo frio; o que está ao sul, pelo calor [...] junta-se a isso uma lei de compensação: se a Grécia (a Jônia) recebeu o clima mais temperado, as extremidades da terra (muito frias ou muito quentes) receberam as coisas mais belas e mais raras (o ouro ou os aromos) (HARTOG, 2004, p. 107). O clima ameno é associado à riqueza e o clima rigoroso à pobreza. Essa é uma forma de explicar a superioridade grega sobre os povos da Ásia, em especial os citas. Além disso, Hartog (2004) explica que alguns autores utilizam a justificativa de que a população da Ásia é amolecida, pouco viril e dada ao prazer pelo fato de seu clima não apresentar mudanças bruscas.
Nessa perspectiva, a relação dos costumes de um povo com o território que habitam fica evidente na seguinte passagem da obra,
Das utopias ao Autoritarismo
454
quando Heródoto diz que,O povo cita concebeu a solução mais sábia entre todas as que conheço para um dos mais importantes problemas humanos, mas nada vejo nele digno de admiração além disso. Sua descoberta, da maior importância como já disse, é um meio de impedir que qualquer agressor em marcha contra eles lhes escape e que inimigo algum possa atingi-los se eles não quiserem ser alcançados. Realmente, quando os homens não constroem cidades nem muralhas, e têm todos casas ambulantes, e vivem não do cultivo da terra mas da criação de gado, e transportam suas casas em carroças, poderiam eles deixar de ser invencível e inacessíveis? (HERÓDOTO, 1985, p. 213).
Heródoto explica que os citas conseguem viver como nômades pelo fato do seu território conter pastagens planas e água em abundância. Essa questão da aporia (território inexpugnável) fica evidente quando Dario, em sua expansão persa, tenta invadir o território dos citas e estes utilizam a estratégia de recuar. Assim à medida que Dario adentra o território dos citas e não encontra nada, seu desejo não se realiza. Desse modo, Hartog (2014, p. 230) formula uma comparação entre a defesa ateniense e a aporia cita,na qual “os atenienses têm a ‘muralha de madeira’, isto é, seus navios; os citas têm a mais segura das muralhas, sua aporia”. Observe-se, no entanto, a seguinte fala de Heródoto: “mas nada vejo nele [no território cita] digno de admiração, além disso,” ou seja, para Heródoto os citas habitariam um território degradado, o que converteria este território numa heterotopia.2
Além disso, para o autor os citas seriam um povo extremamente violento, como ele mesmo descreve:
cada cita bebe uma parte do sangue do primeiro homem por ele abatido; cada cita leva para o rei as cabeças de todos os inimigos mortos por ele no campo de batalha (HERÓDOTO, 1985, p. 217).
2 Utilizamos o conceito de heterotopia formulado por Henri Lefebvre, em seu livro A Revolução Urbana. Para o autor, heterotopia designa o lugar (topos) do diferente, do outro (hetero), um espaço que provoca aflição e temor (LEFEBVRE, 1999, p. 19).
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
455
Nessa passagem, temos a formulação de um cenário de medo num espaço determinado, o local de residência dos citas, que seria repleto de cabeças obtidas nas campanhas militares. Para os citas, beber o sangue do primeiro homem por ele abatido ou levar para o rei a cabeça de todos os inimigos mortos seria uma honra, visto que só participaria da distribuição dos despojos de guerra quem portasse tais troféus. Contudo, para Heródoto, acostumado com os costumes gregos, esse tipo de atitude se revela macabro e amedrontador.
A morte dos “falsos adivinhos” é uma prática que contribuiu para reforçar o caráter amedrontador dos costumes citas. Segundo Heródoto, existia na Cítia muitos adivinhos, entre esses, aqueles de melhor reputação eram chamados pelo rei, quando esse adoecia. A Intenção do rei era saber quem havia prestado um falso juramento diante das lareiras reais, causando desse modo seu adoecimento. A esse respeito Heródoto descreve como era a morte desses adivinhos na seguinte passagem: “eles são mortos da seguinte maneira: enche-se uma carroça com lenha bem seca e se lhe atrelam bois; os adivinhos, com os pés agrilhoados, com as mãos amarradas para trás e amordaçados, são jogados no meio da lenha; ateia-se fogo à lenha, e os bois, assustados põem-se em marcha” (HERÓDOTO, 1985, p. 219).
O corpo do rei: espaço e poderEm Heródoto, encontramos indícios das diferenças
culturais nítidas entre os citas e os gregos. Com efeito, reforçamos que essa representação negativa que faz o autor a respeito dos citas diz respeito também ao seu território, pois notamos a importância do espaço na constituição da identidade coletiva de uma comunidade. Porém, fica o questionamento: como é possível uma comunidade nômade estabelecer um território?, Hartog (2014, p. 232) esclarece que “o tumulo real desempenha, pois, o papel de ‘centro’. Com efeito, ele é esse ponto fixo e imóvel que faz com que o espaço cita possa constituir-se como território”. De modo geral, é o poder real que marca o espaço. O rei é um chefe de guerra, trata-se daquele a quem se deve levar cabeças, para que se tenha direito à partilha do butim. Mais
Das utopias ao Autoritarismo
456
amplamente, desde que se trate das coisas de guerra, o espaço cita modifica-se. Passa-se brutamente de um espaço desordenado para um espaço delimitado e organizado (com seus nomoi e seus monarcas, com seus ritos e suas cerimônias anuais).
Essa questão levanta, antes de tudo, a do lar real e, mais amplamente, a do lugar de Héstia no panteão cita. Curiosamente, Héstia é, tanto entre os deuses quanto entre os homens, a casa, o centro do espaço doméstico e, como tal, conota valores de fixidez, imutabilidade e permanência. Ocupa o primeiro plano entre os citas: é a ela, com efeito, mais que a qualquer outra divindade, que se dirigem as preces; em seguida, vêm Zeus e a Terra. Ora, é exatamente neste ponto que encontra-se a contradição. Os citas que, segundo Heródoto, seriam uma comunidade nômade, têm como a principal deusa uma divindade que representa a casa, o espaço doméstico e a fixidez. Ao mesmo tempo Hermes, que Hartog (2014, p. 159) classifica como “o senhor dos lugares destinados ao percurso, longe dos campos cultivados, bem como dos espaços abertos onde se caçam animais selvagens”, está ausente do panteão cita. Um exemplo expressivo da importância de Héstia dentro do panteão cita é fornecido por Idantirso, o rei dos citas. Quando Dario pede que se submeta, ele responde que “em matéria de senhores (despótas), não reconhece senão dois: ‘Zeus, meu ancestral, e Héstia, rainha dos citas’. Assim, Héstia, sendo abasíleia dos citas, é também sua despótes” (HARTOG, 2014, p. 157). Desse modo, concluímos que o que caracteriza a Cítia de Heródoto é a presença do rei como centro do poder. Seu lar é o lugar pelo qual transitam as trocas, o ponto de referência das relações sociais. No limite, os citas não têm lar pessoal. O único lar verdadeiro seria então o do rei, no qual o corpo do soberano passa a representar tanto espaço delimitado como poder. Com efeito, Hartog analisa como se estabelece essa troca entre o rei e seus súditos.
O rei sente dores, o rei está doente, tanto que manda buscar adivinhos para tratá-lo. Os adivinhos põem-se a trabalhar e lhe indicam logo a causa de seu mal: um perjuro. Prescrição: corta-lhe a cabeça. Dito de outro modo, a dor real é o sintoma do perjúrio e não parece que se possa atribuir-lhe outra causa. Com efeito, os adivinhos
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
457
declaram: “como quase, sempre [...], fulano ou cicrano jurou falso.” O que, portanto, sempre e mais que tudo atinge o rei em sua própria carne é o perjúrio. Quando um cita comete o crime, é o rei que logo em seguida sente os maus efeitos; estabelecem-se assim estranhas trocas entre o sei e seus súditos (HARTOG, 2014, p. 151).
Na passagem acima, observamos que súditos ruins, criminosos, causam mal ao próprio rei que deve puni-los. Em contrapartida, súditos leais deveriam, pelo contrário, favorecer a boa saúde do rei e aumentar sua prosperidade. É importante ressaltar que na Grécia, a aplicação do castigo competia aos deuses e não aos homens. Contudo os citas prevêem um castigo nesse caso, no qual o culpado pelo perjuro tem sua cabeça cortada. De acordo com Hartog,
como se vê eles não confiam aos deuses o cuidado da vingança e o restabelecimento da ordem que foi perturbada, pelo menos no caso do falso juramento ‘pela lareira real’. O juramento pela lareira real é, de fato, o ‘maior juramento’ que um cita poder fazer (HARTOG, 2014, p. 156).
Em relação ao território cita, a casa real funciona como um espaço de troca. Quando os citas querem entrar em um acordo devem se prostrar diante dela.
Desse modo, Hartog (2014, p. 162) explica que: o rei tem dois corpos: o primeiro é um corpo natural, consistindo de membros naturais, como têm todos os outros homens, sujeito a doenças e á morte, como acontece com os outros homens todos; o outro é um corpo político, e os membros dele são seus súditos.
Todavia, no caso do rei cita, um defeito do corpo político, o perjúrio, reflete sobre o corpo natural.
O túmulo real desempenha o papel de centro, delimitando o espaço cívico. Esse aspecto não se restringe à cultura cita. Hartog (2014) faz uma comparação entre a Grécia e a Cítia, sobre o aspecto do local destinado aos túmulos reais ou túmulos dos heróis. Assim, na Grécia tinha-se o costume de enterrar os heróis ou os fundadores da cidade em três lugares distintos: na ágora, nas muralhas ou nas
Das utopias ao Autoritarismo
458
fronteiras do território. Segundo Hartog (2014, p.172), “qual é, com efeito, a primeira função do cadáver assim honrado? Espera-se dele que faça a guarda, que defenda o território ou que assegure a vitória”. Havia, portanto laços muito estreitos entre o túmulo do herói e o território, assim como entre os túmulos dos reis citas e seus súditos. Contudo, onde eram enterrados os reis citas? Na região chamada Gerros, território de confins, sobre a qual Heródoto nada sabe, por ser uma região isolada. Ao contrário dos gregos, que enterravam seus heróis em locais estratégicos à procura de proteção para a cidade, os citas enterravam seus reis nessa região isolada, exatamente para preservarem suas sepulturas e integridade, ou seja, uma medida de proteção dos túmulos reais. Essa ligação entre as sepulturas e o território cita fica em evidência na seguinte passagem:
É bem isso o que quer dizer o rei dos citas, Idantirso, quando envia a Dario (que não compreende por que o outro se recusa a entrar em batalha com ele) a seguinte mensagem: ‘[...] Encontrai os túmulos de nossos pais, tentai violá-los e então sabereis se nós entraremos em combate convosco por esses túmulos ou se recusaremos o combate. Mas, até então, se não tivermos vontade, não entraremos em batalha convosco [...] ’ Para Idantirso, há, pois, uma ligação entre os túmulos reais e o país: encontrar e violar uns, é prejudicar o outro. Encontrar os túmulos dos reis equivaleria, na Grécia, a encontrar o túmulo dos heróis. Seria portanto adquirir supremacia (ao menos virtual) sobre o território (HARTOG, 2014, p. 176).
Os citas de Heródoto são nômades, não possuem terra cultivada, não praticam a agricultura e vivem da criação de gado. Por tais motivos, não vêem motivo para entrar em guerra com os persas. O inimigo somente passa a ser considerado um invasor a partir do momento que encontrar ou violar os túmulos reais. Sendo assim, são os túmulos dos reis citas que tornam o espaço habitado um território delimitado e organizado. Vivo, o rei era o centro móvel; morto, torna-se o centro fixo. Até no tratamento reservado aos reis mortos encontramos características nômades. O rei é colocado sobre um carro e passa por todas as regiões que reina até chegar em seu destino, no Gerros. Heródoto narra todo um ritual de mutilação que os súditos praticavam
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
459
quando seu rei morria, ritual esse que ao olhar grego é visto como um ato de selvageria e de barbárie, pois, entre os helenos a mutilação havia sido proibida antes mesmo da legislação de Sólon. Acreditava-se que aquele que praticava a mutilação estava se pondo à parte da esfera do direito, pois não se devia tocar na integridade do corpo do cidadão. Entre os citas, os participantes do cortejo fúnebre se mutilavam, mas o cadáver do rei era preservado, visto que era embalsamado. Como Hartog explica essa prática da mutilação era uma maneira de preservação da memória e não um ato de selvageria desmedido
Os citas, com efeito, ainda que não elevem a voz e não articulem palavra alguma falam, mas falam à sua maneira – em seus corpos e com seus corpos. Mutilam-se, inscrevem em seus corpos a lei cita e fazem de seus corpos a celebração e a oração fúnebre do rei morto. Pelas cicatrizes que trarão, seus corpos tornar-se-ão memória. Mais ainda, essas mutilações não são exageros de violência feitos ao acaso, mas, ao contrário, parte do cerimonial fúnebre (HARTOG, 2014, p. 182).
Nessa perspectiva, constatamos que é através dos corpos que os citas se expressam e expressam seu luto, mas qual a mensagem que essas mutilações passam? A condição de súdito de tais homens. O corpo é tido como uma maneira de atestar para si mesmo e de atestar para o outro que faz parte do mesmo grupo, a comunidade cita. De acordo com Hartog (2014, p. 183), “[...] Durkheim e outros mostram que as cerimônias de luto são meios, para a coletividade, de demonstrar que não se encontra atingida, que sairá mesmo reforçada da prova”. Nas cidades gregas, pelo contrário, a mutilação era proibida e vista como um horror.
Anácarsis e Ciles: transgressão da fronteira cultural3
Os citas evitavam adotar qualquer costume alienígena,
3 Utilizamos o conceito de fronteira elaborado pelos autores Norberto Guarinello (2010) e Geneviéve Bührer-Thierry (2012), para quem a fronteira é um espaço dinâmico de negociação, uma “membrana viva” que não apenas separa grupos e pessoas, mas também os aproxima. A fronteira é assim compreendida como uma zona de interações culturais permanentes, lugar de constante troca.
Das utopias ao Autoritarismo
460
seja de qual povo for, e castigos eram infligidos severamente àqueles que o faziam. Heródoto reporta dois exemplos de homens citas que adotaram costumes estrangeiros dentro da Cítia e foram castigados, independentemente de sua posição dentro da comunidade. Os protagonistas de ambos os casos são: Anácarsis e Ciles.
Anácarsis era um cita pertencente à família real e, assim como Heródoto, viajara por várias regiões, como Atenas, à procura de conhecimento. Porém, quando retorna a sua terra natal é pego celebrando rituais para uma deusa estrangeira e acaba sendo punido com a pena de morte. Anácarsis é morto pelo próprio irmão. A respeito desse fato, Hartog (2004, p. 125) explica que “seu destino ilustra o risco mortal em que incorre aquele que, percorrendo a terra, acaba por esquecer as fronteiras”. Heródoto descreve da seguinte maneira o ocorrido:
de volta à sua pátria navegou pelo Heléspontos e se deteve em Cízicos; lá, observando os cizicenos celebrarem a pomposa festa da Mãe dos Deuses, Anácarsis prometeu a essa mãe que, se voltasse são e salvo à sua terra, lhe ofereceria sacrifícios iguais aos oferecidos pelos cizicenos diante de seus olhos, e que instituiria os rituais de um certo culto noturno em sua honra. Chegando â Cítia, ele foi ocultar-se na região chamada Hílaia, situada ao lado de pista de Aquileus e inteiramente coberta de todas as espécies de árvores; oculto lá, Anácarsis celebrou todo ritual da festa da deusa, levando um tamborim e imagens sagradas presas às suas roupas. Mas um cita percebeu o que ele estava fazendo e foi dizer ao rei Sáulios. O rei veio ao local em pessoa e, vendo Anácarsis celebrar o ritual, alvejo-o com uma flecha e o matou (HERÓDOTO, 1985, p. 221).
Outro fato relevante sobre Anácarsis é que ele recebeu cidadania ateniense e foi o único bárbaro a ser iniciado nos mistérios de Eleûsis, que para Hartog (2004) representa a quintessência da identidade ateniense grega. A bibliografia referente aos citas aborda majoritariamente Anácarsis, contudo temos um segundo caso de transgressão de fronteira cultural, representado por Ciles, filho do rei da Cítia, cuja mãe era da Ístria e lhe ensinou a língua e as letras helênicas.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
461
Depois da morte de seu pai, Ciles assumiu o trono da Cítia. Segundo Heródoto, “reinando sobre os citas, Ciles não se satisfazia de modo algum com o modo de viver dos citas, demonstrando uma inclinação muito maior para com os costumes helênicos” (Hist., IV, 78).
Ciles mandou construir uma casa para ele em Boristenes, uma cidade vizinha, onde circulava com roupas gregas e cultuava os deuses de acordo com os costumes helênicos. Contudo, quis ir mais além e foi iniciado no culto de Diônisos Báquico. Acontece que os citas desprezavam Diônisos, diziam que não era razoável cultuar um deus que levava os homens à loucura. Assim, quando os citas descobriram o que o rei havia feito, não aceitaram e se rebelaram, entregando o comando do exército ao seu irmão, Octamasades. Ciles se refugiou na Trácia, porém, o irmão de Ciles tinha como refém entre os citas, o tio do rei da Trácia e fez um acordo com este. O rei da Trácia devolveria Ciles e seu tio retornaria. Assim que Ciles foi devolvido para os citas, teve a cabeça cortada. Esses dois casos expressam o perigo, entre os citas, da transgressão das fronteiras culturais.
ConclusãoNossa análise da obra de Heródoto aponta que o autor tentou
construir uma narrativa negativa a respeito dos citas, de seus costumes e de seu território. Utilizando como parâmetro a cultura grega para elaborar sua representação, Heródoto exagera o quesito violência, como uma forma de impressionar os gregos, utilizando a violência e a selvageria cita como um aparato narrativo para impressionar o ouvinte, visto que sua obra foi lida em público. Heródoto, com toda sua bagagem cultural, não descreve com veracidade os costumes da comunidade cita. Pelo contrário, o autor elabora uma representação de tal comunidade com o intuito de mostrar sua inferioridade diante da grandiosa Grécia. Tal representação não se restringe somente aos citas, mas abrange outras culturas por ele descritas.
O que o autor retrata como violência ao acaso, selvageria e barbárie, na verdade são rituais que fazem parte dos costumes citas e que nos informam como essa comunidade enxergava o mundo e com
Das utopias ao Autoritarismo
462
ele interagia. Os citas não cortavam a cabeça de seus inimigos abatidos como uma maneira de demonstração de violência ou como forma de ultrajar seu adversário. Na verdade, existia um significado simbólico nesse ato, um ato de honraria, pois, aquele cita que voltasse da batalha sem cabeças era tido como um homem fraco e sem honra, que não merecia participar dos despojos de guerra, aquele que não tomaria um copo de vinho com seus irmãos de batalha. O ritual de mutilação praticado pelos súditos quando o rei morria, também ia além do horror representado por Heródoto, pois caracterizava-se mais como um ritual de memória e de pertencimento.
Com efeito, fica evidente que Heródoto faz uma análise imparcial da comunidade cita, não aprofundando nos seus costumes, na relação entre como os citas contavam suas origens e a posse da terra. Mas, por que Heródoto aprofundaria algo que não acreditava? De fato, o próprio afirma que não crê na veracidade do relato dos citas sobre suas origens. O autor descreve todo o processo do funeral régio, como uma cerimônia degradada, violenta e repulsiva, na qual os súditos praticavam atos de mutilação. Contudo, simplesmente ignora o significado de tal cerimônia e como os túmulos reais demonstravam que os citas, caracterizados como nômades, possuíam sim um território e esse território tinha um centro, desempenhado pelo corpo do rei.
Acreditamos que existe uma relação intima entre a “degradação” dos costumes dos citas com o território que habitavam, pois, ao mesmo tempo que Heródoto representa os costumes dos citas como repulsivos, relaciona tal fato com o espaço por eles habitado, representando assim a Cítia como uma zona de confins, uma região de eskhatiá, ou seja, uma região que se encontra além das culturas.
Referências: Fontes:
HERÔDOTOS. História. Tradução do grego, introdução e notas de Mário da Gama Kury. Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 1985.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
463
Bibliografia:
BÜHRER-THIERRY, G. Construindo fronteiras, fixando identidades. In: CAMPOS, A. P.; GIL, A. C. A.; SILVA, G. V.; BENTIVOGLIO, J. C.; NADER, M. B. (Org). Território, poderes, identidades: a ocupação do espaço entre a política e a cultura. Vitória, ES: GM, 2012, p. 193-212.
CHEVITARESE, A. L. O espaço rural da pólis grega: o caso ateniense no período clássico. Rio de Janeiro: A. L. Chevitarese, 2000.
GUARINELLO, N. L. Ordem, integração e fronteiras no império romano. Um ensaio. Mare Nostrum, v. 1, p. 123-127, 2010.
HARTOG, F. Memória de Ulisses: narrativas sobre a fronteira na Grécia Antiga. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2004.
HARTOG, F. O espelho de Heródoto: ensaio sobre a representação do outro. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2014.
LEFEBVRE, H. A revolução urbana. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1999.
SILVA, M. A. O. Heródoto e suas Histórias. Revista de Teoria da História, n. 13, p. 39-51, 2015.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
465
O Mediterrâneo como mar e forma da história: suas representações na Odisseia
Martinho Guilherme Fonseca Soares
Entre uma história no e do Mediterrâneo Fernand Braudel dedicou-se, nos primeiros anos de
sua formação historiográfica, a estudos sobre o Mediterrâneo. Sua “história da longa duração”, presente em O Mediterrâneo e o Mundo Mediterrâneo na Época de Filipe II,1 viria a constituir, para toda uma geração dos Annales, a principal fonte de inspiração para os historiadores interessados em usar a longue durée em suas análises, o que por vezes implicou na busca, pelos assim chamados, determinismos ambientais (HORDEN; PURCELL, 2000; HARRIS, 2005; HERZFELD, 2005). Em outras palavras, as sociedades que se desenvolveram no Mediterrâneo tiveram o ritmo da vida econômica, social e política ditado, a rigor, pelo intrépido ambiente físico descrito por Braudel. Publicado em 1949, as discussões ali travadas serão exaustivamente (re)analisadas nos anos vindouros, evocando o Mediterrâneo como uma unidade, especialmente nas décadas de 1980 e 1990 (HARRIS, 2005, p. 1). Por isso, falar sobre o Mediterrâneo “na” história não constitui novidade alguma. Contudo, somos do entendimento, tal como Herzfeld (2005, p. 46), que a despeito de outras categorias que foram igualmente revisitadas, criticadas e, por vezes, colocadas à parte, “‘o’ Mediterrâneo mostrou uma tenacidade notável diante de uma enxurrada de críticas — de fato, essa enxurrada às vezes parece simplesmente confirmar sua importância geral”. Na opinião do autor, isso por si, já faz com que o Mediterrâneo seja levado a sério. Mas qual Mediterrâneo? A extensão marítima, o corpo d’água? Ou todas as ilhas, mares e costa (regiões internas e montanhas) por ele banhados? Um Mediterrâneo que difere, substancialmente daquele do modelo braudeliano.
1 No original francês, dividido em três volumes: La Méditerranée et le monde méditerranéen a l’époque de Philippe II.
Das utopias ao Autoritarismo
466
Na esteira dessas reflexões, uma distinção entre uma história do e no Mediterrâneo vem se afirmando. A diferença foi explicada por Peregrine Horden e Nicholas Purcell no precursor The Corrupting sea: a study of Mediterranean history (2000). Ao colocarem o ambiente físico no centro da análise, os autores propuseram a noção de uma história do Mediterrâneo, em que o ambiente (mar e costa) são o objeto da pesquisa histórica. Horden e Purcell argumentam que essa perspectiva difere da de Braudel, pois não busca compreender os acontecimentos a partir de determinismos ambientais, mas sim, da interação que se deu entre os seres humanos e o espaço. Para os autores, há tanto uma história no como do Mediterrâneo, sendo que a primeira relaciona-se de maneira indireta com o espaço geográfico a segunda, por sua vez, [...] pressupõe uma compreensão de todo o ambiente, o qual
é o produto de uma complexa interação de fatores humanos e físicos, não simplesmente um pano de fundo material ou um conjunto de restrições imutáveis (HORDEN; PURCELL, 2000, p. 9).
Se insistimos em recordar a obra Braudel, o vemo-lo admoestar-nos que “falar do Mediterrâneo na história é, portanto — primeiro cuidado e preocupação constante —, atribuir-lhe suas dimensões verdadeiras, imaginá-lo numa vestimenta desmesurada. Ele sozinho era, outrora, um universo, um planeta” (BRAUDEL, 1988, p. 30). Para Braudel, falamos de um mar, mas principalmente de todo um continente de terras e um contingente de povos que se organizou político, social e culturalmente, a partir dele e para ele esteve convergido desde a Antiguidade. Aceitando a validade da distinção entre do e no, Braudel compôs uma história das sociedades no Mediterrâneo, “[...] na qual toda mudança é lenta, uma história de repetição constante, de ciclos sempre recorrentes” (HORDEN; PURCELL, 2000, p. 36). Nessa perspectiva, vemos que o autor buscou heroicizar elementos abstratos, apartados da ação humana:
o próprio mar, primeiro e antes [...] — e ‘a longo prazo’, la longue durée. É este último conceito [...] que informa todo o livro, transformando-o numa peça de geografia humana, uma vasta bússola histórica (HORDEN; PURCELL, 2000, p. 36).
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
467
No que se refere a demasiada produção que o Mediterrâneo e os elementos que lhe são congêneres (mediterranismo, mediterranização e outros), receberam da historiografia nos últimos 40-50 anos, o tema continua a despertar interesse, seja porque o mar permanece onde “sempre” esteve, seja porque vemos crescer, em especial, nas duas últimas décadas, o número de periódicos acadêmicos dedicados à temática. Aquilo que Susan Alcock (2005, p. 314), chamou de “séries mediterrânicas”. Mas por que a insistência daqueles que o fizeram/fazem e nossa, em particular? De um ponto de vista mais amplo, arriscamo-nos a dizer que a vivacidade de investigações sobre o Mediterrâneo, esteve e permanece ligada ao fato de que o mar não é o mesmo para todas as sociedades, em todos os tempos e lugares, tal como o fez crer Braudel.
Certa feita, escreveu Chartier — ao esclarecer sua proposta de formular uma história da leitura — que, para o tipo de pesquisa por ele empreendida, o essencial é “compreender como os mesmos textos — sob formas impressas possivelmente diferentes — podem ser diversamente aprendidos, manipulados, compreendidos” (CHARTIER, 1991, p. 181). Parafraseando-o, encontramos uma, dentre outras possíveis respostas, ao questionamento formulado inicialmente: a vivacidade das investigações envolvendo o Mediterrâneo está relacionada ao interesse em se compreender como esse mesmo mar, esse mesmo espaço, em momentos distintos, foi diferentemente apropriado, explorado, compreendido e representado pelas sociedades que com ele estabeleceram algum tipo de relação. Outra explicação é data por Harris (2005, p. 7), ao enxergar como motivo para tal interesse, o fato do Mediterrâneo ter sido o palco dos principais conflitos de poder da história ocidental, “gregos contra persas, romanos contra cartagineses (e todo o resto), cristãos contra muçulmanos”.
De nossa parte, o interesse está relacionado à dificuldade de se estudar o conjunto das transformações econômicas e sociais próprias do Período Arcaico, em que a “colonização” grega apresenta-se como parte integrante e integradora do Mediterrâneo,2 sem
2 De uso corrente na literatura geral, bem como na especializada, o termo
Das utopias ao Autoritarismo
468
aproximá-las das representações que o homem arcaico elaborou sobre as condições físicas e climáticas do mar, as quais implicaram na adoção de um conjunto de práticas rituais nesse ambiente. A Odisseia, obra com a qual buscaremos dialogar nesse texto, nos permite visualizar o comportamento desse povo essencialmente litorâneo, quando buscou dominar o espaço marítimo de um ponto de vista físico e simbólico. Desse modo, precisamos entender o movimento colonizador em sua fase inicial, como circunscrito a uma região específica do continente grego, em integração com a Sicília e o sul do Território Itálico — local dos primeiros assentamentos na Magna Grécia —, de maneira que afirmar que “o Mediterrâneo é mais interessante como uma categoria local do que como uma ferramenta analítica [...]” (HERZFELD, 2005, p. 46) nos parece ser o caminho para a elaboração de uma história do Mediterrâneo. Nesse sentido, ainda que nos deparemos constantemente com uma noção do Mediterrâneo como ferramenta analítica, o que se justifica porque historiador busca dar forma à história, é preciso estarmos atentos à sua arbitrariedade.
O Mediterrâneo como forma da históriaHá um risco quando o Mediterrâneo é apontado como
“forma da história”, oportunidade na qual a região aparece como “centro”. Teria esse “centro do mundo” abrigado o desenvolvimento de uma agricultura modelar, fundada na tríade azeite, vinho e cereais (VIDAL-NAQUET, 2002; LEFÈVRE, 2013), indo de encontro à ideia de que “o Mediterrâneo é, obviamente, um construto, mas é um construto com alguma base natural. A região é o lar histórico da vitis vinifera e da olea europaea, e o cultivo da vinha e das oliveiras parece fornecer tanto unidade quanto distinção” (HARRIS, 2005, p. 79).
“colonização” aqui empregado refere-se à fundação no território estrangeiro de assentamentos perenes, denominados pelos próprios gregos fundadores de apoikiai. Nesse sentido, não se trata de uma “colônia”, expressão que evoca a noção de relações comerciais para com a pátria fundadora, tal como visto no movimento dos Estados Nacionais europeus a partir do século XVI. No caso a que nos referimos, as apoikiai eram fundadas com o objetivo de separação comercial da metrópole que havia custeado as despesas necessárias à empresa marítima. Eram assentamentos agrícolas que tinham por objetivo constituir-se sem relações de dependência para com a pátria-mãe.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
469
Guarinello (2003), define as formas da história como o recurso pelo qual o historiador busca fazer o passado inteligível no presente. Para o autor, a história “opera de fato com formas (ou, antes, f(ô)rmas), mediante as quais os historiadores tentam dar sentido ao passado, criando uma sensação de realidade e completude” (GUARINELLO, 2003, p. 42). O Mediterrâneo como forma está diretamente ligado ao que Marc Bloch designou de o “ofício do historiador” (2002), uma vez que acaba por remeter “[...] ao problema central da prática histórica: a determinação de constantes, acima das modificações” (VEYNE, 1983, p. 7). Nesse sentido, forma e constante designam a operação historiográfica. Expandindo seus significados, vemos que “[...] a conceituação de uma constante permite explicar os acontecimentos; jogando-se com as variáveis pode-se recriar, a partir da constante, a diversidade das modificações históricas” (VEYNE, 1983, p. 16). No modelo braudeliano de interpretação da longa duração, o Mediterrâneo tornou-se forma e/ou constante, a partir das quais buscou-se explicar a dinâmica das sociedades ditas mediterrâneas.
Mutatis mutandis, por vezes, a expressão Mediterrâneo tornou-se um conceito, tal como é o de guerra ou revolução, aplicáveis aos diversos momentos da história em que um ou outro acontecimento adquiriu as características que tais conceitos se dedicam a explicar. Mas o Mediterrâneo é, sobretudo, um espaço marítimo e costeiro e, como tal, está sujeito as intemperes climáticas e à influência da atividade humana. O desenvolvimento da navegação a partir do século VIII a.C., foi alterando ao longo do tempo, a paisagem mediterrânea, na medida em que a derrubada de árvores para a construção de embarcações se tornou uma prática cada vez mais comum. Outra característica que evidencia os problemas de se recorrer ao Mediterrâneo como forma/constante histórica (sem que se realize as devidas definições), é sua extensão, seja do corpo d’água, ou das terras, o que implica falar da diversidade regional de sua geografia e clima. Próximo ao território itálico encontramos, por exemplo, uma atividade vulcânica que não vemos em nenhuma outra parte do Mediterrâneo, assim como os ventos e as marés apresentam variações significativas que, muito
Das utopias ao Autoritarismo
470
mais intensas na região do Estreito de Messina, deram “[...] origem na Antiguidade à lenda de Cila e Caríbdis” (PRYOR, 1995 p. 12).3 Ao fim e ao cabo, “isso significa que todas as formas produzem, ao mesmo tempo, memória e esquecimento, visibilidade e invisibilidade” (GUARINELLO, 2003, p. 50).
Cientes do uso equivocado que o emprego do Mediterrâneo como forma pode assumir, nosso esforço, diante da amplitude de informações que sua duração no tempo e no espaço nos permite acessar, é o de ter uma visão um pouco mais aclarada acerca do passado e das representações elaboradas pelo homem grego sobre o espaço marítimo. Diante de tal intento é que fazemos uso de informações relativas à precipitação na região, fertilidade do solo, curso dos rios, madeiras e metais disponíveis. Também é levado em consideração a direção dos ventos, das marés, sua intensidade e profundidade das águas do mar. Este é o lugar a partir do qual buscamos entender o conjunto das transformações que marcaram o século VIII a.C. “uma vez que toda reflexão metodológica enraíza-se, com efeito, numa prática histórica particular, num espaço de trabalho específico” (CHARTIER, 1991, p. 176). O mar é o nosso.
O acesso ao conjunto dessas informações é resultado de uma integração contínua entre diferentes áreas do conhecimento, como as Arqueologias da Arquitetura (PEARSON; RICHARDS, 2005) da Paisagem, do Culto (HIRATA, 2013) e Marinha (MCGRAIL, 2009). Isso só para citar os intercâmbios com a disciplina arqueológica, mas também temos as contribuições da Geografia, da Filologia, da Biologia, da Oceanografia, dentre outras. Tal esforço resulta em “[...] um processo de generalização que cria formas ou, em outras palavras, grandes contextos” (GUARINELLO, 2003, p. 45). O “Mediterrâneo” é um desses grandes contextos. Mas há um ponto que precisamos ressaltar: contextualizar e enunciar as características climáticas e geográficas, é diferente de se afirmar sua invariabilidade
3 Cila e Caríbdis constituem seres mitológicos que, presentes na Odisseia, personificam o furor das águas na região do Estreito de Messina. No Canto XII, Circe adverte Odisseu dos perigos que encontraria a essa altura do mar. Ainda no Canto XII, Odisseu descreve o pavor dos nautai ao cruzar a região onde Cila engoliu seis dos seus sócios.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
471
e a determinação da história a partir dessa. O que existe são pontos de conexão entre o ambiente e a ação do homem sobre ele que, de um ponto de vista histórico, interessa ressaltar. O que por vezes observamos quando o Mediterrâneo é assumido como forma da história, se aproxima do que Edward Said denominou de “geografia imaginativa” em sua explicação sobre o orientalismo. Tudo converge para a valorização do Ocidente, da Europa, em especial. Acerca dessa última assertiva, vemos que,
o orientalismo não é um mero tema político de estudos ou campo refletido passivamente pela cultura, pela erudição e pelas instituições; nem é uma ampla e difusa coleção de textos sobre o Oriente; nem é representativo ou expressivo de algum nefando complô imperialista ‘ocidental’ para subjugar o mundo ‘oriental’. É antes uma distribuição de consciência geopolítica em textos estéticos, eruditos, econômicos, sociológicos, históricos e filológicos; é uma elaboração não só de uma distinção geográfica básica ( o mundo é feito de duas metades, o Ocidente o Oriente), como também de toda uma série de ‘interesses’ que, através de meios como a descoberta erudita, a reconstrução filológica, a análise psicológica e a descrição paisagística e sociológica, o orientalismo não apenas cria como mantém; ele é, em vez de expressar, uma certa vontade ou intenção de entender, e em alguns casos controlar, manipular e até incorporar, aquilo que é um mundo manifestadamente diferente (ou alternativo e novo); é, acima de tudo, um discurso [...] (SAID, 1990, p. 24).
Uma “mesma história”, idiomas com um tronco linguístico compartilhado, uma agricultura modelar, são alguns dos argumentos daqueles que defendem a ideia de um mediterranismo, “a doutrina de que há características distintivas que as culturas do Mediterrâneo têm, ou tiveram, em comum” (HARRIS, 2005, p. 1). Assim também a economia e a política estiveram a serviço da formação de uma paisagem geopolítica distinta para aqueles que advogam uma história comum entre gregos, romanos, europeus de forma geral. Nesse sentido, quando consideramos que os historiadores adotam formas para escrever a história, vemos surgir afirmações de uma “agricultura e economia mediterrânicas”. Mas de fato existiram? A
Das utopias ao Autoritarismo
472
agricultura dos gregos foi a mesma dos romanos? Se sim, quando? Em todas as épocas? Sabemos que é impossível explicar o passado sem formas (GUARINELLO, 2003), mas nos parece que a ideia de mediterranismo está muito mais ligada à afirmação de identidades dos historiadores no presente, do que à busca por uma explicação histórica propriamente dita, embora cientes de que “uma das formas pelas quais as identidades estabelecem suas reivindicações é por meio do apelo a antecedentes históricos” (WOODWARD, 2014, p. 11). O problema emerge quando nos damos conta de que a criação de uma identidade mediterrânea, ou melhor, “a ideia de uma vasta cultura mediterrânea serviu com frequência aos interesses do imperialismo cultural desdenhoso” (HERZFELD, 2005, p. 48).
Sem um estudo pormenorizado da interação entre homens e ambiente, o emprego do Mediterrâneo como forma, serve muito mais à projeção do presente sobre o passado. O mediterranismo, como discurso hegemônico, para além da aliteração que provoca à Língua Portuguesa, corre o risco de surtir efeitos muito semelhantes aos produzidos pelo orientalismo, revelando-se um discurso anacrônico a serviço da afirmação de uma identidade: nossa cultura é mediterrânea, não é nórdica, indiana, tampouco africana, isso por que a identidade é relacional e, portanto, marcada pela diferença (WOODWARD, 2014, p. 9). Mas como os gregos arcaicos viram o Mediterrâneo? Dele se valeram para afirmação de sua identidade?
O Mediterrâneo como mar e terra Diferente do que apresentamos até então, discutiremos,
a partir de agora, o Mediterrâneo sob o ponto de vista geográfico, físico e climático, buscando compreender um pouco mais sobre sua localização e características ambientais. Falamos de um mar extenso e que rodeado por montanhas, assume um aspecto semifechado, do tipo mar do interior. Com 2.000 milhas náuticas de comprimento, de Leste a Oeste, se “estende de c. 6º O no Estreito de Gibraltar até c. 36º L na costa do Levante; e de 31 a 37º N na costa do norte da África para 46º N na cabeceira do Mar Adriático” (MCGRAIL, 2009, p. 88). A
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
473
opção por descrever, ainda que sumariamente, de um ponto de vista georeferencial, a área abrangida por esse mar, não é à toa. É comum encontramos, nos mapas que buscam representar o Mediterrâneo, escalas cartográficas que variam de 0-250 a 0-300 Km, em função da extensão de área a ser representada. Tal representação consome, em média, uma lauda e meia do corpo do trabalho para cada mapa, o que, evidentemente, é indispensável quando se busca situar o leitor através de um recurso cartográfico, no espaço do qual se fala e se busca representar. Em nosso caso, em função do argumento até aqui construído, cumpriria muito mais o papel de reforçar o motivo do Mediterrâneo ter sido representado como um “mundo” e de ser visto hoje em dia, por cartógrafos e oceanógrafos, como uma Região, que inclui o próprio Mar Mediterrâneo, o Mar de Marmara, o Mar Negro e o Mar de Azov (INTERNATIONAL HIDROGRAPHIC ORGANIZATION, 2002).
Outra característica assumida pelo Mediterrâneo é a profundidade de suas águas: “[...] mais de 500 braças (c. 900 m)” (MCGRAIL, 2009, p. 88). Combinadas, as análises de Van Andel (1989) e Pryor (1995), levam a importantes conclusões acerca das mudanças climáticas e de nível do mar na região, sendo possível afirmar que desde o final do Neolítico em diante, “as ilhas e costas do Mediterrâneo teriam se assemelhado cada vez mais aos dias de hoje”, de maneira que permanecem “com litorais, chuvas e ventos geralmente semelhantes [...]” (MCGRAIL, 2009, p. 88). Tal conclusão nos é bastante útil como ponto de partida para avaliarmos as condições de navegação dos gregos arcaicos que, no contexto de sua expansão, se lançaram ao mar. Todavia, se ainda hoje, em alguns períodos do ano, o Mediterrâneo apresenta dificuldades em alguns trechos, há que se considerar o que o foi no passado, quando o instrumental técnico necessário à navegação encontrava-se numa fase incipiente de desenvolvimento e experimentação.
Mas o Mediterrâneo é um mar que, de modo geral, apresenta boas condições de exploração aos navegantes, “visto que o seu clima oferece uma bela temporada de navegação, de abril/maio até setembro/outubro, especialmente em pleno verão, quando os ventos
Das utopias ao Autoritarismo
474
etésios (meltem) podem conduzir da Trácia ao Egito em menos de dez dias” (LEFÈVRE, 2013, p. 36-37). Assim, “do ponto de vista do marinheiro, o verão, com suas longas horas de luz ao longo do dia, também tem características bem-vindas” (MCGRAIL, 2009, p. 93). Contudo, um problema se impõe:
O inverno, no entanto, pode ser um momento perigoso em alto mar, ventos fortes, como o Bora [...], existem em muitas ocasiões quando surtos de ar frio entre o noroeste e o nordeste penetram a região, resultando em condições muito turbulentas e mares que passam a ser afetados por fortes rajadas e tempestades que podem se desenvolver rapidamente com pouco aviso (MCGRAIL, 2009, p. 93).
Dessa maneira, passado o verão:O mar escurece, assume as tonalidades cinzas do Báltico, ou então, enterrado sob uma poeira de espuma branca, parece cobrir-se de neve. E desencadeiam-se as tempestades, as terríveis tempestades. Ventos devastadores: o mistral, o borah, atormentam o mar, e, em terra, é preciso abrigar-se contra seu furor e sua violência” (BRAUDEL, 1988, p. 13-14).
Hesíodo, um poeta beócio do século VII a.C., — também do Período Arcaico — quando escreveu Os Trabalhos e os Dias, adverte seu irmão sobre o período certo para se navegar e os riscos de se encarar o mar durante o outono/inverno, aconselhando-o que navegue durante o verão quando,
Então as brisas estão regulares e o mar propício;
tu, seguro, confiando nos ventos, a rápida nau
arrasta até o mar e coloca nela toda a tua carga.
Esforça-te para voltar para casa o mais rápido possível:
não esperes o vinho novo e a chuva do fim do verão,
o inverno que vem a seguir e os temíveis sopros do Noto,
que levanta o mar, acompanhando a chuva de Zeus
abundante no fim do verão, e torna o mar difícil.
Existe uma outra navegação para os humanos: a da
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
475
primavera.
Logo que o tamanho da pegada que a gralha faz andando
parecer aos homens igual ao das folhas
na ponta de um ramo de figueira, então o mar é navegável.
Essa é a navegação da primavera; quanto a mim,
não a recomendo; não me agrada em meu coração (Os Trabalhos e os Dias, 663-683).
Ainda que se aventurando no mar, os gregos permaneceram um povo essencialmente ligado à agricultura e às formas de pastoreio de animais de médio porte. Contudo, o clima da região, aliado às condições de fertilidade do solo da maior parte das terras banhadas pelo Mediterrâneo no continente grego, não favoreceu o desenvolvimento de uma agriculta em níveis satisfatórios. A terra produzia, quando muito, o essencialmente necessário à subsistência. Tal condicionamento fez com que o mar adquirisse um papel de extrema importância na complementação da dieta desses povos, assim como abriu portas à exploração de novas terras que, esperava-se, fossem mais férteis, servindo também ao enxugamento da população nas áreas de origem. Um menor índice demográfico implicava, necessariamente, num consumo menor dos já esparsos recursos alimentares disponíveis (VIDAL-NAQUET, 2002; LEFÈVRE, 2013).
Consideremos ainda que, se o clima imprevisível contribuiu para tornar a vida no campo uma empreitada precária, as ações humanas também causaram crises. A guerra atrapalhava o ciclo agrícola ou, mais gravemente, resultava na deliberada destruição de plantações [...] (ALCOCK, 2002, p. 51).
Isso posto, podemos concluir que a fome e a carestia devem ter sido uma ocorrência persistente na sociedade grega. Dependendo das forças particulares em jogo, esses episódios variavam em escala e gravidade, às vezes afetando famílias, às vezes comunidades, às vezes regiões inteiras da Grécia (ALCOCK, 2002, p. 64).
Em função disso,
Das utopias ao Autoritarismo
476
o abastecimento será a preocupação principal da maioria das cidades e, até uma época avançada, um bom número de conflitos deve-se a questões de fronteira, visando à conquista de terrenos suplementares ou ao controle de um ponto de água, ao passo que as situações de guerra civil estão sempre mais ou menos ligadas ao regime da propriedade fundiária (LÉFREVE, 2013, p. 41).
Reunidas, essas condições climáticas acabam por configurar o
quadro de um meio ambiente sombrio, propiciando uma vida dura e precária para os seus habitantes”, a qual fica muito distante da visão mais tradicional da sociedade grega, concentrada nos monumentos e nas realizações culturais (ALCOCK, 2002, p. 51).
Parafraseando Braudel, vemos que em momento algum de sua história, o Mediterrâneo “como mar e terra” foi um paraíso, como por vezes o supomos em função de seus peixes, vinhedos e olivais. Pelo contrário:
Ali foi preciso construir tudo, muitas vezes com mais dificuldades do que em qualquer outra parte. O arado de madeira consegue apenas arranhar o solo friável e sem espessura. Quando o furor das chuvas é excessivo, a terra móvel escorrega como água para o pé das encostas. A montanha corta o tráfego, ocupa espaço demais e limita as planícies e os campos, reduzidos muitas vezes a algumas faixas estreitas, a alguns punhados de terra. Um pouco além, começam os caminhos íngremes, difíceis para os pés dos homens e para as patas dos animais (BRAUDEL, 1988, p. 15).
O mar representou, nesses termos, oportunidade de vida para essas comunidades. Era fonte de alimentos, como já o assinalamos, era via de deslocamento, sinônimo de esperança àqueles que nele se aventuravam. Em função dessas preocupações com o abastecimento, as cidades gregas empreenderam, como vemos nos poemas homéricos, batalhas por terras, recursos minerais e hídricos, “também é aí que a grande aventura da colonização arcaica encontra sua principal motivação” (LEFÈVRE, 2013, p. 41). Mas tal empreitada
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
477
trouxe consigo um conjunto de representações sobre o espaço marítimo, em que o sagrado se fez presente. Ao mesmo tempo que era sinônimo de vida, o mar abrigava seres mitológicos dos mais variados. Por isso, consideremos que
a água é o elemento que possui distintas significações, quer no plano material (econômico e social), quer no plano imaginário (político e cultural), variando de sociedade para sociedade, nos diferentes contextos histórico-culturais.
A representação do mar na OdisseiaEm nossa análise da Odisseia buscamos destacar as
representações elaboradas por Homero acerca do mar e do conjunto de fatores (mágico-religiosos, climáticos e ambientais) a ele relacionados. Trata-se de uma perspectiva que, de um ponto de vista teórico-metodológico, encontra-se na esteira da história cultural, que tem como principal objetivo, “[...] identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social é construída, pensada, dada a ler”. Em face de tal orientação, “uma tarefa deste tipo supõe vários caminhos. O primeiro diz respeito às classificações, divisões e delimitações que organizam a apreensão do mundo social como categorias fundamentais de percepção e de apreciação do real” (CHARTIER, 2002, p. 16-17), nos levando a discutir as características acima apresentadas: o Mediterrâneo como forma da história, como mar e terra.
Tais elementos da espacialidade mediterrânea, associados a uma visão de mundo que tendeu a enxergar o sagrado e suas manifestações em todos os espaços e, em especial, nos naturais, fez com que o mar se tornasse uma instância hierática, despertando nos homens e mulheres que com ele estabeleceram alguma forma de contato, um sentimento de medo-respeito, de apreensão diante de sua grandeza. Tal sentimento encontra-se manifesto nos 24 Cantos que compõem a Odisseia, chamando nossa atenção o fato do poeta ter evocado o “mar cinza” sempre que uma personagem queria expressar sua apreensão e cautela diante das águas marinhas. Numa análise
Das utopias ao Autoritarismo
478
sobre a Ilíada, Soares (2016, p. 100), afirma que tal percepção do espaço marítimo se deu em função, da cor cinza lembrar ao homem grego, as tonalidades do mar quando afetado pelas tempestades de inverno, classificadas “como sendo devastadoras e, por sua vez, presentes no cotidiano das populações instaladas em torno do Mediterrâneo”.
Na abertura da Odisseia, o poeta conta o retorno dos gregos idos à Guerra de Tróia e nos fala sobre:
“[...] as muitas dores amargadas
no mar a fim de preservar o próprio alento
e volta aos sócios (Odisseia, C. I. v. 5-4).
Um mar de tormentas, mas que esteve presente nos principais feitos que os aedos, ao cantarem o seu mundo, quiseram destacar. Homero nos fala, portanto, de um “mundo grego” em que o mar faz parte do cotidiano. Em Fédon, Platão descreve tal relação numa passagem clássica, lembrada sempre que se deseja realçar o elo existente entre os gregos antigos e o espaço marítimo:
Ao depois, continuou, que também se trata de algo imensamente grande e que nós outros, moradores da região que vai do Fásis às Colunas da Hércules, ocupamos uma porção insignificante da terra, em torno do mar à feição de formigas e rãs na beira de um charco (Fédon, LVIII, 21-24).
Não precisemos avançar no tempo, chegando ao Período Clássico (época da escrita de Fédon), para perceber como esse espaço figurou na vida dos gregos. A Odisseia nos fornece, sobremaneira, os termos dessa relação. Quando desceu ao Ades e tendo consultado Tirésias, o vate, este último recomendou a Odisseu como agir caso quisesse retornar à Ítaca:
Na volta punirás os petulantes.
Exterminados no palácio os pretendentes
com armadilhas, cara a cara, a pique brônzeo,
empunha o remo exímio e parte, até alcançar
a terra em que os homens nada sabem do oceano,
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
479
tampouco têm por hábito salgar manjares,
não sabem a feição do barco rostipúrpuro,
nem manuseiam remos, asas dos navios (Od., C. XI. v. 120-125).
Nos versos acima transcritos, o conhecimento do homem grego acerca do mundo, seus valores e costumes, acompanha par a par o compartilhamento de saberes sobre o universo marítimo. Aqueles que não comungam de tais práticas integram, por consequência, um “outro” mundo, com o qual não se identificam, um universo “bárbaro”. Tal condição envolve, nesses termos, uma relação de identidade versus alteridade que se manifesta por meio conhecimento/domínio do espaço marítimo. Uma tal atitude em relação ao outro, sabemo-la, não envolve apenas a percepção sobre o espaço, isso porque “[...] a descoberta do outro tem vários graus, desde o outro como objeto, confundido com o mundo que o cerca, até o outro como sujeito, igual ao eu, mas diferente dele, com infinitas nuanças intermediárias” (TODOROV, 2014, p. 360). O espaço, como categoria analítica, atua na construção da alteridade grega, moldada pela forma como foi organizado: ao navegarem pelo Mediterrâneo, os gregos arcaicos o permearam de ritos mágicos, o tomaram como via de deslocamento e exploraram seu potencial como fonte de víveres, fazendo dele o “nosso mar”, dotando-o, portanto, de sentido. Em função disso, “o significado espacial é obtido através das práticas sociais” (NAVARRO, 2007, p. 12) expressas no culto às divindades marinhas e no temor diante das águas que deixam de ser, tão somente, um elemento físico, e passam a portar uma dimensão mágico-religiosa que implicou em um modo específico do homem grego arcaico interagir com o mar que não foi a mesma do Período Clássico e Helenístico, quando instrumental náutico encontrava-se mais desenvolvido. Em função disso, é que “no campo científico, a água é objeto da química, da geologia e da física — das chamadas ciências naturais —, como também o é das ciências humanas” (CUNHA, 2000, p. 16).
Como bem ressaltou Navarro (2007, p. 3), o espaço atua como “[...] uma dimensão existencial essencial do ser humano”. Para melhor entender a afirmativa, analisemos, primeiro, como Pearson
Das utopias ao Autoritarismo
480
e Richards (2005), se valendo de uma metáfora elaborada por Marx, relacionaram “construção do espaço” e “consciência humana”. Segundo considerou Marx (2013, p. 188):
Uma aranha executa operações semelhantes às do tecelão, e uma abelha envergonha muitos arquitetos com a estrutura de sua colmeia. Porém, o que desde o início distingue o pior arquiteto da melhor abelha é o fato de que o primeiro tem a colmeia em sua mente antes de construí-la com a cera.
O ser humano, não sendo o único animal a construir alguma coisa, projeta o que será construído (antes) em sua consciência. Desse modo, “as pessoas em todos os lugares agem em seu ambiente e estão cientes desse ambiente, praticamente e discursivamente” (PEARSON; RICHARDS, 2005, p. 2). Não sendo a consciência inerte, a ação humana interage com o meio, não é determinada por este. A assertiva dos autores não vale apenas para o ambiente construído, pois, “o que escolhemos da natureza para servir aos nossos propósitos, também chamamos de arquitetura” (PEARSON; RICHARDS, 2005, p. 2). Como os gregos experimentaram e representaram o ambiente natural, sobretudo o mar, é o que a Odisseia, num quadro mais amplo, nos permite compreender. Assim, a visão de mundo “[...] é construída dos elementos conspícuos do ambiente social e físico de um povo. Nas sociedades não tecnológicas [dentre as quais podemos incluir os gregos antigos], o ambiente físico é o teto protetor da natureza e sua miríade de conteúdos. Como meio de vida, a visão de mundo reflete os ritmos e as limitações do meio ambiente natural” (TUAN, 2012, p. 116).
O espaço marítimo experimentado pelos gregos antigos, foi alvo de várias representações, algumas já expostas: o mar como paisagem do medo, mas também como morada, padrão de civilidade, de modo que a atitude em relação a ele era ambivalente: “O mar tinha beleza e utilidade, mas era também uma força escura e assustadora” (TUAN, 2012, p. 171). Tais representações, ambivalentes em si mesmas, estiveram enraizadas num conjunto de práticas sociais próprias da Idade Homérica (compreendida como o período entre os
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
481
séculos X e VII a.C.), em que o mar, conforme afirmamos, serviu aos interesses ligados à subsistência dos povos gregos, cadentes de uma agriculta que lhes fornecesse alimentos em quantidade suficiente à sua subsistência. Dessa maneira, “[...] nem as inteligências nem as idéias [em relação ao mar] são desencarnadas” (CHARTIER, 1991, p. 180). Citando Marcel Mauss, Chartier (2002, p. 18), explica que “mesmo as representações colectivas mais elevadas só têm uma existência, isto é, só o são verdadeiramente a partir do momento em que comandam actos”. Homero, nesses termos, não falou de um mundo apartado da realidade social de um povo, pelo contrário, as representações elaboradas em seus poemas estiveram, a todo momento, em simbiose com o mar, os ventos, a terra, palco da vida concreta. Na avaliação de Vidal-Naquet (2002, p. 32), “existe efetivamente um mundo que, aso olhos de Homero, é um mundo real. O indício que denota a ‘realidade’ desse mundo é o fato de que os homens cultivam a terra e que esta produz trigo para fazer pão”.
Tomando de empréstimo os pressupostos teóricos da história cultural, podemos dizer que as representações e as práticas, conjuntamente, significam e constroem o mundo social. De maneira que na avaliação de Chartier (1991; 2002), uma tal história cultural nos permite articular três modalidades da relação com o mundo social:
em primeiro lugar, o trabalho de classificação e de delimitação que produz as configurações intelectuais múltiplas, através das quais a realidade é contraditoriamente construída pelos diferentes grupos; seguidamente, as práticas que visam fazer reconhecer uma identidade social, exibir uma maneira própria de estar no mundo, significar simbolicamente um estatuto e uma posição; por fim, as formas institucionalizadas e objectivadas graças às quais uns “representantes” (instâncias colectivas ou pessoas singulares) marcam de forma visível e perpetuada a existência do grupo, da classe ou da comunidade” (CHARTIER, 2002, p. 23).
Nos atemos, sem que isso implique numa desarticulação com as demais configurações apresentadas, à segunda, ou seja:
as práticas que visam fazer reconhecer uma identidade
Das utopias ao Autoritarismo
482
social, exibir uma maneira própria de estar no mundo, significar simbolicamente um estatuto e uma posição (CHARTIER, 2002, p. 23).
Dentre as características que fizemos menção ao longo deste texto, como sendo próprias do Período Arcaico, encontra-se o surgimento no “mundo grego” da edificação de templos dedicados exclusivamente ao culto à uma determinada divindade (BURKERT, 1993; BUXTON, 2000). Nos períodos que antecederam o século VIII a.C., os ritos e cultos eram realizados ou em santuários naturais ou, mais frequentemente, na Idade do Ferro (séc. XI a VIII a.C.), junto a estruturas mortuárias (SOUZA, 2010).
A religião grega, evidentemente, não é uma invenção do século VIII a.C., mas nesse contexto, os gregos haviam-na incorporado em todos os espaços pelos quais circulavam. Com o mar, conforme já destacamos, não foi diferente. Nele, os mais diversos serem marinhos se manifestaram: Oceano, Tétis, Anfitrite, Nereu e suas filhas, as Nereidas, Proteu, Cila e Caríbdis são, na Odisseia, as divindades secundárias mais recorrentes. Mas se por um lado figuram tantas deidades, não resta dúvida que o senhor dos mares à época de consolidação do poema fora Possêidon, identificado como o “monarca dos mares”, o “abala-terra”. O deus aparece recebendo culto em diversos momentos da narrativa e é, sobretudo, uma divindade temida pelos gregos que o viam associado às tempestades de inverno. Fora o responsável pela perseguição a Odisseu, reunindo as temíveis forças das águas e dos ventos e lançando toda sorte de azar sobre o herói.
Acerca de tal envolvimento com o sagrado, recordemos que ao analisar a obra de Rudolf Otto, Das Heilige (1917), Eliade (2013, p. 13 et seq.), considera a originalidade do autor ao descobrir “[...] o sentimento de pavor diante do sagrado, diante desse mysterium tremendum, dessa majestas que exala uma superioridade esmagadora de poder; encontra o temor religioso diante do mysterium fascinans” (ELIADE, 2013, p. 16). Tal sentimento esteve presente no “mundo grego” que Homero nos permite conhecer por intermédio de seus poemas. Possêidon é o exemplo, par excellense, de tal expressão
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
483
religiosa. Mas sem desconsiderar os aspectos suscitados por Otto, Eliade propõe outra grade de interpretação para pensar o fenômeno do sagrado. Busca entendê-lo “[...] em toda a sua complexidade, e não apenas no que ele comporta de irracional” (ELIADE, 2013, p. 16). Segundo o autor, “não é a relação entre os elementos não-racional e racional da religião [...]” que o interessa, “mas sim o sagrado na sua totalidade” (ELIADE, 2013, p. 17).
Os deuses comungam, na Odisseia, de todos os momentos da vida social dos homens, desde os mais corriqueiros em ambiente doméstico, como no preparo e consumo de alimentos, até aqueles mais elaborados, que demandavam o empenho de recursos difusos do oîkos, como foram as expedições marítimas. Dessa maneira, podemos afirmar que eles experimentaram, numa alusão à obra de Eliade, o “sagrado em sua totalidade”. Sob tal configuração, foram capazes de elaborar práticas em favor do reconhecimento de sua identidade social. Por isso, o templo emerge como símbolo máximo de expressão da vida religiosa, assim como a representação construída por Homero acerca do mar na condição de espaço de hierofanias. Vemos que “o homem toma conhecimento do sagrado porque este se manifesta, se mostra como algo absolutamente diferente do profano” (ELIADE, 2013, p. 17). É com o objetivo de explicar o ato da manifestação do sagrado, que o autor emprega o termo hierofania. Para Eliade,
este termo é cômodo, pois não implica nenhuma precisão suplementar: exprime apenas o que está implicado no seu conteúdo etimológico, a saber, que algo de sagrado se nos revela (ELIADE, 2013, p. 17).
O mar, ao comportar tais hierofanias fez com que a água fosse um elemento que “[...] está, assim, na natureza, e, a um só tempo, na cultura” (CUNHA, 2000, p. 16). Os gregos, possuindo uma vida religiosa em comum, moldaram sua identidade sob a ótica do sagrado, isso porque “a construção da identidade é tanto simbólica quanto social” (WOODWARD, 2014, p. 10) e essa “[...] está vinculada também a condições sociais e materiais” (WOODWARD, 2014, p. 14). O homem grego ao “marcar” a presença do sagrado pelos diversos espaços que ocupou, assumiu uma posição de sujeito que o
Das utopias ao Autoritarismo
484
revelou como sendo essencialmente religioso. Uma representação de si e do mundo sob a ótica do sagrado. Nesses termos, o mar atuou como um grande sistema simbólico e as representações sobre ele, das quais falamos ao elencar os exemplos extraídos da Odisseia, incluem práticas de significação
e os sistemas simbólicos por meio dos quais os significados são produzidos, posicionando-nos como sujeito. É por meio dos significados produzidos pelas representações que damos sentido à nossa experiência e àquilo que somos (WOODWARD, 2014, p. 17-18)
e, assim, o fizeram os gregos da Idade Homérica.
Referências:Documentação textual impressa:
HESÍODO. Os trabalhos e os dias. Edição, Tradução, Introdução e Notas de Alessandro Rolim de Moura. Curitiba: Segesta, 2012.
HOMER. The Odyssey. English translation by A. T. Murray. Cambridge: Harvard University Press; London: William Heinemann, 1924. v. 1 e 2.
HOMERO. Odisseia. Tradução Trajano Vieira. São Paulo: Editora 34, 2011.
PLATÃO. Fédon. Tradução Carlos Alberto Nunes. [S.I.: s.n.] [2000].
Bibliografia instrumental:
CHARTIER, R. O mundo como representação. Estudos Avançados, São Paulo, v. 5, n. 11, p. 173-191, 1991.
CHARTIER, R. A História cultural: entre práticas e representações. Algés: Difel, 2002.
GUARINELLO, N. L. Uma morfologia da história: as formas da História Antiga. Politeia: história e sociedade, Vitória da Conquista v. 3, n. 1, p. 41-61, 2003.
NAVARRO, A. G. Sobre el concepto de espacio. Revista do Museu de Arqueologia e Etnologia, São Paulo, v. 17, p. 3-21, 2007.
SAID, E. W. Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
485
TODOROV, T. A conquista da América: a questão do outro. São Paulo: Martins Fontes, 2014.
TUAN, Y. Topofilia: um estudo da percepção, atitudes e valores do meio ambiente. Londrina: Eduel, 2012.
WOODWARD, K. Identidade e diferença: uma introdução teórica e conceitual. In: SILVA, T. T. Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: Vozes, 2014, p. 7-72.
Obras gerais:
ALCOCK, S. E. O meio ambiente. In: CARTLEDGE, P. (Org.). História ilustrada da Grécia Antiga. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002, p. 51-68.
ALCOCK, S. Alphabet soup in the Mediterranean basin: the emergence of the Mediterranean serial. In: HARRIS, V. W (Ed.). Rethinking the Mediterranean. Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 314-338.
BRAUDEL, F. O espaço e a história no Mediterrâneo. São Paulo: Martins Fontes, 1988.
BURKERT, W. Religião grega na Época Clássica e Arcaica. Lisboa: Fundação Calouste Gunbenkian, 1993.
BUXTON, R. (Ed.). Oxford reading in greek religion. Oxford: Oxford University Press, 2000.
CUNHA, L. H. O. Significados múltiplos das águas. In: DIEGUES. A. C. (Org.). A imagem das águas. São Paulo: Hucitec, 2000, p. 15-26.
ELIADE, M. O sagrado e o profano: a essência das religiões. São Paulo: Martins Fontes, 2013.
HARRIS, V. W. The Mediterranean and the Ancient History. In: HARRIS, V. W (Ed.). Rethinking the Mediterranean. Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 1-44.
HERZFELD, M. Practical mediterraneanism: excuses for everything, from epistemology to eating. In: HARRIS, V. W (Ed.). Rethinking the Mediterranean. Oxford: Oxford University Press, 2005, p. 45-63.
HIRATA, E. F. V. A “espacialidade” do poder na Cidade Grega Antiga. Maracanan, Rio de Janeiro, v. 9, n. 9, p. 104-117, 2013.
HORDEN, P; PURCELL, N. The Corrupting sea: a study of Mediterranean history. Massachusetts: Blackwell, 2000.
Das utopias ao Autoritarismo
486
INTERNATIONAL HIDROGRAPHIC ORGANIZATION. Limits of oceans ad seas. Monaco: IHO, 2002.
LEFÈVRE. F. História do mundo grego antigo. São Paulo: Martins Fontes, 2013.
MARX, K. O capital: crítica da Economia Política. São Paulo: Boitempo, 2013. Livro 1.
MCGRAIL, S. Boats of the world: from the Stone Age to Medieval Times. New York: Oxford University Press, 2009.
PEARSON, P.; RICHARDS, C. Ordering the world: perceptions of architecture, space and time. In: PEARSON, P.; RICHARDS, C. (Eds.). Architecture and order: approaches to social space. New York: Routledge, 2005, p. 1-33.
PRYOR, J. H. The Geographical conditions of galley navigation in the Mediterranean. In: MORRISON, J.; GARDINER, R. (Eds.). Conway’s history of the ship: Age of the galley. London: Conway Maritime Press, 1995, p. 206-216.
SOARES, M. G. F. Possêidon e a representação do mar em “A Ilíada”, de Homero. Cadernos de Clio, Curitiba, v. 7, n. 1, p. 81-104, 2016.
SOUZA, C. D. As práticas mortuárias na região da Argólida entre os séculos XI e XVIII a.C. 2010. 391f. Tese (Doutorado em Arqueologia) - Programa de Pós-Graduação em Arqueologia, Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2010.
VAN ANDEL, T. H. Late quaternary sea-level changes and archaeology. Antiquity, Cambridge, v. 73, n. 241, p. 733-745, 1989.
VEYNE, Paul. O inventário das diferenças: história e sociologia. São Paulo: Brasiliense, 1983.
VIDAL-NAQUET, P. O mundo de Homero. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
487
Patrimônio e educação: a visita técnica e o estudo do meio a partir de uma abordagem
interdisciplinarRossana G. Britto1
Adriana N. Campos2
Se nossas vidas são dominadas pela busca da felicidade, talvez poucas atividades revelem tanto a respeito da dinâmica desse anseio – com toda a sua empolgação e seus paradoxos – quanto o ato de viajar.
Alain de Botton
Este artigo tem como objetivo principal a análise teórica e empírica da visita técnica3, enquanto estratégica educacional, em patrimônios culturais, reconhecidos ou não pelos órgãos públicos, em aulas de História em diferentes níveis de ensino.
1 Doutora em História Política pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Professora de História do Brasil na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), desde 2011. Pesquisadora do Laboratório de História das Interações Político-Institucionais (HISPOLIS/UFES).
2 Professora da rede municipal de Santos. Mestra em Arqueologia na área de Gestão de Patrimônio, pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo (USP). Atualmente trabalha no Departamento Pedagógico da Secretaria de Educação de Santos (SP).
3 No campo da Educação, as visitas técnicas no ensino superior podem configurar-se como estratégias alternativas para a inserção do estudante universitário nos problemas socioambientais nos quais estão inseridos. As visitas técnicas são experiências práticas que possibilitam o estudo da realidade através do deslocamento de alunos para ambientes fora de seu cotidiano (a sala de aula). Constituem momentos que permitem aos estudantes um reconhecimento do ambiente que lhes circunda e desta forma criar um senso crítico sobre ele. As viagens educacionais ou as visitas técnicas tiveram como precursor o pedagogo francês Celestin Freinet (1998), que considerava essas saídas a campo como fonte natural de aprendizagem em nossa família e na sociedade, ou seja, através do erro, da tentativa e da experiência (FREDERICO; NEIMAN; PEREIRA, 2011).
Das utopias ao Autoritarismo
488
O estudo do meio e a visita técnica propiciam o desenvolvimento de um olhar sobre a realidade que ultrapassa os dados visíveis, pois por meio da mediação de um professor, o aluno poderá observar características do modo de viver e perceber o que não está explícito. Olhar um espaço como um objeto investigativo é estar sensível ao fato de que ele sintetiza propostas e intervenções sociais, políticas, econômicas, culturais, tecnológicas e naturais, de diferentes épocas, no diálogo entre os tempos, partindo do presente. É, também, desconstruir a visão espontânea do local, impregnada de ideias, ideologias, teorias científicas e mitos não conscientes, da cultura contemporânea, tendo a oportunidade de reconstruir a interpretação do mundo, encarando-o de modo novo. Nesse sentido, até os espaços escolares e familiares podem ser escolhidos como objetos de estudo do meio. Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s):
É no local, conhecendo pessoalmente casas, ruas, obras de arte, campos cultivados, aglomerações urbanas, conversando com os moradores das cidades ou do campo, que os alunos se sensibilizam, também, para as fontes de pesquisa histórica, isto é, para os “materiais” sobre os quais os especialistas se debruçam para interpretar como seria a vida em outros tempos, como se dão as relações entre os homens na sociedade de hoje ou como são organizados os espaços urbanos ou rurais. O estudo do meio é, então, um recurso pedagógico privilegiado, já que possibilita aos estudantes adquirirem, progressivamente, o olhar indagador sobre o mundo de que fazem parte (BRASIL, 1998, p. 89).
Porém, visitas técnicas e estudos do meio às cidades históricas4 têm sido uma ação permanente na área da educação e turismo. Esta experiência realizada com fins pedagógicos ou turísticos demonstram problemáticas cada vez mais contundentes em relação à construção de cidades - espetáculo pelas quais passam pelo processo de museificação e são conservadas ou inventadas com o intuito de representar um passado.
4 A paisagem urbana de Ouro Preto (MG) foi a primeira cidade brasileira a ser tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) em 1938. O IPHAN foi precedido pelo Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) criado em 13 de janeiro de 1937.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
489
Tal fato, pode ser exemplificado em cidades como Paraty (Rio de Janeiro), Tiradentes e Ouro Preto (Minas Gerais) ou em cidades cinematográficas, como por exemplo, Gramado (Rio Grande do Sul) e Blumenau (Santa Catarina). Há ainda as cidades revitalizadas ou até reconstruídas, caso da cidade de Santos, localizada no estado de São Paulo, onde é possível perceber o uso das representações arquitetônicas, que demonstram diferentes temporalidades que vão desde a ocupação dos sambaquieiros, perpassando pela ocupação portuguesa chegando ao presente com marcas visíveis e invisíveis de diferentes períodos da nossa história. Na grande maioria, a imagem da cidade que é refletida ou que se procura retratar busca valorizar o patrimônio material, em especial o de pedra e cal, estimando uma herança europeia idealizada. Essa tendência também pode ser sentida e vivenciada em cidades da América Latina, como por exemplo, a cidade de Montevidéu e Colônia do Sacramento, no Uruguai.
Segundo Pierre Jeudy (2005), a transformação de centros históricos urbanos em objetos de conservação patrimonial museificados, tão em voga a partir dos anos noventa no Brasil, tiveram como mola impulsionadora o turismo como atividade econômica capaz de gerenciar e injetar recursos capazes de promover essa revitalização.
O que o autor critica nesse processo é a exacerbação da estética urbana que transforma a cultura em objeto que dá origem a produtos globalizados. Nesse sentido, segundo o autor
o mundo deve se tornar um grande museu para que a identidade, a etnicidade, a alteridade não sejam mais do que rótulos, e que a invocação destas últimas sirva sobretudo para o comércio turístico mundial (JEUDY, 2005, p. 42).
Mas como utilizar as visitas técnicas e estudos do meio como formas de refletir sobre o patrimônio e ir além do senso comum? É possível realizar visitas técnicas e propor novas interpretações do lugar e buscar a construção de conhecimentos? A experiência na realização de processos educativos sobre patrimônio cultural requer pensar no desenvolvimento do conceito de patrimônio e como, ao longo do
Das utopias ao Autoritarismo
490
tempo, inúmeros significados foram construídos. Quando falamos em patrimônio é comum associarmos a palavra ao conjunto de bens de uma família, ao valor monetário dos bens materiais, ou ainda ao patrimônio histórico composto pelos bens arquitetônicos de um lugar. De uma forma ampla, ao percebermos a preocupação dos governantes em preservar os bens ao longo da nossa história, deparamo-nos com os grandes monumentos, representativos de uma determinada classe social. Isso é demonstrado pela primeira carta patrimonial, a carta de Atenas de 1931 que valorizava a preservação de grandes edifícios e grandes monumentos com “valor histórico e artístico”, com ênfase no patrimônio nacional, levando em consideração que a carta surgiu em um contexto entre guerras e sob o impulso do nacionalismo (FUNARI; PELEGRINI, 2006, p. 22).
Contudo, a concepção atual é muito mais abrangente. Considera-se patrimônio tudo o que é criado pela natureza ou pelo ser humano e que é de interesse da sociedade manter preservado devido ao seu significado ou valor, seja histórico, artístico, paisagístico, arqueológico, ecológico ou por representar os costumes ou conhecimentos de um povo (LIMA, 2007 p. 51). Segundo Cavanaghi, patrimônio cultural pode ser definido como:
uma atração e ao mesmo tempo um produtor de memórias do grupo que o edificou e o preserva. Ele continua existindo porque há, em sua interpretação e em sua ressignificação constantes, o modelo ideal no qual as forças sociais hegemônicas se mantêm na lembrança daqueles que os visitam ou participam de eventos ligados a sua manifestação, tal qual uma festa tradicional na qual o patrimônio cultural intangível é o elemento de atratividade. Nesse momento da visita, a história manifesta-se e concretiza as relações sociais entre os indivíduos (CAVANAGHI, 2013, p. 174).
Assim, de uma certa forma, ao longo dos anos, o uso do patrimônio, material ou imaterial, por meio de representações para uma determinada classe e demais manifestações culturais de um povo, sempre estiveram presentes nas escolas e universidades brasileiras, seja por meio de visitas a museus, a centros históricos ou em materiais pedagógicos. Nesse sentido, a educação patrimonial pode ser
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
491
compreendida a partir de duas nuances, de uma visão tradicional, que reforça uma história linear positivista e, nesse caso, os patrimônios escolhidos para representar essa sociedade são portadores dessa visão e reforçam ou ilustram verdades, ou uma visão construtivista, que apregoa uma história composta de múltiplas abordagens e feita por diferentes sujeitos históricos.
Estudo de caso: experiências em Ouro PretoOuro Preto em Mina Gerais é umas das cidades históricas
do Brasil mais visitadas no mundo. Tanto por turistas e curiosos quanto por estudantes dos mais diversos níveis educacionais. A cidade de Ouro Preto, nascida nos fins do século XVII, ainda hoje conserva identidade e singularidade capazes de proporcionar fruição estética peculiar de resgate da memória e do alheamento da cotidianidade.
Cidades-labirinto, como Ouro Preto, não foram inicialmente planejadas segundo um sistema de medição, como ocorre nos projetos das cidades modernas, mas são ao mesmo tempo arquitetura e paisagem, onde monumentos, edificações, becos e ruas estão inseridos nas montanhas...onde a única continuidade é realizada por intermédio da mediação do olhar (PEREIRA, 2011, p. 12).
A cidade de Ouro Preto tem a estética do labirinto. O que seria a estética do labirinto? Cidade cravada no alto, cidade colonial com aclives e declives em pedra moleque. Cidade labiríntica que atiça a curiosidade da descoberta. Andar por estas ruas centenárias, foi para os alunos da graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo a experimentação do ofício em espaços abertos, fora das salas de aula.
Em Ouro Preto, a ocupação das serras e a fixação dos povoados próximos aos córregos, rios e encostas dos montes em decorrência da busca incessante pelo ouro e pedras preciosas, somadas às contingências dos períodos de construção da cidade, deu origem às ruas tortuosas e ladeiras íngremes que se acomodavam à configuração original do sítio. O crescimento do organismo urbano por
Das utopias ao Autoritarismo
492
meio da somatória de novas casas, na forma de mônadas erguidas em vizinhança, deu origem a uma continuidade de fachadas determinantes dos arruamentos de forma semelhante ao que pode ser observado nas cidades medievais europeias (PEREIRA, 2011, p. 11).
Foi uma organização dramática do espaço em busca do ouro! Labirinto que esconde a visão exterior dos que a visitam, que ficam imersos no universo de sua história colonial. As ruas de Ouro Preto absorvem os seus visitantes de tal forma, que uma “volta ao passado” torna-se certa através de uma vivência sensível. As visitas técnicas familiarizam os alunos com os conteúdos estudados de uma maneira agradável e lúdica. As visitas realizadas às cidades que são patrimônio histórico promovem a educação patrimonial tão cara nos dias de hoje com tantas depredações de monumentos e descaso político. É uma ação educativa com atribuição de responsabilidades para cada integrante da tarefa.
Visitas técnicas demandam as seguintes ações de seus integrantes, coordenadas pelos docentes que buscam desenvolver conhecimentos e habilidades relevantes para construção do saber histórico: observação; descrição; pesquisa; registro; documentação; representação; análise; comparação e síntese.
O lúdico e o criativo são elementos constituintes do homem que conduzem o viver para formas mais plenas de realização; são, portanto, indispensáveis para uma vida criativa e saudável, do ponto de vista da auto-afirmação do homem como sujeito, ser único, singular, mas que prescinde dos outros homens para se realizar, como ser social e cultural, formas imanentes à vida humana. A ludicidade é colocada em lugares periféricos da existência humana, enquanto o ideal das sociedades contemporâneas é gerar produtos e resultados (FERREIRA, 2004, p. 10).
No contexto capitalista, a produtividade e o lucro ocupam o primeiro lugar na vida social. Atitudes lúdicas e valores espirituais como criatividade, sensibilidade, humor, idealismo, altruísmo, solidariedade, senso estético são colocados em planos secundários, gerando resultados desastrosos para a vivência individual e coletiva
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
493
atualmente. Viajar com grupos de estudantes coordenados por professores e monitores constitui uma experiência ambígua pedagogicamente. São momentos únicos em que professores e alunos se encontram sem a cobrança da sala de aula e das rotinas escolares ou acadêmicas.
Os alunos de História – da disciplina História do Brasil Colonial do segundo semestre de 2014, experimentaram a organização da atividade em todo o seu planejamento logístico (Locação do ônibus, reserva do “hostel”, contratação de um guia local, etc).
Entre os dias 13 e 16 de junho de 2014, a visita técnica a histórica cidade de Ouro Preto em Minas Gerais concretizou-se. Os alunos e os professores em um processo de aprendizagem intenso, com visitas guiadas a museus, a centros culturais e às igrejas. A presença dos alunos em espaços culturais, desperta a atenção dos turistas. Não são turistas em viagens de férias. São sujeitos em processo de aprendizagem e de investigação científica. Uma atividade como esta, deste porte, constitui uma prática pedagógica com início, meio e fim. O início é o planejamento; o meio é a concretização do evento e o fim é constituído pelas atividades avaliativas que ressaltam a criatividade e não a memorização
As igrejas e o barroco são as estrelas da apresentação do guia oficial, assim como a história didática e linear da Inconfidência Mineira que permeia o discurso do guia local. Narrativa enaltecedora dos inconfidentes com pouca inserção nos contextos específicos da Vila Rica insurgente e descontente com a tributação pesada da Coroa Portuguesa (MAXWELL, 2009).
O interessante desta experiência, justamente é a possibilidade de confrontar a história oficial (contada faz tantos anos e até séculos) com as novas pesquisas sobre a cidade colonial de Ouro Preto das suas origens à Inconfidência (1788-1789). Este exercício de confronto entre as narrativas – narrativa oficial e narrativa acadêmica - é um dos fios condutores para as atividades avaliativas em sala de aula.
No retorno desta viagem, os alunos realizaram apresentações em power point com as fotografias acompanhadas de textos explicativos
Das utopias ao Autoritarismo
494
sobre a experiência na cidade, confrontando a visão historiográfica oficial com as mais recentes pesquisas sobre a cidade e sua história. (FURTADO, 2001). As fotografias também foram disponibilizadas em uma página na rede social Facebook denominada Viajando com Brasil Colonial.5 Nestas apresentações, uma experiência mais intimista e de devaneio poético em relação à cidade foi demonstrada pelos alunos pesquisadores que apresentaram detalhes de paisagens naturais, ruas de pedra, igrejas e oratórios. É relevante ressaltar os pontos favoráveis da visita. Um deles, é a preservação do patrimônio natural, arqueológico e histórico. Os alunos aprendem esta atitude e comportamento. E mais do que isso, desenvolvem a sensibilidade histórica tão importante nos dias de hoje. Como diz o filósofo: “O devaneio nos põe em estado de alma nascente” (BACHELARD, 1993, p. 06).
Estudo de caso: experiências em SantosA cidade de Santos, localizada no litoral do estado de São
Paulo, proporciona muitas possibilidades para realização de estudos do meio valendo-se da cidade como espaço educativo, pois preserva um número significativo de patrimônios referentes ao seu período colonial, imperial e republicano.
Fundada em 1545 pelo português Brás Cubas, trazido para o Brasil na esquadra de Martim Afonso de Souza em 1532, Santos nasceu entre o Monte Serrat e o Outeiro de Santa Catarina como um pequeno porto e é uma das cidades mais antigas do país devido à sua importância na formação dos primeiros assentamentos portugueses no século XVI, juntamente com o município de São Vicente, primeira unidade política implantada pelos portugueses em sua colônia.
O Centro Histórico atual mantém o traçado original colonial de muitas de suas ruas e vielas, pois, até a primeira década do século XX, Santos conservava ainda todo o seu antigo aspecto
5 Viajando com Brasil Colonial é um projeto desenvolvido por Professores do Dep. de História da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) coordenado pela Profa. Dra. Rossana G. Britto desde 2012.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
495
colonial, mantendo suas ruas estreitas, poucos sobrados, casas baixas e largos beirais (LANNA, 1996, p. 39). Contudo, a cidade estava se transformando, crescendo a sua população, surgindo novos costumes, mudando o seu traçado urbanístico.
O fato de ter preservado muito de suas características coloniais pode ser elucidado pelo fator econômico, já que a cidade só irá sofrer grandes transformações urbanísticas somente na passagem do século XIX para o XX. Será com o advento da cultura do café no planalto paulista e pela modernização do porto, como principal escoadouro da produção brasileira, que Santos irá reafirmar a sua função portuária e comercial que permanece até hoje.
Contudo, apesar das transformações decorrentes do café e da materialização de visões de civilização, a cidade hoje reafirma a sua identidade enquanto cidade histórica e turística, percebida pela revitalização do Centro Histórico6 e do bonde turístico como marca oficial da cidade.
A realização de roteiro histórico no Centro da cidade iniciou-se em 1963, com a professora da Universidade Católica de Santos, Dra. Wilma Therezinha7 que sempre valeu-se da paisagem histórica e natural como estratégia para suas aulas de História.
A realização dos estudos do meio, em especial para alunos de escola pública em Santos, organizado pela Secretaria de Educação, realiza um roteiro capaz de abordar a história colonial do município desde a sua fundação, com a chegada dos portugueses, contemplando as transformações urbanas até os dias atuais, sem contudo, deixar de lado, o conhecimento arqueológico que foi gerado ao longos dos anos sobre os assentamentos pré-históricos e indígenas na região, assim como as construções erigidas pelos colonizadores que não fazem
6 Instituído pela lei complementar nº 470/2003, o Alegra Centro é formado por uma série de ações voltadas ao crescimento econômico e social do Centro Histórico, repercutindo em toda a cidade. O projeto apoia a instalação de empreendimentos em imóveis históricos voltados ao comércio, prestação de serviços, entretenimento e turismo. Empresários recebem incentivos fiscais com a restauração dessas edificações.
7 Disponível em: <http://www.unisantos.br/upload/menu3niveis_1370894618425_af_10_13.pdf>. Acesso em: 26 set. 2016.
Das utopias ao Autoritarismo
496
mais parte da paisagem urbana atual. Para tal, optou-se por analisar a história de Santos a partir de uma visão interdisciplinar, onde são abordados diferentes aspectos da nossa história, a partir dos conceitos básicos da disciplina tais como tempo, fato e sujeito histórico, e dos processos de transformações e permanências.
Os roteiros acercam-se dos suportes materiais tais como os edifícios e monumentos tombados existentes no Centro Histórico, além de mapas e fotografias antigas objetivando vislumbrar o passado da cidade pelos olhos do presente, a fim de que nossos alunos sintam-se parte de um lugar e de uma paisagem que está em profunda transformação.
Referências Bibliográficas:BACHELARD, Gaston. A Poética do Espaço. São Paulo: M. Fontes, 1993.
BOTTON, Alain de. A arte de viajar. Rio de Janeiro: Rocco, 2003.
BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros Curriculares Nacionais: terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental: introdução aos parâmetros curriculares nacionais / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília: MEC, 1998. 174p.
CAVANAGHI, Airton José. Turismo, hospitalidade e Ensino de História. In: SILVA, Marcos (Org). História, que ensino é esse? Campinas: Papirus, 2013, p. 173-183.
FERREIRA, A. F. et al. O lúdico nos adultos: um estudo exploratório nos frequentadores do CEPE - Natal/RN. HOLOS, Natal, ano 20, p. 1-7, out. 2004.
FREDERICO, Isabela Barbosa; NEIMAN, Zysman; PEREIRA, Júlio César. A Educação Ambiental através das visitas técnicas no Ensino Superior: Estudo de caso. Educação Ambiental em ação, n. 38, ano X, Não paginado, dez. 2011. Disponível em: <http://revistaea.org/artigo.php?idartigo=1123>. Acesso em: 29 set. 2016.
FREINET, C. Ensaios de Psicologia sensível. São Paulo: M. Fontes, 1998.
FURTADO, J. P. Uma república entre dois mundos: Inconfidência Mineira, historiografia e temporalidade. Revista Brasileira de História, São Paulo, v. 21, n. 42, p. 343-363, 2001. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
497
php?script=sci_arttext&pid=S0102-01882001000300005>. Acesso em: 20 de out. de 2018.
FUNARI, P. P. A.; PELEGRINI, S. Patrimônio Histórico e Cultural. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.
LANNA, Ana Lúcia Duarte. Uma cidade na transição: Santos 1870-1913. São Paulo: Hucitec, 1996.
JEUDY, Pierre. O espelho das cidades. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2005.
MAXWELL, K. A Devassa da Devassa. São Paulo: Paz e Terra, 2009.
PEREIRA, Larissa de Souza. Ouro Preto e a Estética do Labirinto. 2011. 101 f. Dissertação (Mestrado em Urbanismo) – Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, 2011.
AnexosSobre o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional:8
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Cultura que responde pela preservação do Patrimônio Cultural Brasileiro. Cabe ao Iphan proteger e promover os bens culturais do País, assegurando sua permanência e usufruto para as gerações presentes e futuras.
O Iphan possui 27 Superintendências (uma em cada Unidade Federativa); 28 Escritórios Técnicos, a maioria deles localizados em cidades que são conjuntos urbanos tombados, as chamadas Cidades Históricas; e, ainda, cinco Unidades Especiais, sendo quatro delas no Rio de Janeiro: Centro Lucio Costa, Sítio Roberto Burle Marx, Paço Imperial e Centro Nacional do Folclore e Cultura Popular; e, uma em Brasília, o Centro Nacional de Arqueologia.
O Iphan também responde pela conservação, salvaguarda e monitoramento dos bens culturais brasileiros inscritos na Lista do Patrimônio Mundial e na Lista o Patrimônio Cultural Imaterial da
8 Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/29>. Acesso em: 4 nov. 18.
Das utopias ao Autoritarismo
498
Humanidade, conforme convenções da Unesco, respectivamente, a Convenção do Patrimônio Mundial de 1972 e a Convenção do Patrimônio Cultural Imaterial de 2003.
Histórico – Desde a criação do Instituto, em 13 de janeiro de 1937, por meio da Lei nº 378, assinada pelo então presidente Getúlio Vargas, os conceitos que orientam a atuação do Instituto têm evoluído, mantendo sempre relação com os marcos legais. A Constituição Brasileira de 1988, em seu artigo 216, define o patrimônio cultural como formas de expressão, modos de criar, fazer e viver. Também são assim reconhecidas as criações científicas, artísticas e tecnológicas; as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-culturais; e, ainda, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico.
Nos artigos 215 e 216, a Constituição reconhece a existência de bens culturais de natureza material e imaterial, além de estabelecer as formas de preservação desse patrimônio: o registro, o inventário e tombamento.
Patrimônio Mundial segundo a lista o IPHAN:
Patrimônio Mundial Cultural:
• Brasília (DF);
• Cais do Valongo - Rio de Janeiro (RJ);
• Centro Histórico de Goiás (GO);
• Centro Histórico de Diamantina (MG);
• Centro Histórico de Ouro Preto (MG);
• Centro Histórico de Olinda (PE);
• Centro Histórico de São Luís (MA);
• Centro Histórico de Salvador (BA);
• Conjunto Moderno da Pampulha - Belo Horizonte (MG);
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
499
• Missões Jesuíticas Guaranis - no Brasil, ruínas de São Miguel das Missões (RS);
• Parque Nacional Serra da Capivara (PI);
• Praça São Francisco, em São Cristóvão (SE);
• Rio de Janeiro, paisagens cariocas entre a montanha e o mar (RJ);
• Santuário do Bom Jesus de Matozinhos - Congonhas (MG);
Patrimônio Mundial Natural:
• Complexo de Áreas Protegidas do Pantanal (MT/MS);
• Complexo de Conservação da Amazônia Central (AM);
• Costa do Descobrimento: Reservas da Mata Atlântica (BA/ES);
• Ilhas Atlânticas: Fernando de Noronha e Atol das Rocas (PE/RN);
• Parque Nacional do Iguaçu (PR);
• Reservas da Mata Atlântica (PR/SP);
• Reservas do Cerrado: Parques Nacionais da Chapada dos Veadeiros e das Emas (GO).
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
501
O testemunho presente na ata das mártires africanas Perpétua e Felicidade e seu uso no ensino
de história da ÁfricaCamila Fagundes Ribeiro 1
IntroduçãoSabemos que a Lei 10.639 estabeleceu novas diretrizes e
bases para a educação nacional, incluindo no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “história e cultura afro-brasileira”, e que desde então profissionais da educação e editoras de manuais didáticos vêm enfrentando desafios de promover novas abordagens e métodos para o tratamento do conteúdo da história africana. Em especial, os especialistas da área da história antiga se deparam com a problemática de reconectar a antiguidade africana à história do mundo ocidental e percorrer novamente os caminhos das relações políticas e trocas culturais mediterrânicas. É um processo de desconstrução da imagem de uma História da África isolada, descolada e desconectada da história do mundo ocidental.
O artigo 26 previa que esses conteúdos seriam ministrados nas escolas de ensino fundamental e médio, públicas e particulares, e sendo a temática que aborde os conteúdos da cultura e história afro-brasileira, o “estudo da História da África e dos Africanos” também deve estar incluída. Essa premissa tem como objetivo o resgate histórico da contribuição dos negros na formação da sociedade brasileira. A partir disso, por meio do ensino de história e cultura afro-brasileiras, poderíamos estimular e promover uma alteração positiva na realidade vivenciada pela população negra. É um currículo que pretende estimular a formação de valores, hábitos e comportamentos que respeitem as diferenças e as características próprias de grupos e minorias; a valorização da história, cultura e identidade da população afrodescendente, combatendo o racismo e a discriminação e formando
1 Aluna mestranda da Universidade Federal do Espírito Santo. Centro de Ciências Humanas e Naturais. Programa de pós-Graduação em História (PPGHIS).
Das utopias ao Autoritarismo
502
cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial (SOUZA NETO, 2015, p. 425).
É pensar em novas formas de articular passado, presente e futuro para um ensino de História da África tratada em perspectiva positiva, não só de denúncia da miséria e discriminações. O ensino de História da África deve estar integrado aos temas a ela relacionados. O que defendemos é que a história africana deve estar presente em sala de aula desde a Idade Antiga explorando as relações entre as diversas sociedades, superando uma narrativa de viés eurocêntrico (SOUZA NETO, 2015, p. 426-427).
O uso de documentos clássicos pode nos ajudar a atingir essa integração da História Antiga e História da África. A Ata de martírio de Perpétua e Felicidade é documentação riquíssima e seu uso pode contribuir para a revalorização da antiguidade africana, dentro de um contexto de pluralidade cultural do império romano. Além de servir como importante fonte sobre o ato do martírio cristão antigo, é um documento que se caracteriza por conter elementos que possibilitam tratar sobre a história das mulheres e trabalhar com estudos das relações de gênero na sociabilidade da cidade de Cartago no século III d. C.
Sobre a pluralidade religiosa romana em CartagoExistia em Cartago, no século III d. C., um contexto de
pluralidade religiosa que não pode ser omitido, mesmo que esse pluralismo seja um aspecto esperado, vale ressaltar que as formas de expressões religiosas também foram variadas, em menor ou maior grau, em diferentes partes do mundo romano. Não existe um quadro único e geral que possa responder ou definir a complexidade das experiências religiosas no império (ORTERO, 2017, p. 99). Outro ponto importante é destacar que a difusão dos novos cultos greco-orientais, os chamados cultos “de mistério”, não causou um declínio da experiência religiosa romana, paganismo2, e a própria ideia de
2 Um sistema de práticas e cultos, com uma ampla e singular estrutura fomentada também por regras estabelecidas no direito – ius fas. (OTERO, 2017, p. 98).
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
503
crise desse sistema religioso é um mito historiográfico, “o sistema religioso ia bem e a crença dos deuses igualmente continuava a determinar tudo, sobretudo em período de crise” (SCHEID, 1997, p.135). Os novos cultos orientais assim como os movimentos cristãos apenas acrescentaram novas formas e experiências religiosas.
O sistema religioso tradicional romano possui um caráter público, que significa priorizar as práticas tradicionais e os cultos, além de alguns outros que foram adicionados aos cultos ancestrais, no espaço coletivo ou cívico. Esse elemento é de extrema importância ao pensar sobre os impactos das práticas de martírio sobre sociedade romana, tanto do ponto de vista da população comum, quanto às autoridades e representantes imperiais.
As perseguições a esses mártires cristãos expressam uma atitude de confronto entre a religiosidade do Império Romano e a fé dos cristãos, que professavam e defendiam a sua fé em oposição à concepção religiosa romana. Na África, especialmente após o II século d.C., esta perseguição se amplia gradativamente na proporção que o confronto se declara. Logo, o martírio teve uma participação importante na formação e desenvolvimento do cristianismo africano.
Existe uma literatura bastante significativa sobre as práticas de martírio cristão norte africano, em especial nos séculos II e III d. C., expressa em três gêneros diferentes, os atos, as legendas e as paixões. As paixões são relatos que acompanham os últimos dias de vida de um mártir. As atas se caracterizam por serem documentações que relatam decisões de caráter judiciário, então trazem as acusações feitas e as justificativas da condenação. E a legenda é um gênero que possui muitos elementos fantasiosos. Esses documentos demonstram a preocupação que existia, por parte dos movimentos cristãos, em registrar e descrever para variados públicos sobre as ações e atitudes dessas pessoas excepcionais, esses mártires, que declararam seu credo publicamente, e levaram essa confissão de fé até as últimas consequências. Esses indivíduos servem como exemplo e modelo de comportamento cristão para aqueles que se negavam a professar em público um credo religioso, não apenas diferente, mas que entrasse em conflito com o credo oficial do império (SIQUEIRA, 2006, p. 60).
Das utopias ao Autoritarismo
504
Essa literatura martirológica descreve uma riqueza e diversidade dos movimentos cristãos no mundo romano, e traz também a reação dos não cristãos à difusão dessas novas práticas de confissão de fé em expansão por todo o mediterrâneo. E por meio de documentações como a Ata de Perpétua e Felicidade podemos alcançar a participação de indivíduos de diferentes categorias sociais e de gênero: ricos, pobres, matronas, escravos e escravas atuando como protagonistas numa narrativa que reafirma uma e outra vez sua crença diante todos, das autoridades imperiais e da população em geral, mesmo que provoque uma desordem, uma ruptura no status quo da sociedade romana, que tinha uma maneira bem particular de tratar os credos e o mundo sobrenatural. Vide a importância dada a Pax Deorum, e a preocupação em manter esse estado de harmonia e equilíbrio, de manter esse contrato com o divino, e a observância dos ritos e cultos é imprescindível na manutenção dessa ordem.
A palavra martyr, literalmente, significa testemunho, o termo passou a designar, a partir de meados do século II d. C., sobretudo para as comunidades cristãs, aqueles indivíduos, tanto homens quanto mulheres, que morriam e sofriam em nome de sua opção religiosa (SIQUEIRA, 2006, p. 61). A palavra martyr é uma palavra grega, que significa testemunha, e martureo, testemunho. Este último, necessariamente, precedia a morte. Para Erin-Ann Ronsse a própria palavra “mártir” já indicava um caráter normativo. O mártir, testemunha de algo, era alguém respeitável socialmente e com alguma autoridade. Então, os cristãos confessores, sentenciados pela morte, executados, transformados em mártires pelas suas comunidades e pelas práticas discursivas, já estavam inseridos em contextos retóricos do mundo greco-romano. Ao recusarem a prática do culto ao genius do imperador quebravam a Pax Romanorum e a Pax Deorum. O martírio encerrava em si uma grande problemática para o império, que normalmente dialogava bem com essa pluralidade religiosa (ORTERO, 2017, p. 29).
As pessoas que confessavam sua fé, que não aceitavam praticar sacrifícios às deidades romanas, eram submetidas a sanções e castigos previstos na lei, e a última consequência e condenação
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
505
mais dura era a sentença de morte. Essas pessoas eram condenadas a uma morte exemplar, que aplacasse a ira e cólera dos deuses, reestabelecendo a ordem social e harmonizando as relações entre homens e deuses, e também servia como exemplo e provocar medo em todo aquele que pensasse em ferir esse estado de equilíbrio.
Até o fim do século I d. C., a atitude primeira das autoridades romanas quanto aos mártires era desencorajar as confissões. Segundo Siqueira (2006), ao final do governo de Marco Aurélio, já podemos perceber evidências de uma irritação substancial por parte da população não cristã. Em El apologético, Tertuliano (1997) relata pichações nas paredes que pretendiam desqualificar e estigmatizar os cristãos, com acusações que envolviam temas tabus como canibalismo e incesto, sempre os acusando pela ira dos deuses e por conseguinte pelos desastres naturais que eram lidos como consequência desse desequilíbrio nas relações entre os homens e o mundo sobrenatural. Ao final do século II d. C., novas ações são adotadas pelas autoridades imperiais para lidar com esses atos de martírio e afins. Principalmente durante a dinastia dos Severos, as acusações de ateísmo e oposição às divindades protetoras do império são respondidas com ações de natureza mais violenta, em especial sobre aqueles que se recusavam a efetuar qualquer tipo de ato ou rito religioso exigido pelas autoridades imperiais e religiosas romanas.
O palco para os espetáculos das mortes desses indivíduos transgressores eram os anfiteatros, com a capacidade de abrigar uma imensa plateia assistia e acompanhava a execução desses homens e mulheres que se negaram a abraçar e reconhecer os ritos e cultos do sistema religioso oficial do Império.
Socialmente, o reforço simbólico interagia em ambas as partes: entre aqueles que se divertiam e sentiam em seu interior a morte como compensação da desobediência e do risco da ira dos deuses e, publicamente na arena, entre aqueles que repudiavam o medo aos deuses e acreditavam que seguir o exemplo da morte de Jesus Cristo era o caminho para a vida eterna (SIQUEIRA, 2006, p. 62).
Apesar de constituírem um grupo socio politicamente
Das utopias ao Autoritarismo
506
minoritário, esses mártires cristãos desafiaram as normas e a ordem vigentes. Devemos salientar que as condenações não foram um processo generalizado e contínuo, mas não deixou de provocar um incômodo na população não cristã que via na prática do martírio um perigo que precisava ser neutralizado.
O martírio representa inúmeras considerações, em especial, ele serve como um reforço do referencial simbólico cristão, porque está expressa no martírio a ideia de reviver a morte de Jesus, de reproduzir uma narrativa sagrada que concede dons e santificação. As reações populares, a estigmatização, a resposta e a violência do poder imperial, só reforçava a narrativa martirológica, quanto maior o desafio, maiores também são a graça e os dons desses indivíduos que se fazem enfrentadores de uma ordem, e confessores de uma fé (SIQUEIRA, 2006, p. 64).
Tendo em mente que a narrativa desses relatos tem objetivo primeiro de enaltecer uma categoria de cristãos excepcionais, que foram perseguidos por confessarem seu credo, não podemos esquecer o intuito da construção textual de servir como exemplo para toda a comunidade cristã, de elaborar imagens e modelos de conduta, associando e revivendo fortes referências simbólicas cristãs e também símbolos de poder e força que eram comum a toda a sociedade romana.
Os mártires configuram-se numa categoria de santificação especial, recebem dons e autoridade que os diferem dos bispos, das virgens ou monges ascetas. Segundo Le Goff (2003), pouco a pouco foram se tornando objeto de culto popular entre as comunidades cristãs.
O nosso artigo se concentra nas narrativas do martírio das personagens Perpétua e Felicidade que morreram condenadas ao suplício ad bestias, um castigo penoso e com intenções humilhantes. O documento serve para a construção de um arquétipo de mártir e é um interessantíssimo material que registra duas figuras femininas do século III d. C. exaltadas por muito tempo na tradição cristã, inclusive foram alvos de dois salmos escritos por Agostinho de Hipona. Pensamos que o uso de documentações clássicas, como o
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
507
caso da Ata de Perpétua e Felicidade, contribuem para a revalorização da História Antiga da África, e que poder trabalhar um tema como a prática de martírio, como sendo uma manifestação cristã especial e específica do norte africano, reforça a contribuição da história das sociedades africanas para o patrimônio cultural material e imaterial das sociedades ocidentais.
Ata de Martírio de Perpétua e FelicidadeA Ata selecionada para o estudo desse artigo é um dos mais
antigos representantes do gênero literário martirológico, relata o martírio de Perpétua, Felicidade e seus companheiros catecúmenos. Pode ser caracterizado na interseção dos dois gêneros literários, chamados Acta e Passiones. Acta martyrum seriam, lato sensu, todos os relatos mais ou menos amplos que contêm notícias de execuções de réus cristãos após condenações oriundas de julgamentos oficiais (BUENO, 2003, p.136-141).
As Passiones eram redigidas por testemunhas oculares, por pessoas próximas aos acusados ou ao evento, e continham textos atribuídos aos próprios réus supostamente narrando sua versão dos acontecimentos. O sofrimento, as dores e a obstinação dos acusados, os castigos infligidos a eles, e a narrativa dramatizada dos suplícios, são traços característicos deste gênero. Acreditamos que os autores das Atas utilizaram
registros do interrogatório dos réus (consultados em documentos de arquivos públicos, ou mediante a consulta de notas tomadas por estenógrafos), alegando fidelidade aos eventos, sem uma preocupação maior com a elaboração literária da narrativa (OTERO, 2017, p. 255).
Podem ser consideradas narrativas autobiográficas.
Sobre a datação do documento Passio Perpetuae partirmos de dados da própria narrativa. O aniversário de Geta, em 7 de março do ano 203, comemorado com jogos e espetáculos promovidos em Cartago, e a referência ao edito imperial decretado por Septímio Severo, em 202 (OTERO, 2017, p. 255).
Das utopias ao Autoritarismo
508
Esse texto está registrado num diário, teria sido redigido na prisão pela própria Perpétua, que, antes de ser levada para o anfiteatro para enfrentar sua sentença, entregou o documento a um membro da comunidade de identidade desconhecida. Esse autor adiciona uma introdução onde fala sobre a origem do texto e a vontade de Perpétua de que fosse levado ao conhecimento de todos (SIQUEIRA, 2006, p. 65).
Após iniciar-se com o prólogo doutrinal, apresentando e exaltando os acusados, segue-se a narrativa da própria Perpétua, relatando a detenção – numa residência privada – em Tebourba e nessa ocasião foram batizados. Logo após foram conduzidos ao cárcere, podendo se tratar da prisão proconsular de Cartago. Perpétua narra algumas de suas visões, ao passo que o martírio se aproxima, as provações a serem enfrentadas se tornam mais duras, em concordância, os dons e graças sobrenaturais se tornam mais frequentes e com um poder simbólico mais expressivo.
Os confessores são levados ao fórum, e subiram à tribuna para serem interrogados pelo procurador Hilariano, que inicia com a confissão de identidade cristã. Acontece a condenação, sentenciando-os às feras. Os confessores voltam ao cárcere onde aguardarão a execução. Perpétua volta a narrar outras visões miraculosas com premeditações. Depois é mencionada a solidariedade de soldado que teria demonstrado compaixão pelos prisioneiros. A véspera do combate Perpétua tem outra visão sobre o que viria a enfrentar anfiteatro e qual seria o resultado. Saturo, nesse momento do texto, narra suas visões. O redator retoma a narrativa confirmando as visões nos informa a respeito da jovem Felicidade e seu estado de gravidez. Prossegue informando sobre as condições dos detidos no cárcere, e os confessores suplicam melhores tratamentos na prisão militar. Finalmente, os mártires são levados ao anfiteatro, o redator apresenta o enfrentamento da condenação, do suplício e da morte. O texto termina com o epílogo final louvando os exemplos dos mártires.
O destinatário coletivo seria a própria comunidade de cristãos cartagineses para uso em contextos rituais e de catequese. Assim começava a ser produzida a leitura litúrgica das atas dos
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
509
mártires. O autor apresenta duas categorias de ouvinte: os cristãos batizados e os catecúmenos, que deveriam ser educados na fé, e que os que estavam presentes nestes eventos também serviam de testemunhas. Podemos perceber uma intenção nessa literatura
à criação de modelos de comportamento para os cristãos que fossem chamados perante um juiz, mas também, a criação de um consenso na comunidade contra eventuais controvérsias doutrinais, criando exempla cristãos (OTERO, 2017, p. 252-268).
Como principais temas presentes na obra temos a autoridade exercida em prol do cumprimento da lei e do exercício da justiça, envolvendo diferentes agentes, os magistrados, juízes e seus assistentes, os servidores. Especialmente, os procedimentos do direito penal, que envolviam inquérito, julgamento e sentença. Do ponto de vista dos cristãos podemos retirar a narrativa da história dos acusados, submetidos ao processo criminal, interpelados pelo procurador em exercício na província, e o inquérito. O réu é o mártir, apresentado como uma testemunha, que confessa sua fé diante da ameaça de morte na presença de um juiz, e chega à execução, ao martírio. Por fim, o elemento que provoca toda a narrativa da condenação, no caso, a recusa de sacrificar aos deuses romanos e através desse ato, pela saúde do imperador.
Há ainda temas secundários como a multidão, por exemplo, que simboliza a população romana cristã e não cristã que observaram os mártires, incluindo aqueles a favor das execuções, e também aqueles que os encorajaram, escutaram suas exortações, veneraram os objetos que os acusados deixaram durante o combate na arena – como Saturo que entrega um anel a um soldado, manchado do seu próprio sangue – a multidão se integra à cultura do espetáculo. Também se apresentam na narrativa os espaços de manifestação do poder, das ações jurídicas e processuais, mas também elementos vinculados ao interrogatório, às condições e ao tratamento dos réus na prisão, assim como alusões aos espectadores, e à execução pública – ou seja, ao espetáculo público do poder (OTERO, 2017, p. 259-261).
A Ata de Perpétua e Felicidade foi lida e estudada
Das utopias ao Autoritarismo
510
posteriormente por muitos autores, que sempre destacam a beleza da narrativa:
as circunstâncias nas quais este breve trabalho foi escrito e a simplicidade e sinceridade de seu tom fez-lhe um dos mais comoventes exemplos que temos da literatura Cristã, certamente da literatura em geral (LE GOFF, 1990, p. 49).
O fascínio que gerou em seus leitores que não parecem refletir a função ou mesmo a construção da obra, mas parecem estar ligadas ao impacto da composição narrativa. Concordamos com a beleza da construção literária do texto, mas destacamos que a obra tem muito mais temas possíveis de serem explorados, de uma riqueza de dados políticos, religiosos e sociais que permite explorar de forma particular a experiência do martírio cartaginês.
Uma questão interessante nessa narrativa é a função curatorial dos grupos proféticos do norte da África que se constituía como forma de criação de identidade no Cristianismo Primitivo e operava enquanto propaganda de novos movimentos em disputa. Também podemos destacar pela obra que o imaginário cristão da época reverberava não somente imagens bíblicas, como também captava imagens da Roma Imperial, retrabalhando-as e aplicando-as a seus heróis: os mártires. Em sua primeira visão, por exemplo, vemos Perpétua evocar armas que tem mais relação com uma autoridade imperial, do uso da força, do que uma alegoria religiosa cristã: “Nos lados da escada havia cravados toda classe de instrumentos de ferro. Havia ali espadas, lanças, arpões, punhais, socos” (Martirio, 2003, p. 422, tradução nossa).
Perpétua é de longe a personagem que mais se destaca na obra, sua identidade se transforma durante a narrativa de matrona romana a matrona christi, quando confessa sua fé uma e outra vez, quebrando uma ordem pré-estabelecida, um status quo, e nesse processo ela se transforma num elemento de desordem para o meio social romano. Suas visões e milagres a colocam como indivídua híbrida, mediadora da ordem natural e sobrenatural ao passo que a morte se aproxima, a morte que é o ato final, o ápice e realização do próprio martírio. Sua intrepidez e coragem, primeiro sofre a violência
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
511
do pai e depois não pode mais ser atingida, enfrentando até Satanás. Sua autoridade, se transformando de discípula, na visão da escada, seguindo Saturus, a mestra do cristianismo primitivo, em seu martírio.
Toda a obra parece conspirar para o ápice atingido no momento da morte de Perpétua, que é descrito com vibração e emotividade. Ela é exaltada ao status de mártir ao não simplesmente morrer, mas ser instrumento de sua própria morte, pela sobriedade e quase insensibilidade a dor, causados, na trama narrativa, pela sua inerente justiça. “Talvez uma mulher tão grandiosa, que foi temida até por um espírito imundo, não poderia ter sido assassinada a não ser que ela mesma quisesse” (Martirio, 2003, p. 438, tradução nossa).
O relato foi composto pela combinação dos imaginários dos textos culturais do cristianismo, textos canônicos, mas que também sofreram acessos por parte da imaginação do culto imperial. Essas interpenetrações imagéticas parecem ocorrer somente nas visões, onde há maior necessidade de criação de mundos. Dessa forma, podemos concluir que as experiÊncias cristãs não tiveram sua identidade moldada por conceitos distintos da cultura, mas pela combinação de imaginários e formas imagético-redacionais da sociedade romana às experiências cristãs do início da Era Cristã. O diálogo com a cultura, desde antes da cristianização do Império Romano, foram basilares na construção da identidade cristã no terceiro século de nossa era e, em especial, tornaram-se parte intrínseca à obra Passio Perpetua e do cristianismo, como um todo (CARDOSO, 2015, p. 26).
A confissão pública tornou-se uma das estratégias e expediente fundamentais para garantir e afirmar a identidade cristã em solo africano. A publicidade do evento em contexto processual e em lugares de espetáculo se constituiu em fortes elementos de comunicação e de linguagem simbólica, reinterpretando os códigos culturais de referência. A morte heroica fez nascer uma vasta literatura cristã e se transformou em exempla para as suas comunidades, intensamente valorizada em solo africano, haja vista a formação de um calendário festivo em comemoração aos seus mártires. O relato da paixão por Perpétua traz algumas ações curiosas que expressam a
Das utopias ao Autoritarismo
512
vontade de comandar a própria cena da sua exposição pública durante o processo e da execução no anfiteatro
Porém, muitas vezes essa conduta foi lida como exemplos de obstinação e de contumacia e, em contexto de vigilância e regulação religiosa, pode ter significado uma pretensão à desobediência cívica, ao admitir e persistir em atitude de negligência, em relação a assumir práticas cúlticas aceitas socialmente ou persistir em associações interditas (OTERO, 2017, p. 227).
Perpétua e Felicidade são um exemplo da força feminina que reveste a história cristã.
As duas protagonistas são, hoje, reconhecidamente santificadas pelas Igreja Ortodoxa, Igreja Copta, Igreja Anglicana e Igreja Católica, um testemunho que prevaleceu à história marcada pela dominação masculina (CARDOSO, 2014, p. 30).
A primeira, uma matrona que abandona família, status, filhos, enfrenta o pai, autoridades imperiais e o próprio Diabo. A segunda, uma escrava, que passa duas vezes por um ritual de libação, de renascimento, que tem o parto adiantado para poder prosseguir com a sentença, a morte, e a conclusão de seu martírio junto a seus irmãos de fé. As duas que sofrem a humilhação pública pensada para elas enquanto mulheres, a exibição de sua nudez lactante frente a todos na arena pública, e a morte por uma vaca enfurecida, sempre frisando seu estado de mulher, de fêmea. E mesmo assim, as duas controlam sua própria morte na narrativa, e ascendem um título para poucos.
Considerações FinaisÉ necessário ser pensado, pelos profissionais, numa
abordagem que articule passado, presente e futuro para um ensino de História da África tratada em perspectiva positiva, não só de denúncia da miséria e discriminações. A história africana
deve estar presente em sala de aula desde a Idade Antiga explorando as relações entre as diversas sociedades, superando
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
513
uma narrativa de viés eurocêntrico. O retorno dos clássicos à sala de aula, pela riqueza e atratividade da narrativa, pode ser meio convidativo no trabalho dos conteúdos de História da África. Valorizando contribuições africanas para o patrimônio cultural mundial, reafricanizando grandes autores personalidades da cultura e conhecimento ocidental como Agostinho – que quase sempre tem sua origem não mencionada.
É desconstruir no imaginário dos alunos a ideia de que a África, antes da colonização moderna, não possuía História, não possuía passado e patrimônio cultural. Desconstruir a noção de que a civilidade chegou com a invasão europeia. É reapropriar à África o que é de África, autores clássicos para a filosofia ocidental, experiencias políticas e religiosas, conhecimentos diversos que contribuíram e contribuem para a produção científica.
O caso da paixão de Perpétua e Felicidade reconecta o estudo de História da África ao estudo de História Antiga, destaca Cartago e a região norte africana nas relações do mediterrâneo, explora uma experiência religiosa cristã característica da África romana. Além de ser uma documentação elogiada por muitos autores devido a beleza da composição narrativa e as alegorias do martírio, é fonte rica para os estudos da história de gênero e da história das mulheres: o relato de uma matrona e uma escrava que tornaram-se mártires, e por isso receberam dons, graças e uma autoridade de poder religioso heroicizantes diferente de qualquer outra categoria de poder e autoridade sagrada cristã.
Esta ata de martírio possui contribuições enriquecedoras e propícias para o ensino de História da África e para o tratamento da antiguidade africana dentro da sala de aula, com uma belíssima construção narrativa, ainda encerra conteúdos extremamente convidativos.
Referencias bibliográficas:CARDOSO, S. K. Identidade e autoridade no cristianismo primitivo:
Das utopias ao Autoritarismo
514
introdução ao martírio de perpétua e felicidade. Revista Oracula, ano 10, n. 15, p. 20- 31, 2014.
CARDOSO, S. K. Reverberações culturais de identidade no cristianismo primitivo: análise retórica e iconográfica de Passio Perpetua. Revista Oracula, ano 11, n.16, p. 15- 28, 2015.
MARTIRIO de las Santas Perpeteua y Felicidad y de sus compañeros. In: BUENO, D. R. Acta de los mártires. Introducciones, traducción y notas. 5. ed. Madrid: BAC, 2003, p. 397-469.
OTERO, U. B. Os mártires latinos de Cartago: as fronteiras entre o lícito e o ilícito (202-258 E.C). 2017. Tese (Doutorado em História) – Programa de Pós-Graduação em História, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2017.
SIQUEIRA, S. M. A. Memórias das mulheres mártires: modelos de resistência e liberdade. Horizonte, Belo Horizonte, v.4, n.8, p. 60-76, jun. 2006.
SOUZA NETO, José Maria Gomes de. Uma velha África: Heródoto e o ensino de História da África. In: OLIVEIRA, Francisco; TEIXEIRA, Cláudia; DIAS, Paula Barata (Coords.). Espaços e paisagens: Antiguidade Clássica e heranças contemporâneas. Coimbra: Annablume, 2015, p. 425-430. Vol. II.
TERTULIANO. El apologético: introducción, traducción y notas de Julio Andión Marán. Madrid: Ciudad Nueva, 1997.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
515
História Oral: contribuições para uma pesquisa sobre o pós-abolição no Brasil1
Geisa Lourenço Ribeiro2
O “13 de Maio” e a Princesa Isabel possuem lugar especial na memória da população negra descendente da última geração de pessoas escravizadas no Brasil? Existem outros momentos e/ou personagens com importância paralela ou mesmo que os substituem em seu discurso sobre a abolição da escravidão no Brasil no século XIX? Há uma memória minimamente consolidada nesse grupo a respeito do colapso do regime escravista? Como a população negra viveu e percebeu a inserção dos libertos e seus descendentes na sociedade livre logo após a lei que aboliu a escravidão no Brasil? Todas essas questões são de grande importância para a historiografia brasileira, mas, talvez, exista uma ainda mais importante: os documentos escritos, tradicionais, conseguem responder a esses questionamentos? Em outras palavras, é possível acolher/discutir a versão dessa população historicamente marginalizada na produção do conhecimento histórico?
A década de 1980 assistiu não apenas ao centenário da Abolição da escravatura no Brasil – determinada pela Lei 3.353, de 13 de maio de 1888 –, mas também a uma renovação historiográfica responsável por rever muitos dos conceitos e “verdades” estabelecidos sobre a História brasileira e, especialmente, sobre a escravidão. Nas décadas de 1950 e 1960 – até mesmo parte da década de 1970 – procurava-se enfatizar os efeitos negativos causados pela nefanda instituição, que, segundo se afirmava, não corrompera apenas os escravos, mas toda a sociedade brasileira (COSTA, 1998; CARDOSO, 1977).
1 Texto produzido originalmente como requisito parcial para avaliação na disciplina de Memória e História Oral, ministrada pela prof.ª Dr.ª Maria Cristina Dadalto no semestre 2018/1.
2 Professora do Instituto Federal do Espírito Santo (campus Viana) e estudante do curso de Pós-graduação em História da Universidade Federal do Espírito Santo, sob orientação da prof.ª Drª Adriana Pereira Campos.
Das utopias ao Autoritarismo
516
A ênfase dos trabalhos desses historiadores e sociólogos, é importante que se aponte, foi determinada por sua oposição à outra corrente acadêmica, derivada de Gilberto Freyre (1987), que defendia que a escravidão teria sido mais “branda” no Brasil do que em lugares como os Estados Unidos, bem como à consequência lógica derivada de tal afirmação – a de que o racismo não existiria ou seria menos influente do que aquele existente na América do Norte. A crítica incisiva da Escola Paulista, como ficou conhecido esse grupo, à ideia de democracia racial os levou a outro extremo. Se a escravidão foi forte suficientemente para prejudicar até seus próprios beneficiários, os senhores escravistas, o que pensar sobre suas consequências em relação aos escravos? Em sua opinião, de forma geral, eles teriam sido reduzidos a coisas, vítimas passivas, apolíticas, que só sabiam responder com a mesma violência com a qual eram tratados (CARDOSO, 1977). Tal passividade, no entanto, começa a ser criticada a partir da consideração de novas fontes e da adoção de métodos que privilegiavam análises quantitativas, demográficas, da crítica às macroabordagens centradas na economia. É nesse contexto, iniciado lentamente na década de 1970 e impulsionado a partir da década de 1980, que ocorre uma renovação historiográfica sobre a escravidão, inclusive, incentivado pela proximidade da “celebração” dos 100 anos da Lei Áurea. Essa produtiva fase da nossa historiografia produziu trabalhos incríveis, que mudaram nossa perspectiva sobre o sistema escravista brasileiro. Entre eles, não pode-se deixar de mencionar alguns se tornaram clássicos na área, como o “Negociação e Conflito: a resistência negra no Brasil escravista”, de João José Reis e Eduardo Silva; “Crioulos e africanos no Paraná, 1798-1830”, de Horácio Gutiérrez; “Campos da violência: escravos e senhores na Capitania do Rio de Janeiro, 1750-1808”, de Silvia Hunold Lara; “Lares negros, olhares brancos: famílias escravas no século XIX” e “Na senzala, uma flor: Esperanças e recordações na formação da família escrava, Brasil Sudeste, século XIX”, de Robert Slenes; “Visões da Liberdade, uma história das últimas décadas da escravidão na Corte” de Sidney Chalhoub; “A paz das senzalas: famílias escravas e tráfico atlântico, Rio de Janeiro, c.1790-1850”, de Manolo Florentino e José Roberto Góes; “Das cores do silêncio: os
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
517
significados da liberdade no Sudeste escravista, Brasil, século XIX”, de Hebe Mattos.
Para essa historiografia renovada, o escravo surge como agente ativo, portador de sonhos e projetos, lutador incansável para transformar a sua vida da melhor forma possível, alguém que se recusava a ser apenas instrumento de trabalho, enfim, um sujeito histórico. Sem esquecer os méritos da produção acadêmica das décadas de 1950 a 1960 – importantes, entre outros motivos, por proporcionar a reflexão sobre o racismo no país – é preciso reconhecer que a mudança sobre a visão do negro significou um ganho muito grande, acadêmica e socialmente. Era preciso reconhecer que, por mais nefasto que tenha sido o cativeiro, ele não pôde retirar a humanidade dos sujeitos escravizados, não logrou reificá-los. A partir disso, um mundo novo de possibilidades investigativas se abriu, permitindo, por exemplo, que a família escrava fosse reconhecida como parte fundamental do sistema (FLORENTINO; GÓES, 1997; SLENES, 1999). A religiosidade, as diversões, a busca por autonomia, enfim, diversos aspectos pouco conhecidos até a década de 1970, puderam emergir a partir da renovação historiográfica.
Contudo, há que se reconhecer que as novas fontes adotadas permaneceram majoritariamente do tipo escritas. Isso se constitui em um obstáculo para o avanço sobre questões que não são contempladas nesse tipo mais tradicional de fonte por dois motivos: primeiramente, devemos lembrar que populações subalternas, classes baixas, grupos minoritários, não são contemplados da mesma forma que as elites nesse tipo de fonte – seja ela oficial ou não; em segundo lugar, por mais habilidoso que os historiadores sejam, tais fontes não respondem a determinado tipo de perguntas, como aquelas realizadas no início do texto.
Como já foi notado exaustivamente pela historiografia, o escravo brasileiro não foi alfabetizado por uma opção da sociedade escravista, como mecanismo de controle – ainda que exista exceções à regra. Os ex-escravos e as primeiras gerações de seus descendentes também não foram o centro de políticas públicas educacionais para correção do atraso e desvantagem causados pela escravidão. Neste
Das utopias ao Autoritarismo
518
ponto, cabe uma ressalva. O trabalho de Marcos Vinícius Fonseca (2002) chama atenção para o fato de que algo que, em linguagem atual, poderia ser chamada de “políticas públicas” foi empreendido no Brasil entre o final do período escravista e os primeiros anos após a abolição, contudo o objetivo não era contribuir para a ascensão social e econômica desses sujeitos.
Há ainda outra questão a ser considerada em relação às fontes. A renovação historiográfica mencionada adotou um tipo de fonte pouco usual até aquele momento e que privilegiava análises quantitativas e demográficas, o que proporcionou a própria mudança na forma de ver a escravidão brasileira. No entanto, sabe-se que houve uma tendência do desaparecimento da cor nos registros de livres, desde a década de 1850, justamente no tipo de fontes que proporcionaram a renovação. Tal tendência se afirma no período posterior à abolição, dificultando a identificação dos ex-escravos e seus descendentes até mesmo nos registros oficiais onde era legalmente obrigatório o registro de cor, como as certidões de batismo. O próprio Censo de 1920, seguindo essa tendência e demonstrando suas preocupações racialistas, não registra a cor (RIOS; MATTOS, 2004, p. 176). Dessa forma, torna-se mais difícil identificar os libertos e descendentes nesse período. Desafio ainda maior é pesquisar sua participação e perspectivas no momento de transição do regime de trabalho e de governo que o Brasil vivenciou no final do século XIX. Essa, talvez, seja uma das explicações para a ausência de pesquisas focadas nos libertos no Brasil durante muito tempo. Como lembrado por Ana Maria Rios e Hebe Mattos,
inúmeros trabalhos se dedicaram a estudar os projetos das elites a respeito dos libertos e da utilização dos chamados “nacionais livres” como mão-de-obra. Detalhes sobre diagnósticos e projetos de construção nacional, produzidos por elites invariavelmente conservadoras, pautaram por muito tempo a discussão historiográfica sobre o período pós-emancipação. Melhor dizendo, o pós-abolição como questão específica se diluía na discussão sobre o que fazer com o “povo brasileiro” e a famosa “questão social” (RIOS; MATTOS, 2004, p. 170).
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
519
Até poucas décadas, portanto, a pesquisa sobre o pós-abolição no Brasil não se concentrava na perspectiva dos ex-escravos, o que deixou uma lacuna em relação ao período e a esses sujeitos que só começou a ser explorada a partir da década de 1990. Além das fontes escritas, das mais diversas, a renovação exigiu a adoção de um novo tipo de fonte – mesmo que combinado com o tradicional – e nova metodologia: a História Oral.
É a História Oral que permite se aventurar a responder as questões expostas no início do texto, além de tantas outras. Por essa razão, tal metodologia tem sido crescentemente adotada no Brasil, ainda que exista resistência por parte da comunidade acadêmica. Nosso intuito com este texto, portanto, é esclarecer alguns pontos sobre a História Oral e apontar algumas vantagens para estudos de comunidades tradicionais e grupos populacionais não integrantes das elites.
Nosso contato com a História Oral aconteceu há pouco tempo, justamente quando decidimos empreender uma pesquisa de doutorado sobre a população liberta nas primeiras décadas após a abolição. Até o mestrado, o contato com tal metodologia havia sido superficial, de modo que indagações e questionamentos simples integravam nosso imaginário. Assim, este texto foi construído a partir das recentes descobertas realizadas na disciplina de “Memória e História Oral”, ministrada pela professora Dr.ª Maria Cristina Dadalto, no semestre 2018/1.
Nosso projeto de pesquisa em desenvolvimento no curso de Pós-graduação em História na Universidade Federal do Espírito Santo, sob orientação da prof.ª Dr.ª Adriana Pereira Campos, intitula-se “Laços de família: terra, escravidão e liberdade no Espírito Santo (1850-1961)”. A fim de cobrir tamanho recorte temporal, optamos por usar diversos tipos de fontes e, por conseguinte, de metodologias. Trabalharemos com fontes cartoriais, que privilegiam análises quantitativas, mas não abriremos mão da análise qualitativa até mesmo para esses documentos – amparando-nos no indiciarismo.
Ainda que fontes de natureza não quantitativa integrem
Das utopias ao Autoritarismo
520
o trabalho, como jornais, inventários post-mortem relatórios de presidente de província e de estado, processos de terra etc., sentimos a necessidade de trabalhar com um tipo específico de fonte para dar conta de um momento histórico e, mais especificamente, de um grupo social que não foi privilegiado nas fontes escritas, como dito anteriormente. Os libertos, assim como os escravos, não foram “ouvidos” pelos registros oficiais – e, quando o eram, a versão que prevalecia era filtrada por outros grupos sociais. Dessa forma, é difícil encontrar fontes históricas tradicionais que nos ofereçam sua visão de mundo, angústias, perspectivas, projetos... Diante de tal cenário, a História Oral pode oferecer grande contribuição neste tipo de pesquisa.
Entre as reflexões realizadas sobre a História Oral, uma das que se destacam inicialmente é o “alívio” e segurança oferecidos por autores que admitem seu interesse e envolvimento pessoal com o tema escolhido, caso de Alistair Thompson (1998), com o trabalho “Quando a memória é um campo de batalha: envolvimentos pessoais e político com o passado do exército nacional”. Ao pesquisar sobre as memórias australianas na Primeira Guerra Mundial, explorando as recordações de veteranos de guerra e uma lenda popular, o autor admite seu envolvimento emocional e político com o tema: além de ser filho e neto de militares, sua família integra a memória oficial da participação do exército australiano na Primeira Guerra Mundial. Algumas questões levantadas pelo autor são especialmente interessantes para nosso intuito, pois são consideradas de forma mais evidente dentro da História Oral:
Quais são as motivações inconscientes ou explícitas que nos levam às nossas pesquisas? Quais os temas que exploramos de nossas próprias vidas e que necessidades psíquicas e sociais encontramos através do processo de pesquisa? Como será que nossas pautas conscientes e inconscientes formam nossa relação pesquisa-descobertas? (THOMPSON, 1998, p. 278).
Tais preocupações foram consideradas por Harald Weinrich (2001) em sua obra “Lete. Arte e crítica do esquecimento”, especialmente em um capítulo intitulado “Auschwitz e o
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
521
esquecimento impossível”. O autor comenta sobre alguns autores que escreveram a partir de suas (intensas) experiências de vida, como Elie Wiesel, Primo Levi e Jorge Semprún – todos sobreviventes de campos de concentração nazista. Assim como Alistair Thompson, Weinrich não apenas admite o interesse pessoal do autor em seu tema de pesquisa, como demonstra a legitimidade dessa relação. Quem melhor para tentar “colocar em palavras compreensíveis o incompreensível” (WEINRICH, 2001, p. 249) dos horrores de viver em um campo de concentração do que uma pessoa que viveu em um deles, como por exemplo o autor e Nobel da Paz Elie Wiesel? Thompson oferece uma contribuição importante nesse sentido ao lembrar que a ideia de neutralidade dos estudiosos já foi desmascarada pelas pesquisadoras feministas que chamaram a atenção para a existência de motivações pessoais, conscientes ou não, em relação aos objetos de pesquisa. Reconhecer essa relação é especialmente importante na História Oral graças à “relação direta, pessoal entre pesquisador e pesquisado, e na qual o pesquisador cria e analisa sua fonte primária” (THOMPSON, 1998, p. 278).
A ideia de criar a própria fonte causa estranheza para os historiadores mais tradicionais, acostumados a trabalhar com documentos escritos e a submetê-los à rigorosa crítica interna. No entanto, comunidades tradicionais nem sempre possuem ou privilegiam esse tipo de documentação, valorizando-se a tradição oral. É o caso, por exemplo, do nosso objeto de pesquisa: a comunidade quilombola de Monte Alegre, localizada em Cachoeiro de Itapemirim-ES. É nessa comunidade que buscaremos, em parte, entender quais eram as expectativas, projetos, sonhos dos últimos escravos libertados pela Lei Áurea e seus descendentes. À exemplo de Ana Lugão Rios e Hebe Mattos (2005), procuraremos realizar entrevistas a partir de roteiros temáticos com perguntas direcionadas sobre as memórias dos membros mais velhos dessa comunidade, sobre as histórias contadas por seus avós e bisavós que foram escravos ou filhos destes a respeito de seus familiares que viveram no período próximo e após a Abolição.
É necessário investigar o que aquelas pessoas escolheram compartilhar com seus descendentes, bem como as influências de
Das utopias ao Autoritarismo
522
outras fontes de informação e interesses que ajudaram a construir a história de uma parcela da população brasileira. Essa comunidade representa, ao menos, um dos meios empregados pelos libertos para se estabelecer no mundo “livre” que pode, à primeira vista, ser interpretado como uma crítica à sociedade que procurava controlar a mão de obra dos libertos, mantendo-os subalternos aos grandes senhores de terras (e ex-senhores de pessoas). Importa, pois, conhecer e comparar as visões dos dois grupos sobre o período e escolhas dos sujeitos.
A análise das narrativas será realizada com atenção aos processos de “transmissão” e reprodução da memória dos membros da comunidade que serão nossos colaboradores ao fazer suas narrativas. Afinal, as recordações não são simplesmente transpostas de um indivíduo a outro, pois ocorrem diversos fenômenos na “transmissão da memória que precisam ser considerados já que “o polo “receptor” assimila, reinterpreta, rememora e reproduz as narrativas em questão, e são esses imperativos, operados pelo presente, que levam a falar ou a silenciar sobre as memórias do passado” (WEIMER, 2010, p. 67).
Embora não tenha relação direta com o movimento quilombola, é inegável o pano de fundo da escolha dessa pesquisa que passa pela construção da minha identidade negra, do incômodo pessoal de ver a lacuna histórica do pós-abolição em relação ao negro ser preenchida por preconceitos que alimentam cotidianamente outros preconceitos contra a população negra e limita suas possibilidades sociais e econômicas. Ao ver Thompson (1998) produzindo a partir de sua experiência desde a infância com o exército nacional australiano, reconhecendo que seu trabalho também é uma tentativa de entender sua própria história, temos a convicção da possibilidade de fazer um trabalho sobre um tema que nos afeta pessoalmente, mas com total rigor metodológico e, portanto, com o devido reconhecimento acadêmico.
Outro ponto que gostaríamos de destacar é a honestidade intelectual que ajuda no entendimento do processo de construção do trabalho: é necessário reconhecer as limitações específicas da pesquisa desta natureza. As fontes serão produzidas a partir de colaboradores
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
523
que estão vivos! Essa constatação elementar requer um cuidado especial com as subjetividades dos sujeitos envolvidos na pesquisa, com suas memórias, emoções, traumas. O pesquisador Alistair Thompson oferece grande contribuição nesse sentido quando revela a negociação feita por ele com seu pai para a publicação de um trabalho que envolvia a memória da família. Vejamos:
Não foi surpresa o fato de meu trabalho sobre a lenda do Anzac [Australian and New Zealand Army Corps] causar desgosto e revolta em minha família. [...] A discordância entre meu pai e eu foi, em uma parte, uma discordância entre duas diferentes visões da história e de interpretação de historiador. [...] Esse episódio lembrou-me que nossas histórias de vida nos afetam profundamente; que geralmente são mal-resolvidas, contraditórias e dolorosas; e que podem ser a dinamite emocional. Ele também me mostra que a história de uma pessoa pode penetrar e intervir na de outra e, por conseguinte, propõe questões éticas sobre a posse e controle da memória, e sobre os direitos e responsabilidades dos historiadores orais. Meu pai achava que a história de Hector pertencia a ele e, assim, a versão de nossa história de família, a qual foi publicada, inclui as retificações propostas por ele, sendo, na verdade, uma história negociada (THOMPSON, 1998, p. 284-285).
A produção da entrevista, bem como de seu tratamento e publicação posteriores, são, portanto, exercícios de negociação. Precisa-se ter isso em mente e adotar o caminho da honestidade intelectual, como fez Thompson, para reconhecê-lo.
É igualmente necessário lembrar, como fez Michel Pollak, em “Memória, esquecimento, silêncio”, que a fronteira entre aquilo que se pode dizer e aquilo que não se pode separa a memória coletiva subterrânea (de grupos como os quilombolas, por exemplo) e a memória coletiva oficial. Em suas palavras:
Por conseguinte, existem nas lembranças de uns e de outros zonas de sombra, silêncios, “não-ditos”. As fronteiras desses silêncios e não-ditos com o esquecimento definitivo e o reprimido inconsciente não são evidentemente estanques e estão em perpétuo deslocamento. Essa tipologia de discursos, de silêncios, e também de alusões e
Das utopias ao Autoritarismo
524
metáforas, é moldada pela angústia de não encontrar uma escuta, de ser punido por aquilo que se diz ou, ao menos, de se expor a mal-entendidos (POLLAK, 1989, p. 7).
Reconhecer tais zonas de silêncios é fundamental para o desenvolvimento do trabalho. Buscar outras fontes ou outros colaboradores para preencher tais lacunas são ações possíveis para resolver tal situação, mas antes deve-se, acreditamos a partir dessas leituras realizadas até aqui, respeitar o tempo do indivíduo e compreender o significado de seus silêncios, bem como de sua linguagem de forma geral. Aliás, a própria maneira de narrar é elemento a ser considerado pela História Oral, conforme lembrado por Walter Benjamin em “A Imagem de Proust”, em “Obras escolhidas volume 1: magia e técnica, arte e política” (1985). A maneira de narrar, com suas pausas, ênfases, digressões, avanços, saltos, possuem significados especiais que precisam ser interpretados pelo pesquisador – tal como pelos leitores e analistas de Proust.
A comunidade quilombola de Monte Alegre possui uma memória que, provavelmente, não coincide com a oficial. É preciso saber procurar e acolher a memória subterrânea dos descendentes de escravizados em nosso país que buscou durante tanto tempo sustentar uma memória coletiva apoiada na substituição do escravo pelo imigrante europeu e na transição pacífica de um regime de trabalho a outro. Nesse sentido, um outro trabalho ofereceu contribuição importante ao fazer um diálogo com Pollak. O trabalho de Portelli (1998), “O massacre de Civitela Val di Chiana”, apresenta o conceito de Giovani Contini de “memória dividida”. A memória coletiva oficial pode ser privilegiada pelas instituições, públicas ou privadas, mas não é única. Existe uma outra memória, geralmente de grupos “marginalizados” que não pode ser apagada, que convive com a dominante. Portelli avança nesse ponto de disputas das memórias, demonstrando que ela possui muito mais divisões que a oficial, por um lado, e a espontânea, por outro. Todas as duas possuem inúmeras divisões:
Como tentarei demonstrar, na verdade, quando falamos numa memória dividida, não se deve pensar apenas num
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
525
conflito entre a memória comunitária pura e espontânea e aquela “oficial” e “ideológica”, de forma que, uma vez desmontada esta última, se possa implicitamente assumir a autenticidade não-mediada da primeira. Na verdade, estamos lidando com uma multiplicidade de memórias fragmentadas e internamente divididas, todas, de uma forma ou de outra, ideológica e culturalmente mediadas (PORTELLI, 1998, p. 106).
Reconhecer a fragmentação e, portanto, a riqueza das memórias ajuda a problematizar nosso objeto de pesquisa. Até o momento, pensávamos ser possível encontrar na comunidade quilombola uma memória diferente da memória oficial, subterrânea, mas ainda a imaginávamos como homogênea. Agora, entretanto, estamos mais alertas para a diversidade. Aliás, o texto ressaltou algo tão básico que quase causa constrangimento notar: a necessidade de não construir ideias precipitadamente, seja sobre fatos ou sobre personagens.
Quem pensa que a memória coletiva sobre a Resistência italiana é homogênea e sempre ligada à reverência aos seus heróis-personagens, por exemplo, percebe o engano logo no início do texto: os heróis para uns, podem ser os vilões para outros. Daí a necessidade de reconhecer essa diversidade de memórias. Somando-se a isso a contribuição de Candau (2011) referente às celebrações (ou o esgotamento de seu sentido ou ainda a decisão de não comemorar determinados acontecimentos) e sua importância na construção identitária, caberia fazer mais algumas questões além das levantadas no início. Qual seria a memória, ou melhor, as memórias da comunidade Monte Alegre sobre o “13 de Maio’”? A comunidade celebra essa data importante durante tanto tempo para a cronologia oficial ou prefere o “20 de Novembro”, que na última década emergiu para a cronologia oficial? Existiria ainda outros momentos mais significativos para a memória comunitária?
Michael Pollak (1992) esclarece outras questões sobre a memória que serão úteis ao desenvolvimento do nosso trabalho. Ao concordar com Maurice Halbwachs sobre a memória como fenômeno construído coletivamente, ele nos apresenta os critérios básicos para sua construção e que permitem que ela sofra flutuações, mudanças:
Das utopias ao Autoritarismo
526
acontecimentos, personagens e lugares. Se tais elementos são reais ou frutos de projeção, de transferência, não importa. A “memória quase herdada”, como o autor menciona, é tão importante quanto a memória vivida. É plenamente possível – e não raro – pessoas mencionarem acontecimentos “vividos por tabela”, isto é, eventos que nem saberiam dizer se participaram diretamente, mas que por sua relevância acabaram se tornando elementos constitutivos da memória da coletividade.
Conforme lembrado por Pollak, esses aspectos – a projeção e a transferência – não devem ser vistos como indicadores de dissimulação ou falsificação. Eles recordam uma característica importante da memória que se deve ter em mente durante toda a pesquisa: “a memória é seletiva.” (POLLAK, 1992, p. 203). É sempre importante lembrar que há disputas políticas na estruturação da memória que podem ser notadas até nas definições das datas oficiais de celebração: o que deve ser registrado e celebrado pelo povo é matéria de disputa, embora isso não anule os elementos espontâneos que, muitas vezes, se materializam em desafios às cronologias oficiais.
Outro argumento ajuda a confirmar que a memória é um fenômeno construído: o fato dela ser organizada com base nas preocupações pessoais e políticas do presente.
Quando falo em construção, em nível individual, quero dizer que os modos de construção podem tanto ser conscientes como inconscientes. O que a memória individual grava, recalca, exclui, relembra, é evidentemente o resultado de um verdadeiro trabalho de organização. Se podemos dizer que, em todos os níveis, a memória é um fenômeno construído social e individualmente, quando se trata da memória herdada, podemos também dizer que há uma ligação fenomenológica muito estreita entre a memória e o sentimento de identidade (POLLAK, 1992, p. 204).
Vale ainda lembrar que tanto a memória quanto a identidade podem ser negociadas, pois são valores disputados. Essa é uma questão sensível que deve ser considerada como tal e observada à luz de outro conceito que nos ajuda a entender a memória enquanto constituída: o enquadramento da memória. Esse trabalho, geralmente
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
527
feito por profissionais, mas não restrito a eles, alimenta-se do material fornecido pela própria história. Em outras palavras, o enquadramento da memória possui limites, não pode ser feito arbitrariamente, sendo obrigado a satisfazer exigências de justificação que irão, pelo menos, limitar as possibilidades de falsificação do passado. É preciso ter claro que o enquadramento da memória acontece a partir da reinterpretação constante do passado, mas “em função dos combates do presente e do futuro.” Pollak esclarece ainda que:
Se a análise do trabalho de enquadramento de seus agentes e seus traços materiais é uma chave para estudar, de cima para baixo, como as memórias coletivas são construídas, desconstruídas e reconstruídas, o procedimento inverso, aquele que, com os instrumentos da história oral, parte das memórias individuais, faz aparecerem os limites desse trabalho de enquadramento e, ao mesmo tempo, revela um trabalho psicológico do indivíduo que tende a controlar as feridas, as tensões e contradições entre a imagem oficial do passado e suas lembranças pessoais (POLLAK, 1989, p. 12).
A investigação sobre a vida dos entrevistados e de suas famílias precisa levar em conta um aspecto para o qual Thompson, Pollak e Weinrich chamam a atenção: revirar o passado em busca da memória sobre determinado fato ou momento pode ter implicações que vão muito além da pesquisa ao tocar em questões pessoais doloridas para o entrevistado. É necessário desenvolver uma sensibilidade mais aguçada para realizar o trabalho de campo da história oral por conta desses desencadeamentos. A mágoa que o pai de Thompson sentiu pelo tratamento que este gerou pela produção de seu trabalho, bem como o desgosto e revolta da família, de forma geral, é exemplar.
Um caso igualmente significativo, mas mais dramático, é o exemplo de Sônia Novinsky e sua pesquisa sobre a vida de famílias judias de origem alemã no Brasil. Além do procedimento padrão da História Oral que é o de fazer a leitura das narrativas com os entrevistados antes da publicação, Barros permitiu nesse processo de devolução que passagens das entrevistas fossem lidas por outros membros da família. O resultado disso foi uma transformação intensa nos colaboradores, uma reflexão sobre a vida familiar em conjunto
Das utopias ao Autoritarismo
528
que permitiu, inclusive, a revelação de um ato de violência sexual de um pai contra a filha que havia acontecido muitas décadas antes da entrevista e fora silenciado até aquele momento. Lembra a autora a respeito desse processo fundamental em História Oral que
o documento de história oral é um documento transitório, que tem o valor do momento em que é textualizado e transcriado – o que não é negativo –, pois mostra seu valor interventivo e transformador das realidades (apud MEIHY; HOLANDA, 2017, p. 165-166).
Essa realidade, que não é comum ao historiador que utiliza apenas do-cumentos escritos, não deve ser encarada com desconfiança, apenas precisa ser considerada com seriedade como integrante do trabalho com História Oral.
Para finalizar, devemos falar de uma grande preocupação para aqueles que não conhecem bem a área de história: os atos falhos da memória, os esquecimentos, as possíveis mentiras e manipulações sobre o passado, a falta de verdade que as entrevistas podem apresentar. No entanto, como nos recorda Thompson ao apresentar suas reflexões sobre as discordâncias de seu pai em relação ao seu livro que incluía um trecho autobiográfico (1998, p. 284),
Ao mesmo tempo que concordava que era importante mostrar de que maneira minha memória fora distorcida, eu também queria provar que a memória, incluindo a memória de família, nunca é uma reprodução exata dos acontecimentos do passado, mas sim um complicado, contraditório e contestado conjunto de representações. A discordância entre meu pai e eu foi, em parte, uma discordância entre duas diferentes visões da história e de interpretação de historiador.
Ter em mente ao ir para o campo fazer as entrevistas que a verdade dos colaboradores, isto é, sua percepção sobre os fatos ou a versão que decidem nos apresentar, são tão válidas quanto a verdade apontada por outras fontes, é libertador e pode enriquecer qualquer trabalho. Qual é a visão da comunidade quilombola de Monte Alegre sobre o período de construção daquela comunidade, isto é, a transição do regime escravista para o livre? Qual é a memória da comunidade
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
529
sobre a “substituição” da mão de obra negra pela livre e imigrante? Não vemos a hora de fazer tais questionamentos apoiados na preciosa bagagem obtida na disciplina “Memória e História Oral”.
Referências bibliográficas:BENJAMIN, W. A imagem de Proust. In: BENJAMIN, W. Mágina e Técnica, Arte e Política. 3. ed. São Paulo: Ed. Brasiliense, 1985. Obras Escolhidas, Volume I.
CANDAU, Jorge. O jogo social da memória: fundar e construir. In: CANDAU, Jorge. Memória e identidade. São Paulo: Ed. Contexto, 2011, p. 137-157.
CARDOSO, Fernando Henrique. Capitalismo e escravidão no Brasil Meridional: o negro na sociedade escravocrata do Rio Grande do Sul. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1977.
COSTA, Emília Viotti. Da senzala à colônia. 3. ed. São Paulo: UNESP, 1998.
FLORENTINO, Manolo; GÓES, José Roberto. A paz das senzalas: famílias escravas e tráfico atlântico, Rio de Janeiro, c.1790-1850. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997.
FONSECA, Marcus Vinícius. A educação dos negros: uma nova face do processo de abolição da escravidão no Brasil. Bragança Paulista: EDUSF, 2002.
FREYRE, Gilberto. Casa-grande e senzala. 25. ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1987.
MATTOS, Hebe. Memórias do cativeiro: narrativas e etnotexto. Revista de História Oral, v. 8, n. 1, p. 43-60, jan.-jun. 2005.
MEIHY, José Carlos Sabe Bom; HOLANDA, Fabiola. História Oral: como fazer, como pensar. 2. ed, 5. reimp. São Paulo: Contexto, 2017.
POLLAK, Michael. Memória, esquecimento, silêncio. Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 2, n. 3, p. 3-15, 1989.
POLLAK, Michael. Memória e identidade social. In: Estudos Históricos, Rio de Janeiro, vol. 5, n. 10, p. 200-212, 1992.
PORTELLI, A. O massacre de Civitela Val di Chiana (Toscana: 29 de junho de 1944). In: AMADO, J.; FERREIRA, M. M. (Coord.). Usos & abusos da história oral. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas, 1998, p. 103-130.
Das utopias ao Autoritarismo
530
RIOS, Ana Lugão; MATTOS, Hebe. Memórias do cativeiro: família, trabalho e cidadania no pós-abolição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
SLENES, Robert. Na senzala, uma flor: Esperanças e recordações na formação da família escrava, Brasil Sudeste, século XIX. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1999.
THOMPSON, A. Quando a memória é um campo de batalha: envolvimentos pessoais e políticos com o passado do exército nacional. Proj. História, São Paulo, n. 16, p. 277-296, fev. 1998.
WEINRICH, H. Lete: arte e crítica do esquecimento. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.
WEIMER, Rodrigo de Azevedo. “O meu avô me contava”: dinâmicas de circulação da memória do cativeiro entre descendentes de escravos. Osório, século XX. Revista de História Oral, v. 13, n. 2, p. 65-87, jul.-dez. 2010.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
531
Comer e dietética: alimentação para Francisco da Fonseca Henriques pela Âncora Medicinal (1721)
Mariana Costa Amorim1
Se alimentar é algo natural. O comer é construído. No primeiro, o fisiológico nos alerta de um dos aspectos essenciais de sobrevivência. No segundo, uma série de fatores mais complexos está envolvida: a influência do local geográfico, a história de um povo e sua relação com os alimentos, além do simbolismo cultural que rodeia essa relação. Raramente repensamos nossos hábitos alimentares, os quais estão cercados por elementos sociais, políticos e econômicos. Sim, políticos e econômicos. Se analisarmos o consumo de vários alimentos nativos ou não da região, podemos entender a história da mesma e de sua população, assim como suas influências recebidas.
O consumo cotidiano dos alimentos acaba por não nos fazer perceber o que significa utilizar as técnicas, temperos e ingredientes para o cozer, mas que é relevante para compreendermos nossa própria história. A antropóloga Paula Pinto e Silva, sobre a alimentação no Brasil, afirma:
O processo inevitável de miscigenação culinária, calcado na preparação de pratos simples e de sabor local, pode ser atribuído a esse convívio mais profundo, que permitiu, no dia a dia, as trocas constantes entre as diferentes culturas envolvidas, na busca não só da adequação necessária à sobrevivência, mas também da satisfação dos anseios do paladar (SILVA, 2005, p. 57).
Comer abrange uma simbologia que difere ou aproxima uma cultura da outra. Já se alimentar é entendido como tendo a “função básica, ligada diretamente à cultura material, que diz respeito, em primeiro, à subsistência” (SILVA, 2005, p. 126). Esse simbolismo muda de acordo com as épocas e transformam nossas relações
1 Graduada em História pela Universidade Federal do Espírito Santo (2017). Atualmente é mestranda e bolsista pela FAPES. Também atua no Grupo de Estudos de Modernidade Ibérica sob a orientação da Profª. Drª. Patrícia M. da Silva Merlo na mesma universidade. E-mail: [email protected].
Das utopias ao Autoritarismo
532
com a natureza e com os indivíduos. Podemos observar que, para a maioria dos indivíduos das sociedades ocidentais, se alimentar não é o suficiente. Quando vamos a um restaurante, pagamos pela experiência total. O ambiente, o atendimento, o que se propõe no cardápio, se usam ingredientes frescos, nossa própria postura e comportamento no ambiente, além da etiqueta e, principalmente, quando o prato escolhido chega, nos deliciamos primeiro pelos olhos. Afinal, a apresentação do prato é a primeira impressão antes da primeira garfada. Todos esses passos até o momento em que o prato seja apreciado pelo paladar é o que envolve o prazer de comer. Você é o quê você come também é reflexo da construção dos gostos pessoais que acabam por determinar os hábitos alimentares dos indivíduos. Se se come do bom e do melhor, a pessoa é associada à condição social abastada, com acesso ao conforto e despreocupação com dificuldades financeiras. Frequentar restaurantes mais caros, que servem determinados tipos de comida não tão acessível ao populacho é uma forma constante de se mostrar prestígio. A sociedade atual tem como uma de suas estruturas demonstrarem sempre que possível um bom status social e a alimentação é um dos instrumentos mais utilizados para a afirmação de que temos uma boa condição de vida. Na era digital do século XXI, a ostentação é feita por meio das redes sociais, principalmente o Instagram, onde fotos de pratos de comida e check-ins em restaurantes conceituados são uma das coisas que mais atraem curtidas e seguidores. O importante é demonstrar de alguma forma que se consome o melhor que suas condições financeiras permitem (ou não. Para isso existem os cartões de crédito). Chegamos a um nível de gosto construído onde tudo é válido para comer o que está na moda, inclusive gastar o que não se tem. Como será que acabamos nisso? Montanari sugere que
O vínculo entre consumos alimentares e estilos de vida, definidos em relação à hierarquia social, prossegue com modalidades diversas nos séculos mais recentes. O tema da qualidade se define, dando-se por certo que a área do privilégio social se exprime no direito/dever de consumos qualitativamente melhores, mas também permanecem as correspondências entre tipologia de alimentos (e bebidas) e tipologias de consumidores (MONTANARI, 2013, p. 129).
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
533
O que comemos e como comemos é resultado da construção de gostos específicos e releva nosso pertencimento social. Esses gostos revelam ao que temos acesso e de onde viemos.
Em nosso cotidiano, geralmente não nos damos conta em como nossos hábitos alimentares podem ter surgido. Usamos diversos tipos de temperos, formas de cozimento, comemos alimentos que não são nativos do nosso país, mas que se tornaram comuns estarem em nossa mesa. Além disso, herdamos o hábito de relacionar alimentos que nos fazem bem ou mal, quais possuem ou não calorias suficientes para que possamos nos sentir satisfeitos para trabalhar e, por mais que vivamos em um país como o Brasil, que nos dá acesso a variedades enormes de produtos alimentícios, as classes sociais ainda são definidas pelos alimentos (caviar, sorvetes com fios de ouro, chocolates e produtos importados, etc.). Aliás, não só o tipo ou a marca. O fato de se ter acesso a alimentos mais facilmente do que a maioria da população de muitas regiões já nos distingue socialmente. A verdade é que somos obcecados por comida. Queremos diminuir o consumo do que pode nos fazer sair dos padrões de beleza ocidental atuais, ao mesmo tempo em que não resistimos a comer nosso prato favorito ou de ter um dia de tralha após termos seguido a dieta à risca durante a semana. Ela nos cerca com os tipos de comida fitness, sem lactose ou glúten, do que faz bem ou mal e pela ampliação de site e livros e até canais de televisão com receitas para nos reatar com a comida caseira.
A relação do ser humano com o alimento acabou por se tornar fonte de estudos de antropólogos, sociólogos, biólogos e, para nós, historiadores. É multidisciplinar e um assunto que gera interesse tanto para os pesquisadores quanto para os leitores por sua familiaridade. A Nova História Cultural foi de grande importância para impulsionar um novo olhar sobre os indivíduos na história. Não somente para as grandes figuras históricas, a História deve se atentar para os sujeitos que tiveram sua vivência descartada, para as manifestações das classes menos abastadas, os sujeitos invisíveis na história. Pesquisas pelo viés das artes, da literatura e outras manifestações, se atentando as tradições e as modificações culturais durante os séculos e em diversas sociedades. Ressalta o conceito de representação, buscando entender o
Das utopias ao Autoritarismo
534
olhar do sujeito e como este concebe o mundo, se afastando de noções generalizantes sobre o cultural. Assim, se mostra a importância da história do corpo e suas representações. A História da alimentação se introduz nesse viés, pois os simbolismos que se relacionam com as práticas alimentares se interligam com a história do corpo e do consumo, abrindo caminho para que se possam compreender as práticas culturais de um determinado cotidiano. Afinal, todos nós comemos e as populações, durante o decorrer das eras, criaram rituais, simbolismos e diferentes tipos de imaginários ao redor da alimentação que ainda refletem atitudes de sociedades contemporâneas. Ora, enquanto tais questões estiverem chamando a atenção do historiador, ele se sentirá impulsionado a conhecê-las através da dimensão de seu trabalho (DEL PRIORE, 1995, p.23).
Comer abrange uma simbologia que difere ou aproxima uma cultura da outra. Já se alimentar é entendido como tendo a “função básica, ligada diretamente à cultura material, que diz respeito, em primeiro, à subsistência” (SILVA, p. 126, 2005). Esse simbolismo muda de acordo com as épocas e transformam nossas relações com a natureza e com os indivíduos. O estudo do cotidiano ampliou a visão dos historiadores, pois passa a utilizar não somente documentação como fonte, mas imagens, relatos e outros objetos materiais. O estudo da alimentação nas eras da humanidade virou objeto de interesse dos historiadores, pois o alimento está interligado a ritos, a religião, ao cotidiano e a saúde. Devido a crescente obsessão com os corpos perfeitos e pela saúde perfeita do segundo milênio, a história da alimentação tem sido uma demanda para se entender a sociedade atual e a intensificação do alimento como aliado à saúde.
O alimento esteve por muitas épocas associado a tratamento e prevenção de doenças, que é o assunto abordado na pesquisa que está sendo realizada. Na medicina ocidental hipocrática essa junção é fundamental e é encontrado nos tratados médicos do considerado o “pai da medicina”. Hipócrates embasou os estudos médicos por muitos milênios após ter feitos seus estudos na Grécia Antiga. A alimentação como tratamento e prevenção das doenças descrita em seus textos é relacionada à prática de exercícios em conjunto, a chamada dieta
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
535
para os gregos antigos. O termo dieta ligada à alimentação pela primeira vez se encontra no tratado Da medicina antiga, um dos mais importantes tratados do Corpus hippocraticum, também como o termo dieta ligado à saúde. A dieta nessa concepção é um modo de vida. Ela é organizada por cinco componentes: alimentação, exercícios, atividades profissionais (distinções sociais), entorno geográfico e climático, além de separar os indivíduos por idade e sexo. O médico deve analisar tudo isso para receitar a melhor dieta para o paciente, assim como o sono, os sonhos, a frequência de atividades sexuais, o sol e o vento que se toma onde reside, alimentos à disposição do paciente, etc. A prescrição média dialogava com a natureza tanto do indivíduo quanto na qual o indivíduo estava inserido (o ambiente). A dieta era como uma “arte de viver”, com um alimentação, exercícios e hábitos para se ter uma saúde equilibrada. Conhecer os alimentos e suas propriedades nutricionais era essencial. Hipócrates catalogou alimentos e seus escritos sobre sua classificação é considerado um dos mais importantes catálogos de alimentos datado da Antiguidade. A comida conserva a saúde e cura as doenças.
Não só pela sua leitura e apropriação no campo da medicina e pela constituição de uma “verdadeira” dietética como se a conheceu até o século XIX, uma vez que de todos os supostos catálogos dietéticos alimentares foi precisamente este o único sobrevivente (CAIRUS, 2007, p. 217). Deve-se também aos estudos de Hipócrates a chamada Teoria dos humores, que também perpetuou por muitos séculos nos estudos médicos ocidentais. Acreditava-se que os corpos possuíam quatro humores: a bile negra, a bile amarela, a fleuma e o sangue. O desequilíbrio de um desses humores originava as doenças e estas deviam ser tratadas com a dieta apropriada para serem novamente equilibrados. A escola hipocrática registrou diversos casos clínicos epidêmicos, usando como métodos a observação e investigação. Analisava a relação entre os alimentos e os sintomas, assim como o sono, o ar, as bebidas, os exercícios, a água, o clima, etc., para que o tratamento ou prevenção de doenças estivesse de acordo como modo de vida e as demais características do paciente já citadas.
Na doutrina dos escritos hipocráticos de Cós, a dieta
Das utopias ao Autoritarismo
536
é constituída por cinco componentes principais: a alimentação, os exercícios, a atividade profissional (o que implica em distinções sociais), o entorno geográfico e climático, e inclui também as atividades políticas da cidade em que o indivíduo vive; devia considerar a sua compleição física, a sua idade e sexo (CAIRUS, 2007, p. 213).
Os ensinamentos hipocráticos atravessam as eras, adentrando a sociedade moderna em várias regiões da Europa, onde se encontra o recorte histórico de minha pesquisa, mais especificamente no século XVIII português.
A era moderna em Portugal tem seu maior destaque quando D. João V ascende ao trono. Durante seu reinado, D. João V se atentou em modernizar Portugal. Inspirou-se em Luís XIV da França que era na época a personificação de tudo o que os monarcas visavam para si e seus domínios: requinte, controle social, vitórias militares e o reconhecimento de sua grande riqueza e poder em outros reinos. D. João V tratou de trazer para Portugal o significado de riqueza e requinte. Por coincidência do destino ou não, havia sido descoberto ouro na colônia brasílica no reinado de D. Pedro II de Portugal, seu pai, no final da década de 1690. Assim, ele pôde ter a grande oportunidade de tomar posse de um reino rico e aplicar o dinheiro como achasse mais conveniente. A glória do reino português seria restituída pela riqueza do ouro encontrado e Portugal seria conhecido no exterior por isso. A opulência que transparecia na corte lisboeta foi inspirada na corte de Versalhes. D. João V foi capaz de criar um regime absolutista, superficialmente similar ao do extremamente mais rico reino francês (BIRMINGHAM, 2015, p. 86).
De Paris vieram tecidos, vestimentas, maquiagem, perucas e costumes. Utilização de peças e louças em porcelana, pratarias, talheres eram os primeiros passos de um novo tempo. Atingia seu auge o Barroco Português com construções majestosas de igrejas, palácios, pátios, escadarias e jardins. O convento de Mafra (1730) é um grande destaque na construção no reinado de D. João V, era a queridinha do rei. Por ter dado novos ares bastante similares aos da corte francesa, ficou conhecido como o Rei Sol português, referenciando este ao
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
537
próprio Rei Sol francês, Luís XIV. Os excessos eram costume tanto para a corte francesa quanto para a portuguesa, que tentou imitar a primeira como pode. Apesar de todo o esforço de D. João V em modernizar o Portugal durante seu reinado, essas mudanças foram feitas em áreas específicas.
Na área científica, as transformações foram ainda muito mais específicas, mesmo com contratações de professores estrangeiros por iniciativa da coroa. Sendo um país com profundas raízes no cristianismo católico, estudos científicos eram sempre estudados para se entender as coisas de Deus, jamais para profana-las. Um exemplo disso era o estudo de anatomia dos cursos de medicina das universidades lusitanas, que não usavam corpos humanos em hipótese alguma, mas sim animais, como o carneiro. O próprio D. João V havia decretado em 1739 que a dissecção de cadáveres humanos era estritamente proibida. Os jesuítas eram de grande influência nos estudos acadêmicos, o que fez os novos estudos feitos por cientistas de outros reinos seres obstaculizados a chegar às universidades portuguesas. A medicina do corpo deveria estar em harmonia com a medicina da alma, então os estudos ou publicações acadêmicas precisavam ser lidas e analisadas pela hierarquia clerical para serem aprovadas para publicações, pois o que não provém ou não está associado a Deus é, portanto, maligno e herético.
Em Portugal, também no século XVIII, sobretudo com a contratação de professores estrangeiros de renome, por iniciativa de D. João V e, posteriormente, com a reforma pombalina da Universidade, ocorreu alterações no ensino médico. No entanto, de maneira geral, os autores da Antiguidade, a exemplo de Hipócrates e Galeno ou de seus comentadores árabes na Idade Média, como Avicena, continuaram a constituir a base do conhecimento médico que subsidiava a formação na Universidade de Coimbra ainda no século seguinte (MERLO, 2015, p. 73).
O médico de D. João V e fonte de pesquisa de trabalho se enquadrava no que era esperado de um médico do rei. Muito douto e racional, porém com o objetivo de sempre respeitar e entender as coisas de Deus. Francisco da Fonseca Henriques viveu no Portugal do século XVIII (1689-1750), sendo médico na corte do rei D. João
Das utopias ao Autoritarismo
538
V. Escreveu obras sobre assuntos da arte medicinal e em sua maioria, eram voltadas a auxiliar e dar acessibilidade aos leigos da profissão. Preocupou-se em escrever muitas delas no idioma nativo para aumentar essa acessibilidade para quem procurava em seus escritos formas de conservar a saúde e de entender como surgem os males do corpo.
Francisco da Fonseca Henriques nasceu em Mirandela em 1665, ficou conhecido por “Dr. Mirandela”. Estudou em Coimbra e escreveu diversas obras. Pleuricologia, de 1701, foi escrita me latim e abordava as inflamações da pleura. Os Tratados do uso do Azougue nos Casos Proibidos em conjunto com a Medicina lusitana são os segundo e terceiro escritos são do ano de 1710 e escritos já em português. A quarta obra data de 1711, o Apiario Medico-Chymico, Chyrurgico e Pharmaceutico. Madeira Ilustrado, de 1715, são ilustrações à obra de Duarte Madeira em conjunto com uma Dissertação dos humores naturais do corpo. A penúltima obra Âncora Medicinal – Para conservar a vida com saúde é do ano de 1721 e a última obra, Aquilégio Medicinal, foi escrito em 1726. A obra de maior destaque e inovação demonstrada por Henriquez foi a Âncora Medicinal, publicado em 1721 e que teve várias edições posteriores (1731, 1754 e 1769). Nela o autor trabalha a manutenção da saúde para as pessoas que a tinham. Os verdadeiros cuidados médicos eram destinados, nesse tempo, a indivíduos já enfermos, se valendo de tratamentos como sangrias, vomitórios, purgantes, sanguessugas, etc., métodos para que fossem expelidas as impurezas que causavam o desequilíbrio humoral. Era uma época difícil para os que ficavam doentes ou para os que se incumbiam de tratar as enfermidades, pois se a pessoa não morria do que contraiu, podia-se morrer do tratamento médico que recebeu. A proposta da Âncora Medicinal é de um cuidado diário para manter a saúde que se tem pela alimentação. O autor se preocupa em deixar para os não doutos as informações de forma simples aos que procurarem em seu manual uma melhor forma de viver. Ao escrevê-la na língua nativa do país demonstra a preocupação dar acesso aos conhecimentos registrados em seu livro. Ele ressalta no espaço dedicado ao leitor
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
539
Inclui este livro um tratado de alimentos, coisa muito necessária para os que não são médicos, porque é razoável que saiba cada qual que alimentos usa sem mendigar de notícias alheias (que às vezes não são muito certas) o conhecimento de suas qualidades quando o pode alcançar com certeza e sem mais diligência que a de abrir este livro, onde com distinção, clareza e brevidade o achará facilmente (HENRIQUES, 2004, p. 26).
Sabemos que não era comum se escrever na língua nativa e sim em latim. No final do século XVIII, o número de livros publicados sobre medicina traduzidos e escritos por autores portugueses aumentam gradativamente, estando relacionado com a tentativa de fixação da produção científica em Portugal. O fato é que textos na língua nativa acabam por ser um veículo de divulgação e de propagação de ideias, produzindo uma nova prática de comunicação. A Âncora Medicinal possuiu várias edições durante o século. Observa-se que as publicações de traduções e de outros livros de medicina deviam atender os critérios de utilidade e notoriedade na visão científica da época, o que afirma a importância da obra de Henriques para os acadêmicos modernos.
A obra é dividida em seções que nelas são divididas os capítulos. São analisadas as seis coisas, segundo o Dr. Mirandela, mais importantes para se conseguir manter a saúde dos indivíduos: o ar ambiente, o comer e o beber, o movimento e o descanso, os excretos e os retentos e as paixões da alma. Essa separação é uma influência da Escola de Salerno2 que já havia feito essa separação em tópicos explicando a importância de cada um, totalmente influenciado pela escola hipocrática. Como o Corpus hippocraticum, explica de forma detalhada os alimentos e seus nutrientes, separa os estudos por sexo, classe social e ocupação, idade e analisa detalhadamente o, clima, o ar, as estações do ano. O saber médico se dá pela percepção sensorial, pela inteligência do médico e pela operação manual, herança da escola hipocrática.
2 Escola italiana originada do Mosteiro de Montecassino (séculos XII e XIII) com tradição grega e árabe. Importante para a inserção do ensino da medicina nas universidades e deixou grande material escrito, como manuais de anatomia de animais e descrições e tratamentos de enfermidades. Influenciou os estudos médicos na Era Medieval e Moderna (cf. PALMESI, 2014, p. 38).
Das utopias ao Autoritarismo
540
Entretanto, pode-se observar as mudanças alimentares das classes abastadas dentro do manual. A comida, como sabemos, também é símbolo de distinção social. Dissertar sobre alimentos de acesso a uma parcela seleta da sociedade nos demonstra para qual público a obra é destinada. A posição social justificava a quantidade de refeições no decorrer do dia. Henriques afirma que os homens “rústicos”, se exercitam muito e dessa forma, comem e bebem largamente durante ou dia, caso contrário não estariam em condições de trabalhar. Aos nobres, seria o costume de comer tantas vezes por dia desde muito cedo em tenra idade não faria mal aos corpos, mesmo não se ocupando de trabalhos pesados.
Porém o discurso dos excessos está sempre presente, afinal além da justificativa dos males que causava, o religioso condenava a gula. Os glutões e suas paixões pelos excessos estariam sujeitos a passarem extremamente mal ou a morrer logo. O ditado tudo demais, sobra é o que rege o discurso moralizador médico, que está associado ao discurso bíblico, pois a influência do cristianismo está sempre presente. Mas para os nobres que costumavam se fartar com mais de três refeições diárias e com banquetes festivos sem praticar trabalhos pesados como os homens rústicos também estavam justificados. Henriques dá a entender que por terem hábitos de comer pelo menos quatro vezes ao dia desde o começo de sua criação, essa comilança não poderia fazer mal devido ao costume adquirido, por mais que diga que se deva comer até estar saciados, não passando desse ponto. Sabemos que, como médico do rei, Henriques conhece os costumes alimentares do contexto social em que está inserido, sendo ele também parte.
Em seu livro o discurso moralizador religioso anda atrelado aos ensinamentos médicos, associando ao pecado da gula e das paixões pelos excessos e os males que resultavam por ao corpo ao se ceder a essas paixões. Não se encontra uma crítica real aos costumes dos nobres quanto à alimentação gourmand, e sim aos que a praticam, não comentando a classe social. Mas como não associar com a nobreza, já que essa teria alimentos à disposição? Um manual alimentar médico escrito em português para melhor entendimento
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
541
dos que buscam a informação, não seria dirigido a essa classe? Afinal, quem seriam os letrados do século XVIII em Portugal? Sabemos que eram os mais abastados. Pode-se observar que as próprias preferências alimentares de Henriques estão também em sua obra. Pensamos o autor e o lugar que ocupava na sociedade. Chocolate, café, açúcar, por exemplo, recebem ponderações, mas são muito elogiados por suas propriedades medicinais (e devo dizer que pelo gosto do autor também). O chocolate, por exemplo, ele aponta
O chocolate é a melhor bebida de quantas inventaram os castelhanos. É quente e seco, ainda que não falte quem diga que é temperado, sem excesso de calor, nem de frio. O certo é que ele se compõe de baunilhas, de canela e açúcar, que são quentes (...). Toma-se em jejum, ao almoço, de tarde e ao jantar, ou seja antes, ou depois de comer, que em qualquer tempo e a qualquer hora o recebe bem o estômago, falando em comum; porque estômago pode haver que sempre o receba mal, mas ordinariamente o aceitam bem os estômago; e não retarda o seu cozimento, ainda que se beba no tempo dele. As bebidas quentes sempre são mais próprias para os tempos frios, mas o chocolate, no inverno, no estio e em todo ano se pode tomar, usando-o com tal prudência que não ofenda por excessivo, o que aproveitará sendo moderado (HENRIQUES, 2004, p. 250).
Além disso, ao adoçar o chocolate, podemos perceber que o açúcar começa a ganhar um espaço específico, não tão misturado a carnes e algumas sopas como ocorria ainda no final de 1600. Já na segunda metade do século XVIII é demonstrado na obra de Henriques que o açúcar é cada vez menos utilizado no preparo de alimentos que já se usam o sal como tempero, resultando numa “separação” de pratos doces e salgados.
Assim, a obra pode nos ajudar a elucidar os hábitos alimentares dos mais abastados e do próprio Henriques. Essa busca irá considerar o lugar que ele ocupava na sociedade, um lugar de notoriedade e prestígio, seu acesso aos alimentos finos e distintos e seu gosto pessoal, que está discretamente demonstrado em seu livro, para que se possa entender a construção dos gostos da aristocracia portuguesa e nos mostrar o quanto sua obra sobre dietética é
Das utopias ao Autoritarismo
542
influenciada pelo modo de vida e hábitos alimentares do rei, ou seja, o seu cotidiano.
Sabemos que comida régia abrange a dimensão política. O corpo do rei é coberto de simbolismos que interliga a o sacro, o político e o natural, indissolúveis em uma só pessoa. Ele é representante de Deus na terra, o soberano do reino, mas possuidor de um corpo mortal. É de suma importância que o corpo real seja preservado em sua saúde. A alimentação do rei também era distinção social, ostentação e poder. Fazer várias refeições durante o dia era demonstrava essa distinção, com variedade de produtos que significavam a riqueza do soberano. A fartura, o luxo, a ostentação e abastança ratificam a singularidade, a distinção e o poder. A ostentação ia-se tornando o sinal distintivo e o principal motivo da mesa de grandes e de poderosos; cada vez mais longe de constituir um “lugar” de coesão social, ela era agora um espaço de separação e de exclusão (BUESCU, 2013, p. 26).
Rituais e hierarquias para que rodeavam a hora de comer são aspectos do simbolismo alimentar cortesão. A gula e a ostentação é, de fato, parte do cotidiano da corte, Henriques é ciente disso. Por isso o discurso de moderação se faz tão presente no decorrer de sua obra. Além do discurso acadêmico que os excessos trazem desequilíbrio dos líquidos humorais corpóreos, que atinge o corpo natural do rei, podem abrir espaços para outro viés. A gula, por exemplo, poderia abrir caminho para outras paixões carnais, associadas à luxúria ou qualquer outro excesso. Desta forma, se entende a predicação do controle das paixões e da moderação, para que o monarca não se adquira de vícios e enfermidades facilmente. Um rei não comedido poderia trazer a ruína ao reino.
Não apenas um manual dietético, mas aparentemente um manual de auxílio para a conduta real, que precisava visar ser equilibrada o máximo possível, apelando para a racionalidade para evitar agir por impulsos.
Sendo pois certo que as paixões da alma fazem tantos e tão graves danos, os que forem estudiosos de conservar a saúde, devem solicitar muito a tranquilidade do ânimo, resistindo à veemência daquelas afecções,
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
543
desprezando toda a ocasião e motivos que possam excitá-las, prevalecendo sobre todos os estímulos da paixão os superiores poderes do entendimento, que tudo dominam. É verdade que muitas são tais os casos e tão inopinados os sucessos, que não podem evitar-se as paixões, nem prevenir-se os sofrimentos. Mas passado o primeiro impulso, o que podem fazer os homens é divertir-se com vários entretenimentos, ou, empregos, que lhe moderem os sentimentos. Uns jogando, outros lendo, outros caçando, segundo as suas inclinações e todos conversando com pessoas de seu agrado, que nada diverte tanto quanto a conversação de quem se gosta, com a qual os prazeres se moderam e os trabalhos se aliviam (HENRIQUES, 2004, p. 285).
Além disso, o gosto poderia ser melhor apreciado se o comedimento fosse praticado. O prazer ao comer é pregado pela dietética como importante para que o corpo preservasse o equilíbrio humoral. Se o alimento agradasse ao palato do indivíduo era entendido que o estômago digeriria bem e o corpo absorveria os nutrientes, resultando no equilíbrio dos humores e ajudaria na manutenção da saúde, esse ensinamento perpassou eras desde a Antiguidade, junto com outros ensinamentos hipocráticos.
A relação prazer-saúde, que o imaginário contemporâneo tende frequentemente a perceber em termos conflitantes, nas culturas pré-modernas foi pensada como um nexo inseparável, no qual os dois elementos (o prazer e a saúde) se reforçavam alternadamente. A ideia de que o prazer seja saudável, que o “que agrada faz bem” é uma ideia-base da dietética antiga e medieval. E as “regras da saúde” são, primeiramente, regras alimentares, entendidas não no sentido da restrição (...), mas da construção de uma cultura gastronômica (MONTANARI, 2013, p. 90).
Na Âncora Medicinal podemos observar que esse ensinamento ainda vigora no pensamento médico do autor, que destaca que
O gosto é entre as paixões da alma a única que conduz para a preservação da saúde, porque, sendo moderado, faz com que o calor natural, os espíritos e o sangue se difundam a
Das utopias ao Autoritarismo
544
todo o corpo, de eu resulta grande vigor em todas as suas partes e boa nutrição, boa cor e boa umectação em todo ele. Por isto dizia o sábio: A alma alegre faz a vida florida (HENRIQUES, 2004, p. 284).
A conduta alimentar podia interferir na conduta moral (e vice-versa) do rei sendo, onde uma linha tênue dividia o prazer considerado saudável e o prazer maléfico. Dar vazão aos desejos carnais era perigoso e acarretar a corrupção da alma. A medicina tinha a função de se entender as coisas de Deus, assim o discurso médico lusitano nesse período era indissociável da moral religiosa, tendo o corpo como o templo de Deus, principalmente o corpo real, já que se tratava do representante da vontade do Todo-poderoso na terra.
Referências Bibliográficas:BIRMINGHAM, David. História Concisa de Portugal. São Paulo: Edipro, 2015.
BUESCU, Ana Isabel. Dimensão política e de poder da comida régia e do corpo do rei. Libros de la corte.es. n. 7, ano 5, outono-inverno, 2013.
CAIRUS, Henrique F.; ALSINA, Julieta. A alimentação na dieta hipocrática. Revista Clássica, v. 20, n. 2, p. 212-238, 2007.
DEL PRIORE, M. L. M. História do corpo. Anais do Museu Paulista, n. 3, p. 9-26, 1995.
HENRIQUES, Francisco da Fonseca. Âncora Medicinal - Para conservar a vida com saúde. 4. ed. Cotia: Ateliê Editorial, 2004 [1. ed. 1731].
MERLO, Patrícia M. da Silva. Os estudos médicos e o (des) conhecimento sobre o corpo no Setecentos português. Dimensões, Vitória, v. 34, p. 50-68, 2015.
MONTANARI, Massimo. Comida como cultura. 2. ed. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2013.
PALMESI, Luca. Saber e sabor: corpo, medicina e cozinha na obra de Francisco da Fonseca Henriques. Belo Horizonte: UFMG, 2014.
SILVA, Paula Pinto. Farinha, feijão e carne seca: um tripé culinário no Brasil colônia. São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2005.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
545
A Belle Époque, as mudanças sofridas após a Primeira Guerra Mundial e as influências sobre a
moda e a carreira do costureiro Paul PoiretNatália Dias De Casado Lima1
IntroduçãoNa França, o período que começa no fim do século XIX
e que se estende até 1914 é comumente chamado de Belle Époque, com mudanças socioeconômicas e culturais, além de transformações urbanas importante para o remanejamento da cidade. A cidade se expande, torna-se mais homogênea, dotada de infraestrutura e equipamentos sanitários e, sob esta nova lógica urbana, o modo de vida das pessoas também teve que se adaptar à nova realidade, assim como a moda. Esta foi extremamente influenciada pela estética do estilo Art Nouveau com suas linhas orgânicas e motivos florais. Assim, a figura da mulher ganha novos contornos e papéis culturais e socioeconômicos renovados, dado que este tipo de consumo se tornou um os mais importantes para a França a partir dessa época. Com esse destaque à moda, os costureiros tornam-se figuras célebres e, dentre eles, há Paul Poiret, homem que revolucionou as roupas femininas perto do fim da Belle Époque e mostrou sinais do estilo artístico que mais tarde seria chamado de Art Déco e que foi largamente adotado após a Primeira Guerra Mundial. Entretanto, Poiret não alcança o mesmo sucesso que antes da Guerra mesmo tendo lançado tais tendências e, por isso, este artigo busca analisar como as mudanças sociais, artísticas e econômicas ocorridas nesse meio tempo influenciaram a moda, a carreira e a queda do costureiro Paul Poiret.
1 Mestranda em História pelo programa de Pós-Graduação em História (PPGHIS) da Universidade Federal do Espírito Santo. Bolsista CAPES. [email protected].
Das utopias ao Autoritarismo
546
A Belle ÉpoqueApesar de não haver total consenso entre os pesquisadores
sobre a data de início da Belle Époque, este artigo considera que ela começou em 1871, momento que se segue à instauração da Terceira República francesa, e quando a França e Alemanha assinaram o Tratado de Frankfurt, permitindo um período de paz e desenvolvimento entre as potências europeias (MÉRCHER, 2012, p.1).
Dito isso, passa-se à modernização da cidade de Paris ocorrida durante a Belle Époque. Até o início do século XIX, a cidade tinha uma imagem distante daquilo que ela viria a ser. A sua modernização foi possível graças a um conjunto de fatores, dentre eles, a chamada Segunda Revolução Industria que ocorreu por volta de 1850, quando se acelera o avanço tecnológico, científico e industrial, e que permitiu a expansão de estradas de ferro, novas formas de utilização de materiais, novas fontes de energia e também melhorias nos sistemas de transporte e de comunicação.
Com o novo e crescente desenvolvimento da população, das tecnologias, da cidade e do comércio a partir da modernização de Paris, novas necessidades foram colocadas em pauta. Para isso foram necessários investimentos capazes de transformar a capital francesa em uma metrópole moderna, entre eles a substituição das antigas vielas e ruas estreitas, tortuosas e de difícil circulação, por largas avenidas longitudinais. Aos olhos do governo, a antiga estrutura urbanística também favorecia revoltas populares e a construção de barricadas, que não eram incomuns. Assim, o problema da circulação e da ordem pública fez com que o governo procurasse novas soluções, modificando a estrutura urbanística e o traçado das ruas, o alargamento de grandes avenidas e também investimento em saneamento básico.
Para comandar as necessárias mudanças logo em 1851, o Imperador escolheu o prefeito do antigo departamento do Sena Georges-Eugène Haussmann, mais conhecido como o barão de Haussmann, e um dos primeiros planejadores urbanos. Durante seu governo (1853-1870) ele submeteu Paris a um verdadeiro processo de reconstrução ao demolir antigas ruas, casas e pequenos comércios, e
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
547
reorganizou a cidade sob a lógica geométrica de grandes avenidas, que dificultariam os levantes populares e as barricadas.
Com a transformação da cidade, o modo de vida de muitas pessoas também mudou, principalmente das classes mais favorecidas e que podiam desfrutar das novidades, como a bicicleta. Segundo WEBER (1988, p. 239), a bicicleta “foi um emblema do Progresso e um de seus agentes no fin-de-siècle”. Por anos ela foi um luxo e o ciclismo era considerado um passatempo caro, mas o número de bicicletas passaria de 300 mil em 1897 para 3,5 milhões em 1914 (WEBER, 1988, p. 244). Tanto homens quanto mulheres passaram a experimentar os prazeres dos passeios que esse meio de transporte possibilitava, que também gerava uma mobilidade rara na época sendo que Clubes de ciclismo estimulavam atividades e surgiram competições.
Dentro da modernização de Paris, na Belle Époque, e das transformações culturais traduzidas pelo modernismo, também é importante ressaltar os “boêmios”. Esta palavra pode significar apenas quem é natural da região da Boêmia, e também os nômades ciganos. Mas, no contexto espaço-temporal apresentado, representa a pessoa que se identifica mais com a rua que com sua própria casa. Não se preocupa tanto com o conforto, preferindo frequentar bares, salões e cafés, desfrutando da companhia de míseros poetas, músicos, pintores, de diferentes nacionalidades que escolhem para viver e trabalhar em Paris.
A burguesia também passou a frequentar os salões de música, restaurantes e cafés, além do próprio teatro, que também teve grande importância na nova vida urbana de Paris – e não desbancado pelo cinema - sendo ele um lugar de luxo. Outra grande obra que veio da modernização de Paris foi a Ópera Garnier, projeto de um concurso em que o vencedor foi Charles Garnier. Sua construção terminou em 1875 e passou a abrigar a Ópera Nacional de Paris, além de servir de inspiração para diversos teatros pelo mundo, como o Teatro Municipal do Rio de Janeiro (1909) e o de São Paulo (1911).
Apesar de a modernidade trazer bem mais coisas aproveitáveis para a sociedade do que seus difamadores estavam
Das utopias ao Autoritarismo
548
dispostos a reconhecer ou sequer perceber, a experiência do progresso não foi totalmente unânime, como já foi visto ao longo do capítulo. A “noção de fim” era percebida através de “sintomas de degeneração”, que traziam implícitos pensamentos de diminuição e decadência. Homossexualismo e travestismo andavam na mesma esfera social, pois trazia esse sentimento ao fin-de-siècle. Não muito longe disso estavam as mulheres, tratadas sempre de maneira ambígua ao longo da história.
Mesmo que a situação das mulheres não fosse “inteiramente negra”, para a maioria dos homens e mulheres, a função principal delas era a maternidade, ou seja, não eram vistam como outra coisa a não ser um útero. E isso se aplicava a todas as camadas sociais. As mulheres mais ativas não estavam mais tão interessadas em serem mães e preferiam ser livres, trabalhar e namorar. Métodos contraceptivos começaram a evoluir, como o “coito interrompido”, e essa emancipação do destino biológico serviu como um degrau para a emancipação do destino social (WEBER, 1988, p. 115).
Isso torna possível dizer que os direitos das mulheres estavam evoluindo. Elas conseguiram conquistas importantes – o que poderia ser visto com desgosto por alguns -, como: mulheres podiam abrir poupanças sem a permissão dos maridos em 1886; em 1893 mulheres solteiras tiveram capacidade legal reconhecida; o direito de testemunhar em ações civis em 1897, etc. De acordo com WEBER (1988, p. 11), em 1884, o divórcio se tornou possível, ainda que difícil, e em vinte anos a proporção de casamentos para divórcios e separações passou de 93:1 para 23:1. Contudo, isso não foi suficiente para acabar com seus problemas.
Outra questão que envolvia as mulheres era sua vestimenta. Algumas preferiam usar calças ou vestir-se como homens, e eram consideradas extremamente exóticas. WEBER (1988, p. 51) afirma que em 1892 o Ministro do interior chegou a emitir uma circular avisando a todas as prefeituras que as mulheres só poderiam usar roupas masculinas “para fins de esporte velocípede”. Algumas usavam também para se disfarçarem de homens em fábricas para conseguirem emprego, ou para ganharem salários maiores. Esse tipo de censura
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
549
acabou com o passar dos anos e, como EKSTEINS (1991, p. 57) afirma: “o mundo de 1893, quando um manual de etiqueta francês declarava que um jovem respeitável nunca se sentaria no mesmo sofá com uma moça, parecia, vinte anos mais tarde, decididamente medieval”.
Como se pôde perceber, as mudanças ocorridas durante a Belle Époque também foram importantíssimas para as mudanças nas vestimentas de acordo com os novos modos de vida associados à vida moderna. Assim, passamos agora para uma análise do fenômeno da moda e os seus desdobramentos durante a Belle Époque.
A moda na Belle Époque e sua relação com as artesQuando falamos de “moda”, nos referimos à indumentária, e
este termo será usado aqui como sinônimo de “roupa” ou de “vestuário”. De acordo com LIPOVETSKY (2014, p. 79) pode-se dizer que foi durante o século XIX que ela se instalou e que surgiu “um sistema de produção e de difusão desconhecido até então e que se manterá com uma grande regularidade durante um século”. Porém, antes de adentrar o tema, é preciso fazer uma pequena análise de alguns conceitos sobre a moda para que a compreensão do assunto seja melhor captada, como a sua definição e a sua relação com o “novo”.
Primeiramente, expõe-se a definição do Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa (1980, p. 1156):
Moda, s. f. (fr. Mode). 1. Uso corrente. 2. Forma atual do vestuário. 3. Fantasia, gosto ou maneira como cada um faz as coisas. 4. Cantiga, ária, modinha. 5. Estat. O valor mais frequente numa série de observações. 6. Sociol. Ações contínuas de pouca duração que ocorrem na forma de certos elementos culturais (indumentária, habilitação, fala, recreação, etc.). S. f. Pl. Artigos de vestuário para senhoras e crianças. Antôn.: anti-moda.
Portanto, a moda é encarnada por diversos elementos culturais, e não somente a roupa. Entretanto, é com o estudo da indumentária que o fenômeno da moda se torna mais evidente, sendo assim sua maior representante.
Das utopias ao Autoritarismo
550
Nesse sentido da relação entre moda e vestuário, o que significaria a palavra “moda”? Como o seu estudo não é uma ciência exata, diversos estudiosos têm respostas diferentes para essa questão. KAWAMURA (2005, p. 03) afirma que a etimologia da palavra “moda” vem de modus, que significa “maneira” ou “modo” em português, “manner” em inglês e “maniére” em francês. Dentro dessa noção, enquanto a roupa significa o conjunto genérico de materiais que uma pessoa usa, a moda possui um grande número de significados sociais diferentes.
SVENDSEN (2010, p. 12) afirma que o termo “moda” é especialmente difícil de definir, mas que pode se referir a duas categorias principais: ao vestuário ou ao fato de que é um mecanismo, lógica ou ideologia que se aplica à área do vestuário. Ele cita Baudelaire, que afirma que a moda é um esforço para alcançar a beleza (2010, p. 28), Kant, que considera a moda a ordem da vaidade e da insensatez (2010, p. 43), e Thorstein Veblen, que considera a moda uma forma de promoção social, pois “não basta ter dinheiro e poder: isso tem de ser visível” (2010, p. 44).
Para CALANCA (2011, p. 11) a moda é “um fenômeno social da mudança cíclica dos costumes e dos hábitos, das escolhas e dos gostos, coletivamente validado e tornado quase obrigatório”, e este concerne a todos os meios de expressão e de transformação do homem (2011, p. 14). Desta forma, a moda seria um fenômeno que espelha de certa forma os fenômenos socioeconômicos, culturais e políticos, diferente do que a autora considera como “costume”, que seria um hábito de se vestir constante e eu determina o modo de ser de pessoas de um mesmo contexto histórico-social.
KAWAMURA (2005, p. 01) defende que a moda é uma atividade coletiva, uma instituição que produz fenômenos e conceitos. Ela dá às roupas elementos imaginários, como uma marca, e o que as pessoas realmente compram são esses valores. A teórica considera, por isso, que “tentar definir uma peça como moda é fútil, pois a moda “não é um produto material, mas um produto simbólico, que sozinho não tem conteúdo ou substância” (2005, p. 02, tradução nossa).
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
551
Partindo para q questão do “novo”, segundo SVENDSEN (2012, p. 06), ele e a “moda” frequentemente andam juntos devido às suas naturezas voláteis. CALANCA (2011, p. 12) chega a afirmar que “pode-se dizer que existe moda quando o amor pelo novo se torna um princípio constante, um hábito, uma exigência cultural” e, assim, o “novo” se torna um item comprável (KAWAMURA, 2005, p. 06).
Entretanto, como lembra MONNEYRON (2007, p. 114), é extremamente difícil, diria até impossível, abstrair-se do que já existiu. SVENDSEN (2010, p. 10) afirma que a moda é a “eterna recorrência do novo”, sendo os dois termos coisas diferentes. “A moda não precisa de fato introduzir algo novo; ela pode dizer respeito igualmente ao que não se está usando, como quando se tornou moda não usar chapéu” (SVENDSEN, 2010, p. 15). A moda também pode ser considerada como mudança, mas nem toda mudança é necessariamente moda. De acordo com SVENDSEN (2010, p. 24), ela só se configura como tal quando busca a mudança por si mesma, e ocorre com uma frequência relativa. E, de acordo com GODART (2010, p. 86), essas mudanças na moda podem ser endógenas e exógenas, ou seja, devido a mecanismos internos ou externos em relação a ela. SVENDSEN (2010, p. 31) afirma que as mudanças na moda ocorrem mais por causa de condições internas do que com desenvolvimentos políticos, porém, vale lembrar que uma esfera influencia a outra.
Ainda segundo SVENDSEN (2010, p. 26), a noção de “novo” só surgiu com o advento das ideias iluministas durante o século XVIII, quando “ser moderno se torna um valor em si mesmo”, e também se torna sinônimo de “novo”. Cria-se então uma tendência ao gosto pela novidade, mesmo que essa na verdade tenha grandes inspirações em elementos já usados no passado. Assim, pode-se considerar que a moda tem um movimento cíclico e, com o passar dos anos, o intervalo entre esses ciclos se torna cada vez menor, diminuindo a distância entre o novo e a reciclagem. Assim como outros estudiosos, SVENDSEN (2010, p. 31) conclui que a moda é irracional, pois busca a “mudança pela mudança”.
Sobre a relação entre o fenômeno da moda e a sua relação com a arte, existem diversas interpretações possíveis sobre elas entre
Das utopias ao Autoritarismo
552
estudiosos que defendem que a moda seria uma forma de arte ou não. Esta pesquisa considera que a moda está mais próxima da arte visual e plástica do que, por exemplo, a linguagem verbal defendida por Roland Barthes no livro O Sistema da Moda (2009). A semântica da moda e das roupas seria instável porque, de acordo com SVENDSEN(2010, p. 80), na sociedade pós-moderna elas funcionariam como “textos abertos” que podem adquirir novos significados a qualquer hora dependendo do contexto e da temporalidade, ao passo que a linguagem verbal tem uma estabilidade muito maior.
Nem todos concordam que a moda seja de fato arte, mas defendemos a visão de que a moda pode ser considerada arte dependendo da interpretação a ela dada, e considerando que na atualidade as fronteiras da arte se diluíram e a mesma deixou de ser pura, hibridizando-se com outras formas de linguagens, processos e saberes.
Segundo GODART (2010, p. 13), a indústria da moda possui uma dualidade fundamental pois, ao mesmo tempo que é atividade econômica, é também atividade artística, já que seus designers e criadores transformam matérias-primas inertes em objetos dotados de significado expressos através de cortes, cores ou uma logomarca. Portanto, a indústria da moda gera símbolos carregados de significado, podendo ser considerada uma indústria cultural ou criativa. Além disso, mesmo podendo ser considerada arte, SVENDSEN (2010, p. 105 e 106) afirma que a moda ocupa um lugar especial entre a arte e o capital e que, desde o tempo do estilista Paul Poiret, “a arte foi usada para aumentar o capital cultural do estilista”.
A questão de a moda ser arte ou não gera muitos debates justamente por não ter sido considerada como tal de forma tradicional. Sob um ponto de vista de demarcação de uso, SVENDSEN (2010, p. 119) afirma que a moda usável pode ser vista como arte aplicada ou ofício, e a peça de roupa que acaba não sendo usável não pode ser considerada moda, mas pode ser arte. Entretanto, esta visão seria problemática por que no fim todas as roupas pretendem ser usadas e nem todo objeto inútil pode ser visto como arte. Há a visão de que a moda é arte quando esta faz algum tipo de reflexão com o
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
553
seu meio, ligando-se à autorreflexividade da arte moderna (2010, p. 121), mas ao mesmo tempo ela não chega a nenhuma conclusão já que seus significados mudam rapidamente com o tempo e lugar. Na opinião do autor (2010, p. 122), alguns exemplos de moda podem ser considerados arte e que os conceitos de arte e moda já foram expandidos o suficiente para englobar as duas coisas. No fim, uma acaba influenciado a outra e vice-versa.
Neste jogo de influências, destaca-se na Belle Époque a relação entre a moda e o estilo do Art Nouveau, que influenciou a grande maioria dos costureiros da época, dentre eles Paul Poiret.
Moda e Art Nouveau na Belle ÉpoqueO Art Nouveau esteve em voga aproximadamente entre 1890
e 1914, portanto, dentro da Belle Époque e completou seu ciclo junto com a chegada da Primeira Guerra Mundial. Ele explodiu na França por volta de 1895, espalhando-se em diversos países como a Bélgica e a Rússia. Entretanto, suas origens começam antes, pois usualmente associa-se o estilo com o Arts and Crafts, um movimento estético e social inglês que durou relativamente pouco tempo, mas que deu as bases para o surgimento do Art Nouveau. De acordo com um catálogo da National Gallery of Art de Washington – NGA (2000, p. 07) -, a Inglaterra vinha se industrializando em ritmo acelerado e maior que nas outras nações justamente por ter tomado a dianteira desde a primeira Revolução Industrial, e as insatisfações com o “progresso” fizeram com que homens como John Ruskin e William Morris quisessem chamar a atenção para a restauração do status do artesão, pois temiam que a máquina padronizasse e serializasse os objetos, contribuindo para a banalização e a massificação dos valores estéticos.
A partir de 1880, algumas associações inspiradas pelas ideias de Morris e Ruskin – como a Century Guild – surgiram na Inglaterra, destacando-se a The Arts and Crafts Exhibition Society. Era uma exposição quadrienal que englobava principalmente móveis, tapeçaria e estofados, fundada em 1888 por Walter Crane e este foi o momento em que se utilizou o termo “Arts and Crafts” pela primeira vez.
Das utopias ao Autoritarismo
554
Por volta de 1890, o Art and Crafts se misturou com o Art Nouveau. Segundo GOMBRICH (2013, p. 412), Ruskin e Morris tinham a esperança de que a arte pudesse voltar quase que para o status medieval do artesão, mas muitos artistas, cansados da repetição de formas, métodos e ornamentos clichês de épocas passadas, perceberam que isso não seria possível e, por isso, foram atrás de uma “Arte Nova”. O termo foi usado pela primeira vez em 1894 por Edmond Picard em L’Art Moderne, e em 1895 Siegfried Bing abre a Maison L’Art Nouveau em Paris. O catálogo da The National Gallery of Art (2000, p. 07) atesta que o Art Nouveau herdou do Arts and Crafts a crença na união de todos os tipos de arte e sem fazer uma distinção entre Belas Artes e Artes Aplicadas. Além disso, contribui para a aproximação com o artesanato e a “arte pela arte”, dando importância à “simplicidade elegante”, individualismo romântico e a uma tendência ao erotismo.
De fato, as mulheres eram de central importância no Art Nouveau. De acordo com Rose (2014, p. 07), elas serviam de “musas inspiradoras” em diversas obras, mas não eram apenas temas das artes, como do comércio: estavam nos Cafés, nos postes de rua, nos Balés Russos e até no absinto. Não faltariam na época figuras femininas vestindo um elegante vestido com espartilho, nas representações da beleza ideal das ilustrações de Alphonse Mucha ou nas pinturas de Gustav Klimt, representações essas consideradas provocativas na época.
GOMBRICH (2013, p. 412 e 427) também afirma que aqueles que se colocaram sob a bandeira do Art Nouveau queriam ter um novo olhar sobre o desenho, a pintura, a ornamentação e as possibilidades que os novos materiais possibilitavam.
Linhas curvas e orgânicas e motivos da flora e da fauna eram extremamente comuns, na nova arte. Segundo o catálogo da NGA (2000, p. 08), para uma pessoa vivendo no fim do século XIX, a recorrência à natureza não era neutra, pois sugeria um modelo de transformação e metamorfose. Também apontam para o fato de que a sexta edição de A Origem das Espécies, de Charles Darwin, fora publicada em 1871 e ilustrada pela primeira vez, o que pode ter influenciado o interesse dos artistas pela dinâmica da natureza.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
555
LAHOR (2007, p. 236) afirma que a paixão dos artistas pelo Art Nouveau foi diferente na França em relação a esses motivos florais do que em outros países, pois “ao invés de apenas decorarem esquematicamente a natureza, os artistas franceses se concentraram em embelezar novas formas com ornamentações esculpidas que mantinham a graça natural das flores”.
Convém destacar a influência oriental sobre o Art Nouveau, pois, como afirma GOMBRICH (2013, p. 412), “se a tradição ocidental estava demasiadamente ligada aos antigos métodos, por que não buscar no Oriente outra gama de padrões e novas ideias?”. Segundo François BOUCHER (2010, p. 373), a industrialização, o desenvolvimento de meios de transporte e a melhoria das relações internacionais contribuíram para que aspectos orientais adentrassem a cultura europeia – inclusive através das Exposições Universais – e intensificassem o intercâmbio artístico e cultural.
Os balés russos influenciaram a moda e culturas árabes e trouxeram a utilização de cores que antes eram ignoradas. Segundo o catálogo da NAG (2000, p. 07), a arte islâmica sempre teve algum grau de influência na Europa, mas o Art Nouveau foi “especialmente receptivo às suas curvas sinuosas e ‘arabesques’”, além de contribuir com temáticas exóticas que poderiam exaltar o “luxo sensual” e o erótico.
Havia também o Japonisme e Kitayama (2010, p. 64) propõe diversas interpretações do que representava esta palavra. O termo começou a ser usado em meados do século XIX para ilustrar o espírito, as artes ou os modos japoneses. Depois passou também a designar produtos artesanais japoneses – como cerâmicas, leques e quimonos -, podendo ser visto como a comercialização do gosto refinado japonês nessa época. O ponto é que o Japonisme também se infiltrou no Art Nouveau. A estampa Ukiyo-e deu o espírito floral e natural ao movimento e inspirou diversos artistas. Um exemplo dessa influência japonesa seria o quadro “Irises” (1889) – também conhecido como “Iris” ou “Lírios” -, de Van Gogh, inspirado pela estampa Ukiyo-e chamada Iris (anos de 1820), de Katsushika Hokusai. Van Gogh utilizou essas estampas como inspiração para diversos outros quadros,
Das utopias ao Autoritarismo
556
da mesma forma que outros artistas contemporâneos à época, como Gauguin, Manet, Degas e Toulouse-Lautrec. Até mesmo Siegfried Bing, fundador da já citada Maison de L’Art Nouveau, era um grande conhecedor da arte japonesa.
Todas essas características do Art Nouveau também acabaram influenciando os costureiros e a moda em algum nível. Nesse ambiente de intercâmbio artístico e intelectual cresceu a Haute Couture (alta-costura) e as primeiras lojas de departamento francesas (Le magasin). Apesar de a confecção industrial ter surgido antes da alta-costura, esta
monopoliza a inovação, lança a tendência do ano; a confecção e as outras indústrias seguem, inspiram-se nela mais ou menos de perto, com mais ou menos atraso, de qualquer modo a preços incomparáveis (LIPOVETSKY, 2014, p. 80).
Logo no começo da Belle époque, por volta de 1870, já havia a influência do japonisme. Segundo STEVENSON (2012, p. 60), as cores de vermelho ouro passaram a ser mais vistas, e os designers procuraram novas formas de utilizar os tecidos, além do uso extensivo de objetos como o leque.
De acordo com STEVENSON (2012, p. 67), a nova curvatura de meados de 1880 era considerada melhor para a saúde por a tournure (uma espécie de crinolina) ter sido concebida como suporte. A linha da silhueta da mulher começou a ficar mais esbelta e novos tecidos foram incorporados à moda, como cetins e rendas, mas estes não poderiam ser usados em quaisquer ocasiões, pois foi também por volta desse momento que ficaram mais notáveis as diferenças entre os trajes dependendo da hora do dia e da ocasião.
Segundo BOUCHER (2010, p. 376), O desaparecimento da tounure inaugura a fase de 1885 a 1900, quando havia uma loucura por chapéus com flores e plumas. As saias menos longas e em formato de sino, os espartilhos e a gola alta deram ao busto feminino uma postura arqueada e de cabeça erguida. Segundo James Laver (2014, p. 213):
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
557
A moda, como sempre, era um reflexo da época [...]. Preferia-se a mulher madura, fria e dominadora, com o busto pesado, cujo efeito era enfatizado pelos chamados espartilhos ‘saudáveis’ que, num esforço louvável para evitar a pressão sobre o abdômen, tornava o corpo rigidamente ereto na frente, levantando o busto e jogando os quadris para trás. Isso produzia a postura peculiar em forma de S tão característica da época.
Os “espartilhos saudáveis” eram reforçados com cordões e eram uma alternativa aos espartilhos tradicionais de barbatanas. Esse formato em “S” é uma das influências mais evidentes do Art Nouveau na moda. Além dos novos tecidos, motivos florais e das plumas de pavão, o “S” também seguia o gosto pela linha ondulada tão característico do estilo.
Há também a influência inglesa com os costumes tailleurs em 1886, que os franceses adaptam para que tivessem linhas menos severas. De acordo com BOUCHER (2010, p. 387), o “traje da cidade”, que não precisava necessariamente seguir todos os mandamentos da moda, “se simplifica com o surgimento do costume tailleur, em tecido liso, de aspecto masculino, com cinto de couro. As blusas chemisier, de gola alta, são roupas práticas para as mulheres que começam a levar uma vida mais ativa”. Segundo LAVER (2014, p. 211), a década de 1890 foi uma época de mudança de valores:
A velha e rígida estrutura social estava se desfazendo visivelmente, com milionários sul-africanos e outros nouveaux riches tomando de assalto as cidadelas da aristocracia. Para os jovens, havia uma brisa de liberdade, simbolizada tanto pelos seus trajes esportivos quanto pela extravagância de suas roupas cotidianas.
Deste modo, a mudança do estilo de vida das pessoas e da visão da mulher na sociedade influenciaram diretamente a moda. Entretanto, o “império do espartilho” ainda não tinha acabado. Por volta da década de 1890 ocorreu o surgimento do “ideal da ampulheta” a partir da Gibson Girl, outro exemplo da influência das formas orgânicas do Art Nouveau, mas dessa vez tendo sua origem nos Estados Unidos. Estampas florais, rendas, seda e cetim marcaram
Das utopias ao Autoritarismo
558
boa parte da moda Art nouveau. Um exemplo é um “Evening Gown” da Maison Worth, que ficou conhecido como La robe aux Lis.
Os anos entre 1900 e 1914 provavelmente foram os que mais sofreram mudanças na moda durante a Belle Époque. Por volta de 1908 a silhueta feminina se modificou novamente, com a diminuição do formato em S e a utilização de chapéus enormes, o que dava a impressão de que os quadris estavam ficando cada vez mais estreitos. No ano seguinte chegaram os Ballets Russes em Paris, o que causou um grande impacto na moda de até então. De acordo com STEVENSON (2012, p. 78),
os costureiros foram rápidos em sua resposta à vanguarda russa, com Paul Poiret ao timão. A riqueza do colorido, a decoração bizarra e o corte exótico foram traduzidos numa mudança fundamental que baniu a figura rigidamente espartilhada.
BOUCHER (2010, p. 389) concorda que é por volta de 1910 que a cintura dos vestidos muda sob a influência dos costureiros que preconizam o abandono do espartilho. A linha da cintura sobe e o corte fica mais reto, lembrando os vestidos da época do Diretório (por volta de 1790), mas que, ao invés de terem a aquela pureza branca, tinham uma “interpretação muito mais exótica em termos de cor e padrão” (STEVENSON, 2012, p. 80). É nessa época que também surgem os vestidos entravées, em que uma faixa reta reveste a barra dos vestidos, dificultando a caminhada. As mulheres não podiam dar passos maiores que 8 centímetros, porém, arranjos com dobras ajudaram a burlar essa parcial imobilidade.
Por fim, BOUCHER (2010, p. 393) afirma que em 1914 o traje feminino alcançou o estilo que pode ser resumido como o da “linha”: “ela condensa a renúncia ao volume e à liberdade de aparência, bem como a suavização dos tecidos e a audácia dos coloridos”, preconizando características do Art Déco2 alguns anos depois viria a ser moda alguns anos depois, e da qual o costureiro
2 Art Déco: estilo artístico marcado pelo uso de linhas geométricas. Foi direcionado principalmente à burguesia do pós-guerra, apesar de também atingir um público-alvo mais amplo graças à crescente produção em massa de roupas.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
559
Paul Poiret foi o principal “vanguardista”. Assim, passamos à análise das principais modificações que foram encabeçadas pelo estilo deste grande costureiro da Belle Époque.
Paul Poiret e suas criaçõesCharles Frederick Worth sem dúvida foi um dos costureiros
mais importantes do período, mas sua morte em 1895 deixa espaço para que outros costureiros possam alcançar os holofotes no auge da Belle Époque. A partir do começo do século XX, e principalmente nos anos de 1910, um dos costureiros que mais se destaca é Paul Poiret, e seu estilo influenciou e inspirou por quase uma década grande parte dos costureiros, criando tendências e realizando inovações que o tornaram digno de ser reconhecido como “King of Fashion” ou “Le Magnifique”.
Paul Poiret nasceu no dia 20 de abril de 1879, em Paris (França). Portanto, ele foi um homem de seu tempo, nascido em plena Belle Époque. Em sua autobiografia chamada King of fashion: the autobiography of Paul Poiret (2009), publicada pela primeira vez em 1931, Poiret afirma ser um “Parisiense de Paris” (2009, p. 01).
Quando já era um rapaz, foi trabalhar em uma loja que fabricava guarda-chuvas. Enquanto fazia entregas do produto por Paris, Poiret passou a vender alguns de seus esboços para Maisons de Couture famosas como Doucet, Worth e Paquin. Em 1898, ele foi chamado por Jacques Doucet para que parasse de “deixar seus ovos em cada cesta” (POIRET, 2009, p.11) e produzisse apenas para ele. Assim, Paul Poiret enfim entrou no mundo da Alta Costura e da produção de vestidos, trabalhando para Doucet quando este estava no topo.
Poiret fazia de tudo para ganhar importância dentro da Maison e chegou a ser chefe do departamento da alfaiataria. Lá ele conheceu os mais importantes clientes de Doucet e também participava das criações de novos modelos toda semana. Suas criações pessoais ainda seguiam bastante o modelo da época e tinham grande influência
Das utopias ao Autoritarismo
560
de seu mestre, mas não demorou muito para que suas opiniões fortes entrassem em conflito com Doucet e ele teve que deixar a Maison.
Desde a morte de Charles Frederick Worth em 1895, seus filhos Gaston e Jean deram continuidade à Maison Worth. Gaston, em determinado momento, falou com Poiret que seu irmão Jean se recusava a fazer determinados tipos de vestidos mais práticos e simples, mas que lhes eram pedidos. Era como se um restaurante só servisse trufas, mas precisava criar um setor de batatas fritas. A Poiret foi oferecida a tarefa de fazer as “batatas fritas” e assim ele passou a trabalhar para a Maison Worth.
Desde cedo, Jean Worth não gostava das roupas que Poiret fazia. Segundo ele, elas rebaixavam o status da Maison. Os desentendimentos com Jean e alguns de seus clientes fizeram com que Poiret não conseguisse ficar lá por muito tempo. Uma casa vazia na rue Auber fez com que Poiret começasse seus planos de abrir sua própria loja. A procura de apoio, ele chegou para Gaston Worth e disse (POIRET, 2009, p.34 – tradução livre):
Você me pediu para criar um departamento de batatas fritas. Eu fiz isso. Estou satisfeito com isso e espero que você também. Mas espalha-se pela casa um odor de fritura que parece incomodar muita gente. Assim penso em me mudar para outro quarteirão, fritando batatas por minha conta. Você poderia pagar pela minha frigideira?
Gaston disse que entendia a impaciência de Poiret e admirava sua iniciativa, mas que não podia nem sonhar em investir em outro negócio que não fosse o seu, desejando-o boa sorte. Para poder conquistar seus objetivos, Poiret teve que contar com a ajuda da mãe, pois seu pai não fazia mais questão de ampará-lo. Em 1904, a Maison Poiret foi inaugurada. Apenas um mês depois, boa parte da alta sociedade de Paris já havia passado pela Maison, inclusive atrizes famosas.
As principais criações de Paul Poiret foram feitas por volta de 1910, consagrando seu estilo na História da moda da Belle Époque. Ele influenciou outros costureiros e pode ser considerado o precursor de uma nova era, estendendo suas influências pelos anos vindouros.
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
561
Entretanto, antes de alcançar sua “marca”, o estilo de Poiret passou por diversas mudanças, assim como é comum a qualquer artista que procura se desenvolver.
Durante o período em que trabalhou na Maison Worth com a missão de criar um departamento de “batatas fritas”, com roupas menos complicadas e mais “populares”, Poiret começou uma fase de transição entre o que era “comum” e o seu estilo reconhecido. Lá, ele fez criações baseadas nos quimonos japoneses, que mais tarde ele evoluiria a técnica e faria mais “Kimono coats”. Em 1906, já na Maison Poiret, ele era capaz de criar vestidos com tecidos mais soltos, mas, no mesmo ano, também fazer algo mais parecido com o que era feito até então.
A partir de 1906, Poiret também começou a popularizar vestidos de cintura alta. Isso levou a uma das principais revoluções na moda nessa época e é uma das coisas que mais fazem Poiret ser lembrado: o abandono do império do espartilho. Nesse ponto, seu estilo começou a ser mais baseado em formatos, linhas e construções simples. As linhas do pescoço passaram a ficar mais abertas e os tecidos soltos criavam uma silhueta mais longa e reta. Esse formato foi inspirado nas roupas do Primeiro Império, quando não se dava tanto destaque aos quadris.
Essas mudanças foram chocantes para a época, mas bem aceitas pelas mulheres. A supressão do espartilho deu a elas “liberdade”. De acordo com BOUCHER (2010, p. 390), a moda passou a ter um seguimento mais sóbrio a partir desse tipo de corte mais simples, sendo preciso o uso de acessórios. Poiret critica essa tendência “homogênea”. Segundo LIPOVETSKY (2014, p.86): “Paul Poiret abandonou o espartilho, deu uma flexibilidade nova ao andar feminino, mas permaneceu fiel ao gosto da ornamentação sofisticada, à suntuosidade tradicional do vestuário”. De acordo com ROSE (2014, p. 26), foi justamente a simplicidade da estrutura do vestido que deu destaque à beleza dos tecidos e estampas, sendo então um tipo de costura muito bem aproveitado pelo Art Nouveau.
Segundo BOUCHER (2010, p.374), antes mesmo de 1910 e
Das utopias ao Autoritarismo
562
da invasão oriental, Paul Poiret já estava revolucionando no uso das cores na moda feminina, “substituindo os tons pálidos e evanescentes pelo roxo-escuro, o vermelho vibrante, o laranja quente, o verde e o azul vivos que ‘fizeram tudo cantar’”. Ele criou foram novidades em que seus colegas viram potencial, pois, além de serem diferentes, também agradavam a clientela. Mais uma vez fica clara a busca de Poiret pela individualidade e como essa época foi essencial para a criação da moda contemporânea.
Por intermédio do Novo, a organização artesanal, com suas lentidões e suas inovações aleatórias, pôde dar lugar precisamente a ‘uma indústria cuja razão de ser é criar novidade’ (Poiret) (LIPOVETSKY, 2014, p. 119).
Mas Poiret não tirou suas inspirações do nada. Ele foi influenciado pelas próprias tendências do Art Nouveau característico da época, mas seu trabalho ficou realmente conhecido por causa das inspirações orientais. Em 1909-1910 ocorreu a citada invasão oriental que mudaria o seu estilo e o da moda na Belle Époque. De acordo com ROSE (2014, p. 26), Poiret foi profundamente influenciado pela chegada do Balé Russo de Serge Diaghilev a Paris em 1909, com cenários que ilustravam a cultura exótica da Ásia central e o Oriente Próximo. LAVER (2014, p. 224) afirma que a peça Schéhérazade, com o figurino de Leon Bakst, tinha muitas cores espalhafatosas e “a sociedade as adotou com entusiasmo”. Poiret foi muito influenciado por Bakst, tanto que a autoria de algumas de suas peças foi erroneamente atribuída ao figurinista.
Por volta dessa época que Poiret criou os vestidos entravés. Em sua autobiografia, o próprio Poiret admite que libertou o busto, mas algemou as pernas (2009, p. 36). Segundo LAVER (2014, p. 224), para evitar que a mulher desse um passo mais largo e rasgasse a saia do vestido entravé, “costumava-se usar uma tira larga de cadarço. Parecia que todas as mulheres (...) estavam determinadas a ter o aspecto de uma escrava de harém do Oriente”.
Mas Paul Poiret ainda tinha muito mais a mostrar. De acordo com BOUCHER (2010, p. 374-375):
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
563
Poiret, que se defendeu de ter ‘sofrido’ o orientalismo violento dos Ballets Russes, não imaginou apenas ‘tecidos de fogo e alegria’, criou também o turbante à oriental, os vestidos entravés, as saias sultanas, as túnicas suntuosas, as capas pesadas cobertas de borlas e franjas, os penachos de plumas multicoloridas e os torçais de pérolas rebrilhando sob echarpes de raposa branca.
A ocidentalização dos turbantes também pode ser atribuída a Poiret. Em sua autobiografia (2009, p. 95), ele afirma que visitou o Museu South Kensington (renomeado Museu Victoria and Albert em 1899), onde viu diversos tesouros da Índia. A exposição de turbantes foi o que particularmente lhe chamou atenção, e Poiret inclusive obteve permissão para pegar nas peças e examiná-las de perto. Ele chamou uma artista para o museu e ela copiou diversos modelos para lhe servirem de inspiração. Segundo Poiret, em poucas semanas eles fizeram os turbantes se tornarem moda em Paris. De fato, os turbantes ficaram populares e foi uma moda que seguiu também pelos anos de 1920, provavelmente por causa do advento dos carros motorizados e a proteção que os turbantes ofereciam aos cabelos das mulheres.
Com o início da Primeira Guerra Mundial, Paul Poiret foi servir no exército como costureiro e o mundo da moda deu uma estagnada geral por alguns anos. Após seu retorno em 1919, Poiret não conseguiu se adequar muito bem às ideias modernistas, falindo em 1929. Entretanto, é preciso fazer uma análise um pouco mais profunda das mudanças sofridas pela sociedade e pela cultura da época para que se possa compreender por completo a queda deste costureiro que, mesmo lançando tendências que seriam moda nos anos de 1920, como os turbantes e os vestidos “retos”, não conseguiu o mesmo sucesso.
As mudanças do pós-guerra e o fim da carreira de PoiretA Primeira Guerra mundial foi um evento extremamente
traumatizante principalmente para a Europa, que presenciou em primeira mão e em seu próprio território os horrores da “guerra de trincheiras” e de novas armas letais. Ela perdurou durante os anos
Das utopias ao Autoritarismo
564
de 1914 e 1918, e não teria como o mundo e a sociedade europeia serem os mesmos que eram antes. Diversas mudanças nas artes, nos costumes sociais e na cultura de forma geral, na política e na economia transformaram a sociedade europeia para algo que não poderia mais voltar atrás naquele momento da História.
Entretanto, algumas dessas mudanças já mostravam seus primeiros sinais de mudança antes mesmo da guerra, como nas artes. Segundo GOMBRICH (2013, p. 379-380), a “quebra de tradição” que possibilitou o surgimento do modernismo como movimento artístico começou desde a Revolução Francesa em 1789, que modificou o contexto em que os artistas viviam e trabalhavam. A Revolução Industrial possibilita a adoção de novas tecnologias, máquinas e materiais.
Nos campos da pintura e da escultura, GOMBRICH (2013, p. 381) afirma que, no século XIX, os artistas perderam a segurança com os quais estavam acostumados em relação ao seu ofício.
Artista nenhum precisava se perguntar sobre o porquê de sua presença no mundo. Em certo sentido, seu trabalho era tão bem definido quanto qualquer outra vocação (...). Em todas as tarefas, ele podia trabalhar a partir de linhas mais ou menos preestabelecidas.
A quebra da tradição abriu aos artistas um leque ilimitado de opções ilimitado. Já em 1802, John Constable escreveu que “não há espaço para um pintor natural. O grande vício dos dias de hoje é a bravura, a tentativa de fazer algo que vá além da verdade” (GOMBRICH, 2013, p. 375), isto é, além do objetivo.
Em meados do século XIX, a fotografia também contribuiu para essa visão da rejeição do objetivo, pois, para muitos artistas, não fazia mais sentido fazer uma reprodução da realidade na pintura se ela já poderia ser captada através da foto, mesmo que em preto e branco. Mesmo que o academicismo ainda priorizasse movimentos mais tradicionais, como o Neoclassicismo e o Romantismo, foi com vanguardas e novos estilos artísticos, como o Art Nouveau, que muitos artistas resolveram seguir ao longo dos anos. Foram movimentos
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
565
que deram mais importância à forma, às cores, ao movimento e ao sentimento subjetivo do que o realismo, mas, segundo GOMBRICH (2013, p. 382), quanto mais se ampliava a gama de possibilidades, maior a probabilidade de que o gosto do artista não coincidisse com o gosto do público.
Devido ao fato de a subjetividade artística ter ganhado importância, esta também foi possivelmente a primeira vez que a arte se tornou um meio de expressão individual. Poucos artistas de sucesso na época que seguiam a arte acadêmica são lembrados anos depois, mas os vanguardistas, muitos reconhecidos apenas postumamente, têm suas obras expostas em museus e coleções particulares, expostas para uma diversidade enorme de pessoas. GOMBRICH (2013, p. 386-387) defende que a provável causa para isso é que “nossas concepções a respeito do passado tendem a mudar muito rápido”, e talvez em outro momento da história essas obras esquecidas sejam resgatadas e recebam seu mérito, mas o fato é que o que atualmente restou do século XIX foi feito por um seleto grupo de artistas que tiveram coragem para enfrentar as convenções de sua época.
O ano de 1914 marca não só o fim da Belle Époque como o fim da era de ouro do Art Nouveau com a chegada da Primeira Guerra Mundial, momento em que todas as esferas públicas e privadas entram em crise na Europa. Entretanto, o estilo foi perdendo força já por volta de 1910, quando outro estilo artístico que mais tarde seria conhecido como Art Déco começou a dar os seus primeiros sinais, mesclando-se com o Art Nouveau de então.
Além disso, GOMBRICH (2013, p. 427) afirma que alguns artistas sentiam que haviam “perdido alguma coisa” em meio a essa busca da “arte pela arte” e a ornamentação puramente bela, citando Cézanne, que achava que havia perdido o “senso de ordem e equilíbrio”, Gauguin, que estava insatisfeito com a arte do momento e aspirava algo mais simples e direto, e Van Gogh, que sentia que “ao render-se às impressões visuais e não explorar nada além das qualidades ópticas da luz e da cor, a arte corria o risco de perder a intensidade e a paixão que são os únicos meios pelos quais o artista pode comunicar seus sentimentos aos demais”.
Das utopias ao Autoritarismo
566
GOMBRICH (2013, p. 427) defende que a Arte Moderna surgiu desses descontentamentos e que gerou movimentos como o Expressionismo, Cubismo e Primitivismo. Diante de tantas novas tendências artísticas, o Art Nouveau foi se esvaindo aos poucos e, após a Primeira Guerra Mundial, ele não seria retomado.
De acordo com LIPOVETSKY (2014, p. 80-82), a confecção de roupas no pós-guerra sofreu transformações com uma maior divisão do trabalho, o maquinismo aperfeiçoado e o progresso da indústria química. Na metade dos anos 20, a indústria de luxo da Alta Costura parisiense ocupou o segundo lugar nas exportações. Por causa desses fatores e do mundo novo que surgiu após a guerra, as mulheres passaram a exigir roupas mais “práticas” e menos ornamentadas. ALVAREZ (s.d., p. 47) também defende essa ideia, dizendo que após a Primeira Guerra o papel da arte sofreu mudanças com o novo estilo agitado da vida urbana e foi necessário criar novas estruturas de pensamento e expressão do subjetivo. Foi graças a isso que o Art Nouveau deu lugar ao Art Decó, um estilo artístico marcado principalmente pelo uso de linhas geométricas e relativamente mais simples que a ornamentação exagerada do Art Nouveau.
Poiret já vinha lançando essas tendências de linhas mais retas e simples na moda e algumas de suas características se mantiveram como inspirações, como o extenso uso de penas. A própria supressão do espartilho não sumiu imediatamente com ele, mas foi a tendência dos anos de 1920. Entretanto, mesmo que Poiret tivesse se diferenciado do que era mais comum ao Art Nouveau, ele também era um homem de seu tempo e sempre prezou pela riqueza de detalhes e a ornamentação.
Essa mudança de estilo e de formas de pensamento foram empecilhos para Poiret. Ele teve muitos problemas para se adaptar e teve dificuldade de abandonar tendências que não correspondiam mais a o que as mulheres procuravam e aos novos anseios da sociedade. Como a moda está sempre em movimento, se ninguém mais usar determinado tipo de roupa, ele se torna ultrapassada; deixa de ser moda. Segundo Boucher (2010, p. 400), Poiret mantém a exuberância das cores nas suas criações, uma de suas características favoritas, e,
André Ricardo Valle Vasco Pereira [et. al.] (org.).
567
apesar de tudo, ainda consegue fazer vestidos que se destacam, mas sem o mesmo alvoroço de antigamente.
ConclusãoDiante da análise apresentada neste artigo, conclui-se que
uma guerra pode gerar tantas mudanças nas mais diversas esferas públicas e privadas que toda uma cultura de uma sociedade pode ser modificada a ponto de afetar escolhas que antes eram bem vistas pela maioria, como pinturas, esculturas e roupas, mas que se tornam insuficientes para expressarem os novos modos de pensar das pessoas.
Paul Poiret foi um costureiro que ditou a moda da Belle Époque principalmente por volta de 1910 e lançou tendências que seriam moda na década seguinte, mas como as pessoas do pós-guerra tinham a inclinação de negarem grande parte das coisas que eram de antes da guerra, Poiret foi enxotado pra um limbo de onde não conseguiu sair por não ser capaz de adaptar suas criações à novas necessidades culturais e sociais exigidas nas roupas, principalmente das mulheres e seus novos papéis sociais.
Referências bibliográficas:BARTHES, Roland. Sistema da Moda. São Paulo: Martins Fontes, 2009.
BOUCHER, François. História do vestuário no ocidente. São Paulo: Cosac Naif, 2010
CALANCA, Daniela. História Social da Moda. São Paulo: Senac, 2011
DICIONÁRIO Brasileiro da Língua Portuguesa. São Paulo: Mirador Internacional, 1980.
EKSTEINS, Modris. A sagração da primavera: a guerra e o nascimento da era moderna. Rio de Janeiro: Rocco, 1991.
GODART, Frédéric. Sociologia da moda. São Paulo: Senac São Paulo, 2010.
GOMBRICH, E. H. História da Arte. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
KAWAMURA, Yuniya. Fashion-ology: na introduction to fashion studies.
Das utopias ao Autoritarismo
568
Oxford; Nova Iorque: BERG, 2005.
KITAYAMA, Kenji. Qu’est-ce que le japonisme? Revista Estudos Culturais Europeus, Departamento e literatura da Universidade Seijo, v. 29, p. 69-95, mar. 2010. Disponível em: <https://seijo.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=603&item_no=1&page_id=13&block_id=17>. Acesso em: 20 jul. 2018.
LAHOR, Jean. Art Nouveau: art of the century. Nova Iorque: Parkstone International, 2007.
LAVER, James. A roupa e a moda: uma história concisa. 14. reimp. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.
LIPOVETSKY, Gilles. O Império do Efêmero: a moda e seu destino nas sociedades modernas. São Paulo: Companhia das Letras, 2014
MÉRCHER, Leonardo. Belle Époque francesa: a percepção do novo feminino na joalheria Art Nouveau. VI Simpósio Nacional de História Cultural. Escritas da História: Ver – Sentir – Narrar. Teresina, 2012.
MONNEYRON, Frédéric. A moda e seus desafios: 50 questões fundamentais. São Paulo: Senac São Paulo, 2007.
POIRET, Paul. King of Fashion: the autobiography of Paul Poiret. Londres: V&A Publications, 2009.
STEVENSON, N. J. Cronologia da moda: de Maria Antonieta a Alexander McQueen. Rio de Janeiro: Zahar, 2012.
ROSE, Clare. Art Nouveau fashion. Londres: V&A publishings, 2014.
SVENDSEN, Lars. Moda: uma filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2010.
THE NATIONAL GALLERY OF ART. Teaching Art Nouveau: 1890-1914. Washington: 2000. Disponível em: <https://www.nga.gov/content/dam/ngaweb/Education/learning-resources/teaching-packets/pdfs/Art-Nouveau-tp.pdf >. Acesso em: 20 jul. 2018.
WEBER, Eugen. França fin-de-siècle. São Paulo: Companhia das Letras, 1988.