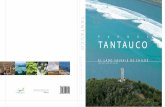Observatório do Esporte: Uma Visão Crítica da Mídia Esportiva
ANÁLISE DO MATERIAL ARQUEOLÓGICO DO OBSERVATÓRIO ASTRONOMICO DO PARQUE DA LUZ
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of ANÁLISE DO MATERIAL ARQUEOLÓGICO DO OBSERVATÓRIO ASTRONOMICO DO PARQUE DA LUZ
UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO - PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM ARQUEOLOGIA
MAURÍCIO RODRIGUES DE RESENDE
ANÁLISE DO MATERIAL ARQUEOLÓGICO DO OBSERVATÓRIO ASTRONOMICO DO
PARQUE DA LUZ
São Paulo 2013
MAURÍCIO RODRIGUES DE RESENDE
ANÁLISE DO MATERIAL ARQUEOLÓGICO DO OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO DO PARQUE DA LUZ
Monografia apresentada à Universidade de Santo Amaro para a obtenção do título de Especialista em Arqueologia, História e Sociedade, sob a orientação do Prof. Esp. Felipe Próspero.
São Paulo 2013
Trabalho dedicado à minha esposa, Simone Magaly Estevam Resende, pela paciência, força e compreensão.
AGRADECIMENTOS Ao Prof. Esp . Felipe Próspero, pelo acompanhamento, amizade e orientação deste trabalho.
Ao Prof. Dr. Vagner Carvalheiro Porto, por todos os conselhos, ajudas, incentivo e amizade.
Aos funcionários do Parque da Luz, especialmente Ivonete e Raimundo.
À Simone Magaly Estevam, por todo apoio.
RESUMO
O presente trabalho faz uma análise preliminar dos fragmentos achados no Observatório Astronômico do Parque da Luz, situado na cidade de São Paulo. O material previamente analisado encontra-se em poder da administração do parque. Os restos do observatório foram localizados e escavados no ano de 2000. Porém, no momento da escavação, fragmentos de garrafas, xícaras, copos e outros utensílios que estavam no sítio não foram analisados, focando-se apenas nos restos da estrutura do observatório. Os fragmentos encontrados foram separados, numerados, classificados e analisados. O principal objetivo desta análise é discernir as relações destes fragmentos, que em uma primeira impressão, são estranhos á natureza do monumento escavado, com o observatório do parque.
Palavras-chave: Parque da Luz, Observatório Astronômico, Arqueologia Histórica.
ABSTRACT
The present study is a preliminary analysis of the fragments found in the Astronomical Observatory from Parque da Luz, located in the city of São Paulo. The material previously analyzed is held by the park management. The remains of the observatory were located and excavated in 2000. However, at the time of excavation, fragments of bottles, cups, glasses and utensils that were in place were not analyzed, focusing only on the remains of the structure of the observatory. The fragments obtained were separated numbered sorted and analyzed. The main objective of this analysis is to discern the relationship of these fragments, which at a first impression, are foreign to the nature of the monument excavated, with the observatory park.
Keywords: Parque da Luz, Astronomical Observatory, Historical Archaeology.
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Ordem régia
Figura 2 – Portão de ferro
Figura 3 – Pinacoteca de São Paulo
Figura 4 – Planta imperial da cidade de São Paulo (1810)
Figura 5 – Planta da cidade de São Paulo 1868
Figura 6 – Chafariz (séc. XIX)
Figura 7 – Chafariz (hoje)
Figura 8 – Estação da Luz 1865
Figura 9 – Estação da Luz 1880
Figura 10 – Estação da Luz hoje
Figura 11 – Observatório astronômico
Figura 12 – Lago Cruz de Malta (séc. XIX)
Figura 13 – Lago Cruz de Malta hoje
Figura 14 – Mapa de 1881
Figura 15 – Gruta (séc. XIX)
Figura 16 – Gruta hoje
Figura 17 – Passeio pelo parque
Figura 18 – Quermesse pró-abolicionista
Figura 19 – Antiga entrada do parque, pela Av. Tiradentes
Figura 20 – Novos traçados no parque feitos por Etzel
Figura 21 – Mini-zoológico
Figura 22 – Coreto em 1901
Figura 23 – Coreto hoje
Figura 24 – Casa do Administrador (1919)
Figura 25 – Casa do Administrador hoje
Figura 26 - Casa de Chá (1901)
Figura 27 - Casa de Chá (hoje)
Figura 28 – Inauguração da Herma Garibaldi
Figura 29 – Herma Garibaldi hoje
Figura 30 – Usuários com características elitizadas na Casa de Chá
Figura 31 – Aquário, provavelmente séc. XIX
Figura 32 – Aquário hoje
Figura 33 – Sítio arqueológico do observatório astronômico
Figura 34 – Área destinada para “pic-nic”. Acervo do autor, 2013
Figura 35 – Encanamento do século XIX. Fonte: Acervo do autor, 2008
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 – Classificação geral
Tabela 2 – Descrição detalhada do material arqueológico
Tabela 3 – Material Vítreo
Tabela 4 – Louça
LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1 – Quantitativo dos Fragmentos
Gráfico 2 – Detalhamento do Material Vítreo
Gráfico 3 – Detalhamento das Louças
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO
1 O BAIRRO DA LUZ
2 O PARQUE DA LUZ E O OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO
3 O SÍTIO ARQUEOLÓGICO
4 DESCRIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
5 TRIAGEM
6 BREVE HISTÓRIA DO VIDRO
6.1 O vidro no Brasil
6.2 Análise do material vítreo
7 BREVE HISTÓRIA DA CERÂMICA
7.1 Faiança
7.2 Faiança fina
7.3 Porcelana
7.4 Análise da louça
8 CONSIDERAÇÕES FINAIS
BIBLIOGRAFIA
INTRODUÇÃO
O Parque da Luz está situado no centro de São Paulo, próximo a
estação de trem Luz. Foi o primeiro parque da cidade, concebido através de
uma ordem régia em 1798, com o intuito de realizar estudos botânicos de
espécies que poderiam ser cultivadas e gerar lucro para a coroa portuguesa.
Nos limites do parque, existem vários monumentos que foram
construídos à partir do século XIX: uma gruta artificial, um aquário subterrâneo,
uma casa de chá, entre outros.
Porém, destes monumentos, nenhum despertou tanta atenção como o
Observatório Astronômico. Construído no século XIX, o monumento era uma
torre com cerca de 20 metros de altura, sendo a primeira edificação em São
Paulo com estas proporções.
Já em tempos atuais, a existência da torre só era conhecida por uma
foto e algumas citações em textos. Seus restos foram localizados
acidentalmente no ano 2000, durante um manejo de plantas, que resultou na
escavação arqueológica do local.
Contudo, durante a escavação, foram encontrados fragmentos de louças
e vidros, que foram armazenados junto à administração do parque, sem
receberem nenhuma espécie de estudo ou análise. O âmago deste trabalho
reside em uma análise preliminar destes fragmentos.
No primeiro capítulo, será abordada a origem do Bairro da Luz, desde
seus primórdios até seus dias atuais, para melhor entendimento e
contextualização do estudo apresentado. No segundo capítulo, será abordado
o histórico do parque, com ênfase ao observatório astronômico.
No terceiro capítulo, será descrita a escavação do sítio, realizada pela
arqueóloga Maryzilda Couto Campos. No quarto capítulo, será demonstrado
como foi o processo de catalogação e análise do material encontrado no sítio,
detalhando todos os fragmentos do estudo. No capítulo posterior, será feita
uma triagem do material a ser estudado.
Nos sexto e sétimo capítulos, serão abordados os materiais vítreos e
louças, respectivamente, que foram escolhidos no momento da triagem. Será
feito um breve histórico de cada um e uma análise que, apesar de preliminar,
rica em detalhes sobre o material passado pela triagem. No último capítulo, as
conclusões do estudo serão apresentadas.
1 – O BAIRRO DA LUZ
O Parque da Luz está situado no bairro da Luz, na zona central da
cidade de São Paulo, nas imediações das estações de trem Luz e Júlio
Prestes. O Bairro é um dos mais antigos de São Paulo:
“No início da formação de São Paulo, os locais mais povoados
aparecem geralmente dispostos nas proximidades de igrejas que se
formaram logo após a fundação da cidade, como a Igreja do Carmo, da
Sé, São Bento e a Ermida de Nossa Senhora da Luz, entre outras.
Neste momento, as casas eram muito simples, os caminhos eram
isolados e castigados pelas inundações, mas a massiva presença
eclesiástica já se faz notar, pois uma pequena igreja é mencionada na
carta de Anchieta para Manuel Paiva, em 15 de novembro de 1579” 1
No início, o local denominava-se Caminho do Guaré, devido à existência
de um córrego com o mesmo nome. A região era delimitada entre os rios
Anhangabaú e Tietê e seu caminho direcionava-se para o norte de São Paulo,
especificamente para fazendas existentes em São João de Atibaia (hoje,
cidade de Atibaia), Bragança (atual cidade de Bragança Paulista) e sul de
Minas Gerais, que através de carros de bois, comercializavam produtos com a
cidade paulistana.
No caminho do Guaré, existia um pouso para tropeiros, chamado
Rancho de Freitas, que se transformou em um ponto de comércio, além de
acomodar tropeiros, viajantes e servir como aguada e pasto para animais. O
Rancho de Freitas cresceu de acordo com o crescimento do bairro, assim
como possibilitou o surgimento de outros ranchos nas entradas de São Paulo 2.
Apesar de situado na zona central paulistana, a origem do bairro
remonta à outra localização. Em 1579, um carvoeiro denominado Domingos
Luís construiu uma ermida devotada à Nossa Senhora da Luz no bairro
Ireripiranga (atual Ipiranga), com uma estátua da santa em seu interior. Porém,
no ano de 1600, o carvoeiro transfere a ermida com a estátua para a região do
1 ARROYO, Leonardo. Igrejas de São Paulo. Liv. José Olympio, Rio de Janeiro, 1953, p. 23
2 TORRES, Maria Celestina Teixeira Mendes. O Jardim da Luz. Prefeitura do Município de São
Paulo.S/E. 1967, p. 82, 85.
Guaré, em um local chamado Capela de Nossa Senhora da Luz do Guarepê,
onde tornou-se ponto de peregrinação para devotos e referência geográfica
para os que ali passavam. Com o tempo, aconteceram abreviações no nome
até o local ser chamado de Luz (AMBROGI, 1982).
Da ermida da Luz, originou-se o Recolhimento de Nossa Senhora da
Conceição da Luz em 1774 e desta edificação construiu-se o Mosteiro da Luz
em 1788 (SANTANA, 1937), onde hoje abriga o Museu de Arte Sacra de São
Paulo. Com uma maior movimentação no bairro, começam algumas melhorias,
com pontos de comércio espalhados pela região. Tais mercados deram origem
á uma área denominada Campos da Luz, onde hoje se situa a Avenida
Tiradentes. O Campo da Luz ligava-se ao centro de São Paulo por duas vias: a
primeira pelo Caminho da Luz (hoje, Rua Florêncio do Abreu) e também pela
Rua Alegre (atual Rua Brigadeiro Tobias).
No século XIX, ocorria no Estado de São Paulo o advento da economia
cafeeira. Sendo o bairro da Luz localizado na região central paulista (que
facilitava o escoamento para outras regiões), inicia-se a construção da ferrovia
(inaugurada em 1865) pela Companhia Inglesa.
A ferrovia mudou radicalmente o aspecto da região: começaram a surgir
em seus domínios instalações de depósito de mercadoria, imprimindo uma
fisionomia mais “operária” ao local. Da ferrovia, ocorreram mudanças que
acarretaram vários desdobramentos no bairro. Uma das principais foi a
chegada de imigrantes, oriundos de diversas partes do mundo (judeus, árabes,
italianos, alemães, espanhóis, portugueses, etc.).
A região necessitava então de uma demanda urbanística para atender
esta nova população, que representava um aquecimento na economia do
bairro. Obras de arruamento do local, calçamento das ruas, início de obras de
rodagem e aumento do número de lampiões são efetivados.
Contudo, um dos maiores problemas da região sempre foi o
abastecimento de água. Somente em 1872, sob a tutela do Governador de
Província João Teodoro, houve a canalização da região da Santa Ifigênia e
Consolação e saneamento das margens do Tamanduateí, com o intuito de
drená-las e de transformar as áreas que se assemelhavam a brejos em jardins
públicos.
No início do século XX, a região sofre consequências com o aumento
demográfico em São Paulo. O grande aumento da população degrada o bairro,
deixando-o com ares de periferia. Os investimentos do Estado, que foram
generosos no século XIX no advento da urbanização, agora se tornam
escassos. Devido à presença imigrante (principalmente italiana), lojas de
tecelagem e afins espalham-se pelo bairro, principalmente na Rua José
Paulino.
A degradação do bairro perdurou por todo o século XX. Vários projetos
de revitalização foram elaborados, porém nenhum deles apresentou resultados
satisfatórios. O último deles, datado de 2010 e denominado “Nova Luz”, tem
entre suas inúmeras demandas, solucionar o problema da “cracolândia”, região
entre o Parque da Luz e Estação Júlio Prestes que abriga um grande número
de usuários de drogas.
Mesmo com ares de degradação, o bairro tem um enorme potencial
cultural e turístico. Tomando como ponto de referência a entrada principal do
Parque da Luz (na Praça da Luz), na sua frente localizam-se a Estação da Luz
e o Museu da Língua Portuguesa. Dentro dos limites do próprio parque, está a
Pinacoteca do Estado.
A Sudoeste da entrada principal de parque, em frente á Estação da Luz,
estão localizados a Estação Júlio Prestes, a Sala São Paulo e o Memorial da
Resistência. A Nordeste, localiza-se o Museu de Arte Sacra de São Paulo. Ao
sul, está a GCM (Guarda Civil Metropolitana). A Leste, encontra-se a Rua São
Caetano (rua das noivas), à noroeste a Rua José Paulino e ao Sul, a Rua
Santa Ifigênia (de produtos eletrônicos).
2 – O PARQUE DA LUZ E O OBSERVATÓRIO ASTRONÔMICO
O Parque da Luz nasceu como um horto botânico, na data de 19 de
dezembro de 1798, através de uma carta régia expedida por D. Rodrigo de
Souza Coutinho, Ministro e Secretário de Estado do Governo de Portugal,
conhecido como Conde de Linhares.
A principal intenção da coroa portuguesa com a construção do horto era
o estudo de espécies de plantas que pudessem ser rentáveis em solo paulista.
Ressalta-se que na mesma época, outros hortos surgiram no Brasil, como no
Pará e o Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Escreveu então, o Conde de
Linhares (fig.1):
“Tendo o Governador e Capitão
General. Da Capitania do Pará formado
naquela cidade um Horto Botânico em
que já se acham as plantas que
constam do catálogo incluso e que é de
esperar que ele vá aumentando
gradualmente. Manda S.maj.
recomendar a V. S. que procure
estabelecer nessa Capitania, com a
menor despesa que se for possível, um
Jardim Botânico semelhante ao do
Pará, em que se cultivem todas as
plantas assim indígenas, como
exóticas, e em que particularmente se
cuide em propagar de semente, as
Árvores que dão Madeiras de
construção para depois semearem nas
Matas Reais. Deus Guarde a V. As.
Palácio de Queluz em 19 de dezembro
de 1798. Antonio Manoel de Mello
Castro”.
Figura 1 – Ordem Régia. Fonte: Departamento do Arquivo do Estado – Documentos Interessantes,Cartas Régias 1967:111
Apesar das diretrizes da carta régia, a construção do horto passou por
um grande período de abandono, sendo retomada só em 1808, no advento da
chegada da família real ao Brasil e mesmo assim, seguiu de maneira muito
lenta.
Um dos principais entraves era o abastecimento de água, pois não havia
encanamento em São Paulo na época e as precárias tecnologias de
transmissão hidráulica não eram suficientes para suprir a demanda do horto.
“Penosa e parca distribuição de água tiveram as aglomerações
urbanas até nossos dias, com o seu sistema de chafarizes e fontes
públicas alimentadas por filetes quase sempre contaminados, ou pelo
menos facilmente contamináveis, exposto como se achavam a todas
poluições. Distribuição domiciliar era coisa que não podia cogitar.
Precisavam os moradores recorrer aos poços do fundo dos quintais,
fornecedores do líquido, frequentemente carregados das mais
perigosas ameaças à vida humana”.3
Diante de todo investimento aplicado na construção do horto, o local
precisava ser reaproveitado de alguma maneira. Assim, o local só foi aberto em
8 de outubro de 1825 como “Jardim Botânico”, destinado ao usufruto público.
A abertura do jardim resultou em melhorias para São Paulo, sendo o
primeiro reduto de lazer da província e um dos pontos iniciais para o
desenvolvimento urbano da cidade. Tais melhorias trouxeram novos
moradores, consequentemente novas cartas de datas de terra concedidas para
novos moradores.
Em contrapartida, algumas destas cartas de datas referiam-se a terras
dentro do próprio Jardim Botânico. Assim sendo, posteriormente serão
negadas concessões de terras no Jardim Botânico, onde se proibiu a
concessão de datas de prédios particulares na praça que fica em frente ao
lugar destinado ao Jardim Botânico4.
3 TAUNAY, Afonso de Escragnolle. São Paulo nos Primeiros Anos 1554/1601 – São Paulo no
Século XVI. São Paulo. Editora Paz e Terra. 2003 4 Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo, 1824-1826, vol. XVIII
A demarcação do espaço físico do Jardim demonstra claramente esta
preocupação e sobretudo, a ação governamental em estabelecer limites,
decidindo o que era público e privado, impactando diretamente no cotidiano e
na mentalidade da população. Conforme a cidade crescia, o mesmo acontecia
com a demarcação.
Mas, se por um lado havia a preocupação na distinção do público e
privado, as autoridades negligenciavam a manutenção do jardim. Talvez pela
distância geográfica que separava metrópole e colônia, não era possível a
presença constante de portugueses no Brasil ou então talvez pelas dificuldades
oriundas de uma cidade ainda em desenvolvimento, o local se apresentava em
estado precário, conforme relato pelo Presidente da Província Dr. José Carlos
Pereira de Almeida Torres, em 1830:
“Estar o Jardim transformado em pasto de gado, visto que encontrou,
soltos, oito bois de carros e um cavalo, que soube dos trabalhadores
pertencerem a um jardineiro alemão, que ai não se achava quando
chegou o Dr. Almeida Torres, que foi informado de que o abuso datava
já de muito tempo, e que no lugar onde estavam os bois se
havia feito uma plantação de capim à custa da Fazenda Pública,
tendo encontrado em um rancho existente no mesmo Jardim e
pertencente á nação, três mulheres sem fazerem nada o observou
estarem trabalhando ou enchendo o tempo três estrangeiros, que
ganhavam cada um 420 réis por dia, e um escravo da nação, sem que
tivessem quem os inspecionassem e dirigisse” 5.
Contudo, os investimentos existiam, apesar de mínimos, como a
construção de um muro na frente do Jardim, o assentamento de um portão de
ferro com pilastras de cantaria, durante o governo de Miguel de Souza
Melo e Alvim (1841/1842). Mesmo assim, o Jardim era somente usado pela
população aos finais de semana, pois lampiões eram poucos e colocados em
longos intervalos, o que não oferecia grande segurança à noite.
O problema de abastecimento de água que ainda castigavam São Paulo
continuam a refletir no Jardim. Ainda em 1845, o Presidente-marechal Manoel
da Fonseca Lima e Silva diz em seu relatório à Assembleia Provincial:
5 MARTINS, Antonio Egydio. São Paulo Antigo. São Paulo. Secretaria de Esportes e Turismo.
S/D
“...que o antigo encanamento das águas do Tanque do Reúno para a
bacia da Pirâmide de Piques e dali para o Jardim Botânico é o
menos regular e bem feito que se observar em trabalhos desta
natureza, donde tem resultados os reiterados desmoronamentos dos
terrenos laterais e os frequentes extravios de águas. Convém,
pois, remediar este inconveniente por meio de um encanamento de
pedra, que, sendo coberto ao menos até a bacia da Pirâmide,
abastecerá o chafariz ali há pouco edificado”6
Em 1852, o Presidente da Província José Tomás Nabuco de Araújo
continua a investir no Jardim, considerando o “único recreio da população da
capital”, introduzindo um grande portão de ferro (fig. 2) e um aumento
considerável de sua flora.
Figura 2 – Portão de ferro – Fonte: São Paulo antigo e São Paulo moderno, 1554-1904.São Paulo: Vanorden,1905. Autor desconhecido.
6 Anaes da Assembléia Legislativa Provincial de São Paulo, 1844-1845. Arquivo do Estado de
São Paulo.
Porém, a mudança urbanística começa a despontar em São Paulo de
maneira mais explícita, iniciada em 1855 com o nivelamento do Largo da Sé e
Palácio (Pátio do Colégio) e um projeto de uma praça no fundo do quintal do
Governo, até as margens do Rio Tamanduateí, além da ampliação do Largo
São Bento. Contudo, nesta urbanização, o Jardim Público não foi incluído.
Em 1860, devido ao desenvolvimento do café em São Paulo, o inspetor
do jardim, Sr. Antonio Quartim, entregou à Companhia Inglesa 44 metros de
terreno de frente ao fundo de seu lote (decreto n. 1759, de 26/04/1856),
pertencente ao Jardim para a construção da estação e da estrada de ferro,
cumprindo ordens do governo e com protestos da população, que via parte de
sua área de lazer ser sacrificada em nome do “progresso” 7.
Com o processo de concessão de terras do Jardim para a Companhia
Inglesa, uma grande quantidade da flora foi derrubada. Dando continuidade a
sequência de perda de terreno, novas áreas do Jardim foram cedidas para a
construção do Liceu de Arte e Ofícios em 1873, atual Pinacoteca de São Paulo,
(fig. 3).
Figura 3 – Pinacoteca de São Paulo. Fonte: Acervo do autor, 2013
7 TORRES, Maria Celestina Teixeira Mendes. O Jardim da Luz. Prefeitura do Município de São
Paulo.S/E. 1967
Alguns anos depois, já na era republicana, uma área totalizando 5.772
m2 foi cedida para a construção da Escola Modelo Prudente de Moraes,
inaugurada em 1895. Neste período, também ocorreu o alargamento da Rua
Prates, onde houve nova derrubada de árvores.
Essas concessões prejudicaram profundamente o Jardim, reduzindo seu
arvoredo, interferindo em sua simetria e ainda deixando ¼ de seu terreno sem
tratamento adequado, pois a verba para manter a parte cultivada já estava se
esgotando, conforme relato do Presidente da Província José Thomaz Nabuco:
“Cultivadas três quartas partes do terreno, não
sendo possível por falta de meios cultivar a outra
parte, a fim de se tornarem simétricas suas
disposições e que a quantia anualmente decretada
mal chega para pagar o salário do feitor e para a
manutenção e tratamento dos africanos”8.
O traçado do terreno, registrado em planta de 1810 (fig. 4, com o Parque
da luz em destaque), que se insinuava em algumas plantas como uma tentativa
de simetria, desaparece e nos remete a um desenho próximo do atual, que
parece ter se desenvolvido diretamente do que é registrado numa planta de
1868 (fig. 5, com o Parque da Luz em destaque).
8 Relatório do Presidente de Província, 1855, Arquivo do Estado de São Paulo
Figura 4 – "Planta da Imperial Cidade de S. Paulo" (1810), pelo Capitão de Eng. Rufino J. Felizardo e Costa, conforme cópia realizada em 1841. Fonte: São Paulo antigo plantas da cidade. São Paulo: Comissão do IV Centenário da Cidade de São Paulo, 1954.
Figura 5 – Planta da Cidade de São Paulo 1868, por Carlos Frederico Rath. Fonte: São Paulo antigo plantas da cidade. São Paulo: Comissão o V Centenário da Cidade de São Paulo, 1954.
Apesar dos problemas enfrentados e da perda de seu espaço físico
perante o processo de urbanização paulista, o Jardim passa por um processo
de revitalização, em função da recepção aos visitantes da estrada de ferro,
ganhando um chafariz no centro da praça principal (fig. 6 e 7) e um gradil para
a proteção do tanque central, pelo Presidente João Jacinto de Mendonça
(1861/62):
“... a estação da estrada de ferro, que marcha para
a sua conclusão, colocada naquele
estabelecimento, chamará ali, dentro de pouco
tempo, uma grande concorrência de visitantes e a
rica e bela cidade de São Paulo deve oferecer a
seus hóspedes um passeio ameno, e não uma
caricatura de Jardim” 9
Figura 6 - Chafariz (séc. XIX) - Acervo do Parque da Luz – Autor desconhecido
9 . EGAS, Eugênio. Galeria dos Presidentes de São Paulo Vol 1. O Estado de São Paulo.1926
Figura 7- Chafariz (hoje) – Acervo do autor, 2013
Quanto à estação de trem, após sua inauguração em 1865, se
apresentava como uma edificação simples (fig. 8 e 9), longe da dimensão atual
(fig. 10).
Figura 8 – Est.da Luz 1865 – Fonte: http://www.gibanet.com/2013/01/13/memorias-de-sao-paulo-1/
Figura 9 – Est. Da Luz 1880 – Fonte: http://www.estacoesferroviarias.com.br/l/luz.htm
Figura 10 – Estação da Luz hoje – Acervo do autor, 2013
A estação mudou radicalmente a fisionomia do bairro, pois a partir do
momento de sua implantação, começaram a proliferar instalações de depósitos
de mercadoria por toda a região, imprimindo aos poucos um caráter
essencialmente operário no local, mudando paulatinamente a frequência das
pessoas na região. Henrique Raffard, filho do cônsul suíço no Brasil, em sua
passagem por São Paulo em 1890 descreve o entorno do parque da seguinte
maneira:
“Achava-se resolvida a abertura de uma rua
marginando o leito da ferrovia inglesa, com
sacrifício de um pequeno pedaço do Passeio
Público, a fim de prolongar a rua principal do Bom
Retiro até o Largo da Luz; As ruas da Estação;
Episcopal e outras vão ser igualmente
prolongadas, atravessando a várzea para facilitar
as comunicações com o districto do Brás. Ali vão
ser construídos os novos armazéns de ´San Paulo
Railway Co´, cuja instalação tratam de efetuar
rapidamente e provavelmente a Companhia São
Paulo e Rio de Janeiro se resolverá a idêntica
mudança, que é dispendiosa, para melhor
atender ás conveniências do público, achando-se
já organizada uma empresa de transporte para
todas as cargas recebidas ou remetidas pelas
mencionadas via férreas”10
A implantação da estrada férrea contrastou em muitos aspectos na
região da Luz. O mais visível, talvez, foi a chegada de imigrantes oriundos de
diversas partes do mundo, para tentar a sorte na metrópole que emergia. A
urbanização agora teria que atender os interesses dessa nova população, pois
representavam um considerável aquecimento na economia da região.
Assim, processo de urbanização intensifica-se. As obras das estradas e
da estação em acelerado andamento, o aumento do número de lampiões para
iluminação pública, o inicio das obras de estradas de rodagem, as reformas dos
calçamentos das ruas, entre outros inúmeros empreendimentos.
10
RAFFARD, Henrique. Alguns dias na Paulicéia. São Paulo. Academia Paulista de Letras, 1977
Porém, o problema do abastecimento de água ainda assombrava o
jardim. Quando o Sr. Cândido Borges Monteiro, o Barão de Itaúna, assume a
presidência da província, entre os anos de 1868 e 1869, providencia a
canalização da água para o local, diretamente do Tanque do Reúno (onde hoje
se encontra a Estação Anhangabaú do Metrô).
O encanamento é de baixa durabilidade, feito de papelão revestido de
asfalto. Adversários do presidente criticam a obra, classificando-a como
inteiramente de luxo e imprestável. Fora os encanamentos, foram
reconstruídas as paredes do principal lago do Jardim.
Em 1872, assumiu a presidência da província João Teodoro Xavier e
Matos, que começaria a remodelar São Paulo. João Teodoro priorizava a
organização do espaço público, tanto que criava incentivos para a elite cafeeira
construir suas residências na cidade. Sendo considerado o grande urbanizador
de São Paulo, João Teodoro aplicou grande parte dos recursos provinciais na
modernização e embelezamento da cidade, gastando para isso metade do
orçamento da província, que gerou a contestação de muitos:
“Na generalidade destas obras deram-se gastos
inevitáveis com desapropriações, aterros e
extensas escavações. É excusado apontar as
reformas e impulsos dados ao Jardim Botânico, o
abastecimento de água do Brás; compra de 1760
tubos para abastecimento igual nas freguesias de
Santa Ifigênia e Sé; a imensa arborização das
ruas e outros serviços de maior importância. Tudo
isso recebe sua justificação em considerações
econômicas, que tão afastadas parecem de suas
naturezas. A capital, engrandecida, circunda de
atrativos e gosos, chamará a si os grandes
proprietários e capitalistas da Província, que nela
formarão seus domicílios ou temporárias e
periódicas residências. O comércio lucrará,
ampliando seu consumo. As empresas se
fecundarão com recursos vastos e acumulados de
seus novos habitantes. As forças produtivas da
população, enfim, serão mais fecundamente
empregadas”.11
O mais famoso empreendimento de João Teodoro foi justamente no
Jardim Público: uma torre de vinte metros de altura, que tinha como funções
um observatório meteorológico e mirante, que é o objeto de estudo desta
dissertação.
A torre, que estava localizada na frente da Estação da Luz, era
conhecida como “Canudo do João Teodoro” (fig. 11), apelido colocado
jocosamente pela oposição, questionando a serventia do monumento. Foi a
primeira edificação na cidade nessas dimensões, atraindo a atenção de toda a
cidade de São Paulo, sendo construída pelo zelador do parque, Joaquim
Gaspar dos Santos Pereira, um criminalista da cidade de Mogi Mirim12
11
Relatório dos Anais da Assembléia Provincial, 1875 Arquivo do Estado de São Paulo., p. 414. 12
JORGE, Clóvis de Athayde. Luz: notícias e reflexões. São Paulo, SEC/PMSP, 1988
Figura 11 – Observatório astronômico. Fonte: DIAS, C. OHTAKE, R. Jardim da Luz: Um museu a céu aberto. Ed. Senac. São Paulo.2011
A obra era uma peça arquitetônica feita de tijolos, imitando um farol
marítimo, com escadas internas em caracol de ferro batido por quatro andares,
aonde se chegava proporcionando uma visão panorâmica da cidade. Em seu
parapeito, aves de grande porte como as suividaras, se acomodavam ao
anoitecer.
O motivo de seu fechamento em 1890 permanece uma incógnita. Alguns
relatos dizem que, com o passar dos anos, a torre apresentou uma
considerável inclinação, devido a não utilização de cimento ou similares entre
os tijolos, representando perigo aos frequentadores.
Outros relatos contam que a torre era ponto de encontros escusos de
amantes, e houve uma figura da alta sociedade paulista flagrada em um destes
encontros. Lendas à parte, o fato é que com a lei n. 496, de 14 de novembro de
1900, a torre foi demolida e seus tijolos foram reaproveitados para a construção
de um muro na Rua dos Imigrantes (atual José Paulino), em paralelo com a
ferrovia. As ruínas da torre foram achadas no ano 2000, e estão expostas ao
público atualmente, em um sítio arqueológico, dentro dos limites do Parque.
Em sua gestão, João Teodoro mandou cultivar e arborizar o Jardim em
toda sua área, encomendou do Rio de Janeiro quatro esculturas representando
as estações do ano e mais duas representando duas figuras mitológicas,
Vênus e Adônis, para serem colocadas no Lago Cruz de Malta (fig. 12 e 13),
um dos principais pontos turísticos do Jardim.
Figura 12 – Lago Cruz de Malta. Fonte: DIAS, C. OHTAKE, R. Jardim da Luz: Um museu a céu
aberto.Ed. São Paulo. 2011
Figura 13 – Lago Cruz de Malta hoje. Acervo do autor, 2013
Este lago artificial que tem a forma de uma cruz, onde se encontram oito
esculturas de mármore branco lavrado, correspondendo na sua maioria a
divindades da mitologia greco-romana.
A Cruz de Malta foi o símbolo europeu do guerreiro cristão usado pelas
primeiras cruzadas nos anos de 1096/1099. No século XV, a Cruz de Malta
aparecia nas caravelas portuguesas que faziam viagens ultramarinas, visando
expansão territorial e difusão da fé católica.
A cruz apresentava-se na primeira bandeira brasileira e permaneceu até
1651. O desenho da cruz foi lembrado na construção do lago, homenageando
a influência das ordens eclesiásticas no Brasil.
O Jardim também ganha esse período uma nova iluminação, constituída
por 135 combustores a gás. Vale ressaltar que nesta mesma época se fez no
Jardim à primeira experiência de luz elétrica em 23 de outubro de 1883 em São
Paulo, conforme afirma Aureliano Leite na sua “História da Civilização
Paulista”. Mas a eletricidade só chegará efetivamente ao Jardim em 1933.
Talvez o maior empreendimento feito por João Teodoro fora o
investimento no problema do abastecimento de água, não só do Jardim, mas
da região central de São Paulo.
Assim, além de mandar canalizar toda a região da Santa Efigênia e
Consolação, João Teodoro trocou toda a canalização do Tanque do Reúno
para o Jardim, colocada pelo Barão de Itaúna (encanamento de papelão
revestido com asfalto, que já se encontrava em avançado estado de
deterioração), mandou canalizar toda a área interna do Jardim e promoveu o
saneamento das margens do Tamanduateí, na tentativa de drená-las e de
transformar os brejos existentes em jardins públicos. Logicamente, com a
cidade em expansão, era preciso investir mais em termos de abastecimento
Com a construção da Estação Cantareira em 1877, dava-se a idéia do
problema estar solucionado. Porém, a região ainda sofria com o abastecimento
e também pelo saneamento básico, visto que a cidade tinha a céu aberto vários
córregos e várzeas:
“O bairro do Bom Retiro – escrevem-nos:
Rogo a V. o obséquio de chamar a atenção do Dr.
Inspetor da Higiene Pública para o Bairro do Bom
Retiro. Diariamente, há nesse bairro casos de
doenças causadas pela água imprestável dos
poços existentes. Não será possível colocar
desde logo alguns chafarizes públicos, ligados à
rede da Companhia Cantareira, dando aos
habitantes a faculdade de tirar água potável?”13
.
No final do século XIX o Jardim teve sua área ampliada (em 15 de
novembro de 1881, pela lei n. 21, sancionada por Laurindo Abelardo Brito, e
em 28 de outubro de 1882, foi declarado por um ato oficial que um terreno
pertencente à Dona Maria Marcolina Monteiro de Barros, era necessário para o
aumento e regularização da área do Jardim), recuperando um pouco do tanto
que já perdera em momentos anteriores.
Nessa condição de ampliação, o Jardim perde sua forma pentagonal
para se tornar um trapézio (fig. 14, com o Parque da Luz em destaque). Um
portão novo é colocado, junto com um gradil de ferro de 166 metros. Agora, há
três portões no Jardim: o principal (Avenida Tiradentes), e os demais pela Rua
José Paulino e pela Rua Visconde de Congonhas do Campo. Ainda em 1881, o
então presidente Laurindo manda edificar uma gruta artificial no Jardim (fig. 15
e 16), nos moldes do paisagismo inglês.
13
Jornal Diário Popular, 30 de novembro de 1890
Figura 14 – Mapa de 1881. Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo. São Paulo Antigo: Plantas da Cidade. São Paulo: Comissão do IV Centenário, 1954.
Figura 15 – Gruta (século XIX). Fonte: DIAS, C. OHTAKE, R. Jardim da Luz: Um museu a céu aberto. Ed. Senac. São Paulo.2011
Figura 16 – Gruta (hoje). Acervo do autor (2013)
Existem relatos formais (de antigos moradores do bairro,
descendentes de antigos frequentadores do Jardim e estudiosos sobre o local)
que no interior da gruta havia estátuas de anões, vestidos á maneira europeia,
com capotes e agasalhos.
O escritor Monteiro Lobato, em uma de suas visitas ao Jardim,
contemplou as estátuas e exprimiu grande pesar sobre elas, alegando que não
participavam do contexto brasileiro, tanto na cultura folclórica quanto em suas
vestimentas. A partir daí, inspirando-se em outros elementos do Jardim (como
bancos em forma de cogumelos, por exemplo), Lobato começou a escrever
seus contos sobre o Saci-Pererê.
Enfim, no final do século XIX, depois de um período de decadência, o
Jardim consagrou-se de vez como local de lazer dos paulistanos (fig. 17),
acompanhando a transformação urbana ocorrida na região. As melhorias,
contudo, não eram criteriosas, visando mais o impacto visual que a
funcionalidade. Não havia nenhuma análise prévia de cultivo, pois plantas eram
acumuladas sem nenhum critério, inclusive sendo colocadas algumas espécies
que esterilizavam o terreno.
Mesmo com algumas críticas, durante muitas décadas, o Jardim
representou o principal ponto de encontro da sociedade paulistana. Por causa
deste status, realizou-se em suas dependências a primeira quermesse em São
Paulo, ocorrida entre 1882 e 1884. Surgiram outras quermesses nos anos
seguintes, tendo maior destaque as quermesses pró-abolicionistas (fig. 18).
Figura 17 – Passeio pelo parque. Fonte: DIAS, C. OHTAKE, R. Jardim da Luz: Um museu a céu aberto. Ed. Senac. São Paulo.2011
Figura 18 – Quermesse pró-abolicionista. Fonte: Acervo do Parque da Luz. Data e autor desconhecidos
Em 1893, o Jardim passa a ser administrado pela prefeitura, ao invés do
estado. Sua entrada principal passa da Avenida Tiradentes (fig. 19) para a Rua
José Paulino. O primeiro prefeito de São Paulo, Antonio da Silva Prado (1899-
1910), nomeou o jardineiro Antonio Etzel como administrador do Jardim, cargo
que ocupou até sua morte, em 1930. Etzel introduziu um novo traçado com
uma rua circular contendo grandes gramados (fig. 20) e adornado com
jaqueiras. Grupos de árvores antigas foram reaproveitadas, formando alguns
bosques.
Figura 19 – Antiga entrada do parque, pela Av. Tiradentes. Fonte: A Casa do Administrador: Parque
Jardim da Luz. Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente. Edição comemorativa. 2007
Fig 20 – Novos traçados no parque feitos por Etzel. Fonte: Acervo do Parque da Luz. Data e autor desconhecidos
Antonio Etzel também limpou o Lago Cruz de Malta, a cascata e a ilha.
No Jardim, foi implantado também um mini-zoológico (fig. 21), sendo o primeiro
de São Paulo, onde foram construídos dois grandes cercados para veados de
raças distintas, um viveiro de macacos, um cercado para patos e aves exóticas,
pacas e cotias, jaulas para o lobo guará, para o urubu rei, para a águia e um
viveiro para passarinhos. Na verdade, alguns anos mais tarde, foi aprovado um
projeto (226, Assembléia Provincial de São Paulo, 06/03/1888) de transformar
o Jardim em um zoológico. Mas depois de alguns anos, o projeto não foi
efetivado.
Figura 21 – Mini-zoológico. Fonte: A Casa do Administrador: Parque Jardim da Luz. Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente. Edição comemorativa. 2007
Também foram construídos dois empreendimentos durante a
administração Antonio Etzel, em 1901: um coreto (fig. 22 e 23) e a Casa do
Administrador (fig. 24 e 25). O coreto, projetado por Maximiliam Hell (o mesmo
arquiteto que projetou a Praça da Sé), era utilizado para a exibição da Banda
da Polícia Militar. A Casa do Administrador , que era a morada da família Etzel,
foi restaurada e reinaugurada no ano de 2008. A edificação original foi
construída originalmente em 1867, onde foi construída a primeira casa que
serviria para os administradores. Anos mais tarde foi demolida e reconstruída,
sob a gestão de Antonio Etzel.
Figura 22 – Coreto em 1901. Fonte: DIAS, C. OHTAKE, R. Jardim da Luz: Um museu a céu
aberto. Ed. Senac.São Paulo.2011
Figura 23 – Coreto hoje. Fonte: Acervo do autor (2013)
Figura 24 – Casa do Administrador (1919). Fonte: A Casa do Administrador: Parque Jardim da Luz. Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente. Edição comemorativa. 2007
Figura 25 – Casa do Administrador hoje. Fonte: Acervo do autor (2013)
Eduardo Etzel, filho de Antonio, descrevia a Casa do Administrador da
seguinte forma:
“O porão alto de nossa casa, que dava para a rua
Ribeiro de Lima, estava dividido em duas partes.
Numa ficava o almoxarifado, onde se guardavam
as ferramentas novas e apetrechos de repartição.
No outro lado era o escritório, onde meu irmão
Arthur fazia as folhas de pagamento. No quintal de
nossa casa havia um barracão com parte para
depósito de madeira e outra para carpintaria”.14
Também em 1901 foi construída a Casa de Chá ou Ponto Chic (fig. 26 e
27), que tornou-se o ponto de encontro da elite paulista. Nesse local, os barões
do café encontravam-se para discutir negócios ou simplesmente divertir-se com
bailes, com as Bandas da Polícia Militar tocando no coreto. A Casa de Chá
teve concessão aberta para a Companhia Bavária, que administrava o local, e
colocava mesas externas onde eram servidos os chopps. Essa edificação
substituiu outro pavilhão, que tinha a finalidade de um “bar café”, construído em
1874.
14
ETZEL, Eduardo. O Verde da Cidade de São Paulo.Revista do Arquivo Municipal, São
Paulo,1982
Figura 26 - Casa de Chá (1901). Fonte: A Casa do Administrador: Parque Jardim da Luz. Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente. Edição comemorativa. 2007
Figura 27 - Casa de Chá (hoje). Fonte: Acervo do autor (2013)
Um outro ponto que marcou a história do Jardim foi a inauguração da
Herma Garibaldi (fig. 28 e 29) em 1910 por Olavo Bilac. Durante muitos anos, a
colônia italiana realizava uma enorme festa em homenagem ao monumento,
que retratava o revolucionário líder de diversas revoltas, dentre as quais a
Farroupilha. Esta herma também tem um valor especial por ser a primeira da
cidade de São Paulo. Outro grande destaque eram os passeios de automóveis
nos limites do Jardim, que tinham autorização para transitar pela alameda
circular.
Figura 28 – Inauguração da Herma Garibaldi. Fonte: A Casa do Administrador: Parque Jardim da Luz. Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente. Edição comemorativa. 2007
Figura 29 – Herma Garibaldi hoje. Fonte: Acervo do autor (2013)
Toda esta transformação arquitetônica ocorrida no Jardim não era um
fato isolado, mas sim diretamente ligada e inspirada nas transformações que
ocorriam na paulicéia.
O triângulo paulista teve seu início do século XIX, quando a capital tinha
sua delimitação por pontes, mas ainda não tinha a força ou os atributos
necessários para se firmar como tal centro comercial.
A urbanização, apesar de estar ocorrendo em diversos âmbitos, como o
encanamento das águas, implantação da luz elétrica pela cidade e a intensa
atividade ferroviária, se tornou realmente visível e palpável para toda a
população através da sua manifestação arquitetônica, diretamente inspirada na
Europa, mais especificamente pela França e Inglaterra.
A edificação existente na cidade era na sua maioria do estilo chalé, onde
adquiriu grande status e prestígio por todo o século XIX. Porém, esta nova
edificação começou a se alastrar de maneira intensa, e a inovação de alguns
mestres de obra (principalmente pelas modificações no estilo do telhado “duas
águas”) foi considerada pelos eruditos da arquitetura e aficionados pela arte
européia como uma atitude desregrada, causando grande incômodo às
autoridades.
Estas por sua vez, estabelecem em fevereiro de 1889, uma restrição à
construção de novos chalés no triângulo urbano, porém permitido apenas
no rural15. Dá-se então, uma ideia que a madeira, matéria prima para a
construção dos antigos chalés, remetia a um padrão interiorano, que acabou
sendo superado na cidade por um novo padrão arquitetônico, onde edifícios e
arranha-céus tinham como base as pedras, os tijolos e o cimento.
O período de ascensão do Jardim contrastou de diversas maneiras com
a população paulista (tanto elite quanto massa popular) e também com a
mentalidade da Belle Époque do século XIX. O Jardim passou a ser o cartão de
visitas da cidade, tanto para a massa popular, que chegava pela estrada férrea,
procurando por novas oportunidades diante o desenvolvimento econômico de
São Paulo, quanto para a elite, que começava a fixar sua residência na capital
paulista, deixando sua moradia no campo.
Dentro dos limites do Jardim, edificações como a Casa de Chá e o
Coreto atendiam diretamente uma demanda burguesa (fig 30), que ansiava por
lazer no novo centro econômico brasileiro. Eventos como os passeios de
automóveis dentro dos limites do Jardim reforçavam esta ideia, onde a elite
poderia aproveitar o principal ponto de lazer da cidade.
Por outro lado, principalmente no que se diz respeito a massa popular,
devemos dar uma nova luz no papel do Jardim. Se o local era usado pela
massa para a recreação, com seus lagos, coreto, edificações e outros atributos
que o Jardim proporcionava e proporciona até hoje, o espaço também
propiciava a manifestação popular em diversos âmbitos.
As quermesses abolicionistas que aconteciam no Jardim mostravam que
o lugar também era palco de reivindicações populares. O público entendia o
local como espaço público, e sendo assim, como espaço para suas
manifestações.
15
Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material. São Paulo: Museu Paulista da
USP,1993
A Herma Garibaldi também teve um importante papel, principalmente
junto à colônia italiana, em grande número da região. O imigrante italiano, um
estranho em terras brasileiras, tinha seu próprio espaço dentro do Jardim e
uma data para comemorar um evento correlacionado ao seu país, onde tinha a
possibilidade de confraternizar-se com indivíduos de sua própria pátria.
Um fator, talvez dos mais preponderantes, seja o da manifestação
cultural existente até os dias atuais. Rodas de viola, jogos entre os
frequentadores, repentistas e outras diversas manifestações, colocam o Jardim
não só como um local de recreação ou como um lugar que atendia as
demandas elitizadas, mas sim um espaço onde a população manifestava e
manifesta seu aspecto cultural, em variados desdobramentos.
Figura 30 – Usuários com características elitizadas na Casa de Chá. Fonte: Acervo do Parque da Luz. Data e autor desconhecidos
Após o advento do início da urbanização na segunda metade do século
XIX, a região da Luz vai angariar consigo o status do pólo central e comercial
de São Paulo. Porém, este crescimento acelerado trouxe a “nova metrópole”
uma crescente onda de migrantes e imigrantes (principalmente, judeus e
italianos), deixando a região com um altíssimo índice demográfico.
A ironia é que a própria estrutura da Estação da Luz, um dos expoentes
máximos da urbanização paulista, contribuiu para a degradação do local. O
pátio para manobra dos trens e os trilhos rede ferroviária que delimitavam a
região tornavam-se um grande obstáculo para comerciantes de bairros
vizinhos, que tinham enormes dificuldades para escoar suas mercadorias para
a área central.
Com isso, grande parte destes comerciantes mudam-se para a região da
Luz. As conseqüências passam a ser óbvias: toda a estrutura urbanística
implantada no século anterior não fora suficiente para abranger esta nova
população.
O lixo acumulava-se nas ruas, o sistema de água (mesmo tendo como
fonte de abastecimento a Companhia Cantareira) não conseguia atender à toda
a população e o serviço de saneamento praticamente nulo são alguns dos
problemas apresentados na região. A região adquire um caráter de cidade
funcional, onde as velhas estruturas não são preservadas, simplesmente
suplantadas pelas mais novas. O espaço comercial então, toma o lugar do
residencial.
A elite econômica, que migrara para a região no século anterior, começa
a se mudar para outras regiões menos populosas, como o Jardim América,
Higienópolis e Av. Paulista, carregando consigo, os investimentos e interesses
econômicos do estado. Podemos até encarar tal fato como uma higienização
social.
A região da Luz, na parte baixa da cidade, era infestada de ruelas, onde
havia a miséria e pouca circulação de ar. Já a região da Paulista, por exemplo,
era considerado um local mais alto, onde circulava mais ar, dando um aspecto
mais “saudável” para a burguesia.
Nessa higienização, podemos entender um claro processo de inclusão e
exclusão social. A degradação que se assolou na região central refletiu
diretamente no parque, agora denominado Jardim da Luz.
O local que outrora fora o principal recanto da elite paulistana encontra-
se abandonado, tanto pelo seu “selecionado público burguês”, quanto pelos
investimentos do estado. Como esta mesma elite já não residia na região da
Luz, não interessava então ao estado investir no Jardim, uma vez que perdera
seu status do século anterior. Além de não residir na região da Luz, esta elite
começava a ter olhos para um novo tipo de entretenimento mais massificado,
onde o teatro e o cinema despertavam uma maior atenção do público.
A acelerada degradação do local deu vazão para o surgimento de uma
nova população com mendigos e marginais. O Jardim da Luz então, por ser
mal iluminado e possuir um grande número de árvores, permitia a essa
população marginalizada um local próprio para suas atividades, como assaltos
e mendicâncias.
O Jardim ganha rapidamente a fama de um local perigoso, afastando de
vez grande parte da população e quaisquer investimentos no local.
“Em redor do lago central, cruzavam-se os
operários e soldados com mulheres de toda a
casta, em que havia desde a menina das
vizinhanças acompanhada da família até as pretas
empregadas em casas burguesas, que depois do
trabalho vinham ali buscar amores. Outras negras
passeavam falando alto, mostrando aos homens o
rosto enfarinhado de pó de arroz. Os soldados que
paravam debaixo das árvores ou sentavam nos
bancos eram os veteranos freqüentadores do
jardim, que se contentavam em dirigir gracejos ás
mulheres. Os novatos, pouco antes saídos do
corpo da escola, preferiam armar algazarras pelo
caminho, dando encontrões nas “tias” à guisa de
divertimento. Algumas riam, outras zangavam-se,
revidando a ofensa com palavrões de bordel
gritados em voz aguda. Às quintas-feiras e
domingos, quando tocava a banda do poder
público, enchiam-se as alamedas com os
moradores dos bairros operários, letões, norte-
americanos, centro-americanos, platinos, que se
acotovelavam com raças indefiníveis, judeus de
Alsácia, Transilvânia, Posnânia, Galícia, Síria,
Palestina. Havia raças turbulentas, montanheses,
albaneses, montenegrinos, bessarábicos, persas.
Ali, o brasileiro nem sempre é maioria e o paulista
é raridade. Entre a gente de cor que passeava
havia muitos vindos de longe, pretos de Barbados,
mulatos perigosos de Cabo Verde, indus dos
grandes portos da Índia inglesa, africanos que
viajavam pelos mares nas carvoarias dos navios.
Os que tinham chegado por último, se misturavam
sem se mesclarem com estrangeiros aclimatados,
os de todas as províncias da Itália, Portugal e da
Espanha”. Relato de Yan de Almeida Prado,
antigo freqüentador, em 1928. 16
Muitos aspectos dos tempos áureos do Jardim são esquecidos ou
abandonados, pois não correspondem mais a uma imagem decadente que
apresentava naquele momento.
Em 1930, o prefeito José Pires do Rio ordena a transferência dos
animais pertencentes ao mini zoológico para o Parque da Água Branca e as
estufas de plantas existentes no Jardim para o viveiro Manequinho Lopes, no
Parque Ibirapuera, onde existe até hoje.
Ainda em sua gestão, foram retiradas as grades e os portões, dando
espaço para a atividade de traficantes, mendigos e prostitutas. Aliás, o
crescimento da prostituição no Jardim foi conseqüência direta do fechamento
dos bordéis da região, ordenada também pelo prefeito Pires do Rio.
Além de decadente, o Jardim torna-se um local perigoso para se
freqüentar. O Jardim então, fora vítima de seu próprio crescimento. A
urbanização trouxe o progresso à região. O preço a ser pago, porém, foi muito
alto. O governo que havia ajudado o local a florescer, com investimentos e
aprimoramentos, opta em abandonar o local, assumindo-o de volta somente na
década de 70, pela prefeitura de São Paulo.
16
DIMENSTEIN, Gilberto.SOUZA, Okky de. São Paulo 450 Anos Luz. Ed. de Cultura. São Paulo. 2003
Porém, à partir da década de 90, o parque passa por um processo de
revitalização, precedido pelo processo de tombamento nos anos 80. Em 2005,
durante um manejo de plantas no parque, foi encontrado um aquário
subterrâneo (fig. 31).
A falta de documentação deste monumento e problemas com
vazamentos e vedações sugerem que este aquário não chegou a funcionar.
Hoje o aquário está aberto para visitação pública (fig. 32).
Figura 31 – Aquário, provavelmente séc. XIX. Fonte: Acervo do Parque da Luz. Data e autor desconhecidos
Figura 32 – Aquário hoje. Fonte: Acervo do autor (2013)
Com a explosão demográfica da cidade iniciada ainda na primeira
metade do século XX, houve também a criação de um novo sistema de lazer
voltado para a nova população que não parava de crescer.
A elite encontrou novos meios para seu entretenimento, baseados em
uma cultura de massa que incluíam cinemas, teatros, salões de dança,
apresentações musicais entre outros.
Uma cultura que as classes mais pobres não poderiam compartilhar,
reforçando o papel do Jardim como opção de lazer para estas pessoas. A dita
classe alta paulista usufruiu do local apenas quando não tinha outra opção de
lazer, mas deixaram de frequentar o Jardim, assim que surgiram os
entretenimentos em massa.
Mesmo nos períodos mais críticos do Jardim, durante seu abandono nos
anos 30, a população mais pobre não abandonou o local. Nos dias de hoje,
essa mesma camada da população continua a frequentar o Parque.
Há diversas manifestações culturais, como rodas de viola caipira, feitas
pelos próprios frequentadores. Há também uma grande parte que
simplesmente opta por uma conversa agradável de amigos em um fim de tarde.
Existem também aqueles que simplesmente procuram os bosques para
sentar-se e ter uma leitura agradável ou simplesmente para contemplar a
natureza local, com suas árvores centenárias, seus lagos e espelhos d´água e
sua fauna.
Por outro lado, a elite raramente freqüenta o Parque. Geralmente, só
faz-se notar sua presença no momento de saída quando visitam a Pinacoteca e
talvez por um senso de curiosidade, apenas “passam” pelo Parque, deixando
de interagir com a sua história e natureza.
Apesar de ter passado por vários momentos de declínio e ascensão, o
Parque sempre cumpriu seu papel como espaço de lazer para aqueles que não
tem opção de entretenimento, independente de classe social, como aconteceu
em seu início.
Porém, a elite optou por outros meios de lazer, e em muitos momentos
não soube admirar e contemplar o que o local tem a oferecer. O fator mais
importante para a elite era um determinado status que o Parque oferecia, em
sua fase áurea.
Por outro lado, desde seus tempos mais remotos, as classes populares
da cidade “entenderam” para que o Parque servia, e mesmo em suas fases
mais obscuras, souberam aproveitar estes momentos.
3 – O SÍTIO ARQUEOLÓGICO
Apesar da prática e pensamento arqueológicos estarem presentes
durante séculos no mundo, no Brasil o afloramento da arqueologia se deu em
definitivo apenas no século XX. A conscientização do resgate de nosso
passado, através de fontes primárias, juntamente com a discussão do
patrimônio histórico, são “invenções” relativamente recentes em nosso país.
Dentro deste contexto, existe o Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (IPHAN), que se responsabilizou em gerir e administrar
demandas referentes ao patrimônio nacional.
Nesta gestão, existem portarias que regulamentaram todo o processo
arqueológico, como desenvolvimento de pesquisas em campo, escavações,
arqueologia de contrato, etc., com a finalidade do resguardo de objetos que
possam tem valor histórico e cultural.
Um dos quesitos mais importantes destas portarias refere-se à
autorização dos procedimentos de escavação arqueológicapresente na Portaria
no7 de 01 de dezembro de 1988. Nos artigos 1º ao 6º, são normatizados os
critérios necessários á comunicação prévia, permissões e autorizações,
evidenciando a preocupação da instituição em estabelecer a desenvoltura
necessária para o início do processo arqueológico.
Outro fator colocado em evidência, dentro artigo 5o, é a padronização
dos relatórios enviados ao IPHAN, delimitando minuciosamente os critérios
estabelecidos para aceitação do projeto e continuidade do mesmo, tanto
quanto o envio de relatórios em períodos em que acontece o processo do
projeto arqueológico.
A arqueologia, apesar da preocupação do resgate histórico e cultural,
exerce uma ação destrutiva sobre o local trabalhado. Tal destruição pode gerar
inclusive impactos de diversas ordens, como por exemplo, o ambiental.
Desta maneira, a Portaria no 230, nos artigos 1º ao 4º, estabelece
critérios para minimizar este impacto. O primeiro critério associa-se com a
contextualização arqueológica e etnohistórica do empreendimento. Assim, é
possível verificar, através de uma visão mais ampla, qual seria a dimensão do
impacto do processo arqueológico em determinada área.
Avaliações de cartas ambientais temáticas, com dados geológicos,
geomorfológicos, hidrográficos, declividade e de vegetação ajudarão a
preservar a integridade do local.
Quanto ao processo de escavação do Parque da Luz, os vestígios do
observatório astronômico (fig. 33) foram encontrados no durante uma
escavação arqueológica no parque no ano 2000, coordenada pela arqueóloga
Maryzilda Couto Campos. Dentro dos limites do sítio, foram achados diversos
objetos, que não foram documentados e estão em poder da administração do
parque.
Figura 33 – Sítio arqueológico do observatório astronômico. Fonte: Acervo do autor, 2013
O sítio está circundado por um corrimão de ferro que delimita sua área.
Tal corrimão, porém, não apresenta uma proteção eficaz para o local.
Visitantes do parque e quaisquer transeuntes podem adentrar-se ao sítio, caso
não estejam sendo vigiados pela segurança do local. Fora a proteção pelo
corrimão, o sítio encontra-se mal conservado, sem nenhum cuidado ou
proteção.
A localização do sítio pelo GPS dá-se pela referência 23K 0333093 / TM
7396422. O diâmetro da circunferência do sítio mede 12,40 metros. Dentro do
parque, a referência mais próxima do sítio é a área foi destinada a eventos
conhecidos como “pic-nics” (fig. 34), com referência geográfica de 23K
0333068 / TM 7396422.
Figura 34 – Área destinada para “pic-nic”. Acervo do autor, 2013
Não foi possível o acesso ao relatório oficial da escavação do sítio, em
poder da SVMA – Secretaria do Verde e Meio Ambiente. Porém, foi possível
obter acesso a um resumido relatório do trabalho de campo, que está em poder
da administração do parque.
No relatório do trabalho de campo da torre, é citado que o processo de
escavação arqueológica no parque iniciou-se em maio de 2000, após um
manejo de árvores no local. Ao retirarem uma palmeira de um lugar para ser
transportada a outro, tijolos apareceram grudados à sua raiz.
Durante a escavação, surgiu uma estrutura circular de tijolos, levando a
hipótese de ser a torre. Foi utilizada então metodologia geofísica “radar”, que
permite a visualização de estruturas e bolsões antrópicos antes da realização
dos cortes. Após a prospecção geofísica, foram realizados cortes longitudinais
da estrutura, confirmando que a estrutura era a torre do observatório
astronômico.
O projeto de escavação no Parque da Luz existe desde 1999, momento
em que se oficializou um convênio entre a Secretaria do Verde e Meio
Ambiente (SVMA) e o Departamento do Patrimônio Histórico de São Paulo
(DPHSP). O início do projeto de escavação foi impulsionado pelo achado dos
tijolos durante o manejo de árvores. A partir do achado da torre, outros projetos
arqueológicos tiveram início no parque, como por exemplo, a descoberta do
aquário subterrâneo. No próprio relatório, a arqueóloga cita que usou o
aparelho de radar para procurar “lixões” e estruturas antigas no parque.
Além os tijolos, foi encontrado um cano de papelão e betume, com
ligações metálicas em suas extremidades, datado entre 1868 e 1869 (fig. 35).
Este encanamento ficou exposto no sítio a céu aberto até desaparecer
(possivelmente, furtado) em 2008.
Figura 35 – Encanamento do século XIX. Fonte: Acervo do autor, 2008
.Perto do cano de papelão, foi encontrada uma estrutura de duas fileiras
em tijolos, com base em lajotas, formando uma estreita canaleta. Tal canaleta
conduzia a água que vinha da Pirâmide do Piques (atual Largo do
Anhangabaú), conforme descrições abaixo:
“Ao assumir a presidência, o Barão de Itaúna,
Cândido Borges Monteiro, determinou medida
para a sua remodelação. De início, substituiu-se a
antiga canalização de água em valetas, por
encanamentos. Surpreendentemente iria
descobrir-se mais tarde que tais condutos de oito
polegadas eram de papelão betumado, advindo da
razão de tantos problemas com o abastecimento”
17
“O chafariz do Campo da Luz e o do Pique
derivavam-se do encanamento geral das águas do
tanque do Bexiga para o Jardim Público, serviço
esse inaugurado em 1868 e que não teve a
duração de um decênio, porquanto, já em 1876, os
dois chafarizes achavam-se desmantelados e o
leito di lago central do jardim, completamente
enxuto, servia de hangar ao aeronauta Ceballos. E
nem se deveria esperar maior durabilidade de
semelhante abastecimento, considerando que os
tubos nele empregados eram manufaturados de
papelão revestidos de asfalto e, embora tivessem
sido “tão bem assentados que não havia uma
junta onde a água saísse”, contudo o líquido,
segundo assevera o inspetor geral das obras
públicas em seu relatório entregue a 30 de janeiro
de 1869 ao Barão de Itaúna, então presidente da
Província, “rompia o chamado betume no espaço
médio entre o tubo e os cabeços de ferro, devido á
imperfeição e pouca vigilância emprgada na
oficina, estabelecida na antiga casa dos loucos”18
Outra estrutura de tijolos foi encontrada, em quatro fileiras de 1 metro de
comprimento, possivelmente um arrimo para a torre, no momento em que o
monumento começou a declinar. Nas áreas denominadas A1 e A2 (lado direito
e esquerdo, respectivamente), as primeiras camadas escavadas foram de 15 a
20 cm, onde foi encontrada uma moeda (que não estava presente na caixa
17
JORGE, Clóvis de Athayde. Luz: notícias e reflexões. São Paulo, SEC/PMSP, 1988 18
FREITAS, Affonso A. Tradições e reminiscências paulistanas. São Paulo. Gov. Do Estado. 1978
contendo os fragmentos), fragmentos de vidro e louças. Nas camadas
posteriores, foram encontrados apenas restos de tijolos, provavelmente da
queda da torre e que ao foram coletados.
Os objetos de metal que estão acondicionados na caixa de papelão na
administração do parque não estão no relatório. O relatório também não
apresentou quaisquer descrições detalhadas dos objetos encontrados.
A parte evidenciada da torre no início da escavação foi uma pequena
porção do círculo externo. A arqueóloga Marizylda utilizou um cordão plástico
como raio e determinou a localização total do círculo, que estava debaixo das
alamedas do parque. Desta maneira, prosseguiu a abertura no sentido do
interior da torre.
4 – DESCRIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO
A natureza dos objetos achados nos limites do sítio apresenta pouca
diversidade: cacos de vidro e porcelana (restos de garrafas, frascos, faianças e
utilitários para refeições), ferramentas, adornos, azulejos, material
malacológico, pedaços de varvito ornamentados, objetos de metal, etc,
totalizando a soma de 82 artefatos. Os objetos estavam misturados e
acondicionados em uma caixa de papelão.
Antes de catalogar este material, foi preciso fazer uma lavagem em
todos os objetos, com exceção daqueles feitos de metal. Tais objetos se
encontram em estado avançado de ferrugem, devendo então evitar o contato
com umidade. Depois de lavados e secos, foi dada uma numeração aos
objetos. Tal numeração foi precedida com as letras “PQL”, iniciando no número
1 e finalizando no número 82 (exemplo: PQL1, PQL2...PQL82).
Após este procedimento, foi feita a separação dos objetos, deixando os
artefatos com alguma semelhança na mesma tipologia.
Os objetos foram classificados da seguinte maneira:
Louça (porcelana e faiança)
Vidro
Azulejo
Material construtivo
Objetos de metal
Outros (artefatos que não correspondem a nenhum dos itens
anteriores).
A seguir, na tabela “Classificação geral” (tabela 1), será mostrado um
panorama geral dos achados no sítio, onde serão delineadas as quantidades
de objetos achados, de acordo com a classificação acima, sem maiores
detalhes. Logo em seguida, na tabela “Descrição detalhada” (tabela 2), todos
os 82 objetos serão descritos individualmente, detalhando medidas, formas e
cores de cada um deles.
Legendas: L = Louça MC = Material construtivo
V = Vidro M = Objetos de metal
A = Azulejo Outros = Não se encaixam nas descrições anteriores
Tabela 2 – Descrição detalhada do material arqueológico
PQL1 OBJETO MALACOLÓGICO ARREDONDADO, DE
COR BRANCA, MEDINDO 4,7 DE BASE POR 1,8
DE ALTURA
PQL2 PEDAÇO DE VIDRO BRANCO,
PROVAVEMENTE FUNDO DE UM FRASCO, DE
FORMA OVAL, MEDINDO 7,5 DE BASE POR
4,9 DE ALTURA
PQL3 PEDAÇO DE PORCELANA BRANCA, COM
FAIXAS AZUIS, MEDINDO 3,9 DE BASE POR 4
CM DE ALTURA
PQL4 PEDAÇO DE PORCELANA LEVEMENTE
ARREDONDADO, MEDINDO 3,4 DE BASE POR
1,6 DE ALTURA
PQL5 PEDAÇO DE PORCELANA ARREDONDADO,
DEFININDO A PARTE INFERIOR,
(POSSIVELMENTE UMA XÍCARA OU PIREX) DE
COR BRANCA, MEDINDO 5 CM DE LARGURA,
4,4 DE ALTURA E 0,3 DE ESPESSURA
PQL6 PEDAÇO TRIANGULAR DE LOUÇA BRANCA,
MEDINDO 4,8 DE BASE POR 3,8 DE
COMPRIMENTO
PQL7 PEDAÇO DE PORCELANA LEVEMENTE
ARREDONDADO, MEDINDO 5,4 DE BASE POR
1,9 DE ALTURA
PQL8 PEDAÇO DE PORCELANA, DEFININDO A BASE
INFERIOR COMO SENDO O FUNDO DE UM
PRATO OU TRAVESSA, MEDINDO 2,8 DE BASE
POR 1,7 DE ALTURA
PQL9 PORCELANA BRANCA, DE FORMA
TRIANGULAR, POSSIVELMENTE UM
RECEPIENTE COMO UMA XÍCARA. BASE
3,4CM POR 3,7 CM DE ALTURA
PQL10 PEDAÇO DE PORCELANA BRANCA,
DECORADO COM ONDULAÇÕES, MEDINDO
3,1 DE BASE POR 3,8 DE ALTURA
PQL11 PEDAÇO DE PORCELANA BRANCA COM
FRISOS, MEDINDO 2,4 DE BASE E 2,7 DE
ALTURA
PQL12 PEDAÇO DE FAIANÇA, COM PINTURAS AZUIS
DE PLANTAS, LEVEMENTE ARREDONDADO
DEFININDO A PARTE INFERIOR (ONDE
OBSERVA-SE A BASE DE UM OBJETO COMO
UMA XÍCARA, PIREX OU PRATO), MEDINDO
6,1 DE BASE E 3,7 DE ALTURA
PQL13 PEDAÇO DE PORCELANA BRANCA, MEDINDO
1,6 CM DE BASE E 0,9 DE ALTURA
PQL14 PEDAÇO DE PORCELANA BRANCA, PINTADA
EM PEQUENAS FIGURAS DE COR ROSA,
MEDINDO 3,3 CM DE BASE POR 0,3 DE
ALTURA
PQL15 PEDAÇO DE PORCELANA BRANCA,
DEFININDO A PARTE INFERIOR COMO SENDO
A BASE DE UMA XÍCARA OU PIREX, MEDINDO
4,3 CM DE BASE POR 2,2 DE ALTURA
PQL16 PEDAÇO CILINDRICO DE MADEIRA, MEDINDO
7,4 DE COMPRIMENTO POR 3 CM DE ALTURA
PQL17 PEDAÇO DE AZULEJO, COM COLORAÇÃO
AZUL, MEDINDO 8 CM DE BASE POR 3,1 CM
DE ALTURA
PQL18 PEDAÇO DE OBJETO DESCONHECIDO,
ARREDONDADO, ARENOSO E
ORNAMENTADO COM SULCOS NA SUA
SUPERFÍCIE, MEDINDO 3,5 DE BASE POR 2 CM
DE ALTURA
PQL19 PEDAÇO DE FAIANÇA, COM DESENHOS
ORNAMENTADOS EM AZUL, MEDINDO 2,9
CM POR 1,4 DE ALTURA
PQL20 PEDAÇO DE FAIANÇA, COM DESENHOS DE
PLANTAS EM AZUL, MEDINDO 2,8 DE BASE E
3,8 DE COMPRIMENTO
PQL21 PEDAÇO DE FAIANÇA LEVEMENTE
ARREDONDADA, MEDINDO 2,1 DE BASE POR
1,6 DE ALTURA
PQL22 PEDAÇO DE FAIANÇA, MEDINDO 1,8 DE BASE
POR 1 CM DE ALTURA
PQL23 PEDAÇO DE PORCELANA, COM PINTURAS EM
ALTO RELEVO, MEDINDO 2,2 DE BASE POR
1,7 DE ALTURA
PQL24 PEDAÇO DE PORCELANA COM DETALHES
DESENHADOS E A INSCRIÇÃO “PATENT”,
MEDINDO 1,3 DE BASE E 2,1 CM DE
COMPRIMENTO
PQL25 PEDAÇO DE PORCELANA, PINTADO COM
FAIXAS AZUL E PRETA, MEDINDO 1,1 DE
BASE POR 1,4 DE ALTURA
PQL26 PEDAÇO DE FAIANÇA, COM CORES AZUL E
BRANCA, COM BASE DE 1,3 CM E ALTURA DE
0,7CM
PQL27 PEDAÇO DE FAIANÇA LEVEMENTE
ARREDONDADO, MEDIDO 2,9 DE BASE E 2,4
DE ALTURA
PQL28 PEDAÇO DE PORCELANA BRANCA,COM
DETALHES DE PINTURA EM PRETO, MEDINDO
1,7 DE BASE POR 2 DE ALTURA
PQL29 PEDAÇO DE FAIANÇA COM ESPESSURA DE 0,8
CM, E PINTURAS ORNAMENTADAS DE TOM
AZUL, MEDINDO 6,1 DE BASE POR 4,2 DE
ALTURA
PQL30 OBJETO MALACOLÓGICO, COM CAMADAS
SOBREPOSTAS, 5,7 DE COMPRIMENTO POR
3,9 DE BASE
PQL31 PEDAÇO DE FAIANÇA, COM DESENHOS EM
AZUL, MEDINDO 2,6 DE BASE POR 2 CM DE
ALTURA
PQL32 PEDAÇO DE FAIANÇA AZUL, ORNAMENTADA
COM DESENHOS AZUIS, MEDINDO 3,6 DE
LARGURA POR 2,1 DE ALTURA
PQL33 PEDAÇO TRIANGULAR DE PORCELANA
BRANCA, MEDINDO 1,7 DE BASE POR 1,5 DE
ALTURA
PQL34 PEDAÇO DE PORCELANA BRANCA, COM
PARTE EXTERNA DECORADA E LEVE
COLORAÇÃO VERDE, MEDINDO 2,1 CM DE
BASE E 2,2 DE ALTURA
PQL35 PARTE DA ASA DE UMA XÍCARA EM
PORCELANA BRANCA, MEDINDO 0,4 DE
LARGURA POR 2CM DE ALTURA
PQL36 PEDAÇO TRANSPARENTE DE VIDRO,
POSSUINDO A LETRA “E” EM RELEVO,
MEDINDO 4,2 DE BASE POR 1,4 DE ALTURA
PQL37 PEDAÇO DE VIDRO TRANSPARENTE,
PROVAVELMENTE FUNDO DE UMA GARRAFA,
MEDINDO 3,2 DE BASE POR 1 CM DE ALTURA
PQL38 PEDAÇO DE VIDRO TRANSPARENTE,
LEVEMENTE ONDULADO, MEDINDO 2,7 DE
BASE POR 5,1 DE ALTURA
PQL39 PEDAÇO DE AZULEJO, DECORADO COM
ASCORES AZUL, BRANCO E MARROM,
MEDINDO 2,4 DE BASE POR 6,5 DE
COMPRIMENTO
PQL40 PEDAÇO DE VIDRO VERDE CLARO,
POSSIVELMENTE O “PESCOÇO” DE UMA
GARRAFA, MEDINDO 2,8 DE LAGURA E 6,4 DE
ALTURA
PQL41 PEDAÇO DE AZULEJO DECORADO, COM
FIGURAS GEOMÉTRICAS EM FORMA DE
LOSANGOLOS E TRAÇOS NÃO DEFINIDOS,
NAS CORES AZUL BRANCO E TONALIDADES
DE MARROM, MEDINDO 5,2 DE BASE E 3,2 DE
ALTURA
PQL42 OBJETO MALACOLÓGICO, COM VÁRIAS
CAMADAS SOBREPOSTAS (SIMILAR A ROCHAS
SEDIMENTARES) E PEQUENOS FUROS,
MEDINDO 4,2 DE COMPRIMENTO E 3CM DE
LARGURA
PQL43 ORNAMENTO DE PLÁSTICO, MEDINDO 7.1
CM DE BASE POR 2,4 DE ALTURA
PQL44 PEDAÇO DE VIDRO TRANSPARENTE,
PROVALVEMENTE FUNDO DE UMA XÍCARA
OU COPO, COM ESPESSURA DE 0,5 CM, BASE
DE 4,5 CM E ALTURA DE 2,6 CM
PQL45 BASE TRANSPARENTE DE VIDRO DE UMA
TAÇA, MEDINDO ÁREA DE 3,1 CM POR 1,3 DE
ALTURA
PQL46 PEDAÇO DA BORDA DE PORCELANA, COM
VARIAÇÕES NA TONALIDADE VERDE,
MEDINDO 1,90 CM DE BASE E 0,7 CM DE
ALTURA
PQL47 PEDAÇO DE PORCELANA PINTADO EM
VÁRIAS CORES EM UMA DAS FACES,
MEDINDO 1,6 DE BASE POR 1,6 DE ALTURA
PQL48 PEDAÇO DE PORCELANA BRANCA,
ARREDONDADO EM UMA DAS
EXTREMIDADES, MEDINDO 2 CM DE BASE
POR 2,66 DE ALTURA
PQL49 PEDAÇO DE PORCELANA DE COR
ACINZENTADA, COM PEQUENAS ESFERAS
BRANCAS EM RELEVO, MEDINDO 1,8 DE BASE
POR 0,9 CM DE ALTURA
PQL50 PEDAÇO DE AZULEJO, SEM COLORAÇÃO
DEFINIDA, MEDINDO 2,9 DE BASE POR 4,2 DE
ALTURA
PQL51 PEDAÇO DE FAIANÇA, MEDINDO 2 CM DE
COMPRIMENTO E 1,3 DE ALTURA
PQL52 PEDAÇO DE FAIANÇA, MEDINDO 1,2 CM DE
BASE POR 1,1 DE ALTURA
PQL53 PEDAÇO DE FAIANÇA,MEDINDO 0,8 DE BASE
E 0,9 DE ALTURA
PQL54 PEDAÇO DE PORCELANA BRANCA, PINTADA
EM PEQUENAS FIGURAS EM ROSA, MEDINDO
0.8 DE BASE POR 1,7 DE ALTURA
PQL55 PEDAÇO DE OBJETO CALCIFICADO,
CONTENDO PEQUENOS SULCOS
DECORATIVOS, MEDINDO 1,2 DE
COMPRIMENTO POR O,7 DE LARGURA
PQL56 PEDAÇO DE PORCELANA, DE FORMA
CILÍNDRICA E POSSUINDO UMA BASE RETA,
MEDINDO 1,3 DE BASE POR 1,4 DE ALTURA
PQL57 PEDAÇO DE VARVITO, DECORADO COM
FAIXAS PRETAS, MEDINDO 8,1 DE BASE POR
3,3 DE ALTURA
PQL58 PEDAÇO DE VARVITO, DECORADO COM
FAIXAS PRETAS, MEDINDO 6,5 DE BASE POR
4,5 DE ALTURA
PQL59 PEDAÇO DE VIDRO MARROM ESCURO,
MEDINDO 5,6 CM DE BASE POR 3,2 DE
ALTURA
PQL60 PEDAÇO DE VIDRO VERDE ESCURO,
PROVAVELMENTE FUNDO DE GARRAFA,
MEDINDO 4,2 CM DE BASE POR 1,2 DE
ALTURA
PQL61 FERRAMENTA DENOMINADA CHAVE
INGLESA, TOTALMENTE ENFERRUJADA COM
18,4 CM DE BASE E 6,1 DE ALTURA
PQL62 PEDAÇO DE VIDRO ESCURO, PERTENCENTE
AO FUNDO DE UMA GARRAFA, MEDINDO 6,8
CM DE BASE POR 5 CM DE ALTURA
PQL63 PEDAÇO DE FERRO ORNAMENTA-
DO,POSSIVELMENTE UM ADORNO DE
ALGUMA CONSTRUÇÃO, TOTALMENTE
ENFERRUJADO, MEDINDO 23,5 DE BASE POR
15,1 DE LARGURA
PQL64 PEDAÇO DE VIDRO COM COLORAÇÃO
MARROM OPACA, MEDINDO 2,4 CM DE BASE
POR 2 CM DE ALTURA
PQL65 PEDAÇO DE VIDRO VERDE CLARO, COM
OSCILAÇÕES ONDULAS NA SUA SUPERFÍCIE,
MEDINDO 7 CM DE COMPRIMENTO POR 2,3
DE ALTURA
PQL66 PEDAÇO DE VIDRO COM COLORAÇÃO VERDE
CLARA, PROVAVELMENTE O “PESCOÇO” DA
GARRAFA, MEDINDO 3,4 DE LARGURA E 3,1
DE COMPRIMENTO
PQL67 PEDAÇO DE VIDRO VERDE CLARO, COM
ESPESSURA DE 0,3 MM, BASE DE 4 CM E
ALTURA DE 1,3 CM
PQL68 PEDAÇO DE VIDRO TRANSPARENTE, COM
ORNAMENTAÇÕES ONDULADAS EM RELEVO,
MEDINDO 3,4 DE BASE E 1 CM DE ALTURA
PQL69 PEDAÇO SIMILAR A UMA PEQUENA LÂMINA
DE METAL, COM ALGUNS PONTOS DE
OXIDAÇÃO, SEM FORMATO DEFINIDO,
MEDINDO 3,6 DE BASE POR 3.2 DE ALTURA
PQL70 PEDAÇO DE VIDRO TRANSPARENTE,
CORRESPONDENTE A UMA ASA DE XÍCARA,
MEDINDO 2,2 DE BASE POR 2,5 DE ALTURA
PQL71 PEDAÇO DE AZULEJO, PINTADO NA COR
MARRON, MEDINDO 2,1 DE BASE E 1,6 DE
ALTURA
PQL72 PEDAÇO DE VIDRO TRANSPARENTE,
ORNAMENTADO COM SULCOS NA SUA
SUPERFÍCIE, MEDINDO DE BASE 3 CM POR 2,3
DE ALTURA
PQL73 PEDAÇO DE VIDRO VERDE CLARO, MEDINDO
2,2 DE BASE POR 1,1 DE ALTURA
PQL74 PEDAÇO DE VIDRO, COM COLORAÇÃO VERDE
CLARA, MEDINDO 2 CM DE ALTURA POR 0,8
DE LARGURA
PQL75 PEDAÇO DE VIDRO AZUL, COM FORMA
ONDULADA, MEDINDO 2,6 DE BASE E 0,8 CM
DE ALTURA
PQL76 PEDAÇO DE VIDRO COM COLORAÇÃO VERDE,
POOSIVELMENTE DE GARRAFA, COM BASE DE
1,6 POR ALTURA DE 1,4 CM
PQL77 HASTE DE METAL DOBRADA, TOTALMENTE
ENFERRUJADA, MEDINDO 27,7 DE BASE E
6,5DE ALTURA
PQL78 FERROLHO DE METAL, TOTALMENTE
ENFERRUJADO, MEDINDO 18 CM DE
COMPRIMENTO E 2,1 DE LARGURA
PQL79 OBJETO REDONDO VAZADO DE METAL,
TOTALMENTE ENFERRUJADO. MEDINDO 4,5
DE DIÂMETRO (ÁREA EXTERNA) E 0,7 CM DE
DIÂMETRO (CÍRCULO INTERNO)
PQL80 PEDAÇO DE METAL ARREDONDADO, COM
MARCAS CUNHADAS NAS BORDAS E COM
BASE INFERIOR DE 4,8 CM E ALTURA DE 5,4
CM
PQL81 PEDAÇO DE FERRO TOTALMENTE ENFERRUJADO E DE FORMA ARQUEADA, MEDINDO 11,4 CM DE BASE E 3,1 DE ALTURA
PQL82 PEDAÇO DE METAL SEM FORMA DEFENIDA,
TOTALMENTE ENFERRUJADO MEDINDO 9,1
CM DE LARGURA POR 1,6 CM DE ALTURA
A seguir, serão exibidas as fotos dos objetos encontrados no sítio arqueológico:
PQL1
5 – TRIAGEM
A triagem dos objetos priorizou a incidência quantitativa do material
estudado, direcionando-se então, para o material vítreo e para as louças. A
escolha se deu pelos seguintes motivos:
Louças e vidros estão em maior número, demonstrando maior incidência
no local. Dentro do universo de oitenta e dois objetos, as louças (trinta e
oito fragmentos) representam 46,34% do total e o material vítreo (vinte e
um fragmentos), representam 25,60%, conforme demonstra gráfico a
seguir (Gráfico 1).
Gráfico 1 – Quantitativo dos Fragmentos
Os artefatos selecionados para análise são totalmente estranhos ao
objeto de estudo, merecendo uma investigação aprofundada. Entende-
se que o restante do material, que fora descartado pela triagem, podem
em sua maioria serem explicados com o contexto do observatório. Os
restos de azulejos, por exemplo, podem ter pertencido ao próprio
monumento. Os fragmentos de metal (ferramentas, ferrolhos, etc)
poderiam estar acondicionados dentro do observatório ou ter algum
propósito de manutenção para o observatório. Outros fragmentos (como
o adorno de plástico, por exemplo) não pertencem à mesma época da
torre e foram descartados posteriormente no local.
Quantitativo dos Fragmentos
Louça = 38 fragmentos
Vidro = 21 fragmentos
Azulejo = 5 fragmentos
Material Construtivo = 3fragmentos
Metal = 9 fragmentos
Após a triagem, separou-se os fragmentos que compunham os itens de
vidro e os de louça. Dentro do item vítreo, observou-se a seguinte separação
(Gráfico 2):
oito fragmentos são restos de garrafas;
cinco fragmentos pertencem á xícaras, copos ou taças;
um fragmento é pertencente a um objeto de vidro branco;
sete fragmentos têm origem desconhecida.
Gráfico 2 – Detalhamento do Material Vítreo
Dentro do item louças, foi possível observar a seguinte separação (Gráfico
3):
vinte e sete fragmentos são restos de porcelanas
onze fragmentos são restos de faiança.
Gráfico 3 – Detalhamento das Louças
Detalhamento do Material Vítreo
Garrafas = 8 fragmentos
Xícaras, copos e taças = 5fragmentos
Vidro Branco = 1fragmento
Origem Desconhecida =7 fragmentos
Detalhamento das Louças
Porcelanas = 27fragmentos
Faiança = 11 fragmentos
A seguir, a separação escolhida pela triagem será demonstrada na
tabela de material vítreo (tabela 3) e na tabela de louças (tabela 4):
TABELA 3 – MATERIAL VÍTREO
TABELA 4 – LOUÇA
Percebe-se então uma variação bastante limitada dos artefatos achados
no sítio arqueológico. No material vítreo, apesar de existirem onze fragmentos
pertencentes a objetos desconhecidos, dez dos fragmentos têm sua origem
conhecida. Os outros onze não se diferem demasiadamente dos objetos
conhecidos, mas como se encontram bastante fragmentados, não é possível
estabelecer sua origem de maneira precisa. O único objeto que pode ser
considerado de origem desconhecida é o artefato PQL2, de vidro branco.
Quanto às louças, a variação limitada se sucede. O material coletado
refere-se apenas àqueles usados em hábitos alimentares. Outros objetos que
também são feitos de louça, mas com natureza diferente de hábitos
alimentares (como pias, fusíveis, etc.) não foram encontrados.
Podemos concluir então que a ação do descarte dentro do espaço do
sítio arqueológico tinha determinada particularidade. O local não era destinado
para descarte de quaisquer objetos, mas sim de objetos específicos,
possivelmente oriundos de alguma atividade que acontecia nos limites do
parque.
A seguir, seguem dois capítulos, cada um com uma breve história sobre
o vidro e a louça, respectivamente.
6 – BREVE HISTÓRIA DO VIDRO
O nascimento do material vítreo pode se dar por duas maneiras: pela
ação da natureza ou pela fabricação do homem. No primeiro caso, onde os
materiais vítreos se denominam vidros naturais (obsidiana ou rocha vítrea),
eles são formados a partir do resfriamento do magma (material vulcânico).
Já pela ação do homem, a fabricação vítrea remonta à idade antiga, há
pelo menos 5.000 anos atrás. Há registros que nesta época, fenícios
manuseavam e comercializavam o produto. Em 100 a.C., romanos
manufaturavam o vidro pela técnica do sopro em moldes, trazendo lucro e
prestígio para os vidreiros.
Novos métodos para a manufatura de vidro surgiram (como por
exemplo, o sopro de uma esfera e rotação em forno, que possibilitou a feitura
do vidro plano, entre 500 e 600 d.C.). Mas foi na ilha de Murano, na Itália, que
a fabricação vítrea ganhou notoriedade. Adotando técnicas orientais, os
vidreiros de Murano se especializaram em trabalhar a produção artística do
vidro, possibilitando o surgimento do cristal.
A produção vítrea era feita com o sopro humano (ou sopro humano
livre), sem nenhuma espécie de molde. Uma cana era utilizada como suporte,
onde o vidreiro fazia movimentos de sopro e de rotação para conseguir a forma
desejada. Já entre os séculos XVIII-XX, o vidro era produzido com moldes e
pontéis (objetos de madeira, ferro ou mesmo de vidro que serviam para
modelar determinadas partes de um objeto vítreo). Objetos de ferro permitiam
inscrições nos objetos de vidro.
Na Idade Média, a França destacou-se na manufatura vítrea.
Responsável pelo envidraçamento do Palácio de Versalhes, a Compagnie de
St. Gobain era famosa por sua habilidade. A notoriedade francesa era tanta
que em 1773, a fábrica inglesa British Cast Plate Glass Company, contava com
a habilidade dos franceses.
A disputa pela supremacia da produção vítrea entre ingleses e franceses
perpetuou até o século XIX, beirando a Revolução Industrial:
A associação de Robert Lucas Chance com Georges Bontemps da
França era necessária para que Bontemps persuadisse artesãos
franceses relutantes a divulgar seu conhecimento da fabricação com
cilindro soprado em 1832. Sem esse conhecimento, o contrato para o
Palácio de Cristal e, talvez, mesmo a direção da tecnologia podiam ter
seguido outros caminhos. A concorrência para o desenho e construção
do Palácio de Cristal em 1850 teve Chance concorrendo com Paxton
pelo uso da folha soprada; Horeau com um fornecedor francês e James
Hartley de Sunderland concorrendo com chapa moldada a um preço só
ligeiramente mais alto do que a folha de Chance. Apesar da dimensão
do contrato (aproximadamente 100.000 m2 de vidro), os concorrentes
eram firmas pequenas e ofereciam diferentes produtos19
.
Com o tempo, a técnica refinada dos vidreiros espalhou-se por toda a
Europa. Em 1820, a indústria vítrea recebeu características diferenciadas,
iniciando em uma etapa artesanal até chegar a um estágio de automação e de
produção de escala industrial, adequando-se ao contexto europeu,
principalmente ao que acontecia na Inglaterra e Alemanha20.
A produção vítrea então se escancara para o mundo da Revolução
Industrial. Desta maneira, novos elementos foram incorporados na composição
vítrea, resultando em fatores como a mudança de coloração do produto. Tendo
uma composição entre 60 e 80% de sílica, quanto maior a pureza da areia,
maior a transparência no produto final. Impurezas como o ferro, por exemplo,
proporcionam colorações diferenciadas.
Porém, o âmago da feitura vítrea continua o mesmo, segundo Zanettini
(1999):
A fusão do vidro ocorre aos 1400/ 1600°C aproximadamente (o
maquinário moderno opera em 1550°C). Após a fusão dos
ingredientes, a massa é submetida ao resfriamento e quando chega
aos 900°C adquire uma condição maleável, permitindo sua
19 O VIDRO. Disponível em: <http://www.usp.br/fau/deptecnologia/docs/bancovidros/hi
stvidro.htm>. Acesso em: 31 maio. 2013
20 ZANETTINI, P.E.; BAVA DE CAMARGO, P.F.Cacos e mais cacos de vidro; o que fazer com eles? (parte 1),
São Paulo: Zanettini Arqueologia, 1999.
manipulação. A partir desse momento, artesãos munidos de seus
instrumentos próprios (ponteios, tesouras, grampos, garras e moldes)
aliam sensibilidade e técnica, dando forma às mais inusitadas peças e
utensílios para o dia-a-dia há pelo menos 7 mil anos.
Na segunda metade do século XIX, aparecem novas tecnologias: surge
o snap-case (ou garra de fixação), que substitui o pontel antigo, são adotados
reforços em garrafas, especialmente em volta do gargalo e são desenvolvidas
técnicas que eliminam marcas nos vidros, causadas pelo contato da massa do
vidro quente com moldes frios.
Já no final do século XIX, o processo produtivo se modifica,
denominando-se semi-automação, onde componentes diversos foram
articulados, produzindo máquinas que aumentam a produção. Mas a mão de
obra especializada ainda é necessária, ao contrário do que acontece com
tantos outros segmentos da Revolução Industrial. O know-how da produção
vítrea ainda se faz preponderante neste momento.
Porém, a produção automática de vidros começa a ganhar espaço.
Zanettini (1999) demonstra como passa a ser o processo:
“Primeiramente, a massa vítrea é despejada no
molde do gargalo e do parison, sendo a partir daí
moldada, ou pela pressão do ar, ou pela sucção,
ou pela pressão de êmbolo (press blow), dando
forma final ao gargalo e ao parison. O parison tem
a função de distribuir a massa para que ela
comece a apresentar sua forma final: no caso de
uma garrafa, o parison alonga a massa dando-lhe
formato levemente cilíndrico; Depois, ainda com o
molde do gargalo fixo no mesmo, o molde do
parison é removido; E por último, o molde final
junta-se ao molde do gargalo em torno do parison
e então a garrafa é soprada, pela pressão do ar,
até atingir seu formato definitivo. É a partir do
molde final que são aplicadas as inscrições e
elementos decorativos/ estilísticos que dão
identidades exigidas por um novo contexto de
mercado a cada vasilhame/ conteúdo”.
As máquinas Owens realizavam o processo descrito acima. Percebemos
então, que muitas demandas que antes necessitavam da mão de obra
especializada, agora foram substituídas pela ação do maquinário. Menos
pessoas para manuseá-las e para executar a manutenção, significava menos
capital gasto pelo empresário e consequentemente, maior lucro.
Porém, as máquinas Owen tinham um custo elevado. A solução para
muitos empresários foi a automação das máquinas anteriores, as chamadas
semi-automáticas. Mas a superação tecnológica também ultrapassou as
máquinas Owen com o tempo. Máquinas denominadas feeders dominaram o
mercado e tornaram-se supremas até os anos 90.
Um dos grandes problemas da automação da indústria vidreira não foi
só a problemática da mão de obra especializada, que sofreu com a grande
desvalorização do seu fazer. A indústria de massa, que atende a grandes
demandas, não priorizava a heterogeneidade. Altas demandas resultaram em
produtos uniformes, iguais, sem grandes variações de cores, tamanhos ou
formas. Desta maneira, ainda persistia uma pequena produção com tecnologia
manual, que atendia a demanda de clientes mais exigentes, que procuravam
um diferencial e uma qualidade ausentes na produção massificada.
6.1 – O vidro no Brasil
O primeiro contato do brasileiro com o vidro foi justamente nas relações
de escambo iniciais estabelecidas entre portugueses e índios. Ávidos pelas
riquezas naturais brasileiras, os portugueses ofereciam vários produtos (entre
os quais, miçangas de vidro) aos indígenas e conseguiam executar trocas por
produtos tirados de nossas matas.
Após se firmarem em solo brasileiro, o domínio português sobre sua
colônia intimidava quaisquer tentativas de industrialização, por menor que
fosse. Somente com a chegada dos holandeses, liderados por Maurício de
Nassau em 1637, a indústria vítrea nasce em nosso país. Especificamente em
Olinda e Recife, artesãos manufaturavam alguns utensílios como copos e
também vidros para serem colocados em janelas. Em 1654, os holandeses são
expulsos pelos portugueses e a indústria vítrea encerra sua produção, entrando
em um hiato de quase 100 anos.
Somente na época aurífera em Minas Gerais, em 1752, a colônia volta a
ter contato com o vidro. Neste ano, chegam vidros vindos do exterior para
serem colocados em uma catedral mineira. Quatro anos depois, novos vidros
chegam para a construção do Palácio dos Governadores. Com uma maior
frequência do uso do vidro em Minas Gerais, nasce uma corporação de
vidreiros no local.
Mesmo assim, nesta época o vidro não é destinado para quaisquer
castas sociais. Somente a elite tinha acesso ao produto. Com o status de
capital brasileira em 1763, a cidade do Rio de Janeiro deteve este acesso.
Para a cultura vítrea se firmar e se popularizar no Brasil, deveria haver
uma mudança nas relações políticas entre colônia e metrópole, já que existia
um pacto colonial que inibia iniciativas mais ousadas. Tal fato se deu com a
chegada da Família Real ao Brasil em 1808. O Brasil ainda não tinha sua
produção vítrea, mas a abertura dos portos permitiu a chegada de manufaturas
vítreas européias, oriundas da Inglaterra, França, Bélgica e Áustria.
As importações brasileiras aconteciam devido a Portugal não ter tradição
na indústria vítrea. Mas no final do século XVIII, a Real Fábrica de Vidros da
Marinha Grande, em Portugal, consegue seu merecido destaque. E no Brasil,
surge a indústria vítrea de Francisco Inácio de Siqueira Nobre (1810, Bahia),
semelhante a fabrica portuguesa, fechando em 1825, por dificuldades
financeiras.
Mesmo com o fim da indústria de Siqueira Nobre, surgem pequenos
focos de produção vítrea no Brasil, liderados por portugueses que tinham os
saberes e a formação dos vidreiros da Real Fábrica da Marinha Grande. A
imigração italiana, que já se fazia presente no século XIX, engrossou estas
fileiras produtivas. Em 1861, acontece no Rio de Janeiro, a 1ª. Exposição
Nacional de Produtos Naturais e Indústrias. Nela, produtos vítreos brasileiros
marcam sua presença, apesar de não terem as mesmas técnicas e tecnologias
da Europa.
Após a Proclamação da Independência brasileira em 1822, a indústria
brasileira começa a dar os seus primeiros passos, porém lentos e curtos. As
importações europeias, sobretudo as provindas da Inglaterra, abafavam as
tentativas de industrialização. Somente em 1822, às vésperas da Proclamação
da República, surge um expoente na indústria vítrea brasileira: a Fábrica
Esberard, no Rio de Janeiro, produtora de vidros de embalagens e vidros
planos. A fábrica produzia vidros de altíssima qualidade, a ponto de serem
comparados aos franceses. A instituição contava com cerca de 500
funcionários.
Alguns anos mais tarde, em 1895, surge em São Paulo, a Cia. Vidraria
Santa Marina, fundada pela associação de dois grandes empresários da região
(Antônio da Silva Prado e Elias Fausto Pacheco Jordão), contando com 600
funcionários. A Cia chegou a fabricar em menos de dez anos, um milhão de
garrafas e dois mil m2 de vidro plano por mês.
Nota-se então que o desenvolvimento do setor industrial brasileiro
ocorria, mesmo que em menor proporção, paralelamente ao café. No final do
século XIX e começo do século XX, a indústria brasileira priorizava somente os
produtos considerados como “bens não duráveis”. O país ainda não tinha
know-how ou mão de obra especializada para empreender-se em uma
produção de tecnologia requintada. Neste contexto, a fabricação vítrea foi
preponderante dentro de seu tempo e espaço, apresentando-se como uma
alternativa para a produção agropecuária vigente no país.
Ainda no início do século XX, mais precisamente em 1912, surge a
fábrica Nadir Figueiredo, também em São Paulo. Inicialmente, a empresa era
uma pequena oficina de consertos e venda de máquinas de escrever e
materiais elétricos, passando no ano seguinte a produzir artigos de iluminação
e aparelhos elétricos. Porém, após a Segunda Guerra Mundial, a empresa traz
da Europa avançadas tecnologias de produção vítrea, popularizando o vidro
para todas as camadas da sociedade.
Voltando até o ano de 1917, outra fábrica desponta, mas no Rio de
Janeiro: a CISPER - Cia. Industrial São Paulo e Rio. A Cisper deu a
característica da automação à industrial brasileira, usando máquinas
avançadas. No ano seguinte, ficou conhecida pela parceria com a Cervejaria
Brahma, onde se iniciou uma grande demanda de garrafas de vidro.
A produção vítrea brasileira passou por diversas fases, cada qual com
suas características. Segundo Zanettini (1999), podemos estabelecer três
períodos diferenciados na produção de vidros no Brasil.
O primeiro, circunscrito entre o início do
século XIX até 1890/1900; caracterizado
pelas iniciativas pioneiras, a descoberta de
jazidas de areias livres de metais pesados,
a importação e especialização de mão-de-
obra e produção exclusivamente manual.
O segundo, de 1890/1900 até 1940/50;
quando se destaca a consolidação da
indústria vidreira através da criação de
grandes fábricas tais como a Santa
Marina, a CISPER e a Nadir Figueiredo.
Caracteriza-se esse período também pela
importação de tecnologia de ponta e a
distribuição maciça de produtos através da
navegação de cabotagem, da rede
ferroviária em franca expansão e da rede
rodoviária em criação.
E o terceiro, de 1950 até o presente, por
nós vivenciado, correspondendo à fase de
consolidação da produção vidreira na
forma de oligopólios mundiais, como a
Saint Gobain (FRA) e a Corning (EUA),
sendo a produção dessas empresas
altamente automatizada, atendendo
somente às grandes encomendas,
contando com amplo sistema de
distribuição.
6.2 – Análise do material vítreo
Conforme abordado anteriormente, foram coletados 21 espécies de
material vítreo no Parque da Luz. Segue abaixo uma breve análise deste
material:
O primeiro deles, denominado PQL2, é fabricado em vidro leitoso
branco. Não há registros de fabricação vítrea com esta característica no
Brasil durante o século XIX. O vidro branco era usado como recipiente
de perfumes, unguentos ou óleos. É possível que seja material
importado ou então remanescente do século XX, sendo colocado no
local após a demolição do observatório.
O fragmento hialino PQL36 (material transparente) consiste em um
fragmento de garrafa, devido à curvatura apresentada e a espessura do
ítem. Apresenta uma inscrição“letra E”, não fornecendo maiores
informações.
O fragmento hialino PQL37 é um fragmento de base de frasco,
apresentando o contorno cilíndrico e a espessura média característicos
de uma garrafa
O fragmento hialino PQL38 tem como característica principal ondulação
própria de uma garrafa
O fragmento PQL40 tem coloração verde-oliva claro e é parte de um
“pescoço” de uma garrafa.
O fragmento hialino PQL44 é é um fragmento de base de taça.
O fragmento hialino PQL45 é um fragmento de base de taça, fabricada
em molde.
O fragmento PQL59 tem dimensões planas, de coloração marrom-
escura e origem indefinida.
O fragmento PQL60 é o fragmento de base de garrafa, apresentando
coloração verde-escura.
Assim como o item anterior, o fragmento PQL62 é o fragmento de base
de garrafa, com coloração verde escura.
O fragmento PQL64 tem dimensões planas, cor marrom-escura, de
origem indefinida, similar ao PQL59.
O fragmento PQL65 tem superfície regular com ondulações, cor verde
água-marinha. Sua origem é indefinida.
O fragmento PQL66 é a parte de um pescoço de garrafa, de coloração
verde-oliva.
O fragmento PQL67 pertence a uma garrafa (por apresentar espessura
equivalente aos fragmentos de garrafas apresentados), com coloração
verde-oliva.
O fragmento hialino PQL68 tem superfície irregular com ondulações e
origem desconhecida.
O fragmento hialino PQL70 é a asa de uma xícara.
O fragmento hialino PQL72 é um fragmento de copo, apresentando
ondulações.
O fragmento PQL73 tem superfície plana, com coloração aqua, de
origem indefinida.
O fragmento PQL74 tem coloração azul-colbato, fina espessura e leve
circunferência, pertencendo a um copo, xícara ou taça.
O fragmento PQL75 tem coloração azul-clara, superfície irregular e de
origem indefinida.
O fragmento PQL76 tem coloração verde-clara, superfície irregular, de
origem indefinida.
7 – BREVE HISTÓRIA DA CERÂMICA
A origem da cerâmica nos remonta ao tempo neolítico. Entre 26.000 a.C
e 5.000 a.C., os nossos ancestrais passam a ser sedentários, priorizando o
cultivo da agricultura e o estabelecimento de um abrigo fixo. Era necessária
então a criação ou invenção de suportes para colocarem água e os alimentos
colhidos.
A matéria prima para a produção era composta de a argila, por ser um
material plástico, de fácil modelagem. Depois de seca, era necessário o retiro
da umidade (para manuseá-la, a argila era misturada com água) através de
altíssimas temperaturas, produzindo então suportes duráveis. A palavra
cerâmica vem do grego, onde “kéramos” significa “argila queimada”.
Existem registros arqueológicos de peças de cerâmica no Japão, há pelo
menos 8.000 anos atrás. Apesar de não haver um consenso entre arqueólogos
sobre o assunto, é provável que a cultura cerâmica se espalhou nos milênios
seguintes para a Ásia (especialmente para a China), Europa e Egito, onde
existem fragmentos de cerca de 5.000 anos atrás.
A classificação da cerâmica é bem diversa. Muitas das terminologias
usadas podem não ir de encontro a esta dissertação. Segundo ZANETTINI
(1986):
“Existem inúmeras classificações e terminologias,
de caráter regional, nacional e internacional. A
grande maioria não provém das análises e
interesses da arqueologia. Podem todavia servir
aos objetivos do arqueólogo. Os ceramógrafos
dividem por exemplo as louças em decorativas e
utilitárias com base na presença e ausência de
decorações nas peças. As mesmas podem ser
diferenciadas em anônimas ou históricas. Estas
contêm em sua decoração a presença de brasões,
escudos, monogramas, e filiam-se desse modo a
um determinado personagem. Anônimas são
aquelas em que não é possível determinar o
possuidor da peça. É comum encontrarmos em
anúncios de leilões a denominação louça da Cia.
Das Índias. Esta denominação remete-nos grosso
modo à porcelana chinesa produzida para
exportação. Fala-se também em louças
bragantinas: correspondem por sua vez aos
serviços da família real portuguesa e imperial
brasileira”
Existe uma classificação, sugerida por PILEGGI (1958), onde: 1-
produtos porosos (absorventes), incluem louças de barro, terracota, produtos
de olaria, fiança, faiança fina e algumas refratárias e 2 - produtos não porosos,
incluem louças vitrificadas (azulejos) e/ou grês cerâmico e porcelana.
Adaptando para esta dissertação, mediante aos materiais coletados e
escolhidos para análise, serão explanadas da seguinte forma:
Produtos porosos: faiança, faiança fina
Produtos não porosos: porcelana
Da classificação utilizada nesta dissertação, cabe uma breve explanação
sobre cada um dos itens:
7.1 – Faiança
A origem da faiança perde-se no tempo e não existe um consenso sobre
seus primórdios. O nome propriamente dito faiança se relaciona a Itália, na
cidade de Faenza, onde no século XV, houve produção deste material. Sua
nomenclatura varia de acordo com a região: em Portugal, chama-se faiança; na
Holanda, Delft; na Inglaterra, Delft Ware; na Espanha, maiólica
(ZANETINNI,1986). Mas as suas técnicas de feitura remetem a um passado
bem mais remoto, incluindo persas e aos povos árabes, para depois chegarem
a Europa.
Segundo PILEGGI (1958), podemos definir a faiança como “objetos
feitos em argila, de grande plasticidade, cozidos á temperatura reduzida,
porosos e resistentes. Estes são recobertos de esmalte opaco à base de
compostos de chumbo e estanho tornando-se mais duros e sonorosos”.
No Brasil, a faiança portuguesa predominou no período colonial, até final
do século XIX, apesar de haver produção própria no país. Os produtos
apresentavam qualidade inferior (principalmente no esmalte) em relação às
faianças estrangeiras e eram denominadas meias-faianças. Uma das principais
características da faiança são seus desenhos azulados, feitos geralmente
sobre um fundo branco. O desenho clássico da faiança apresenta
ornamentação com figuras de pombos azuis.
7.2 – Faiança Fina
Oriunda da Inglaterra e também chamada de louça inglesa, a faiança
fina foi criada no século XVII e largamente consumida pelo mundo no advento
da Revolução Industrial, no século XIX.
Eram produtos de baixo custo e feitos com uma demanda de larga
escala, não apresentando a qualidade da faiança propriamente dita. O modelo
capitalista da indústria de faiança fina foi difundido no Brasil
Segundo ZANETTINI (1986), “os produtos em faiança fina apresentam
pasta dura e opaca, branca, infusível ao fogo de porcelana e com um vidrado
de chumbo. Sua pasta é produto de vários ingredientes, conforme a fábrica que
os aplica; é compactada e de forma geral esbranquiçada, dispensando o
engobo”.
7.3 – Porcelana
Os primórdios da porcelana remontam ao oriente, especificamente á
China. A origem é remota e não há um entendimento sobre uma exatidão de
seu início; apesar das peças mais antigas pertencerem ao século VI d.C., sua
provável origem se deu 4.000 a.C.
Muitas vezes, a porcelana é ornamentada com pinturas, desenhos e tem
variações de formato e tamanho. Outra característica é que tem a coloração
branca e é impermeável. A porcelana recebe um processo de vitrificação e
apresenta uma sonoridade quase metálica.
Existem duas divisões da porcelana: massa dura e massa mole. A
primeira é composta por caulim, péntusé (material feldspático), alabrasto e
quartzo. Segundo ZANETTINI (1986), a cerâmica de massa dura foi descoberta
na China no período T´ang (906 a 618 a.C.) e produzido na Europa somente no
século XVIII, na Alemanha. O processo de fabricação da louça de massa dura,
conforme argumenta Maria Augusta Rebouças:
Todas as substâncias (caulim, péntusé, alabrasto
e quartzo|) devem ser pulverizadas e misturadas
com água para formar uma papa densa e leitosa
que, ao ser levada ao forno e submetida à
temperaturas que oscilam entre 1.250 °C e 1.350
°C, transforma-se em uma massa vítrea, dura,
densa, branca , impermeável e translúcida que
ressoa ao ser tocada; ou seja, naquilo que
conhecemos como porcelana21
Já a massa mole, teve sua origem em 1575, em Florença, Itália. Sua
composição básica, segundo Maria Augusta Rebouças, é “pós de vidro,
alabastro, cal, mármore, esteatita e outros tipos de argilas locais que
determinam e diferenciam os vários centros produtores. Porém, estes
elementos sempre se fundem a uma temperatura máxima de 1.100o C e a
impermeabilização da peça é feita por uma camada de vernizes de chumbo
que nunca se misturam com a massa”. Além de possuir uma coloração
levemente amarelada, a porcelana de massa mole possui maior índice de
material feldspático que a porcelana dura. No Brasil, porém, predomina a
porcelana de massa dura.
7.4 – Análise da louça
Conforme abordado anteriormente, foram coletadas 38 espécies de
louça no Parque da Luz, divididos em 27 restos do tipo porcelana e 11 restos
do tipo faiança. Resíduos do material denominado faiança fina não foram
21 PORCELANA 21 – MARIA AUGUSTA REBOUÇAS. Disponível em <http://www.porcelana21.com/historiaporcelana.php>. Acesso
em 04.jun.2013
encontrados, somente da faiança propriamente dita. Segue abaixo uma breve
análise destes materiais.
Porém, vale uma ressalva: no presente estudo, por se tratar de uma
análise preliminar, os fragmentos utilizados nesta seção serão denominados
como louças, para assim abranger uma maior variedade de produções.
O fragmento PQL3, é um pedaço diminuto de porcelana, com a
superfície levemente arredondada e duas pequenas faixas azuis.
A pintura branca apresenta rachaduras.
O fragmento PQL4 apresenta superfície levemente arredondada
sem nenhum ornamento, prevalecendo a cor branca.
O fragmento PQL5 é provavelmente a base de uma xícara. Não
apresenta desenhos ornamentados, prevalecendo a cor branca
O fragmento PQL6 é um pedaço triangular, com uma pequena
base em uma de suas extremidades. Também não apresenta
desenhos ornamentados, prevalecendo a cor branca
O fragmento PQL7 apresenta superfície arredondada sem
nenhum ornamento, prevalecendo a cor branca.
O fragmento PQL8 é provavelmente a base de um pires. Não
apresenta desenhos ornamentados, prevalecendo a cor branca
O fragmento PQL9 é triangular, muito similar ao PQL6, não
possuindo, no entanto, base em nenhuma extremidade. Não
apresenta desenhos ornamentados, prevalecendo a cor branca
O fragmento PQL10 tem forma e plano irregular, apresentando
como ornamentação pequenos sulcos na sua superfície.
Prevalece a cor branca no artefato.
O fragmento PQL11 é muito similar ao PQL10, diferenciando-se
apenas em sua forma.
O fragmento PQL12 não tem forma definida, possuindo superfície
arredondada, com desenhos florais. As ilustrações apresentam-se
borradas, com definições de má qualidade.
O fragmento PQL13 é bem diminuto, tem a superfície plana e
apresenta a pintura totalmente rachada, prevalecendo a cor
branca.
O fragmento PQL14 tem a forma triangular, tem um leve
arredondamento, sugerindo ser resto de um prato ou pires e é
ornamentado com desenhos geométricos abstratos, de tonalidade
vermelha clara.
O fragmento PQL15, similar ao PQL5, é provavelmente a base de
uma xícara, prevalecendo a cor branca, sem ornamentações
O fragmento PQL19, também sem forma definida, tem uma
cobertura vítrea, sua forma corresponde a uma borda de uma
faiança e tem ornamentação abstrata.
O fragmento PQL20 tem forma semelhante a um triângulo,
superfície arredondada e ilustrações borradas, com definições de
má qualidade.
O fragmento PQL21 não tem forma definida, possui leve
arredondamento e suas diminutas dimensões não permitem
fornecer maiores dados sobre sua ornamentação.
O fragmento PQL22 também possui diminutas dimensões,
apresenta superfície plana e assim como o material anterior,
possui diminutas dimensões. Pode-se perceber duas faixas azuis,
com uma branca ao meio em sua ornamentação.
O fragmento PQL23 tem a superfície plana, sem forma definida
ou quaisquer ornamentações, prevalecendo a cor branca
O fragmento PQL24 é plano, tem a superfície branca com parte
de um desenho em preto (devido as dimensões diminutas do
pedaço de porcelana, não é possível identificar a ilustração). Na
sua superfície estão alguns dizeres, sendo possível somente
verificar a palavra “patent”.
O fragmento PQL25 tem um leve arredondamento, que sugere
ser a borda de um pires ou prato. Está ornamentado com três
faixas: uma faixa azul mais larga entre duas faixas pretas
menores.
O fragmento PQL26 é plano, sem arredondamentos e apresenta a
coloração branca com rachaduras. É possível observar uma faixa
azul em sua borda.
O fragmento PQL27 não possui forma definida, tem uma camada
vítrea em sua superfície, possui leve ondulação e desenhos
abstratos em sua borda.
O fragmento PQL28 é levemente arredondado, de maneira que
não é possível sugerir a forma original do objeto. O objeto
apresenta desenhos ornamentados em preto. Devido as
dimensões diminutas do pedaço de porcelana, não é possível
identificar a ilustração.
O fragmento PQL29 tem a superfície totalmente arredondada,
porém sem forma definida, possui uma camada vítrea e
ornamentação abstrata.
O fragmento PQL31 tem a forma de um trapézio isósceles,
superfície plana e ornamentação abstrata, com diferentes
tonalidades de azul.
O fragmento PQL32 não tem forma definida, superfície plana e
devido as diminutas dimensões do objeto, não é possível discernir
a natureza da ilustração (pode-se perceber apenas um muro de
tijolos e um arco entre duas colunas). Nota-se, porém, que os
desenhos são complexos, com várias formas e tonalidades de
cor.
O fragmento PQL33 tem forma triangular, leve arredondamento,
sem nenhuma ornamentação, prevalecendo a cor branca. O
objeto é bem similar ao material PQL9.
O fragmento PQL34 não tem cor ou forma definida, apresenta um
leve arredondamento em sua superfície. Em uma das bordas,
porém, é possível distinguir uma leve tonalidade de azul, com um
desenho ondulado esbranquiçado.
O fragmento PQL35 é uma asa de xícara, de cor branca.
O fragmento PQL46 não tem forma definida, possui um leve
arredondamento em sua superfície e apresenta uma coloração
cromática esverdeada.
O fragmento PQL47 também não tem forma definida, apresenta
um leve arredondamento em sua superfície e está ornamentado
com desenhos em várias cores (é possível distinguir algumas
tonalidades de verde, marrom e vermelho). Devido as dimensões
diminutas do pedaço de porcelana, não é possível identificar a
ilustração.
O fragmento PQL48 não tem forma definida, mas possui um
considerável arredondamento em sua superfície. Forma-se uma
borda em uma das extremidades, mas não é possível distinguir a
natureza do objeto.
O fragmento PQL49 tem forma triangular, superfície levemente
arredondada, coloração marrom, ornamentada com pequenas
esferas brancas e alto relevo.
O fragmento PQL51 não apresenta forma definida, possui leve
arredondamento e sua ornamentação está borrada, não sendo
possível discernir quaisquer características da ilustração.
O fragmento PQL52 apresenta as mesmas características do
objeto anterior, o PQL51
O fragmento PQL53 tem dimensões diminutas, sem forma
definida, possuindo superfície plana. Tem como ornamentação
uma pequena faixa branca, entre duas azuis.
O fragmento PQL54 não tem forma definida, possuindo a
superfície levemente arredondada. Suas ilustrações abstratas e
suas tonalidades de vermelho são similares ao objeto PQL14.
O fragmento PQL56 pertence provavelmente a uma xícara, de
uma parte próxima da asa do objeto. Não possui ornamento ou
formas definidas.
8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conforme abordamos em capítulos anteriores, a maior parte do material
encontrado no sítio arqueológico do Observatório Astronômico do Parque da
Luz é estranha àquele local. O Observatório tinha como principal característica
a função de mirante, para que os transeuntes do parque tivessem uma visão
panorâmica da cidade.
O interior da torre tinha uma escada em caracol para se chegar ao topo,
sendo que não comportava espaço interno para outras atividades. Já o espaço
externo, no envoltório da torre, conforme pode se ver na figura 11, tinha um
pequeno elevado onde se alicerçava o observatório. Nota-se que não havia
nenhum espaço que serviria para descarte de material.
O que pode ser concluído de forma preliminar é que o material
descartado no observatório foi posterior á demolição da torre. Enquanto
monumento “vivo” no local, o observatório não tinha espaço para quaisquer
atividades, a não ser a serventia como mirante. E nos arredores da torre, é
improvável que o lugar tenha sido caracterizado por área de descarte.
Primeiramente, pela ornamentação do local. Remetendo-se novamente á figura
11, nota-se o quanto o espaço do entorno era zelado, com arborizações e
árvores circundando a torre. Sendo a torre um dos principais pontos turísticos
do parque, não seria provável que junto ao monumento houvesse um local
contendo restos.
Já que o material arqueológico encontrado foi possivelmente descartado
no local após a demolição da torre, deve-se então discernir os motivos pelos
quais os fragmentos escolhidos na triagem (louças e vidros) estão presentes
nesta área.
O material vítreo totalizou em 21 fragmentos. Conforme visto
anteriormente, sua classificação se resumiu da seguinte forma:
oito fragmentos são restos de garrafas;
cinco fragmentos pertencem á xícaras, copos ou taças;
um fragmentosé pertencente a um objeto de vidro branco;
sete fragmentos têm origem desconhecida.
Do material vítreo analisado então, 38.09% são fragmentos de garrafas,
23.80% são fragmentos de xícaras, copos ou taças, 4.77% é o fragmento de
vidro branco e 33.34% são de origem desconhecida. Destaca-se então que
61.89% do material vítreo achado no sítio eram objetos que tinham relações
com hábitos alimentares.
O material denominado louça totalizou 38 fragmentos. Conforme visto
anteriormente, sua classificação se resumiu da seguinte forma:
vinte e sete fragmentos são restos de porcelanas
onze fragmentos são restos de faiança.
Dos fragmentos de louça analisada, 71.05% são porcelanas e 28.95%
são faianças. As faianças geralmente estão relacionadas a pratos, vasilhas e
outros recipientes alimentares. Quanto ás porcelanas, porém, é necessário
aprofundar-se nesta análise. Das porcelanas analisadas, pode-se esclarecer as
origens de alguns objetos:
PQL5 (fragmento da base de uma xícara)
PQL8 (fragmento de base de um pires)
PQL 14 (fragmento de prato ou pires)
PQL15 (fragmento de uma xícara)
PQL25 (fragmento de borda de um pires ou prato)
PQL35 (fragmento de asa de xícara)
PQL56 (fragmento de xícara)
Em relação ao item louças, os sete fragmentos de porcelanas descritos
acima representam 18.42% do total. Em relação á todas porcelanas, elas
representam 25.92%.
Não é possível afirmar de forma segura a origem das porcelanas
restantes. Porém, a possibilidade de estarem relacionadas a recipientes
alimentícios é bem provável. Curvaturas presentes em grande parte das
porcelanas e espessuras correspondentes a pratos, xícaras, pires e demais
utensílios sugerem este argumento, mas não se apresentam como prova cabal.
Do material colhido e passado pela triagem (vidro e porcelana), as
unidades totalizaram em 59. Deste resultado, o total entre louças e vidros que
de alguma maneira relacionam-se com hábitos alimentares, totaliza-se 19
unidades (32.2%).
Os fragmentos em destaque eram considerados simples, sem grandes
ilustrações ou ornamentações. Em sua grande maioria, eram objetos próprios
para finalidades relacionadas a refeições (como pratos, xícaras e, até certo
ponto, garrafas) e não objetos para armazenar alimentos (como travessas, por
exemplo).
Diante a natureza dos objetos em destaque, sua relação com hábitos
alimentares e o período posterior á derrubada da torre, cabe uma
contextualização com um local dentro dos limites do parque: a área destinada
para eventos denominados “pic-nics”.
Tal área era próxima do local onde estivera a torre (pelo GPS, o
observatório está localizado á 23K 0333093 / TM 7396422 e a área de pic-nic
está localizada à 23K 0333068 / TM 7396422). Como no início do século XX a
torre já havia sido demolida, a área que abrigava o monumento não tinha mais
a representatividade de outrora.
Desta maneira, conclui-se que, sendo próxima do local de pic-nics, a
área da torre era um local propício para descarte de louças ou vidros que
porventura se quebrassem durante o evento. O fato de não haver talheres
(produtos que supostamente, apresentam maior durabilidade e não se quebram
facilmente) corrobora esta ideia. Os artefatos encontrados então, não tiveram
nenhuma relação com a torre no século XIX, enquanto ela estava edificada nos
limites do parque. Mas após ser demolida, a área da torre teve uma
ressignificação, assumindo características de um local de descarte,
relacionando-se de outra maneira com a população frequente do parque.
BIBLIOGRAFIA
ABCERAM – Associação Brasileira de Cerâmica. Disponível em:
<http://www.abceram.org.br/site/?area=2&submenu=20>. Acesso em 02.jun.2013
AMBROGI, Renato. Relatórios Históricos do Ipiranga. Rumo Gráfica Editora.São
Paulo.1982.
ANFACER – Associação nacional dos fabricantes de cerâmica para revestimentos,
louças sanitárias e congêneres. Disponível em
<http://www.anfacer.org.br/site/default.aspx?idConteudo=157&n=Hist%C3%B3ria-da-
Cer%C3%A2mica>. Acesso em 02.jun.2013
Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material. São Paulo: Museu Paulista da
USP,1993
Cartas e Datas de Terras (1801-1820). Public. Oficial do Arquivo Municipal. São
Paulo.s/d.
A Casa do Administrador: Parque Jardim da Luz. Secretaria Municipal do Verde e
Meio Ambiente. Edição comemorativa. 2007
CISPER. Disponível em: <http://www.cisper.com.br/pt-BR/WEB/Empresa.aspx>.
Acesso em 01.jun.2013
DIAFÉRIA, Lourenço et al. (2001) Um século de Luz. São Paulo: Scipione (Coleção
Mosaico: ensaios & documentos)
DIMENSTEIN, Gilberto.SOUZA, Okky de. São Paulo 450 Anos Luz. Ed. de Cultura.
São Paulo. 2003
Documentos Interessantes para a História e Costumes de São Paulo. Publicação
Oficial do Departamento do Arquivo do Estado de São Paulo.
GARCIA, Luana. Parque da Luz em SP, será monitorado por circuito interno de
TV.2005. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fol/geral/ult26052000234.htm.>
Acesso em 07 jan. 2013.
HISTÓRIA DA PORCELANA. Disponível em: <
http://www.porcelana21.com/historia3.php>. Acesso em 02.jun.2013
LEITE, Aureliano. História da civilização paulista. São Paulo. Livraria Martins Fontes,
1954.
MARTINS, Antonio Egydio. São Paulo Antigo. São Paulo. Secretaria de Esportes e
Turismo. S/D
NADIR. Disponível em < http://www.nadir.com.br/2010/empresa/a-nadir.aspx>. Acesso
em 01.jun.2013
PILLEGI, A. Cerâmica no Brasil e no mundo. Martins Editora. São Paulo. 1958.
PORCELANA: ALGUMAS CURIOSIDADES. Disponível em:
<http://www.porcelanabrasil.com.br/p-10.htm>. Acesso em 02.jun.2013
PORCELANA 21 – MARIA AUGUSTA REBOUÇAS. Disponível em
<http://www.porcelana21.com/historiaporcelana.php>. Acesso em 04.jun.2013
PROSPERO, F. Achados em vidro no sítio arqueológico São Francisco (SSF-01), São
Sebastião-SP: levantamento e identificação dos vestígios entre os anos de 1992 e
1995. 2009. 89p. Monografia (Especialização em Arqueologia, História e Sociedade).
Universidade de Santo Amaro.
Registro de Livros de Cartas e Datas. Departamento de Cultura da Prefeitura de São
Paulo, 1937
Registro Geral da Câmara Municipal de São Paulo.São Paulo. Arquivo
Municipal/Departamento de Cultura,1917/1946.
RESENDE, Mauricio R. O Jardim da Luz e os Desdobramentos da Urbanização
Paulista. Osasco.2010. Centro Universitário UNIFIEO
SANDRONI, Cícero.O Vidro no Brasil. Metavídeo Prod. Ltda./ CISPER.1989
SANTA MARINA. Disponível em <http://www.santamarina.com.br/site/index.php/linha-
do-tempo>. Acesso em 01.jun.2013
SANTANA, Nuto. São Paulo Histórico I e II. Departamento de Cultura de São
Paulo.São Paulo. 1937.
SYMANSKI, Luís Cláudio Pereira. Louças e auto-expressão em regiões centrais,
adjacentes e periféricas do Brasil. In: Arqueologia da Sociedade Moderna na América
do Sul: Cultura Material, Discursos e Práticas. Ed. By Andrés Zarankin e Maria Ximena
Senatore. Buenos Aires, ediciones del Tridente, 2002. pp. 31-62
TOLEDO, Roberto Pompeu de. A Capital da Solidão: Uma Historia de São Paulo das
Origens a 1900. Rio de Janeiro: Objetiva, 2003
TORRES, Maria Celestina Teixeira Mendes. O Jardim da Luz. Prefeitura do Município
de São Paulo.S/E. 1967
O VIDRO. Disponível em: <http://www.usp.br/fau/deptecnologia/docs/bancovidros/hi stvidro.htm>. Acesso em: 31 maio. 2013.
ZANETTINI, Paulo Eduardo. Pequeno Roteiro para Classificação de Louças Obtidas
em Pesquisas Arqueológicas de Sítios Históricos. Revista do CEPA, Curitiba:UFPR.
1986.
ZANETTINI, P.E.; BAVA DE CAMARGO, P.F.Cacos e mais cacos de vidro; o que
fazer com eles? (parte 1), São Paulo: Zanettini Arqueologia, 1999.