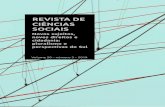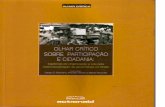Manipulação digital na fotografia publicitária: criatividade e ética
A VOZ DA CÂMARA: FOTOGRAFIA, INTERVENÇÃO, CIDADANIA
Transcript of A VOZ DA CÂMARA: FOTOGRAFIA, INTERVENÇÃO, CIDADANIA
CIDADANIA,PAISAGEM URBANA E JARDIM PÚBLICO
CITIZENSHIP, URBAN L ANDSCAPE AND PUBLIC GARDENS
F I L O M E N A S E R R A(organização/editor)
2014F A C U L D A D E D E C I Ê N C I A S S O C I A I S E H U M A N A S F A C U L T Y O F S O C I A L A N D H U M A N S C I E N C E S
U N I V E R S I D A D E N O V A D E L I S B O A N E W U N I V E R S I T Y O F L I S B O N
global ‑art ‑scapes(series)
1
ArtScapes 1 AF.indd 1 25/11/14 13:43
As contribuições reunidas nesta obra resultaram de
um Workshop intitulado Cidadania, Paisagem Urbana
e Jardim Público organizado por Ana Rodrigues e
Filomena Serra, em 13 de Maio de 2013, no âmbito do
curso da Pós ‑Graduação Jardins e Paisagem.
Os textos não serão traduzidos em inglês;
só os títulos e a apresentação.
The papers collected in this volume are the result
of the workshop on Citizenship, Urban Landscape
and Public Gardens, organized by Ana Rodrigues
and Filomena Serra, on May 13, 2013, during the
Postgraduate Course on Gardens and Landscape.
However the papers will not be translated into
English; only the titles and the Introduction.
Organização e coordenação:
Filomena Serra
Investigadora e membro integrado
do Instituto de História da Arte,
IHA‑FCSH‑UNL
Conselho editorial e científico:
Margarida Acciaiuoli, Ana Duarte Rodrigues, Filomena Serra
Título da Série: Global Art Scapes
Título da Publicação: Cidadania, Paisagem Urbana e Jardim Público
Avenida de Berna, 26‑C / 1069‑061 Lisboa
+351 21 790 83 00; Fax: +351 21 790 83 08
Capa, grafismo e paginação: Pedro Serpa
Imagem da p.7: Andy Goldsworthy
Impressão e acabamento: Tipografia Várzea da Rainha Editores, S.A.
www.varzeadarainha.pt
ISBN: 978‑989‑20‑5115‑4
Depósito legal: 384331/14
ArtScapes 1 AF.indd 2 25/11/14 13:43
ÍNDICE TABLE
Introdução Introduction
Margarida Acciaiuoli / Filomena Serra
Autores Authors
Cidade, cidadania & espaços públicos The City, citizenship & public spaces
Manuel Villaverde Cabral
Paradoxos e dilemas da governação das cidades europeias. O caso de Lisboa Paradoxes and dilemas of European cities. The case of Lisbon
João Seixas
Entrevista Interview
Filomena Serra
A voz da câmara: fotografia, intervenção, cidadania The voice of the camera: photography, intervention, citizenship
Paulo Baptista
O paradoxo da cidade moderna: demolição «criadora» e conservação «renovadora» nos jardins públicos eborenses
The paradox of the modern city: «creative» demolition and renovating conservation in Évora’s public gardens
Paulo Simões Rodrigues
Pequenos Jardins Urbanos — o paraíso ali à esquina Small urban gardens — the Paradise at the sreet corner
Júlio Moreira
A construção do jardim do cidadão: do Passeio Público ao Passeio na Estrela Building the citizen’s garden: from the “Passeio Público” to the Estrela Garden
Ana Duarte Rodrigues
4
5
9
15
19
25
35
41
ArtScapes 1 AF.indd 3 25/11/14 13:43
GLOBAL-ART-SCAPES
1
19
Diariamente temos oportunidade de testemunhar o
papel cada vez mais determinante que a fotografia
tem assumido relativamente à forma como olhamos a
sociedade. Com efeito, podemos considerar que a foto‑
grafia representa uma das mais importantes, senão a
mais importante, forma de mediação visual entre os
cidadãos e a sociedade que nos rodeia. Com a enorme
facilidade de difusão da informação e, nas últimas
décadas, da informação visual contida nas fotografias,
as circunstâncias de interacção social vieram a assumir
um impacto global, contribuindo para que os impulsos
para a participação dos cidadãos nos fóruns de inter‑
venção política e social sejam constantes, propicia‑
dos pelas múltiplas vias alternativas de circulação da
informação visual, que há muito suplantaram os media
tradicionais nesse campo. Nos nossos dias somos colo‑
cados perante o verdadeiro paradoxo que resulta da
circunstância de assistirmos a uma palpável restrição
dos nossos direitos de cidadania ao mesmo tempo que
a consciência individual e a capacidade de intervenção
global têm aumentado significativamente.
Enquanto preparo esta intervenção (Abril de 2013)
recebo no Facebook um post relatando o resgate de
mais uma sobrevivente da recente tragédia no Ban‑
gladesh. A mulher foi retirada dos escombros, 17 dias
depois de a fábrica de têxteis em que trabalhava ter
colapsado, fruto das deficiências de construção do edi‑
fício e da pesada carga de maquinaria e operários que
a precária estrutura suportava. O impacto e as con‑
sequências políticas imediatas dessa tragédia foram
consideravelmente potenciadas pela divulgação que
as imagens trágicas e chocantes tiveram, através do
Facebook onde primeiramente circulou a fotografia
de Taslima Akhter (1974 ‑). O impacto dessa imagem,
que representa o abraço de duas das vítimas mortais
daquela tragédia, foi tal que acabou por chegar às pági‑
nas da revista Time que a chegou a considerar um ver‑
dadeiro epítome da tragédia, a dor de toda uma nação
expressa numa só imagem.
Em termos político ‑económico ‑sociais estão em
causa as práticas laborais de países como o Bangla‑
desh, o segundo exportador mundial de vestuário,
comercializado por marcas transnacionais como a bri‑
tânica Primark ou as espanholas Zara, Berska e Mango,
entre outras, com visibilidade global e presença per‑
manente nos espaços comerciais de todo o mundo.
Essas práticas, caracterizadas por custos de produção
extremamente baixos, provocaram a deslocalização da
produção têxtil de regiões como o Vale do Ave em Por‑
tugal para o Extremo Oriente. Das mais de quatro mil
e quinhentas fábricas têxteis a funcionar no Bangla‑
desh, a maioria está situada em edifícios de construção
precária ou inapropriada, como sucedeu no caso do
desastre a que aludimos. Pelas razões apontadas, em
muitos casos essas circunstâncias dizem ‑nos muito
mais respeito do que à primeira vista possa parecer.
A circulação de imagens pelas redes sociais tem
contribuído para catalisar as consciências, aglutiná‑
‑las e potenciar as acções de cidadania. O encer‑
ramento de muitas das fábricas do Bangladesh e o
propósito político colectivo de denunciar e alterar as
condições laborais existentes, foram os efeitos ime‑
diatos da referida catástrofe e da campanha activista
global que se lhe seguiu. O futuro nos dirá das conse‑
quências desse processo.
Em Regarding the pain of others Susan Sontag
chama a nossa atenção para a importância que repre‑
sentara já a menção de Virginia Woolf à repulsa que a
guerra lhe suscitava e ao impulso que a escritora sentiu
de defender a República Espanhola que se encontrava
sob o fogo das forças fascistas. Segundo o seu teste‑
munho, Woolf sentiu esse impulso ao observar um
A VOZ DA CÂMARA: FOTOGRAFIA, INTERVENÇÃO, CIDADANIA
paulo baptista
ArtScapes 1 AF.indd 19 25/11/14 13:43
Fig 1
Fig 1
20
GLOBAL-ART-SCAPES
1
maço de fotografias que recebeu de Espanha revelando
atrocidades sobre civis. Esse pacote de fotografias
teve a capacidade de despertar a sua consciência. No
entanto é significativo que um conjunto de fotografias,
entregue pessoalmente, independentemente do seu
impacto potencial, apenas possa sensibilizar as pes‑
soas que as observam. Efectivamente, o impacto do
poder probatório da fotografia dependeu sempre das
contingências da sua circulação.
A circulação de fotografias, durante o século XX,
foi quase exclusivamente assegurada pela imprensa
ilustrada. Nessa medida, a tentativa de traçar uma
fronteira entre a dimensão noticiosa e a dimensão
puramente cívica da fotografia é extremamente
complexa. Dificilmente se consegue estabelecer com
rigor o estatuto de certas imagens: se documentam,
se denunciam, se testemunham, ou até se assumem
várias dessas funções simultaneamente. Uma pos‑
sível resposta a esse dilema poderá ser encontrada
na diversidade de modos de ver e é também isso que
podemos aprender no gesto de Virginia Woolf. O esta‑
tuto e o papel que as imagens podem assumir está
inteiramente dependente das circunstâncias da sua
produção, da sua circulação e do seu «consumo». Com
efeito, nos nossos dias o empoderamento da fotografia
resulta, em grande medida, da sua disseminação que é
feita pelos mais diversificados canais disponíveis, pela
web e pelas redes sociais, pela imprensa, por meios
audiovisuais, pela televisão…
A DIMENSÃO SOCIAL DA FOTOGRAFIA
A dificuldade de delimitar a fronteira entre a função
puramente noticiosa da fotografia e o seu papel de
rebate de consciências leva ‑nos a traçar um percurso
desde os primeiros estudos de Lewis Wickes Hine
(1874 ‑1940), um sociólogo e fotógrafo americano que,
no início do século XX, terá sido um dos primeiros a
utilizar a fotografia como uma ferramenta fundamen‑
tal nos seus estudos sobre trabalho infantil que vieram
a ter uma significativa influência na legislação ameri‑
cana de reforma social produzida nesse domínio.
Lewis W. Hine seguiu uma carreira académica
cursando sociologia nas universidades de Chicago,
Columbia e Nova Iorque, onde veio a dar aulas, na
famosa Ethical Culture Fieldson School. Encorajava os
seus alunos a utilizarem a fotografia como ferramenta
pedagógica e as suas classes faziam trabalho de campo
na Ilha de Ellis e no porto de Nova Iorque, fotografando
os milhares de emigrantes que diariamente chegavam
àquele país. Entre 1904 e 1909, Lewis W. Hine e os
seus alunos recolheram cerca de duzentas fotografias
que integraram um documentário fotográfico, com o
intuito de ser utilizado como ferramenta de mudança
e reforma social.
O trabalho pioneiro de Lewis W. Hine com os seus
alunos despertou o interesse de uma das mais presti‑
giadas instituições americanas no campo da sociolo‑
gia, a Fundação Russel Sage. Foi para essa fundação
que, entre 1906 e 1907 Lewis W. Hine levou a cabo
um trabalho de campo que recorria extensamente à
fotografia, com o objectivo de estudar os hábitos e o
trabalho das comunidades siderúrgicas de Pittsburgh,
Pennsylvania. Nessa medida, colaborou no importante
estudo sociológico que ficou conhecido como Pitts-
burgh Survey, o primeiro levantamento sistemático
das condições da classe operária numa grande cidade
americana. As conclusões desse estudo inspiraram
a adopção de reformas laborais que aboliram, para o
operariado siderúrgico, a semana de sete dias e as doze
horas diárias de trabalho.
O reconhecimento da importante contribuição de
Lewis Hine para o Pittsburgh Survey veio logo em 1908,
com o convite que lhe foi endereçado para integrar a
equipa do National Child Labor Committee (NCLC).
Abandonou então a academia e passou a dedicar ‑se
inteiramente ao trabalho de campo. Durante a década
de 1910, Hine estudou e fotografou o trabalho infantil
para a referida agência governamental, em particular
na região americana da Carolina. Esses trabalhos vie‑
ram a ter um papel de destaque como apoio aos esforços
que o NCLC desenvolveu junto dos decisores políticos
para que, no âmbito do Movimento da Reforma Pro‑
gressista, fosse aprovada legislação para acabar com as
práticas da exploração do trabalho infantil.
Os trabalhos fotográficos pioneiros de Lewis W.
Hine deram frutos logo nos anos subsequentes, em
particular no conjunto de grandes levantamentos foto‑
gráficos levados a cabo durante o período da Grande
Depressão americana, promovidos pela agência esta‑
tal FSA (Farm Security Administration). Os fotógrafos
que colaboraram com o FSA lançaram as bases do que
viria a ser o documentário fotográfico moderno, foto‑
grafando extensivamente as precárias condições de
vida das populações mais pobres dos Estados Unidos
da América, em particular nas zonas rurais assoladas
pela fome.
Os levantamentos fotográficos patrocinados pela
FSA, que anteriormente se designara Resettlement
Administration (RA), fundaram ‑se numa matriz dife‑
rente do âmbito sociológico que havia norteado os já
citados Pittsburgh Survey e NCLC. No caso da FSA, na
base dos levantamentos patrocinados por esse orga‑
nismo estava a intenção de documentar a actividade
do próprio instituto. Contudo essas fotografias foram
utilizadas amiúde como material publicitário da FSA
e, em última instância, do próprio governo dos E.U.A e
da sua política designada por New Deal. Não devemos
esquecer o facto de muitos dos regimes autoritários
ArtScapes 1 AF.indd 20 25/11/14 13:43
Fig 3
Fig 2
GLOBAL-ART-SCAPES
1
21
europeus coevos disporem de organismos estatais de
propaganda, que faziam um uso exaustivo da fotogra‑
fia e do cinema, em particular a União Soviética.
Efectivamente, o trabalho fotográfico para a FSA
realizado por uma plêiade de notáveis fotógrafos,
como Arthur Rothsein (1915 ‑1985), Russell Lee (1903‑
‑1986), Walker Evans (1903 ‑1975) ou Dorothea Lange
(1895 ‑1965) veio a constituir um modelo efectivo para
o ensaio fotográfico contemporâneo. Muita da res‑
ponsabilidade por esse facto se deveu a Roy Stryke
(1893 ‑1975), o supervisor da FSA para a actividade
fotográfica que exemplarmente soube articular os
levantamentos fotográficos desses colaboradores com
as agendas das revistas ilustradas americanas que
publicaram muitas dessas séries nas suas páginas, em
particular a revista Life (Marien 2010: 280 ‑288). Sendo
constituída por fotógrafos com formações e inten‑
ções muito diversas, a «equipa» da FSA foi capaz de
retratar, de uma forma sistemática mas sensível, uma
América profunda e excluída, muito embora lhes tenha
escapado a dimensão de apelo, pelas circunstâncias
particulares da produção e circulação dessas fotogra‑
fias. Esses trabalhos fotográficos estiveram na base
da moderna fotorreportagem e do ensaio fotográfico
que viriam a ter um significativo desenvolvimento no
decurso da Segunda Guerra Mundial.
A FOTOGRAFIA E A INTERVENÇÃO POLÍTICA
Porventura terá sido nos EUA, durante a segunda
metade da década de 1950 e a de 1960, que o impacto
da fotografia veiculada pelos meios de comunicação
social na mobilização de causas políticas e sociais se
tornou mais evidente. Com efeito, a reivindicação de
direitos civis para os negros americanos agudizou ‑se
no pós ‑guerra. Um sentimento colectivo de profunda
injustiça reforçou as instituições que tradicional‑
mente lutavam pelos direitos dos afro ‑americanos
contra a segregação racial. O período mais activo dos
movimentos de defesa dos direitos civis caracteri zou‑
‑se por um conjunto de manifestações não ‑violentas
que ocorreram sobretudo no sul dos E.U.A., onde a dis‑
criminação contra os afro ‑americanos ainda se fazia
sentir de forma institucionalizada. Nessas regiões,
as comunidades descriminadas desenvolveram uma
série de actos de protesto não violento e de desobe‑
diência civil em defesa dos seus direitos. Assinalemos,
a título de exemplo, o boicote aos transportes públicos
em Montgomery, Alabama de 1955 e 1956.
A luta pelos direitos civis nos E.U.A. foi um dos
melhores exemplos da importância que a fotografia
pôde assumir na denúncia e na mobilização sociais.
Com efeito, um dos mais importantes catalisadores da
participação dos cidadãos afro ‑americanos nas lutas
pelos direitos civis foi a chocante publicação da foto‑
grafia do corpo de Emmett Till Goldberg (1991: 200‑
‑201), uma criança assassinada por razões raciais. O
choque desse crime despertou as consciências de mui‑
tos afro ‑americanos, mas o facto de essa fotografia só
ter sido publicada na imprensa afro ‑americana limitou
o seu impacto junto de toda a nação. Só mais tarde,
colocada perante as chocantes imagens dos abusos
policiais contra os manifestantes pacifistas que inte‑
graram as marchas pelos direitos civis1, merecendo
especial destaque nos magazines ilustrados de grande
tiragem, mesmo de primeira página, a sociedade ame‑
ricana tomou plena consciência da dimensão e gravi‑
dade dessas lutas, justificando o gesto do presidente
John F. Kennedy (1917 ‑1963) e do governo federal de
impor pela força o direito dos afro ‑americanos de fre‑
quentarem as instituições de ensino superior.
Coincidindo, em parte, com a luta pelos direitos
civis, a contestação dos americanos ao envolvimento
do país na Guerra do Vietname mereceu desde muito
cedo uma cobertura mediática nacional com que a luta
pelos direitos civis não tinha podido contar. Por isso
a mobilização de largas franjas da população contra
aquela intervenção bélica no estrangeiro pôde assu‑
mir, desde logo, ampla dimensão. Foram as extensas
coberturas fotográficas dos grandes magazines ilus‑
trados, sobretudo a partir do momento em que as
fotografias de longas filas de body bags ou de caixões
cobertos com a bandeira americana começaram a
pontuar as páginas ilustradas da imprensa que a con‑
testação à guerra se generalizou. No entanto, dessas
extensas reportagens fotográficas sobre a Guerra do
Vietname, algumas imagens assumiram dimensão
particular, como a de Eddie Adams (1933 ‑2004) teste‑
munhando o momento da execução à queima ‑roupa de
um suspeito vietcong pelo general Nguyen Ngoc Loan
em 1968 (prémio Pullitzer para fotografia de reporta‑
gem em 1969) e a de Nick Ut (1951 ‑), conhecida como
«a rapariga do Napalm» que mostra uma rapariga nua
a gritar, queimada, correndo com um grupo de crian‑
ças a fugirem de um bombardeamento de Napalm em
1972 (Prémio Pullitzer para fotografia de reportagem
em 1973). Ao percorrerem todo o mundo, essas duas
imagens tiveram, como refere Vicky Goldberg, a capa‑
cidade de catalisar a opinião pública mundial contra
aquele conflito bélico (Goldberg 1991: 226). Porventura
foram essas imagens possíveis rastilhos dos processos
que, em última instância, acabaram por conduzir à
resignação, logo em 1974, do presidente Richard Nixon
(1913 ‑1994). Deve assinalar ‑se que aquele presidente
americano duvidava da veracidade da fotografia de
Nick Ut, como atesta uma conversa com o seu chefe
de gabinete Harry R. Haldeman gravada no sistema
interno da Casa Branca. Foi esse sistema de gravação
que permitiu, mais tarde, confirmar o envolvimento do
ArtScapes 1 AF.indd 21 25/11/14 13:43
Fig 4
22
GLOBAL-ART-SCAPES
1
presidente no escândalo Watergate, de que o referido
Haldeman foi um dos principais responsáveis.
O CONTRATO CIVIL DA FOTOGRAFIA
Mas afinal, desde o advento da fotografia, que formas
tem vindo a assumir a sua contribuição para cida‑
dania? Cientes da complexidade dos conceitos que a
fotografia, enquanto dispositivo de representação,
vem suscitar devemos, no entanto, relembrar que
muito embora a fotografia tenha quase sempre sido
encarada como agrilhoada ao fardo da representação
da realidade, supondo ‑se geralmente como o mais
rigorosa possível (Tagg 1988: 1 ‑33). Contudo, essa ideia
preconcebida está muito longe de corresponder à rea‑
lidade. No dispositivo fotográfico, as várias instâncias
que se estendem do registo à visualização da imagem
pressupõem um amplo número de decisões e ligações
tomadas e estabelecidas pelos operadores envolvidos
em todo o processo. Efectivamente, interessa ‑nos
agora rever apenas a discussão acerca das relações
que se estabelecem entre o sujeito da representação
e o fotógrafo. Afinal a complexa resolução dessa ques‑
tão situa ‑se na teia das relações do poder sobre a ima‑
gem, estabelecidas entre fotografado e fotógrafo no
momento da produção de uma representação fotográ‑
fica. A dificuldade de definir e delimitar os contornos
dessa teia de relações foi abordada pela investigadora
Ariella Azoulay na sua obra The civil contract of photo-
graphy (Azoulay 2008: 105 ‑106).
Reflectindo sobre as relações entre fotografados e
fotógrafos, Ariella Azoulay parte de situações de uma
violência limite de natureza política e social para con‑
seguir definir, de uma forma mais clara, a natureza
das relações estabelecidas. Na situação clássica do
retrato fotográfico, a câmara medeia o encontro entre
o fotógrafo e o fotografado, sendo produzida uma ima‑
gem. Na institucionalização legal deste encontro, ao
indivíduo fotografado não é reconhecida a posse de
direitos de imagem enquanto o fotógrafo que produz
a imagem fica detentor dos respectivos direitos legais.
No entanto, a apropriação dos direitos da pessoa foto‑
grafada pelo fotógrafo pressupõe sempre um certo
grau de violência, embora tacitamente admitida desde
os primórdios da actividade fotográfica. Essa ordem
de relações manteve ‑se praticamente inalterada até
aos nossos dias. O pacto ou acordo tácito que regula
os direitos entre fotógrafo e fotografado torna possí‑
vel o encontro fotográfico e, desse encontro, resulta
a fotografia. Importa contudo notar que nesse acordo
fotográfico não estava contemplado, até há bem pouco
tempo, o consentimento informado e de forma alguma
esse pacto se baseava no conhecimento das condições
de intercâmbio de direitos ou na possibilidade de dis‑
cordância relativamente a essas condições.
Efectivamente, algumas propostas da académica
Ariella Azoulay que rodeiam o conceito que aquela
pensadora designou como «contrato civil da fotogra‑
fia» podem servir de base de reflexão acerca da forma
como se cruzam fotografia e cidadania. O que o acordo
tácito em fotografia ou no retrato fotográfico estabe‑
lece é que ambas as partes possam reconfirmar o equi‑
líbrio de poder que se estabelece entre elas sem haver
uso manifesto da força. Ou seja, quando a câmara
dá início a um encontro entre fotografado e fotó‑
grafo, cada qual deve ser responsável pela sua parte
do acordo tácito e saber o que é esperado de si nesse
encontro, o que dispensa a formalização dos termos e
a sua redação. Daí que se possa considerar que, mesmo
de forma tácita, se instituiu um contrato civil (Azoulay
2008: 110 ‑112).
O conceito de «contrato civil da fotografia», que
Ariella Azoulay tem abordado nos seus filmes e nos
seus ensaios, decorre da reflexão sobre situações
limite em que existe uma ténue fronteira entre cida‑
dania e exclusão, a dos territórios palestinianos ocu‑
pados por Israel. Aí vivem cidadãos de pleno direito,
os israelitas, mas também outros, os palestinianos,
que se encontram numa espécie de negação dos seus
direitos de cidadania. O poder é altamente discricio‑
nário relativamente aos direitos que podem ser con‑
cedidos. E essa concessão é totalmente arbitrária.
Num controle de fronteira, um militar israelita está
investido de um poder discricionário de decidir se uma
determinada palestiniana pode passar para fazer uma
ecografia imprescindível ao acompanhamento da sua
gravidez. É um jogo absurdo em que justo e injusto são
objecto de negociação e a que Jean ‑François Lyotard,
em conversa com Jean ‑Loup Thébaud, denominou
como «pragmática da obrigação» (Roman 2000: 172).
A fotografia acaba por assumir uma dimensão civil que
desafia essa pragmática visto que pressupõe aquilo a
que Azoulay chamou «contrato civil da fotografia» que
escapa à regulação da autoridade.
Um dos exemplos apresentados por Azoulay tem
a capacidade de cruzar transversalmente várias das
questões inerentes ao referido «contrato civil da foto‑
grafia». Em 1988 o fotógrafo Miki Kratsman (1959 ‑),
do jornal Hadashot foi enviado ao campo de refugia‑
dos de Balata, na margem ocidental do rio Jordão, em
conjunto com o repórter Zvi Gilat e a tradutora Amira
Hassan. Nesse campo foram interpelados por uma
mulher palestiniana, a Srª Abu ‑Zohir, que pediu para
lhe serem fotografadas as pernas, porque tinham sido
atingidas com balas de borracha disparadas por sol‑
dados israelitas. O fotógrafo procurou descartar ‑se do
pedido da mulher palestiniana, sabendo de antemão
que a redação do jornal preferiria imagens bem mais
chocantes do que as de ferimentos de balas de bor‑
ArtScapes 1 AF.indd 22 25/11/14 13:43
GLOBAL-ART-SCAPES
1
23
racha. No entanto a mulher foi insistente agindo de
forma singular, como se fosse seu direito pedir para ser
fotografada e fosse dever de todos testemunharem o
abuso de que fora vítima, um dever que não é fundado
na lei, no estado (até porque ela, como palestiniana,
não é considerada cidadã em Israel), ou na soberania,
o seu direito à fotografia funda ‑se no contrato civil da
fotografia. Ela procurou ser reconhecida como uma
das governadas através da (e com a) fotografia.
Mas perante o pedido do fotógrafo para observar
os ferimentos ela recusou, não exporia as suas pernas
em público. A sua participação no contrato civil da foto-
grafia, neste caso, é um acordo de se deixar fotografar,
mas não ver, pelo fotógrafo. Troca ‑se então o seguinte
diálogo:
O fotógrafo: Mostre ‑me as suas pernas.
A Srª Abu Zohir: Eu não lhe mostro as minhas per‑
nas. Não vai ver as minhas pernas.
O fotógrafo para a tradutora: Explique ‑lhe que esta
foto vai aparecer nos jornais e todo o mundo vai
ver as pernas dela.
A Srª Abu Zohir: Uma foto é uma foto. Não quero
saber se a foto é vista, mas você não vai estar nesta
sala quando eu mostrar as minhas pernas.
Então o fotógrafo preparou a máquina, enqua‑
drou as saias da Srª Abu Zohir, deixa a câmara nas
mãos da tradutora e retira ‑se da sala. A tradutora
dispara um rolo inteiro de que resulta esta imagem.
A mulhar palestiniana enrola os collants para
baixo e levanta a saia mostrando os ferimentos,
não fita o fotógrafo ausente, fita a câmara, o espec‑
tador, como se dissesse: Sou a Srª Abu Zohir, estou
a mostrar ‑vos as minhas feridas, seguro a minha
saia como uma cortina levantada para que vejam
as minhas feridas.
A aceitação universal do contrato civil da fotografia
baseia ‑se no facto de essa actividade se reger generica‑
mente por um certo conjunto de princípios, a generali‑
dade, a acessibilidade, a publicidade, a transparência, a
neutralidade e a imparcialidade. Isso não significa que
esses princípios não sejam amiúde violados em várias
circunstâncias, sujeitos a restrições e condicionalis‑
mos dos mais diversos tipos. Por outro lado, actual‑
mente, o contrato civil da fotografia desvia cada vez
mais o enfoque da relação entre fotógrafo e fotografado
para se virar para a ética do espectador. O espectador
da fotografia tem vindo gradualmente a abandonar a
atitude meramente passiva para assumir a interven‑
ção, tornando ‑se num actor do próprio contrato civil
da fotografia. Um dos aspectos mais evidentes dessa
capacidade de cidadania é assumida através das novas
formas de circulação da fotografia, em particular atra‑
vés das redes sociais. Trata ‑se afinal do acordo explícito
para ser fotografado, do «contrato civil da fotografia».
Relembremos, por exemplo, um famoso e polémico sel-
fie com Barak Obama no funeral de Nelson Mandela e
da circulação global dessa imagem.
Regressamos, por fim, àquela imagem com que
iniciámos este percurso, a fotografia das duas víti‑
mas abraçadas no desmoronamento de uma fábrica
no Bangladesh, a sua autora, Taslima Akhter (1974 ‑),
testemunhou sobre o que sentiu ao registar aquela
imagem:
I have been asked many questions about the photo‑
graph of the couple embracing in the aftermath of
the collapse. I have tried desperately, but have yet
to find any clues about them. I don’t know who they
are or what their relationship is with each other.
I spent the entire day the building collapsed on
the scene, watching as injured garment workers
were being rescued from the rubble. I remember
the frightened eyes of relatives — I was exhausted
both mentally and physically. Around 2 a.m., I
found a couple embracing each other in the rubble.
The lower parts of their bodies were buried under
the concrete. The blood from the eyes of the man
ran like a tear. When I saw the couple, I couldn’t
believe it. I felt like I knew them — they felt very
close to me. I looked at who they were in their last
moments as they stood together and tried to save
each other — to save their beloved lives.
Every time I look back to this photo, I feel
uncomfortable — it haunts me. It’s as if they are
saying to me, we are not a number — not only
cheap labor and cheap lives. We are human beings
like you. Our life is precious like yours, and our
dreams are precious too.
They are witnesses in this cruel history of
workers being killed. The death toll is now more
than 750. What a harsh situation we are in, where
human beings are treated only as numbers.
This photo is haunting me all the time. If the
people responsible don’t receive the highest level
of punishment, we will see this type of tragedy
again. There will be no relief from these horrific
feelings. I’ve felt a tremendous pressure and pain
over the past two weeks surrounded by dead bod‑
ies. As a witness to this cruelty, I feel the urge to
share this pain with everyone. That’s why I want
this photo to be seen.
Com efeito, o tremendo poder dessa horrível visão, que
a própria fotógrafa confessa assombrá ‑la, assume ‑se
como poderoso instrumento de catálise da consciên‑
cia dos cidadãos, ampliado pelo suporte que as redes
sociais asseguram e cujo poder, actualmente, quase se
ArtScapes 1 AF.indd 23 25/11/14 13:43
Fig 5
24
GLOBAL-ART-SCAPES
1
sobrepõe ao dos media tradicionais. Será, porventura,
essa uma das mais importante diferenças em termos
de cidadania que nos separam, afinal, do tempo de Vir‑
gínia Woolf, a circulação e a mediatização da fotogra‑
fia, que podemos considerar globalização, permite que
o despertar ou o catalisar das consciências seja hoje
um fenómeno colectivo, ao contrário de 1930, quando
essa circunstância era individual, como sucedeu com
Virgínia Woolf.
N O TAS1. Essas imagens foram o mote da obra Race riot (1964) de
Andy Wahrol (1928 ‑1987).
BIBLIOGRAFIA
AZOULAY, Ariella (2008), The Civil Contract of Photog-
raphy, Nova Iorque: Zone Books.
BATCHEN, Geoffrey et. alt. (2012), Picturing Atrocity:
Photography in Crisis, Londres: Reaktion Books,
2012.
CARLEBACH, Michael L. (1988), «Documentary and
Propaganda: The Photographs of the Farm Secu‑
rity Administration» in The Journal of Decorative
and Propaganda Arts, Vol. 8 (Spring), pp. 6 ‑25.
DIMOCK, George (1993), «Children of the Mills:
Re ‑Reading Lewis Hine’s Child— Labour Photo‑
graphs» in Oxford Art Journal, Vol. 16, Nº. 2, pp.
37 ‑54.
GOLDBERG, Vicki (1991), The Power of Photography:
How Photographs Changed Our Lives, Nova Iorque:
Abbeville.
MARIEN, Mary Warner (2010), Photography: A Cultural
History (3ª edição), Londres: Lawrence King Pub‑
lishing Ltd.
ROMAN, Joël (2000), Chronique des idées contempo-
raines, Paris: Breal.
SONTAG, Susan (2004), Regarding the Pain of Others,
London: Penguin Books.
ArtScapes 1 AF.indd 24 25/11/14 13:43
Fig 2Fig 2
Fig 2Fig 2
Fig 3
Fig 2
Fig 4
Fig 5