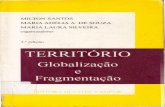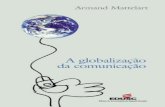Globalização e Cidadania Política FDSM
Transcript of Globalização e Cidadania Política FDSM
Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, 28: 227-250, jan./jun. 2009
GLOBALIZAÇÃO E CIDADANIA POLÍTICA
GLOBALIZATION AND POLITICAL CITIZENSHIP
Maria Fernanda Salcedo Repolês*
RESUMO
O objetivo deste artigo é fazer uma refl exão sobre a efetividade do Estado
Democrático de Direito, a partir da necessidade de afi rmação da cidadania
política e da complexidade dessa tarefa face ao fenômeno da globalização. Da
perspectiva histórico-teorética, evidenciamos diversos momentos de ruptura
no conceito de democracia, a sua divisão em democracia representativa e
participativa, fruto dessas sucessivas rupturas. É precisamente na Modernida-
de que surgem e se correlacionam os conceitos de cidadania, subjetividade e
emancipação. Apresentaremos, neste texto, uma crítica ao projeto da Moder-
nidade cunhado a partir dessa correlação, principalmente referente ao neces-
sário equilíbrio entre regulação e emancipação, e fi nalmente discutiremos
sobre os refl exos na construção do conceito de cidadania face à globalização.
Palavras-chave: Globalização; Cidadania política; Democracia representa-
tiva; Democracia participativa; Subjetividade; Emancipação.
ABSTRACT
The aim of this article is to bethink the effectiveness of the Democratic Rule
of Law, from the stand point of the affi rmation of political citizenship in
the light of the globalization phenomenon. From the historical-theoretical
perspective, the concept of democracy is explained through several moments
of breakage, one of which is the separation between representative and
participative democracy. In Modern Age the concepts of citizenship, sub-
jectivity and emancipation arise and create a link with one another. In this
text, we explain the criticism of the Modernity project which takes as a
starting point this co-relation, specially the one that refers to the necessary
equilibrium between regulation and emancipation. Finally, we discuss the
refl exes of globalization in the concept of citizenship.
Keywords: Globalization; Political citizenship; Representative democracy;
Participative democracy; Subjectivity; Emancipation.
* Professora Adjunta da Faculdade de Direito da UFMG, Mestre em Filosofi a Política (FAFICH-UFMG) e Doutora em Direito Constitucional (FD-UFMG).
12_Globalização e cidadania polí227 22712_Globalização e cidadania polí227 227 4/8/2009 09:53:274/8/2009 09:53:27
Maria Fernanda Salcedo Repolês
228
Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, 28: 227-250, jan./jun. 2009
1. INTRODUÇÃO
Boaventura de Sousa Santos apresenta em Gramática do Tempo um conceito contemporâneo de democracia a partir da refl exão sobre a “visível falência” do paradigma da Modernidade. O autor se refere a uma falência no cumprimento da utopia desenhada na Modernidade ocidental e que não teria conseguido se efetivar – não apenas países do Sul, como na própria Europa – em virtude do concomi-tante estabelecimento de um modelo capitalista incapaz de promover a redistri-buição de bens materiais e imateriais essenciais à garantia da igualdade. Assim, o autor assevera que “a solidariedade está em crise há 20 ou 30 anos”. Desse modo, a crítica de Boaventura Santos não se refere aos princípios da Modernidade, mas, sobretudo, às difi culdades encontradas na efetivação dos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade mesmo em paises que consolidaram uma cultura políti-ca democrática.
Assim, Boaventura Santos traça uma diferenciação entre a democracia de baixa intensidade e a democracia de alta intensidade. A primeira, sobre a qual se dirige a sua crítica, padece de duas “patologias”. A patologia da representação po-lítica, na medida em que os cidadãos não se sentem mais representados pelos go-vernantes. E a segunda, a da participação, que constitui com a primeira, um círcu-lo vicioso: os cidadãos deixam de participar porque não sentem que isso poderá fazer a diferença, e por sua vez, a falta dessa participação empobrece o processo político de representação e da própria participação. A Gramática do Tempo propõe assim uma migração para o modelo de democracia de alta intensidade.
Alcançar essa forma de democracia exige a reconstrução de seu potencial redistributivo. E essa redistribuição de ‘bens’ não é entendida apenas num sentido material. Se por um lado, uma das condições para a efetivação da liberdade e da igualdade é o alimento e a chance de sobrevivência, por outro lado, a sociedade necessita de condições de obtenção de ‘bens’ imateriais, tais como informação e educação, de forma a poder opinar e participar qualifi cadamente, e não apenas de forma aparente. Assim como a fome ameaça a democracia, também a violência simbólica e efetiva. Nesse sentido, o capitalismo se coloca como um obstáculo na medida em que as crises sucessivas que o acometem minam as possibilidades de reversão da riqueza em políticas sociais. Estas acabam sendo políticas meramente compensatórias e perdem a sua capacidade emancipatória.
Por um lado, a crise econômica traduz todos os valores políticos, éticos e de cidadania em valores monetários; funde o valor de mercado e o valor político; reduz os problemas ao seu aspecto econômico e à lógica de troca de preços. Con-trariamente, a representação política está numa dimensão distinta da econômica. Os cidadãos querem se fazer representar para poder garantir a igualdade política. Mas ao mesmo tempo querem participar de forma a colocar à tona as diferenças, a ter a sua identidade reconhecida e respeitada. Essa dinâmica da democracia representativa
12_Globalização e cidadania polí228 22812_Globalização e cidadania polí228 228 4/8/2009 09:53:284/8/2009 09:53:28
Globalização e cidadania política
229
Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, 28: 227-250, jan./jun. 2009
e participativa, como co-originárias e correlativas, coloca-se numa dimensão do debate dos modelos culturais para além da questão econômica.
Frente a essa refl exão indagamos como é possível reconstruirmos o caminho da cidadania política de maneira a apresentá-la em toda a sua complexidade como uma questão cultural e não apenas econômica? Propomos iniciar esse debate por uma reconstrução das bases do conceito de democracia na antiguidade e na mo-dernidade para, num momento posterior, podermos retomar a crítica contempo-rânea e pensá-la à luz do fenômeno da globalização.
2. AS ORIGENS DA DEMOCRACIA NA GRÉCIA, BERÇO DA CIVILIZAÇÃO OCIDENTAL
Os poemas épicos gregos A Odisséia e A Ilíada, escritos por Homero mostram indícios da mentalidade do grego do século VIII a.C. sobre os princípios de apli-cação da Justiça. No confl ito entre os deuses, os heróis e as pessoas comuns do povo, a Justiça desponta como uma virtude aristocrática, exclusiva de reis e nobres, da qual o povo é mero destinatário. A sociedade é organizada conforme uma ordem universal divina, concretizada em normas, as themises.
Ainda no século VIII a.C., Hesíodo rompe com a cosmovisão grega. Em suas obras O trabalho e os dias e Teogonia a Justiça desloca-se para a mão dos homens, que se sentem responsáveis por suas ações. Ele não nega a ordem universal divina, mas problematiza-a na medida em que esta se apresenta para os seres humanos como um processo de aprendizado cotidiano. A fi gura tirânica de Zeus é reescrita por Hesíodo, como a de um rei que divide os seus poderes com outros deuses. Dessa nova ordem celestial nasce a deusa Diké, fi lha de Zeus e de Themis. Assim, a Justiça divina ainda rege o cosmo, mas ela só se concretiza na Justiça humana, que segue os preceitos divinos, tornando-os mais próximos do cotidiano e do sofrimento humanos.
Para além do mito e da poesia, entre 332 e 322 a.C., Aristóteles descreve em A Constituição de Atenas o processo de substituição das themises pelas nomoi, já no contexto da história dos regimes políticos da cidade de Atenas. Aristóteles observa que as themises são frequentemente corrompidas pelos governantes, em grande parte porque não são escritas, mas apenas repassadas oralmente de geração para geração. A transformação das themises em thésmoi, ou nomoi, permite que mais pessoas tenham acesso a elas de forma que os governantes não podem ela-borar interpretações aleatórias das normas divinas. E, sobretudo, as normas deixam de ser obra dos deuses para se transformarem em obras de legisladores humanos que por elas constituem os direitos e deveres para a consecução da felicidade do grupo. As nomoi constituem a polis como um espaço público em que a dominação dos governantes sobre os governados é substituída pela relação entre iguais, cida-dãos que tem um papel ético-político a desempenhar. Assim Aristóteles mostra o
12_Globalização e cidadania polí229 22912_Globalização e cidadania polí229 229 4/8/2009 09:53:284/8/2009 09:53:28
Maria Fernanda Salcedo Repolês
230
Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, 28: 227-250, jan./jun. 2009
processo de constituição da cidade grega, que é teorizada politicamente, refl etida fi losofi camente e analisada do ponto de vista de seu desenrolar histórico.
Até o século VI a.C. “houve paz durante muito tempo entre as classes supe-riores e o populacho. Não era apenas o governo que era oligárquico, mas em todos os seus aspectos, mas também, todas as pessoas humildes, homens, mulheres e crianças eram servas dos ricos.”1 As terras eram arrendadas e as dívidas eventual-mente geradas pela falta de pagamento dos arrendamentos, submetiam os arren-datários à escravidão.
Em defi nitiva, Atenas vive um período de servidão e o inicial clima de paz dá lugar a confl itos sociais cada vez mais intensos. No século VII a.C., o governo de Drácon, o da “antiga constituição”, é uma oligarquia na qual: “os magistrados eram eleitos entre as pessoas de alta sociedade e de opulenta. Embora o governo não fosse vitalício, estendia-se por períodos de dez anos.”2 Mais tarde, os cargos do governo tornam-se anuais. É constituído o Conselho do Areópago para proteção das leis e para administração da justiça da polis. Também esses cargos são ocupa-dos por pessoas das castas mais elevadas. O governo de Drácon concede privilégios à casta de militares, os principais cargos públicos são preenchidos por proprietários de terras. O governo estabelece leis severas necessárias à repressão de crescentes assassinatos e vinganças privadas e geradoras e instabilidade política.
Aristóteles explica ainda que: “Havia também um conselho formado de qua-trocentos e um membros, que eram eleitos por sorteio entre os privilegiados. Tanto para essa, como para as demais magistraturas, só podiam concorrer as pessoas com mais de trinta anos, não podendo ninguém ocupar o cargo duas vezes, antes que todos os demais o tivessem ocupado, quando então eram eleitos novamente por sorteio. Se algum dos membros deixava de assistir as reuniões do Conselho ou da Assembleia, era obrigado a pagar uma multa, de três dracmas.” (...) “Todo aquele que se considerasse ofendido apresentava sua reclamação pe-rante o Conselho do Areópago, declarando qual era a lei infringida pelo prejuízo que lhe tinha sido causado.”3
Apesar desse componente democrático, a situação do governo de Drácon fi ca insustentável face à situação social da maioria da população, que se torna escrava da minoria. Assim Aristóteles conclui que (...) “as massas se rebelaram contra as classes superiores. A discórdia era enorme e, durante muito tempo, ambos os partidos fi guraram em bandos hostis, até que fi nalmente, e com consentimento recíproco, Sólon foi nomeado como mediador e Arconte, sendo posta em suas mãos a constituição.”
1 ARISTÓTELES. A Constituição de Atenas. Tradução de A. S. Costa. São Paulo: Mandarino, 1990.2 ARISTÓTELES, 1990.3 ARISTÓTELES, 1990.
12_Globalização e cidadania polí230 23012_Globalização e cidadania polí230 230 4/8/2009 09:53:284/8/2009 09:53:28
Globalização e cidadania política
231
Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, 28: 227-250, jan./jun. 2009
À época de Sólon os homicídios diminuíram signifi cativamente, mas a dis-tância entre ricos e pobres aumentou. Multiplicaram-se os confl itos de terras e aqueles envolvendo hipotecas. Fazia-se necessário um governo capaz de compor, mais do que proibir. Sólon foi escolhido por ter esse perfi l de árbitro e legislador, por sua sabedoria, moderação e integridade que garantiriam a boa composição de confl itos. Introduz-se, assim, a isonomia, a igualdade perante a lei, como critério de Justiça.
Sólon não favoreceu nem ricos nem pobres, cancelou as hipotecas e proibiu que o corpo do devedor fosse dado em garantia de dívidas. Estipulou limite para aquisição de terras e proibiu a ostentação. O governo de Sólon conjugou força e equilíbrio, precisamente os dois símbolos empunhados pela estátua da Justiça – a espada e a balança. As características do governo de Sólon consagram a visão grega de uma ordem humana, independente da ordem cosmológica, e um espaço público permanente, no qual as ofensas às leis não são apenas ofensas à pessoa e à sua família, mas ofensas à cidade. “Tão depressa se pôs à frente das coisas públi-cas, Sólon libertou o povo de uma vez, proibindo todos os negócios com fi ança da vida do devedor, fazendo ainda leis novas, mediante as quais, fi cavam anuladas todas as dividas, tanto as públicas como as particulares. Esta medida chama-se vulgarmente Seisacteia, ou seja, o alívio de encargos.”4
Sólon aboliu as leis draconianas, a exceção daquelas referentes ao homicídio e redigiu uma nova Constituição e novas leis que foram afi xadas em tabuletas no “Pórtico do Rei” frente ao qual os cidadãos prestavam um voto de obediência. Este governo instituiu ainda um elemento democrático por meio de sorteios para preenchimento de algumas funções públicas. Esses sorteios eram realizados entre candidatos escolhidos dentro das quatro tribos de Atenas. As tribos também con-formavam um Conselho de quatrocentos membros, cem por cada tribo, mas manteve no Conselho do Areópago o dever de guardião da Constituição e de fi scal da lei. Aristóteles assevera que:
Há três pontos na constituição de Sólon que, parece, são seus aspectos
mais democráticos: o primeiro, e de maior importância, é a proibição de
empréstimos com garantia pessoal da vida do devedor; em segundo lugar,
o direito que gozava todo aquele que quisesse reclamar justiça em favor
de quem quer que fosse que tivesse seus direitos feridos; em terceiro lugar,
a instituição de poder apelar para os juízos formados por jurados. A este
ultimo, segundo se afi rma, deveram as massas a sua força, mais que a
qualquer outro fator, embora quando a democracia se apodera da força
dos votos, apodera-se também da constituição.5
4 ARISTÓTELES, 1990.5 ARISTOTELES, 1990.
12_Globalização e cidadania polí231 23112_Globalização e cidadania polí231 231 4/8/2009 09:53:284/8/2009 09:53:28
Maria Fernanda Salcedo Repolês
232
Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, 28: 227-250, jan./jun. 2009
Contudo, essas mudanças não livraram Sólon da crítica, de protestos impul-sionados por maus resultados decorrentes dos atos de perdão de dívidas que provocavam insatisfação tanto das classes superiores quanto das classes populares. Ele poderia ter optado por fi liar-se a um desses partidos e com isso ter o apoio sufi ciente para ser um déspota. Porém, Sólon preferiu resistir a ambos e manter a Constituição e as leis. Ele então viajou para o Egito, abandonando o poder, mas consagrando-se na história de Atenas como um salvador e legislador ideal.
Ao governo de Sólon seguem-se três governos tirânicos, os de Pisístrato e de seus fi lhos Hípias e Hiparco. Aristóteles conta sobre o período de transição do governo de Sólon até a ascensão da tirania, trinta e dois anos depois:
“Depois de sua partida [de Sólon] continuou dividida; durante cinco anos viveram em paz. Porém ao chegar o quinto ano do governo de Sólon, não foi possível eleger o Arconte em vista das dissensões e quatro anos mais tarde, também não foi possível eleger pelos mesmos motivos. Depois, uma vez passado igual período, foi eleito Arconte, Damasias, governando dois anos e dois meses, até que foi violentamente destituído de seu cargo. Depois convencionou-se, mediante compromisso, eleger dez Arcontes, cinco entre os Eupatridios, três entre os Agroe-cios e dois entre os Demiurgos, governando Damasias, durante o ano seguinte.” (...) “Apesar das eleições, continuou-se a viver em desordem interna.” (...) “Naquela época havia três partidos: o da Costa, cujo chefe era Megácles, fi lho de Alcmeon, considerado como partidário, de forma moderada, da facção do governo; os da Planície, que queriam a oligarquia e obedeciam a Licurgo; e os Montanheses, cujo caudilho era Pisístrato, tido como democrata extremado.”6
Pisístrato gozava de boa reputação como guerreiro e como democrata extre-mado. Isso lhe dava boa base popular, principalmente entre os camponeses. Tam-bém angariava simpatias entre a aristocracia. A sua ascensão ao poder se inicia com uma fraude. Ele se fere propositalmente de forma a sustentar uma moção pedindo ao povo de Atenas que lhe concedesse uma guarda pessoal para se prote-ger de seus rivais políticos. Com a guarda organizada, ele ataca a Acrópole, apo-derando-se dela. A esse respeito Aristóteles lembra que:
Dizia-se que quando Pisístrato solicitou sua guarda, Sólon se opôs à pe-
tição, declarando que, opondo-se, mostrava-se mais prudente que meta-
de do povo, com mais valor que a outra metade e mais cauteloso que
aqueles que não viam que Pisístrato aumentava à ideia de fazer-se tirano;
mostrava-se fi nalmente, mais corajoso que aqueles que tinham pensado
tudo isso, mas que guardavam silêncio. Observando, porém, que suas
palavras de nada serviam, pegou na sua armadura e expôs à porta de sua
casa, dizendo que tinha ajudado sua pátria, até aquele momento, em tudo
6 ARISTÓTELES, 1990.
12_Globalização e cidadania polí232 23212_Globalização e cidadania polí232 232 4/8/2009 09:53:284/8/2009 09:53:28
Globalização e cidadania política
233
Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, 28: 227-250, jan./jun. 2009
quanto tinha estado ao seu alcance (pois era já muito velho), rogando a
todos os demais que fi zessem o mesmo. As exportações de Sólon foram
inúteis, assumindo, assim, Pisístrato, o poder.7
Pisístrato administrava a cidade mantendo características de um governo constitucional. Mesmo assim, Megácles e Licurgo se uniram e conseguiram expul-sa-lo do poder por onze anos. Com difi culdades para manter a coligação de parti-dos, Megácles negociou com Pisístrato a volta deste, propondo-lhe casar-se com sua fi lha. Foi expulso novamente alguns anos depois e somente retomou o poder por meio da violência, com a contratação de mercenários. Pisístrato governou como tirano até a sua morte e Aristóteles descreve esse governo da seguinte maneira:
Sua administração era feita, como já dissemos mais como governo cons-
titucional que tirânico. Não foi apenas humanitário sob todos os aspec-
tos, estando sempre pronto a perdoar os que lhe ofendiam, mas estava
também sempre à disposição de quem precisava, emprestando dinheiro
aos necessitados para ajudá-los em seus trabalhos, de modo que pudessem
viver do labor dos campos. Com isto propôs duas coisas: que não vives-
sem na cidade, mas que se espalhassem pelos campos e que, gozando
certo bem-estar e ocupados com seus trabalhos, não perdessem tempo
nem tentassem se intrometer nos assuntos políticos. (...) Ao mesmo
tempo, aumentou as rendas ao intensifi car o cultivo do país, visto como
impôs a contribuição do décimo sobre todas as classes de produtos. Por
esta mesma razão instituiu os juízos locais, efetuando frequentes expe-
dições pessoais pelo país, para inspecionar e decidir as discussões entre
particulares, com o fi m de que não tivessem necessidade para isso, de ir
à cidade e de descuidar seus trabalhos. (...) Desta maneira aliviava o peso
de seu povo na medida do possível, quanto ao modo de governá-lo,
cultivando sempre a paz e conservando a tranquilidade. Dai o fato da
tirania de Pisístrato ser chamada, com frequência, com as palavras pro-
verbiais, de idade de ouro, porque quando seus fi lhos o sucederam no
governo, este tornou-se mais duro.8
Com a morte de Pisístrato seus fi lhos tomam o poder. Anos depois, Hiparco é assassinado e Hípias torna o seu governo mais violento. Ao todo a tirania durou quarenta e nove anos em Atenas. Derrubada a tirania dessa família, disputam o poder Iságoras – partidário dos tiranos, e Clístenes, apoiado pelo povo de Atenas. Na disputa pelo poder, Iságoras consegue expulsar as 700 famílias que apoiavam seu adversário, toma o poder e dissolve o Conselho. Encontra, no entanto, grande resis-tência do povo e dos próprios membros do Conselho que o cercam e o obrigam a
7 ARISTÓTELES, 1990.8 ARISTÓTELES, 1990.
12_Globalização e cidadania polí233 23312_Globalização e cidadania polí233 233 4/8/2009 09:53:284/8/2009 09:53:28
Maria Fernanda Salcedo Repolês
234
Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, 28: 227-250, jan./jun. 2009
abandonar Atenas, restaurando Clístenes e os demais desterrados à cidade. Clís-tenes é assim escolhido chefe. O seu governo é apontado como o nascimento da democracia grega.
Ele substituiu parcialmente a organização da polis com base nas velhas tribos por uma divisão territorial que chamava de demos. Como explica Aristóteles:
(...) seu primeiro ato foi dividir a população em dez tribos, ao invés das
quatro existentes, com o fi m de mesclar os membros de todas elas, para
que deste modo participassem mais dos privilégios. (...) Também fez com
que o Conselho fosse integrado por quinhentos membros, contribuindo
com dez, cada uma das tribos, enquanto que, anteriormente, cada uma
enviava uma centena. (...) Demais, dividiu o país em trinta grupos de
povos ou demos, assim distribuídos: dez, correspondentes aos distritos
próximos da cidade, dez, correspondentes aos próximos à costa, e dez,
correspondentes aos do interior. A estes chamou-os terços, adjudicando
três deles para cada tribo, por sorteio, de tal modo, que cada uma delas
tivesse uma parte em cada uma das localidades.9
Ao todo, Atenas era dividida em cem demoi dirigidas por um demarco, en-carregado de registrar todos os membros da demos. A partir de então, o nome da demos substitui o nome de família, o que acabou por dissolver a separação entre ricos e pobres e a divisão com base em critério consanguíneo. Essa é uma nova forma de igualdade perante a lei, na qual a lei da cidade se sobrepõe à origem fa-miliar e à tradição das famílias. Por outro lado, foi permitido às famílias conservar seus ritos, costumes e religião. A demos é a união de ricos e pobres e a democracia é uma ordem na qual a lei é fruto dos consensos produzidos no interior das demoi, não depende mais da moderação de um homem. Ao fortalecer os mecanismos de produção de decisão do grupo, acredita-se que existe uma confi guração mais fi rme para resistir às tiranias e às oligarquias. Aristóteles conclui que:
“Com estas reformas, democratizou-se ainda mais a constituição que no tempo de Sólon, cujas leis tinham sido prescritas pelo pouco uso que delas fora feito durante o período de tirania, substituindo-as Clístenes por leis novas com o fi m de que a vontade das massas fosse mais evidente. Entre as ditas leis, fi gurava uma concernente ao ostracismo.” (...) “Esta lei foi promulgada principalmente como medida de precaução contra os que ocupavam altos cargos, porque Pisístrato valeu-se de sua situação, como caudilho popular e como general, para proclamar-se tirano, sendo um de seus parentes o primeiro a sofrer os rigores da lei, um tal Hiparco, fi lho de Charmos, do povoado de Colito, pois Clístenes a pôs em execução, especialmen-te para ele e com o propósito de alijá-lo do poder. Até então ele tinha sempre conseguido livrar-se, pois que os de Atenas, devido a sua costumeira mansidão
9 ARISTÓTELES, 1990.
12_Globalização e cidadania polí234 23412_Globalização e cidadania polí234 234 4/8/2009 09:53:284/8/2009 09:53:28
Globalização e cidadania política
235
Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, 28: 227-250, jan./jun. 2009
democrática, permitiram que permanecessem na cidade todos os partidários dos tiranos, desde que se não tivessem associado aos seus feitos criminosos durante os dias tumultuários, sendo precisamente Hiparco o chefe que induzia a todos.” (...) “Assim, continuou-se condenado ao ostracismo os amigos dos tiranos durante três anos, pois, para eles precisamente tinha sido promulgada a lei em questão.”10
Tendo explicado a origem da ideia de democracia e algumas implicações de sua prática no processo de construção dessa ideia, a seguir faremos uma salto histórico com o objetivo de mostrar a segunda raiz contemporânea desse concei-to, já no viés do desenvolvimento da fi losofi a moderna.
3. A DEMOCRACIA REPRESENTATIVA NA MODERNIDADE
Jean Jacques Rousseau começa seu famoso livro Do Contrato Social com as frases: “o homem nasce livre, e por toda a parte encontra-se a ferros. O que se crê senhor dos demais, não deixa de ser mais escravo do que eles.” O primeiro passo para compreender o Contrato Social refere-se ao conceito de liberdade, tributário da tradição fi losófi ca moderna. Então em Rousseau, assim como em outros auto-res da época, é consagrada a ideia de uma liberdade natural, ou seja, da liberdade como atributo inato de todo ser humano. É ela quem permite que se defi na o homem em sua universalidade como membro de um gênero humanidade. Mas a constatação da liberdade natural expressa na frase “o homem nasce livre”, é segui-da por outra constatação que aparentemente é contraditória: “por toda parte encontra-se a ferros”. Se a liberdade é condição inata do homem como é possível ele estar escravizado? Rousseau faz uma distinção entre a liberdade natural e a liberdade política. Esta última é uma convenção humana e só pode ser adquirida, construída, em sociedade. Por isso, apesar de todo ser humano ter como condição de sua humanidade a liberdade, pode ser que nas circunstâncias concretas essa condição não possa ser exercida, pois se depende de um processo político coletivo. Essas são as circunstâncias encontradas às vésperas da Revolução Francesa e de-nunciadas por Rousseau que conclama seus compatriotas a mudar em nome, precisamente, da própria liberdade.
Essa passagem do texto é interessante também porque nos mostra a chama-da dialética do senhor e do escravo. Aparentemente, a escravidão do homem pare-ce submeter o escravo e transformar o senhor em detentor do poder absoluto. Mas Rousseau ressalta a contradição dessa relação, que toma como base a ideia de li-berdade natural. Se todo ser humano nasce livre, a submissão de um homem transformado em escravo por outro transformado em senhor de fato escraviza ambos. Pois, se é verdade que o senhor tem poder sobre o escravo e que sua vida depende daquele, é também verdade que o senhor está preso ao escravo por mú-
10 ARISTÓTELES, 1990.
12_Globalização e cidadania polí235 23512_Globalização e cidadania polí235 235 4/8/2009 09:53:284/8/2009 09:53:28
Maria Fernanda Salcedo Repolês
236
Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, 28: 227-250, jan./jun. 2009
tua dependência, já que sua condição de senhor exige legitimidade, ou seja, reco-nhecimento de seu poder. Se o escravo não mais reconhece o senhor como tal, está aberto o caminho para a aquisição da liberdade política daquele. Assim, o senhor é dependente do “olhar” intersubjetivo, ou seja, do reconhecimento e da submissão que, inexistente, o transforma em “não-senhor”. A explicação da dia-lética do senhor e do escravo abre a possibilidade para legitimar o movimento revolucionário. Pois como diz Rousseau: “Quando um povo é obrigado a obede-cer e o faz, age acertadamente; assim que pode sacudir esse jugo e o faz, age melhor ainda.”11
Rousseau ainda afi rma que: “Encontrar uma forma de associação que defen-da e proteja a pessoa e os bens de cada associado com toda a força comum, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedece, contudo a si mesmo, permanecen-do assim tão livre quanto antes. Esse, o problema fundamental cuja solução o contrato social oferece.”12 Ou seja, o problema fundamental do contrato social é o de permitir que as pessoas exerçam de fato, e não apenas como condição natu-ral, a sua liberdade política. O contrato social é uma convenção social, isto é feita entre os indivíduos, para que todos possam conservar sua vida, sua propriedade e sua liberdade, ou seja, os direitos liberais típicos, considerados direitos inatos.
É interessante perceber que o conceito de liberdade que aparece em Rousseau e também em outros autores da modernidade, como Kant, não se relaciona a fazer tudo aquilo que a vontade impulsiona. Pelo contrário, trata-se de abrir mão de algo individual em prol de um “bem maior”, de uma liberdade que embora limi-tada do ponto de vista individual, é viável do ponto de vista coletivo. Assim, se o contrato social aparenta ser uma renúncia à liberdade, em verdade ele é a condição de exercício real dessa liberdade, já que leva em consideração não apenas a situa-ção natural, como, sobretudo, as condições políticas de prática dessa liberdade. E nesse caso, a igualdade é a garantia de que essa renúncia funcione na outorga de maior liberdade, pois o contrato é “condição igual para todos, e, sendo a condição igual para todos, ninguém se interessa por torná-la onerosa para os demais.”13
Desse modo, Rousseau chega ao conceito de contrato social, nos termos se-guintes: “Cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a direção suprema da vontade geral, e recebemos, enquanto corpo, cada membro como parte indivisível do todo.”14 Assim, em última análise, o contrato social é uma metáfora que designa o corpo moral e coletivo como uma unidade, a qual é
11 ROUSSEAU, Jean Jacques. Do contrato social. Ensaio sobre a origem das línguas. São Paulo: Nova Cultura, 1999. v. 1 (Coleção Os Pensadores).
12 ROUSSEAU, 1999, p. 69-70.13 ROUSSEAU, 1999, p. 70.14 ROUSSEAU, 1999, p. 71.
12_Globalização e cidadania polí236 23612_Globalização e cidadania polí236 236 4/8/2009 09:53:284/8/2009 09:53:28
Globalização e cidadania política
237
Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, 28: 227-250, jan./jun. 2009
chamada outrora de polis, de república e depois de Estado. Esse pacto tem nature-za pública e é feita entre os cidadãos como condição de um autogoverno, ou de um governo de liberdade. Por isso a soberania não implica em submissão. A sobe-rania é deslocada para o povo, e é com base nela que se faz a lei e se obriga o Esta-do a seguir os rumos traçados por ela. Soberania é o poder ilimitado. Todo poder limitado não pode ser chamado de soberano. E por isso, o poder do governo não é soberano, mas submetido ao poder soberano do povo que, frente à insatisfação e a frustração dos termos do contrato social, retira e substitui-o por outro.
Esse conceito de soberania em Rousseau não é acompanhado por outros au-tores modernos que ao contrário acabam por entender o Estado como a realização da soberania. Essa é precisamente uma das tendências do constitucionalismo eu-ropeu que procura dar fundamento à ideia de soberania popular a partir da cons-trução de outra ideia, a de poder constituinte. O cerne da produção do pensamen-to contrarrevolucionário, como o de Joseph de Maistre, é buscar resolver o proble-ma da instabilidade política e do que eles consideram aspectos negativos da cisão entre soberania e sociedade que teria sido provocada no processo revolucionário.
Nesse sentido, encontra-se o contexto do debate sobre a necessidade de um núcleo fundamental estável na experiência política pós-revolução na Alemanha do século XIX, do qual a fi losofi a de Hegel é uma das contribuições mais importantes. Em seu texto Die Verfassung Deutschlands Hegel argumenta que em Alemanha existe o documento constitucional, uma ‘Constituição jurídica’, estabelecida con-tratualmente no modelo privado, exigível nos tribunais. Mas falta uma ‘Constitui-ção estatal’, que expresse a existência do Estado a partir de um princípio político comum e munido de autoridade própria. Só a Constituição estatal é capaz de anunciar a unidade da nação por via da autoridade do Estado legitimado para tal.
A crítica de Hegel se dirige principalmente a combater o privatismo da Cons-tituição alemã, que vem dos privilégios do feudalismo, mas que também está presente na visão liberal moderna que entende a Constituição como mera norma para garantia da propriedade privada e dos direitos individuais em geral. Dessa forma, o Estado fi caria reduzido ao seu caráter instrumental cuja função precípua seria a de assegurador desses direitos. Assim, tanto o antigo estamentalismo quan-to o moderno privatismo dos indivíduos destroem o princípio de unidade políti-ca e reduzem o Estado ao contratualismo.
Para Hegel, a Constituição tem uma outra função, a de introduzir o sentido e o sentimento de Estado e de governo e manter o interesse geral. Esse papel pode ser de um monarca ou de uma assembleia, representativa do povo. Há, assim, um deslocamento da soberania popular, pois o sujeito político está na Constituição seja no monarca ou no povo, mas é somente no Estado que esse sujeito se realiza em sua unidade. Somente no Estado o sujeito político encontra a forma e a ordem necessárias a sua existência. Assim, a rigor, a soberania não é do povo, mas do
12_Globalização e cidadania polí237 23712_Globalização e cidadania polí237 237 4/8/2009 09:53:284/8/2009 09:53:28
Maria Fernanda Salcedo Repolês
238
Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, 28: 227-250, jan./jun. 2009
Estado, único capaz de fornecer um fundamento estável dos poderes e das forças
sociais. E a Constituição é mais do que um documento jurídico; ela é, sobretudo,
uma ordem fundamental de convivência dos cidadãos para promoção da supre-
macia do universal, do interesse geral e da soberania do Estado.
Nas últimas décadas do século XIX, a Europa apresenta dois modelos de
monarquia, o modelo prussiano de monarquia constitucional, sob a base de uma
Constituição estatal, e o modelo belga e inglês de monarquia parlamentar sob uma
Constituição parlamentar. No primeiro, categorizado por Jellinek como “monar-
quias resistentes”, a autoridade e o poder permanecem nas mãos do Rei, pois a
soberania é deslocada e apropriada pelo Estado. A monarquia constitucional é, de
fato, uma forma de Estado. No segundo modelo, “o rei reina, mas não governa”,
ou seja, a autoridade permanece em suas mãos, mas o poder é deslocado para o
parlamento e com ele a soberania. Desse modo, a monarquia parlamentar supera
a classifi cação de formas de Estado da Teoria do Estado, segundo a qual essas são:
a república e a monarquia. A monarquia parlamentar é uma forma republicana
de Estado.
Contudo, esse debate não consegue resolver o problema da soberania popu-
lar tão como introduzido no período revolucionário. Em sua tentativa de buscar
uma estabilidade política e institucional, as Constituições estatais e as parlamen-
tais estão longe de ser Constituições democráticas.15 Esse fator será criticado na
contemporaneidade, como se verá a seguir.
4. CRÍTICA AO PROJETO DA MODERNIDADE
4.1 Entre regulação e emancipação
A crítica contemporânea a que nos referimos acima é delineada por Boaven-
tura de Sousa Santos a partir de dois pilares sobre os quais se sustenta a transfor-
mação da sociedade moderna: a regulação e a emancipação. A regulação foi
construída com base em três princípios identifi cáveis no desenvolvimento do
pensamento fi losófi co da Modernidade: o princípio do Estado, enunciado, entre
outros, por Thomas Hobbes; o princípio do mercado, justifi cado na fi losofi a de
John Locke; e o princípio da comunidade desenvolvido por Jean Jacques Rousseau.
Por sua vez, a emancipação constrói-se a partir das diversas racionalidades liberadas
15 A fundação da República de Weimar e o estabelecimento da Constituição de Weimar em 1919 é parte do processo que busca ultrapassar esses dois modelos constitucionais de forma a fazer fren-te aos regimes totalitários e dotar os regimes políticos de caráter democrático e social. Voltam-se aos fundamentos da revolução e à ideia de poder constituinte originário do povo. Esse terá que se manifestar na Constituição na forma de princípios fundamentais. Porém, permanece a indagação sobre quem dará a essa Constituição o seu caráter democrático. Essa é a base do clássico debate entre Carl Schmitt e Hans Kelsen. Ver (REPOLÊS, 2008).
12_Globalização e cidadania polí238 23812_Globalização e cidadania polí238 238 4/8/2009 09:53:284/8/2009 09:53:28
Globalização e cidadania política
239
Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, 28: 227-250, jan./jun. 2009
no processo de secularização, sendo elas a racionalidade moral-prática do direito moderno, tão tematizada por Immanuel Kant; a racionalidade cognitivo--experimental das ciências e da técnica moderna, fruto das revoluções científi ca e industrial; e a racionalidade estético-expressiva das artes e da literatura. A articu-lação desses princípios concatena-se no processo de secularização, isto é, de subs-tituição das crenças e instituições religiosas por doutrinas fi losófi cas e instituições laicas que tomam como base a racionalidade nas dimensões acima assinaladas.
A crítica de Boaventura de Sousa Santos ao pilar da regulação dirige-se à incapacidade de equilíbrio entre os princípios que o compõe, tendo a sociedade dado relevância exagerada ao princípio do mercado em detrimento do princípio do estado e, sobretudo dado relevância a esses dois em detrimento do princípio da comunidade. Desse modo, o sistema capitalista acaba priorizando as forças cuja função é de regulação em sentido estrito e esmaga as forças responsáveis por emancipação social, em processo histórico acidentado e contraditório. Assim, esse processo histórico é marcado por antagonismos, dos quais, o cientifi cismo vs. utopismo; liberalismo vs. marxismo; modernismo vs. vanguarda; reforma vs. re-volução; corporativismo vs. luta de classes; capitalismo vs. socialismo; fascismo vs. democracia participativa; doutrina social da igreja vs. teologia da libertação.
O excesso de regulação decorrente do desequilíbrio entre regulação e eman-cipação teve diversas consequências, entre as quais há que ressaltar a redução da ciência jurídica ao dogmatismo e o esquecimento da muito rica tradição de refl e-xão fi losófi ca, sociológica e política sobre o Direito. Como se deu esse desequilíbrio entre os pilares e entre os princípios que regem o pilar da regulação ao longo da consolidação da forma de produção capitalista?
Destacamos três momentos prioritários, que coincidem com os paradigmas de Estado liberal, social e democrático de Direito. Numa fase inicial, há uma hi-pertrofi a do mercado, crescimento exagerado impulsionado pelo período do ca-pitalismo liberal. Este se apoia na crença de que a maior liberdade de mercado é capaz de dar solução aos problemas sociais, numa dinâmica de autorregulação sustentada sob leis invisíveis.
Na segunda fase, há um maior equilíbrio entre o princípio do mercado e o princípio do Estado sob pressão do princípio da comunidade. É a fase do capita-lismo organizado e de sua forma política do Estado de Bem-estar Social. O Estado é chamado a intervir na economia, não apenas mediante regulação, como também mediante a atuação como ator social. Por sua vez, os movimentos sociais que fervilham nos primeiros anos do século XX direcionam seu agir político para a organização partidária e para a tomada do poder estatal. Ao longo do século, esse direcionamento acaba por reduzir as reivindicações coletivas dos movimentos a ma-nobras de massa e a sociedade, a uma massa amorfa de indivíduos a serem paternalis-ticamente supervisionados, mesmo em países que mantém o projeto social-democra-ta e cujos líderes são eleitos por via do voto. Assim, processos revolucionários
12_Globalização e cidadania polí239 23912_Globalização e cidadania polí239 239 4/8/2009 09:53:284/8/2009 09:53:28
Maria Fernanda Salcedo Repolês
240
Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, 28: 227-250, jan./jun. 2009
proletários, como o Russo, fracassam enquanto tais, quando o partido comunista concentra em si o poder político e reprime violentamente os soviets, estruturas associativas populares de mobilização social. Assim também, nos países de tradi-ção democrática, infl uenciados pela social-democracia, como a Inglaterra, fracas-sam na construção de instituições permeáveis aos movimentos sociais, que só conseguem voz se representadas em parlamentos. Esse fracasso é bem ilustrado por confl itos que se potencializam ao longo do século, como é o caso da falta de reconhecimento da pluralidade identitária irlandesa que mergulha esse país em uma terrível guerra civil, e os seus grupos de reivindicação, na ilegalidade, como foi o caso do IRA, hoje reconhecido como partido político. Por isso o seu reduzi-do potencial emancipatório e a baixa prioridade do princípio da comunidade em face aos outros dois.
Na terceira fase atual, o Estado Democrático de Direito busca a inversão da ordem de prioridades de forma a dar maior relevância ao princípio de comuni-dade que deve conduzir os outros dois. Porém, o ‘Estado neoliberal’ que se instau-ra na prática faz preponderar novamente o princípio do mercado e submete a ele os princípios do Estado e da Comunidade. Uma análise mais detida dessa terceira fase em que há dois projetos concorrentes exige uma discussão sobre a relação entre subjetividade, cidadania e emancipação e sobre os impactos da globalização sobre essa relação.
4.2 Subjetividade, cidadania e emancipação
Até que ponto a Modernidade foi capaz de construir uma inter-relação equi-tativa entre subjetividade, cidadania e emancipação? O fi nal do século XX, segun-do a análise da sociologia contemporânea parece indicar uma sobreposição da subjetividade, delineado mediante o individualismo, em detrimento da cidadania, que exige do indivíduo um compromisso social e, sobretudo político. Esse dese-quilíbrio entre subjetividade e cidadania afeta diretamente a afi rmação da eman-cipação como ação potencializada que permite ao indivíduo se tornar livre e igual tal como idealizado nesse projeto.
Assim, a teoria política liberal é expressão do desequilíbrio do pilar da regu-lação na medida em que a subjetividade torna-se o conceito central do seu proje-to. G.F.W. Hegel faz a crítica à teoria política liberal a partir desse aspecto identi-fi cado por Boaventura de Sousa Santos. Para Hegel existe uma contradição da teoria política liberal em tentar conciliar duas subjetividades antagônicas; por um lado, a subjetividade coletiva do Estado-nação, por outro, a subjetividade de cida-dãos autônomos e iguais. Para tornar compatíveis essas subjetividades é que se demarcou a diferença entre Estado e sociedade civil. O Estado recebe uma atribui-ção restrita de garantir a vida (Hobbes) e a propriedade (Locke) dos indivíduos de forma a tornar-se avalista de realização dos interesses particulares, que seguem uma lógica própria e regras naturais de mercado. Por sua vez, o cidadão, como
12_Globalização e cidadania polí240 24012_Globalização e cidadania polí240 240 4/8/2009 09:53:284/8/2009 09:53:28
Globalização e cidadania política
241
Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, 28: 227-250, jan./jun. 2009
indivíduo autônomo e igual, tem a atribuição de legitimar o poder do Estado, mediante o dever de obediência e de aceitação da autoridade, numa obrigação autoassumida, fi gurada no contrato social. Como vimos acima, para Hegel esse reducionismo é inaceitável.
Dessa perspectiva, o conceito de cidadão da teoria liberal fi ca seriamente comprometido. Os indivíduos autônomos e iguais estão diretamente vinculados à participação política na atividade do Estado. A cidadania é restrita à cidadania civil e política, sendo esta última exercida exclusivamente mediante o voto. Quais-quer outras formas de participação política são excluídas e desencorajadas e toda a base da cidadania fi ca restrita à representação. É a representação política que delimita o interesse geral, que, não necessariamente irá coincidir com o interesse de todos, ou com o interesse da comunidade.
Uma das críticas mais contundentes à democracia liberal é feita por Karl Marx, que contrapõe o macrossujeito “classe operária” ao macrossujeito “Estado” da teoria liberal. Com essa mudança, a proposta de Marx pretende um reforço do pilar da emancipação que obtenha efi cácia nesse nível, da forma como a cidadania liberal obtém no nível da regulação. Por outro lado, essa proposta deve enfrentar o seu efeito, o de reduzir as especifi cidades e as diferenças que fundam a persona-lidade, a autonomia e a liberdade dos sujeitos individuais, por equivalência e in-diferença. Assim, a classe operária deu origem a outro macrossujeito; o partido operário, que tendeu a destruição da titularidade política dos indivíduos. Desse modo, a tensão entre subjetividade individual e cidadania política não foi resolvi-da, mas destruída. Não houve assim a superação do movimento dialético, mas a supressão. E também o partido operário acabou com a mediação que só poderia ter sido obtida no princípio da comunidade. Ao invés, a aposta nos macrossujei-tos levou o modelo marxista-leninista a também priorizar exageradamente o princípio do Estado.
Em suma, a teoria política liberal e capitalista eliminou o potencial emanci-pador da subjetividade e da cidadania, o que culminou no individualismo. E o marxismo comunista buscou construir a emancipação com a eliminação da sub-jetividade e da cidadania, o que o levou ao totalitarismo político. A previsão de Marx sobre o capitalismo proletarizar a classe operária não se cumpriu, pois, ao contrário, o capitalismo alimentou as diferenças, aprofundou o individualismo no interior dessa classe e criou novas diferenças. E por isso, o conceito de classe como subjetividade coletiva e homogenização emancipadora, não foi capaz de se con-trapor à homogenização reguladora do capitalismo. Assim, se por um lado a crí-tica marxista à democracia liberal é correta, por outro, a alternativa a ela não o foi. Por que, afi nal, o desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo tornaria possível a transição para o socialismo? O capitalismo transita para algo além do próprio capitalismo?
12_Globalização e cidadania polí241 24112_Globalização e cidadania polí241 241 4/8/2009 09:53:284/8/2009 09:53:28
Maria Fernanda Salcedo Repolês
242
Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, 28: 227-250, jan./jun. 2009
5. AS DIMENSÕES DA GLOBALIZAÇÃO
Quando se fala no fenômeno da globalização, é comum lembrarmos a eco-nomia que é o aspecto mais noticiado e discutido no cotidiano. Contudo, a glo-balização é um fenômeno complexo que envolve várias dimensões. Apresentaremos o conceito e as dimensões da globalização buscando traçar um quadro dos desafi os do mundo contemporâneo para fi nalizarmos a nossa análise sobre cidadania política apresentando uma discussão sobre a democracia contemporânea e sua proposta para o equilíbrio dos pilares da regulação e da emancipação.
Não existe uma unanimidade entre os autores sobre quando começa a glo-balização. Alguns dizem que ela é um fenômeno antigo, já claramente perceptível durante o período das grandes navegações no século XV, em que as relações eco-nômicas se intensifi cam, primeiramente entre a Europa e o Oriente, depois entre a Europa e a América. Outros autores defendem ser a globalização um fenômeno recente, típico das transformações mundiais ao longo dos séculos XX e XXI.
O conceito que nos serve de ponto de partida é desenvolvido pelo sociólogo Anthony Giddens,16 que afi rma que a globalização é: “a intensifi cação de relações sociais em escala mundial que ligam localidades distantes de tal maneira, que acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa”. Anthony Giddens destaca dois aspectos da globalização. Em primeiro lugar, a intensifi cação de relações em escala mundial. Entende-se, assim, que durante muito tempo houve o estabelecimento de relações desse tipo, mas o que caracterizaria a globalização seriam o aumento e aprofundamento dessas relações. Em segundo lugar, a necessidade de sua caracterização a partir de uma consciência coletiva de que eventos, fatos, acontecimentos têm uma ligação intrín-seca. Assim, não bastaria que essas relações em escala mundial acontecessem, mas que também tivéssemos consciência do signifi cado delas e passássemos a pensar, agir e moldar nosso comportamento por elas. Adquiriríamos uma capacidade de ver a nós mesmos como parte da “humanidade”, do “mercado”, da “mass media”, da “comunidade virtual”, etc. A globalização é, dessa perspectiva, um fenômeno contemporâneo, pois é só então que passamos a entender a nossa existência a partir de conceitos tão abstratos e universais.
O conceito de Giddens implica também, pela sua amplitude, o reconheci-mento de que a globalização é um fenômeno multifacetado, que não pode ser resumido aos seus impactos econômicos. Também não existe acordo entre os autores sobre “quantas são” as dimensões da globalização. Aqui selecionamos uma classifi cação que as resume em cinco: econômica, política, social, cultural e am-biental. Apresentaremos cada uma delas em linhas gerais para podermos pensar a seguinte questão: como as dimensões da globalização afetam nossa compreensão
16 GIDDENS, Anthony. Sociologia. Madrid: Alianza Universidad, 1995.
12_Globalização e cidadania polí242 24212_Globalização e cidadania polí242 242 4/8/2009 09:53:284/8/2009 09:53:28
Globalização e cidadania política
243
Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, 28: 227-250, jan./jun. 2009
sobre cidadania e democracia em nosso tempo? Essa questão será abordada no tópico seguinte.
A dimensão econômica da globalização envolve dois aspectos: o primeiro é o dos governos que formam mercados comuns e criam integração econômica; o segundo é o dos conglomerados e empresas transnacionais que dominam a pro-dução, o comércio, a tecnologia e as fi nanças. Na formação de mercados comuns como a União Europeia em seus primórdios e o Mercosul, discute-se a abrangên-cia dessa integração internamente e entre eles. A recente crise das bolsas de valores iniciada nos Estados Unidos após a falência e constatação de fraudes de companhias de seguro e de bancos de fomento, mostra bem a interdependência das economias dos países e por sua vez dessas e das empresas transnacionais.
Na dimensão política discute-se a sustetabilidade dos conceitos de soberania, povo e território fi rmados no século XVIII no Tratado de Westfália, e a suposição do surgimento de uma crise do Estado-nação, principalmente no que diz respeito ao conceito de soberania. Discute-se também o papel das organizações interna-cionais e intergovernamentais. A dimensão política da globalização é impulsiona-da pela reinserção dos países da antiga União Soviética e do Leste europeu no sistema capitalista, com a interferência sobre a política econômica dos países subdesenvolvidos a partir da adesão ao ajuste estrutural do FMI e do Banco Mun-dial, e com o ressurgimento de confl itos étnicos, fundamentalismos religiosos e guerras civis.
A dimensão social é muito bem delineada quando se analisam os números referentes ao processo sistemático de exclusão a partir da miséria, da fome, de doenças epidêmicas, do deslocamento de pessoas que buscam refúgio em virtude de guerras e de perseguição política ou religiosa. Também quando se considera a profunda desigualdade social que vem se aprofundando inclusive em países de-senvolvidos. Constata-se em 2009 chega a 1 bilhão o número de pessoas que passam fome no mundo, em sua maioria concentradas nos continentes da África, Ásia e América do Sul. Quase 80% do PIB mundial concentra-se nos países desen-volvidos, onde vive 20% da população mundial e as 358 pessoas mais ricas do mundo têm individualmente mais dinheiro do que os 174 países mais pobres do mundo nos quais encontra-se 45% da população mundial.
A dimensão ambiental é característica típica do processo de globalização, pois a degradação ambiental não respeita fronteiras construídas artifi cialmente pelo homem. Toda a humanidade é ameaçada por riscos ambientais gerados há quilô-metros de distância. Muitos atestam o colapso do modo de vida contemporâneo que não sustenta os níveis de produção e de consumo sem gerar impactos irrever-síveis para o meio ambiente. Mas até aqui a dimensão social da globalização faz-se presente, pois nos países que detém mais riqueza, e no qual vive 20% da população mundial, consome-se 80% da energia e emitem 80% dos gases que provocam o aquecimento global. Além desse, outros problemas que aparecem como prioritá-
12_Globalização e cidadania polí243 24312_Globalização e cidadania polí243 243 4/8/2009 09:53:284/8/2009 09:53:28
Maria Fernanda Salcedo Repolês
244
Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, 28: 227-250, jan./jun. 2009
rios são: a contaminação da água, o desmatamento, a desertifi cação que atinge em cheio a Amazônia, entre outros, a perda de biodiversidade e a extinção de espécies, o crescimento da população e a pesca predatória.
Finalmente, a globalização é também cultural. A globalização nos dá acesso a diversas culturas e costumes. Existe um movimento de resgate dessas raízes ao mesmo tempo em que vemos o processo de desenraizamento dos indivíduos e a “americanização” da cultura que se torna cada vez mais uniforme.
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS: O SURGIMENTO DA CIDADANIA CONTEMPORÂNEA
Num primeiro momento dialoga-se com o conceito liberal de cidadania, restrito à defesa dos direitos individuais e que reduz do direito político ao direito de voto, no segundo período do capitalismo a cidadania dá lugar à conquista de direitos sociais por parte das classes trabalhadoras em domínios como o do tra-balho, da previdência, da saúde, da educação e da habitação. A emergência da ci-dadania social é reiterada pelo modelo de Estado de Bem-estar Social, interven-cionista e paternalista. Novas instituições e grupos sociais protagonistas aparecem e mudam o perfi l da discussão sobre exercício da democracia. A democracia de massa exige uma atuação efetiva do Estado através do Poder Executivo e de seu delineamento de políticas públicas. Assim, antes, os direitos individuais de caráter universal apoiam-se nas instituições do direito moderno, no processo legislativo democrático e no sistema judicial que os aplica. Também os direitos políticos se traduzem institucionalmente nos parlamentos, nos sistemas eleitorais e nos siste-mas políticos como um todo. Já os direitos sociais tomam como referência as múltiplas instituições do Estado de Bem-estar Social de cunho assistencialista, exige investimentos, infraestrutura, reconhecimento aliado à prática.
Como vimos durante o período do capitalismo liberal o exercício da cidada-nia alimenta a separação radical entre princípio do Estado e princípio do merca-do e gera um aumento da importância deste sobre todos os outros princípios. No período do Estado de Bem-estar Social, as reivindicações e lutas das classes traba-lhadoras que se obtém por pressão do princípio da comunidade geram uma rela-ção mais equilibrada entre princípios do Estado e do mercado e mudam a estru-tura do capitalismo para o que Claus Offe chamou de capitalismo organizado. Nesse sentido, as classes trabalhadoras surgem como um ator social de signifi ca-tiva importância e aumentam sua capacidade de articulação interna e de infl uên-cia política e contribui para a criação de formas de organização, de luta e para instituições solidárias. Nesse sentido, as classes trabalhadoras foram agentes de transformação progressista no capitalismo e os direitos sociais não foram uma concessão do Estado capitalista, mas o resultado de lutas sociais e da articulação do movimento operário. Ironicamente esse processo signifi cou a integração política
12_Globalização e cidadania polí244 24412_Globalização e cidadania polí244 244 4/8/2009 09:53:284/8/2009 09:53:28
Globalização e cidadania política
245
Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, 28: 227-250, jan./jun. 2009
das classes trabalhadoras no Estado capitalista, o que equivale a dizer, o aprofun-damento da regulação em prejuízo da emancipação, e assim, a legitimação do próprio Estado capitalista.
A consolidação dos direitos sociais propiciou às classes trabalhadoras uma segurança, permitiram vivências de autonomia, deram acesso à educação e a pro-gramas sociais que até então essas classes não tinham acesso. Por outro lado, o Estado de Bem-estar Social intensifi cou a burocracia e a vigilância controladora sobre os indivíduos (sociedade panóptica de Foucault). Os indivíduos dessas classes foram integrados também às rotinas de produção e de consumo. Os espa-ços urbanos tornam-se cada vez mais desagregadores e destruidores da solidarie-dade construída no interior dos movimentos de luta, que são desarticulados. O crescimento da mass media e a indústria do tempo livre transformou até mesmo o lazer em atividade programada e a aproximou do paradigma de trabalho. E nesse sentido, como muito bem previu Marx, o sujeito foi convertido em objeto de si mesmo.
Desse modo, os desafi os para a construção da cidadania na contemporanei-dade tornam-se cada vez maiores. Por um lado é preciso pensar alternativas para os excessos que ora acometeram o mercado (E. Liberal) e outrora acometeram o Estado (E. Bem-estar Social). No primeiro temos um conceito de cidadania restri-to ao âmbito das relações entre pessoas privadas organizadas na forma do mercado. Na visão liberal, o cidadão ganha esse status a partir do reconhecimento estatal dos direitos individuais que funcionam como limites contra a interferência do Estado. Como detentor de direitos, tal cidadão goza da proteção do governo na medida em que realiza seus interesses privados nos limites da lei. Os direitos políticos, especi-fi camente o direito ao voto e à livre expressão, permitem que esse cidadão fortale-za a proteção de seus interesses privados de forma tal que, por via das eleições, ele participe da constituição de estruturas parlamentares e governamentais.
No segundo modelo, a política vai além da função mediadora e é interpreta-da como refl exo da vida ética real da sociedade. Nessa política da “vontade geral”, os cidadãos desenvolvem relações recíprocas de forma que se conjugam em uma associação política de parceiros que em sua reciprocidade reconhecem-se como comunidade. Essa visão, que podemos chamar aqui de republicana, cria uma base autônoma da sociedade civil que resguarda o aparato governamental de ser assi-milado pelo mercado, tal como no modelo liberal. Assim, a esfera pública política abrange não apenas o Estado, como também as solidariedades coletivas no âmbi-to da sociedade civil. Por outro lado, esse modelo esbarra nos limites das Razões de Estado que burocratizam os processos de diálogo e de decisão não institucional em nome do bem comum.
A esses dois modelos podemos opor um terceiro, o da política deliberativa (Habermas). Esse modelo de democracia concentra-se na consideração da multi-plicidade dos modos de formação da vontade e das decisões políticas mediante
12_Globalização e cidadania polí245 24512_Globalização e cidadania polí245 245 4/8/2009 09:53:284/8/2009 09:53:28
Maria Fernanda Salcedo Repolês
246
Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, 28: 227-250, jan./jun. 2009
formas comunicativas racionais. Por isso ela depende de uma rede regulada de processo de negociação e da permeabilidade a diferentes formas de argumentação que incluem discursos pragmáticos, éticos e morais, cada um deles tendo como fundamento diferentes pressupostos e procedimentos comunicativos que possi-bilitam a orientação dos cidadãos para a realização do bem-estar comum.
Os indivíduos participam da política deliberativa em sua correlação com as formas de vida coletiva e com as práticas exercidas em comum com os outros indivíduos. Por isso, dessa perspectiva, o sucesso da política deliberativa não de-pende diretamente da ação coletiva dos cidadãos, mas da institucionalização de um padrão de procedimentos e de comunicações decorrentes dessa ação que criam possibilidades diversas de participação dos cidadãos.
As duas visões, liberal e republicana, colocam o Estado como centro da so-ciedade; no primeiro caso como guardião da sociedade de mercado, no segundo, como manifestação mais apurada e institucionalizada da comunidade ética. De acordo com a visão liberal, a democracia é assegurada através do exercício do direito político de voto, pela composição dos corpos parlamentares, e por a estru-turação de um sistema de normas que prioriza a segurança jurídica. E para os republicanos, a democracia forma sua estrutura mediante o discurso ético-políti-co, que depende da participação dos cidadãos.
Já na política deliberativa, Habermas propõe uma dinâmica distinta entre os principais mecanismos de integração social, o dinheiro (mercado), o poder admi-nistrativo (Estado) e a solidariedade (sociedade civil). Em primeiro lugar, na po-lítica deliberativa, o Estado e a sociedade não se colocam em relação hierarquiza-da. Também, o Estado é centro de decisões dentro da sociedade, que é ampla. A sociedade opera principalmente por via ação comunicativa que gera solidarieda-de, e o Estado, por via do poder administrativo, tendo assim uma relação de in-terdependência entre eles. A força existente na solidariedade, não podendo mais ser encontrada tão somente na ação comunicativa, desenvolve-se nas esferas pú-blicas amplas e diversifi cadas através de deliberações democráticas e de decisões juridicamente institucionalizadas, que, muitas vezes, precisam do poder adminis-trativo para sua implementação. A força componente da solidariedade se fortale-ce através desses processos para enfrentar a tendência de fechamento dos outros dois mecanismos de integração social: o dinheiro e o poder administrativo.
Assim, podemos perceber a mudança no conceito de democracia ao longo da consolidação e mudança dos paradigmas de Estado na modernidade. A demo-cracia liberal concebe a sua função primordial como a de legitimar o poder polí-tico eleito, ou seja, o resultado das eleições, e dar a concessão ao governante eleito para assumir o poder, que deve ser justifi cado ao povo. Na democracia republica-na a formação da vontade é mais importante do que simplesmente dar a concessão ao eleito, mas o governante terá que conduzir políticas específi cas que o interligam
12_Globalização e cidadania polí246 24612_Globalização e cidadania polí246 246 4/8/2009 09:53:284/8/2009 09:53:28
Globalização e cidadania política
247
Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, 28: 227-250, jan./jun. 2009
à comunidade que se autogoverna. Do ponto de vista da política deliberativa, que é uma democracia procedimentalista, os procedimentos comunicativos da forma-ção democrática da opinião e da vontade criam uma racionalidade discursiva onde antes somente o sistema administrativo podia agir. Ou seja, a opinião pública não pode regular a si mesma, mas direciona o poder administrativo em áreas especí-fi cas. A soberania popular está difusa na rede de comunicações públicas, onde o poder comunicativo está concentrado, não no indivíduo, e sim nos grupos que geram a rede de comunicação.
Desde que se concebeu a ideia de Estado-nação no século XVIII, a razão de ser do Estado é a implementação do bem comum, sendo alcançado através do diálogo. Assim, garante-se a formação da opinião e da vontade, onde os cidadãos livres e iguais se conscientizam que objetivos e normas devem basear-se no inte-resse comum de todos. Desta forma, o Direito institucionaliza as ideias e valores da sociedade, sendo determinadas pela vontade política dominante. Com seu conteúdo objetivo, o Direito garante e possibilita o aperfeiçoamento de uma vida autônoma em comum. O governo e a sociedade se subordinam à hierarquia das normas estatais que, por sua vez, descentraliza o mercado. A sociedade civil cria uma base autônoma dentro da esfera pública política como estratégia para res-guardar a política do aparato governamental, em detrimento da solidariedade social, e de sua assimilação pelo mercado, no molde liberal. O governo exerce o poder administrativo visando o bem comum. Para isso, utiliza dos poderes comu-nicativos. Já a sociedade se constrói mediante valores comuns.
Pela visão republicana, o Direito guarda interdependência com a Política, e é tido como liberdade positiva que permite ao cidadão situar-se como quiser numa organização ou comunidade de pessoas livres e iguais, no exercício de seus direitos privados, sua liberdade e autonomia social. A autoridade administrativa governa-mental emana do próprio cidadão, constituído na autolegislação e legitimada na institucionalização da liberdade pública. A existência do Estado não se justifi ca somente pela proteção dos direitos privados, mas principalmente para garantir a liberdade de opinião, formação da vontade dos cidadãos, levando-os a um enten-dimento comum em que os objetivos e normas consideram o interesse de todos. Por outro lado, a democracia na visão liberal realiza a tarefa de programar o go-verno segundo interesses da sociedade, enquanto o governo é somente um apara-to administrativo que interage entre pessoas privadas organizadas na forma do mercado. Nesse aspecto, o Estado passa a existir em função da sociedade, eximin-do-se de interferência na economia e na instituição familiar. A política, no mode-lo liberal, tem a função de formar a vontade política da sociedade, recolhendo o interesse privado e o encaminhando ao Estado para administrar o poder, objeti-vando atingir interesses da coletividade. A política exerce função mediadora entre o governo e a sociedade, tornando-se o modelo legitimado para a proteção dos interesses privados.
12_Globalização e cidadania polí247 24712_Globalização e cidadania polí247 247 4/8/2009 09:53:284/8/2009 09:53:28
Maria Fernanda Salcedo Repolês
248
Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, 28: 227-250, jan./jun. 2009
A teoria de Habermas, nesse contexto, nos apresenta uma síntese dos elemen-tos da concepção de democracia. Ele nos propõe mostrar os três modelos de de-mocracia, diferenciando a concepção de democracia que ele defende, fazendo a crítica aos modelos tradicionais: liberal e republicano. E através dessa crítica, ele monta o terceiro modelo: modelo procedimentalista de democracia e de política deliberativa. Habermas fala em modelos normativos, é porque existem também os modelos não normativos. Os modelos normativos de democracia se contrapõe aos modelos empíricos. Estes são descritivos e tem o ponto de vista do observador. Enquanto o normativo é regulador e contém o ponto de vista do participante. A introdução da perspectiva participante na teoria da sociedade permite-nos ver a democracia do ponto de vista de suas práticas cotidianas, através das quais, o modelo é fl uído, construído pelos participantes e reconstruído a todo o momen-to num processo histórico e político complexo.
Na visão liberal, o ordenamento jurídico tem por fi nalidade atribuir a cada indivíduo, direitos e deveres em particular na forma de direitos subjetivos. Os direitos dos cidadãos são estabelecidos diante dos diversos casos. A Constituição atribui a competência ao Estado, limitando sua atuação e estabelecendo os direitos fundamentais do homem. Nesse sentido, a vantagem do modelo republicano sobre o liberal é que este mantém o conceito essencial de democracia institucionalizada publicamente pela razão conjunta de cidadãos autônomos, tal como aparecem nos modelos ateniense e rousseauniano. Quando comparamos as duas visões, repara-mos que o modelo republicano se sobressai porque consegue preservar, no senti-do mais original, o signifi cado de democracia, porque dá importância às condições comunicativas que dão força legitimadora à formação política de opinião e de vontade. A confi ança existente no modelo republicano em relação à força dos discursos políticos se contrapõe ao ceticismo liberal. Com esses discursos espera-se chegar a um consenso na hora de se discutir orientações a respeito das necessida-des e carências.
Porém, Habermas critica o excesso de idealismo existente no modelo repu-blicano. A concepção republicana reduz o Direito a questões éticas e desconsidera as dimensões pragmáticas e morais. Tal problema fi ca evidente, por exemplo, na atuação dos aplicadores do Direito que não são capazes de encarnar todos os va-lores da sociedade, pois esta é pluralista, sendo assim ele encarna parte da socie-dade para defi nir seu mérito. Adicionalmente, o idealismo republicano requer um esforço enorme dos indivíduos, exigindo que eles sempre estejam participando da vida política, o que é meramente teórico. No modelo procedimentalista, a estru-tura da norma jurídica está determinada pela questão de se saber quais normas os cidadãos desejam adotar para regular sua vida em comunidade; e como esses discursos levam à autocompreensão, ou seja, permitem aos cidadãos es-clarecer sobre o tipo de sociedade em que querem viver. Tais discursos fazem parte da política, que por sua vez está subordinada às questões morais, que aqui,
12_Globalização e cidadania polí248 24812_Globalização e cidadania polí248 248 4/8/2009 09:53:284/8/2009 09:53:28
Globalização e cidadania política
249
Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, 28: 227-250, jan./jun. 2009
são entendidas como questões de justiça. Dessa maneira, a produção do Direito é uma questão de justiça, de se determinar a forma como os textos legais serão igualmente bons para todos. Assim, por exemplo, uma lei sancionada só é válida se for compatível com princípios que tenham validade universal. Essa validade vai além dos valores adotados por uma comunidade de Direito específi ca. Além disso, a norma jurídica deve equilibrar interesses concorrentes almejando o bem comum e trazer princípios universais de justiça para dentro das decisões da comunidade.
O ideal de determinar a norma de acordo com o desejo dos cidadãos para regularem sua própria vida em comum, estabelecer os modos e os meios como vão conviver na sociedade, deve obedecer a questões morais, isto é, deve levar em consideração a questão de como regular uma matéria levando em conta os inte-resses de todos, de forma que a criação da norma seja uma questão de justiça para todos. Portanto, a validade da norma jurídica clama não somente por uma comu-nidade legalmente estabelecida, mas também por valores éticos e princípios morais universalmente estabelecidos, que permitam criar parâmetros de decisão que respeitem as preferências dos partidos concorrentes, de maneira mais justa, uma vez que as negociações assumem discursos práticos que neutralizam o poder.
REFERÊNCIAS
ARENDT, Hannah. Da revolução. São Paulo, Brasília: Ática, UnB, 1999.
ARISTÓTELES. A Constituição de Atenas. Tradução de A. S. Costa. São Paulo: Mandarino, 1990.
CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janei-ro: Civilização Brasileira, 2003.
DUSSEL, Enrique. Ética da libertação na idade da globalização e da exclusão. Pe-trópolis: Vozes, 2000.
FARIA, José Eduardo (Org.). Direito e globalização econômica: implicações e pers-pectivas. São Paulo: Malheiros, 1998.
GIDDENS, Anthony. Sociologia. Madrid: Alianza Universidad, 1995.
HABERMAS, Jürgen. Três modelos normativos de democracia. Cadernos da Es-cola do Legislativo, n. 5, (3), Belo Horizonte.
HEGEL, G. W.F. Lecciones sobre la historia de la fi losofi a I. México: Fondo de Cul-tura Economica, 1995.
HEGEL, G. W. F. Political writings. Tradução de H. B. Nisbet. Cambridge: Cam-bridge University Press, s.d. (Die Verfassung Deutschlands – The German Consti-tution).
HEGEL, G. W. F. Fundamentos de la fi losofi a del derecho. Edição K. H. Ilting. Madrid: Libertarias/Prodhufi , 1993.
HOBBES, Thomas. Leviathan. Londres: Penguin Books, 1985.
12_Globalização e cidadania polí249 24912_Globalização e cidadania polí249 249 4/8/2009 09:53:284/8/2009 09:53:28
Maria Fernanda Salcedo Repolês
250
Rev. Fac. Dir. Sul de Minas, Pouso Alegre, 28: 227-250, jan./jun. 2009
KONZEN, Lucas Pizzolato. Boas aventuras na Pasárgada do pluralismo jurídico ou alternativas para uma ciência do direito pós-moderna. Disponível em: <http://www.unimove.br/ojs/index.php/prisma/article/viewFile/608/570>.
LOCKE, John. Two treatises of government. New York: Mentor Book/Signet, 1965.
LYRA FILHO, Roberto. O que é direito? São Paulo: Brasiliense, 2005 (Coleção Primeiros Passos).
MARX, Karl. Textos fi losófi cos. São Paulo: Editorial Estampa, 1975.
MIALLE, Michel. Introdução crítica ao direito. Lisboa: Estampa, 1994.
REPOLÊS, Maria Fernanda Salcedo. Quem deve ser o guardião da Constituição? Do poder moderador ao Supremo Tribunal Federal. Belo Horizonte: Mandamentos, 2008.
ROSENZWEIG, Franz. Hegel e o Estado. São Paulo: Perspectiva, 2008.
ROUSSEAU, Jean Jacques. Do contrato social. Ensaio sobre a origem das línguas. São Paulo: Nova Cultura, 1999. v. 1. (Coleção Os Pensadores).
SANTOS, Boaventura de Sousa. O discurso e o poder: ensaios sobre a sociologia da retórica jurídica. Porto Alegre: Safe, 1988.
SANTOS, Boaventura de Sousa. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. São Paulo: Cortez, 1995.
SANTOS, Boaventura de Sousa. A gramática do tempo. São Paulo: Cortez, 2008.
SOUTO, Cláudio; FALCÃO, Joaquim (Org.). Sociologia e direito: textos básicos de sociologia jurídica. São Paulo: Pioneira, 1980. p. 109 (Notas sobre a história jurídico-social de Pasárgada).
VIEIRA, Litz. Os argonautas da cidadania. A sociedade civil na globalização. Rio de Janeiro: Record, 2001.
VIEIRA, Litz. Cidadania e globalização. Rio de Janeiro: Record, 2001b.
WOLKMER, Antonio Carlos. Introdução ao pensamento jurídico crítico. São Paulo: Saraiva, 2001.
12_Globalização e cidadania polí250 25012_Globalização e cidadania polí250 250 4/8/2009 09:53:294/8/2009 09:53:29