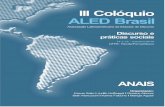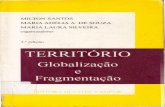ENCCEJA ENSINO FUNDAMENTAL LIVRO DO ESTUDANTE LIVRO DO ESTUDANTE ENSINO FUNDAMENTAL
Globalização e ensino de LE
-
Upload
geape-ufpa -
Category
Documents
-
view
8 -
download
0
Transcript of Globalização e ensino de LE
PUBLICADO NA ADCONTAR
GLOBALIZAÇÃO E ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: O novo futuro
do espanhol no Brasil em tempos de Mercosul
Nélia de Almeida Martins*
Tenho 25 anos de sonho e de sangue e de América do SulMas por força de meu destino, um tango argentino
Me cai bem melhor que um blues.
A Palo Seco - Belchior RESUMO
A globalização é a forma mais recente de um mesmoprocesso de evolução das relações econômicas. Atransformação do local no global se faz mais imediata com odesenvolvimento da tecnologia. São as inovaçõestecnológicas que forçam um novo olhar para a educação epara o ensino de uma língua estrangeira em particular.Nesse processo, o inglês se mantém imbatível, mas oespanhol cresce como nunca, afetando inclusive os olharesentre Brasil e vizinhos na América Latina, tradicionalmenteisolados um dos outros.
Apesar de presente nos currículos escolares entre 1942e 1960, foi nos últimos 10 anos que o Brasil teve queaprender a falar espanhol – e fluentemente – para se lançarao futuro.
PALAVRAS-CHAVE: América Latina - espanhol - globalização –língua estrangeira - MERCOSUL
RESUMENLa globalización es la forma más actual del proceso de
evolución de las relaciones económicas. La transformaciónde lo local en global es más inmediata con el desarrollo dela tecnología. Son esas novedades que hacen con que un paísmire con otros ojos hacia la educación y enseñanza de unalengua extranjera. El inglés, presente hace 150 años en loscurrículos de las escuelas sigue muy importante pero elespañol crece como nunca, afectando las políticas
lingüísticas del único territorio luso hablante de AméricaLatina: Brasil. El alza del español, imparable, cambia lasrelaciones entre países tradicionalmente alejados.
Aunque presente entre 1942 y 1960 en las escuelassecundarias, fue en los últimos 10 años que Brasil tuve queaprender – de manera rápida y con fluidez – la lenguaespañola, sino se quedaría sin oportunidades de futuro.
PALABRAS-LLAVE: América Latina - español – globalización –lengua extranjera - MERCOSUR
INTRODUÇÃO
É quase impossível falar hoje em ensino de língua
estrangeira (LE) sem lembrarmos do movimento que provocou a
busca pelo conhecimento de uma LE: a globalização.
Tida como uma coisa nova, a globalização nada mais é
do que a forma mais recente de um processo pelo qual passa
o mundo desde o imperialismo; é um produto histórico de uma
série de evoluções que se caracterizam por um movimento de
longa duração. Se voltarmos um pouco mais na História, é
provável encontrarmos em todas as sociedades medianamente
desenvolvidas, tentativas de transformar o local em global:
Alexandre, os romanos - que expandiram seus domínios até a
Finis Terrae -, e os habitantes dela, portugueses e espanhóis,
globalizaram o mundo no século XV sob seus domínios. Na
América Pré-Colombiana, incas e astecas também formaram
grandes impérios que transformaram seus originários locais
em grandes extensões territoriais através de conselhos e
tratados.
A evolução entre Imperialismo e globalização, segundo
Akkari (2002) teve como elemento catalisador a “vontade de
certo número de países e de grupos sociais de dominar e
explorar outros países e grupos sociais.” Ao longo da
História, houve o encadeamento originado pelo imperialismo,
passando pelo colonialismo e neocolonislismo até a chegada
da modernização e neoliberalismo. O mais recente elo dessa
corrente é a globalização, que tem modos de dominação mais
ambiciosos por contar com uma ferramenta nunca antes tão
desenvolvida: as inovações tecnológicas. Os meios de
comunicação, atrelados ao desenvolvimento tecnológico,
diminuem as distancias e aproximam povos e países do mundo,
acentuando as diversidades, as diferenças, os conflitos e
mostram, on-line, quão complexas podem ser as realidades.
Para esses novos tempos, Europa, América do Norte e
Japão, “uma tríade de pujança” (op.cit) inauguraram o
pensamento de que é pela educação que as instituições se
tornam compatíveis para melhor enfrentar o local
globalizado.
Weinberg (2005) em reportagem da revista Veja analisa a
trajetória da Coréia entre 1960 até 2005, comparando-a ao
Brasil em igual período. Naquela época, a taxa de
analfabetismo da Coréia e Brasil era similar: 33% e 39%,
respectivamente, em que pese o número populacional de
ambos. Hoje a Coréia apresenta 2% de analfabetos e o Brasil
se mantém na casa dos 13%, estacionado no “patamar de
paises bem mais pobres, como a Indonésia.” Com isso, os 7%
dos jovens coreanos que estavam na universidade em 1960,
hoje somam 82%. O Brasil, que nem apresentava dados
concretos em 1960, mantém apenas 18% de sua população jovem
nas universidades. A Coréia em 45 anos erradicou o
analfabetismo permitindo que sua população jovem
ingressasse em cursos superiores e o Brasil, nesse mesmo
período, apresenta “um dos piores desempenhos da América
Latina”. O que distanciou tanto esses dois países que em
1960 tinham estatísticas similares? A educação. “A Coréia
apostou no investimento ininterrupto e maciço na educação –
nós não.” (op.cit) A globalização, no entanto, não
transforma as regras das relações políticas, econômicas e
culturais; apenas reflete os interesses e as ideologias dos
países mais poderosos do sistema internacional e, por
aproximar idéias tão diferentes e díspares, alertou para os
investimentos em educação, como fez a Coréia.
A globalização provocou uma redução relativa da
importância dos Estados Nacionais em diversas partes do
mundo: a criação de novos blocos regionais implicou a
necessidade de certa perda de soberania fazendo com que os
governos pensem em programas transnacionais. O e-learning,
produto do avanço da tecnologia, não é ficção cientifica:
um estudante em Belém, se devidamente equipado de aparatos
tecnológicos competentes, pode ter aulas através do
computador com um professor no Rio de Janeiro, São Paulo ou
Espanha. A instantaneidade da internet alterou inclusive o
processo de ensino; a aprendizagem tradicional sofreu
alterações significativas, pois os alunos que tivessem
meios materiais disponíveis poderiam acessar informações
“quentinhas” e questionar seus professores a qualquer
momento, por mais que esses também fossem portadores dessas
mesmas informações trazendo-as para a sala de aula como se
fosse novidade. A educação virtual, também produto de
fatores sócio-educativos e tecnológicos, cria esse novo
paradigma de trabalho acadêmico. A comunicação mediante o
computador facilita a nova pratica pedagógica diminuindo as
restrições espaciais, temporais e organizacionais. As Novas
Tecnologias de Informação e Comunicação (NTIC) mais do que
outro fator, provocou “uma verdadeira metamorfose na nossa
maneira de trabalhar e viver.” (Boaventura, 1999).
Telefones celulares mais inteligentes a cada três semanas,
DVD e, sobretudo, o espaço cibernético, sempre vez mais
onipresente, permitem o livre transito das informações em
diversas línguas, sem problemas de fuso horário e a custo
reduzidíssimo. A educação, e o ensino das línguas
estrangeiras, por esse motivo, devem fomentar nos alunos o
conhecimento crítico, dar-lhes consciência da
interdependência que lhes permita acrescentar
conhecimentos, atitudes e habilidades novas para o
tratamento de diversas questões, inclusive para que
compreendam sua própria identidade para poder compreender e
apreciar a cultura dos outros. É pensar localmente e agir
globalmente: “conhecer a si próprio não só é indispensável
para se ter a capacidade de abertura para compreender
outras culturas, mas uma condição de sobrevivência.”
(op.cit)
I – OS ACORDOS DA AMÉRICA LATINA
A história da integração e cooperação da América
Latina teve inicio na segunda metade do século XX. Em
parceria com os vizinhos, o Brasil fez alguns acordos, mas
muitos não deram os resultados esperados. O processo de
integração da América Latina passaria, então, por pelo
menos três fases (Poletto, 2000): as idéias de Simon
Bolívar, a implantação de projetos de integração regional e
de projetos de integração sub-regional.
A idéia de uma união latina é bem antiga, nascida
durante os movimentos de independência política dos paises
do Novo Continente, tendo sido Simon Bolívar o primeiro
grande mentor. Ele formulou uma proposta de unidade
regional ambiciosa, com projetos para a formação de uma
Federação de Repúblicas, um sistema comum de defesa e uma
união econômica. Apesar de suas propostas não haverem
vingado, suas idéias se mantiveram como uma bandeira em
defesa dos genuínos valores latino-americanos em face dos
externos. A pressão negativa era em parte por causa das
idéias do pan-americanismo propostas pelas Conferencias
Internacionais Americanas, promovidas pelos Estados Unidos
em 1889-1890. A OEA, numa tentativa de fazer frente ao
“poder desmesurado” (op.cit) dos Estados Unidos cria,
então, a CECLA - Comissão Especial de Coordenação Latino-
Americana. O conceito de integração econômica regional só
surgiria nos primeiros anos do século XX, com a fundação da
Cepal.
Em 1948 é fundada a CEPAL – Comissão Econômica para a
América Latina e Caribe. Reivindicada pelos latino-
americanos, sofreu resistência dos Estados Unidos que “não
concordava com a criação de um organismo na região que
possivelmente pudesse escapar de seu controle.” (op.cit) A
própria ONU decidiu que ela teria uma existência de três
anos, pois havia sido criada apenas para assegurar a
implantação de programas de desenvolvimento na região
latino-americana, em sintonia com a Carta Constitutiva da
ONU, de 1945. Apesar de ter se tornado uma verdadeira
escola de pensadores, pois congregou e formou grande parte
dos cientistas sociais da América Latina, a Cepal
questionava tão somente as condições econômicas e sociais
(precárias) das regiões inseridas na América Latina.
A segunda fase do movimento de integração foi marcada
pela criação da ALALC – Associação Latino-Americana de
Livre Comércio, em 1960, mas originada em 1950 com a
constituição do Pacto Andino e da CARICOM - Comunidade
Caribenha. A criação da Alalc foi subscrita, num primeiro
momento, pelo Brasil, Argentina, Chile, México, Peru,
Paraguai e Uruguai. A Colômbia e o Equador entraram em
1961, a Venezuela em 1966 e a Bolívia em 1967. Em 1969,
pelo Protocolo de Caracas, o mercado comum entraria em
vigor em 31 de dezembro de 1980.
Em 1961 a carta de Punta del Este criou a Aliança para
o Progresso dentro da estrutura da operação Pan-americana,
cujos propósitos integracionistas receberam o aval do
governo norte-americano e uma grande ajuda financeira para
sua concretização. A Alalc, entretanto, bem cedo deu sinais
de inoperância. O grande problema, além da baixa
comunicação entre os paises latino-americanos, é que não
havia diversidade nos bens comercializados, pois as
economias regionais se baseavam sempre na exploração do
mesmo produto. As boas intenções contidas no programa
Aliança para o Progresso tampouco apresentavam resultados.
Depois de tantas tentativas frustradas foi somente a
partir de 1980 que o regionalismo renasce na América Latina
e nova tentativa é feita, com a criação da ALADI –
Associação Latino-Americana de Integração. A “Integração”
do nome é em parte em decorrência do retorno da democracia
em todos os países que estavam sob governos autoritários.
Além de ser um fato inédito em todo o continente latino-
americano, a democratização trouxe o despertar de uma nova
articulação política e um novo espírito de solidariedade
regional. Com perspectivas mais realistas, o acordo teve
mais sucesso que os anteriores. O objetivo era obter uma
identidade mais flexível e dinâmica, permitindo a formação
de acordos bilaterais entre os paises membros, bem como
respeitar e reconhecer as diferenças entre eles, para que
cada um alcançasse as metas conforme seu respectivo estágio
de desenvolvimento econômico.
Em meio a essa atmosfera politicamente favorável pelo
espaço aberto pela Aladi, se estabelece um diálogo de
cooperação entre Brasil e Argentina, que vai evoluir no
futuro projeto de um mercado comum, quando recebe a adesão
do Paraguai e Uruguai. Na orientação de seus propósitos
iniciais, no entanto, o novo processo iniciado pelo Brasil
e Argentina é eminentemente político e assim é o texto dos
documentos assinados por ocasião da Declaração de Iguaçu
(1985), da Ata de Amizade Brasil-Argentina (1985) e Tratado
de Integração, Cooperação e Desenvolvimento (1988). O
movimento integracionista da América Latina iniciado nessa
mesma década de 1980, depois da insatisfação generalizada
com os resultados da Alalc, deveria trazer uma proposta
para um mercado comum regional ao final de 12 anos (ou
seja, começaria a vigorar em 1983).
A abertura política ocorrida na década de 1980 faz
dela como a de um “aprendizado doloroso”, pois marca a
passagem da América Latina por grandes e graves
dificuldades econômicas e financeiras de tal monte que
muitos observadores a classificaram como “a década
perdida.” O aprendizado doloroso, no entanto, serviu para
fazer com que a América Latina avançasse na percepção de
sua realidade, se conhecesse melhor e manifestasse maior
sensibilidade diante das condições sociais precárias em que
estava sua gente. Através de seu aprendizado, a América
Latina também percebeu que estava isolada do resto do mundo
e que deveria intensificar a solidariedade interna para
poder enfrentar e superar suas dificuldades externas. Desta
forma, foram desenvolvidas estratégias para uma articulação
política regional através de reuniões, conferencias e
planos de ação conjuntos cuja finalidade era aprofundar as
relações intralatino-americanas e criar mecanismos de
afirmação externa. Os eventos mais importantes foram: a
Reunião de Lima (1982), a formação do Grupo de Contadora
(1983), depois transformado em Grupo do Rio em 1986, a
Declaração do Plano de Ação de Quito (1984), as Reuniões de
Cartagena (1984), Montevidéu (1985), Acapulco (1987), Punta
del Este (1988) e Ica (1989), a reunião chamada de Cumbre
de Presidentes latino-americanos, na qual os “mandatarios
americanos declararon su aspiración de vivir en un mundo
progresivamente abierto, con menos rigidez ideológica y más
independiente, en el que se pueda dar la democratización
del sistema internacional.” (Rivas, 2004)
O Brasil participou de quase todos os tratados
efetuados na América Latina e também sofreu com o fracasso
deles, devido a pelo menos quatro razões (Seabra e
Formaggi, 2004): a política nacional protecionista e
incompatibilidade com o principio de liberalização
comercial; a predominância de governos não democráticos que
enfatizavam a rivalidade e problemas fronteiriços com
paises vizinhos; problemas sérios com a economia,
principalmente pelas crises de pagamento e inflação elevada
e a proibição, por parte dos Estados Unidos, de formação de
acordos regionais.
Lamentavelmente nenhum dos acordos assinados na
América Latina se preocupou com o uso, ensino e
aprendizagem das línguas faladas nos seus países membros.
Nem o MERCOSUL. A diferença, no entanto, entre este e os
outros é que o Capitulo VIII do Protocolo de Ouro Preto
trata dos idiomas em que serão comunicados os documentos,
fazendo com que o Brasil percebesse que deveria preparar
gente para poder manusear esses documentos. No artigo 46 do
Protocolo se lê: Los idiomas oficiales del MERCOSUR son el español y el
portugués. La versión oficial de los documentos de trabajo será la del idioma
del país sede de cada reunión.
Em 1989 é criado o NAFTA e os Estados Unidos,
convertido ao Novo Regionalismo, se unem a países menores
economicamente, como o Canadá e México. Em 26 de marco de
1991 Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai assinam o
Tratado de Assunção, que preve a formação do MERCOSUL –
Mercado Comum do Sul a partir de janeiro de 1995. Os
objetivos do acordo não tratam somente da união aduaneira,
mas também da implementação de programas em áreas alem do
comercio, como arranjos cooperativos monetários e
educacionais, posteriormente.
a) O MERCOSUL
O MERCOSUL veio dar um aspecto diferente à sociedade
brasileira principalmente quando se questiona a importância
e o domínio das línguas dos paises que o compõem. O que se
torna globalizado tem também alteradas suas relações de
referências e práticas culturais. Para fechar contratos e
exportar, empresas e empresários devem ser capazes de
estabelecer uma situação comunicativa eficaz com o
interlocutor, tomando por base o uso efetivo da língua,
privilegiando a intertextualidade de um texto motivador – e
recorrendo a conhecimentos já interiorizados, tanto pelo
locutor quanto pelo interlocutor. A realização de um
negócio requer não somente o conhecimento prévio sobre a
área a ser negociada, mas a língua em que se efetua e,
sendo este um negocio internacional, os interlocutores
devem levar em conta as alterações das relações culturais
para que haja sentido em cada situação comunicativa. Para
entender a complexidade cultural dentro das questões
trazidas pela globalização, pelos acordos internacionais
tão freqüentes, é preciso o domínio de pelo menos duas
línguas: a materna e uma estrangeira. No caso, a
estrangeira na qual se realiza o negocio.
O MERCOSUL nasceu baseado nos ideais do PICE -
Programa de Integração e Cooperação Econômica de 1985. O
nome deveria ser “Mercado Comum del Cono Sur” o que
restringiria, geograficamente, as perspectivas já presentes
de ampliação. Assim, em 26 de março de 1991 o acordo é
firmado entre Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai como
“Mercado Comum do Sul” o que não impediria a entrada de
outros países sul-americanos. Em 1996 o Protocolo de Outro
Preto deu personalidade jurídica ao MERCOSUL.
Em outubro e dezembro de 1996 Chile e Bolívia,
respectivamente, celebraram acordo de adesão ao MERCOSUL.
Fora as repercussões políticas e comerciais de ordem
regional, a adesão do Chile ao MERCOSUL amplia as
fronteiras do comercio para ambas as partes: os países do
Cone Sul passariam a contar com um corredor que lhes
permitisse acessar o Oceano Pacífico, como o Chile poderia,
finalmente, contar com maiores facilidades para atingir o
Oceano Atlântico.
Depois de 14 anos de criação, o MERCOSUL se encontra
em pleno processo de reformulação devido principalmente não
só à efetivação de antigos tratados (CAN, CARICOM), mas
como à criação de novos projetos de associações americanas
como a ALCSA – Associação de Livre Comercio Sul-Americana,
ASC – Aliança Social Continental e ALCA – Área de Livre
Comércio das Américas.
II – O NOVO FUTURO DO ESPANHOL COM O MERCOSUL
Há muito tempo o inglês se tornou a principal
ferramenta dos negócios internacionais e por isso presente
nas políticas educacionais adotadas no Brasil desde a
Reforma de 1855. O problema é que o século XX, mais
precisamente a ultima década, trouxe uma novidade para a
sociedade e em especial para os negócios do Brasil: saber
inglês não basta. A globalização trouxe o
interculturalismo, que anula diferenças, impõe a cultura do
mais forte; sendo assim, as políticas educacionais não
podem apenas incentivar o ensino do inglês, como vem
fazendo há 150 anos, pois o brasileiro está exposto agora,
como nunca esteve antes, às culturas hispano-americanas
estreitadas pelo MERCOSUL. Não basta saber uma só língua,
ainda que as leis garantam essa LE desde o Ensino
Fundamental e duas, conforme a disponibilidade da escola,
no Ensino Médio; é preciso saber usá-la em situações
concretas de trabalho.
Então, para as novas relações internacionais,
fomentadas pelo Novo Regionalismo, é preciso repensar o
ensino de LE e a questão educacional em que elas se
apresentam. O interculturalismo, entendido como o momento
em que duas ou mais culturas se interagem, envolve
atitudes, comportamentos, costumes, além de evidenciar
contrastes e diferenças, que vão se tornar os pontos
indiciais sérios e relevantes para o desenvolvimento humano
e para as relações de cortesia entre os países. Investir na
valorização da bagagem cultural e pessoal dos falantes é
preservar as identidades e diferenças, não fazendo com que
se anulem frente á imposição inquestionável do mais forte.
Se a cultura é caracterizada como “a totalidade dos
padrões comportamentais transmitidos socialmente: artes,
crenças, instituições e todos os outros produtos do
trabalho humano e pensamento característicos de uma
comunidade ou população” (Bastos, 2003), então ao conhecer
uma LE o aprendiz brasileiro deve estar preparado para
apreciar também a lógica e o significado que ela tem para o
falante estrangeiro, como o são todos os hispano-
americanos. Esse conhecimento da cultura do outro levará o
aluno a criar uma “moldura de referencia” para o povo que a
criou. Por seus aspectos verbais e não verbais, os membros
de uma comunidade lingüística expressam e criam
experiências através da linguagem falada, escrita ou
visual. “A língua simboliza a realidade cultural: os
interlocutores se identificam por meio do uso da língua que
é considerada o símbolo da identidade cultural” (op. Cit)
O código lingüístico de um povo reflete sua maneira de
pensar e o contexto em que está inserido este código
complementa os significados. Quando se aprende uma LE, e
isso deve ser sempre para fins comunicativos, conhecer
apenas o léxico e a gramática dissociada de seu uso
situacional adequado não vai levar o aprendiz a entendê-la
em seus aspectos mais práticos: o que dizer, como dizer,
quando dizer e a quem dizer aquelas palavras soltas,
aprendidas fora de seu contexto específico e situacional:Entendemos, portanto, não ser suficienteaprendermos somente o significado isolado daspalavras numa outra língua. Sendo assim, paraconstruirmos o significado e a interpretação dosconhecimentos, temos necessidade de entender ocontexto ideológico-cultural e situacional paracompreendermos o conjunto de idéias que regemprincípios, moral, costumes e a maneira de ohomem (inglês ou espanhol) se comunicar consigo
mesmo, com outros homens e com o mundo. (BASTOS,2004)
Para que a compreensão de todos os aspectos envolvidos
numa negociação internacional seja então efetuada, é
preciso atentar para a identidade cultural dos grupos, que
podem ser percebidas por aprendizes de LE de maneira
estereotipada, pois, segundo Bastos (op. Cit) o que é
percebido pelo aprendiz sobre a cultura e a língua de um
estrangeiro “é o que fomos condicionados pela nossa própria
cultura a ver e dos modelos estereotipados construídos ao
nosso redor de antemão.”
A conexão entre língua e identidade cultural recebe
atenção no mundo todo em virtude do fato de que a língua
está intimamente relacionada ao modo de pensar das pessoas
e isso as faz ver como se comportam e influenciam o
comportamento dos outros. Com a globalização, as relações
lingüísticas e culturais das comunidades urbanas modernas
em contato com outras, através das fronteiras políticas
abertas, obrigam o conhecimento de várias línguas porque as
fronteiras da identidade cultural são ampliadas e
modificadas diariamente.
As pessoas que integram comunidades que já fazem parte
da “era da informação” - geralmente integrantes de
sociedades de tradição intelectual e industrial, urbanas e
cosmopolitas -, têm acesso ao instantâneo e às redes de
informação via internet, aliadas que estão ao privilegio de
viagens nacionais e internacionais. Esse, geralmente é o
perfil desejado pelas empresas economicamente competitivas,
no mundo e no Brasil.
Silva (2004) mostra que as empresas exportadoras
brasileiras, responsáveis por 95 bilhões de dólares,
“recorde histórico” na economia, exigem muito mais que um
diploma universitário. Essas empresas, competitivas no
mercado externo, são muito mais seletivas do que eram e as
vagas só serão preenchidas por candidatos que apresentarem
conhecimento muito acima do que suas funções possam exigir.
Para a autora, quem fez um MBA – Master in Bussiness
Administration, um curso de pós-graduação “puxadíssimo que
pode custar, no Brasil, cerca de 12 000 dólares por ano – e
acha que tem uma vaga garantida como gerente pode estar
redondamente enganado.” Mesmo com todo esse custo, MBA
virou apenas um pré-requisito na maior parte das companhias
lideres em seus segmentos.
Um curso básico para o administrador, para o
exportador e cuja sigla não foi traduzida, pressupõe
imediatamente que o inglês (fluente) nem é mais o
diferencial; é exigência de mercado.
Para coleta de seus dados, Silva (op.cit) ouviu 30 das
48 maiores companhias exportadoras do país para saber qual
o perfil do profissional que teria êxito em contato com o
mundo globalizado (as 30 empresas entrevistadas exportaram
34 bilhões de dólares entre janeiro e outubro de 2004).
Todas concordaram que a boa formação acadêmica não era
“suficiente para garantir uma colocação profissional na
área de comércio exterior e nos outros departamentos que se
envolvem com a exportação (jurídico, de logística,
finanças, planejamento e estoques)” Metade delas exige que
seus funcionários falem o espanhol fluentemente. A
exigência do espanhol por essas empresas que exportam
bilhões de dólares é resultado do MERCOSUL, que abriu
oportunidades muito grandes para empresas brasileiras, não
só para negócios com a América Latina, mas também com a
Espanha e União Européia.
Durante muitos anos a Espanha esteve sob domínio de
governos autoritários, mas a partir da década de 1980
começou a se estruturar para poder ingressar na Comunidade
Européia, e depois, na União Européia. Uma das ações
iniciadas pela Espanha foi fazer investimentos nos países
hispano-americanos, com estimados 54,6 bilhões de dólares
investidos na América Latina, 16,3% deles deixados no
Brasil. Com a volta da democracia ao Brasil nessa mesma
década e principalmente com os novos rumos econômicos
tomados a partir de 1994, com a venda de muitas empresas
públicas por Fernando Henrique Cardoso, um dois países que
mais comprou empresas brasileiras foi a Espanha. Isso fez
com que também ela se interessasse em investir em outros
setores, como a propagação de sua língua através da
Consejería de Educación da Embaixada da Espanha no Brasil.
a) O Espanhol no Brasil
A língua espanhola esteve presente no currículo
obrigatório das escolas secundárias entre 1942 e 1960,
tendo sido retirada não só pela falta de professores
(pouquíssimas universidades públicas e privadas tinham no
curso de Letras a habilitação em Espanhol) e material
didático (existiam apenas dois livros: “A Gramática de
Língua Espanhola para uso dos brasileiros”, de Antenor
Nascentes e “Manual de español: gramáticas y ejercicios de
aplicación; lecturas; correspondência; vocabulário;
antologia poética”, de autoria de Idel Becker, ambos
publicados nos anos de 1930), mas principalmente pelo
privilégio alcançado pelo inglês depois das várias reformas
sofridas pelo ensino secundário brasileiro após 1961. Ambos
tratavam o espanhol como “língua fácil” e que se
contrastada suas palavras com as do português, seu
aprendizado se daria sem nenhuma dificuldade. Essa idéia,
errônea, fez com que o brasileiro em geral pensasse que não
precisaria aprender espanhol pelo simples fato de ser
brasileiro. O livro de Idel Becker é publicado até hoje.
A partir da segunda metade da década de 1980 o
espanhol voltou qual “fênix das cinzas” (Camargo, 2003),
antes mesmo da criação do MERCOSUL. E ressurgiu com um
apetite voraz, com fortes tendências a se tornar a segunda
língua mundial em poucos anos, por ser falada por 400
milhões de pessoas nos 21 países do mundo em que é língua
materna. Incentivos da Espanha pela divulgação da língua na
Europa e na América Latina, fazem do espanhol a nova
ferramenta para solução de problemas econômico-
administrativos no Brasil, que hispânico em sua
ancestralidade (não só a Lusitânia era parte integrante do
império Romano na península Ibérica, como Portugal
pertenceu durante 60 anos à Coroa espanhola), por motivos
puramente políticos, esteve de costas para seus vizinhos
nos últimos 500 anos.
Com a democratização da América Latina na década de
1980, Brasil e seus vizinhos puderam participar de
processos de integração ao mesmo tempo em que as
universidades que mantinham cursos de Letras com
habilitação em espanhol (USP, UFRJ, PUC-RS) começaram a
reunir seus professores em associações. A abertura política
também permitiu a discussão das políticas lingüísticas
quanto ao plurilingüismo nas escolas. E o movimento não foi
só com professores de espanhol: os professores de francês
também questionavam a volta da língua aos currículos, que,
devido às varias reformas educacionais brasileiras, só
davam oportunidades ao ensino do inglês. O mais
interessante é que essas manifestações fizeram com que os
professores de História e Geografia também buscassem pontos
comuns entre seus conteúdos escolares não só no Brasil, mas
principalmente com o que aprendiam os estudantes do
MERCOSUL como um todo. O documento se chamou “Para uma
História e Geografia da Integração Regional” e foi aprovado
em Brasília em 2 de junho de 1995, como “marco na
aproximação dos quatro povos.” (Saraiva, 1995)
Assim, quando em 1987 foram criados os primeiros
centros de ensino de línguas estrangeiras no estado de São
Paulo para alunos da rede pública, as regiões sudeste e sul
começaram a pressionar o retorno do ensino de espanhol nas
escolas. A realização dos acordos políticos e econômicos
deixou grandes influencias para as futuras decisões na
região sudeste, a financeiramente mais sustentável, e São
Paulo rapidamente assumiu a “luta” sediando o Instituto
Cervantes, órgão espanhol por excelência para a difusão da
língua castelhana. O movimento de professores e
instituições dedicados ao ensino da língua espanhola
cresceu com a assinatura do MERCOSUL, fazendo com que o
então presidente Itamar Franco remetesse ao Poder
Legislativo o Projeto de Lei 4.004/93 para o ensino
obrigatório do espanhol nas escolas brasileiras. O projeto
criou muitas polêmicas, apesar de já ter sido aprovado pelo
Senado e a razão é democrática: se as leis da educação
defendem o plurilingüismo (são duas as LE para o Ensino
Médio) - ainda que só exista uma há 150 anos, o inglês -
como obrigar o ensino do espanhol?
São os rumos do planeta, entretanto, que traçam o
retorno do espanhol: ele chega célere e avesso às questões
puramente burocráticas. O MERCOSUL impõe o espanhol no
Brasil por questões de sobrevivência e o passado, que
desculpava o portunhol, permitindo o aprendizado capenga da
língua, cada vez fica mais distante pela exigência das
exportadoras, dos empresários competitivos e pela vontade
de fazer o diferencial no mercado. No momento em que mais e
maiores grupos econômicos se formam, o Brasil,
obrigatoriamente teve que engajar-se no aprendizado
consciente do espanhol em apenas 10 anos ou perderia
excelentes oportunidades de negócios com a América e
Europa.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
AKKARI, Adeljalil, NOGUEIRA, Natania e MESQUIDA, Peri.
Globalização e Educação: tendências, paradoxos e
perspectivas. in: Comunicações – Caderno do programa de
pós-graduação em Educação. Ano 9, n.1, junho de 2002.
BASTOS, Neusa Maria. O mundo globalizado e a importância do
domínio de línguas materna e estrangeira. in: PEREIRA, H e
ATIK, M (orgs.) Língua, literatura e cultura em diálogo.
São Paulo: Mackenzie, 2003.
BOAVENTURA, E. e PÉRISSÉ, P. Educação e Globalização: uma
perspectiva planetária. in: Ensaio: Avaliação e Políticas
Públicas em Educação. Fundação Cesgranrio. V.7, n.22,
jan/mar 1999 págs 83-90.
CAMARGO, Moacir. Estrangeiro de si mesmo: conflitos no
processo de construção identitária de um professor de
espanhol no Brasil. Dissertação de Mestrado em Lingüística
Aplicada. UNICAMP, São Paulo, 2003. 146 págs.
MERCOSUL de fato! Fatores de Competitividade para o Sucesso
Empresarial em um novo e forte Mercado Emergente. Simonsen
Associados. São Paulo: Makron Books, 1998.
POLETTO, Dorivaldo. A CEPAL e a América Latina. Porto
Alegre: EDIPUCRS, 2000.
RIVAS, Eduardo. El futuro del MERCOSUR: uma visión
politica. Comunicação & Política. N.s., v.XI, n.1 pág 171-
203.
SARAIVA, José Flavio. Os avanços educacionais do MERCOSUL.
in: BRANCATO, Sandra e MENEZES, Albene (orgs.) Anais do
Simpósio O Cone Sul no Contexto Internacional. Porto
Alegre: EDIPUCRS, 1995.
SEABRA, Fernando e FORMAGGI, Lenina. Alca e MERCOSUL:
perspectivas de desenvolvimento e coexistência com o
multilateralismo. in: CHEREM, Ma. Tereza e SENA Jr.,
Roberto. Comercio Internacional e Desenvolvimento: uma
perspectiva brasileira. São Paulo: Saraiva, 2004.
SILVA, Chrystiane. A Volta dos Empregos. Veja. São Paulo,
ano 37, n. 49, p.40-47. 8 de dezembro de 2004.
SILVIO, José. La virtualización de la universidad: ¿Cómo
podemos transformar la educación superior con la
tecnología? Colección Respuestas n. 13. IESALC/UNESCO.
Caracas: 2000.
WEINBERG, Mônica. 7 lições da Coréia para o Brasil. Veja.
São Paulo, ano 38, n. 7, p.60-69. 16 de fevereiro de 2005.