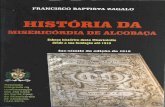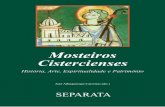A Hospedaria do Mosteiro de Alcobaça - Um passado, um presente, uma proposta de futuro
A vinha e o vinho dos cistercienses de Alcobaça (séculos XVIII e XIX)
Transcript of A vinha e o vinho dos cistercienses de Alcobaça (séculos XVIII e XIX)
A vinha e o vinho dos cistercienses de Alcobaça (séculos XVIII e XIX)
António Valério Maduro
GEHVID/CETRAD; História [email protected]
RESUMO
A vinha explorada directamente pelos monges cistercienses de Alcobaça recebia um conjunto de benefícios culturais. Interditava-se ou restringia-se as sementeiras de cereais praganosos para evitar a disseminação de afídios, mandavam-se cavar os pés das cepas para evitar os danos radiculares provocados pelas alfaias de canga, cuidava-se dos compassos, proibia-se a adubação das vinhas para que a produção excessiva não empobrecesse o teor alcoólico do vinho, fazia-se a colheita separada de brancas e tintas. O vinho era produzido em regime de monopólio nos lagares de varas do Mosteiro de Alcobaça sob o método de bica aberta. As brancas dominantes nos povoamentos (cerca de 80%) fermentavam à parte das tintas de cobertura. Na fermentação adicionava-se arrobe, camoesas e cascas de laranja para fortalecer e frutar o palheto.
PALAVRAS-CHAVE
Cister, Alcobaça, Vinha, Vinho
ABSTRACT
The vineyard directly explored by the cistercian monks of Alcobaça received a great number of cultural benefits. The sowing of small grain cereals was forbidden and limited in order to avoid the dissemination of aphides; the rootstock was digged out to avoid root damages caused by the yoke implements; the distances were respected; the manuring of the vineyards was forbidden so that the excessive production didn’t empoverish the alcoholic nature of the wine; a separate harvest of the white and red grapes was carried out. The wine was produced within a monopoly regime in the beam wine presses of the Monastery of Alcobaça using the open spout method. The dominant white grapes in the settlements (about 80%) fermented apart from the covering red grapes. Fruit syrup, pippins and orange peels were added in the fermentation to strenghten and fructify the palheto wine.
KEY WORDS
Cistercian, Alcobaça, Vineyard, Wine
Os coutos cistercienses de Alcobaça compreendiam um território de 440 Km2. A sua paisagem estendia-se desde as cimalhas da Serra dos Candeeiros até às arribas marítimas, abrangendo uma orla costeira que de Salir do Porto alcança S. Pedro de Moel. O senhorio concedido por D. Afonso Henriques no ano de 1153 sofreu ulteriores alargamentos, em virtude de doações e da capacidade política dos monges em se apossarem de territórios vizinhos. Este território estremenho que Leite de Vasconcelos identifica como uma região destacada da Estremadura Cistagana compreendia 13 vilas, das quais 3 eram portos de mar. Mas o domínio de Alcobaça prolongava-se para outros espaços. O seu património fundiário não se limitava às terras de Alcobaça, possuindo muitos bens em Óbidos, Santarém, moinhos e azenhas de farinar pão no rio Lis... O termo desta unidade política, administrativa e económica só chega com o decreto de extinção das ordens religiosas de 28 de Maio de 1834, embora os monges já tivessem abandonado o Mosteiro em 1833.
54 António Valério Maduro
Ordem de natureza contemplativa e senhorial, o corpo cisterciense procurou desen-volver economicamente o território atraindo colonos, recebendo homiziados, a fim de transformar a paisagem primitiva, de florestas e matagais, numa paisagem produtiva. Os primeiros passos levam ao trabalho das terras da Cerca do Mosteiro e da criação das Granjas no século XIII. Aos povoadores concedem-se alfaias e sementes, madeiras das matas coutadas para levantar casas e cómodos agrícolas e o direito pleno do solo quando trabalhado regularmente pelos anos estipulados nas cartas de povoamento. Mas os monges reservam como autoridade o direito sobre as águas e os ventos que animam moinhos, azenhas e outras indústrias e sobre o fogo das forjas e oficinas e até dos fornos de cozer pão.
Os cistercienses de Alcobaça mantiveram praticamente intactos os seus direitos dominiais, senhoriais e os monopólios sobre os meios de produção. Cobravam os quintos da azeitona (no olival), alhos, cebolas, linho, fruta e uvas brancas (as tintas de cobertura estavam isentas) e o quarto dos legumes e pão; os dízimos verdes, de sangue e pescarias; a jugada e fogaça de um alqueire de trigo sobre os lavradores; as portagens; os terrados de feiras; a galinha de casaria sobre qualquer fogo; as maquias de lagares de azeite (dízimo do melhor azeite); os foros de moinhos e azenhas e das terras de cultura, a lagarádiga por fabrico do vinho...
O Mosteiro e os coutos conheceram um conjunto de revoluções que se reflectem em alterações estruturais e funcionais do espaço arquitectónico e da paisagem, o que denúncia, no último caso, uma reflexão económica sobre o território e uma materialização de planos agronómicos.
A partir do século XVIII vive-se um tempo de renovação da paisagem e de superação de um conjunto de obstáculos à produção. O alvo dos monges agrónomos virou-se para a ocupação dos baldios e matas de folhosas que tomavam as ladeiras e baixas da Serra dos Candeeiros chantando milhares de pés de oliveiras e para o enxugo e regulação hidráulica dos campos do Valado, Cela e Alfeizerão para disseminar o maís e mais tarde o arroz, que, aliás, vai entrar em consociação com o milho. Novas técnicas e métodos de trabalho da terra erradicaram o pousio, ampliando a renda agrícola ao multiplicar os frutos da terra, contrariaram a promiscuidade cultural, entre outros feitos. Na realidade, o pousio é suprimido no espaço das Granjas, graças a uma intensificação das adubações, a um novo regime de afolhamentos e rotações e alternâncias culturais. As culturas forrageiras responsáveis, em grande medida, por este feito contribuem para romper com o funesto ciclo de abate do gado no período do Inverno. Mais adubos e cuidados culturais levam a que um alqueire de semente de trigo responda por sete a oito alqueires e que o milho grosso atinja entre trinta a trinta e dois alqueires, já o arroz abalançava-se a uma média de um para quarenta. Os pomares de árvores frutíferas, assim como as vinhas, são isentos de concorrência de cereais praganosos a fim de os proteger da praga dos afídios tão danosa para os resultados das colheitas, embora se cheguem a permitir estas culturas com a condição de serem segadas em verde (ou seja, para forragem e não para pão), os cuidados multiplicam-se com a interdição de lavras com arados, aravessas e charruas
55A vinhA e o vinho dos cistercienses de AlcobAçA (séculos Xviii e XiX)
junto ao colo de árvores e cepas para não lesar a sua estrutura radicular, avisando-se os rendeiros que utilizem apenas a enxada, estudam-se os compassos apropriados para fornecer ao ser vivo o alimento que leve a uma boa frutificação e deixar espaço útil às intervenções culturais, aos trabalhos de colheita e carreto da safra (no caso do olival da beira serra dos Candeeiros, os tanchões eram alinhados de nove em nove metros e as fileiras guardavam entre si dezassete metros), seleccionam-se os frutos de semente, praticam-se enxertias para melhorar as variedades e obter frutos dulçorosos e de cabeça, a vinha e as árvores de fruto deixam de coabitar, com a excepção de algumas cercaduras de vinhas por pereiras e marmeleiros, os pomares passam a compreender exclusivamente frutos de espinho, caroço e pevide, ensaia-se o combate de praga contra praga e criam-se canteiros de culturas, como as favas, tão atreitas aos piolhos, isoladas por sebes, no seio dos pomares para atrair as pragas e minimizar as infestações nas fruteiras.
Todas estas vantagens nascem da curiosidade, de uma experiência que se pode reputar de científica, mas também dependem de um intercâmbio de conhecimento e descobertas que as casas cistercienses divulgam em rede e de uma releitura crítica de tratadistas clássicos como Collumella, Catão e Varrão. As Granjas cistercienses constituem o palco privilegiado da inovação, aqui se ensaiam as rotações culturais mais apropriadas, se estuda o sucesso da paleta de culturas em relação ao tipo de solo, a sua disposição e orientação para benefício do amplexo solar e protecção de ventos dominantes, se melhoram as aptidões de frutificação. No seu contexto, como sustentava Vieira Natividade, as Granjas serviram de Escolas e Laboratórios onde se desenvolveu a arte agrícola, contribuindo para levar até ao limite as potencialidades da lavoura do Antigo Regime.
Os índices de produtividade dos frutos da terra ultrapassavam claramente a barreira da autarcia e abonavam privilegiadas relações de mercado com outras comarcas. No século XVIII, o trigo alcança a relação de uma semente para oito1 (o rendimento médio das searas das terras de Alcobaça no alvor do século XX situava-se neste quantitativo) e no milho maís esta relação explodia para as trinta a trinta e duas sementes2. Embora o cronista apresente este resultado como global para a comarca, algumas cautelas devem ser colocadas na interpretação do documento, como já o tinha assinalado Nuno Monteiro (1985), p.58. Em primeiro lugar, estes valores referem-se a culturas de regadio, pelo que podemos excluir em definitivo o sequeiro, e, em segundo lugar, circunscrevem-se às terras de campo integradas na reserva monástica. De facto, a engenharia hidráulica cisterciense dissemina o milho grosso nos campos da Maiorga e do Valado (Quinta do Campo), revolução que tem um impacto extraordinário na paisagem, na demografia e na transformação do regime alimentar das classes populares que passam a adoptar a broa em detrimento do pão de trigo cozido com fraca taxa de extracção.
O impacto do milhão reflecte-se na sociedade, na economia e até na iconografia da talha e azulejaria. A semente torna-se predominante nos foros e doações, a sua vantagem
1 Perguntas de Agricultura dirigidas aos lavradores de Portugal – Academia Real de Sciências de Lisboa (item 22), 1787; B.N.L., códice 1490, fl.43.
2 Perguntas de Agricultura (item 22); B.N.L., códice 1490, fl.43.
56 António Valério Maduro
reprodutiva faz perder os milhos miúdos, altera as estruturas de apoio à produção ao adoptar a eira quadrangular de pedra que passa a concorrer na região com as eiras redondas ou trigueiras (de matriz mediterrânica), introduz o malho na debulha (para o trigo utilizavam-se trilhos e pés de gado), os espigueiros de madeira fixos ou móveis para a seca do cereal, multiplica as tulhas e arcas de arrecadação do cereal e nos moinhos eólicos de torre de madeira e pedra e hidráulicos de rodízio e azenhas dá vantagem aos aparelhos segundeiros sobre os alveiros.
Também a produção de azeite descola com o plano agrário setecentista de povoa-mento olívicola conduzido na beirada da Serra dos Candeeiros. Como uma mancha em mata-borrão todo o plaino da Serra foi tomado pelo olival, através das plantações extensivas do Mosteiro e das furtivas tomadias populares ao longo do século XIX. As diferenças de escala e de organização distanciam as plantações monásticas das campesinas. Plantam-se grandes olivais como o da Granja de Val Ventos (com cerca de 60.000 pés) ou do Santíssimo Sacramento da Ataíja (com 17.000 a 18.000). Só em Val Ventos chegaram a almudar setenta pipas de azeite, exibindo as 23 pias de pedra, em que se albergava este óleo, uma capacidade superior a 166 pipas. Já a capacidade de reserva instalada do edifício conventual dividia-se em19 pias que podiam receber para cima de 49 pipas de azeite.
O critério de autarcia em Alcobaça responde a fundamentos ideológicos e a pressupostos da economia senhorial, mas na prática trata-se de um mito, dado que as terras dos coutos primavam por excedentes de renda que impunham dinâmicas relações de mercado e comércio. Quem ler Frei Manuel dos Santos (1979), p.20, pode ficar equivocado quanto ao teor do seu discurso. Diz-nos o erudito que:
“Se fechassem com hum muro as mesmas terras, e coutos, tem dentro em si, sem haver necessidade de sahir fora, quanto he necessário, e se pode desejar para delicia, e alimento da vida humana: carnes, gados, caça de todo o género, lacticínios, peixe; pam, vinhos e azeites, legumes (…)”.
Mas esta exposição assume uma dimensão política, em que o que se conta são os feitos dos monges em matéria de organização e gestão do território e nomeadamente a sua obra na lavoura.
Da barra de S. Martinho saíam muitos milheiros de fruta de caroço para Lisboa e outras comarcas, muitos moios de trigo, cevada e feijão branco com destino à feira de Vila Franca e à capital, pipas de vinho para Leiria, Santarém e Tomar. Volumosas também eram as produções de azeite, milho grosso, entre outros géneros agrícolas3.
A geografia da vinha e os seus trabalhos culturaisNo território dos coutos o chão de vinha tinha maior expressão nas terras de Alco-
baça, Prazeres de Aljubarrota, Évora de Alcobaça, Maiorga e Valado dos Frades. Mas a pequena vinha camponesa, consociada com múltiplas culturas, enfeitava os povoados.
3 B.N.L., códice 1490, fl.44.
57A vinhA e o vinho dos cistercienses de AlcobAçA (séculos Xviii e XiX)
A vinha é uma cultura que não dava repouso aos braços, ocupando homens, mulheres e crianças num vaivém constante ao seu serviço.
O labor da vinha é essencialmente masculino. Os homens tomavam as funções mais pesadas, como as cavas de plantação, a retancha (repovoar a vinha substituindo os bacelos que morreram) e as operações fecundantes que envolvem um conhecimento técnico, como a poda, a empa ou erguida, a enxertia e a mergulhia. Às mulheres eram atribuídas outras funções consideradas ligeiras e indiferenciadas que as relegam para uma posição de subalternidade neste ciclo agro-laboral. Ocupam-se da junta de vides que os podadores lançam por terra, de arrancar e cravar os paus da empa, de carrear o estrume para o campo, de fazer a redra (cava superficial para desfazer as leivas e limpar a terra das ervas nascediças), de lagartar ou eslagartar a vinha libertando as videiras de pragas de lagartas e pulgões e, mais tarde, de fazer a enxofra para combater o oídio, dar água à cura quando se passaram a dar as pulverizações contra o míldio, desparrar as cepas antes da vindima e vindimar.
Para criar uma vinha nova era necessário abrir valados profundos4, trabalho colectivo e cooperativo de cavadores que só tinha semelhança pela sua violência nas arroteias e espedregas para meter olival.
Embacelado o chão tinha que se prevenir a entrada de gado na propriedade. No contrato de arrendamento da Quinta de Santa Ana (Alcobaça), corria o ano de 1822, o senhorio, que anualmente mandava embacelar a terra, vedava ao rendeiro qualquer pretensão de aí “meter gado de qualidade alguma (…)”5.
A jovem vinha sofria um rol de operações. Um ano volvido era usual arrair ou rolar os bacelos, o que constava em tirar a rama velha para favorecer a rebentação. Segue-se a obrigatória escava para afofar o solo e libertá-lo de ervas como o escalracho que competem com os bacelos. Após três anos do decurso da plantação o costume mandava adiantar a vinha, deixando-lhe uma vara de frutificação (Peixoto, 1890, p.325). A terra da bacelada também era aproveitada com culturas de consociação como o gravanço, o chícharo, entre outras leguminosas, isto até as varas poderem gemer vinho.
Meter ou recuperar vinha exigia disponibilidades de capital por parte do senhorio6. Estrategicamente, as cláusulas de arrendamento obrigam os rendeiros não só a cuidar das vinhas existentes, como mandavam repovoar ou substituir vinhas que a idade ou os granjeios deficientes tinham feito perder, ampliar vinhedos ou meter vinhas em terras onde não existia sequer um pé. Esta política não é uma novidade da época contemporânea, segundo Maria Helena da Cruz Coelho (1983), pp.155, 161-162, em quase 60% dos “contratos agrários sobre vinhas no Baixo Mondego (1300-1450)” prevê-se a colocação de Bacelada.
No ano de 1829, a Quinta denominada de Joaquim Pereira (Prazeres de Aljubarrota) foi cedida por um período de três anos a dois rendeiros, impondo-se, nos respectivos
4 B.N.L., códice 1490, fl.49.5 A.D.L., C.N.A., 1ºof., lv.66, fls.15-16, 20 de Novembro de 1822.6 No ano de 1865, na avaliação do capital necessário para a produção de uma pipa de vinho, estimava-se que a
despesa com a plantação do bacelo representasse 14,7% do valor atribuído ao terreno. A.D.L., Governo Civil, Actividades Económicas, Agricultura, cx.10 (1860-1865).
58 António Valério Maduro
contratos, a obrigação de cada um deles meter no primeiro ano um milheiro de bacelo e nos restantes dois milheiros por ano. Ao termo do contrato, o proprietário dispunha de uma vinha nova com dez mil pés7.
Entre as mobilizações culturais de renovo e povoamento da vinha destaca-se a mergulhia. Esta era uma operação recorrente e indispensável para colmatar as inevitáveis falhas provocadas pela morte das videiras ou para substituir aquelas que se tinham tornado estéreis. Segundo Alarte (1712), pp.76-77 e Aguiar (1876), p.145, este método tradicional de propagação era simples e pouco oneroso, mas implicava alguns contratempos como repetidos fracassos, redução do tempo de vida da cultura, quebra do alinhamento da vinha, o que introduzia, a longo prazo, maiores custos de exploração.
As mergulhias nas vinhas do Mosteiro realizavam-se entre os meses de Fevereiro e Abril. No ano de 1749, para enterrar os mergulhões nas vinhas da Gafa, foram necessárias 113 jornas no mês de Fevereiro e 43 em Março8.
Como salienta Royer (1996), pp.42-43, esta prática ancestral cai em desuso com o surto da filoxera pois nenhum lavrador desejava agora o enraizamento directo da videira europeia tão sensível às arremetidas do “ignóbil insecto”, assim como recusava, pela falta de qualidade, que os rastões americanos se tornassem produtores.
O derradeiro contrato que os notariais registam, em que se alude ao povoamento por mergulhia, data de finais de 1875, apenas dois anos antes de a filoxera principiar a sua incursão mortífera nos vinhedos do concelho de Alcobaça9.
Já a enxertia da vinha era uma técnica pouco explorada pelos cistercienses. Frei Manuel de Figueiredo diz que os lavradores de Alcobaça enxertam pouco as suas vinhas10 e nos livros de contabilidade do Mosteiro apenas encontrámos uma referência em Janeiro de 1748 relativa à despesa com 60 enxertos e 300 plumagens nas vinhas da Gafa11.
Só com a filoxera é que a enxertia se emancipa deixando de ser considerada como um recurso ocasional, assumindo, a partir de então, um papel crucial no povoamento e renovo das vinhas com castas de qualidade superior.
A poda, a empa e a cava são operações matriciais no ciclo agro-laboral da vinha. Trata-se de granjeios indispensáveis à fecundidade e fertilidade das plantas. A exigência destas operações surge, naturalmente, associada no clausulado dos contratos de arrendamento12.
Na escritura de arrendamento, celebrada em 1851, por nove anos, da Quinta da Maceda (Cela), o senhorio determinava “que a vinha sera podada, impada, e cavada
7 Veja-se: A.D.L., C.N.A., 10ºof., lv.6, fls.20-21, 26 de Dezembro de 1829; A.D.L., C.N.A., 10ºof., lv.6, fls.22-24, 26 de Dezembro de 1829.
8 A.N.T.T., Mosteiro de Alcobaça, Livro das Despesas do Convento de Alcobaça, nº5, mç.5, cx.132; Livro de Despesa do Mosteiro de Alcobaça, nº2, mç.5, cx.132.
9 A.D.L., C.N.A., 1ºof., lv.72, fls.69-70, 5 de Outubro de 1875. 10 B.N.L., cód.1490, fl.49.11 A.N.T.T., Mosteiro de Alcobaça, Livro das Despesas..., nº5, mç.5, cx.132.12 Veja-se: A.D.L., C.N.A., 1ºof., lv.1, fls.20-22, 6 de Novembro de 1827; 1ºof., lv.6., fls.21-24, 31 de Dezembro de
1829; 12ºof., lv.4. fls.19-20, 7 de Janeiro 1846; 12ºof., lv.5., fls.46-47, 20 de Novembro de 1847; 10ºof., lv.73, fls.86-87, 24 de Novembro de 1883.
59A vinhA e o vinho dos cistercienses de AlcobAçA (séculos Xviii e XiX)
todos os annos à custa delle rendeiro de que faltando, elles senhorios poderem metter Homens neste trabalho à custa delle rendeiro (…)”13.
A poda constitui, naturalmente, a primeira grande mobilização cultural da vinha e de entre todos os seus amanhos, o de maior significado. Uma vinha que deixa de ser podada passa a ser uma vinha perdida, que regrediu para um estado semi-selvagem.
Nas terras de vinha do Mosteiro, nomeadamente na vinha da Gafa, a poda tinha lugar nos meses de Janeiro e Fevereiro, com prevalência para este último, segundo os informes documentais. A sua mão-de-obra era exclusivamente masculina, sendo necessárias em média 440 jornas anuais14. Em vez de dispersar os trabalhadores, a política de gestão de pessoal deste instituto monástico consistia em concentrar o máximo de assalariados numa propriedade até se dar por concluído o granjeio. Findo o labor, o contingente braçal era sucessivamente reencaminhado para outras explorações (idêntica situação constatamos nas terras de olival). Tal situação implicava o estabelecimento de prioridades que tinham como critérios prováveis a importância económica da exploração, a sua proximidade com o Mosteiro, a previsão da campanha, o estado de maturação das suas frutas, etc.
À operação da poda sucede a empa, trabalho mais subtil e de maior ciência. A empa é um granjeio considerado crucial. Ela permite dar a orientação mais favorável à vinha, beneficiando as videiras do assoalhamento, impede que os cachos, em virtude do seu peso e acção do vento, arrojem no solo ou embatam deteriorando-se, equilibra a capacidade vegetativa dos gomos da vara, estimula a produção e facilita a consecução de futuras podas.
Nas vinhas da Quinta da Gafa empava-se a partir de Fevereiro, sendo Março o mês forte nestes trabalhos. Ocasionalmente, este labor agrícola prolongava-se pelo mês de Abril. A empa da Gafa consumia em média 400 jornas anuais. Nos vinhedos de menor expressão do Mosteiro, a empa começava um pouco mais tarde. Nas vinhas da Cerca e do Retiro tinha curso no mês de Março. Já nas Quintas de Turquel e de Val Ventos, as empas eram serôdias, realizando-se nos meses de Maio e Junho15.
A cava é o último granjeio de maior amplitude que se pratica na vinha. O seu con-tributo é essencial para erradicar as ervas que parasitam as cepeiras, assoalhar a terra e facilitar a infiltração das águas. Enquanto se dava a cava estrumavam-se as terras. Mas os lavradores mostravam-se avessos a esta fertilização. A aplicação de estrumes conduzia a um aumento da produção, mas, em contrapartida, enfraquecia os vinhos, que depressa se adulteravam nas vasilhas. Era este o parecer de Frei Manuel de Figueiredo, que justifica que não se usem ”estrumes nas vinhas, por fazerem os vinhos frouxos e delgados”16.
Segundo V. Alarte (1712), pp.69-70, o calendário das cavas estendia-se por um período dilatado, do mês de Janeiro a Julho, regulando a altura desta mobilização pela condição da vinha, a qualidade das terras e sua localização. As cavas consideradas precoces eram
13 A.D.L., C.N.A., 10ºof., lv.17, fls.71-73, 8 de Fevereiro de 1851.14 A.N.T.T., Mosteiro de Alcobaça, Livro das Despesas..., nº5,mç.5, cx.132; Livro de Despesa do Mosteiro do Real
Mosteiro de Alcobaça, nº7, mç.6, cx.133.15 A.N.T.T., Mosteiro de Alcobaça, Livro de Despesa do Mosteiro de Alcobaça, nº2, mç.5, cx.132; Livro das
Despesas..., nº5, mç.5, cx.13216 B.N.L., códice 1490, fl.49.
60 António Valério Maduro
as que tinham o seu curso entre finais de Janeiro a meados de Março e tardias as que principiavam em Maio e se prolongavam até à entrada do mês seguinte. Nas vinhas do Mosteiro este amanho verificava-se com maior frequência no mês de Maio, embora se dessem cavas de Fevereiro a Junho17. Mas na generalidade das terras de lavoura como esclarece Peixoto (1890), p.326, as cavas serôdias eram as mais praticadas, pela facilidade de encontrar mão-de-obra, pelo regateio das jornas e porque os dias maiores significavam mais trabalho.
Nem sempre o senhorio se contentava com uma única cava, demandando ao rendeiro dar uma segunda cava na vinha. No arrendamento do Casal do Calado (Capuchos – Évora de Alcobaça), o senhorio manda o rendeiro cavar “a vinha e o pomar, pelo menos uma vez cada anno, no mês de Março; e se quiserem, farão outra cava no mês de Maio (…)”18.
Antes da vindima dá-se a desparra ou esfolhada das cepas, retirando o excesso da exuberante vegetação que obscurece os cachos e retarda a sua maturação. Pois, segundo o saber popular, “o melhor cozinheiro é o sol, porque amadurece todas as frutas”. Esta tarefa simples permitia uma maior uniformidade na maturação das uvas, facilitava a realização mais precoce da colheita, contribuía para elevar o grau dos vinhos e melhorar substantivamente os seus atributos. A folhagem colhida não era desaproveitada, servindo de ração verde para o gado.
Com a vindima iniciava-se um novo ciclo de migrações, em que participava uma massa importante de obreiros do género masculino e feminino. Nas propriedades do Mosteiro, Outubro era o mês de eleição das vindimas19. Mas esta operação iniciava-se em Setembro com a colheita das castas brancas. A tradição aconselhava a fazer a vindima no minguante lunar, norma que não podia ser obviamente respeitada nas grandes vinhas.
Os custos de exploração da vinha eram elevados, em virtude dos múltiplos granjeios requeridos ao longo do seu ciclo, estimando-se que consumissem cerca de metade dos proventos obtidos. Nas avaliações realizadas pelos louvados, no ano de 1822, na Quinta da Granja e de Val Ventos, abatia-se metade do efectivo da colheita para satisfazer as despesas com os amanhos20.
Os males da vinha, antes das grandes intrusões que principiaram com a segunda metade do século XIX, são por natureza benévolos. Não existem novidades de doenças e pragas que afectem a saúde e produção dos vinhedos que nos sejam relatadas.
Frei Manuel de Figueiredo na resposta que fornece ao inquérito da Real Academia de Ciências de Lisboa sobre “(...) as suas doenças, bichos, e insectos, que as damnificão, de que remédios usão?”21, esclarece que apenas “o pulgão, e lagarta (…) fazem damno
17 A.N.T.T., Mosteiro de Alcobaça, Livro da Celeiraria, ou da Despesa do Triénio de Frei Paulo de Brito, nº1, mç.5, cx.132; Livro de Despesa do Mosteiro de Alcobaça, nº2, mç.5, cx.132; Livro das Despesas ..., nº5, mç.5, cx.132; Livro de Despesa do Mosteiro do Real Mosteiro de Alcobaça, nº7, mç.6, cx.133.
18 A.D.L., C.N.A., 10º of., lv.73, fls.86-87, 24 de Novembro de 1883.19 A.N.T.T., Mosteiro de Alcobaça, Livro da Celeiraria, ou da Despesa do Triénio de Frei Paulo de Brito, nº1, mç.5,
cx.132; Livro das Despesas..., nº5, mç.5, cx.132; Livro de Despesa do Mosteiro do Real Mosteiro de Alcobaça, nº7, mç.6, cx.133.
20 A.H.M.F., Mosteiro de Santa Maria de Alcobaça, cx.2193.21 Perguntas sobre Agricultura em Geral. (1787). Academia Real de Sciencias de Lisboa.
61A vinhA e o vinho dos cistercienses de AlcobAçA (séculos Xviii e XiX)
nesta comarca, a que só os colonos applicão o catar hua, e outra espécie de insectos, occupando comummente mulheres neste serviço”22.
Esta operação, nas vinhas do Mosteiro, realizava-se entre os meses de Maio a Julho. Em Julho de 1749 pagaram-se 610 jornais às mulheres que eslagartaram a vinha da Gafa, o que mostra a grandeza do granjeio23. Este trabalho de limpeza podia ser repartido por mais de um mês, mas era normal ser feito de um só fôlego, caso contrário as cepeiras que tinham sido expurgadas dos insectos podiam voltar a ser atacadas. Nem sempre o problema ficava resolvido com uma única intervenção, tendo de voltar a mobilizar os ranchos femininos. Os gastos então avolumavam-se. Na conta de cultura da vinha da Gafa de 1748, constatámos que as despesas efectuadas com o lagartar excederam os gastos de granjeios como a poda, a empa e a cava24.
Com a viragem da primeira metade do século XIX, a vinha foi acometida por uma sucessão de patologias que comprometeram não só a sua produção, como a sua própria existência25. A natureza destes novos males era totalmente desconhecida dos agricultores e todas as panaceias tradicionais se revelaram impotentes para lidar com estes surtos. O oídium tuckeri foi o primeiro invasor. As vinhas portuguesas começaram a ser atacadas no ano de 1852.
Conhecemos o impacto que esta doença trouxe às vinhas do concelho de Alcobaça. Antes da sua difusão, a produção média anual de pipas situava-se nas 4.080. Já com o oídio instalado nas vinhas, a produção conjunta dos anos de 1861-1865 regride para as 1597 pipas (ou seja 39% do que se obtinha num único ano antes do flagelo)26. Esta situação tem reflexo não só nos vinhos de pasto, mas também nos vinhos de caldeira27.
A aplicação de enxofre nas vinhas ajudou a recuperar, gradualmente, a produção. Enquanto no ano de 1861 a produção se confinava a 120 pipas, quatro anos volvidos o concelho arrecadava 651 pipas de vinho. Mas esta nova mobilização, imprescindível para o êxito da colheita, acarretou um volume de despesas consideráveis, fazendo disparar os custos de exploração. No descritivo de gastos com trabalhos culturais da vinha (cava, poda, empa, enxoframento e colheita) e operação de fabrico do vinho (pisa e envasilhamento) necessários para a obtenção de uma pipa, a aquisição do enxofre e as jornas dos homens que deram os viros consumiram 46,7% dos custos totais. Esta situação explica que o preço da pipa tenha quase duplicado para se ajustar aos novos encargos da exploração.
A crise do oídio introduziu inovações culturais significativas na cultura da vinha. Para se refugiar de humidades perniciosas, a vinha é obrigada a trepar as encostas, o que
22 B.N.L., cód.1490, fl.49. 23 A.N.T.T., Mosteiro de Alcobaça, Livro das Despesa..., nº5, mç.5, cx.132.24 A.N.T.T., Mosteiro de Alcobaça, Livro das Despesas..., nº5, mç.5, cx.132. 25 Os estragos provocados pelo oídium tuckery foram pela primeira vez observados em estufas na Inglaterra no
ano de 1815. Em 1847 a doença é reconhecida em viveiros na capital francesa. A irradiação do oídium pelas vinhas europeias só se dá, no entanto, a partir de 1851. O Leiriense, 185, 19 de Abril de 1856.
26 A.D.L., Governo Civil, Actividades Económicas, Agricultura, cx.10 (1860-1865). 27 No ano de 1865, a produção de aguardente de bagaço ou vinho baixava para as duas pipas, enquanto a de
ameixa alcançava as 6 e a de medronho as 24. A.D.L., Governo Civil, Actividades Económicas, Agricultura, cx.10 (1860-1865).
62 António Valério Maduro
indirectamente só veio beneficiar os atributos do vinho. A fim de compensar o desterro concedem-se adubações complementares e cavas temporãs. Por outro lado, a qualidade inferior do solo e a procura de uma insolação plena conduzem a um maior espaçamento entre indivíduos, o que vem facilitar os granjeios.
As castas brancas que dominavam o povoamento vinhateiro cisterciense eram mais susceptíveis ao contágio, o que conduziu à sua substituição por tintas (para cima de dois terços do povoamento), o que tem implicações radicais no método do fabrico dos vinhos. O sistema da bica aberta vai dar lugar à curtimenta, rompendo com a tradição e a arte vinícola cisterciense.
Mal a vinha portuguesa recuperava das múltiplas perdas causadas pelos ataques sazonais do oídio, teve de se confrontar, desta vez, com uma praga mortal, baptizada pelo botânico francês Jules Planchon por Phylloxera Vastatrix. O devastador insecto, depois de instalado na parte radicular da planta, condenava-a num prazo que rondava os três e os quatro anos. Já não se tratava agora de uma simples quebra de produção com a morte esporádica de indivíduos ou com a inibição para a frutificação de outros, mas de uma verídica calamidade global com a morte anunciada de toda uma cultura.
A filoxera aporta a França em 1863 e passados quatro anos aporta aos vinhedos do Douro. Esta cinta montanhosa conteve a difusão do insecto, mas no início da década de 80, como refere Martins (1991), p.651, este espartilho deixou de resultar.
A filoxera atinge a 4ª Região Agronómica em 1880. Segundo Azevedo (1891), p.10, a chegada do insecto deveu-se, curiosamente, a uma importação de bacelos do Douro feita pelo Jardim Botânico de Coimbra. O distrito de Leiria conhece os primeiros focos de infecção a partir de 1882 e o concelho de Alcobaça é atingido em 1887.
Quando a filoxera atingiu o distrito de Leiria, mau grado algum desnorte inicial, os lavradores não se encontravam desarmados. A tardia revelação do fenómeno permitiu beneficiar das experiências, meios e soluções preconizados na Europa e na região vinhateira duriense e assim medir os prós e contras dos vários ensaios.
Vários métodos foram ensaiados para aniquilar o nefasto insecto, contam-se entre eles a submersão prolongada da vinha, o ensaibramento ou o recalque dos pés das videiras para matar a filoxera por asfixia. Mas estas práticas eram limitadas pelas condições geográficas das vinhas (proximidade de cursos de água, saibreiras) e evitavam ainda os granjeios e adubações emagrecendo o fruto.
Mais seriamente, as esperanças de vitória sobre a praga repartiam-se entre os partidários da administração de um poderoso insecticida, o sulfureto de carbono, e aqueles que pug-navam pela arranca total e repovoamento das castas europeias sobre cavalos americanos.
Só o sulfureto podia poupar as vinhas de pé franco e evitar o trauma emocional e financeiro do arranque total da vinha, mas este método não se adequava a todos os solos (nomeadamente os de estrutura calcária e argilosa) e, além do mais, como nem todos os lavradores vinhateiros cumpriam a sua missão as reinfestações eram constantes. Depois de algumas hesitações a escolha pelas americanas triunfou decisivamente passando-se a produzir bacelos em massa nos viveiros distritais.
63A vinhA e o vinho dos cistercienses de AlcobAçA (séculos Xviii e XiX)
A filoxera trouxe uma nova vinha e com ela uma matriz cultural de exploração diversa da precedente. Segundo Rasteiro (1892), p.99, a vinha, de maior encorpamento, passou a exigir solos férteis e adubações de apoio para sustentar o seu acréscimo de produção (cerca de um terço mais); ao nível da plantação são-lhe ditadas regras de alinhamento e compasso, indispensáveis para o novo maneio mecânico e tratamento químico. Mas a revolução não se queda por aqui, como menciona Radich (1996), pp.37-43, importam-se novas castas de origem francesa compatíveis com os cavalos americanos; para meter a bacelada requerem-se surribas de maior profundidade e um intervalo de repouso longo até se efectuar a plantação; a enxertia torna-se uma arte maior e um labor imprescin-dível; a poda adequa-se à superior capacidade de frutificação das videiras; as culturas intercalares como o milho e as árvores frutíferas, etc., são abandonadas, pois interferem com a fertilidade da vinha e com a mecanização de suporte.
Para satisfazer o boom da replantação, as mulheres passaram a participar, como actores de primeiro plano, nas actividades da enxertia. A delicadeza da função assentou como uma luva ao espírito feminino, revelando as mulheres uma habilidade que António Augusto de Aguiar (1876), p.365, reputa de rara na execução desta preciosa tarefa. Mas, na prática, os condicionalismos culturais impediram que as mulheres triunfassem num campo que tradicionalmente estava sob alçada masculina.
No concelho de Alcobaça, o povoamento intensifica-se com o início da década de 90, atribuindo-lhe um perfil vinhateiro.
Paradoxalmente, o novo ordenamento cultural da vinha, com distâncias mais longas entre corredores e fileiras de cepas, permitiu alojar maior quantidade de indivíduos por hectare. Este pretenso milagre deveu-se, de facto, à geometrização da vinha e à purga das árvores frutíferas que lhe sonegavam o seu espaço natural. Enquanto no início da segunda metade do século XIX a média de ocupação por hectare no concelho de Alcobaça rondava as 1.500 cepas, nas primeiras décadas do século XX, as boas explo-rações conseguiam segundo Magalhães (1911), p.21, alcançar o feito das 5.000, o que correspondia a cerca de 833 pés de vinha por jeira. A produção por hectare obviamente disparou. Mais indivíduos e melhores produtores, explicam que de uma média de pipa e meia se venham a conseguir resultados de dez pipas.
Em suma, o panorama vitivinícola não terá sofrido grandes transformações durante a primeira metade do século XIX. A produção mantinha-se em torno das 4.000 pipas. Esta actividade, embora trabalhosa, era lucrativa. Tomando como custos de produção de uma pipa de vinho o valor de 2.160 réis (no qual se incluíam amanhos e fabrico), a sua venda rondava o sêxtuplo desta verba. Este cálculo, que tem como referência a década de 50, presume que os vinhos obtidos são todos de pasto28. Com o oídio deu-se o primeiro grande revés nos índices de produção. Ultrapassado o susto inicial, segue-se uma fase de recuperação. A partir da década de 70 esta cultura dispara no concelho, iniciativa que a filoxera vai asfixiar com a entrada dos anos 80. A plantação em larga escala reinicia-se com a década de 90. No ano de 1898, a produção do concelho é da
28 A.D.L., Governo Civil, Actividades Económicas, Agricultura, cx.10 (1860-1865).
64 António Valério Maduro
ordem das 2.614 pipas, valor que, no ano seguinte, é quase duplicado ao alcançarem-se as 5.212. A continuidade das plantações e a sua entrada na maturidade explicam que, em 1906, a produção atinja o patamar de 12765 pipas de vinho, triplicando os valores médios que se verificavam durante a primeira metade do século XIX29.
Produção e Conservação dos VinhosOs lagares do Mosteiro eram todos de pedra30 e a espremedura fazia-se sob o sistema
de prensa de vara. As prensas de vara dos lagares de vinho são de dimensão mais acanhada que as suas congéneres dos lagares de azeite. A razão reside simplesmente na maior facilidade de extrair um sumo do que uma gordura. Estes troncos de carvalho, castanho ou mesmo de pinheiro manso, possuíam um comprimento que se situava entre os 6 e os 10m.
Frei Manuel de Figueiredo dá-nos a carta de localização dos lagares e adegas de vinho da Ordem. Ficamos então a saber que o Mosteiro explorava 23 lagares31.
As adegas eram edificadas sem qualquer escolha prévia32. Esta despreocupação quanto à natureza do local de assento e à busca de rumos adequados que protegessem os seus vinhos da ardente canícula, ou do agreste soão, contribuía para agravar os problemas de conservação.
O Mosteiro possuía 18 adegas disseminadas no território dos Coutos:”33. Conhecemos a capacidade de armazenamento da adega da Quinta da Gafa, a maior propriedade de vinha do Mosteiro. Entre os 12 tonéis da sua adega e lagar compreendia 36 pipas (18.000 litros). Os tonéis de maior dimensão atingiam a notável capacidade de 5 pipas34. O auto de arrematação do vinho efectuado após a saída da Ordem contabilizou 700 almudes (14.000 litros)35. A documentação faculta-nos o acesso ao jogo de tonéis e cubas, vasilhame de carreto e apoio e demais alfaias presentes na própria adega do Mosteiro. No lado cimeiro da adega alinhavam-se 5 tonéis, contra 6 cubas (ou balseiros) na parte baixa. O documento é omisso quanto às capacidades destes recipientes. Do restante espólio da adega faziam parte 20 dornas, destinadas ao carreto da vindima e fabrico das tintas, 5 selhas e 33 vasilhas de tamanhos diversos. Na adega encontrava-se ainda um recipiente de cobre utilizado, provavelmente, para confeccionar o arrobe e uma caldeira
29 A.D.L., Governo Civil, Actividades Económicas, Agricultura, cx.12 (1876-1912). 30 B.N.L., códice 1490, fl.52. 31 Ficamos então a saber que o Mosteiro explorava 23 lagares: “Alfeizerão – 2; Alvorninha – 1; Cela – 1, Santa
Catarina – 3; Quinta do Castelo – 1; Évora – 1; Famalicão – 1; Quinta da Gafa – 2; Julgado – 1; Maiorga – 1; Monte de Bois – 1; Quinta do Refortuleiro – 1; Quinta de Turquel, e Villa – 2; Salir de Matto – 1; Vallado – 1; Quinta do Vimeiro – 1” e que os povos demandavam a ampliação do lagar de Monte de Bois e a edificação de novos imóveis no Bárrio, Bemposta e Macalhona. B.N.L., códice 1493, fls.43-44.
32 B.N.L., códice 1490, fl.52. 33 Referem-se adegas em “Alfeizerão – 1; Aljubarrota – 1; Alvorninha – 1; Quinta do Castelo – 1; Santa Catarina
– 2;Cela – 1; Évora – 1; Famalicão – 1; Quinta da Gafa – 1; Julgado – 1; Maiorga – 1; Salir de Matto – 1; Quinta de Turquel, e Villa – 2; Vallado, e Quinta – 2; Quinta do Vimeiro – 1”. B.N.L., códice1493, fl.44.
34 A.D.L., Mosteiro de Alcobaça, cx.5, doc.1, Inventário dos bens móveis. 35 A.D.L., Mosteiro de Alcobaça, Sequestros, Vendas e Arrendamentos, cx.8, doc.1.
65A vinhA e o vinho dos cistercienses de AlcobAçA (séculos Xviii e XiX)
para destilar as borras. Para medir o vinho, enquanto se almudava, dispunham de um conjunto de medidas de barro que iam do quarto ao quartão36.
O fabrico e a conservação dos vinhos do Mosteiro eram feitos integralmente em vasilhame de madeira. Nos inventários das suas adegas e lagares não encontrámos nenhuma referência a talhas e potes de receber vinhos. Como sustenta Ribeiro (1979), p.51, tanto as talhas como os potes cerâmicos para guarda de vinhos e azeites filiam-se na matriz cultural e histórica do mediterrâneo das civilizações clássicas, enquanto a vasilha de aduelas constitui uma herança do norte europeu.
As vasilhas do Mosteiro eram de madeira de choupo, embora também se utilizassem recipientes de castanho37. O uso do choupo nas vasilhas vinárias terá comprometido a conservação dos vinhos, mas esta madeira (à semelhança do pinho que se populariza por meados do século XIX) só deve ter sido utilizada para arrecadar vinhos débeis destinados, em grande medida, aos serviçais.
O apresto das vasilhas vinárias era crucial para o sucesso dos vinhos arrecadados. Como nos elucida Frei Manuel de Figueiredo, estes recipientes eram limpos e emechados38.
O fabrico do vinho, na comarca de Alcobaça, seguia, predominantemente, o método de bica aberta. Segundo Jorge Estrela (1994), pp.195-198, a exclusividade desta técnica de vinificação não se pode dissociar do regime de monopólio imposto pelo Mosteiro. De facto, a restrição do serviço do lagar pelo espaço de 24 horas inviabilizava a feitura de vinhos de curtimenta, tendo o camponês de se sujeitar a lotar o branco com tintas para lhe conferir um pouco de cor.
As uvas tintas e brancas fermentavam à parte. Concluída a fermentação tumultuosa dos tonéis do branco e dada a primeira trasfega eram adicionadas as tintas de curtimenta para colorir os vinhos monásticos39.
Jean-Louis Flandrin (2001), pp.202-203, elucida-nos que os vinhos brancos e claretes estavam para o pão alvo como os retintos para o pão de segunda. A cor agia como indicador de posição social, sendo os vinhos retintos e adstringentes impróprios para as Ordens elevadas. A própria cerimónia da Eucaristia pedia um vinho mais claro que o sangue do Senhor para não tornar ainda mais dramático o acto religioso40.
Na comarca de Ourém, a vinificação seguia, de igual forma, o sistema de bica aberta. Por cada 20 almudes de branco, deitavam-se, segundo Vandeli (1813), p.74, 5 almudes de tinta. Esta relação permite calcular a relação de castas brancas e tintas, o que não seria arbitrário extrapolar para a realidade alcobacense. Ainda hoje, os viticultores de Ourém reclamam a herança do palheto cisterciense41.
36 A.D.L., Mosteiro de Alcobaça, cx.5, doc.1, Inventário dos bens móveis; A.D.L., Mosteiro de Alcobaça, Sequestros, Vendas e Arrendamentos, cx.8, doc.1.
37 B.N.L., códice 1490, fl.52. 38 B.N.L., códice 1490, fl.52. 39 B.N.L., códice 1490, fl.52. 40 Libro y regístro de la bodega del Monasterio de Guadalupe. – Bodegas Viña Extremenã (trancripção e prólogo
de Arturo Álvarez), 2003, LXXI.41 Actualmente o palheto de Ourém é obtido pela combinação de 85% de vinho branco com 15% de tinto. Região
de Leiria, 3.270, 28 de Março de 2000.
66 António Valério Maduro
Para além do método de bica aberta, em Alcobaça, segundo Alexandre Vandeli, alguns lavradores faziam o vinho de feitoria. As uvas tintas e brancas eram pisadas conjuntamente no lagar.
Quando os vinhos se toldavam, não obstante a acção da trasfega, o que era caso raro nos vinhos de bica aberta, aplicava-se uma colagem. Nas pipas e cascos vertiam sangue de boi e claras de ovos. De seguida, batiam-se os vinhos rolando os tonéis e aguardava-se o processo de decantação que os agentes de clarificação propiciavam42. Como refere Gyrão (1822), p.166, o sangue de boi (também se utilizava o de carneiro) tinha de ser fresco e as claras, numa média estimada de 24 por pipa, eram batidas previamente. Aglutinada a borra no fundo realizava-se uma nova trasfega43.
Para temperar, fortalecer e aromatizar o vinho juntavam-lhes folhelho torrado, cascas de laranja e camoesas (que podiam ser assadas com açucar), casta de pequenas maçãs de aroma e gosto intenso, que conferiam a este licor um sabor frutado44.
Os cistercienses também adicionavam arrobe aos seus vinhos45. Segundo Amzalak (1953), pp.56-57, o arrobe, produto já utilizado pelos gregos, cartagineses e romanos, era obtido a partir do mosto de uva fresco que era fervido em lume brando até evaporar cerca de metade a dois terços do líquido. Para além de adubar os vinhos, tinha a função de os conservar, daí constituir uma prática obrigatória arrobar os vinhos que tinham de ser embarcados. Por tonel (equivalente a duas pipas ou superior) acrescentava-se meio almude de arrobe no período em que decorria a fermentação tumultuosa. O arrobe subsistiu nas artes vinárias até a aguardente ocupar o seu espaço. Segundo Frei Manuel de Figueiredo, em toda a comarca não se chegava sequer a produzir uma pipa de aguar-dente46. De facto, os vinhos só deixam de ser arrobados quando a indústria da destilação fornece aguardentes em quantidade para acudir aos vinhos, o que só se verifica durante a primeira metade do século XIX47.
Os vinhos recebiam ainda uma determinada quantidade de sal. O seu emprego impedia o desenvolvimento da mycoderma aceti, bactérias responsáveis pela produção do ácido acético48.
Todos os sobejos e restos de vinificação tinham o seu destino. Das massas da pisa e espremedura obtinha-se a água-pé que se dava ao rancho de serviçais. Os bagaços eram espalhados nas eiras a secar para serem posteriormente escolhidos. As grainhas das uvas serviam de alimento, tanto ao gado suíno como à criação de bico (perus, galinhas e pombos). O folhelho (película que reveste o bago), depois de misturado com milho ou cevada, destinava-se a ração de bestas. Já os engaços (suporte lenhoso das uvas)
42 B.N.L., códice 1490, fl.52. 43 B.N.L., códice 1490, fl.52.44 B.N.L., códice 1490, fl.52. 45 B.N.L., códice 1490, fl.52. 46 B.N.L., códice 1490, fl.52. 47 A.D.L., Governo Civil, Actividades Económicas, Agricultura, cx.8 (1834-1854). “Reflexões sobre a industria
agricula do concelho de Alcobaça (1839) ”. Este relatório fala da destilação de 600 pipas de vinhos de caldeira, com os quais se otêm 70 pipas de aguardente de prova.
48 B.N.L., códice 1490, fl.52.
67A vinhA e o vinho dos cistercienses de AlcobAçA (séculos Xviii e XiX)
eram utilizados como adubo na lavoura. Os vinhos que, por algum percalço, se tinham derramado, iam para vinagre. O sarro das vasilhas vinárias era vendido a boticas e tintureiros. As borras do assentamento dos vinhos tinham como fim a destilação que se fazia “em pequenos alambiques”49.
Uma revolução nos equipamentos vinários e na produção do vinhoComo constatámos, a cultura da vinha sofreu, ao longo da segunda metade do século
XIX, uma penosa e inventiva transformação que racionalizou as explorações, trouxe novas mobilizações e granjeios, seleccionou as castas produtoras europeias face ao suporte bravo americano, introduziu maquinaria nas lavras, apoios químicos para prevenir pragas e doenças e fertilizar o solo e ampliou brutalmente o índice de produtividade da vinha.
Este somatório de conquistas implicou injecções de capital, uma nova leitura da empresa agrícola vocacionada para o mercado e a emergência de um empresário familiarizado com os riscos e a imprevisibilidade da arte agrícola que se queria agora cada vez mais científica.
O fabrico do vinho conhece uma profunda revolução química e mecânica. As adegas vinárias renovam o seu espaço e incorporam uma parafernália de maquinaria que contribui decisivamente para ganhos de qualidade e economia.
Os lavradores vinhateiros alcobacenses que já tinham reconstituído as suas vinhas apetrecham as suas adegas com as ofertas mais modernas da técnica e do conhecimento científico. Introduzem-se geradores a vapor para garantir a esterilização e estanquicidade das vasilhas vinárias, bombas de trasfega para pôr o vinho a limpo e estabelecer os lotes, esmagadores e desengaçadores que fazem da milenar pisa a pés uma arte obsoleta e ocasional, prensas de cinchos que arredam as ineficientes prensas de varas, assiste-se ainda a uma renovação do vasilhame de conservação e estágio dos vinhos e aguardentes, seleccionando madeiras de préstimo como o castanho, o carvalho e o vinhático.
Estes lavradores exportam os seus vinhos e aguardentes para terras de África e do Brasil e os seus néctares são agraciados em vários eventos internacionais, caso do Rio de Janeiro e de Paris.
Dos bons vinhos produzidos pelas mãos dos cistercienses de Alcobaça ficam as memórias e amáveis testemunhos, como os de William Beckford (1997), p.49, ao transmitir-nos a opinião do seu cozinheiro francês de que “ (...) o Clos de Vougeot era uma zurrapa comparado com o Aljubarrota – divino, etéreo, perfumado Aljubarrota”, assim como a hipótese destes vinhos históricos voltarem a ver a luz do dia.
49 B.N.L., códice1490, fls.45, 52.
69A vinhA e o vinho dos cistercienses de AlcobAçA (séculos Xviii e XiX)
BIBLIOGRAFIAAguiar, António Augusto de. Conferências sobre Vinhos. Lisboa: Typographia da Academia
Real de Sciencias, 1876.
Alarte, Vicencio. Agricultura das Vinhas e tudo o que Pertence a ellas até Perfeito Recolhimento do Vinho, e Relação das suas Virtudes e da Cepa, Vides, Folhas e Borras. Lisboa: Na Officina Real Deslandesiana, 1712.
Amzalak, Moses Bensabat. Catão e a Agricultura. Lisboa: Editorial Império, 1953.
Azevedo, Joaquim. A Phylloxera na 4ª Região Agronómica. Instituto Superior de Agronomia, 1891.
Bekford, William. Alcobaça e Batalha – Recordações de uma Viagem. Lisboa: Vega, 1997.
Coelho, Maria Helena da Cruz – O Baixo Mondego nos finais da Idade Média (Estudo de História Rural). Coimbra: Universidade de Coimbra, 1993.
Estrela, Jorge. ”Vinho Senhorial e Vinho Popular na Alta Estremadura Medieval”. In: Actas do Congresso O Vinho, a História e a Cultura Popular, I.S.A., 1994.
Flandrin, Jean-Louis – “A Alimentação Campesina em Economia de Subsistência”. In: FLANDRIN, Jean-Louis; MONTANARI, Massimo, dir. História da Alimentação. 2 Da Idade Média aos Tempos Actuais. Lisboa: Terramar, 2001.
Gyrão, António Lobo. Tratado Theorico e Pratico da Agricultura das Vinhas, da Extracção do Mosto, Bondade e Conservação dos Vinhos e Destilação das Aguardentes. Lisboa: Imprensa – Nacional, 1822.
Maduro, António Valério. Tecnologia e Economia Agrícola no Território Alcobacense (séculos XVIII-XX). Coimbra: Universidade de Coimbra, 2007.
Magalhães, José Raposo de. Aos proprietários e Lavradores do Concelho D’ Alcobaça. Alcobaça: Edição de autor, 1911.
Martins, Conceição Andrade. “A Filoxera na Viticultura Nacional”. In: Análise Social, XXVI, 112-113, 1991, pp.653-688.
Monteiro, Nuno. “Lavradores, Frades e Forais. Revolução Liberal e Regime Senhorial na Comarca de Alcobaça (1820-1824) ”. In: Ler História, 4,1985, pp. 31-87.
Peixoto, Joaquim Manuel. Estudo sobre a Agricultura na 4ª Região Agronómica. Instituto Superior de Agronomia, 1890.
Radich, Maria Carlos. Agronomia no Portugal Oitocentista. Uma Discreta Desordem. Oeiras: Celta Editora, 1996.
Ribeiro, Orlando. Portugal, o Mediterrâneo e o Atlântico. Lisboa: Livraria Sá da Costa, 1987.
Royer, Claude. “Les techniques viti-vinícoles traditionnelles: aspects théoriques et méthodologiques” In: RAMOS, Pilar, coord. Primeras Jornadas Internacionales sobre Tecnologia Agrária Tradicional, 1992, pp.225-231.
Santos, Frei Manuel dos – Descrição do Real Mosteiro de Alcobaça (leitura, introdução e notas por Aires Augusto Nascimento), Alcobaciana: 3. Alcobaça, Adepa, 1979.
Vandeli, Alexandre António. Resumo da Arte de Destilação. Lisboa, 1813.




















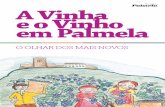
![Os Cistercienses e a Água [The Cistercians and Water]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631576d6c32ab5e46f0d51ca/os-cistercienses-e-a-agua-the-cistercians-and-water.jpg)