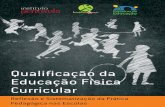A Organização do Espaço Monástico entre os Cistercienses, no Portugal Medievo
Transcript of A Organização do Espaço Monástico entre os Cistercienses, no Portugal Medievo
77
A Organização do Espaço Monástico entre os
Cistercienses, no Portugal Medievo
Manuel Luís Real1
Odesenvolvimento da Ordem de Cister liga-se ao impulso reformadorda vida monástica surgido nos finais do séc xi, como reacção a uma
certa anarquia e quase indigência em que haviam caído algumas comunidades tra-dicionais e, por outro lado, como forma de combater a ostentação de que já eramacusados os mosteiros de obediência cluniacense. Os princípios da nova Ordemmonástica, para além de fomentarem a disciplina conventual, defendiam o isola-mento comunitário, o espírito de pobreza, a complementaridade da oração e dotrabalho, a prática de uma economia de subsistência e o exercício da caridade.
O retiro comunitário
Para os cistercienses, a fórmula ideal de vida em comunidade seria a conjuga-ção perfeita entre o cenobitismo e a ascese. De acordo com os Capítulos Gerais de1134, os monges não deviam instalar-se nas cidades, castelos ou vilas, mas antesprocurar estabelecer-se “in locis a conservatione hominum semotis”2. A escolha dolugar passou a ser, por conseguinte, uma das preocupações mais exigentes no mo-mento da criação de uma nova abadia. Por isso se explica que o primeiro surto defundações cistercienses se tenha pautado pela reorientação de comunidades ere-míticas e, por outro lado, pela colonização de novas áreas, notadamente em zonas
1. Investigador do CITCEM.2. Para uma apreciação geral dos documentos ligados à fundação da nova Ordem, veja-se: NASCIMENTO, Aires A. – Cister. Documentos primitivos. Introdução, tradução enotas de Aires A. Nascimento. Lisboa: Edições Colibri, 1999.
MANUEL LUÍS REALA Organização do Espaço Monástico entre osCistercienses, no Portugal MedievoMonasticon(II): nos caminhos de Cisterpp. 77-112
actas2012 02.04.13 20:22 Page 77
78 Monasticon(II): nos caminhos de Cister – Livro do VIII Encontro Cultural de São Cristóvão de Lafões
de fronteira. A filiação de anteriores eremitérios ou mosteiros beneditinos está con-firmada, por exemplo, em S. Salvador de Argeriz (Salzedas), S. Pedro das Águias,Bouro, Ermelo, Seiça, Pitões das Júnias ou Almoster. Em S. Cristóvão de Lafõesterá ocorrido algo semelhante e num contexto que permite avaliar bem o sentidoda reforma desses núcleos preexistentes, em regime de um relativo auto-isolamento.A congregação de Lafões, na altura dirigida por João Cirita, tinha-se instaladonuma região fortemente povoada já durante a alta Idade Média, inclusive com oacolhimento de um grupo moçárabe de ascendência oriental. Porém, o lugar es-colhido sempre manteve as condições indispensáveis ao retiro comunitário. Aindanuma visitação do séc. xv se testemunha que o mosteiro se situava “antre duas ser-ras muy ásperas”, em lugar quase inacessível, como noutro não haveria3. No casode Alcobaça, tal como em Almoster ou, mais a norte, em Sª Mª de Fiães e Sª Mªde Aguiar, o critério foi a procura de uma zona de transição, tendencialmente se-midesértica. Mas não nos devemos iludir acerca deste tipo de isolamento, pois elenunca incidia em zonas totalmente despovoadas. Já há bastantes anos, José Mat-toso chamara a atenção para a circunstância de os eremitas se preocuparem em es-colher locais não muito distantes das principais vias de comunicação, como formade manter laços com caminhantes devotos, a quem poderiam oferecer hospedagem,e mesmo com as populações da vizinhança, na expectativa de dela poderem rece-ber alguma assistência4. No caso dos cistercienses, ao invés, é a própria Ordem arecomendar aos monges o exercício da caridade. O contacto humano fazia-se apartir da portaria e da hospedaria. Além disso, a necessidade da colaboração deirmãos conversos e de assalariados nas fainas agrícolas, em propriedades do mos-teiro, constituía um factor suplementar para a convergência populacional em áreaspróximas da abadia e, no caso dos conversos, em dependências reservadas no pró-prio mosteiro. Na verdade, nas casas de Cister existem como que impulsos gregá-rios de duplo sentido. Por um lado, os monges procuram fechar-se em comunida-de, tendencialmente isolada, no exercício da oração e do trabalho. Por outro, a ins-tituição monástica necessita de criar condições de exploração dos seus domínioscom mão de obra adicional e é levada, ao mesmo tempo, a promover acções cari-dade junto dos pobres e peregrinos. De acordo com os estatutos da Ordem, a ac-ção paroquial estava interdita aos monges, havendo disposições que proibiam aprática de baptismos e o enterramento de leigos na área conventual. Com o tem-po, algumas destas interdições foram-se esbatendo, pois, em casos especiais, oclaustro abriu-se á inumação de membros exteriores à comunidade e a par da igre-ja, no lado oposto, começa a surgir uma capela com funções funerárias e, a pra-zo, até mesmo paroquiais. O aparecimento do panteão régio em Alcobaça, no
3. Visitação descrita numas memórias quinhentistas, publicadas por João Soalheiro, ecitada em: MARQUES, Maria Alegria – Os sítios de Cister nas Beiras. In ENCONTROCULTURAL, 1, S. Cristóvão de Lafões, 2005 – As Beiras e a presença de Cister: Es-paços, Património edificado, Espiritualidade. S. Cristóvão de Lafões, 2006, p. 20. 4. MATTOSO, José – Eremitas portugueses no séc. XII. In Religião e Cultura. Lisboa:Imprensa Nacional-Casa da Moeda, 1982, p. 118-119 (publicado em 1972, na rev.“Lusitânia Sacra”).
actas2012 02.04.13 20:22 Page 78
79A Organização do Espaço Monástico entre os Cistercienses, no Portugal Medievo – Manuel Luís Real
séc. xiii, é outro indício da aproximação da comunidade laica, no caso vertente re-presentada pela família real, devido ao patrocínio por esta concedido ao mosteiroe ao desenvolvimento da Ordem em Portugal.
O assento monástico
A escolha do lugar não se pautava, apenas, em função do isolamento comu-nitário. Uma das características preconizadas nos estatutos de Cister é o da auto-suficiência ou sustentabilidade económica de cada abadia. Assim, haveria que terem conta as virtualidades do local para esse efeito, nomeadamente quanto à suabondade para as práticas agrícolas e ganadeiras5. No entanto, veio a verificar-seque isso nem sempre aconteceu, devido a circunstâncias peculiares dos terrenosdoados para a respectiva instalação ou, em caso da filiação, das condições do ce-nóbio pré-existente. Por outro lado, o chamado Exórdio de Cister estabelecia que,no momento da fundação, deveria já existir um complexo edificado que satisfizesseas necessidades básicas da comunidade6. Bem entendido, por adaptação de qual-quer estrutura pré-existente ou através de uma construção de raiz. Estas duas con-dicionantes conduziram, regra geral, a instalações de carácter provisório, não ne-cessariamente precárias, mas de natureza transitória. Logo à cabeça, é bom exem-plo o que se passou com fundação da casa-mãe da Ordem. Quando em 1098, Ro-bert e seus companheiros saiem de Molesme, à procura de uma nova vida espiri-tual em comunidade, vão instalar-se num lugar solitário, sugerido pelo duque daBorgonha, Eudes I, situado na floresta alagadiça de Citeaux. Serão trinta e umcompanheiros, que ordenam o terreno e se servem da floresta para construir edi-fícios em madeira, nos quais irão viver durante vários anos. Após a saída de Ro-bert, que regressa a Molesme, é eleito abade Albéric, que faz deslocar o mosteiropara as margens do rio Vouge, 2 Km mais a sul, à procura de melhores condiçõesde habitabilidade. É construída a primeira capela em pedra, muito simples (Cisterii), cuja sagração se dá em 11067. A criação deste singelo templo em alvenaria, nãoexclui a possibilidade de, ainda por largos anos, as restantes instalações conven-tuais continuarem a ser de madeira.
5. Mais as primeiras do que, propriamente, a criação de gado, posto que a regra pre-conizava que “dentro do mosteiro ninguém tome carne ou gorduras”, à excepção dosdoentes ou assalariados. Cf. NASCIMENTO, A. Aires de – Op. cit., p. 58 e 99.6. Idem, p. 57. São expressamente mencionados o oratório e o refeitório, bem como acasa para hóspedes e porteiro. É ainda natural pensar na existência, pelo menos, do dor-mitório e da cozinha.
7. Idem, p. 30. Aí se refere o primitivo cenóbio num edifício de madeira, em Cister,mandado construir por iniciativa de Eudes, duque da Borgonha. A capela em pedra, en-tretanto edificada, era “à nef unique prolongée par un chevet à trois côtés”, ou seja, comcabeceira de uma só ábside rectangular: PLOUVIER, Martine – L´Abbaye de Cîteaux.Paris: 1998, p. 68 (Extrait du Congrés de Côte-d´Or).
actas2012 02.04.13 20:22 Page 79
80 Monasticon(II): nos caminhos de Cister – Livro do VIII Encontro Cultural de São Cristóvão de Lafões
Fig. 1Madeiramentos do dormitório daabadia de Noirlac (seg. Creative Commons)
Fig. 2A ermida de São Pedro das Águias (foto do autor)
Fig. 3Os dois locais de instalaçãosucessiva dos monges de S.Pedro das Águias (seg. Ricardo Teixeira)
Trata-se de um cenário que se deve ter repetido com frequência nas primeirasfundações da Ordem. Em Portugal, mudaram-se do assento primitivo, pelo menos,os monges de Alcobaça, Bouro, Ermelo, Salzedas e São Pedro das Águias. Decer-to em construção feita de raíz, na base de materiais ligeiros, a comunidade de Al-cobaça permaneceu em Sª Maria-a-Velha durante nada menos que 70 anos. Só em1223 se transferem para instalações definitivas e já cerca de 45 anos após o inícioda edificação do novo mosteiro, o qual se encontrava por terminar, mas lhes pro-porcionaria desde então condições de estabilidade. Esta mudança precede, de pou-cos anos, o acolhimento do túmulo do rei Afonso II, o principal financiador daobra e recentemente falecido. Em Bouro, os monges viveram primeiro em Nª Sª daAbadia, antes de se acolherem no edifício conventual hoje transformado em pou-
actas2012 02.04.13 20:22 Page 80
81A Organização do Espaço Monástico entre os Cistercienses, no Portugal Medievo – Manuel Luís Real
sada. O caso de Ermelo é interessante, devido à complexidade do processo de ins-talação. Trata-se de uma fundação filiada no mosteiro de Sª Mª de Fiães, que ocor-re primeiro no lugar de S. Pedro de Arcos (hoje S. Pedro do Vale). Aí existiria umcenóbio anterior, cuja observância desconhecemos, mas de que encontramos tes-temunho numa lápide sepulcral da primeira metade do séc. XII, alusiva a um de-signado “confrater”, Ordonho8. Mais do que propriamente um simples monge ouconverso – até pela circunstância da epígrafe reservar o espaço para a data, semnunca a ter recebido, indiciando uma encomenda anterior à morte do destinatá-rio – deve ser considerado como o provável patrono do mosteiro que, no fim davida e à semelhança de outros casos, se terá a ele recolhido enquanto devoto ou“famulus xpi”, na expressão utilizada pela própria legenda funerária. A passagema Cister é anterior a 12719, embora a referência ao “Monasterio de Ermelo”, en-cadeada na citação de outros benefícios a vários mosteiros da nova Ordem, no tes-tamento do rei Afonso II, possa sugerir que já em 1221 (e não sabemos quanto tem-po antes) a transição se teria dado. É bem possível que a disponibilidade de meiostenha sido escassa para renovar as instalações herdadas do anterior ou que a re-lativa proximidade de zonas habitadas não favorecesse a espiritualidade contem-plativa desejada. Assim, a pequena comunidade cisterciense terá procurado trans-ferir-se para outro local, mais isolado e adaptável às exigências da vida em clau-sura. A escolha recaiu no lugar de Ermelo, na vertente que, a partir do Soajo, es-tabelece contacto com o rio Lima. Aí teria existido também um cenóbio anterior,talvez de eremitas, que no séc. xii pode ter aderido à ordem beneditina. Assim ofazem supor as estruturas remanescentes da primeira igreja românica. É até pos-sível que este mosteiro, de anterior observância, estivesse já abandonado no finalda centúria ou passasse por dificuldades, a ponto de se abrir a possibilidade de umafusão ou da mera cedência do espaço – na altura em (re)construção – para alber-gar a dita comunidade cisterciense de S. Pedro de Arcos. O certo é que o novo pro-grama de instalação se tornou menos ambicioso e o edifício eclesial sofreu con-tracção, passando a uma só nave e deixando de fora as capelas laterais da anteriorcabeceira tríplice. A meridional desapareceu e a do lado norte está transformadaem sacristia (fig. 4). Os restantes edifícios monásticos tiveram uma evolução limi-tada e irregular, reveladora das dificuldades sentidas por esta pequena congrega-ção de monges brancos10.
Quanto a S. Pedro das Águias e a Salzedas, deram-se igualmente transferênciasde lugar. No primeiro caso, depois de umas décadas a viver num antigo eremité-rio, erguido contra uma falésia nas margens do rio Távora (fig. 2), os monges quei-xam-se das condições insalubres do sítio e pedem para se transferirem para uma
8. BARROCA, Mário Jorge – Epigrafia medieval portuguesa (862-1422), vol. 2, t. 1,S. l.: Fundação Calouste Gulbenkian; Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2000,p.592-598.9. MARQUES, Maria Alegria – A introdução da Ordem de Cister em Portugal. In Laintroducción del Cister en España y Portugal. Burgos: La Olmeda, 1991, p. 163-193.10. NOGUEIRA, Sandra – Intervenção arqueológica no espaço do Claustro do Mos-teiro de Ermelo: Resultados. Oppidum, Lousada, 6:5 (2011), p. 115-131.
actas2012 02.04.13 20:22 Page 81
82 Monasticon(II): nos caminhos de Cister – Livro do VIII Encontro Cultural de São Cristóvão de Lafões
Fig. 4A igreja de Sª Mª deErmelo, antes do restauro, ereconstituição do projectopré-cisterciense (seg. Aguiar Barreiros)
Fig. 5Alçado do que resta dos anexos medievais do mosteiro de Ermelo (seg. Sandra Nogueira)
actas2012 02.04.13 20:22 Page 82
83A Organização do Espaço Monástico entre os Cistercienses, no Portugal Medievo – Manuel Luís Real
propriedade sita a pouca distância e aí construirem um edifício de raiz, que melhorpermitisse o desenvolvimento da comunidade (fig. 3)11. O mosteiro de Santa Ma-ria de Salzedas, por sua vez, foi fundado graças à acção de D. Teresa Afonso, viú-va de Egas Moniz, que em 1156 cederia aos cistercienses a propriedade situada jun-to da “fonte da Salzeda”, a qual, um anos antes, adquirira a um certo abade Ra-nol. Segundo pensa Almeida Fernandes, este deverá ser o abade Randulfo, de S.João de Tarouca12. Aparentemente, os monges brancos pretendiam fixar mesmoaí a sua casa conventual, já que, desde cedo, iniciaram a construção da igreja, emboa arquitectura e avantajadas dimensões, dentro dos estritos cânones da Ordem(figs. 8 e 9). Todavia, algum problema sério deverá ter surgido13, pois, passadasumas décadas, os monges iniciam a construção de nova casa, nas margens do rioVarosa (figs. 6 e 10).
É bom lembrar que, durante o primeiro ciclo de fundações, quando se criavaum novo mosteiro e as estruturas anteriormente herdadas eram insuficientes, osmonges podiam aproveitar abrigos rochosos (terá sido o caso de S. Pedro dasÁguias, a par de alguma arquitectura efémera) ou, de acordo com uma prática queseria mais usual em fundações de raiz, começavam por erguer edifícios de madei-ra, tal como vimos em Citeaux. Os madeiramentos que ainda hoje cobrem amplasaulas de certas abadias cistercienses –impressionantes pela sua complexidade e so-lidez (fig. 1) – são o resultado da mestria entretanto adquirida neste tipo de ar-quitectura, desde as primeiras fundações da Ordem14. Aliás, ao longo de toda aIdade Média, o mundo rural usou preferencialmente a construção baseada em ma-teriais lenhosos, por mais barata e expedita. Quando bem concebida, ela garantianão apenas durabilidade, mas também a funcionalidade e o conforto. Este últimoaspecto, era conscientemente rejeitado pelos cistercienses. Mas já o mesmo não sepassava quanto à plena usabilidade das edificações, o que podia ser alcançado des-de cedo, com uma construção em materiais ligeiros. Podemos imaginar uma si-tuação destas em S. João de Tarouca, já que, logo em 1145, o mosteiro recebe umaspropriedades do prior e cónegos da igreja de S. Sebastião de Lamego, como for-
11. Desde 1216, as actas capitulares dizem que era um mosteiro pobre e insano, pelahumidade provocada pela natureza sombria do lugar, rodeado de bosque e banhadopelo rio.12. FERNANDES, A. de Almeida – O Livro das Doações da Salzeda. Beira Alta, Vi-seu, 38:2 (1979), p. 422-423. Sobre a fonte da Salzeda, vd. : LEITÃO, Armando F. –O mosteiro de Salzedas. Salzedas, 1963, fig.113. Por hipótese, a instabilidade do terreno e a difícil situação do edifício, a meia en-costa e muito exposto durante os temporais, devido à forte inclinação do solo; outrapossível razão, poderá ter sido a considerável distância a que as instalações monásti-cas ficavam das principais linhas de água. Cf. REAL, Manuel Luís – A construção cis-terciense em Portugal durante a Idade Média. In RODRIGUES, Jorge; VALLE PÉREZ,Xosé Carlos (coords.) – Arte de Cister e Portugal e Galiza. S. l.: Fundação Calouste Gul-benkian; Fondación Pedro Barrié de la Maza, 1998, p. 56-64.14. Uma das melhores estruturas cistercienses em madeira, ainda subsistentes em Por-tugal, pode contemplar-se na armação do telhado que cobre as abóbadas da basílica deAlcobaça, Cf. imagem em: RASQUILHO, Rui; FERREIRA, Maria Augusta T. – Cistere a Europa. Santa Maria de Alcobaça. Aliança entre a espiritualidade e o trabalho ma-nual. Lisboa: ACD Editores, 2007, p. 153.
actas2012 02.04.13 20:22 Page 83
84 Monasticon(II): nos caminhos de Cister – Livro do VIII Encontro Cultural de São Cristóvão de Lafões
Fig. 6 – O couto de Salzedas, com alocalização da Abadia Velha e AbadiaNova (seg. Ricardo Teixeira)
Fig. 7 – A fonte da Salzeda, na AbadiaVelha (seg. Armando F. Leitão)
Fig. 8 – A Abadia Velha de Salzedasem 1969 (foto do autor)
Fig. 9 – Planta das estruturasdescobertas na Abadia Velha deSalzedas (seg. Ricardo Teixeira)
Fig. 10Reconstituição isométrica do
plano original da AbadiaNova de Salzedas
(seg.Miguel A. R. Amado)
actas2012 02.04.13 20:22 Page 84
85A Organização do Espaço Monástico entre os Cistercienses, no Portugal Medievo – Manuel Luís Real
ma de pagamento, segundo estes diziam, da “biblioteca quam scripsistis nobis”15.Isto significa que o scriptorium do mosteiro começou de imediato a funcionar eminstalações transitórias, pois, nem passados cinco anos da fundação, já este con-cluía uma encomenda feita pelo cabido da recém restaurada Sé de Lamego.
Falamos acima da necessária ergonomia do lugar, de modo a que os mongesmelhor pudessem cumprir os seus votos, de oração e de trabalho contemplativo.A busca de isolamento e do silêncio devia ser completada pelas qualidades do as-sento, de maneira a garantir a auto-suficiência da comunidade. A história de Cis-ter demonstra que nem sempre as condições foram as melhores, até porque a fun-dação de novos mosteiros resultava, regra geral, de doações em território ou daadesão de comunidades anteriores, em locais cujo contexto geográfico – e até físi-co – estava longe de ser ideal. Todavia, os cistercienses foram exímios no aprovei-tamento ecológico dos seus espaços, tirando superior benefício da bondade da na-tureza. Melhor do que ninguém, à época, eles souberam respeitar o seu ritmo,adaptar-se às características dos solos, valorizando-os e promovendo a abundân-cia de águas. Eles souberam aliar, de maneira sublime, o conhecimento livresco ea tradição com a experiência e a inovação tecnológicas. O cultivo da terra era sa-biamente adaptado ao meio, ora em extensas planuras, ora em pequenas veigas eem socalcos, de acordo com a configuração geográfica e as propriedades da terra.E, apesar de tendencialmente vegetarianos, a gestão do domínio e a optimizaçãode resultados compeliram-nos também a desenvolver a criação de animais, tantoem regime agro-pecuário, como silvo-pastoril.
Para funcionamento da cozinha e higiene do mosteiro, tal como para a explo-ração agro-pecuária, a pesca ou a moenda de cereais, a água foi sempre uma preo-cupação central dos cistercienses. A localização do assento monástico tinha comoprincipal referência uma ou mais linhas de água. A Abadia Velha servia-se priori-tariamente da fonte da Salzeda (fig. 7), mas o mosteiro ficava algo distante dos ri-beiros Torno e Varosa, que serpeavam a várias dezenas de metros do local, paraconfluir abaixo da encosta. Isto, como vimos, pode ter sido a explicação para osmonges – com a construção da primeira igreja já em fase adiantada – se terem de-cidido transferir para montante, a cerca de 1500 metros, justo á margem direitado rio Galhosa (nome por que é também, actualmente, conhecido o Varosa). O sen-tido prático e a capacidade técnica dos cistercienses contribuíram para que viessema criar importantes redes de distribuição (levadas, encanamentos, fontes) e outrosdispositivos para a regularização (diques, túneis), retenção (diques) ou utilizaçãoda força motriz da água (moinhos de rodízio, azenhas). O perfeito domínio do ter-ritório permitiu-lhes ainda aproveitar, com notável eficácia, outros produtos bási-cos que a natureza lhes oferecia, como a pedra para as suas construções, o sal paraa conservação dos alimentos ou o ferro destinado à produção das respectivas al-faias agrícolas.
15. FERNANDES, A. de Almeida – Tarauca Monumenta Historica, 1:1, Braga, CãmaraMinicipal de Tarouca, 1991, p. 127-128.
actas2012 02.04.13 20:22 Page 85
86 Monasticon(II): nos caminhos de Cister – Livro do VIII Encontro Cultural de São Cristóvão de Lafões
Fig. 11 – Reconstituição em corte, no sentido norte-sul,da Abadia Nova de Salzedas (seg.Miguel A. R. Amado)
Fig. 12 – Couto de S. João de Tarouca, com a localização das pedreiras na áreadependente do mosteiro (seg.Catarina Marques e outros)
actas2012 02.04.13 20:22 Page 86
87A Organização do Espaço Monástico entre os Cistercienses, no Portugal Medievo – Manuel Luís Real
Para o pleno êxito destas suas actividades, o assento monástico não lhes era na-turalmente suficiente. Daí que o “espaço” de uma abadia se foi transformando,com o tempo, numa realidade cada vez mais complexa.
O espaço cisterciense
Ao abordar o espaço administrado por uma abadia temos de ter em conta trêstipos de realidades: o núcleo conventual; as áreas de exploração directa; o patri-mónio de rendimento e exploração indirecta. Num plano mais global, da Ordemno seu conjunto, podemos encontrar uma quarta dimensão, digamos de naturezaimaterial, que se prende com a estrutura e o regime do vínculo comunitário. A Car-ta de Caridade estabelecia uma estrutura em rede, entre a “abadia mãe” e suas fi-liais, mas reservava ampla liberdade a estas últimas no plano material, tanto na ad-ministração corrente do mosteiro e respectivo património, como na isenção dequalquer contributo em bens materiais para a tutela. Contudo, a dependência eraefectiva no domínio do espiritual e disciplinar, cabendo à abadia mãe zelar pelobom cumprimento da Regra e pelas demais normas comunitárias. O mosteiro de-via receber, pelo menos uma vez ao ano, a visitação de um responsável da abadiada qual estava dependente e, também anualmente, todos os abades se deveriam reu-nir em Capítulo Geral, na abadia de Cister. Havendo quatro ramos principais dedependência hierárquica (Claraval, La Ferté, Pontigny e Morimond), a Portugalcoube integrar-se na linha de Claraval. Este vínculo era estabelecido, em primeirainstância, pela ligação directa de quatro abadias: Tarouca, Lafões, Alcobaça e Sal-zedas. Ainda hoje se discute qual foi a primeira filiação portuguesa, se a de Lafõesou a de Tarouca, assunto que não cabe aqui tratar. Contudo, há que salientar que,tal como o de Salzedas, o mosteiro de Lafões não “produziu” qualquer fundaçãona sua directa dependência. Alcobaça foi a abadia que gerou mais filiais, pois noprimeiro quartel do séc. xiii já tutelava seis mosteiros masculinos, além do víncu-lo que com ela passaram a ter as casas femininas fundadas em Portugal. Quantoa Tarouca, que durante o mesmo período chegou a possuir três filiais directas, hou-ve a particularidade de uma destas, Sª Maria de Fiães, ter dado origem a uma fi-lial de segundo grau (4º relativamente a Claraval), a já referida pequena comuni-dade de Ermelo16.
Ao aproximarmo-nos da análise do assento monástico, notadamente na pla-nimetria da igreja abacial, verificamos não haver, em regra, uma relação directa dorespectivo traçado com o modelo da abadia-mãe. Não é foi caso de Alcobaça (fig.
16. Relativamente à genealogia das primeiras abadias cistercienses em Portugal, res-salvando um ou outro dado cronológico incerto – e, portanto, controverso – veja-se oorganigrama apresentado em AMADO, Miguel António Reis – Reconstituição do mos-teiro medieval de Santa Maria de Salzedas. Coimbra, Departamento de Arquitectura-Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2007, p. 14 (Prova final de licenciatura em Ar-quitectura).
actas2012 02.04.13 20:22 Page 87
88 Monasticon(II): nos caminhos de Cister – Livro do VIII Encontro Cultural de São Cristóvão de Lafões
Fig. 13Planta do mosteirode S. João deTarouca na IdadeMédia, de acordocom a arqueologia (seg. Luís Sebas-tian e Ana S.eCastro)
18), onde – afora a inversão posicional dos anexos conventuais, transferidas daparte sul para norte do templo, por força das condicionantes topográficas do lu-gar – se veio a reproduzir com bastante fidelidade o programa de Claraval. Emtudo o mais, parece haver uma relativa liberdade. Será o caso de S. João de Ta-rouca, onde se opta por um esquema bastante mais simples, com apenas três ca-pelas, além do mais escalonadas, se bem que na organização das naves se possa veruma influência borgonhesa, mais próxima de Fontenay que de Claraval. E, na vi-zinha Salzedas, as originalidades ainda parecem ser maiores. Seguindo uma estru-tura próxima da igreja de Tarouca, no que respeita às naves e transepto, as res-pectivas cabeceiras apontam para modelos inteiramente distintos: três capelas po-ligonais escalonadas na Abadia Velha (fig 9); cinco capelas redondas e escalona-das na Abadia Nova. Já em trabalhos anteriores ensaiámos uma explicação paraestas duas versões, tão distintas entre si, mas concebidas pela mesma comunidade
actas2012 02.04.13 20:22 Page 88
89A Organização do Espaço Monástico entre os Cistercienses, no Portugal Medievo – Manuel Luís Real
e com poucos anos de diferença17. Tal ficará a dever-se, sem dúvida, a influênciasvindas do exterior, em datas e contextos completamente distintos, cujas motivaçõesmerecem ser melhor investigadas. No primeiro caso, poderá não ser alheia uma cer-ta relação que existiu entre Cister e os cónegos regrantes de Santa Cruz de Coim-bra, enquanto no que se refere à Abadia Nova devem procurar-se afinidades numconjunto de mosteiros vinculados a Morimond, abadia francesa que também tevegrande influência na Península Ibérica, inclusive através da fundação da Ordem deCalatrava. Já no caso de Santa Maria de Aguiar parece ser mais simples a expli-cação, não obstante o mosteiro se haver mantido, nos primeiros tempos, dentro dosdomínios da coroa leonesa. O certo é que se desliga de qualquer afinidade formalcom a abadia mãe, Moreruela, evindeciando a planta do templo um programa cla-ramente influenciado por São João de Tarouca (cfr. figs. 15 e 24) – apesar do pro-jecto inicial nunca se ter concluído e haverem desaparecido as absides laterais, en-tretanto repostas aquando do restauro do monumento. Este último, inexplicavel-mente, aumentou um tramo às naves, o que distorce a visão do problema18. A ca-beceira tríplice aparece reproduzida igualmente em Sª Mª de Fiães (fig. 22), que nosfornece a chave para entender bom número das cabeceiras cistercienses em Portu-gal. Pela planta geral do templo, relativamente contida – mas com uma estruturae dimensões já excepcionais, se tivermos em conta o panorama geral do români-co português, propenso a igrejas de uma só nave – percebe-se que o seu modelo seinspira directamente na série de igrejas beneditinas (fig. 21) e igrejas-colegiada detrês naves, apenas com a diferença no modo de tratar a planta das capelas, pois asobriedade cisterciense recomendava que fosse rectangular. Esta multiplicidade desoluções deve ser interpretada como expressão da autonomia concedida pela Or-dem aos respectivos mosteiros, no plano material e, por outro lado, como o re-sultado da menor capacidade de investimento que, com frequência, se verificavanas filiais face à abadia mãe. Algumas relações marginais entre comunidades e aprópria circulação de artífices poderão explicar o resto. Não obstante isso, pres-sente-se que havia vigilância quanto ao rigor do programa e à sobriedade das for-mas, apesar do percurso posterior de certos mosteiros se ter vindo a revelar algoatribulado, sobretudo por carência de meios.
17. REAL, Manuel Luís – A Abadia Velha de Salzedas. Notícia do aparecimento dassuas ruínas. Guimarães, 1983, p. 13-14 (Sep. da “Revista de Guimarães”); IDEM – Oconvento românico de S. Vicente de Fora. Monumentos. Revista semestral de Edifíciose Monumentos. Lisboa: DGEMN, 2 (Mar. 1995), p. 19-21. É de referir que quando fi-zemos a visita de reconhecimento aos achados fortuitos da Abadia Velha, nos finais dosanos sessenta, apenas tinha aparecido o muro sul do absidíolo meridional, que era rec-tilíneo e nos induziu em erro, ao estabelecermos paralelo com a cabeceira de Tarouca.As ruínas ficaram por largos anos na situação em que as deixou o proprietário, quan-do procedia ao plantio de um pomar. Mais tarde verificou-se que as absides eram deplanta poligonal: cf. TEIXEIRA, Ricardo – Arqueologia dos espaços cistercienses noVale do Douro. In Cister no Vale do Douro. Porto: GEHVID; Edições Afrontamento,1999, p.209-214; para a planta reconstituída da Abadia Nova, vd. p. 230.18. CARVALHEIRA, Ana Margarida Gonçalves – A igreja cisterciense de Santa Mariade Aguiar. O conjunto arquitectónico medieval e as campanhas da D.G.E.M.N. (1936-1962). S. l.: Parque Arqueológico do Vale do Côa, 2002, p. 57-58.
actas2012 02.04.13 20:22 Page 89
90 Monasticon(II): nos caminhos de Cister – Livro do VIII Encontro Cultural de São Cristóvão de Lafões
Fig. 14Reconstituição das latrinas
de S. João de Tarouca (seg. Luís Sebastian e Ana S.
e Castro)
Fig. 15Estudo da modulaçãogeométrica da planta daigreja de S. João de Tarouca (seg. Virgolino F. Jorge)
Fig. 16A Quinta do Granjão (antiga
granja de S. Salvador), quepertenceu ao mosteiro de
Tarouca (seg. Ricardo Teixeira)
actas2012 02.04.13 20:22 Page 90
91A Organização do Espaço Monástico entre os Cistercienses, no Portugal Medievo – Manuel Luís Real
O número de capelas dos nossos templos tem a ver, igualmente, com a escalarelativamente modesta das respectivas comunidades em Portugal. Como contra-ponto pode citar-se a igreja abacial de Cister, que, com o tempo, chegou a disporde quase trinta altares. É que os monges praticavam também missas privadas, dei-xando-se a cada um a escolha do número de vezes e quais os dias de celebração19.No entanto, o Liber usum cisterciensii ordinis informa-nos que, pelo menos, cadamonge oficiante devia rezar três missas por um irmão falecido e, ao longo do ano,vinte missas por todos os mortos da comunidade20. A isto somar-se-iam as missasrelativas a promessas ou devoções particulares, além dos ofícios litúrgicos a que de-viam assistir os conversos, na zona que lhes estava reservada. Tudo junto, reco-mendava a multiplicação dos altares. Assim se explica o aparecimento de cabe-ceiras com deambulatório e capelas radiais, transeptos com múltiplas absides, al-tares encostados a pilares ou ao coro dos monges e, presumivelmente já na IdadeMédia, a adaptação de capelas nos tramos das naves colaterais, em especial na-queles que eram cobertos por abóbadas transversas. A igreja de Alcobaça, com asua charola, é um caso excepcional que se destinava, no seu período áureo, a umapopulação de cerca de 150 monges, para além dos conversos e noviços. A segun-da em grandeza será, porventura, a Abadia Nova de Salzedas, com a sua disten-dida cabeceira de cinco absides e o elevado número de tramos das naves, dotadosde abóbadas transversais. Uma abadia de média dimensão poderia albergar entretrinta a cinquenta monges e estarão nesse caso as de S. João de Tarouca ou Sª Mªde Bouro. Em Sª Mª de Seiça – que, quando da reforma do séc. xvi, possuía 16monges e dois conversos – um inventário de 1408 informa-nos que aí havia seis al-tares21, alguns seguramente fora do santuário. Apesar desta distribuição de alta-res litúrgicos ultrapassar a zona da cabeceira, a sacralização desta última é acen-tuada pela legendagem epigráfica dos oragos de algumas das capelas, como acon-tece em Tarouca ou Alcobaça22.
Passando agora ao mosteiro, no seu conjunto, observa-se uma hierarquia dosespaços, rigorosa e de forte carga simbólica: da cabeceira do templo para o corodos monges e, deste, para o espaço dos conversos, aos pés da igreja; da ala do ca-pítulo e dormitório dos monges para ala dos conversos e celeiro; da igreja, saindopela “porta do céu” ao claustro do “silêncio” e, deste, para as zonas de trabalhoe sustento dos monges. O templo, que assentava não raras vezes na parte mais ele-vada do terreno, obedecia a uma planimetria evocadora do Cristo Salvador e, aí,viviam os monges os momentos de maior intensidade mística. No lado oposto, ape-sar do voto de silêncio, os habitantes do mosteiro, ora se agitavam laboriosamen-te, ora cumpriam os actos mundanos da sua refeição e higiene pessoal. O claustro,
19. PLOUVIER, Martine – Op. cit., p. 72-73.20. MATTOSO, José – O culto dos mortos em Cister no tempo de S. Bernardo. Bra-ga, 1991, p. 99 (Sep. das Actas dos Encontros de Alcobaça e Simpósio de Lisboa, noIX Centenário do Nascimento de S. Bernardo). 21. MARQUES, Maria Alegria – Estudos sobre Cister em Portugal. Lisboa: Edições Co-libri; Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1998, p. 245.22. BARROCA, Mário Jorge – Op. cit., vol. 2, p. 606-608 e 1193-1200.
actas2012 02.04.13 20:22 Page 91
92 Monasticon(II): nos caminhos de Cister – Livro do VIII Encontro Cultural de São Cristóvão de Lafões
Fig. 17Granjas do couto daabadia de Alcobaça
(seg. José M.Varandas)
Fig. 18Reconstituição daplanimetria do mosteirode Alcobaça, de acordocom o sistema “adquadratum” (seg. Virgolino F. Jorge)
por seu turno, era o epicentro da vida em clausura. Mas a relação entre os espa-ços podia efectuar-se à sua margem, em acessos particulares, como o das escadasdas matinas que ligavam directamente o dormitório dos monges à igreja, ou o cor-redor dos conversos, independente e paralelo à galeria oeste da castra, onde estesnão podiam aceder. Há também que aludir à clara diferenciação entre este espaçovital da comunidade e as outras unidades de apoio, construídas em redor e igual-
actas2012 02.04.13 20:22 Page 92
93A Organização do Espaço Monástico entre os Cistercienses, no Portugal Medievo – Manuel Luís Real
mente afectas aos desígnios da congregação (tulha, estábulos, palheiros, moinho,forno, hospedaria, etc.). Como, ainda, à separação entre todo aquele territórioabrangido pelos edifícios monásticos e a cerca dos mosteiro, por um lado, e a suaperiferia imediata, por outro, onde paulatinamente progride o povoamento laico– de servos e colonos do mosteiro. Aqui irá emergindo a vida paroquial, não pre-vista no momento da fundação, a qual se expressará em momento posterior, atra-vés de uma capelania adjacente23 e do cemitério, alargado este a leigos devotos eaos fiéis das redondezas.
Merece sublinhar-se que o complexo edificado de um mosteiro não é, em si, umespaço imutável. Ele vai sofrendo várias metamorfoses, não só no plano formal,mas também do ponto de vista funcional e, até por vezes, simbólico. A mais ime-diata evolução é a que resulta do próprio ritmo construtivo24, desde o lançamen-to da primeira pedra. A comunidade só se transferia para local definitivo, quandoreconhecia que estavam criadas as condições mínimas de funcionamento da vidamonacal. Veja-se o caso de Alcobaça, em que só ao fim de quarenta e cinco anosde decurso da obra (1178-1223) é que os monges se mudaram de Santa Maria-a-Velha para a nova abadia. Mesmo assim, a igreja só veio a ser sagrada em 1252,numa altura em que o claustro estava ainda por construir. A data de 1308, que co-memora o lançamento da primeira pedra do claustro, deve ser entendida comouma referência à galeria em pedra, com seus arcos, posto que logo três anos depoiso trabalho estava concluído. Mas as instalações dos monges e conversos, já esta-riam operacionais há mais tempo. Tudo leva a crer, porém, que o grande refeitó-rio tenha conhecido dois momentos distintos. Mesmo depois de concluídos, os edi-fícios monásticos foram sofrendo transformações, em face do desenvolvimento daprópria congregação, que projectou novos claustros, reformou a ala dos conver-sos e mandou substituir a cozinha medieval, entre outras intervenções no edifício.Em alguns mosteiros nunca se conseguiu concluir o projecto inicial, como em San-ta Maria da Estrela, extinto em 1579, ou como em Santa Maria de Ermelo e Pi-tões das Júnias, onde se evoluiu para soluções menos articuladas.
23. São exemplo disso a desaparecida capela de S. Brás, em Tarouca, e a capela de Nos-sa Senhora da Piedade, em Almoster, esta última ainda hoje encostada ao absidíolo sulda igreja, do lado exterior e com porta virada para o adro. Tais capelas podiam ter ori-gem num mausoléu para pessoas de nível social mais elevado, acabando por servir deassistência religiosa aos fregueses laicos. Algo de semelhante pode ter existido na Aba-dia Nova de Salzedas. Apesar das compreensíveis dificuldades sugeridas por A. de Al-meida Fernandes, parece-nos que as descrições de Frei Baltasar dos Reis e de Rui Fer-nandes se referem a duas zonas distintas, anexas à igreja. O monge falará da galilé pro-priamente dita, sobre a fachada ocidental, enquanto o autor da descrição de Lamego earredores parece referir-se a uma capela, com alpendre, encostada do lado norte da igre-ja. Cf. FERNANDES, A. de Almeida – Op. cit., 1979, p. 432-439.24. Veja-se, a propósito de Tarouca, o interessante estudo da sua evolução construtivaem: CASTRO, Ana Sampaio e SEBASTIAN, Luís – Estudo gliptográfico do mosteirode S. João de Tarouca. In Promontória Monográfica. Loulé: Núcleo de Arqueologia ePaleoecologia da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Universidade do Algar-ve, n.º 13, 2010, p. 79-90 (Actas do 4º Congresso de Arqueologia Peninsular, Loulé,2004).
actas2012 02.04.13 20:22 Page 93
94 Monasticon(II): nos caminhos de Cister – Livro do VIII Encontro Cultural de São Cristóvão de Lafões
Fig. 19Análise da elevação do igreja abacial deAlcobaça, de acordo com o sistema “adquadratum” (seg. Virgolino F. Jorge)
Fig. 20Parede do braço norte do transepto daigreja de Sª Maria de Aguiar (foto do autor)
Fig. 21Igreja e galilé de Santa Maria de Pombeiro(seg. Marcelo Mendes Pinto)
Fig. 22Planta da igreja de Santa Maria de Fiães (seg. José Marques)
actas2012 02.04.13 20:22 Page 94
95A Organização do Espaço Monástico entre os Cistercienses, no Portugal Medievo – Manuel Luís Real
Um outro aspecto que denuncia rápidas mudanças conceptuais – e de regi-mento – prende-se com a dinâmica das práticas funerárias no interior do mostei-ro. Não nos referiremos à questão do ritual, que ficou bem tratada por José Mat-toso no artigo já acima referido25. Cingir-nos-emos ao tema da delimitação dos lu-gares de enterramento, o qual nos deixa uma imagem clara da evolução do valorsimbólico de certos espaços e da progressiva abertura do mosteiro à comunidadelaica. A Ordem foi, desde o início, muito rigorosa e detalhada a regular a vida mo-nástica: liturgia das horas, leituras, jejuns, gestão do tempo e da palavra, trabalho,alimentação, vestuário, higiene, despojamento arquitectónico, etc. O chamadoExórdio de Cister proibia a entrada de leigos para confissão, comunhão e, mesmo,sepultura: “não acolhemos ninguém de fora, com excepção dos hóspedes e dos nos-sos operários assalariados que residem no interior do mosteiro; nem tão poucoaceitamos ofertas para a missa da comunidade”26. Os monges seriam sepultadosno claustro, ficando a sala do capítulo reservada para os abades, segundo veio aestipular o Capítulo Geral de 1180. As normas emanadas das reuniões do órgãomáximo da Ordem deviam, depois, ser escrupulosamente cumpridas pelas comu-nidades locais. Isto explicará a circunstância de D. Estêvão Martins, que foi aba-de em Alcobaça durante vinte e cinco anos, ter sido enterrado na ala leste do Claus-tro do Silêncio (1285) e não na Sala do Capítulo, por haver entretanto resignado.Os Estatutos anteriores a 1134 já eram inflexíveis quanto à aceitação de oblaçõesvindas da comunidade exterior, mas permitiam a cada monge pedir a sepultura,dentro de muros, de apenas dois irmãos leigos, “de entre os amigos [e] dos nossoscriados com suas esposas”. O rigor inicial, a respeito da troca de sufrágios e do en-terramento piedoso de estranhos à comunidade – onde José Mattoso vê “uma reac-ção contra as práticas cluniacenses” – sofreu uma primeira quebra logo em 1152,com a permissão do enterramento de reis, rainhas e bispos27. Mas o carácter ex-cepcional desta medida depressa se estendeu aos fundadores da abadia, no Capí-tulo Geral realizado cinco anos depois, que lhes abriu tal prerrogativa. E no iníciodo séc. xiii, os próprios benfeitores tinham já permissão para ser enterrados nasgalerias do claustro28. Assim se compreende que em Alcobaça figurem, desde cedo,sepulturas de membros da nobreza, nomeadamente entre os Sousas, Toronhos eAzevedos. De referir que o epitáfio de D. Maior Mendes é muito precoce, logo de1208. No interior da igreja abacial estava vedada a inumação de qualquer mem-bro da comunidade cisterciense, inclusive aos abades e priores. Aí só poderiam re-ceber sepultura os reis, os príncipes e a hierarquia da Igreja. Pelo testamento de D.Dinis, sabe-se que este monarca pensava sepultar-se mesmo na capela-mor de Al-cobaça, junto com a rainha. No entanto, veio mais tarde a escolher o mosteiro fe-
25. Cfr. nota 20.26. NASCIMENTO, A. Aires de – Op. cit., 1999, p. 61. Os Estatutos também proibiamo abade e os monges de “…baptizar uma criança ou mesmo servir de padrinho no bap-tismo, a não ser em perigo de morte, em que falte um sacerdote”. Idem, p. 85.27. Idem, p. 97.28. SILVA, José Custódio Vieira da – O Panteão Régio do Mosteiro de Alcobaça. Lis-boa: IPPAR, 2003, p. 21.
actas2012 02.04.13 20:22 Page 95
96 Monasticon(II): nos caminhos de Cister – Livro do VIII Encontro Cultural de São Cristóvão de Lafões
Fig. 23Planta do mosteiro deSanta Maria dasJúnias (amabilidade deAnton FranzSchneider), com alocalização dostrabalhos de ferraria
Fig. 24Planta do mosteiro de Sª. Mª.de Aguiar, no século XIX (reprod. em Ana M. G.Carvalheira)
Fig. 25Estudo do sistema“ad quadratum”,
em Villardd´Honecourt (seg. Thierry
Hatot)
minino de Odivelas. Poderá também ter sido lavrado, para aqui, um túmulo quese destinaria à rainha Santa Isabel e rejeitado por esta quando decidiu afastar-separa Santa Clara-a-Velha de Coimbra, se for verídica a interpretação de Giulia Vai-ro, a respeito de um dos sarcófagos conservados no Museu Arqueológico do Car-mo. Em Odivelas, o rei recuou no intento de se fazer inumar na capela-mor, ficandoo túmulo próximo desta, mas na nave central e à frente do coro das freiras29. A
29. VAIRO, Giulia Rossi – O mosteiro de S. Dinis de Odivelas: Panteão Régio. Con-sultável na net em: http://www.ghp.ics.uminho.pt/I% 20Encontro% 20CITCEM-DOCS/DIA% 2027/ Familia,% 20espa% C3% A7o% 20e% 20patrimonio% 20fon-tes% 20e% 20representa% C3% A7% C3% B5es% 20(09h00-10h30)/Giulia%20Rossi% 20Vairo/Giulia% 20Rossi% 20Vairo_TEXTO.pdf
actas2012 02.04.13 20:22 Page 96
97A Organização do Espaço Monástico entre os Cistercienses, no Portugal Medievo – Manuel Luís Real
abadia de Alcobaça voltou a ser preferida por D. Pedro, seguindo a tradição ini-ciada por D. Afonso ii. Mas ao contrário dos seus antepassados – que, com hu-mildade, ficaram aos pés da igreja, não passando da galilé – o rei reservou, para osarcófago de D. Inês de Castro e para o seu futuro túmulo, o braço sul do tran-septo. Aproximava-se assim do santuário, sem contudo se interpor entre o coro dosmonges e a capela-mor, o que deveria ser considerado perturbador para a assis-tência daqueles à liturgia da missa. A opção da galilé pelos seus antepassados, noséc. xiii, respeitava uma tradição anterior, à imagem do que sucedia no Panteónde los Reyes, em Leon, ou no nártex de Santa Cruz de Coimbra, onde estariam ini-cialmente os túmulos dos primeiros reis de Portugal. O primitivo panteão de Al-cobaça localizava-se também junto à entrada ocidental do templo, num espaço de-limitado, que possuiria três naves e dois tramos separados por um par de grossospilares, muito à semelhança do que sucedia na célebre galilé de Pombeiro (fig. 21).Esta última foi mandada construir pelos Sousas, patronos do mosteiro beneditino,mas cujos ascendentes – na ausência de um panteão familiar – procuraram repousoeterno também no mosteiro de Alcobaça, em espaço que lhes fora reservado noclaustro. A planta da galilé de Pombeiro foi revelada há pouco tempo, na sequên-cia das escavações arqueológicas de Marcelo Mendes Pinto30. Ela pode ser consi-derada um unicum no universo beneditino português, resultante do investimentofeito pela família patronal com a intenção de criar, na sua principal zona de in-fluência, um mausoléu que se inspirava no modelo usado então pela corte. Quan-to a Alcobaça, propomos uma rectificação do traçado da galilé, cuja área de im-plantação foi acertadamente intuída por Artur N. de Gusmão, mas em que a plan-ta aparece sem resguardo mural a ocidente e termina mais cedo, numa presumívellinha de escadas (fig. 18). A lógica arquitectónica aponta, antes, para a coincidênciada frontaria do nártex com a linha mais avançada da ala dos conversos e, só as-sim, se explica a descrição de que os túmulos dos reis estivessem “à mão direita dequem sai da igreja”. Um único tramo não garantia espaço suficiente para albergartodos os túmulos, além de que é lícito supor, pelo mesmo motivo, que as arcas dasrainhas e dos príncipes – não referidas na confusa descrição de Frei Jerónimo Ro-mán – se localizassem no lado oposto, ou seja, na nave meridional. A galilé de Pom-beiro seria fechada na parte ocidental, o que nos leva a interrogar se em Alcoba-ça sucederia o mesmo, apesar de noutras abadias se encontrarem galilés de tipo di-verso, abertas e de um só tramo, como se fossem alpendres porticados. Recentestentativas de reconstituição geral dos mosteiros de Tarouca e Salzedas, apontamnesse sentido, embora ainda sem base arqueológica segura (figs. 10 e 13). É de per-guntar se, em Tarouca, a localização inicial dos sarcófagos do Conde de Barcelose da sua consorte, D. Teresa Anes, não estariam efectivamente num mausoléu si-tuado no lado sul da galilé, que estaria dividida em dois espaços independentes (istoé, no lado oposto à porta dos conversos, pois, no contraforte adjacente a esta úl-tima, há vestígios de ter recebido um muro no sentido e-w, que rematava o aces-
30. PINTO, Marcelo Mendes – Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro. Arqueologia.Felgueiras: Câmara Municipal de F., 2011.
actas2012 02.04.13 20:22 Page 97
98 Monasticon(II): nos caminhos de Cister – Livro do VIII Encontro Cultural de São Cristóvão de Lafões
so, protegido, daqueles à igreja), dada a pouco provável aceitação do seu ingres-so no interior do templo. E o mesmo se pode pensar de outros casos, como o deFernão Anes Lima, em Fiães, ou de Álvaro Pires de Távora em S. Pedro das Águias.
A igreja possuía, do lado oposto ao claustro, uma porta secundária destinada,em certas circunstâncias, a receber hóspedes ilustres. Era conhecida por “porta dosmortos”, pois através dela se acedia também ao cemitério. Inicialmente, este espaçotalvez se destinasse apenas aos habitantes do mosteiro, nomeadamente para osconversos falecidos. Todavia, é provável que, com o tempo, aí recebesse sepultu-ra a população humilde das redondezas, a começar pelas famílias dos assalariadosque trabalhavam para a abadia. Um cemitério do género, murado em redor, podever-se em Pitões das Júnias. Em S. João de Tarouca foi encontrada uma segundazona de enterramentos no exterior da capela-mor, da parte setentrional (fig. 13),e que parece remontar à baixa-Idade Média.
Na periferia do mosteiro, desenvolvia-se um domínio, mais ou menos vasto,resultante de uma das condições impostas para a fundação do mesmo, de modo agarantir os necessários meios de subsistência da comunidade. Em regra, este pa-trimónio é constituído por uma doação inicial, a qual ia sendo paulatinamente en-riquecida por outras doações, compras ou escambos. O direito pleno sobre tais do-mínios, enquanto entidades jurídicas, estava normalmente consagrado nas cartasde couto. Algumas abadias eram senhoras de coutos de muito ampla dimensão,como foi o caso de Alcobaça com os seus 44 mil hectares. Porém, as áreas couta-das podiam ter descontinuidade entre si. O mosteiro de Alcobaça, por exemplo,possuía ainda dois pequenos coutos na Estremadura (Ota) e no Alentejo (Berin-gel)31. Os bens de uma abadia espraiavam-se normalmente muito para além dasáreas de couto, fruto de doações e de estratégias de aquisição para suprir certas ne-cessidades de abastecimento, de circulação de bens ou de mera expansão das áreasprodutivas. Algumas abadias tiveram uma área de influência bastante restrita,como S. Paulo de Almaziva, cujo património ficou limitado ao baixo Mondego32.Outras possuíam bens dispersos por largas zonas do país, de que constitui um bomexemplo o mosteiro de S. João de Tarouca, cujo cartulário foi exaustivamente pu-blicado por A. de Almeida Fernandes. Na verdade, os monges de Tarouca possuíamgrande número de bens nos distritos de Viseu e da Guarda, mas também fizeramaquisições, algumas importantes, nos de Vila Real, Lisboa e Porto. Além dos cam-pos de cultivo e de terrenos silvícolas ou pastagens para criação de gado, o mos-teiro possuía casais, moinhos, lagares, embarcadouros, pesqueiros e, até, umas sa-linas (granja de Sª Eulália, Porto) e uma ferraria (“herdade” de Moledo, CastroDaire)33 Este último caso é particularmente interessante, pois tratava-se de um ac-tivo estratégico ao serviço da gestão do domínio, no seu todo, já que aí se produ-ziam ferramentas e outros artefactos consumidos na lavoura e nas actividades do-
31. MARQUES, Maria Alegria – Op. cit,, 1998, p. 183.32. SANTOS, Maria José Azevedo – Vida e morte de um mosteiro cisterciense: S. Pau-lo de Almaziva – Séculos XIII-XVI. Lisboa: Edições Colibri, 1998, p. 86.33. FERNANDES, A. de Almeida – Op. cit., p. 277 e 579.
actas2012 02.04.13 20:22 Page 98
99A Organização do Espaço Monástico entre os Cistercienses, no Portugal Medievo – Manuel Luís Real
mésticas. E no instrumento de doação, datado de 1182, especifica-se, neste caso,a existência de uma boa casa, uma forja e o monte onde se explorava o ferro. Alémdos bens mencionados, vale a pena lembrar que os monges possuíam também pré-dios de arrendamento, alguns deles urbanos. Uma estimativa para os sécs. XII-XIII,aponta para um total de 361 prédios de diversa ordem, obtidos por doação oucompra, de um total de 771 bens patrimoniais34.
A exploração dos domínios cistercienses fazia-se segundo uma regulação tam-bém muito estrita. Os monges encontravam, no trabalho em silêncio, um meio deaperfeiçoamento espiritual, mas a regra impedia-os de se ausentarem para fora domosteiro. Só excepcional e restritamente eram dadas licenças para tratar de as-suntos do interesse do mosteiro, como no caso da gestão das granjas, onde a par-tir de dada altura passou a haver um monge responsável, com a obrigação de ze-lar que os demais colaboradores, aí também, praticassem um modo de vida frugale de oração.
Os religiosos encarregavam-se de uma variedade ofícios, que eram exercidosno interior da cerca monástica. Para certas tarefas, eram auxiliados pelos conver-sos e por serventes assalariados35, com realce para o trabalho nas referidas gran-jas, que se converteram, entre os cistercienses, nas unidades de exploração por ex-celência36. No primitivo couto de Tarouca, havia inicialmente três granjas: Brufe,São Salvador e Souto Redondo. A de São Salvador seria a mais importante (fig.16),tendo dado origem à actual Quinta do Granjão, onde existe, ainda de pé, um edi-fício que conserva alguns trechos de arquitectura medieval. Mas rapidamente sur-giram outras – uma das quais, a da Foz do Douro, já acima referida – tendo Al-meida Fernandes identificado várias dezenas de granjas pertencentes a Tarouca. Omesmo sucedia com Alcobaça (fig. 17), onde, só na área do couto, a abadia dis-punha de mais de trinta granjas e cerca de quarenta celeiros. Algumas destas gran-jas especializavam-se em certo tipo de produções, como o atestam alguns docu-
34. MATOS, João Cunha; MARREIROS, Rosa – O património do mosteiro cister-ciense de S. João de Tarouca nos séculos XII e XIII. In CONGRESSO INTERNA-CIONAL SOBRE SAN BERNARDO E O CISTER EN GALICIA E PORTUGAL, [1],Ourense-Oseira, 1991 – Actas, vol. 1, Ourense, 1992, p. 495-511; vd. tb. SILVA, Car-los M. Guardado – O temporal do mosteiro de Tarouca. Séculos XII-XIII. CON-GRESSO INTERNACIONAL SOBRE EL CISTER EN GALICIA E PORTUGAL, 2,Ourense, 1998 – Actas, vol. 1, Ourense, 1999, p. 481-495.35. Só em 1208 os cistercienses foram autorizados, pelo Capítulo Geral, a alugar as ter-ras “menos úteis” a outros cultivadores. Em 1224 passaram a poder fazê-lo, em quais-quer terras do domínio. Vd. BARBOSA, Pedro; MOREIRA, Maria da Luz – Seiva sa-grada: A agricultura na região de Alcobaça: Notas históricas. Alcobaça, Associação dosAgricultores da região de Alcobaça, 2006, p. 81.36. A este respeito vejam-se os clássicos trabalhos de: FERNANDES, A. de Almeida –Acção dos cistercienses de Tarouca: As granjas nos sécs. XII e XIII. Guimarães, 1976;e GONÇALVES, Iria – O património do mosteiro de Alcobaça nos séculos XIV e XV.Lisboa: Universidade Nova, 1989. Sobre o aspecto construtivo, veja-se ainda: TERE-NO, Maria do Céu Simões – Arquitectura das granjas cistercienses na região das Bei-ras: Notas de investigação preliminar. In ENCONTRO CULTURAL, 1, S. Cristóvão deLafões, 2005 – As Beiras e a presença de Cister: Espaços, Património edificado, Espi-ritualidade. S. Cristóvão de Lafões, 2006, p. 31-50.
actas2012 02.04.13 20:22 Page 99
100 Monasticon(II): nos caminhos de Cister – Livro do VIII Encontro Cultural de São Cristóvão de Lafões
mentos e assim o insinua a própria toponímia alcobacense. Encontrar-se-ão nestecaso as granjas de: Amoreira, Colmeias, Pescaria, Salir do Mato, Vestiaria, Ferra-ria e Telheiro. Tal como em Salir, a produção de sal estava também afecta à gran-ja da Mota, enquanto a de Turquel, situada mais no interior e próximo das pri-meiras colinas serranas, se terá especializado na criação de gado37.
Ao abordarmos o espaço cisterciense merece, por fim, uma chamada de aten-ção para o papel que os monges cistercienses desempenharam na transformação dapaisagem. Falamos, já por diversas vezes, no aproveitamento feito dos recursos na-turais, em trabalhos hidráulicos, na exploração de minério, na criação de salinas,etc.. Cingindo-nos ao couto de S. João de Tarouca – que é um caso exemplar dedesenvolvimento da investigação científica em aspectos de contexto e de gestão doterritório – referir-nos-emos ao tema das pedreiras e ao da exploração agrícola.Tem sido impulsionador destes estudos o arqueólogo Luís Sebastian, que, junta-mente com alguns colaboradores, vem publicando trabalhos especializados sobrematérias diversas, todas elas relacionadas com o projecto arqueológico de Tarou-ca. No que concerne à exploração de granito, foram identificados nove locais numraio de cerca de 2,5 km (fig. 12). Todos eles se situam dentro da área do couto pri-mitivo, excepto a jazida do Alto do Padrão, explorada pelos habitantes da aldeiade Teixelo. A mais antiga deverá ser, naturalmente, a pedreira de S. João, junto aolocal onde foi erguido o mosteiro, cuja pedra, numa das paredes da igreja, foi ob-jecto de análise litológica. O estudo das várias jazidas forneceu diversos tipos degranito e revelou detalhes da exploração: marcas de guilhos, cunhas de madeira ebrocas (estas mais recentes); marcas de esquadria no afloramento rochoso; pedrasintegralmente talhadas ou afeiçoadas; e cascalheiras. Finalmente, prospectaram-seos caminhos tradicionais, sendo inventariados cinco trajectos radiais, por onde cir-culavam os carretos, algumas vezes com ligações secundárias e percursos alterna-tivos38.
Outra interessante pesquisa levada a cabo na área de Tarouca, diz respeito àanálise palinológica de sedimentos recolhidos durante a escavação. O estudo dospólens revelou que o mosteiro foi implantado numa área não arborizada. No en-tanto, havia nesta zona o castanheiro (plantado?) e constatou-se a total ausênciado pinheiro, além de não terem sido testemunhadas as culturas actuais da olivei-ra e da vinha. Em fase anterior à fundação do mosteiro, é confirmada a existênciade agricultura, pela presença de pólenes de cereais. Isto pode indiciar um habitatpróximo, mais antigo, embora não exactamente neste local, já que não se teste-munharam detritos domésticos e outros vestígios normalmente associados. Se-
37. Para informação mais detalhada, vd. tb: BARBOSA, Pedro; MOREIRA, Maria daLuz – Op. cit., 2006; VARANDAS, José Manuel – A valorização do domínio de Alco-baça: as granjas (séculos XII e XIII). In Congresso Internacional sobre San Bernardo eo Cister en Galicia e Portugal, [1], Ourense-Oseira, 1991 – Actas, vol. 1, Ourense,1992, p.553-561.38. MARQUES, Catarina Alexandra; CATARINO, Lídia; SEBASTIAN, Luís – A pe-dra na construção de S. João de Tarouca. Oppidum, Lousada, 5:4 (2010), p. 113-162.Os trajectos utilizados nos carretos da pedra podem ver-se na fig. 53.
actas2012 02.04.13 20:22 Page 100
101A Organização do Espaço Monástico entre os Cistercienses, no Portugal Medievo – Manuel Luís Real
gundo os autores do estudo, para já, a informação polínica aponta para “a defi-nição de dois períodos distintos”, anteriores a 1154, embora cronologicamenteainda não enquadrados. Numa primeira fase haveria uma predominância arbórea,traduzindo-se em sucessivas desmatações, por queimadas ou abate de árvores, se-guidas de colonizações naturais. A actividade agrícola seria incipiente e descontí-nua nesta fase, podendo estimar-se que o principal objectivo de tais desarboriza-ções se destinava a criar condições propícias para a actividade pastorícia. O se-gundo período sinaliza a “consolidação da acção humana sobre a paisagem, como definitivo recuo e estabilização da área de ocupação arbórea em prováveis man-chas descontínuas e definitiva afirmação de uma paisagem predominantemente her-bácea”. As manchas arborizadas eram “compostas maioritariamente por casta-nheiros e em segundo plano por carvalhos, aveleiras, amieiros e salgueiros”. Ha-veria “predominância de grandes áreas colonizadas por herbáceas, na sua maiorparte constituídas por fabáceas e poáceas, sendo estas últimas relacionáveis coma actividade pastorícia”. O que esta investigação veio a revelar, desde logo, foi acircunstância dos monges se terem instalado num meio já povoado. Aliás, fala-sena possibilidade de filiação de uma comunidade anterior. No entanto, a coloniza-ção cisterciense irá doravante deixar a sua marca, não apenas pelas reformas queproduziu no plano construtivo, mas também pela introdução na paisagem das cul-turas da oliveira e da videira, assim como, muito possivelmente, a do pinheiro,dada a invulgar ausência de pólen desta espécie, o qual “pode percorrer longas dis-tâncias e é geralmente raro não se encontrar nos espectros”39.
O planeamento do espaço conventual
Antes de concluir, não poderemos deixar de acrescentar algumas notas sobrea organização do espaço arquitectónico. Não iremos falar do plano ideal, por jáanteriormente o havemos feito40 e por se tratar de matéria desenvolvida por ou-tros autores que se têm debruçado sobre Cister em Portugal, como Maur Coche-ril, Artur. N. de Gusmão, Virgolino Jorge, Ana Pagará, etc.41. Apenas cumpre su-blinhar o sentido e o esforço programático dos cistercienses. O apurado conceitosistémico que têm do espaço da clausura e o seu inquestionável espírito concreti-
39. SEBASTIAN, Luís et alii – A implantação medieval do mosteiro de S. João de Ta-rouca: Dados palinológicos. Arqueologia medieval, 10, Porto: Edições Afrontamento(2008), p. 135-144.40. Op. cit., 1998, p. 66-75.41. Será dispensável citar algumas das obras clássicas que abordam a arquitectura cis-terciense em Portugal, na Idade Média, pelo que abrimos excepção para os trabalhosde Virgolino Jorge (Organização espácio-funcional da abadia cisterciense medieva. Al-cobaça como modelo de análise) e de Ana Pagará (Caracterização morfotipológica daarquitectura dos Cistercienses na região das Beiras), devido à circunstância de teremtambém sido apresentados aqui, em Lafões, no 1º Encontro Cultural, que se realizouem 2005 e cujas Actas foram publicadas no ano seguinte.
actas2012 02.04.13 20:22 Page 101
102 Monasticon(II): nos caminhos de Cister – Livro do VIII Encontro Cultural de São Cristóvão de Lafões
zador, porém, só terão sido plenamente bem sucedidos num número restrito de ca-sos. Parece que, para além de Alcobaça (fig. 18), só em S. João de Tarouca e naAbadia Nova de Salzedas existem evidências da conclusão do plano inicial. Sobreos dois mosteiros da Beira Alta, apresentamos as propostas de reconstituição efec-tuadas, respectivamente, por Luís Sebastian / Ana Sampaio e Castro42 e por Mi-guel Amado43 (figs. 10 e 13). Ambos os ensaios, resultaram de umas quantas in-formações de natureza documental e de escavações na área claustral, sistemáticasno primeiro caso, e meras sondagens no solo e nas paredes em Salzedas, para efei-tos de diagnóstico sobre as condições de estabilidade desta parte do edifício. Emtodos os casos, Alcobaça incluído, permanecem algumas dúvidas de pormenorquanto à ala dos conversos e tulha, dado que, devido à sua menor importância nahierarquia conventual, foi sempre a parte mais massacrada durante as reformas deépoca moderna. É de sublinhar, em primeira instância, o desvio de orientação des-ta ala nos dois cenóbios beirãos, tendo como consequência um plano tendencial-mente trapezoidal. Não são seguras as razões de tais desvios, podendo pensar-seem condicionantes do terreno ou no respeito por algum antecedente construtivo,num sector que – e isso é seguro – só costumava ser edificado a posteriori, depoisdos monges estarem já definitivamente instalados. Em Tarouca, esta parte da obrafoi rigorosamente datada do 1º quartel do séc. xiii e, segundo os arqueólogos, odesvio pode ter ficado a dever-se à procura de maior solidez para os alicerces, apro-veitando a rocha base e de modo a evitar fundações tão dispendiosas como as quefoi necessário construir na ala leste. Não nos deteremos na descrição pormenori-zada das particularidades encontradas durante as escavações, mas merece realçarque, sendo projectos de matriz “gaulesa”, as suas características apontam ten-dencialmente para o modelo de Fontenay (igualmente filha de Claraval e cuja igre-ja, iniciada em vida de S. Bernardo, se sagrou em 1147). No entanto, são eviden-tes algumas adaptações e singularidades. Os estudos de Tarouca encontram-se maisadiantados, aguardando-se que surja também oportunidade para escavações sis-temáticas em Salzedas. Sendo de lembrar Tarouca como o primeiro edifício por-tuguês de “plano bernardino” – pois nada se sabe de concreto sobre os primórdiosde S. Cristóvão de Lafões – o seu projecto apresenta diversas soluções inspiradasdirectamente na citada abadia borgonhesa. Embora de proporções menos avanta-jadas – com diminuição do número de capelas absidais e de tramos nas naves – aslinhas gerais da arquitectura seguem de perto Fontenay, com realce para o sistemade abobadamento das naves colaterais. E isto é tanto mais relevante quando se ob-servam outras coincidências de natureza programática, até em detalhes secundá-
42. SEASTIAN, Luís; CASTRO, Ana Sampaio – A intervenção arqueológica no mos-teiro de S. João de Tarouca. 1999-2004. In Promontoria Monográfica. Loulé: Núcleode Arqueologia e Paleoecologia da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Uni-versidade do Algarve, n.º 13, 2010, p. 9-32, figs. 3,14 e 21 (Actas do 4º Congresso deArqueologia Peninsular, Loulé, 2004); IDEM – Uma primeira proposta de reconstitui-ção arquitectónica do mosteiro cisterciense de S. João de Tarouca. Revista de Históriade Arte, 4, Lisboa (2007), p. 142-171 e fig. 2 ; CASTRO, Ana Sampaio e; SEBASTIAN,Luís – A implantação monástica no Vale do Varosa: o caso do Mosteiro de S. João deTarouca. Oppidum, 4 (3), Lousada (2008-2009), 115-136 e fig. 3.43. AMADO, Miguel António Reis – Op. cit., p. 79-101.
actas2012 02.04.13 20:22 Page 102
103A Organização do Espaço Monástico entre os Cistercienses, no Portugal Medievo – Manuel Luís Real
rios: localização da porta dos conversos, virada a ocidente, no topo da nave cola-teral norte; posicionamento da porta de ligação do calefatório ao claustro, apro-ximando-a da zona de trabalho do monges; ausência de espaço individualizadopara os noviços. Em linhas gerais, a distribuição dos espaços é a clássica entre oscistercienses, mas isto não significa que possamos ver em Tarouca a cópia integraldo plano de Fontenay. As diferenças notadas respeitam sobretudo a pormenores,mas que parecem indicar melhorias de funcionalidade relativamente ao arquétipoborgonhês, iniciado quinze anos antes. É o caso do auditorium, lugar de trabalhoadministrativo do prior, que aparece individualizado; e é a duplicação das latrinasno topo da ala dos monges, tanto ao nível do dormitório, como da própria sala detrabalho (fig. 14)44.
Estamos pouco informados, infelizmente, sobre o ordenamento espacial damaioria dos mosteiros portugueses de Cister. O claustro era, cumulativamente, umespaço litúrgico e funcional. Daí o interesse em se conhecerem as soluções encon-tradas para o seu desenvolvimento orgânico, notadamente nos casos em que hou-ve adaptações ou retracção do plano inicial. Nunca foi efectuado um estudo sis-temático sobre os complexos monásticos em Portugal, durante o período medie-vo, em grande parte pela dificuldade de recolha de informação escrita, muito dis-persa, mas, sobretudo, devido à circunstância de alguns projectos nunca terem che-gado a concluir-se ou porque as construções anexas, pura e simplesmente, desa-pareceram. Casos houve em que se deram grandes metamorfoses em época mo-derna e, infelizmente, houve demolições bem mais recentes, com o intuito de “ex-purgar anomalias” ou de “valorizar” a fruição do templo. Em Sª Maria de Aguiartemos um desses exemplos, apesar de se conservar ainda um trecho significativodos anexos medievais. No entanto, a planta sobre o que restava da parte conven-tual, que chegou até nós, mostra-nos ainda a hospedaria (fig. 24) numa orienta-ção semelhante à de Fontenay, se bem que esta última se distancie um pouco maisdo edifício claustral. Pela mesma razão, supomos que a chamada "casa da tulha"de S. João de Tarouca (fig. 13, nº 32), uma construção moderna eventualmentecom essa função, assenta no primitivo edifício da hospedaria, do qual ainda se con-servam restos da estrutura medieval. Entre os mosteiros femininos, talvez seja o deAlmoster que preserva melhor informação sobre a planimetria medieval. No en-tanto subsistem muitas dúvidas: por exemplo, onde se situava a enfermaria, men-cionada em certas dádivas destinadas ao respectivo sustento; e qual a localizaçãoda “casa de lavor”, a correspondente feminina da sala dos monges45.
Ao contrário dos beneditinos de Cluny, os cistercienses foram muito mais ri-gorosos na programação conventual, que é concebida como se tratasse de um mi-crocosmos, rigorosamente ordenado de acordo com a vocação e a funcionalidadede cada espaço. Um aspecto a salientar – e que acima afloramos de modo mais ge-
44. Op. cit, (2007), p. 151-154. Devido a esta limitação em Fontenay, que apenas pos-suiria latrinas no nível superior, foi depois construído um amplo anexo, com a mesmafunção e encostado ao último tramo da sala de trabalho, no sentido W-E.45. TEIXEIRA, Francisco – O mosteiro de Santa Maria de Almoster. Santarém: CâmaraMunicipal, 1992
actas2012 02.04.13 20:22 Page 103
104 Monasticon(II): nos caminhos de Cister – Livro do VIII Encontro Cultural de São Cristóvão de Lafões
nérico – é o da impressionante ergonomia da arquitectura, face às característicasdo terreno – que determina algumas adaptações46 – e face ao posicionamento, se-quência e interligação dos espaços. Os monges foram obrigados a fazer grandes ter-raplanagens47, é certo, mas procuraram restringi-las ao mínimo, de modo a em-baratecer o trabalho, correr menores riscos de estabilidade e acelerar a obra. As-sim se explica a gestão de desníveis que, um pouco por todo o lado, vamos en-contrar nas abadias cistercienses. Um exemplo notável é o da célebre sala dos mon-ges de Alcobaça, que se desenvolve em cinco patamares. A vida em comum era umdos valores cultivados nesta Ordem, tanto na liturgia das horas, como no refeitó-rio, no dormitório ou no trabalho. Afora as actividades que necessitavam de serexercidas no exterior, era naquela sala que se concentravam os monges, para cum-prir um certo número de tarefas quotidianas. É errado pensar que tão amplo es-paço se destinava apenas ao scriptorium, tanto mais que aos escribas – por exer-cerem uma actividade prolongada e sedentária – era excepcionalmente autorizado,no Inverno, a se transferirem para o calefatório. Além do mais, o número de es-cribas não justificaria uma sala de dimensões tão avantajadas. Assim, pensamosque os desnivelamentos da sala de trabalho dos monges, em Alcobaça, possamtambém ter servido para ordenar diferentes sectores de actividade. Aos copistas ca-beria possivelmente a parte superior, mais próxima do calefatório. A diferença decotas entre a igreja e o nível do rio Alcoa é da ordem dos doze metros. As terra-planagens foram efectuadas até ao ponto de defender, das cheias de Inverno, a par-te setentrional do edifício. A partir daí teria o projecto arquitectónico de se adap-tar à configuração do terreno. No refeitório, a solução encontrada foi diversa, op-tando-se por um pavimento em ligeiro plano inclinado. Estas mesmas orientaçõesforam seguidas em outras grandes casas da Ordem e pelos mesmos motivos. NaAbadia Nova de Salzedas, as galerias do claustro estão dois metros abaixo do ní-vel da igreja e o pavimento original do refeitório, recentemente descoberto, aindase encontra a uma cota inferior. E o interessante é que a própria igreja mostra ves-tígios de desnivelamentos, da cabeceira para a porta ocidental48. Também em Ta-rouca as escavações arqueológicas permitiram um conjunto de observações nessesentido, que confirmam estar-se perante uma estratégia mimética de construçãoface aos condicionalismos do terreno49. Em zonas de um mais forte declive, como
46. A Abadia Nova de Salzedas é um excelente exemplo, não apenas no que respeita àimplantação do edifício em sucessivas plataformas (como veremos a seguir), mas tam-bém através dos socalcos construídos no interior da cerca, a actual Quinta da Tulha,para tirar o máximo partido do terreno.47. Técnica já observada na alta Idade Média, por exemplo, para preparar terrenosagrícolas.48. AMADO, Miguel António Reis – Op. cit., p. 66. É de referir que, na abadia fran-cesa de Silvacane, há “degraus” no sentido longitudinal do templo, cuja nave sul estásobrelevada. Há também claustros cistercienses com galerias distribuidas em sucessivospatamares e de que o abadia de Le Thoronet é um bom exemplo.49. SEBASTIAN, Luís; CASTRO, Ana Sampaio e – Op cit., 2007, p. 154, 161, 164 e166. Da igreja, tanto para o nartex, como para os anexos claustrais, haveria cinco de-graus; e o próprio refeitório dos monges possuía o rebaixamento de um degrau na me-tade setentrional.
actas2012 02.04.13 20:22 Page 104
105A Organização do Espaço Monástico entre os Cistercienses, no Portugal Medievo – Manuel Luís Real
no humilde cenóbio de Ermelo, a implantação da área claustral faz-se claramenteem socalco (fig. 5). Entre a soleira da porta sul da igreja e base dos últimos arcosque correm no sentido norte-sul, existe um desnível de 2,32 m, confirmado ar-queologicamente. Mais a norte, junto ao primeiro arco, o pavimento sobe quasemeio metro, mas constata-se que havia um sobrado em todo o edifício e cujo aces-so se fazia já directamente ao nível da igreja50.
O pragmatismo cisterciense revela-se na arquitectura, de diversos modos. O or-denamento funcional dos espaços é exímio. Não é por acaso que os espaços rela-cionados com as tarefas mais mundanas no mosteiro se encontram do lado opos-to à igreja e que, relacionada com esta parte do edifício, corre geralmente uma li-nha de água. Também tem inteira lógica que o calefatório fique próximo da zonade trabalho e que a cozinha esteja quase equidistante entre ambos os refeitórios,dos monges e dos conversos. Os dormitórios, colocados num nível superior, per-mitiam aos habitantes do mosteiro defender-se melhor da humidade durante o In-verno. E a solução melhor conseguida, no que respeita á inteligência ergonómicados cisterciences, é a localização da escada existente no topo do dormitório, parapermitir que, nas matinas e vigílias, os monges pudessem descer directamente àigreja ou recolher-se de imediato, para o repouso nocturno (fig. 20). Outros exem-plos se podem ainda dar sobre o pendor extremamente racional da arquitectura deCister, como a colocação do lavabo em frente do refeitório, e não no meio do claus-tro, ou a inteligente colocação das latrinas no extremo oposto à igreja, junto da li-nha de água. O caso de Tarouca (figs 13 e 14) permite ainda duas reflexões su-plementares. Uma relaciona-se com o desvio que é feito junto da confluência doscorgos do Pinheiro e das Aveleiras, de modo a garantir a passagem de um caudalde água permanente por baixo das referidas latrinas. Por outro lado, como bemconcluíram os arqueólogos que têm estudado o monumento, além da engenhosaduplicação de vãos, para rentabilizar o mesmo dispositivo em dois patamares, háque ter em conta que a implantação de arcos de descarga sobre o desvio do ribei-ro, transmitia uma maior segurança àquela parte do edifício, pois aliviava o muroexterior da pressão dos aterros e ajudava a consolidar o canal por onde, no In-verno, passariam águas caudalosas.
Este tema conduz-nos directamente ao papel desempenhado pelos cistercien-ses no domínio da hidráulica monástica, o qual, não sendo apanágio exclusivo daOrdem, teve um lugar de destaque nesta última, não apenas pelos conhecimentostécnicos evidenciados pelos monges, mas também pela sua qualidade enquantoprogramadores e pelo seu potencial como executantes. Os estudos de organizaçãodo espaço cisterciense não podem ficar alheios desta componente edilícia, pois elacomeça a programar-se mesmo antes de iniciada a construção do edifício monás-tico e, como vimos, condiciona-a em grande medida. Mais ainda, implica um do-mínio perfeito das potencialidades do território envolvente, exige conhecimentospara aproveitar as sinergias de uma eficaz instalação e estende-se, por vezes, a vá-
50. Agradecemos à Drª Sandra Nogueira os dados métricos fornecidos no interesse des-te trabalho. Para mais informações, vd. Op. cit., na nota 10.
actas2012 02.04.13 20:22 Page 105
106 Monasticon(II): nos caminhos de Cister – Livro do VIII Encontro Cultural de São Cristóvão de Lafões
rios quilómetros de distância. Por fim, trata-se de intervenções não raras vezes as-sociadas a estruturas tecnológicas relativamente avançadas para a época, aplica-das a sistemas de moagem, ferrarias, etc. Em Portugal, um dos impulsionadores dosestudos sobre a hidráulica cisterciense tem sido Virgolino F. Jorge, que participouem levantamentos de dispositivos dessa natureza em Alcobaça, Almoster, Lafões,Odivelas e Tarouca, para os quais remetemos51. Sobre o grandioso sistema hi-dráulico do mosteiro de Alcobaça, cujo líquido potável vinha em conduta de pe-dra, ao longo de 3,6 Km, desde os olhos de água de Chiqueda, e sobre as obras deengenharia relacionadas com as duas ribeiras que passam junto ao edifício con-ventual, é particularmente útil o estudo de um especialista e homem da terra, oEngº José Pedro Tavares52. Não nos deteremos sobre esta matéria, porque trans-cende o âmbito do presente trabalho, mas é assunto que merece uma atenção es-pecial, pois tem também muito a ver com a intervenção na paisagem. Resta lem-brar a conhecida marca de posição – com a legenda “aque:d/uctus” e duas mãosa apontar para o solo – que se encontra no interior da igreja de Alcobaça, a assi-nalar o local de passagem da conduta que aduzia água ao claustro e, simultanea-mente, a demonstrar a relevância que este tipo de infra-estruturas tinha para os ha-bitantes do mosteiro.
Regressando ao complexo edificado, não poderemos deixar de aludir a duasderradeiras questões, que têm também a ver com o projecto arquitectónico e se re-flectem na concepção espacial. Já referimos à importância das terraplanagens, doplaneamento da rede hidráulica e da criação de plataformas ou desnivelamentos,procurando firmeza para os pavimentos e facilitando a estabilidade das fundações.Mas, no momento de lançar a obra, o mestre devia respeitar ainda outro tipo deexigências, com normas programáticas muito precisas. Deixamos claro que che-garam a Portugal projectos importados directamente da Borgonha. Porém, asorientações programáticas não se limitavam à forma e ao ordenamento dos espa-ços, que são os aspectos mais facilmente perceptíveis a um comum observador. Aconstrução medieval obedecia a regras geométricas muito precisas. Dispomos deuma prova documental disso mesmo em Villard de Honnecourt, um mestre doséc. xiii que, segundo Domingos A. Bucho, “poderá ter recebido o seu treino ar-
51. JORGE, Virgolino Ferreira – Captage, adduction, distribution et evacuation de l´eau dans l´ abbaye cistercienne d´Alcobaça (Estremadura, Portugal). In PRESSOUYRE,Leon; BENOÎT, Paul (coords.) – L´hydraulique monastique: milieux, réseaux, usages.Grâne: Éditions Créaphis, 1996, p. 221-233; MASCARENHAS, José Manuel; JORGE,V. F. – Le systéme hydraulique de l´ abbaye cistercienne d´Almoster. In Idem, p. 235-246; DIAS, Carlos Correia; JORGE, V. F. – Rede hidráulica da abadia cisterciense deS. Cristóvão de Lafões (São Pedro do Sul). In MASCARENHAS, José Manuel; ABE-CASIS, Maria Helena; JORGE, V. F. – Hidráulica monástica medieval e moderna. Lis-boa: Fundação Oriente, 1996, p. 227- 240; TOMÉ, Manuela Justino et alii – Aspectosda hidráulica do mosteiro cisterciense de S. Dinis de Odivelas. In, Idem, p. 241-254;JORGE, V. F. – Análise preliminar das estruturas hidráulicas da abadia cisterciense deSão João de Tarouca. Congresso Internacional sobre el Cister en Galicia e Portugal, 2,Ourense, 1998 – Actas, vol. 3, Ourense, 1999, p. 1407-1420.52. TAVARES, José Pedro Duarte – Hidráulica. Linhas gerais do sistema hidráulico cis-terciense em Alcobaça. In Roteiro Cultural da Região de Alcobaça. Alcobaça, 2001, p.39-109.
actas2012 02.04.13 20:22 Page 106
107A Organização do Espaço Monástico entre os Cistercienses, no Portugal Medievo – Manuel Luís Real
quitectónico no mosteiro cisterciense de Vaucelles, e foi empregado como arqui-tecto pela Ordem”.53 Nos seus célebres apontamentos, na folha 38, apresenta umexercício de quadraturas e, noutro ponto do álbum, esquissa uma imaginária igre-ja cisterciense, cuja planimetria é resolvida pelo sistema ad quadratum. Trata-se deum método construtivo, já teorizado em Vitrúvio, que relaciona a geometria coma arquitectura, num sistema de proporções. A generalidade das formas é concebi-da a partir de múltiplos ou submúltiplos de uma medida-padrão, que se organizaem sucessivas quadraturas (fig. 25). A relação que estas estabelecem entre si, paraproduzir a forma arquitectónica – planta da igreja ou de um pilar, alçado de umafachada, trajecto de um arco, altura de uma coluna, esquisso de uma moldura, etc.– é que constitui a proporção. Em Portugal, quem iniciou a análise geométrica dosmonumentos cistercienses foi igualmente o investigador, já acima referido, Virgo-lino F. Jorge54. Nos seus estudos sobre Tarouca e Alcobaça (figs. 14, 18 e 19), oque mais merece ser destacado é a revelação de que a unidade de medida linear uti-lizada não é, nem o palmo, nem o pé romano, que eram as habitualmente utiliza-das na Península Ibérica, mas antes o “pied du roi” (c. 0,325m), com o qual se veioa estabelecer um módulo de oito pés (2,60 m). Esta é mais uma prova da origemborgonhesa dos projectos das primeiras igrejas de Cister, construídas em Portugal.Aí também constatou Virgolino Jorge as habituais relações de proporcionalidadeem edifícios de Cister. O mesmo já não se pode dizer quanto à elevação das naves,em Alcobaça, que introduz uma arrojada novidade. Aqui, as alas colaterais pos-suem quase a mesma altura da nave central, não respeitando a típica proporção cis-terciense de 2:1. A inabitual altura das alas externas do templo – corpo da igrejae transepto – mostra um ratio de 6:1, o que revela a ousadia e a perícia do res-pectivo mestre, cujo nome infelizmente desconhecemos55. Toda arquitectura cis-
53. Citado em CUNHA, João Alves da – A multidisciplinaridade da arquitectura cis-terciense. Lusitânia Sacra, 2ª S., 17, Lisboa, (2005), p. 445.54. JORGE, Virgolino Ferreira – Measurement and number in the cistercian church ofAlcobaça. Arte medievale, 2ª S, 8 (1: 2), Roma (1994), p. 113-120; Arquitectura, me-dida e número na igreja cisterciense de São João de Tarouca (Portugal). Cistercium: Re-vista monástica, 208, Zamora (Enero-Junio 1997), p. 431-456; Espaço e euritmia naabadia medieval de Alcobaça. Boletim Cultural da Assembleia Distrital de Lisboa, 93(1), (1999), p. 103-120. Entretanto, têm sido efectuados outros ensaios analíticos so-bre a geometria arquitectónica de Cister em Portugal, nomeadamente a respeito das es-truturas arqueológicas de Tarouca (Luís Sebastian), bem como sobre a Abadia Nova deSalzedas (Miguel Amado) e São Bernardo de Portalegre (Domingos A. Bucho).55. Acrescentaremos que, em agrimensura, os cistercienses usavam como medida pa-drão, o astil. Ele está patente, por exemplo, em alguns contratos de Salzedas, Alcoba-ça ou Almoster. Segundo Viterbo, o estim ou estil ainda “se pratica no campo de San-tarém e sua contiguidades: tem vinte palmos craveiros de largo e de comprido toda aextensão do campo, vinha, prédio, monte ou paul” (Elucidário, p. 621-622). Todavia,José M. H. Varandas, sem mencionar a fonte em que se baseia, diz que o astil equiva-leria a 1296 m2 (120x120 pés). Cf. Monacato feminino e domínio rural. O patrimó-nio do mosteiro de Santa Maria de Almoster no séc. XIV. Lisboa, Faculdade de Letrasda Universidade de L., 1995, p. 152 (Provas Públicas de Capacidade Científica e Apti-dão Pedagógica).A ser assim, o astil equivaleria 15 vezes o módulo unitário de 8 pés, da quadratura ar-quitectónica. E corresponderia ao que Viterbo chama “jeiras menores”, usadas noscampos de Coimbra “e tinham por cada lado, 120 pés régios”, constando “por todas
actas2012 02.04.13 20:22 Page 107
108 Monasticon(II): nos caminhos de Cister – Livro do VIII Encontro Cultural de São Cristóvão de Lafões
terciense se caracteriza pela escolha das técnicas mais avançadas ao tempo, mastambém pela audácia e pela inovação. No primeiro caso, estão o arco quebrado,a abóbada transversal (com função de contraforte) e a abóbada em ogiva. Atravésdestes dispositivos, observados uns na Borgonha, outros na Ilha de França, o queos cistercienses procuravam era a possibilidade de ampliar os volumes, reforçan-do assim a austeridade e a grandeza desta “cidade de Deus”, onde, pelo seu voto,os monges decidiam acolher-se.
O segundo e último tema tem a ver com o tratamento do espaço edificado, emtermos de som e de luz. Dentro dos princípios de despojamento místico iniciadospelos dissidentes de Molesme, o Capítulo Geral passou a não permitir o uso de vi-trais multicolores. Temos de imaginar as primitivas igrejas abaciais – hoje, muitasvezes despidas e transformadas – apenas ao serviço dos monges e conversos, comos respectivos cadeirais ao longo da nave central. A luz tinha aqui uma funçãopragmática, naturalmente para possibilitar o uso do espaço, mas desempenhavatambém um papel simbólico e sensorial. A liturgia repetitiva praticada pelos mon-ges não exigia grandes leituras no interior da igreja. Assim, o coro era deixado de-liberadamente na penumbra, restando-lhe a breve iluminação vinda da fachada oci-dental. Em contrapartida, do lado da cabeceira eram rasgadas amplas janelas paraque, desde o nascer do sol, o santuário resplandecesse de luz e de brilho. Coada porsimples vidraças, descoloridas e sem imagens, esta luminosidade ascensional pro-piciava a concentração dos monges, elevando-lhes o espírito para o Criador. EmAlcobaça, mais do que em S. João de Tarouca – estamos a falar de obras concluí-das com quase um século de distância… – existe maior concessão à entrada de luze, na baixa Idade Média, foram introduzidos vitrais coloridos. Ainda em 1663 secompravam vidraças descoloridas para algumas partes da igreja abacial. Todavia,o vitral figurado começou a ser aceite anteriormente, como se depreende das ins-truções do visitador Frei Pedro Serrano, entre 1484-1487, para que ele fosse apli-cado na Sala do Capítulo, com as imagens de Cristo e da Virgem com o Menino,ao lado das de S. Bento e S. Bernardo. Embora não se saiba se eram de cor, foramtambém, pela mesma altura, recomendados “viteris” para “omnes fenestre eccle-sie et capelle regum”. Esta capela dos Reis era, nem mais nem menos, a já referi-da galilé, pois também aí se dispõe que os túmulos sejam cobertos de “pannis de-centibus”56. Tão preciosa notícia vem confirmar a proposta que lançamos sobreas características arquitectónicas do panteão régio, que seria um nártex indubita-velmente fechado, inclusive na frontaria ocidental, pois de outro modo não se com-preende a necessidade de comprar os vitrais. Podemos talvez ver neste encerra-mento da galilé, uma vez mais, a influência dos Cónegos Regrantes de Santo Agos-tinho.
as partes, doze aguilhadas…, constando cada uma de dez pés régios ou três varas de cra-veira” (sublinhado nosso). Será que nos “pés régios” poderemos ver, também aqui, ainfluência francesa? Viterbo, no entanto, diz que “os Franceses adoptaram os arpentesquadrados que eram metade de uma jeira romana… ou centúria”.56. GUSMÃO, Artur de – Vitrais de Santa Maria de Alcobaça. Lisboa, 1960 (separa-ta).
actas2012 02.04.13 20:22 Page 108
109A Organização do Espaço Monástico entre os Cistercienses, no Portugal Medievo – Manuel Luís Real
O ambiente contemplativo e a aproximação a Deus exercia-se mais facilmen-te, segundo S. Bernardo, através do canto. Ele foi também músico, tendo sido au-tor de vários tratados, sobre os Tons, o Antifonário e o Gradual57. Uma compo-nente importante da liturgia monástica era o canto gregoriano, que os cistercien-ses procuraram depurar, pesquisando a tradição e introduzindo melhorias, justifi-cadas musicalmente do ponto de vista técnico58. Uma das suas fontes de inspira-ção foram os escritos de Santo Agostinho, cujas consonâncias musicais corres-pondem às proporções sugeridas para a própria arquitectura59. Para melhor secompreender esta relação citamos o comentário de Thierry Hatot ao plano da igre-ja cisterciense “ad quadratum”, esquissado por Villard d´Honnecourt: “O seu pla-no está contido num rectângulo que é um triplo duplo quadrado (3:2), corres-pondente à quinta. O seu coro (4:3) representa a quarta; cada braço do transepto(4:2) está associado à oitava, assim como o transepto inteiro (8:4). O cruzamentoda nave e do transepto é um quadrado (4:4), símbolo da unidade. A nave, enfim,evoca a terça”60. Apesar dos cistercienses terem escolhido o silêncio como fórmu-la individual de mortificação e aperfeiçoamento interior, nas horas litúrgicas a co-munidade reunia-se, ouvindo prédicas e leituras ou entoando cânticos, alinhadossegundo o momento e as circunstâncias. A elevação e o sucesso espiritual deste pro-grama foram devidamente cuidados, como vimos, do ponto de vista musical. Mastal dependia, em igual medida, das condições acústicas dos espaços que serviam decenário a essas representações litúrgicas. Falamos não apenas da igreja, mas tam-bém da sala do capítulo, do refeitório e do próprio claustro. Os construtores cis-tercienses demonstraram ser exímios especialistas neste domínio, recorrendo, in-clusive, a conhecimentos importados de Vitrúvio, como o da aplicação de vasosacústicos, por exemplo, descobertos em Loc-Dieu, Melleray, Orval, etc. Em Por-tugal, ainda se está muito no início no que respeita à investigação acústica nas gran-des casas religiosas61 e, que saibamos, não existe qualquer estudo sistemático so-
57. BERNART (Saint) – Écrits sur l´art. Clermont-Ferrand, Éditions Paleo, 2001 (2ª ed.2005).58. É bem expressiva a explanação de S. Bernardo sobre a revisão que fez ao Antifo-nário de Metz, depois de reunir com “nos frères les plus instruits et les plus versés dansla science et l´éxecution du chant”. Idem, p. 60 ss.59. CUNHA, João Lopes da – Op. cit., p. 445.60. HATOT, Thierry – Batisseurs au moyen age. Clermont-Ferrand: Éditions L´InstantDurable, 2007, p. 41. A tradução é nossa, assim como os sublinhados em itálico. Usou-se signo (:), em vez de (/), para melhor coordenação com o que acima é dito a respeitodas ratios arquitectónicas. 61. Entre os trabalhos pioneiros, no plano acústico, podemos referir: CARVALHO, An-tónio Pedro O. – Objective acoustical analysis of acoustic room measurements in por-tuguese roman catholic churches. Noise Com, 94, Florida, 1994, p. 805-810 (entre ou-tros estudos); CARVALHO, Anabela Pereira Babo de – Caracterização acústica declaustros religiosos históricos. Porto: Faculdade de Engenharia da U. P., 2005; SILVA,Telma Lopes da – Guião da acústica das igrejas em Portugal. Porto: Faculdade de En-genharia da U. P., 2008. Na lista de igrejas constantes do Projecto “Acústica de Igre-jas” – http://paginas.fe.up.pt/~carvalho/ – vem mencionada a de Alcobaça, mas não es-tão ainda inseridos os resultados da análise; de qualquer forma, supomos que o estu-do não deve ter incluído as dependências claustrais, onde também o canto se pratica-va.
actas2012 02.04.13 20:22 Page 109
110 Monasticon(II): nos caminhos de Cister – Livro do VIII Encontro Cultural de São Cristóvão de Lafões
bre os primitivos mosteiros cistercienses. Embora a maior parte destes tenha so-frido grandes transformações, em Tarouca, porventura em Salzedas e, muito na-turalmente, em Alcobaça – onde todos os principais espaços se conservam íntegros– poderemos vir a conhecer interessantes revelações neste domínio.
Conclusão
Os séculos xii e xiii constituíram, para a Ordem de Cister, um período de ful-gurante desenvolvimento, seja pelo número de fundações realizadas, seja pela eco-nomia florescente que elas geraram. Tão inesperado para a própria Ordem, que osCapítulos Gerais sentiram necessidade de rever, desde cedo, algumas das rígidasnormas impostas pelos fundadores. Um dos segredos para o sucesso material daOrdem deve-se à enorme quantidade de doações que conseguiram mobilizar em seufavor e, muito particularmente, aos progressos alcançados na agricultura e ao ri-gor imposto na gestão dos respectivos domínios. Os recursos tecnológicos que sou-beram colocar ao seu dispor e o poder comercial que foram adquirindo, devido àsua produção se ter tornado excedentária, são aspectos que devem ser salientados.O êxito que conseguiram alcançar no plano material levou mesmo a que algunscontemporâneos se referissem aos cistercienses em tom crítico, acusando-os de des-vio da pureza original. Foi o caso do inglês Walter Map (1140-1200), no seu “DeNugis Curialium”, uma série de histórias cortesãs sobre lugares, pessoas e costu-mes da época.
Em boa verdade, porém, o que deve ser encarecido é o facto de estarmos pe-rante uma Ordem que de modo nenhum era imobilista, apesar da rigidez dos seusprincípios. E temos de olhar para isso como um aspecto positivo. Vimos mesmoque, sendo os cistercienses muito apegados à planificação, uma das suas caracte-rísticas não deixou de ser a ousadia arquitectónica.
Mas aqui, tal como no seu estilo de vida, as primeiras codificações cistercien-ses bem depressa, em alguns cenóbios, foram ultrapassadas pelos factos. As co-munidades dispunham de uma relativa autonomia no plano material. Porém, umaparte delas passou por bastantes dificuldades. Entre nós, isso é bem patente em Er-melo, onde, à primeira vista, a construção medieval não passou de uma única ala62.No caso de Maceira do Dão, o visitador dizia que o mosteiro era pequeno e malconstruído, reinando a maior pobreza63. Em Santa Maria de Aguiar, a obra da igre-ja foi interrompida muito cedo, sendo a seguir retomada num sector que recebe-ria abóbadas de ogivas, para logo ficar truncada relativamente ao plano original,
62. NOGUEIRA, Sandra – Op. cit., p. 130.63. É impressionante o estado de pequenez, ruína e pobreza de boa parte dos mostei-ros portugueses da Ordem, nos inícios do séc. XVI, descrito por Frère Claude de Bron-seval, o secretário do abade de Claraval, D. Edme de Saulieu, que acompanhou este úl-timo na visita de 1530. Vd. MARQUES, Maria Alegria – Op. cit., 1998, p. 309-327.
actas2012 02.04.13 20:22 Page 110
111A Organização do Espaço Monástico entre os Cistercienses, no Portugal Medievo – Manuel Luís Real
deixando o edifício recheado de anomalias64. E em Pitões das Júnias são eviden-tes os indícios de uma ruína precoce, senão mesmo a interrupção do projecto ini-cial para o conjunto dos edifícios claustrais65, obrigando a algumas reformas naépoca moderna. Enquanto outros mosteiros dispunham de instalações especiali-zadas para certo tipo de trabalhos – mesmo que fosse no exterior, seja na perife-ria imediata, seja numa granja, como é o caso das ferrarias – em Pitões aparece-ram indícios arqueológicos, ainda em níveis medievais, da prática do ofício de fer-reiro no interior do próprio recinto do claustro (fig. 23)66.
As circunstâncias locais e certas dificuldades de percurso tiveram consequên-cias penosas, algumas até já nos nossos dias, como a incompreensível demoliçãode vários anexos em Sª Mª de Fiães67, para “embelezamento” do espaço exteriorda igreja. Todavia, esse rol de infelicidades não nos deve fazer esquecer a impor-tância do legado cisterciense em Portugal. Os monges de Cister tiveram aqui o mé-rito de introduzir aperfeiçoamentos em projectos emanados da casa-mãe de Cla-raval, tal como vimos nas melhorias introduzidas em Tarouca, fruto da experiên-cia entretanto adquirida. E no caso de Alcobaça, estaremos mesmo perante umainovação de virtuosismo insuspeitado. Respeitando a tendência da Ordem para li-mitar o espaço eclesial a uma única planta – ao contrário dos grandes edifícios be-neditinos, em vários pisos – o arquitecto de Alcobaça ousou elevar as naves cola-terais ao nível da nave principal, conferindo ao templo uma grandiosidade nuncaaté então vista. Podemos ver nisso como que uma emulação da arquitectura cate-dralícia, mas sem quaisquer rupturas na elevação (rejeitando os trifórios ou tri-bunas), o que deixa transparecer toda a monumentalidade da arquitectura, aquibem mais luminosa. Uma prova indirecta desta ligação pode ver-se também no fri-so de ameias que está a coroar todo o edifício. Quanto ao deambulatório, ao queparece largamente inspirado em Clairvaux, possui uma característica que hoje nãopodemos saber se é original ou cópia da abadia-mãe. São os arcos-botantes que,cumprindo a mesma função de reforço exercida pelas abóbadas laterais no corpoda igreja, apenas encostam – sem grande travamento – aos pontos de descarga daabóbada da capela-mor, o que permitiu criar amplas aberturas para iluminar o san-tuário. Mas mais do que isso, eles integram na sua cara superior um canal de es-
64. CARVALHEIRA, Ana Margarida Gonçalves – Op. cit., fig. 6, 72-76.65. BARROCA, Mário Jorge – Mosteiro de Santa Maria das Júnias: Notas para o es-tudo da sua evolução arquitectónica. Revista da Faculdade de Letras da Universidadedo Porto, 2ª S., v. 11, Porto, 1994, p. 417-443; ESPADA, Delmira – Mosteiro de San-ta Maria das Júnias. Medievalista, Lisboa, 4:4 (2008). Inhttp://www2.fcsh.unl.pt/iem/medievalista/medievalista4/medievalista-espada.htm;SCHNEIDER, Anton Franz – Mosteiro de Sª Mª das Júnias: Estudo prévio. [Lisboa],1993.66. LIMA, Alexandra Cerveira – Património do Mosteiro de Santa Maria das Júnias:entre o Cavado e o Lima e a serra do Gerês. In BARATA, Maria do Rosário Themu-do; KRUS, Luís (Dir.) – Olhares sobre a História: Estudos oferecidos a Iria Gonçalves.Lisboa: Caleidoscópio, 2009, p. 767-782. Agradecemos à autora, ainda, o acesso a da-dos do relatório das escavações arqueológicas do claustro.67. MARQUES, José – O mosteiro de Fiães. Braga, 1990, fig. 4, 6 e 8, est. XVI.
actas2012 02.04.13 20:22 Page 111
112 Monasticon(II): nos caminhos de Cister – Livro do VIII Encontro Cultural de São Cristóvão de Lafões
coamento das águas do telhado, que galgam o deambulatório, preservando-o deinfiltrações nocivas em tempo de chuva.
Hoje, felizmente, está a olhar-se para o património cisterciense com um cari-nho renovado. O caso de S. Cristóvão de Lafões é bom exemplo disso, emborapouco se saiba do seu passado medieval. Neste aspecto, como acabamos de des-crever, decorrem nas Beiras intervenções que estão já a dar importantes frutos. Éde todo o interesse que tais estudos, restauros e musealizações sejam apoiados, nãoapenas em nome da ciência e da cultura, mas pensando também que constituemum seguro instrumento para colocar no estrangeiro o nome de Portugal, dado ointernacionalismo da arquitectura cisterciense.68•
68. Como nota final, não queremos deixar de lembrar um facto curioso, respeitante aoespaço monástico. Para além da dimensão sagrada do mosteiro, o seu território – aosolhos dos próprios monges – não estaria isento dos perigos provenientes de forças ma-lignas e obscuras. Daí que nas escavações de S. João de Tarouca se tenha descoberto,pela primeira vez em monumentos cistercienses, a clara evidência de duas cerimóniasdistintas de esconjuramento e purificação. Estas acções de sentido apotropaico deram-se logo no início da construção dos anexos conventuais e podem não ter sido simultâ-neas, nem realizadas pela mesma "autoridade" espiritual, apesar de próximas no tem-po. Uma delas relaciona-se com um "anel de oração", depositado no interior de um dosmuros da sala do capítulo, que contem as iniciais de cada verso de uma ladainha ro-gatória com claro sentido cristão. A outra, de carácter mais profano e ancestral raizpopular, diz respeito à deposição ritual de um vaso cerâmico sob o lajeado da sacris-tia, o qual poderá ter contido quaisquer substâncias orgânicas, de carácter mágico – res-tos de animais, com seus ossos ou espinhas (que aqui se desfizeram totalmente), à se-melhança do que apareceu noutros locais, como em casas domésticas de Conimbrigaou sob um pavimento da antiga Casa da Moeda do Porto – e que desempenhava umafunção de "loculus" contra o mau olhado. Vd. BARROCA, Mário Jorge; SEBASTIAN,Luís; CASTRO, Ana Sampaio e – Um "anel de oração" do século XIII no mosteiro deS. João de Tarouca. Arqueologia Medieval, 10, Porto: Edições Afrontamento (2008),p. 145-157.Estas práticas são ainda pouco conhecidas entre a arqueologia portuguesa, mas esta-riam relativamente generalizadas, como o demonstram ainda os amuletos do ribat daPonta da Atalaia, em Aljezur, quase contemporâneos aos de Tarouca. Naquele mostei-ro, de confissão islâmica, apareceram pequenos tubos (destinados a receber textos empergaminho ou papel) e rolos em chumbo com frases propiciatórias, um dos quais des-coberto in situ, embebido na argamassa que unia as pedras de um dos muros da mes-quita maior. Vd. GOMES, Rosa Varela; GOMES, Mário Varela – Adjihâd no extremosudoeste peninsular. O recém-identificado Ribat da Arrifana (século XII). Revista da Fa-culdade de Ciências Sociais e Humanas, 16, Lisboa: Edições Colibri (2003), p. 153-156
actas2012 02.04.13 20:22 Page 112








































![Os Cistercienses e a Água [The Cistercians and Water]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631576d6c32ab5e46f0d51ca/os-cistercienses-e-a-agua-the-cistercians-and-water.jpg)