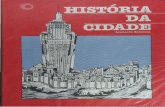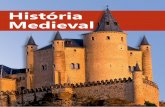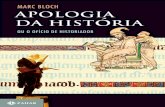A Revolta dos Malês na História
Transcript of A Revolta dos Malês na História
1
“A Revolta dos Malês na História: uma análise sobre a resistência dos escravos e o saber histórico frente a
implementação da Lei 10639/2003”.
Por Juarez de Assis Fernandes e Clarissa F. do Rêgo Barros1
I) Introdução
Com o objetivo de realizar uma breve crítica historiográfica sobre a
representação da Revolta dos Malês na historiografia e as diversas formas encontradas
pelos negros cativos para fugir do controle do senhor, em especial, este artigo pretende
compreender “O Grande Levante dos escravos Malês na Bahia em 1835”, como um
acontecimento que merece uma atenção maior na história das resistências escravas por
ter sido uma revolta marcada por uma rede de complexidades, em que negros escravos e
libertos de origem muçulmana lutaram contra as autoridades baianas em pleno cenário
político do período regencial.
Além de nos aprofundarmos nos aspectos historiográficos da Revolta dos Malês,
torna-se necessário incitar a discussão da não inclusão do tema, como um fato que
exemplifica a participação dos escravos enquanto sujeitos históricos nos livros didáticos
e no próprio ensino de Historia. Para tal questão, discutiremos posteriormente a partir de
depoimentos de professores de História de escolas públicas a inclusão ou não da
Revolta dos Malês como um objeto de estudo frente a implementação da Lei
10639/2003, que legitima o ensino de História da África nas escolas brasileiras
Para refletirmos o tema proposto faz-se necessário concentrarmo-nos
fundamentalmente em três aspectos: por um lado a escravidão presente na sociedade
brasileira no inicio do século XIX, e por outro lado, as diversas formas encontradas
pelos escravos para resistir e quebrar a ordem do sistema escravista da época e o grande
debate historiográfico em torno do assunto na Academia.
O processo de evidente crise do regime escravista e a incipiente construção da
identidade nacional determinou a resistência escrava como um assunto que merece ser
bem estudado, como sugerem alguns historiadores especialistas no tema, como: Flávio
dos Santos Gomes, João José Reis e Eduardo Silva, a fim de construir uma outra forma
de narrar a História, não oficial, vista de forma diferente, sob outra maneira de narrar os 1 Juarez de Assis Fernandes é Historiador e possui Pós-Graduação em História da África. Clarissa F. do Rêgo Barros é Historiadora, Professora de História e atualmente mestranda da Pós-Graduação em Serviço social da UERJ. Bolsista Faperj.
2
fatos afim de que não sejam contados apenas na visão dos dominantes, mas, através da
visão do cativo, na qual, este direcionou suas artimanhas para resistir e fugir do controle
do dominador. Diante destes paradigmas teóricos, surgem as questões: como esse
escravo deixou seu anonimato para se tornar sujeito ativo da nossa História sendo
inserido nos livros, tanto escolar como universitários? Como esses negros puderam lutar
de maneira espetacular para se manterem vivos dentro de uma estrutura fortemente
armada pelo senhor? Uma estrutura que às vezes dava ao negro um grau de liberdade,
mas que ao mesmo tempo lhe tirava essa liberdade, ou seja, uma política muito bem
montada pelo senhor de escravos, cheia de complexidade em suas bases.
II) A Revolta dos Malês: história e resistência na Bahia de 1835. O personagem central deste tema são os escravos e libertos muçulmanos em
Salvador – os Malês. (sujeito-escravo). O enredo é a resistência permanente de homens
e mulheres vivendo seus anseios e limites numa sociedade escravista fortemente
marcada pela exclusão social e racial. 2
Para o historiador João José Reis (2003), os escravos não foram vítimas nem
heróis o tempo todo, se situando na sua maioria e em grande parte do tempo numa zona
de indefinição entre um e outro pólo.3 O escravo aparentemente acomodado e até
submisso, certamente poderia se tornar o rebelde do dia seguinte, dependendo da
oportunidade e das circunstâncias que o levaram a cometer o ato de se rebelar.
João Reis (2003) afirma que tais negociações, por outro lado, nada tiveram a ver
com a vigência de relações harmoniosas entre escravo e senhor como descreveu o
sociólogo Gilberto Freyre no livro Casa Grande & Senzala, publicado em 1933.
Segundo Gilberto Freyre (1963), “desde logo salientamos a doçura nas relações
de senhores com escravos domésticos, talvez maiores no Brasil do que em qualquer
outra parte da América” 4. A frase expressa com clareza a visão que perpassava sobre a
historiografia da escravidão brasileira, admitindo uma harmonia nas relações sociais
entre senhores e escravos, sobretudo se comparada a de outros países escravista. Essa
visão, com certeza, dá margens a polêmicas historiográficas sobre a caracterização do
sistema escravista, até hoje não resolvida, pois esta interpretação da historiografia
2 JOSÉ REIS, João e Eduardo Silva. Negociação e Conflitos. A Resistência Negra No Brasil Escravista.
Companhia das Letras. 1989. 3 JOÃO JOSÉ, Reis. Rebelião Escrava No Brasil. A História do levante dos malês em 1835. ed. Ver. e
ampl. São Paulo: Comp. Das Letras.2003. 4 FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala, Brasília, ed. Universidade de Brasília, 1963, p.393.
3
condicionou ideologias que respaldaram o hibridismo como algo particular de nossa
identidade e de certa forma, negou a diversidade dos sujeitos presentes em nossa
História, apesar do autor descrever particularidades culturais dos indígenas, negros e
portugueses. Neste sentido, o problema da História não é apenas cultural, ele também se
encontra nas relações sociais.
Contudo, José Reis (2003) tem um cuidado ao descrever que, mesmo com tanta
violência imposta ao escravo, havia também um espaço onde as relações sociais entre
escravos e senhores se teciam tanto de barganhas quanto de conflitos.
Dessa forma, os escravos negros, para resistirem a situação de oprimidos em que
se encontravam, criaram uma rede de alianças e lutas, a fim de se salvaguardarem social
e mesmo biologicamente do regime que os condicionava à escravidão. No entanto, os
senhores de escravos montavam estratégias para controlar as ações dos revoltosos,
cristalizando assim, a hierarquia social na sociedade brasileira da época.
Práticas de inferiorização racial do cativo também eram usadas pelos senhores
para legitimar o sistema escravista e condicionar o negro à escravidão, mas este negro
por muitas vezes fugia dos engenhos em busca de uma vida melhor, fora das fazendas.
O açoite do feitor era a forma encontrada pelo senhor para castigar os rebeldes, quando
suas ordens não eram cumpridas pelos escravos que muitas vezes se rebelavam para não
se subordinar ao sistema escravista da época.
5
Em busca da tão sonhada liberdade, os escravos se organizavam através das
festas, danças, lutas, dos quilombos, das maltas de capoeiras, dos rituais religiosos.
Desempenhavam serviços domésticos, faziam serviços nas ruas da cidade como oficial
5 Aplicação do castigo- negros no tronco ( DEBRET, Jean-Baptiste. Viagem pitoresca e história ao Brasil.
6º ed. São Paulo, Martins/ Brasilia/df, INL, 1975).
4
de barbeiro, artesão, vendedores de flores, carregadores, vendedores de frutas e até
mesmo se suicidavam para não serem condicionados à escravidão do senhor.
A Bahia do século XIX foi um cenário cheio de inquietações da população
escrava, a rivalidade entre senhores e escravos se pautava nos desejos e anseios de
homens e mulheres que lutavam por sua liberdade. Este período foi extremamente
marcado pela crescente insubordinação dos cativos africanos e seus aliados libertos. Na
Revolta dos Malês (1835), os escravos muçulmanos, principalmente os nagôs e haussás
foram peças chaves na organização sofisticada, e na tentativa da montagem de uma rede
conspiratória à submissão a que estavam sujeitos,mas também fizeram parte da revolta
como protagonistas, os insurretos não islamizados, em geral mobilizados em função de
pertencerem à etnia africana majoritária na Bahia da época, os nagôs. Embora a revolta
não tenha sido obra exclusivamente de nagôs e muçulmanos escravos, também
participaram do movimento os libertos africanos, até porque, os libertos estavam
diretamente relacionados com as relações escravistas na cidade da Bahia, pois na
província, escravos e libertos trabalhavam juntos no sistema de ganho ou simplesmente
vivenciando a maior flexibilidade (inclusive no anonimato), proporcionada pelo
ambiente urbano, onde desenvolveram, aperfeiçoaram, e aprofundaram solidariedades
étnicas e religiosas a partir das quais puderam organizar um discurso convincente de
críticas à escravidão na Bahia. (REIS, 2003).
A rebelião de 1835 teve uma multiplicidade de sentidos religiosos, étnicos e
classistas, que se entrecruzaram num momento de crise da hegemonia senhorial numa
Bahia politicamente dividida, pois o período coincidia com as incongruências políticas e
divergências partidárias do Período Regencial.
Apesar das justificativas sociais e históricas, relacionadas diretamente à
insatisfação com a escravidão a nomenclatura da revolta esteve relacionada com o
contexto histórico da época, onde na Bahia de 1835, os africanos muçulmanos eram
conhecidos como malês, porém para muitos historiadores o nome da revolta suscita
discussões. O historiador Braz do Amaral (apud REIS, 2003), por exemplo, sugeriu que
o nome da revolta derivasse de “má, lei”, que seria como os católicos consideravam o
Islã, em oposição à “boa lei”, da religião católica. Braz enfatizava que o termo era
pejorativo e portanto recusado pelos muçulmanos. No entanto, enfatizou um erro, pois
malê não parecia possuir tal carga negativa, pelo menos nesse período. Porém, o
historiador norte americano R. K. Kent associou malê com malam, a palavra haussá
tomada do árabe um allim, que significa clérigo, ou mestre.
5
Para o historiador José Reis (2003), na Bahia, malês não denominava o conjunto
de uma etnia africana particular, mas o africano que tivesse adotado o Islã, pois malês
seriam apenas os nagôs islamizados. No entanto, nagôs, haussás, jejes, tapas – enfim,
indivíduos pertencentes a diversas etnias eram tidos, se muçulmanos, por malês, apesar
dos nagôs - os afro-muçulmanos na Bahia, não se autodenominarem majoritariamente
assim.
III) O motim.
A rebelião de 1835 estava planejada para acontecer na manhã de domingo de 25
de janeiro, dia de Nossa Senhora da Guia. Naquela época, nessa data se comemoravam
as festas do Bonfim, portanto, seria um bom dia para os escravos se rebelarem, já que
estariam mais livres da vigilância das autoridades baianas. Segundo Reis (2003, p.55), a
escolha de dias santos, domingos e feriados para a prática das revoltas fazia parte do
modelo de conspiração entre os escravos na Bahia e do mundo sendo diferenciada dos
movimentos modernos, que concentram seus protestos nos dias de trabalho – a greve
sendo o modelo típico.
A partir do momento em que homens e mulheres armados com uma espada na
mão e na outra o Corão (livro sagrado do islamismo) invadiram as ruas de Salvador,
para derrotar as autoridades baianas, o cenário político da sociedade baiana foi se
caracterizando por uma rede de conflitos e revoltas, onde as autoridades baianas se
viram aterrorizadas na madrugada do dia 24 para 25 de Janeiro de 1835.
“De espada em punhos, uns 50 homens negros partiram enfurecidos em direção
ao grupo de policiais, gritando ‘mata soldados’ e algumas palavras de ordem em
idiomas africanos”. (Freitas apud Reis, 2003). Num instante, o papel de escolta do juiz
de paz Caetano Galião, chefe da diligência, deu lugar a uma reação súbita para salvar a
própria vida. Os soldados policiais num gesto desesperador carregaram as espingardas,
mas não puderam fazer muita coisa para impedir o avanço dos guerreiros africanos que
mataram um soldado e feriram outros quatro, conquistando, desta forma, alguns espaços
na cidade.
Para alguns historiadores como Décio de Freitas, a religião islâmica foi um dos
fios condutores que desencadeou o grande levante, unindo os escravos contra a opressão
do dominador. Segundo o historiador, os escravos tinham a intenção de ao amanhecer,
reunirem o maior número possível de africanos para depois tomar o poder e matar todos
os nascidos no Brasil, inclusive outros negros, embora não se possa afirmar isto com
tanta precisão.
6
Para João José Alberto da Costa (2003) a solidariedade étnica, bem como a
condição de africano e de escravo, teriam sido determinantes na mobilização dos que
saíram armados às ruas .
“A rebelião, baseava-se no princípio de que todo africano representava
um aliado potencial, uma interpretação que se choca frontalmente com
a opinião de quem viu e (vê) nela nada mais é que uma Jihad a clássica
guerra santa muçulmana contra infiéis de todas as cores e origens” e
de quem atribuiu aos rebeldes o plano de massacre(...) os africanos
fetichistas junto com os brancos e crioulos”. (COSTA, 1003, p.150).
Para Alberto da Costa (2003), a jihad, significa que os juristas muçulmanos
acreditam no dever de crente, que assume formas conforme o lugar, a época e as
circunstâncias políticas.
Uma guerra santa que não tomou um cariz, na arregimentação de combatentes,
muito distinto da que ocorrera na Hauçalândia e em Ilorim. Uma guerra na qual não se
pode separar, por islâmica, a religião da política.
Além disso, somam-se à solidariedade étnica, os nagôs que não eram
muçulmanos e, movidos por um sentimento de liberdade e de revanche contra os
brancos, negros de outras nações, que saíram às ruas com eles. Não sendo encontrados
relatos por João Reis (2003) de grupos não-islamitas com papel de relevo no preparo, no
deflagrar e na condução do levante.
Segundo os dados apresentados por Reis(2003) não há vestígios que garantam
quais seriam realmente os planos dos rebelados. O que se tem são declarações, copiadas
pelas autoridades, segundo as quais os revoltosos pretendiam eliminar “todos os
brancos, pardos e crioulos”. Mas “o certo é que os rebeldes pretendiam romper com a
dominação branca e que viam mulatos e crioulos como cúmplices dos brancos, não
vítimas como eles, mas é possível que, caso a história tivesse dado essa chance, uma
vez no poder os africanos terminariam por estabelecer um modus vendi com os afro-
baianos”. (Reis, 2003, p.68).
Gradativamente as investigações feitas pelo governo baiano sobre o levante
foram revelando uma rede clandestina de propaganda islâmica, que unia os cativos
vindos da África muçulmanos a outros convertidos no Brasil e a africanos adeptos de
outras religiões.
7
João Reis (2003) acha ser impossível que os rebeldes contassem com alianças
importantes fora de seu grupo étnico. Mas Nina Rodrigues, sugeriu que os nagôs, por
intermédio da sociedade secreta Ogboni, teriam comandado esse movimento. No
entanto, Reis (2003) vê o contrário, pois para ele a Ogboni era originária do reino ioruba
de Oyó, onde se dedicava ao culto da terra e tinha importante função de controle do
poder do alafin (rei de Oyó, significando senhor do palácio, ou do afin). Outros estados
iorubas tinham organizações similares, com outros nomes. Se a Ogboni possuía
ramificações na Bahia, suas funções eram evidentemente diferentes. Talvez a de manter
viva, mesmo deste lado do Atlântico, a identidade Iorubá e a hegemonia política dos
nagôs de Òyó.6
Contudo, foi a mobilidade social que alguns escravos tinham dentro do ambiente
um pouco menos sufocante da escravidão urbana na Bahia, que os malês conseguiram
criar uma organização rebelde de caráter diferenciado, se levarmos em conta as
rebeliões quilombolas, em grande parte formadas por escravos fugidos das grandes
propriedades rurais.
Por tudo isso, pode-se destacar que boa parte dos escravos de Salvador (dos
quais 63% tinham nascidos na África)7 gozava de um grau de liberdade insuspeito. Eles
se diferenciavam dos negros que se esfalfavam nos engenhos, grande parte desses
negros nem morava com seus senhores ou, quando isso acontecia, trabalhavam horas do
dia fora de casa. Era a chamada escravidão de ganho, na qual os escravos exerciam os
mais variados ofícios (vendedores ambulantes, pedreiros, carregadores de cadeiras,
barbeiros) para sustentar o seu próprio dono trazendo-lhe depois de longo dia de
trabalho nas ruas o que conseguiam com o fruto do trabalho. Alguns até podiam ficar
com uma porcentagem mínima, obviamente do que ganhavam, e com esse dinheiro
compravam mais tarde a tão sonhada liberdade através da alforria.
No entanto, chamo atenção para esse tipo de relação entre o senhor e o escravo,
porque deixar que os escravos circulassem pelas ruas da cidade não significava que o
senhor estivesse sendo cordial com o cativo. Entende-se que esse era apenas um
mecanismo utilizado pelo senhor a fim de controlar os sujeitos de ganho, a medida que
este indivíduo tinha a promessa de ser liberto após pagar determinada quantia à seu
6 Para o historiador João Reis, é preciso observar esse ponto de vista, porque o que estaria fazendo uma
organização ioruba num movimento predominantemente de cunho religioso ( haussá) 7 Esses dados podem ser encontrados na edição da revista. Aventuras na História ed. 02 agosto de 2003.
8
dono. Por outro lado, esse sistema permitia que os negros montassem sua própria rede
de amizades e contatos.
Os Malês, por exemplo, não era raro encontrar um liberto morando no andar
térreo de um sobrado cuja loja era alugada (um modelo de porão das casas coloniais )
para um escravo, e este por sua vez, alugava uma parte do cômodo a outro amigo.
De modo geral, a revolta começou a tomar corpo em Salvador no ano de 1835
por meio da idéia de mobilidade social e das teias de amizade construídas entre escravos
e libertos, além da facilidade com que os traficantes de escravos agiam, possibilitou a
entrada dos guerreiros experientes, mas também levou pessoas que freqüentavam
escolas, onde se ensinavam a ler e escrever em árabe, a recitar as suras ou versículos do
Alcorão e a seguir os ensinamentos do profeta Maomé.
Envolvidos na revolta estiveram presentes homens como Ahuna e pacífico
Licutan, pessoas vividas, com um certo grau de intelectualidade, carismáticas, que logo
se puseram a unir em torno de si seus companheiros que já eram muçulmanos e a
espalhar a palavra de Maomé entre outros escravos. De fato, tanto a união em torno do
islã quanto a solidariedade étnica influenciaram os rebeldes.
Para o historiador Décio de Freitas (apud. REIS, 2003), foi o fator religioso
conseguiu unir povos diferentes e até inimigos entre si no mesmo levante. Contudo,
Reis (2003) faz a crítica aos argumentos do historiador. O autor baiano parte de outro
ponto polêmico. Afirma com mais precisão e com outros argumentos mais calibrados, a
importância da construção de identidade étnica no movimento e a complexidade
existente entre identidades religiosas e de classe, pois nem todo muçulmano entrou na
revolta e nem todo rebelde era muçulmano. Os haussás, por exemplo, constituíram o
grupo étnico mais numeroso entre os mais islamizados, contribuíram com poucos
guerreiros. Na verdade, o movimento foi levado a sério sobre tudo por muçulmanos de
origem ioruba, os nagôs, o que ratifica, tendo ou não sido uma jihad, uma dimensão
étnica fundamental devido a participação de negros nagôs. A dimensão social é também
indiscutível, pois tratava-se de rebeldes na sua maioria escravos e uma minoria de
libertos que visavam, não apenas a emancipação, mas a tomar o poder, onde o social se
mistura também com o político.
Algo mais circulava pelas ruas de Salvador. O temor das autoridades baianas que
obrigavam os moradores dos sólidos sobrados, dos palacetes e das casas simples saírem
às ruas, esses faziam-no com alguma cautela e muito receio. Afinal de contas, as ruas,
vilas e becos – em geral estreitos, irregulares, sujos e mal iluminados –, eram lugares
9
onde se aglomeravam os escravos, mendigos, “desocupados”, e outros tipos sociais, que
naquela sociedade não possuíam algum direito. E não por outra razão, estavam sempre
prontos para revelar sua presença.
Funcionários, negociantes, religiosos, artesãos, proprietários de escravos e de
terras, autoridades e muitos outros temiam os capoeiras, que em bando vagavam pelo
centro e redondezas. Temiam os assaltantes, cujo número crescia junto com a cidade.
A escravidão africana no Brasil durou mais de três séculos e sustentou a
economia do país, da lavoura da cana de açúcar ao trabalho urbano. Mas os cativos
sempre acharam um jeito de lutar por sua liberdade e por justiça. Foi então que
explodiram os confrontos, por volta de 1h30 da manhã, na loja onde morava Manoel
Calafate, um dos líderes malês.
Tentaram arrombar a casa onde parte dos conspiradores se reunia, mas a patrulha
ficou impotente diante dos muitos guerreiros muçulmanos, armados de espadas e
vestindo o abadá, espécie de camisolão branco que era o traje ritual dos malês. As
informações sobre o levante vazaram no começo da noite anterior, por meio de alguns
libertos, como Guilhermina Rosa de Souza, que sabendo do plano dos malês, o
denunciaram a seus ex-senhores. Esses, por sua vez, alertaram as autoridades baianas,
que reforçou a guarda do palácio do governo.
Após travarem longa batalha contra as autoridades, os negros malês foram
derrotados. Alguns foram mortos, outros aprisionados, condenados à morte, deportados
de volta à África. Não se pode dizer com certeza qual teria sido o destino da rebelião, se
ela tivesse sido vitoriosa.
Para João José Reis (2003), a delação certamente selou a sorte dos rebeldes mais
cedo, mas os fatores se encontram tanto entre os africanos como entre seus adversários.
O controle sobre os escravos cresceu na Bahia, mas a revolta também ajudou a impor
uma redução do tráfico negreiro, e finalmente, sua extinção em 1850, por medo de que
mais africanos se unissem como os malês. 8
IV) Debatendo a Revolta dos Malês em sala de aula.
A proposta para este capítulo é fazer uma análise preliminar sobre os livros
didáticos como materiais de circulação do saber histórico, identificando nestas
8 Esses dados podem ser encontrados na edição da revista.apud. Aventuras na História ed.02 p.59.02
agosto de 2003.
10
produções da historiografia didática as revoltas escravas, em especial, a Revolta dos
Malês ocorrida nas ruas da cidade de Salvador em 1835.
Para tal é necessário investigar o sentido dado pela historiografia didática ao
levante dos escravos e libertos muçulmanos que lutaram nas ruas da capital baiana no
período Regencial determinando a relação diferenciada entre as duas vertentes
educacionais: didática e acadêmica na História do Brasil descrevendo a maneira como
esses revoltosos islamizados estão sendo inseridos nos livros de História do Brasil. A
este propósito, algumas questões poderão ser deixadas em aberto. É importante,
portanto, levar-se em consideração a banalização de alguns temas sobre as resistências
escravas do período Regencial como a Revolta dos Malês, sendo contada apenas aquilo
que privilegia a História oficial.9. Neste ensaio a história da Revolta dos Malês em 1835
será interpretada nos livros destinados aos ensinos Fundamental e Médio nas últimas
décadas dos anos 1980 e 1990, através do diálogo com professores e estudantes de
graduação de História.
Os anos de 1980 e 1990 foram palco da emergência de movimentos sociais,por
isso as lutas dos profissionais da área de educação, desde as salas de aulas até as
universidades, ganharam maior expressão com o crescimento das associações de
historiadores e geógrafos, que assumiram cadeiras docentes de primeiro e segundo graus
e ampliaram a batalha pela volta de História e Geografia aos currículos escolares e a
extinção dos cursos de licenciatura de Estudos Sociais. A partir de então, novos temas
passaram a ser estudados pela academia e também incluídos nos livros escolares
destinados ao público de Ensino Fundamenta e Médio.
Diante do contexto de um mundo altamente marcado por ações políticas e
ideológicas, onde as agitações de liberdade e construção da Pátria estiveram presentes
na sociedade brasileira. Surgem assim novas questões em torno da compreensão da
História do Brasil para o registro da memória de nossos feitos e ações.
9 A História, oficial consiste em documentos e registros daqueles que se encarregaram de contar uma
versão dos que venceram.
11
“A liberdade, que é uma conquista, e não uma doação, exige uma
permanente busca. Busca permanente que só existe no ato responsável
de quem a faz. Ninguém tem liberdade para ser livre: pelo contrário,
luta por ela precisamente porque não a tem. Não é idéia que se faça
mito. É condição indispensável ao movimento de busca em que estão
inscritos os homens como seres inconclusos.(...)A liberdade, por isto, é
um parto. E um parto doloroso. O homem que nasce deste parto é um
homem novo que só é viável na e pela superação da contradição
opressores-oprimidos, que é libertação de todos”. (Freire, 1975)
A liberdade descrita por Paulo Freire,(1975) quando pensada em relação à
disciplina da Historia como uma disciplina libertadora de jovens e adultos por meio do
conhecimento de nossas memórias, permite que o aluno na condição de oprimido tente
através dos conhecimentos adquiridos em sala de aula libertar-se em suas origens da
história oficial, contada a partir da História do opressor-oprimido, e descobrir a
liberdade a partir do encontro com novos sujeitos históricos..10
O passado oprimido apenas com a valorização do discurso dominador
eurocentrico e etnocêntrico assume novas formas e interpretações. 11. O discurso feito
de acordo com os interesses hegemônicos, adquiriu novas abstrações voltadas não mais
para mascarar as desigualdades sociais, a dominação oligárquica e a ausência da
democracia social, e sim debatê-las a partir de novas perspectivas historiográficas.
Mas apesar da abstração e coerção, a produção histórica foi se renovando com o
emprego da dialética entre os historiadores como método de abordagem e com a
inovação de temas de pesquisa abrangentes e direcionadas a ruptura do método
tradicional positivista. A historiografia brasileira passou por uma releitura: baseou–se na
identificação, nas diferenças de espaços, de formação, de organização, de lutas e de
resistências sociais.
O regional e a história local foram cada vez mais estudados em suas imbricações
no nacional e no social, em diversos temas sobre a escravidão, que se distribuíram pelo 10 Efetivamente, nos últimos anos, o ensino de História tem sofrido um processo crescente de revisão dos esquemas Globalizantes e Homogeneizadores, os quais, por muito tempo nortearam as teorias e as práticas historiográficas. Neste sentido percebemos que houve uma ampliação do campo da História, marcada pela busca de novos problemas, novas abordagens e novos objetos de estudos. 11 O conceito de eurocentrismo está associado a visão historiográfica a partir do olhar europeu. E o conceito de etnocentrismo implica na idéia de uma cultura dominante e superior as demais. Ambos os conceitos constroem na História do Brasil uma memória voltada para a narrativa européia como protagonista dos fatos, extinguindo assim os diálogos com os demais sujeitos – indígenas e negros africanos.
12
espaço brasileiro. Esta vasta produção surgida no final dos anos 1970, no entanto, ficou
em grande parte restrita às academias, não atingindo o grande público das escolas de
ensino fundamental e médio. Seja pela situação de ditadura, seja pelo controle
“asfixiante” da censura ou pela própria resistência de alguns professores em abordar
determinados temas nas salas de aulas.
Para a autora Elza Nadai, “com o fim da ditadura militar e com a emergência do
Estado Constitucional, a partir do final dos anos 1970 e início dos 1980, ocorreu a
emergência de novas propostas curriculares em todos os Estados da Federação, que
vêm procurando concretizar a readequação dos currículos, programas e métodos e o
redirecionamento da escola fundamental de 8 anos”12.
A historiadora abre uma reflexão em torno da idéia da existência de um saber
escolar que não corresponde nem à justaposição nem à simplificação da produção
acadêmica. Portanto, aceitar a idéia de que o conteúdo não pode ser tratado de forma
isolada, e sim, em conjunto com outros fatores, implica em não ensinar quantidades,
substituindo esta pratica pela noção de que o aluno é sujeito do processo de
aprendizagem, carregando consigo uma trajetória histórica, o que auxilia na construção
de um conhecimento historiográfico a partir de uma reflexão crítica.
Neste sentido, os objetivos do ensino de História passam a adquirir uma
expressividade emancipadora, baseada na autodeterminação e na autonomização do
educando (...) isso pressupõe a compreensão da emancipação a um só tempo e
inseparável do indivíduo no seio da sociedade” (Funari, 1992) 13
Por isso, é importante a superação da dicotomia ensino/pesquisa já que o ponto
de partida do currículo escolar é resultante da interação entre alunos, professores e o
meio social, o que determinaria um diálogo entre escola e academia e consequentemente
das produções didáticas de ambas as instituições.
A compreensão de que alunos e professores são sujeitos da história (do processo
escolar, do trabalho comum, da vida do dever); são agentes que interagem na construção
do movimento social, permite viabilizar a História, enquanto uma memória social
alicerçada num discurso que relaciona o passado e o presente. 12 NADAI, Elza. “O ensino de História no Brasil: Trajetória e perspectiva”, (Apud). IN: RB de H, SP, V13, N 25/26, P. 158. 13 FUNARI, Pedro A. A História e o Sentido das escolas técnicas. São Paulo, SP, CEETEPS / UNESP, 1992. A História tem permanecido no currículo escolar, constituindo o que se chama de saber histórico escolar. No diálogo e no confronto com a realidade social e educacional, no contato com valores e anseios das novas gerações, na interlocução com o conhecimento histórico e pedagógico, o saber histórico tem mantido tradições, tem reformulado e inovado conteúdos, abordagens, métodos, materiais didáticos e algumas de suas finalidades educacionais e sociais.
13
“O que fabrica o historiador quando faz História”? Para quem
trabalha? Que produz? Interrompendo sua deambulação
erudita pelas salas dos arquivos, por um instante ele se
desprende do estudo monumental que o classificará entre seus
pares, e, saindo para a rua, ele se pergunta: O que é esta
profissão?” 14
O autor Michel de Certeau (apud Ribeiro, 2002) nos leva a pensar, o que vem a
ser o “oficio do historiador”, interrogando-se sobre a importância desta profissão.
Contudo, para o que nos interessa neste trabalho, será argumentado de forma descritiva,
a institucionalização da profissão do professor de História relacionando-o ao ensino da
História, buscando a compreensão enquanto uma disciplina do saber social e cultural da
relação professor/historiador e a sua importância para construção da História do Brasil.
Alguns livros de história do Brasil nutriram-se de uma conjuntura política, onde
para muitos setores da sociedade brasileira, era fundamental a ausência crítica em
relação ao regime militar e seus “entulhos autoritários” no período de 1964/1979.
“A família branca é passada ao aluno como padrão e o negro,
freqüentemente, aparece em posições socialmente inferiores. As fotos e
gravuras enfatizam, na maioria das vezes, o branco. Em alguns livros,
repetem-se antigos preconceitos, já superados há muito tempo por
pesquisas históricas. Fala-se, por exemplo, que o índio, por ser
indolente e acostumado à liberdade não se adaptou à escravidão. Daí a
preferência do colonizador pelo negro”. (Folha de São Paulo , 23 abr.
1994).
Apesar destas justificativas terem sido registradas durante longos anos nos livros
de História adotaram um registro voltado para História econômica e política, o
revisionismo historiográfico possibilitou a noção de uma nova perspectiva em relação
ao índio e ao negro como sujeitos históricos. Neste sentido, é comum verificar em
14 DE CERTEUA, Michel. “A invenção do cotidiano”. Apud. RIBEIRO, Renilson Rosa (org.). Cadernos
da Graduação. O negro em folhas brancas.IFCH/ UNICAMP. No 2. 2002.
14
algumas obras didáticas o índio como protagonistas de resistências, hábitos culturais, o
que determina um novo olhar e idéia da História do Brasil.
No final dos anos de 1970 são abandonados os jargões marxistas, economicistas
e politicista em contraposição a perspectiva social e cultural. Por exemplo, quando
pensamos em escravidão o negro não assume apenas a função de mão de obra e escravo
na História, ele passa a se colocar como sujeito histórico de revoltas, protagonizando até
mesmo um outro significado para a Abolição, além da assinatura da carta pela Princesa
Isabel em 1888, e por isso a própria Revolta dos Malês também passam a aparecer em
alguns livros de didáticos e também como objeto de estuda na academia.
A reflexão crítica dos anos de 1990 acentuou o tema do preconceito e da
discriminação, próprio do período de lutas sociais e também dos reflexos da
Constituição de 1988: “a Constituição Cidadã”. No entanto, os livros não sofreram
mudanças radicais apesar do debate acadêmico da época.
“A História serve para interpretar o passado, tendo em vista a
compreensão do presente. O objetivo é adquirir consciência do que
fomos para transformar o que somos. Transformar para melhor. Assim,
num país como o Brasil, marcado por tantas injustiças sociais, o estudo
da História pode servir para ampliar nossa consciência sobre a imensa
e urgente tarefa de construir uma sociedade mais justa, mais digna e
mais fraterna’. (Gilberto Cotrim. História & Consciência do Brasil V. I,
P: 9)
Segundo o professor e historiador Contrin, a História contada nos livros
didáticos é sempre a História do vencedor em contraposição a participação dos
vencidos. O significado deste registro implica na construção de uma relação de
feedback entre sociedade/História/ ensino, onde a historiografia possa assim dialogar
com as memórias sociais, novos vestígios e a oralidade como instrumento de uma nova
interpretação da História.
V) Os Profissionais de História. “Uma imagem tradicional do professor de História (e mesmo do Historiador) é a de “narrador de
Histórias (...) mas ainda é tempo de viver e contar. Certas histórias não se perderam”(Carlos Drummond de
Andrade)..
15
Para o historiador Carlos Vesentini (1982), ainda restam pontos possíveis de
serem discutidos com outros historiadores que sem dúvida alguma o tempo não
sepultou 15. Devemos começar nosso debate com ressalvas, sem partir da posição
fechada de Professor ou de Historiador, falando de cima, armado com o peso de seu
conhecimento, para aqueles que ainda labutam no ensino fundamental, médio, nos pré-
vestibulares, ou até mesmo nas Universidades brasileiras.
Primeiro serão analisados os perfis dos profissionais de Ensino Fundamental e
Médio, especificamente os professores de História das escolas públicas e particulares do
sistema educacional brasileiro, no bairro de Paciência, e posteriormente, relacionados
aos professores e ao perfil didático, a importância do ensino de História da África e das
culturas afro-brasileiras no espaço escolar como divulgador de conhecimento histórico a
partir da implementação da lei 10.639 de nove de janeiro de 2003, que tornou
obrigatório o ensino de História da África e da História dos Africanos no Brasil nas
escolas de todo o país.
Foram entrevistados neste ensaio, professores, pesquisadores e alunos de
graduação para compreensão desta relação entre docente, ensino e História.16Considero
que ao observar o profissional de História num conjunto de relações diversas, o
aprofundamento acadêmico e o cotidiano escolar do professor, permitem uma visão
ampla da implementação da lei 10.639 e suas repercussões nos livros didáticos, para o
que nos interessa: a presença da Revolta dos Malês.
A escola, especificamente a sala de aula, se coloca como esse lugar reservado ao
professor para o exercício de uma função num círculo de relações sociais. A escola
aparece enquanto espaço em que o papel social do professor se exerce e é através desse
conjunto que ele participa de relações sociais mais abrangentes. O centro do espaço
estabelecido como “nosso” é ocupado pela sala de aula e é aí que o professor se
relaciona com seus alunos. Essa ligação parece constituir ponto fundamental do
processo de ensino/ aprendizagem, pois exatamente neste ponto o “professor” adquire
importância frente a sua profissão e função social.
15 VESENTINI, Carlos Alberto. Escola e Livro didático de História, In: Silva, Marcos A. da. Repensando
a história. Ej: Marco Zero, s/d [1982?] 16 Pra auxiliar a escritura do artigo os entrevistados fora escolhidos em relação à proximidade dos autores, no caso, como Juarez Assis Fernandes é morador de Paciência, as escolas públicas e profissionais foram entrevistados neste bairro.
16
“Em geral, eu sou contra a confusão deplorável dos que concedem ao
livro e à ilustração o poderio excessivo de formar a piedade, o caráter
ou mesmo a ciência no homem. (... )Quando e onde a cartilha fez um
cristão?Quando e onde uma gramática fez um homem falar a
língua?Quando e onde umas tinturas de direito público formaram um
único cidadão?”.(Silvio Romero, 1890)
Talvez as interrogações de Silvio Romero (1890) no século XIX, possam nos
levar a investigações do papel do público leitor na interpretação da leitura, das formas
como se apropriavam da palavra impressa e das relações que estabeleciam com a obra
didática de ensino escolar, nas escolas públicas e particulares do Brasil.
A partir deste alicerce teórico, surgiram questões sobre como são direcionados
os saberes históricos presentes nos livros didáticos nas escolas atuais, por meio de uma
análise dos professores e alunos na relação ensino/aprendizagem..
Em seguida, no caso dos professores, busquei identificar seu papel nas salas de
aula e seu público alvo: os alunos. Em uma relação de ensino-aprendizagem entre
ambos nas escolas, onde professores e alunos constroem juntos os conhecimentos
históricos descritos nos livros didáticos, no ato de apreensão do texto, já que este espaço
é entendido como local de conflito entre ambos.
Ao analisar as idéias dos professores das escolas, foi caracterizada de forma
sistemática a importância de se ensinar a História da África e do Negro no Brasil e sua
contribuição no processo de formação da sociedade brasileira na busca da reconstrução
identidade nacional. Portanto, neste ensaio é fundamental pensar o movimento dos
professores, educadores e da sociedade na busca de construir pistas para se compreender
o processo de transformação nas escolas brasileiras nos tempos atuais.
VI) Entrevistas:
Ana Luíza Rufes,17 historiadora e estudante de jornalismo da UERJ, afirma
desconhecer a lei 10.639/2003, e coloca que muitos docentes desconhecem desconhece
o tema nas escolas, e nos currículos acadêmicos a interpretação da lei é mais
17 Ana Luíza, atualmente trabalha na Fundação Osvaldo Cruz, no setor de pesquisas de história da Ciência e Saúde. A mesma tem previsão de terminar o curso de História em 2007.1 e o de Jornalismo em 2009. Não tem uma religião definida. Esta pesquisa foi realizada às 13h do dia 16/04/2007. na Fundação Oswaldo Cruz.
17
preconceituosa do que a ausência em si, na medida em que se agrupa a história de todo
um continente, heterogêneo em uma só cadeira.
No entanto, a professora reconhece que a compreensão do continente africano
como matéria foi esquecido pelo sistema educacional, que se interessou apenas em
ressaltar a África como um espaço de extração de riquezas naturais e mercado
consumidor. Seus argumentos nos levam a pensar que os alunos vêem a África com um
significado de continente negro, de origens escravas, onde as pessoas morrem de fome e
AIDS, ou seja, a África é vista apenas sob uma perspectiva negativa.
Quando foi perguntado a Ana Luiza, se ela havia estudado a História da África
na graduação, ela respondeu que na UERJ esta disciplina foi criada agora, após uma
reforma curricular relacionado a implementação da disciplina de história da África de
forma obrigatória. Mas no seu currículo escolar havia apenas um professor que
ministrava uma disciplina eletiva sobre África, porém a entrevistada não chegou a
cursá-la. Sobre a Revolta dos Malês, para ela a história que se conta nos livros
didáticos, mostra a visão marcadamente européia, onde a África, Ásia, e o Leste
Europeu são excluídos de diversos períodos da nossa História. A América pré-
colombiana também só foi recentemente incluída nos currículos, em função de uma
lógica compensatória, implementada a partir de políticas de inclusão dos grupos
socialmente excluídos, como as cotas. No campo da história, os excluídos sonham com
um espaço na sociedade. Construir sua identidade brasileira.
Com relação ao sistema educacional brasileiro, Ana Luíza acha que há uma
grande encenação, no qual os professores fingem ensinar, os alunos fingem aprender e o
que importa mesmo é o número de aprovados e não a formação de alunos que possam
refletir sobre a realidade da sociedade.
Após a fala da Profa. Ana Luiza, verifica-se que a educação é entendida como
forma de ascensão social, continuará voltada para a aprovação e para a competição
dentro da méritocracia. É preciso que se monte uma estrutura econômica que dê maiores
oportunidades a grupos cada vez maiores, permitindo uma formação educacional que
não seja voltada simplesmente ao mercado de trabalho, mas para uma educação
importante em si mesma, valorizada pelo que intrínseco ao indivíduo como a cultura,
capacidade crítica, reflexão e o prazer que os leve à busca da conscientização como um
todo.
18
A docente Márcia Máximo18, pensa na implementação da Lei 10.639 como algo
importantíssimo, mas esta importância só será eficaz quando todo sistema educacional
brasileiro estiver unido. Para Márcia torna-se necessário estudar as origens do povo
brasileiro, ou seja, um outro olhar sobre o continente africano, distante da visão
eurocêntrica. Segundo seus argumentos, o continente africano nos fornece culturas e
riquezas múltiplas que não conhecemos. Porém, a docente não trabalha o ensino de
História da África com seus alunos, porque lhe falta uma base de estudos e trabalhos
acerca do tema.
Os discentes têm a visão da África, como um universo de reconhecimento de
identidade. Contudo, sua experiência como docente não lhe possibilita trabalhar com a
disciplina em sala de aula. Apesar de ter estudado sobre a História da África na sua
graduação, a disciplina não era obrigatória para os alunos no currículo da Universidade.
Em relação a Revolta dos Malês, Márcia afirma que chegou a estudar no curso
de Brasil II na graduação, ministrado por um professor negro e distante de grupos mais
tradicionais da academia. Para ela, um dos motivos da ausência do tema nos livros de
história teria sido a predominância de estudos mais tradicionais repletos de conceitos e
visões preconceituosas, na qual o sistema educacional brasileiro, torna-se pessimista,
deficiente, desigual, no qual o professor da rede pública se destaca em seu papel e não é
reconhecido. “Para termos uma educação de qualidade, que eleve o padrão de vida do
povo brasileiro é preciso montar uma integração. Isso quer dizer que a educação não
pode se dá por si só. Toda uma lógica e mentalidade que imperam na sociedade atual
precisam mudar”.(Finaliza).
Fábio Gomes Borges19 historiador/professor nos diz que o sistema educacional
brasileiros nos dias atuais está com vários problemas estruturais, como a falta de
professores; baixos salários e as escolas estão destruídas.
Segundo Fábio, a implementação da Lei. 10.639 é justa, mas não resolve o
problema racial do Brasil, pois o ensino aplicado nas salas de aula, muitas vezes
desvaloriza o continente africano num contexto de história tradicional e eurocêntrica.
Para o professor, a África é vista de forma pessimista, como uma região muito
18 Márcia Maximo tem 24 anos e trabalha no mesmo setor que a professora citada anteriormente, não tem religião e leciona na rede particular de ensino, onde seus alunos acreditam que o continente africano é um universo de reconhecimento de identidade. 19 Fábio Gomes Borges tem 26 anos, é historiador, professor da rede particular de ensino, formou-se em 2005, foi influenciado por um antigo professor do curso pré-vestibular a ser professor de História. Entrevista realizada em 23/03/2007.
19
explorada e com várias desigualdades, mas que, no entanto, possui valores e
características próprias que precisam ser respeitadas e interpretadas por todos.
Em suas turmas Fábio trabalha muito pouco o tema de História da África,
principalmente na relação entre à história da escravidão negra e da colonização
imperialista no século XIX e XX, pois a história da África é vista de uma forma
preconceituosa e menos importante por seus alunos.
Quando perguntei ao docente se o mesmo havia estudado a história da África no
seu tempo de graduação, ele respondeu que muito pouco, apenas em relação à
escravidão e o processo de descolonização africana. No que diz respeito à Revolta dos
Malês obtive a mesma afirmação.
Para Fábio Gomes assim como para Márcia, a ausência da história do continente
africano em alguns livros escolares se deu por se privilegiar a história tradicional feita
de uma forma eurocêntrica que não valorizava os contextos históricos dos menos
favorecidos. “Mas isso, está mudando à medida que o povo está se conscientizando
mais sobre o seu significado no mundo” – termina Fábio.
A docente Suzi Aguiar,20 que resolveu ser professora de História por gostar de
estudar História e achar que se trata de uma disciplina perfeita para se compreender o
passado, pensar no presente e planejar o futuro, acredita que a implementação da
Lei.10.639/2003. foi de suma importância para o ensino de história e para a sociedade
brasileira como um todo. Para ela estava faltando nos currículos de história esse tema.
“Agora com a nova lei já temos alguma “coisa”, mas precisamos de profissionais
qualificados para ministrarem a disciplina nos cursos de história das escolas e
Universidades brasileiras” - disse a professora.
Para Suzi Aguiar, a África é um continente importantíssimo, o berço da
humanidade, no qual precisamos estudá-lo, compreendê-lo melhor, trabalhando com
seus alunos a historiografia africana, desmistificando certas histórias contadas nas salas
de aulas de ensino fundamental e médio ou até mesmo no universitário. Em sala de aula
a professora percebe que seus alunos necessitam de um estudo mais afinado sobre a
historiografia do continente africano, que muitas vezes foi contada de forma a
estereotipar a figura dos povos existentes em África.
Quando foi perguntado a docente se ela havia estudado História da África na
graduação sua resposta foi sim, num curso de um ano, organizado entre o Departamento
20 Suzi Aguiar é professora de história da rede particular de ensino, formou-se também em Pedagogia no ano de 1998. Leciona no Centro Universitário Moacir Bastos.
20
de História da Puc-Rio e os alunos, mas, a Revolta dos Malês não foi colocada em
momento algum do curso em questão.
A ausência de temas relacionados à vida dos africanos em África nos livros de
história é explicada por nossa docente de maneira diferenciada dos outros entrevistados,
tendo como justificativa da ausência, a falta de interesse do mundo Europeu Ocidental,
depois a África é considerada um continente miserável e que deu conta somente de
fornecer negros para serem escravos. “Agora porque a África está sendo visitada, ou re-
visitada, há um esforço em trazer a sua história. A própria África busca através de seus
homens e mulheres recuperar seu lugar na história do Mundo” – diz Suzi.
A professora considera o estudo sobre o tema primordial para a formação e
quebra das diferenças sociais, étnicas, religiosas, culturais e políticas na sociedade
brasileira. “Nós, professores, devemos fazer a diferença em sala de aula, onde
estivermos” – termina.
Para a educadora Doraneis Batista da Silva21, acredita que o fato de ter estudado
história desmistificou alguns conceitos que estavam em sua mente, então, passou a
afirmar aquilo que acreditava. “Todos nós somos agentes ativos da História. Nós
fazemos a História sem heroísmo. As conquistas humanas são frutos de muitas lutas,
muito suor das sociedades, disse a professora. Por acreditar nisso a docente decidiu
seguir a carreira de magistério”.
Para Doraneis, as desigualdades sociais e econômicas são enormes, mas ela vê
uma luz no fim do túnel, na organização do povo para mudar o rumo de nossa História,
mesmo que o sistema educacional brasileiro nos dias de hoje esteja camuflado, ou seja,
voltado para resultados que venham a satisfazer o padrão internacional na conquista de
prêmios e verbas; colocando aprovação automática; não se preocupando com o real
aprendizado dos alunos.
No que se refere à implementação da famosa Lei. 10.639/2003 sua visão é que
embora seja um grande começo para a sociedade brasileira valorizar suas raízes, torna-
se necessário capacitar os docentes, bibliotecários, produzir material de qualidade e
acessível a todos. “Isso significa dizer que nossos professores não terão condições de
ensinar a História da África se não forem preparados para tal. Em sua graduação o
21 Doraneis Batista da Silva é professora da rede pública de ensino fundamental e médio do colégio Estadual Raul Ryff. De religião Católica, formou-se em 1993, e decidiu ser professora de História por sempre duvidar dos heróis, dos grandes feitos, e dos grandes atos atribuídos a uma pessoa ou a um pequeno grupo.
21
estudo do tema não foi conteúdo relevante, a bibliografia sobre o assunto não chegava
às mãos de todos” – afirma Doraneis.
A visão da professora em relação ao continente africano se dá a partir da idéia de
um espaço rico em diversidade e muito explorado. E confirma que os educandos têm
um certo desinteresse pela história da África, pois a sua visão dos alunos e de outros
professores ainda está associada à escravidão e ao sofrimento de um povo. Contudo, a
professora nos conta que no período em que cursou a faculdade de História, o conteúdo
da História da África não foi relevante. E que sinceramente não se recorda de ter ouvido
falar na Revolta dos Malês na sala de aula da faculdade.
Sobre a ausência do tema por certo tempo nos livros de História a professora
Doraneis tem a seguinte opinião: “como sempre foi a elite que determinou o que deve
ou não ser ensinado, conhecer e valorizar África deixaria a população mais consciente,
mais questionadora. Sem o conhecimento da sua verdadeira história, de suas raízes fica
mais fácil a dominação. Se a ênfase não for acompanhada de estrutura para que a Lei
seja implementada, será mais uma Lei que não sairá do papel”. Entretanto, a docente
acredita na educação como um caminho para elevarmos o padrão de vida do povo
brasileiro, mas com algumas ressalvas a fazer, pois o modelo educacional brasileiro
atual está sucateado, profissionais da educação mal remunerados, formação precária,
material didático insuficiente, além de prédios escolares caindo aos pedaços.
VI) Considerações Finais
O “poder” da palavra do professor nas salas de aulas cria inerência à concepção
do conhecimento, entendendo-se que o professor de História é eixo de ligação entre o
ensino/aprendizagem da história do Brasil em suas relações com o mundo. Tal
concepção, permeada de interrogações por parte daqueles que, efetivamente, estão
engajados no processo de ensino/aprendizagem, certamente dão aos docentes a função
de transmissor do conhecimento histórico. No entanto, o professor também deve
promover a socialização da leitura de forma igualitária, tendo como meta desenvolver
hábitos individuais no aluno.
Podemos perceber de certa forma que a variada produção acadêmica dos anos
anteriores, distanciou a ação dos nossos professores com a sala de aula, que de maneira
explícita estabelece uma constante relação entre textualidade e oralidade. Efetivamente,
os educadores de ensino fundamental e médio, fizeram parte de um sistema de
22
aprendizagem que envolveu leitura e transmissão oral. O professor, isoladamente, não
consegue cumprir seus propósitos educativos.
Ao buscar entender o papel dos professores como divulgadores de
conhecimentos coletivos, na função de transmissor de conhecimento histórico junto com
a figura do aluno na sala de aula, não pude desviar a atenção do exercício do magistério
criado e planejado para divulgar o conhecimento uniforme, mas que, constantemente,
foi manuseado por diferentes órgãos, oriundos de diferentes experiências de vida.
Desta forma, podemos dizer que os nossos professores são responsáveis diretos
no caminho de formação da sociedade brasileira. Porque neles está depositada a
esperança de um mundo melhor através da educação. No entanto, o educador só é
importante à medida em todos os seus esforços são reconhecidos pelos órgãos
governamentais, pais, alunos, e pela sociedade em geral.
Sendo assim, o professor poderá desempenhar melhor seu trabalho metodológico
do ensino que se propõe em sala de aula através do conhecimento que ele adquiriu em
seus tempos de graduação e experiência de vida, mas os educadores têm nos dias de
hoje como concorrentes, os meios de comunicação de massa, o cinema, a televisão, o
jornal e seu mundo de imagem. Para divulgar mecanismos de utilização, com a intenção
de legitimar um discurso controlador das ações dos homens.
Precisamos rever os novos currículos escolares e os temas em sentido mais
amplo, unindo professores, comunidade, pais, governantes, alunos e elaboradores de
projetos visando melhorar a qualidade do ensino brasileiro dentro e fora das escolas, nas
universidades públicas e privadas, de maneira a integrar os saberes históricos às escolas
de ensino fundamental e médio, inserindo temas considerados relevantes para a
formação de uma sociedade mais justa. A produção histórica nas universidades deve
estar interagindo com os ensinamentos das produções didáticas. Nossos governantes
precisam criar medidas para solucionar a ausência de certos temas nos currículos de
ensino fundamental e médio, acabar com certos distanciamentos entre as duas vertentes
educacionais. Escolares e acadêmicas, para não encontrarmos justificativas de
desconhecimento em relação à História da áfrica e a Revolta dos Malês.
23
BIBLIOGRAFIA:
ABUD, Kátia Maria. “O livro didático e a popularização do saber histórico”, In: SILVA,
Marcos A. da. Repensando a história. EJ: Marco Zero, [s/d]
BITTENCOURT, Circe. “Livros didáticos entre textos e imagens”, In: BITTENCOURT,
Circe (org.) O saber histórico na sala de aula. São Paulo: Contexto, 1997.
CERTEUA, Michel. “A invenção do cotidiano”. Apud. RIBEIRO, Renilson Rosa (org.).
Cadernos da Graduação. O negro em folhas brancas.IFCH/ UNICAMP. No 2.
2002.
DEBRET, Jean-Baptiste. Viagem pitoresca e história ao Brasil. 6º ed. São Paulo, Martins/
Brasilia/df, INL, 1975).
FLORENTINO, Manolo & GÓES, José Roberto. A paz das senzalas: famílias escravas e
tráfico atlântico. Rio de Janeiro, 1790 – 1850. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1997.
FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Apud. 3ºed. Rio de Janeiro, Paz & Terra, 1975.
Renilson rosa (org.). Cadernos da Graduação. O Negro em folhas brancas.
IFCH/UNICAMP-N 2 – 2002.
FREYRE, Gilberto. Casa grande e senzala: formação da família brasileira sob o regime da
economia patriarcal. 3ª edição.Rio de Janeiro: Record, 1995.
FUNARI, Pedro A. A História e o Sentido das escolas técnicas. São Paulo, SP,
CEETEPS / UNESP, 1992.
LIMA, Mônica. “A África na sala de aula” in Nossa História n. 4, Rio de Janeiro:
Fundação Biblioteca Nacional, 2004,pp.84-87.
MATTOS, Hebe Maria. Escravidão e cidadania no Brasil monárquico. Rio de Janeiro:
Jorge Zahar editora, 2000: Ilustração – descobrindo o Brasil.
MUNAKATA, Kazumi. “Histórias que os livros didáticos contam, depois que acabou a
ditadura no Brasil.”, In: FREITAS, Marcos Cezar de (org). Historiografia
brasileira em perspectiva. São Paulo: Contexto, 1998.
NADIA, Elza. “O ensino de história no Brasil: trajetória e perspectiva”, In: Revista
Brasileira de História, São Paulo, Nº. 13; 25; 26. PP. 143-162, setembro de 1992 e
agosto de 1993.
VESENTINI, Carlos Alberto. “Escola e livro didático de História”, In: SILVA, Marcos
A. da. Repensando a história. EJ: Marco Zero, [s/d]
24
REIS, João José & SILVA, Eduardo. Negociação e Conflito: a resistência negra no Brasil
escravista. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.
SILVA, Alberto da Costa e. “Um rio chamado Atlântico: a África no Brasil e o Brasil na
África”, - Rio de Janeiro: nova Fronteira: ed. UFRJ, 2003.
Revistas, artigos e documentos: Revista: Super Interessante: Aventuras na história para viajar no tempo. Edição nº. 2 agosto de 2003. Revista. Aventuras na História ed. 02 agosto de 2003 Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) Terceiro e Quarto ciclos do Ensino Fundamental. História do Brasil, 1998. Jornal o GLOBO, sábado, 16 de agosto de 2003, PP. 12. Jornal o GLOBO, quarta-feira, 1 de junho de 2005, PP. 8.Jornal o GLOBO, sábado, 12 de março de 2005, PP. 14;15.