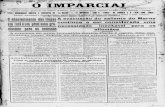A História como Bildung: o Círculo de Stefan George e a função formativa da História
a emergência da necessidade formativa docente no campo ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of a emergência da necessidade formativa docente no campo ...
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA
CARLA REGINA CALONI YAMASHIRO
A EMERGÊNCIA DA NECESSIDADE FORMATIVA DOCENTE NO CAMPO
DISCURSIVO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL
Presidente Prudente – SP 2014
CARLA REGINA CALONI YAMASHIRO
A EMERGÊNCIA DA NECESSIDADE FORMATIVA DOCENTE NO CAMPO
DISCURSIVO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES NO BRASIL
Tese apresentada à Faculdade de Ciências e Tecnologias, da Universidade Estadual Paulista, Campus de Presidente Prudente – SP, para obtenção do título de Doutor em Educação. Linha de pesquisa: Políticas Públicas e Formação de Professores Orientadora: Profª. Drª. Yoshie U. Ferrari Leite Coorientador: Prof . Dr. Divino José da Si lva
Presidente Prudente – SP 2014
FICHA CATALOGRÁFICA
Yamashiro, Carla Regina Caloni.
Y19e A emergência da necessidade formativa docente no campo discursivo da formação de professores no Brasil / Carla Regina Caloni Yamashiro. - Presidente Prudente: [s.n], 2014
260 f. Orientador: Yoshie Ussami Ferrari Leite Tese (doutorado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de
Ciências e Tecnologia Inclui bibliografia 1. Educação. 2. Política Educacional. 3. Formação de Professores. I.
Yamashiro, Carla Regina Caloni. II. Leite, Yoshie Ussami Ferrari. III. Universidade Estadual Paulista. Faculdade de Ciências e Tecnologia. IV. A emergência da necessidade formativa docente no campo discursivo da formação de professores no Brasil.
CARLA REGINA CALONI YAMASHIRO
A EMERGÊNCIA DA NECESSIDADE FORMATIVA DOCENTE NO CAMPO DISCURSIVO DA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES NO BRASIL
Tese aprovada como requisito parcial como obtenção do grau de Doutora em Educação, da Universidade Estadual Paulista, pela seguinte banca examinadora: Presidente e Orientadora: Profª Drª Yoshie Ussami Ferrari Leite
Departamento de Educação, UNESP/Presidente Prudente
Coorientador: Prof. Dr. Divino José da Silva
Departamento de Educação, UNESP/Presidente Prudente Prof.ª Drª Iria Brzezinski Departamento de Educação, PUC/Goiás Profª Drª Graziela Zambão Abdian Departamento de Administração e Supervisão Escolar, UNESP/Marília Prof. Dr. Pedro Ângelo Pagni Departamento de Administração e Supervisão Escolar, UNESP/Marília Prof. Dr. Alberto Albuquerque Gomes Departamento de Educação, UNESP/Presidente Prudente
Presidente Prudente – SP, 24 de novembro de 2014
Aos que ouviram sem entender o que eu dizia e aos que esperaram sem entender por que eu não ia, mas que mesmo assim sem entender, ouviram e esperaram.
AGRADECIMENTOS
A realização deste trabalho só foi possível graças à colaboração
direta de muitas pessoas. Manifesto, pois, a minha gratidão a todas elas e de forma
particular:
a todos os colegas, alunos e professores, do Programa de Pós-
Graduação em Educação da Faculdade de Ciências e Tecnologias –
UNESP/Presidente Prudente – SP, pelas ricas discussões proporcionadas nos
momentos de aulas e tópicos especiais;
ao membros do Grupo de Pesquisa de Formação de Professores,
Políticas Públicas e Espaço Escolar (GPFOPE) pelos enriquecidos momentos de
estudo;
a todos os funcionários da biblioteca e da seção de pós-graduação
que muito gentilmente sempre me atenderam prontamente;
à Profª Drª Yoshie Ussami Ferrari Leite e ao Prof. Dr. Divino José da
Silva pela confiança depositada em mim ao me orientarem neste trabalho;
e aos meus amigos e familiares pela compreensão as minhas
ausências.
RESUMO
YAMASHIRO, CARLA R. C. A emergência da necessidade formativa docente no campo discursivo da formação de professores no Brasil. 2014. 260f. Tese (Doutorado em Educação) – UNESP, Faculdade de Ciências e Tecnologia – campus de Presidente Prudente, 2014.
Este trabalho está vinculado à linha de pesquisa “Políticas Públicas, Organização Escolar e Formação de Professores” e tem como interesse o estudo da emergência do objeto necessidade formativa de professores no discurso da formação de professores no Brasil. Esse interesse surgiu a partir de leituras de textos de Michel Foucault sobre o nexo entre a produção de saber e o exercício do poder e os seus efeitos na subjetivação do indivíduo e na regulação da população e a partir de leituras sobre a produção do discurso como arena do exercício do poder e da estratégia de governamento. Neste estudo, problematizo o caráter de verdade absoluta do objeto necessidade formativa docente, perguntando-me a respeito da condições que proporcionaram a emergência da necessidade formativa docente no campo discursivo da formação de professores. O objetivo geral desta pesquisa é compreender as condições que proporcionaram a emergência da necessidade formativa docente no campo discursivo da formação de professores atualmente no Brasil e os objetivos específicos são identificar, descrever e analisar os regimes de verdade produzidos pelos discursos do âmbito da legislação educacional, mais especificamente, da política de formação continuada de professores, no Brasil, que colocam a análise de necessidades de formação de professores dentro da ordem do discurso da política de formação de professores; e compreender quais são os efeitos provocados pelo exercício do poder biopolítico no discurso da formação de professores na atual política de formação de professores no Brasil. A metodologia deste trabalho corresponde à análise discursiva de textos articuladores das políticas de formação de professores no Brasil, cujas ferramentas usadas para a análise foram a norma, a função autor e o comentário. A análise indicou que a emergência da necessidade de formação docente coexiste com a emergência de outros objetos como a inclusão de todos na educação escolar, a emergência da aprendizagem permanente como estratégia biopolítica de subjetivação do indivíduo professor e de sua população em um tipo de sujeito homo oeconomicus da educação. Palavras-chave: Necessidades formativas de professores; formação de
professores; biopolítica; análise de discurso.
ABSTRACT
YAMASHIRO, CARLA R. C. The emergency of the teachers training needs in the discursive field of teachers training in Brazil. 2014. 260f. Tese (Doutorado em Educação) – UNESP, Faculdade de Ciências e Tecnologia – campus de Presidente Prudente, 2014.
This paper is related to the research area “Public Policies, School
Organization and Teachers Training”. Its aim is to study the emergency of the subject teachers training needs in the teachers training discursive field in Brazil. This interest emerged from readings of Michel Foucault’s texts about the relation between the production of knowledge and the exercise of power and their effects on the subjectivation of the individual and the regulation of the population; and from readings about discourse production as an arena of the exercise of power and government strategies. This research has as problem the status of de thruth from the teachers training needs. This research has as its general aim to understand the conditions that provide the emergency of the teachers training needs in the discursive field of the teachers training in Brazil. The specific aims are to identify, describe and analyze the regimen of truth produced by the discourse of the educational policies, specifically the policies about teachers continuous training in Brazil, which put the analysis in the order of the discourse of teachers training policies; and to comprehend the effect of the biopolitics power over the discourse of the current teachers training policies in Brazil. This paper’s methodology corresponds to the discursive analysis of texts that articulate the teachers training policies in Brazil. The theoretical tools used for this analysis were norm, function-author and comment. With this analysis, it is possible to observe that the emergency of the teachers training needs coexists with the emergency of other subjects such as the inclusion of all individuals in the scholar education, the emergency of the long-life learning as biopolitical strategy to the teacher’s subjectivation and their population in a type of educational homo oeconomicus person. Key words: teachers training needs, teachers training, biopolitical, discourse analysis.
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO.......................................................................................... 10 2 EXPERENCIANDO................................................................................... 14 2.1 Do início.................................................................................................... 15 2.2 O problema da pesquisa........................................................................... 24 2.2.1 O percurso da elaboração do problema.................................................... 25 2.2.2 O problema que se fez.............................................................................. 39 2.3 (Re)Localizando a pesquisa...................................................................... 40 2.4 Os objetivos............................................................................................... 42 2.5 A metodologia e o corpus de análise........................................................ 43 3 AS NOÇÕES DE PODER, SABER E DISCURSO................................... 48 3.1 O nexo saber/poder na constituição das individualidades e das
coletividades..............................................................................................
49 3.2 A noção de poder para Michel Foucault.................................................... 52 3.3 Biopoder e biopolítica no exercício do poder na Modernidade................. 54 3.4 O eixo disciplinar: o dispositivo disciplinar como tecnologia de poder...... 59 3.5 O biopoder/a biopolítica como tecnologia de poder.................................. 65 3.6 A governamentalidade como ferramenta teórica...................................... 69 3.7 A lei e a norma, a disciplina e a biopolítica............................................... 72 3.8 A articulação entre discurso, saber e poder.............................................. 78 3.9 Procedimentos que atuam na ordem do discurso..................................... 83 4 BIOPOLÍTICA, GOVERNAMENTALIDADE E EDUCAÇÃO.................... 92 4.1 Foucault e a educação.............................................................................. 92 4.2 Biopolítica e governamentalidade: ferramentas para a pesquisa
educacional...............................................................................................
95 4.3 A emergência das ciências da educação como tecnologia biopolítica das
sociedades governamentalizadas e sua articulação com a racionalidade liberal e neoliberal......................................................................................
99 4.4 A emergência de processos de pedagogização na racionalidade
neoliberal...................................................................................................
106 4.5 A emergência da formação continuada de professores no Brasil............. 110 5 A NECESSIDADE FORMATIVA DOCENTE NA ORDEM DO
DISCURSO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES.................................
114 5.1 A emergência da necessidade formativa docente no campo discursivo da
formação de professores......................................................................
116 5.2 O contexto do corpus analisado e o método de
análise..........................................................................................................
122 5.3 A norma como estratégia do exercício do poder biopolítico no discurso
da formação de professores no Brasil.......................................................
131 5.4 A função autor e o comentário como princípios de rarefação dos
enunciados coexistentes à necessidade formativa docente nos textos: a qualidade e a valorização usadas como estratégias de governamento docente..............................................................................
151
5.5 Necessidade formativa docente e legitimação das políticas para formação de professores.........................................................................
171
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS...................................................................... 190 REFERÊNCIAS......................................................................................... 201
ANEXO A - Quadro 1: Quadro-síntese do levantamento bibliográfico das pesquisas sobre necessidades formativas de professores................
213
ANEXO B – Quadro 2: Quadro-síntese do levantamento bibliográfico de pesquisas sobre formação de professores..........................................
221
10
1 INTRODUÇÃO
Este trabalho está vinculado à linha de pesquisa “Políticas Públicas,
Organização Escolar e Formação de Professores” e tem como interesse o estudo da
emergência do objeto necessidade formativa de professores no discurso da
formação de professores no Brasil. A Necessidade formativa docente surge nas
discussões sobre o sistema nacional de formação de professores, como uma das
etapas de planejamento das ações de formação inicial e continuada de professores.
O meu interesse em estudar a emergência desse objeto surgiu a partir de
leituras de textos de Michel Foucault sobre o nexo entre a produção de saber e o
exercício do poder e os seus efeitos na subjetivação do indivíduo e na regulação da
população; e de leituras sobre a produção do discurso como arena do exercício do
poder e da estratégia de governamento. Esse interesse levou-me a elaborar o
objetivo geral desta pesquisa que é compreender as condições que proporcionaram
a emergência da necessidade formativa docente no campo discursivo da política de
formação de professores atualmente no Brasil. Esse objetivo geral desdobrou-se em
outros dois objetivos específicos que são identificar, descrever e analisar os regimes
de verdade produzidos pelos discursos no âmbito da política educacional, mais
especificamente, da política de formação continuada de professores, no Brasil, que
colocam a análise de necessidades de formação de professores dentro da ordem do
discurso da política de formação de professores; e indicar quais são os efeitos
provocados pelo exercício do poder biopolítico no discurso da formação de
professores na atual política de formação de professores no Brasil.
A metodologia deste trabalho corresponde à análise discursiva de textos
articuladores das políticas de formação de professores no Brasil, cujas ferramentas
usadas para a análise foram a norma, a função autor e o comentário. Ao estudar a
dispersão discursiva do objeto necessidade formativa docente a partir desses
procedimentos internos e externos da produção do discurso sobre a formação de
professores, observei que a emergência desse objeto coexiste com outros
enunciados que se articulam na fabricação do campo discursivo da formação de
professores. Esses enunciados tecem uma rede discursiva na qual a formação
continuada de professores apresenta-se como uma prática quase natural ao
processo formativo e imprescindível à valorização e ao desenvolvimento profissional
do professor, dois temas que adquiriram relevância nos atuais discursos.
11
É importante salientar que considero a necessidade formativa docente como
um objeto porque emerge na materialidade do discurso das políticas de formação de
professores, devido às relações discursivas entre os enunciados que mantêm
coexistência com esse objeto.
Este trabalho está organizado em seis partes, sendo que a primeira
corresponde a esta introdução; na segunda, apresento a trajetória de construção
desta pesquisa; na terceira e quarta partes exponho o referencial teórico-
metodológico no qual me baseei e do qual usei algumas ferramentas para fazer a
análise do discurso da formação de professores; a quinta parte foi dedicada à
apresentação da análise dos textos; e, por fim, na sexta parte teço algumas
considerações sobre esta pesquisa.
Na segunda parte exponho detalhadamente o percurso de construção do
projeto desta pesquisa. Foi importante relatar como pude fazer as escolhas que fiz
para realizar este trabalho. Tomo-o como uma experiência na qual eu testei a mim
mesma e não apenas as ferramentas teóricas e metodológicas utilizadas na
pesquisa. É nesta parte que apresento também a metodologia e os objetivos deste
trabalho.
Na terceira parte apresento noções relacionadas ao nexo entre a produção
de saberes e o exercício dos poderes disciplinar e biopolítico. Abordo assuntos como
o deslocamento dos mecanismos de poder disciplinares para mecanismos de poder
biopolíticos; a questão da governamentalidade; a emergência da norma e do modelo
de exame como efeitos do exercício do poder biopolítico; as noções de discurso e
sua articulação com a produção de saberes; a noção de discurso na perspectiva de
Michel Foucault e suas diferenças com outras teorias; apresento, por fim, os
procedimentos de análise na interioridade e na exterioridade discursiva.
Na quarta parte deste estudo, exponho alguns trabalhos realizados no
campo da educação cujo referencial teórico ou metodológico foi o foucaultiano, a fim
de demonstrar que esse referencial teórico pode ser usado para problematizar
assuntos educacionais, mesmo embora o próprio Michel Foucault não tenha se
dedicado ao estudo de assuntos educacionais em suas pesquisas.
Na quinta parte, apresento as análises realizadas sobre o discurso dos
textos selecionados (leis, pareceres, portarias, decretos e documentos referencias),
produzidos no espaço das políticas de formação de professores no Brasil, a partir da
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996. No decorrer das análises,
12
há explicações mais aprofundadas e detalhadas de noções associadas ao
referencial teórico exposto nos itens três e quatro, que preferi apresentar juntamente
às análises e não, como de praxe, no capítulo reservado à teoria. Preferi trabalhar
dessa forma porque tomo as noções teóricas que embasam este trabalho não
apenas como noções teóricas, mas também como ferramentas de pesquisa1. Então,
achei mais esclarecedor e coerente apresentar algumas noções teóricas juntamente
às análises discursivas, diminuindo, inclusive a distância entre elas no espaço
textual.
A partir da análise foi possível observar que a emergência da necessidade
formativa docente coexiste com a emergência de outros temas como a inclusão de
todos na educação escolar, e como a ênfase na aprendizagem permanente do
docente. A coexistência desses temas na materialidade discursiva das políticas
educacionais pode ser considerada como parte da estratégia biopolítica de
subjetivação do indivíduo professor e da população docente que tem contribuído
para a formação de um tipo de sujeito homo oeconomicus da educação.
Ao estudar a dispersão discursiva que dá condições de existência ao objeto
necessidade formativa docente a partir das noções de biopolítica e
governamentalidade, percebi que ele emerge, na contemporaneidade, impulsionado
pela maior ênfase em mecanismos reguladores e controladores próprios do exercício
do poder biopolítico agindo na formação e na vida dos professores. A população de
professores vem se adequando ao perfil de um profissional empresário de si mesmo,
que procura acumular capital humano a fim de adequar-se e competir no mercado
de trabalho. A elaboração, o diagnóstico e a análise de suas necessidades de
formação funcionam como mecanismos de retroalimentação da formação
continuada, justificando a existência e necessidade desse tipo de formação por meio
da produção de saberes sobre os professores (sua atuação, suas dificuldades, suas
inadequações, ou, talvez, suas ‘anomalias’). A emergência da preocupação em
analisar ou levantar as necessidades formativas docentes das atuais políticas
educacionais brasileiras é resultado dos efeitos da norma e do modelo do exame
articulados entre si em consonância com o exercício do biopoder articulado, por sua
vez, com a racionalidade neoliberal.
1 Para Foucault, o discurso é uma prática. Portanto, ao escolher lidar com as noções teóricas elaboradas por Foucault como ferramentas teóricas de análise é assumir que o meu discurso também é forjado e contingente.
13
Dessa forma, a necessidade formativa docente não é apenas um objeto de
estudo que auxilia no planejamento das ações de formação continuada, mas é
também uma estratégia do exercício do poder biopolítico e da racionalidade
neoliberal de planejamento do campo de atuação do professor, agindo no
governamento desse profissional.
14
2 EXPERENCIANDO
Tenho encarado esse processo vivido por mim como uma experiência
proporcionada pelo ato de pesquisar. Experiência entendida aqui não apenas como
uma vivência prática de uma teoria, mas como um momento de desgaste de mim
mesma, de apagamento de alguém que não quero mais ser. Por um lado,
experenciar o apagamento de mim mesma é como desapegar-se daquilo que pensei
que me sustentaria para sempre; por outro lado, está sendo forjar alguém cuja figura
ainda se esboça.
Por isso, acredito que esta porção de páginas que agora apresento é uma
materialização de um discurso que não surgiu isoladamente da minha cabeça, mas
de uma experiência compartilhada com outros em um determinado tempo e espaço.
Assim como todo discurso, este que construo aqui também é histórico e contingente;
bem como acredito ser a elaboração de um saber que surge em meio às relações de
poder que me transpassam, que me constituem, que me governam e aos quais, às
vezes, também resisto. O que procuro fazer nesta primeira parte, então, é descrever
o que foi esse experenciar.
A primeira parte deste trabalho é composta por apenas um capítulo, no qual
detalho o percurso de elaboração desta pesquisa, da desconstrução de um projeto
de pesquisa anterior à construção de uma nova motivação investigativa. Para tanto,
começo apresentando um pouco sobre mim mesma, da posição de onde eu
discurso; em seguida, no item 2.2, descrevo o trajeto de elaboração do problema
desta pesquisa; no item 2.3, procuro (re)localizar a pesquisa a partir do referencial
teórico escolhido, ou seja, a partir da escolha em manejar as ferramentas teórico-
metodológicas propostas e elaboradas por Michel Foucault; no quarto item,
apresento os objetivos deste trabalho; e, por fim, no item 2.5, descrevo brevemente
a metodologia de pesquisa e apresento os textos analisados.
15
2.1 Do início...
[...] quem sou eu, que pertenço a esta humanidade, talvez a esta parte, a este
momento, a esse instante de humanidade que está sujeitada ao poder da verdade em geral e das
verdades em particular? (FOUCAULT, 2000c, p.180).
Entendo que esta pesquisa seja fruto de diferentes experiências que
vivenciei no decorrer de minha formação profissional, proporcionadas por três
momentos da minha vida: minha atuação como professora de Português da
educação básica da rede pública, em escolas estaduais paulistas, desde o ano de
1995; minha atuação como Assistente Técnica Pedagógica (ATP) da Diretoria de
Ensino de Presidente Prudente – SP, entre os anos de 2004 a 2008; e a minha
participação como aluna do Programa de Pós-Graduação em Educação da
Faculdade de Ciências e Tecnologia/UNESP/Presidente Prudente – SP, desde
2006, ano em que ingressei como aluna mestranda desse programa.
Desde o início da minha atuação como professora, desde da primeira
semana até os dias atuais, participei de algum tipo de ação de formação, chamada
de contínua ou continuada, de professores, seja no espaço da escola - por meio das
Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo (HTPC), atualmente chamadas de Atividade
de Trabalho Pedagógico (ATP), incorporadas na jornada de trabalho docente –; no
espaço da Diretoria de Ensino; das Universidades e Faculdades; ou nos espaços
virtuais dos cursos destinados à formação continuada a distância. A formação
continuada é uma prática que sempre esteve presente, durante toda a minha vida
profissional, oferecida em diferentes lugares, assumindo diferentes modelos, como,
por exemplo, as reuniões pedagógicas, realizadas na escola; nas oficinas
pedagógicas, nos encontros pedagógicos e cursos de curta duração, organizados
pela Diretoria de Ensino de Presidente Prudente – SP; nos cursos, chamados de
aperfeiçoamento e atualização, oferecidos pela Secretaria de Educação do Estado
de São Paulo em parceria com Universidades e Faculdades; nos cursos destinados
à formação continuada, oferecidos também pela Secretaria de Educação do Estado
de São Paulo em parceria com Universidades e Faculdades. Em suma, a formação
continuada se apresentou a mim, professora, como uma prática naturalmente
16
incorporada à profissão, como uma prática que faz parte da natureza da docência,
como se sua existência não pudesse ser questionável, dada a relevância que ela
recebe nos discursos veiculados nesse meio profissional. Relevância essa que eu
percebo vir aumentando paulatinamente, desde que comecei a dar aulas, em 1995.
Toda essa relevância atribuída à formação continuada de professores foi um
dos fatores que insuflou em mim uma grande vontade em assumir o compromisso de
formadora na função de Assistente Técnico Pedagógico (ATP), junto à Diretoria de
Ensino de Presidente Prudente – SP, na, então, chamada Oficina Pedagógica,
departamento que era responsável por implementar e planejar projetos de formação
continuada de professores atuantes nas escolas estaduais de Presidente Prudente e
região. Participei de inúmeras ações e projetos, presenciais e semipresenciais (parte
presenciais e parte a distância) implementados pela Secretaria de Educação do
Estado de São Paulo, sendo o último deles o Programa de Formação Continuada de
Professores “Teia do Saber”, ao qual ajudei a implementar, juntamente com uma
equipe, entre os anos de 2006 a 2008. Com essa experiência como ATP, em um
órgão estadual, em um departamento especificamente destinado ao planejamento e
implementação de ações e projetos de formação continuada de professores, percebi
que a formação continuada de professores pode ser um dos meios de controle
dessa população. Um meio de controle porque dentre as atividades do ATP
incluíam a aplicação de orientações técnicas, organização das ações de formação já
prontas pela Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e a visita nas escolas,
para averiguar se os professores estavam aplicando os conhecimentos e práticas
veiculas nesses espaços.
É claro que, naquela ocasião, eu não tinha a menor ideia do que acabei de
escrever: a minha disposição para o trabalho era motivada pela crença de satisfazer
as necessidades formativas dos docentes, de sanar suas dificuldades por meio dos
espaços proporcionados à formação continuada, bem como adequar a sua atuação
ao que era esperado. Mas essa crença inicial começou a ruir quando ingressei no
mestrado, momento em que passei a perceber mais fortemente que havia questões
de ordem política envolvidas na formação continuada de professores e depois, já no
doutorado, que essas questões eram da ordem da biopolítica2.
2 Biopolítica é uma noção forjada por Michel Foucault para designar o modo como a prática de governar procurou, a partir do século XVIII, racionalizar os problemas e os fenômenos
17
Também entre 2006 e 2008, foi o período que cursei o mestrado do
Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Ciências e
Tecnologia/UNESP/Presidente Prudente – SP, na linha de pesquisa “Políticas
Públicas, Organização Escolar e Formação de Professores”, áreas pelas quais
sempre nutri interesse. A pesquisa que realizei teve como objeto de estudo as
‘necessidades formativas de professores’, e como objetivo diagnosticar
necessidades de formação de professores do ciclo I do Ensino Fundamental de
escolas estaduais do município de Presidente Prudente – SP, com a intenção de
fornecer subsídios teóricos para o planejamento de ações e projetos de formação
continuada para esses professores. Naquele momento, eu estava preocupada em
diferenciar o modelo de formação continuada de caráter tecnicista e tradicional, de
modelos mais próximos de teorizações que defendem uma formação mais centrada
na escola, a partir das necessidades dos próprios professores. Para mim, naquele
momento, a existência das necessidades formativas de professores era um
elemento também inquestionável assim como as práticas de formação continuada de
professores. O que eu enfoquei como discussão era a maneira mais adequada de se
fazer a formação continuada e, consequentemente, adequar o modo de diagnosticar
as necessidades formativas desses profissionais às características desse tipo de
formação, que se esforça em se distinguir dos modelos tecnicistas e tradicionais.
Defendi o meu mestrado e saí dele com a certeza de que a formação
continuada precisava mudar para que pudesse satisfazer as necessidades dos
professores, e com a certeza de que o modo como as necessidades formativas
estavam sendo concebidas e analisadas em seus diagnósticos também. Mudar de
modo que trouxesse o professor para uma posição de participante ativo no
planejamento de sua própria formação e, consequentemente, menos executor de
planejamentos impostos por outrem. Enfim, mudar de modo que o próprio professor
pudesse gerenciar sua própria formação, analisar as suas próprias necessidades
formativas, organizar seus próprios espaços de formação. Esperava da formação
continuada um espaço dentro da minha jornada de trabalho que me possibilitasse
conhecer temas ainda desconhecidos, aprofundar questões que elaborava e discutir
com meus parceiros rumos a serem tomados no ambiente escolar e nas políticas
emergentes de uma aglomeração de viventes enquanto população (CASTRO, 2009, p. 59). Essa noção será abordada com mais profundidade no capítulo 3 deste trabalho.
18
educacionais. Espera, enfim, que os espaços de formação continuada pudessem me
proporcionar uma maior liberdade na minha profissão.
Desse modo, ingressei no doutorado, na mesma linha de pesquisa e na
mesma instituição que cursei o mestrado, com um projeto que tinha ainda como
objeto as ‘necessidades formativas de professores’ e que tinha o objetivo de
elaborar um conceito de necessidades formativas que se adequasse melhor aos
modelos de formação continuada menos tecnicistas e tradicionais e mais próximos à
concepção de formar um professor autônomo e crítico frente aos seus afazeres
profissionais.
A minha primeiríssima dificuldade no doutorado apareceu quando, com a
ajuda dos colegas e também dos professores do programa de pós-graduação, por
meio das reuniões do Grupo de Pesquisa de Formação de Professores, Políticas
Públicas e Espaço Escolar (GPFOPE) e do seminário de pesquisa organizado pela
instituição, pude perceber em meu projeto a falta de clareza quanto ao problema da
pesquisa e quanto ao referencial teórico a ser baseada a pesquisa e, por
consequência, a falta de coerência entre metodologia e o aporte teórico até então
construído.
Durante o primeiro ano de doutorado, então, fiz disciplinas que me dessem
condições de conhecer autores, teorias e metodologias de pesquisa que pudessem
sustentar teoricamente o meu estudo. Foi durante esta busca que me deparei com
alguns textos de Michel Foucault e Friedrich Nietzsche.
Visitei timidamente a obra nietzscheana para tentar entender Foucault,
seguindo sugestão do professor José Luís Sanfelice (UNICAMP – SP), que durante
uma palestra sobre metodologia de pesquisa, disse que para entender Foucault era
preciso primeiro ler Nietzsche. Essa sugestão me foi providencial, pois, eu, na
ocasião, cursava uma disciplina cuja programação incluía textos tanto de um quanto
de outro autor e eu não conseguia entender nem um nem outro. (Julgo agora que
talvez essa impossibilidade de entendimento desses autores era agravada não
apenas pelo meu desconhecimento de suas ideias, mas também pela minha
tamanha certeza absoluta nos princípios que me guiavam ao terminar o mestrado.
Para entendê-los, comecei a aprender a relativizar).
A leitura esparsa e não muito aprofundada de alguns textos de Nietzsche
(2005), disponibilizados pela coleção Os Pensadores, levou-me a repensar a razão
de ser da pesquisa que eu propunha. Cabe aqui transcrever um poema que li desse
19
autor e que representa bem a transição de perspectiva que ocorreu comigo ao ler
alguns textos de Nietzsche (2005):
No Sul Eis-me suspenso a um galho torto E balançando aqui meu cansaço. Sou convidado de um passarinho E aqui repouso, onde está seu ninho. Mas onde estou? Ai, longe, no espaço. O mar, tão branco, dormindo absorto, E ali, purpúrea, vai uma vela. Penhasco, idílios, torres e cais, Balir de ovelhas e figueirais. Sul da inocência, me acolhe nela! Só a passo e passo – é como estar morto, O pé ante pé faz o alemão pesar. Mandei o vento levar-me ao alto, Aprendi com pássaros leveza e salto – Ao sul voei, por sobre o mar. Razão! Trabalho pesado e ingrato! Que vai ao alvo e chega tão cedo! No voo aprendo o mal que me eiva – Já sinto ânimo, e sangue e seiva De nova vida e novo brinquedo... Quem pensa a sós, de sábio eu trato, Cantar a sós – já é para os parvos! Estou cantando em vosso louvor: Fazei um círculo e, ao meu redor, Malvados pássaros, vinde sentar-vos! Jovens, tão falsos, tão inconstantes, Pareceis feitos bem para amantes E em passatempos vos entreter... No norte amei – e confesso a custo – Uma mulher, velha de dar susto: “Verdade”, o nome dessa mulher. (Idem, p.455-456)
Nesse poema, Nietzsche nos convida a questionar a sensação de verdade
absoluta construída pelas tramas da prática discursiva em articulação com as
práticas não discursivas, decorrentes de modos de pensar o mundo e a realidade no
tempo e no espaço. Para perceber a invenção das verdades, dos saberes, dos
regimes de saber é preciso se desprender daquilo que pesa (das verdades prontas e
naturalizadas); é preciso se deslocar das extremidades, apreender, durante o voo, o
20
que debilita (investigar o domínio que há sobre nós, que nos constitui, que constitui o
nosso ser, os nossos pensamentos). É claro que não sou especialista em Nietzsche,
mas o pouco que li me provocou uma transformação na maneira de ver a ciência e a
partir daí me posicionei de modo diferente frente à minha própria proposta de
pesquisa. Para mim, a ciência era a dona da verdade, acima do bem e do mal, pela
qual eu estava cega pela paixão; depois de me deparar com as ideias de Nietzsche,
de Foucault e de seus comentaristas, passei a ver a ciência e a verdade como sendo
deste mundo, como bem disse Foucault.
Desde então, as leituras de Foucault não ficaram mais fáceis, mas ficaram
mais instigantes, movimentavam meu olhar e minha percepção a outros caminhos
para analisar tanto a formação continuada de professores quanto as necessidades
de formação desses profissionais (objeto desta pesquisa). O projeto inicial de
doutorado já não me traduzia mais como pesquisadora, já não era o que eu queria
que me correspondesse como professora. Começou aí uma desconstrução do que
eu havia aprendido e a construção de um novo projeto que não fosse tão incoerente
com o que eu vivia e sentia como professora e ao que eu verificava, estudava,
analisava e forjava como pesquisadora na área da Educação; para mim tornou-se
impossível pensar ou escrever algo diferentemente do que eu vivia e sentia na pele.
Os saberes por mim construídos até então não respondiam e não serviam ao
entendimento do que me constituía nem ao que eu gostaria que me constituísse;
acho que serviam a outros, mas não mais a mim. O que eu tinha era dor nos joelhos,
porque sustentava no meu corpo, na minha mente, nos meus atos, no meu discurso,
uma posição que percebia, ainda que nebulosamente naquele momento, ser
insustentável ao que eu queria ser, ou melhor, ao que eu gostaria que me
governasse.
Deparei-me com O que é a Crítica (Crítica e Aufklärung), de Michel Foucault,
primeiríssimo texto que li dele, em uma das disciplinas cursadas durante o
doutorado. Este encontro mudou completamente o rumo desta pesquisa, porque, a
partir de então, procurei me colocar dentro dela de forma crítica em relação aos
saberes norteadores da formação continuada de professores e aqueles definidores
das necessidades de formação desses profissionais. Estou aqui usando o termo
crítica, na esteira de Foucault (2000c), como sendo uma atitude contrária aos
princípios, verdades, crenças e fins que vêm governando as nossas (minhas)
vontades, ações, escolhas, pensamentos etc.; ou seja, a crítica que eu gostaria de
21
formular nesta pesquisa, primeiro, é uma atitude/reflexão de esclarecimento do que
me tem governado e, depois, uma atitude/reflexão sobre este esclarecimento, na
tentativa de subsidiar uma escolha de aceitação ou não de ser governado sob
determinados princípios. A partir desse encontro, eu passei a buscar uma
possibilidade de construir uma crítica ao que Foucault chama de
‘governamentalização’ e que naquele momento eu estava tentando compreender o
que era.
Mesmo sem saber muito ao certo de nada, percebia que os objetivos, o
referencial teórico, o método de pesquisa já não cabiam mais na minha vontade de
pesquisar: abandonei a vontade de elaborar uma definição de necessidades
formativas de professores, adequada aos profissionais da educação básica pública e
estatal, e deixei fluir a vontade de saber o que faz a definição das necessidades de
formação de professores uma possibilidade discursiva dentro dos contextos da
formação continuada como parte da política educacional e como prática de
pesquisa.
Então, achei importante aproximar esta pesquisa da abordagem histórico-
filosófica, proposta por Foucault (2000c) como uma prática que não é de ordem
fenomenológica, nem positivista, nem dialética, mas se trata de uma prática que
fabrica a história daquilo que é atravessado pelas “relações entre as estruturas de
racionalidade que articulam o discurso verdadeiro e os mecanismos de sujeição a
elas ligados” (FOUCAULT, 2000c, p.180).
Assim, mesmo que a fonte de dados seja os próprios professores (suas
opiniões, seus desejos ou suas expectativas sobre a própria formação e
dificuldades), ao invés de tomar o conhecimento elaborado sobre as necessidades
de formação desses profissionais como sendo um status de verdade, propus-me a
interrogar sobre os efeitos gerados pela construção desse conhecimento sobre o
discurso sobre os professores, suas necessidades, sua formação, suas dificuldades
etc.. A emergência desses regimes de verdade geram efeitos de poder ou de
poderes na constituição da identidade desses profissionais; esses efeitos geram,
então, modos de governamento desses profissionais. Ao não conferir ao
conhecimento produzido em torno das necessidades de formação de professores
como verdades ‘verdadeiras’, mas fabricadas e forjadas devido à contingência dos
acontecimentos que se desenrolam nas relações de poder vivenciadas pelos
envolvidos nas questões de formação dos docentes, entendo que confiro a esses
22
saberes, verdades, conhecimentos relacionados às necessidades de formação
docente o status de teste de acontecimentalização. Foucault (2000c) nos explica que
tratar o conhecimento como um teste de acontecimentalização é atentar para as
conexões existentes entre os saberes produzidos e os poderes exercidos sobre os
indivíduos e a população. Para Foucault (2000c, p.182-183), usar a ferramenta
teórica da acontecimentalização em uma pesquisa é indicar,
de modo inteiramente empírico e provisório, as conexões entre os mecanismos de coerção e os conteúdos de conhecimento. Mecanismos de coerção diversos, que podem ser os conjuntos legais, os regulamentos, os dispositivos materiais, os fenômenos de autoridade etc.; conteúdos de conhecimento que serão tomados igualmente na sua diversidade e na sua heterogeneidade, e que serão conservados na função dos efeitos de poder de que são portadores, enquanto são validados como fazendo parte de um sistema de conhecimento.
O uso da noção de acontecimentalização como ferramenta teórica possibilita
perceber as conexões entre os saberes produzidos sobre a população de
professores (suas necessidades formativas) e os poderes atuantes na constituição
desses profissionais. Operar com essa ferramenta, nesta pesquisa, é tentar perceber
como os enunciados sobre a formação de professores são transpassados pelo
exercício do poder biopolítico e vão se apoiando uns nos outros para legitimarem as
práticas de investigação sobre esses profissionais cujas necessidades, dificuldades,
desejos, expectativas profissionais são tanto perscrutadas quanto fabricadas.
Em busca, então, de atribuir um caráter crítico e de aproximar esta
investigação da abordagem histórico-filosófica, fui compreendendo que esta
investigação teria que assumir o caráter de esclarecer o que torna os resultados das
pesquisas sobre as necessidades de formação de professores legítimos ou
aceitáveis, neste contexto histórico atual, em outras palavras, de descrever o que
confere ao conhecimento elaborado a respeito dessas necessidades e aos
mecanismos de coerção a ele amalgamados os seus efeitos de legitimidade. Fui
percebendo, enfim, com as leituras que fui fazendo, que o saber e o poder são os
que induzem os discursos e os comportamentos, já que “todos os procedimentos e
(...) todos os efeitos de conhecimentos aceitáveis em um momento dado e em um
domínio definido” (FOUCAULT, 2000c, p.183) são da ordem do saber; e “toda uma
série de mecanismos particulares, definíveis e definidos” (FOUCAULT, 2000c, p.183)
23
para e por determinados saberes são da ordem do poder. Desse modo, fui
entendendo que o saber e o poder não são independentes um do outro, afinal, um
conhecimento nunca seria um saber aceitável se não estivesse vinculado a um
conjunto de regras do discurso que lhe conferisse poder para ser saber; da mesma
forma que nada é mecanismo do poder se não estivesse vinculado a saberes
construídos por meio das explicações e modelos discursivos.
Tentar, portanto, aproximar esta investigação de um caráter crítico, à moda
foucaultiana, e histórico-filosófico, me permitiu compreender o nexo entre saber-
poder, não apenas a descrição de um saber ou de um poder. Proporcionou-me a
escolha de admitir como relevante a compreensão do que constitui a aceitabilidade
de um sistema como verdade, a partir do nexo poder-saber, tomando esse nexo
como um quadro de análise, cujo procedimento não se preocupa com a legitimação
do fato, mas com a análise, a partir do jogo saber-poder da aceitação do fato (esse
procedimento de análise é o que Foucault nomeou como arqueologia). Admitindo a
importância de compreender esse nexo saber-poder, também pude partilhar da ideia
de Foucault em não considerar os saberes analisados como universais, mas tomá-
los como efeitos de uma rede que explica determinada singularidade (procedimento
conhecido como genealogia). Não posso dizer que estou suficientemente preparada
para me colocar aqui como uma conhecedora da arqueogenealogia foucaultiana
nem da abordagem histórico-filosófica, pelo contrário, tenho mais segurança, por
enquanto, em me apresentar como uma aprendiz desses procedimentos de análise
e dessa abordagem.
No entanto, e justamente por me sentir ainda uma aprendiz, prefiro afirmar
que busco aproximar o caráter desta pesquisa à abordagem histórico-filosófica,
porque entendo que as necessidades de formação de professores surgem como um
efeito de uma multiplicidade de determinantes, como, por exemplo, a ênfase na
formação continuada de professores, a ênfase na fabricação do indivíduo-empresa
(empresário de si mesmo, responsável pelo seu investimento profissional, intelectual
e cultural), o deslocamento dos direitos adquiridos para um tipo de relação
econômica na qual o cidadão detentor de estados de direito se desloca para a
posição de consumidor de serviços públicos e privados como ocorre com a saúde, a
educação, o transporte, a segurança etc. na atualidade.
Achei importante imbuir esta investigação pela crítica e a abordagem
histórico-filosófica tal como Foucault (2000c) as expôs. Então, para deixar que essas
24
escolhas penetrassem neste trabalho, foi preciso me desfazer do problema anterior
e pensar sobre qual era o problema do meu problema, ou melhor, pensar sobre o
que me incomodava naquele problema e sobre o que, de fato, estava me
impulsionando a continuar a tocar um projeto sem sequer saber onde iria dar.
2.2 O problema da pesquisa
Sempre compreendo o que faço depois que já fiz. O que sempre faço nem seja
uma aplicação de estudos. É sempre uma descoberta. Não é nada procurado.
É achado mesmo. Como se andasse num brejo e desse no sapo. (Manoel de
Barros, Pintura, 2008, p. 77).
Antes de andar no brejo e dar no sapo, naquele início, parcialmente descrito
no tópico anterior, eu estava em busca de uma forma plausível ou de um terreno
firme que desse na verdade; eu buscava delinear ou elaborar (naquela época não
ousava dizer “inventar”) uma definição de necessidades de formação de professores
e uma técnica de coleta e de diagnóstico dessas necessidades que melhor se
arranjassem à fabricação de um tipo de professor necessário à educação básica
pública: um professor crítico, reflexivo, autônomo, pesquisador, características que,
para mim, se resumiam à palavra “emancipador”. Entendo agora que o problema da
minha pesquisa era forjar uma técnica (biopolítica?) de investigação que auxiliasse
no diagnóstico do que precisaria ser feito para que se produzisse esse tipo de
professor afeito a um tipo de criticidade, reflexão, autonomia e pesquisa, produto de
práticas destinadas à aquisição dessas habilidades, nos espaços de formação desse
profissional. Esse foi o problema que se desfez ao longo do voo sobre o mar,
usando a figura de Nietzsche, do poema aqui mencionado anteriormente.
Desfez-se porque, andando no brejo, eu passei a me perguntar sobre o
poder da verdade que me governava. Descobri, então, o sapo, com estranheza e
nojo: o que me incomodava, como pesquisadora, no meu problema de pesquisa era
forjar uma verdade que me acorrentava a um tipo de governamento sob o qual eu,
como professora, não suportava mais ser governada. Esse encontro me tocou
tragicamente, alguém ali teria que morrer, ser consumida pelas chamas e nascer
novamente. Percebi que não era só o problema de uma pesquisa que estava em
25
questão, o que importava, para mim, não poderia ser, depois do passeio pelo brejo e
o encontro com o sapo, um problema acadêmico. O que estava em jogo era uma
questão ética, não uma ética do tipo moral, mas uma ética como produção de mim
mesma. Produzir um saber, nesse momento da minha vida, era intencionar produzir
a mim mesma como professora; como, então, fabricar-me presa ao que eu queria
me soltar? O brejo me é ainda incompreensível, mas, decidi me fabricar nele,
mesmo sem a certeza se estaria solta ao final deste trabalho. Abandonei, então,
aquele problema, e outro se constituiu conforme fui seguindo a jornada.
No entanto, o percurso de estudos que culminou na decisão em manejar
com as ferramentas foucaultianas não foi sempre uma certeza, pois, durante esse
trajeto, percebi a variedade de caminhos que poderia seguir para investigar as
necessidades de formação dos professores. Para me decidir por esse referencial,
fiquei atenta às minhas angústias de pesquisadora-professora. Procuro descrever
como foi essa experiência logo a seguir.
2.2.1 O percurso da elaboração do problema
Logo que ingressei no doutorado, a partir do segundo semestre de 2010,
enquanto cursava as disciplinas, motivada pelo objetivo de ler mais trabalhos que
versassem sobre a necessidade formativa docente e elaborar melhor o problema da
minha pesquisa, fiz uma busca de pesquisas sobre esse tema, realizadas no Brasil e
em Portugal.
Iniciei esse levantamento a partir de três programas de pós-graduação em
Educação e um em Educação Escolar todos da Universidade Estadual Paulista
(UNESP), oferecidos nos campi de Marília, Rio Claro, Presidente Prudente e
Araraquara. O meio de busca das pesquisas foi a Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações C@tedra, ferramenta que oferece acesso às teses e dissertações
defendidas nos programas de pós-graduação dessa universidade.
O primeiro passo da busca de pesquisas realizadas sobre a necessidade
formativa docente foi a leitura de todos os títulos dos trabalhos disponibilizados pelo
Catedr@, dos programas de pós-graduação citados, que somados eram de
oitocentos e dezessete títulos. A partir da leitura dos títulos, selecionei aqueles
trabalhos cujo objeto fosse a necessidade formativa docente. Quando não era
possível perceber o objeto ou o tema do estudo pelo título, eu recorria ao resumo ou,
26
até mesmo, à introdução do texto. Após essa primeira seleção, encontrei um total de
três pesquisas sobre o objeto ou o tema em questão, sendo duas dissertações de
mestrado, defendidas pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar da
UNESP de Araraquara, no ano de 2007, e o meu próprio mestrado, defendido em
2008.
Munida ainda de poucos trabalhos sobre o tema estudado por mim, e
também porque sabia que alguns estudos, abordando esse tema, já tinham sido
feitos em Portugal, realizei um levantamento nas bibliotecas digitais de teses e
dissertações de programas de pós-graduação na área de Educação de
universidades desse país. Foi aplicado o mesmo procedimento de busca nos sites
dos programas de pós-graduação da Faculdade de Psicologia e de Ciências da
Educação e do Instituto de Educação, ambos pertencentes à Universidade de
Lisboa; do Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho; e da
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto. Dos
setecentos e noventa e três títulos, cinco trabalhos versavam sobre o mesmo tema
estudado por mim, todos, dissertações de mestrado.
Quando ainda estava nesse momento de busca de novos trabalhos, fui
convidada pela orientadora desta pesquisa a assistir, em março de 2011, a defesa
de doutorado de Camila José Galindo, cujo trabalho também abordava as
necessidades de formação de professores. Na sua tese, a pesquisadora apresenta
os resultados que obteve ao fazer um levantamento no Banco de Teses da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que faz
parte do Portal de Periódicos da CAPES/MEC e tem o objetivo de facilitar o acesso a
teses e dissertações defendidas em programas de pós-graduação brasileiros. A
pesquisadora levantou dezesseis pesquisas a respeito do tema, dentre eles aqueles
três trabalhos, defendidos pelos programas de pós-graduação da UNESP, já
mencionados por mim.
Em sua tese, Galindo (2011) apresenta um quadro no qual sintetiza todos os
dezesseis estudos por ela encontrados, entre os anos de 2000 e 2010. A
contribuição deste levantamento, realizado pela pesquisadora, proporcionou-me
condições de consultar essas teses e dissertações como referências.
Optei, portanto, por construir um quadro síntese que pudesse acrescentar
mais informações a respeito da produção científica sobre o tema ‘necessidades de
formação de professores’ a partir da garimpagem que realizei nos programas de
27
pós-graduação de Portugal, já mencionados. O Quadro 1, em anexo, é o resultado
da leitura dos resumos e das introduções dos cinco trabalhos portugueses, e de
mais dois trabalhos brasileiros defendidos em 2011, sendo um deles a tese de
Galindo e um mestrado defendido pelo programa de pós-graduação da UNESP de
Presidente Prudente – SP.
Esses sete trabalhos foram produzidos entre os anos de 2008 e 2011, dos
quais um deles é uma tese de doutorado (GALINDO, 2011) e os demais são
dissertações de mestrado (LOURENÇO, 2008; REIS, 2009; LEITÃO, 2009;
DUARTE, 2009; CASIMIRO, 2010; LEONE, 2011). As justificativas desses estudos
estão relacionadas ao melhor planejamento de ações formativas docentes - tanto na
formação inicial quanto continuada – (GALINDO, 2011) em tempos de mudanças
estruturais e organizacionais que requerem adequação do ensino a inovações
(REIS, 2009; DUARTE, 2009; LEONE, 2011); estão relacionadas ainda à preparação
do professor para lecionar para um público específico - por exemplo, o adulto ou a
criança a ser alfabetizada - e para avaliar outros professores (CASIMIRO, 2010;
LOURENÇO, 2008; LEITÃO, 2009); e, por fim, as justificativas também se
relacionam à carência de pesquisa quanto às necessidades de formação dos
professores (GALINDO, 2011; LEONE, 2011). Esses trabalhos possuem como
objetivos identificar as necessidades de formação dos sujeitos estudados ou
interpretar a representação e a percepção que esses sujeitos possuem sobre as
suas necessidades de formação ou as necessidades de formação dos professores
em geral (LOURENÇO, 2008; REIS, 2009; LEITÃO, 2009; DUARTE, 2009;
CASIMIRO, 2010; DUARTE, 2009; GALINDO, 2011; LEONE, 2011); conhecer as
representações sobre a formação que os sujeitos da pesquisa receberam e sobre a
formação desejada (LEITÃO, 2009); e contribuir com a elaboração de projetos de
ações formativas para os sujeitos estudados (LOURENÇO, 2008; REIS, 2009;
GALINDO, 2011; LEONE, 2011). Os sujeitos das pesquisas são professores de
vários níveis, alfabetizadores (LEITÃO, 2009), do ensino básico – ensino
fundamental - (REIS, 2009; GALINDO, 2011, LEONE, 2011), da educação de jovens
e adultos (CASIMIRO, 2010; DUARTE, 2009) e professores em outras funções como
formadores (REIS, 2009) e avaliadores de professores (LOURENÇO, 2008). Quanto
à metodologia, um trabalho é classificado por quanti-qualitativo (REIS, 2008) e os
demais são qualitativos (CASIMIRO, 2010; LOURENÇO, 2008; LEITÃO, 2009;
DUARTE, 2009; GALINDO, 2011; LEONE, 2011), sendo classificados por suas
28
autoras como estudo extensivo (REIS, 2008), estudo de caso (CASIMIRO, 2010),
estudo exploratório (LEITÃO, 2009) e outro como um estudo etnográfico (GALINDO,
2011). Os procedimentos de coleta são variados como a aplicação de entrevista e do
questionário e a análise documental; muitas vezes esses procedimentos são
combinados na coleta de dados, que passam pelo processo de análise de conteúdo.
A observação de caráter etnográfico é usada por Galindo (2011), além da entrevista.
Os trabalhos baseiam-se em aportes teóricos como autores que tratam da avaliação
(REIS, 2009; LOURENÇO, 2008), das necessidades de formação docente (REIS,
2009; CASIMIRO, 2010; LOURENÇO, 2008; LEITÃO, 2009; GALINDO, 2011), da
formação de professores (REIS, 2009; LEITÃO, 2009; GALINDO, 2011; LEONE,
2011), dos processos de aprendizagem dos adultos (CASIMIRO, 2010); da
educação de jovens e adultos (DUARTE, 2009), do trabalho docente (GALINDO,
2011); do desenvolvimento profissional docente e do ciclo da carreira docente
(LEONE, 2011). Os resultados dessas pesquisas mostram a inadequação da
formação docente quanto às suas necessidades (REIS, 2009; CASIMIRO, 2010;
LEITÃO, 2009; DUARTE, 2009; LEONE, 2011); as pesquisas elaboram indicadores
de formação e sugestões para a elaboração de ações de formação para os sujeitos
pesquisados (CASIMIRO, 2010; LOURENÇO, 2008; DUARTE, 2009; GALINDO,
2011; LEONE, 2011); o estudo de Galindo (2011) demonstra a proveniência da
necessidade de formação dos professores e propõe mudanças nos modelos de
análise dessas necessidades quando utilizados para a elaboração de ações de
formação continuada de docentes.
O procedimento de busca e a elaboração da síntese dos trabalhos
encontrados sobre a necessidade formativa docente me forneceram um panorama
geral dos estudos que foram realizados sobre o tema. Esse panorama me
proporcionou subsídios para a reelaboração do problema da minha pesquisa. Essa
reelaboração, porém, não se deu apenas devido ao exercício dessa tarefa de busca
e síntese, mas também devido às disciplinas que fui cursando ao longo do
doutorado e das discussões que o grupo de pesquisa GPFOPE foi realizando a
respeito de textos sobre as políticas públicas no Brasil e a formação continuada de
professores.
As leituras, por exemplo, realizadas na disciplina Políticas Públicas e
Educação, oferecida pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, da
FCT/UNESP/Presidente Prudente – SP, ministrada, no segundo semestre de 2010,
29
pelo Prof. Dr. Antônio Bosco de Lima e Profa. Dra. Yoshie Ussami Ferrari Leite,
proporcionaram-me condições para refletir sobre como as políticas públicas
educacionais têm o caráter de políticas sociais e não de políticas que levam ao
estado de direito (VIEIRA, 1992) e sobre como o diagnóstico de necessidades
formativas dos professores da Educação Básica, foi proposto e normatizado pelo
Decreto nº 6755, de 2009, que Institui a Política Nacional de Formação de
Profissionais do Magistério da Educação Básica, disciplina a atuação da
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES no
fomento a programas de formação inicial e continuada, e dá outras providências,
documento esse que segue pressupostos presentes no Plano de Desenvolvimento
da Educação (PDE), de 2007, também estudado nessa disciplina e no GPFOPE.
As leituras do documento referência e do documento final sobre as questões
discutidas na Conferência Nacional de Educação (CONAE), realizada em 2010,
também me possibilitaram refletir sobre o modo como tem sido discutida a análise de
necessidades formativas de professores pela categoria docente.
Além desses estudos realizados tanto no GPFOPE como na disciplina
Políticas Públicas e Educação, também me foram importantes para a desconstrução
do problema da minha pesquisa as leituras realizadas na disciplina Teoria Histórico-
Cultural, Educação Escolar e Formação Humana, oferecida pelo Programa de Pós-
Graduação em Educação, da FCT/UNESP/Presidente Prudente – SP, ministrada, no
segundo semestre de 2010, pelo Prof. Dr. Irineu Aliprando Tuim Viotto Filho. As
leituras sobre o método formal e o método histórico-dialético me possibilitaram
descobrir que a lógica formal não era o único caminho metodológico de se fazer
pesquisa. A partir de leituras que diferenciavam a lógica formal da lógica dialética
pude perceber que a análise de necessidades formativas de professores poderia ser
realizada por outro prisma, o histórico-dialético.
No entanto, ainda havia algo que não me convencia e nem me encorajava a
reelaborar o problema de minha pesquisa. Como já mencionei, eu ainda sentia que
faltava alguma coisa para eu entender o que eu de fato buscava com o passar pela
experiência de cursar um doutorado. Faltava eu me questionar a respeito da defesa
que eu mesma estava fazendo da necessidade e da importância da realização
dessa etapa na minha vida como professora da escola básica há quinze anos.
E foi nesse momento, em uma das aulas da disciplina O Pensamento de
Paulo Freire, ministrada pelo Prof. Dr. Cristiano do Amaral, oferecidas pelo
30
Programa de Pós-Graduação em Educação, da FCT/UNESP/Presidente Prudente –
SP, no primeiro semestre de 2011, em uma das discussões em sala sobre formação
continuada de professores, que eu tive a ‘sensação’ de que eu nunca seria uma
professora suficientemente bem formada devido ao tamanho da importância e da
valorização e da insistência atribuída a esse tipo de formação ininterrupta,
permanente, constante, infindável, eterna. A formação continuada sempre me foi
apresentada de modo tão natural na minha vida de professora que a sua existência
eu não ousava questionar.
Nesse mesmo período de tempo, no primeiro semestre de 2011, também
cursava a disciplina Filosofia da Educação: Temas Contemporâneos, ministrada pelo
Prof. Dr. Divino José da Silva, e igualmente oferecida pelo Programa de Pós-
Graduação em Educação, da FCT/UNESP/Presidente Prudente – SP. Foi nesse
espaço que tive o primeiro contato com textos de Michel Foucault. A disciplina
abordou de forma não muito aprofundada as teorizações desse autor, pois o objetivo
dela era oferecer um panorama de alguns assuntos, temas, autores, problemáticas,
questões que estão sendo ou que podem vir a ser discutidas no campo da Educação
a partir de um referencial filosófico contemporâneo. Michel Foucault estava entre
esses autores e dois de seus escritos foram discutidos em sala - O que é a crítica?
(Crítica e Aufklärung) e A escrita de si -, uma minúscula amostra de sua obra, mas
que, apesar disso, proporcionou uma boa discussão a respeito da perspectiva desse
autor sobre a posição da ciência e da pesquisa nos jogos de saber-poder, o que,
consequentemente, influenciou meu modo de pensar a minha própria pesquisa.
Naquele momento, desde a leitura e discussão desses textos, três
pensamentos me inquietaram e intrigaram, motivando-me a mudar a direção do meu
olhar sobre o meu objeto de estudo. O primeiro pensamento dizia respeito ao modo
como as relações de poder poderiam estar permeando a produção dos saberes
sobre as necessidades formativas docentes; eu refletia também sobre a
possibilidade da análise de necessidades ser ou não um recurso de resistência aos
mecanismos disciplinadores e controladores forjados pela formação continuada de
professores; e pensava sobre a possibilidade ou não de operacionalizar os
procedimentos de análise de necessidades formativas como uma tecnologia de
resistência ao controle.
Motivada por essas indagações, que, naquele momento mostravam-se ainda
de forma bem incipiente em meu pensamento e ainda bastante envoltas por um
31
sentimento de responsabilidade em tornar os sujeitos emancipados (acho que
construído no decorrer de toda uma vida de estudante e professora), acabei por
expô-las em um texto apresentado no seminário de pesquisa organizado pelo VI
Seminário de Pesquisa em Educação, organizado pelo Programa de Pós-Graduação
em Educação, da Faculdade de Ciências e Tecnologia/UNESP de Presidente
Prudente – SP, em novembro de 2011. O texto era uma reelaboração do projeto
inicial desta pesquisa e foi submetido a uma banca composta por dois professores
que avaliaram os rumos da pesquisa. Os dois professores da banca perceberam a
transição quanto ao referencial teórico pelo qual passava a pesquisa e sugeriram
uma coorientação que fosse da área da Filosofia da Educação, já que o projeto se
posicionava na linha de Políticas Públicas para a Formação de Professores, mas
possuía uma forte intenção de construir uma análise baseada nas teorizações
filosóficas de Michel Foucault.
Dentre os docentes do programa de pós-graduação, o Prof. Dr. Divino José
da Silva era o mais indicado para me auxiliar nessa tarefa e, de comum acordo com
a Profa. Dra. Yoshie Ussami Ferrari Leite, fiz contato com o professor que indicou
alguns autores e disponibilizou algumas obras de referência para a superação das
dificuldades encontradas até então quanto à elaboração do problema e à escolha
teórico-metodológica da pesquisa. Decidiu-se que o professor Divino assumisse a
coorientação deste trabalho.
No final do segundo semestre de 2011, ainda interessada em elaborar
melhor o problema da minha pesquisa, realizei outra busca de pesquisas realizadas
no Brasil. Nesse momento, a minha atenção se voltava para as pesquisas que
tivessem o mesmo perfil da minha, ou seja, que incidissem na linha de pesquisa
‘políticas públicas’ e que abordassem temas associados à ‘formação de professores’
a partir da perspectiva dos estudos foucaultianos e/ou versassem sobre a análise de
necessidades formativas docentes a partir da perspectiva dos estudos foucaultianos.
Essa busca foi feita, no período de 29 de dezembro de 2011 a 07 de janeiro
de 2012, a partir do Banco de Teses da CAPES, pois, assim, alcançaria a produção
científica de todos os programas de pós-graduação brasileiros que disponibilizam
seus resultados nesse site. Optei por partir da busca por ‘assunto’, então escolhi
grupos de palavras que pudessem selecionar as teses e dissertações que vinham ao
encontro dos meus interesses. Desse modo, seis grupos de palavras foram
utilizados: em um primeiro momento as expressões biopolítica, biopoder, formação
32
de professores (um trabalho encontrado); depois, biopolítica, biopoder, formação
continuada de professores (nenhum trabalho encontrado); em um terceiro momento,
busquei os trabalhos a partir das palavras formação continuada, Michel Foucault
(treze resultados encontrados); foram utilizadas também as palavras biopolítica,
biopoder, Michel Foucault, formação continuada, necessidades de formação
(nenhum resultado encontrado); em uma quinta busca usei as palavras Michel
Foucault, necessidades de formação (trinta e nove trabalhos); e, por fim, na última
busca, usei as expressões Michel Foucault, Educação (trezentos e oitenta e seis
resultados).
Assim como na busca anterior, realizei a leitura de todos os quatrocentos e
trinta e nove títulos encontrados pela ferramenta de busca do Banco de Teses da
CAPES. A partir da leitura dos títulos, selecionei aqueles trabalhos cujo tema era
‘formação de professores’; quando o título não possibilitava saber ao certo qual o
tema da pesquisa, efetuei a leitura dos resumos dos trabalhos e, algumas vezes, da
introdução. Após essa primeira seleção, listei um total de quarenta e uma pesquisas
que tratam de temas relacionados à formação de professores a partir da perspectiva
dos estudos foucaultianos (em anexo, Quadro 2). Desse número total de pesquisas,
onze são teses de doutorado e trinta são dissertações de mestrados; ainda desse
total, trinta e dois pertencem a mestrados e doutorados em Educação; dois em
Ensino de Ciências; um em Linguística Aplicada; um em Linguística; um em
Educação Matemática; um em Psicologia Social e Institucional; um em Educação
Física; um em Educação nas Ciências e um em Educação nas Ciências Químicas da
Vida e da Saúde.
Esses trabalhos estão datados entre os anos de 1996 a 2010 e têm em
comum o uso do referencial teórico foucaultiano na investigação de temas
relacionados à formação de professores e políticas de formação de professores,
dentre os quais: identidade e subjetividade docentes (COLLA, 1999; CARDOSO,
1999; VASCONCELOS, 2003; ROSA, 2004; ZULKE, 2007; COSTA, 2007;
PINHEIRO, 2007; SILVEIRA, 2008; CARVALHO, 2008); programas, processos e
ações formativas para professores (OLIVEIRA, 2004; HOLZMEISTER, 2007); o
discurso eugênico na formação de professores (ROCHA, 2010); formação de
professores de Matemática (PONTELLO, 2005; MARTINS, 2007; ARAGON, 2009);
formação de professores de Arte (PONTE, 2005; PEREIRA, 2008); formação dos
professores de História (VALE JÚNIOR, 2000); formação dos professores de Língua
33
Portuguesa (SANTOS, 2009); formação continuada de professores (SANTOS, 2006;
BORGES, 2006); formação inicial de professores (GUERRA, 1996; PASCHOAL,
2006); formação de professores de jovens e adultos (GELATTI, 2005; MESSER,
2007; SOARES, 2010); os discursos de diversidade cultural e da cidadania na
formação de professores (ANDRADE, 2003); o discurso da inclusão escolar na
formação de professores (DECKER, 2006); formação de professores de Química
(CALDEIRA, 2007; FERREIRA, 2010); a Matemática na formação de professores
das séries iniciais do ensino fundamental (SOUZA, 2004); a Educação Física na
formação dos professores das séries iniciais do ensino fundamental (PASSOS,
2010); educação sexual e formação de professores (SILVA, 2005; TUCKMANTEL,
2009; CHAVES, 2010); formação de professores a distância (DALPIAZ, 2009;
CHIACHIRI, 2008; BARBOSA, 2010); práticas escolares na formação dos
professores (HECKERT, 2004); a política de formação de professores no Brasil
(VELOSO, 2005); formação cultural docente (OLIVEIRA, 2007). A metodologia
descrita nos resumos desses trabalhos é bastante variada3: análise do discurso,
segundo pressupostos da arqueologia, da genealogia e da noção de discurso
foucaultiana (VASCONCELOS, 2003; OLIVEIRA, 2004; GELATTI, 2005; BORGES,
2006; DECKER, 2006; SANTOS, 2006; COSTA, 2007; ARAGON, 2009; BARBOSA,
2010; ROCHA, 2010; SOARES, 2010; FERREIRA, 2010); observação
(HOLZMEISTER, 2007); análise documental (SOUZA, 2004; PONTE, 2005;
VELOSO, 2005; MESSER, 2007; OLIVEIRA, 2007; PEREIRA, 2008; SANTOS,
2009); análise de entrevistas e questionários abertos (ANDRADE, 2003; SILVA,
2005); pesquisa bibliográfica (CARDOSO, 1999; CALDEIRA, 2006; CARVALHO,
2008); história oral (MARTINS, 2007; PASSOS, 2010; PINHEIRO, 2007; SILVEIRA,
2008); estudo de caso (DALPIAZ, 2009); cartografia narrativa (HECKERT, 2004);
análise interpretativa (PASCHOAL, 2006); observação participante (TUCKMANTEL,
2009); análise de discurso, segundo a linha francesa, fundada por Michel Pêcheux
(CHIACHIRI, 2008). A síntese da leitura dos resumos das quarenta e uma pesquisas
encontradas no Banco de Teses da CAPES é apresentada no Quadro 2, que está
anexo. O objeto necessidade formativa docente não foi contemplado por nenhum
desses quarenta e um estudos encontrados no banco de teses e dissertações da
CAPES. 3 Permanece a classificação dada pelos autores dos trabalhos. Alguns trabalhos não foram citados, porque no resumo não havia referência sobre a metodologia utilizada.
34
O levantamento de dissertações e teses, primeiro sobre a necessidade
formativa docente e, depois, sobre pesquisas que tratam da formação de
professores com base no referencial teórico foucaultiano, revelou a ausência de
pesquisa sobre o objeto necessidade formativa docente com base no referencial
teórico foucaultiano, pelo qual passava a me interessar. Diante dessa ausência de
pesquisas nesse perfil, motivada pelo meu interesse pelas ideias de Michel Foucault
sobre o poder, o saber e o discurso e a partir da minha experiência como professora
de escola pública estadual, que recebeu e organizou ações de formação em
determinados períodos de minha carreira profissional e a partir da minha vivência de
pesquisa, adquirida no mestrado, passei a delinear o problema deste trabalho.
O exercício de construção dos dois quadros-síntese e as experiências
vivenciadas pelas disciplinas, leituras e discussões, realizadas no decorrer de tempo
em que estou matriculada no doutorado, proporcionaram-me subsídios para que eu
pudesse me questionar a respeito de quais condições políticas tornaram favorável a
aplicação e o uso das expressões ‘necessidades de formação’ e/ou ‘necessidades
formativas de professores’ e/ou ‘necessidade formativa docente’ no campo
discursivo da formação continuada de professores; e em quais contextos
sociopolíticos, a análise e o diagnóstico dessas necessidades emergiram como uma
das etapas ou como um instrumento de pesquisa das políticas de formação
continuada de professores.
Entretanto, o brejo era muito mais amplo e detalhado do que essas minhas
incipientes percepções sobre o referencial teórico-metodológico que escolhera: essa
estrada estava apenas começando. Com a bússola ajustada, fui em busca dos
recursos que me faltavam: as ferramentas teórico-metodológicas foucaultianas.
Direcionei, então, o meu interesse, para o propósito de desbravar o brejo com a
finalidade de conseguir me movimentar nele.
Nos dois encontros de pesquisadores que frequentei em 2012 - XVI
ENDIPE, em julho, em Campinas – SP, e à IX ANPED Sul, em agosto, em Caxias do
Sul – RS – descobri muitos trabalhos no mesmo rumo que o meu, mas também notei
as resistências e estranhezas a ele quando o apresentei. As práticas e os discursos
da formação continuada de professores pareciam reinar em berço esplêndido;
problematizar a emergência dessas práticas e desses discursos nem sempre foi
muito bem aceito pelos pesquisadores com os quais me reuni nesses encontros.
Mais do que nunca percebi o quanto desbravar o brejo era necessário, pois, nesse
35
momento, me via enfiada nele, por vontade própria, mas sem saber ainda como me
mover.
Então, durante o segundo semestre de 2012, frequentei dois espaços, nos
quais se reuniam alunos e professores, que há mais tempo do que eu,
impregnavam-se no lodo que crescia no brejo foucaultiano. As aulas assistidas como
aluna ouvinte na disciplina “Leituras transversais de Michel Foucault: A coragem da
verdade”, ministrada pelo Prof. Dr. Sílvio Gallo e oferecida pelo Programa de Pós-
graduação em Educação, da Universidade de Campinas (UNICAMP) e a
participação nos encontros do “Seminário Temático Michel Foucault”, coordenado
pelo Prof. Dr. Marcos Alvarez, em uma das salas da Universidade de São Paulo
(USP) pude vivenciar algumas discussões que faziam parte desse novo universo
teórico-metodológico ao qual eu estava disposta a desvendar. A partir desses dois
espaços, passei a compreender melhor o caráter transversal das ideias de Michel
Foucault, pois o primeiro focava-se na Filosofia e o segundo na Sociologia. No
primeiro, discutiu-se o curso A coragem da verdade e o objetivo era entender a
noção de parresia 4 ; já no segundo, estudou-se parte do curso Nascimento da
biopolítica e o objetivo daquelas discussões era compreender a tecnologia
biopolítica de poder. Durante aquelas viagens, ida e volta, ora de Presidente
Prudente a Campinas, ora de Presidente Prudente a São Paulo, ora, algumas vezes,
de Presidente Prudente a Campinas e logo em seguida a São Paulo, pensava se
estava valendo a pena aquele esforço todo, porque, confesso, eu pouco podia
contribuir com as discussões daqueles espaços dada a estranheza que tudo aquilo
me provocava. Foram momentos decepcionantes, angustiantes, reveladores,
instigantes... Nem sempre compreendi o que estava fazendo, só depois, só agora,
percebo o quanto essa trajetória de sair em busca de algo, sem saber bem ao certo
o que era, me foi importante para pensar de outra forma o que eu queria estudar.
Li muito e nem tudo que li entendi de imediato. Li textos de Foucault e de
seus comentaristas, sobre assuntos relacionados à educação, principalmente.
Encontros de pesquisadores como o 5º Seminário Brasileiro de Estudos Culturais e
Educação que ocorreu junto ao 2º Seminário Internacional de Estudos Culturais e
Educação “Nas Contingências do Espaço-Tempo”, em maio de 2013, em Canoas –
4 Parresia é uma das técnicas fundamentais das práticas de si mesmo na Antiguidade. Foi estudada por Foucault e podemos entendê-la como uma técnica do falar francamente, do falar uma verdade mesmo que se corram riscos com isso.
36
RS, e o VIII Colóquio Internacional Michel Foucault e os Saberes do Homem, em
outubro de 2013, no Rio de Janeiro – RJ, foram me sinalizando como as ferramentas
forjadas por Foucault poderiam ser apropriadas nas pesquisas em Educação.
Muito se passou até aqui. E com o que pude recolher no decorrer desse
percurso apresento, a seguir, os objetivos e a metodologia desta pesquisa.
No entanto, antes disso, gostaria de deixar registrado, mesmo que seja em
poucos parágrafos, uma parte de vida que vivi, e que está sendo silenciada até
agora desde o início deste tópico, mas que, entretanto, foi determinante nas
escolhas que fiz sobre esta pesquisa. A minha vida de professora não parou durante
este percurso. Junto a ele, ao meio dele, talvez entrelaçado a ele, seria melhor dizer,
compondo-o, vivenciei saberes-poderes circulantes na convivência entre professor-
aluno-diretor-funcionários-comunidade-Estado, em uma escola pública estadual, em
Presidente Prudente de uma forma quase imperceptível, como o ar respirável de
todos os dias. Vivenciei na escola alguns acontecimentos que provocaram em mim
um estranhamento quanto aos outros e quanto a mim mesma; passei a prestar mais
atenção àquilo que me governa e que governa os outros. Assim entendi que para
que a minha expectativa em participar de uma formação continuada na qual eu
pudesse praticar a liberdade se realizasse, é preciso compreender a fundo as
crenças, as verdades, os preconceitos, os ideais etc., que têm conduzido o
professor, a fim de encontrar possibilidades de escolha a outra forma de se exercer
o poder junto aos alunos e aos meus pares na escola.
O caso L. e A.: fui ameaçada por um aluno do terceiro ano do Ensino Médio
que fora expulso da escola por decisão do Conselho de Escola do qual eu fazia
parte; o que irritou L. foi uma discussão que tive com sua mãe no decorrer da
reunião do Conselho. A ameaça tão clara e de modo tão agressivo reiterou-se por
pelo menos duas vezes às quais L. voltou à escola, inconformado com sua expulsão;
nessas ocasiões a polícia foi chamada. L. era meu aluno, mas nunca assistiu as
minhas aulas, pois eram as últimas do período e ele não ficava para essas aulas. Eu
o conhecia porque falavam dele e porque ele fora meu aluno na quinta série (hoje,
sexto ano). Pelo o que falavam dele, ele já não era mais o mesmo, mas eu também
não... A presença da polícia na escola incomodava os traficantes do bairro, então,
para resolver essa questão, A. entrou por aqueles dias na escola e, no intervalo
abordou-me, informando, muito respeitosamente, que eu não precisava temer, pois
eu estaria segura dali em diante, porque A. já havia se entendido com L.. A. também
37
fora meu aluno na quinta série e, naquele momento, diziam que ele era o
responsável pela ‘disciplina’5 no bairro. O que me fez procurar a Diretoria de Ensino
da Região de Presidente Prudente não foi a ameaça, mas aquela estranha proteção,
porque L. eu nunca mais vi; já A. vivia por ali. Saí da Diretoria de Ensino com uma
frase talvez mal dita ou mal colocada, mas que não me sai da cabeça, e uma
promessa. A promessa não se fez e a frase foi a seguinte “ainda bem que você está
protegida”.
O caso da escada: A2 era aluno da sexta série (atual sétimo ano), parecia
não gostar de estudar e eu queria que ele gostasse, então disse algo a ele e ele
revidou e no meu olhar de professora não revidava a mim, mas à minha autoridade.
Mas como eu disse, eu era a professora... levei-o, então, à diretoria com advertência
em punho. Não cheguei até a sala da diretora, pois ela estava na escada no
decorrer do caminho. Lá o caso se resolveu da seguinte forma: diziam que a diretora
não queria mais receber casos de indisciplina, pois o professor que deveria resolvê-
los na sala de aula, e foi exatamente o que ela me sinalizou. Depois, ainda na
escada, esbravejou com A2, ameaçando expulsá-lo da escola. Por fim, logo em
seguida, esbravejei eu com A2, ainda na escada com a diretora ainda lá. Conclusão:
ficamos disciplinados eu e A2.
O caso dos livros didáticos: a Secretaria de Educação do Estado de São
Paulo (SEE-SP) possui um currículo próprio, que inclui material didático, fornecido
aos alunos, composto por cadernos de conteúdos e atividades. Há uma
obrigatoriedade no uso desses materiais, mas, segundo dizem, nada impede o
professor ou professora de utilizar outros materiais, inclusive, o próprio caderno do
aluno fornecido pela Secretaria de Educação incentiva o uso de outros materiais
como, por exemplo, o livro didático. Os livros didáticos são escolhidos pelas
professoras e professores e fazem parte da política educacional no âmbito federal.
Em 2012, fui informada, de um modo não oficial, que se eu quisesse continuar
usando os livros didáticos que havia escolhido, eu deveria buscá-los, discretamente,
em determinada sala a qual eles haviam sido encaminhados, pois seriam picotados
e encaminhados para a reciclagem, pois eles não contemplavam os pressupostos do
5 Ser responsável pela ‘disciplina’ nesse contexto significa, na linguagem do tráfico lá do bairro, ser responsável pelo comportamento dos menores envolvidos no tráfico, melhor dizendo, ‘disciplinando-os’ para que não se envolvam em dificuldades com a polícia.
38
currículo proposto pela SEE-SP. No século XXI, em contexto democrático, achei
estranho esconder livros no meu armário...
O caso da formação de professores: na sala dos professores, em um
momento de pausa, ouvi duas amigas conversando sobre um curso a distância que
ambas faziam. A professora S. queixava-se de que as atividades dela eram sempre
devolvidas pelo tutor do curso, pois ele sempre questionava as suas respostas.
Respostas essas que envolviam o cotidiano dos problemas, desafios, dificuldades e
também prazeres vivenciados na escola. A professora S. estava decepcionada, pois
nunca o que escrevia estava suficientemente bom para o tutor. A professora V. ouviu
a queixa e deu um conselho, dizendo que S. estava fazendo errado. S. não tinha
que ficar falando da escola, do que acontecia de fato na escola, o que o tutor queria
ouvir era outra coisa; então, o melhor a fazer era copiar dos textos que eram lidos as
respostas e colá-las na atividade a ser enviada. Assim, ele não devolvia a atividade
para refazer, afinal V. fazia dessa forma e suas atividades nunca foram devolvidas
para serem refeitas.
Às vezes as extrapolações do exercício dos poderes são aterradoras e
duras; outras vezes são tão silenciosas e leves quanto o bater das asas de uma
borboleta. Foi aterrador para mim, entender que a instituição para a qual trabalho há
dezesseis anos não está nem um pouco preocupada com o que possa acontecer
comigo na escola ou com quem está assumindo a autoridade na escola desde que
tudo esteja aparentemente bem, a ponto de aceitar como sendo um ‘benefício’ que
um de seus funcionários seja protegido por traficantes. Igualmente aterrador foi
descobrir que eu, muitas vezes, disciplino os outros, governo, controlo, usando os
mesmos mecanismos e palavras usados por aqueles cujos métodos não admiro, não
concordo. Esconder livros foi acachapante, nunca pensei que eu poderia me sujeitar
a isso e eu me sujeitei, por medo da perseguição daquela direção e por comodismo,
porque não valia a pena me expor numa arena que disputa o discurso do melhor
material didático: se o Currículo do Estado de São Paulo ou se o Programa Nacional
de Livros Didáticos, duas políticas representando partidos políticos opostos, mesmo
que os princípios talvez não sejam tão opostos assim.
Mas o poder nem sempre é aterrador, é também como o bater das asas da
borboleta, silencioso e leve... Age em nós, ensinando-nos a dizer o que pode ser
dito, para ser aceito, para ter legitimidade, para não ser excluído, para não ser
devolvido como a tarefa das professoras S. e V.. Se o dito ainda não está de acordo,
39
avalia-se mais uma vez, e outra vez, e outra, e outra, avalia-se continuamente, até
que o dizer torne-se pensar...
Passei a perceber o espaço escolar com outro olhar. Aqueles discursos
sempre escutados (práticas discursivas) e as práticas escolares cotidianas (práticas
não discursivas) desenrolam-se nas malhas do exercício dos poderes. Foi também
nesse espaço que me constituí e que me constituo como profissional e como pessoa
e percebi de algum modo que a pesquisadora estava separada da professora. O que
eu quero agora é aproximá-las, e essa aproximação esgarça tanto uma quanto
outra; porque é um exercício de abandono de si por outro si, por isso fere como se
fosse na minha alma. É uma dor que me faz pensar no tipo de gente que eu ajudo a
forjar e no que me forjou a ser a pessoa que eu sou.
2.2.2 O problema que se fez
O atual problema desta pesquisa construiu-se, então, dessas vivências
narradas e do referencial teórico-metodológico foucaultiano relacionado às noções
de saber, poder e discurso, desenvolvidas por Michel Foucault. Neste estudo,
problematizo, então, o caráter de verdade absoluta do objeto necessidade formativa
docente, na tentativa de ‘desnaturalizá-lo’ e se sustenta no questionamento
seguinte: quais condições proporcionaram a emergência da necessidade formativa
docente no campo discursivo da formação de professores?
O objetivo geral desta pesquisa está relacionado a essa pergunta da qual se
desdobraram outras, a partir das quais gerei os objetivos específicos deste trabalho.
Os questionamentos vinculados ao problema são:
� que condições favorecem a produção dos discursos em torno do objeto
necessidade formativa docente?
� qual o espaço destinado à análise de necessidades formativas
docentes nos textos que compõem a legislação das políticas de
formação de professores do Brasil e como esse espaço se constituiu?
� como esses discursos estão sendo produzidos, ou seja, quais os
regimes de verdade fabricados por eles?
40
2.3 (Re)Localizando a pesquisa Depois do vivido, passei a localizar esta pesquisa em torno de dois domínios
foucaultianos, denominados por Veiga-Neto (2011a) como os domínios do ser-saber
e do ser-poder e me utilizarei da noção de discurso formulada por Foucault para
fazer as análises dos textos que selecionei.
Segundo Veiga-Neto (2011a, p. 46), o domínio do ser-saber compreende a
arqueologia como uma estratégia reflexiva cujo procedimento é de escavar verticalmente as camadas descontínuas de discursos já pronunciados, muitas vezes de discursos do passado, a fim de trazer à luz fragmentos de ideias, conceitos, discursos, talvez já esquecidos. A partir desses fragmentos – muitas vezes aparentemente desprezíveis – pode-se compreender as epistemes antigas ou mesmo a nossa própria epistemologia (VEIGA –NETO, 2011a, p.46).
O discurso é visto, na perspectiva foucaultiana, como constitutivo da prática
porque o discurso é a materialidade de regras às quais o indivíduo é submetido ou
se submete no momento que pratica o discurso. Segundo Veiga–Neto (2011a),
portanto, o objetivo da arqueologia não é explicar ou interpretar um discurso, pois
não os trata como documentos; é, pois, compreender os discursos como práticas
que seguem regras de um determinado sistema. Por isso, os discursos, na análise
arqueológica, são tratados como monumentos.
No entanto, esse tipo de análise não se restringe ao próprio discurso, pois
busca articulações com as “práticas não discursivas, tais como as condições
econômicas, sociais, políticas, culturais etc.” (VEIGA – NETO, 2011a, p. 48), mas,
sem, no entanto, buscar causalidades entre as duas. A análise arqueológica, então,
não se pergunta sobre o que originou uma enunciação discursiva nem tampouco
sobre o que significa essa enunciação; pois
o que interessa para a história arqueológica é buscar as homogeneidades básicas que estão no fundo de determinada episteme. Essas homogeneidades são regularidades muito específicas, muito particulares, que formam uma rede única de necessidades na, pela, e sobre a qual se engendram as percepções e os conhecimentos; os saberes, enfim. Nesse sentido, a arqueologia – ao investigar as condições que possibilitaram o surgimento e a transformação de um saber – pretende fazer uma investigação mais profunda do que a
41
empreendida pela própria ciência (VEIGA-NETO, 2011a, p.48-49, destaque do autor).
Já, no domínio do ser-poder, Veiga–Neto explica que as análises sobre os
discursos continuam a ser feitas, assim como são feitas na arqueologia. Mas, agora,
na perspectiva genealógica, “isso é feito de modo a mantê-los [os discursos] em
constante tensão com práticas de poder” (VEIGA – NETO, 2011a, p. 59). Ainda
segundo esse autor, nas análises do funcionamento do poder, feitas por Foucault, o
poder não é visto como um objeto a ser estudado, mas sim como “um operador
capaz de explicar como nos subjetivamos imersos em suas redes” (VEIGA – NETO,
2011a, p. 62). Por isso que Veiga–Neto afirma que o caráter positivo da analítica
foucaultiana não é “lastimar ou acusar um objeto analisado [...] é compreendê-lo
naquilo que ele é capaz de produzir, em termos de efeitos” (VEIGA – NETO, 2011a,
p. 65), efeitos esses que são produzidos pela ação de forças que “estão distribuídas
difusamente por todo tecido social” (VEIGA – NETO, 2011a, p. 61). O poder é
entendido, então, como “uma ação sobre ações” (VEIGA – NETO, 2011a, p. 62),
porque nas análises genealógicas o poder é compreendido como um “elemento
capaz de explicar como se produzem os saberes e como nos constituímos na
articulação entre ambos [os poderes e os saberes]” (VEIGA – NETO, 2011a, p. 56).
A genealogia, portanto, não se preocupa em fazer interpretações sobre os
saberes ou descrever a sua origem do ponto de vista do seu marco histórico original,
mas se ocupa em descrever e em
estudar a emergência de um objeto – conceito, prática, ideia ou valor – [que] é proceder a análise histórica das condições políticas de possibilidade dos discursos que instituíram e ‘alojam’ tal objeto. Não se trata de onde ele veio, mas como/de que maneira e em que ponto ele surge” (VEIGA – NETO, 2011a, p. 61, destaque do autor).
Surgir está sendo utilizado pelo autor no sentido de emergir que, por sua
vez, é definido por ele “como uma etapa no processo bélico de confrontação entre
forças opostas em busca do controle e da dominação” (VEIGA-NETO, 2011ª, p. 61
apud MARSHALL, 1990, p. 23). A genealogia, portanto, se propõe fazer uma
“descrição da história das muitas interpretações que nos são contadas e que nos
têm sido impostas. Com isso, ela consegue desnaturalizar, desessencializar
enunciados que são repetidos como se tivessem sido descobertas e não invenções”
(VEIGA – NETO, 2011a, p. 60).
42
O objeto necessidade formativa docente pode ser analisado a partir desses
dois domínios foucaultianos – do ser-saber e do ser-poder, porque a prática de
levantar necessidades de formação dos professores está emergindo nas e, ao
mesmo tempo, por meio das práticas discursivas produzidas pelo diagnóstico e
análise dessas necessidades e produzidas pelos textos que regulamentam essa
prática. Se considerarmos as políticas públicas para a educação como um sistema
que se propõe a usar a análise de necessidades dos professores como etapa de
planejamento de ações de formação continuada, as teorizações de Foucault sobre o
nexo saber-poder na produção de subjetividades docentes abrem horizontes para
pensarmos as estruturas de racionalidade que estão perpassando os discursos
sobre as necessidades e a formação dos professores, ou seja, sobre as verdades
produzidas e as práticas de subjetivação implementadas no governamento desses
profissionais.
Além de me pautar nos dois domínios foucaultianos, é referência para esta
pesquisa o trabalho do professor e pesquisador João de Deus dos Santos, que
estudou a formação continuada de professores no Brasil, estudo que resultou na sua
tese de doutorado Formação Continuada: cartas de alforria & controles reguladores,
defendida em 2006. O autor apresenta a formação continuada de professores no
Brasil a partir de uma perspectiva que não a toma como um produto ou objeto
natural, e por isso ‘imprescindível’, ao desenvolvimento do professor. O autor
aborda, de outro modo a questão do caráter ‘imprescindível’ da formação continuada
estabelecido na atualidade; ele questiona justamente como esse caráter veio a se
firmar nos discursos científicos e como o discurso da formação continuada veio a se
materializar em prática por meio desses mesmos discursos, na primeira metade do
século XX.
2.4 Os objetivos
Se eu estou me perguntando sobre as regularidades existentes entre as
práticas discursivas dos regimes de verdade produzidos pelos textos delineadores
da política educacional de formação de professores precisei, então, redefinir os
objetivos desta pesquisa de acordo com esse novo problema.
Dessa forma, defini como objetivo geral desta pesquisa compreender as
condições que proporcionaram a emergência da necessidade formativa docente no
43
campo discursivo da formação de professores atualmente no Brasil e como objetivos
específicos:
� identificar, descrever e analisar os regimes de verdade
produzidos pelos discursos do âmbito da política
educacional, mais especificamente, da política de formação
continuada de professores, no Brasil, após a LDB de 1996,
que colocam a análise de necessidades formativas
docentes dentro da ordem do discurso da política de
formação de professores;
� indicar quais são os efeitos possíveis provocados pelo
exercício do poder biopolítico no discurso da formação
continuada de professores na atual legislação sobre a
formação continuada de professores no Brasil.
2.5 A metodologia e o corpus de análise É sempre difícil falar em método e metodologia, principalmente quando se
escolhe o brejo para transitar... Escolher um modo de caminhar, para mim, foi uma
experiência de como me mover nesse brejo no qual falar em método não
correspondia exatamente falar em termos conceituais da tradição moderna. O
referencial teórico por mim escolhido me impulsionava a tentar outras formas de
fazer a pesquisa. Mas que formas seriam essas para analisar o problema da
emergência das necessidades formativas docentes no contexto da política de
formação desses profissionais?
Diante das minhas dúvidas, procurei ler trabalhos que também se
propuseram a analisar textos e discursos a partir dessa perspectiva, na tentativa de
encontrar, talvez, um modelo de análise que também se adequasse à minha
pesquisa, ao meu problema. Entretanto, quanto mais eu lia, mais eu me
desesperava, não porque a metodologia desses trabalhos não foi eficiente ao tratar
do problema neles investigado, mas porque o modelo que tanto procurava nas
dissertações e teses lidas era o não-modelo. Cada qual construiu o seu caminhar, na
medida em que foi caminhando... ou como comentam Veiga-Neto e Lopes (2013, p.
112) ao tratarem sobre uma possível teoria e método foucaultianos: “não há um solo-
base externo por onde caminhar, senão que, mais do que o caminho, é o próprio
44
solo sobre o qual repousa esse caminho é que é feito durante o ato de caminhar”. A
metodologia ou as metodologias usadas em trabalhos que escolheram um
referencial teórico foucaultiano usam esse referencial não como teorias prontas e
acabadas, mas como ferramentas de análise por meio das quais vão sendo
construídas as perspectivas de trabalho. A perspectiva de trabalho por mim adotada
segue esse pressuposto de conceber esse referencial teórico como ferramentas de
análise.
Os textos que foram analisados nesta pesquisa são leis, pareceres,
resoluções, decretos, produzidos pelo Conselho Nacional de Educação (CNE),
posteriores aos preceitos homologados pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN), de 1996, e um texto, elaborado e publicado, em 2002, pelo
Ministério da Educação e Cultura (MEC), os Referenciais para a formação de
professores. Os textos do Plano Nacional da Educação (2000 – 2010), o Plano de
Desenvolvimento da Educação (PDE/2007) também compõem o corpus de análise
deste trabalho, e parte integrante do Documento Final da Conferência Nacional da
Educação (Conae), realizada entre os dias 28 a 1º de abril de 2010, correspondente
ao IV Eixo Temático – Formação e valorização dos profissionais da educação.
A escolha desse corpus justifica-se devido à intensa atuação dessas
instituições nas decisões e rumos tomados pela política de formação de professores
no país. O CNE e a Conae oferecem subsídios para que sejam formuladas e
implementadas as políticas públicas de educação, dentre elas as relacionadas à
formação docente, além de serem espaços de discussão e articulação de âmbito
nacional que objetivam a mobilização social, em especial as duas últimas, na
discussão de assuntos relacionados à educação e à formação docente. Por isso,
acredito que os textos produzidos por esses espaços são os campos onde se
disputa o discurso e se exercem os poderes dos interessados nos rumos da política
educacional brasileira, sejam eles professores, comunidade, empresários,
especialistas educacionais, dirigentes políticos.
Os textos escolhidos para análise são: a Lei 9394/1996 (LDB); Resolução
CNE 02/1997, que Dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica
de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio
e da educação profissional em nível médio; Decreto 3276/1999, que Dispõe sobre a
formação em nível superior de professores para atuar na educação básica, e dá
outras providências; Resolução 01/1999, que Dispõe sobre os Institutos Superiores
45
de Educação, considerados os Art. 62 e 63 da Lei 9.394/96 e o Art. 9º, § 2º, alíneas
"c" e "h" da Lei 4.024/61, com a redação dada pela Lei 9.131/95; Plano Nacional da
Educação 2000-2010; Parecer CNE/CP 09/2001, que tem como assunto as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação
Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena; Parecer
CNE/CP 27/2001; que Dá nova redação ao item 3.6, alínea c, do Parecer CNE/CP
9/2001, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de
Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de
graduação plena; Parecer CNE/CP 28/2001, que Dá nova redação ao Parecer
CNE/CP 21/2001, que estabelece a duração e a carga horária dos cursos de
Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de
licenciatura, de graduação plena; Resolução CNE/CP 01/2002, que Institui Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em
nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena; Resolução CNE/CP
02/2002, que Institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de
graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível
superior; Referenciais para a formação de professores, elaborado pelo Ministério da
Educação e publicado, em 2002; Parecer CNE/CP 05/2005, que tem como assunto
as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia; Parecer CNE/CP
03/2006, que tem como assunto o Reexame do Parecer CNE/CP nº 5/2005, que
trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia; Resolução
CNE/CP 01/2006, que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de
Graduação em Pedagogia, licenciatura; Parecer CNE/CP 05/2006, que Aprecia
Indicação CNE/CP nº 2/2002 sobre Diretrizes Curriculares Nacionais para Cursos de
Formação de Professores para a Educação Básica; Plano de Desenvolvimento da
Educação: razões, princípios e programas, de 20076; Decreto nº 6755/2009, que
Institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação
Básica, disciplina a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior -CAPES no fomento a programas de formação inicial e continuada, e
6 O PDE “consiste em um conjunto de ações estruturadas com base nos princípios da educação sistêmica com ordenação territorial, objetivando reduzir desigualdades sociais e regionais em torno de quatro eixos articuladores: educação básica, alfabetização, educação continuada e diversidade, educação tecnológica e profissional e educação superior.” (GATTI et al, p. 34, 2001).
46
dá outras providências; Portaria Normativa MEC 09/2009, que Institui o Plano
Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica no âmbito do Ministério
da Educação; Portaria Normativa MEC 883/2009, que Estabelece as Diretrizes para
o Funcionamento dos Fóruns Estaduais de Apoio à Formação dos Profissionais da
Educação; IV Eixo – Formação e valorização dos profissionais da educação,
integrante do Documento Final da CONAE, realizada em 20107.
Embora eu tenha apresentado os textos em ordem cronológica, o primeiro
que li, ainda no início dessa pesquisa, foi o Decreto 6755, de 29 de janeiro de 2009,
que Institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da
Educação Básica, disciplina a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior - CAPES no fomento a programas de formação inicial e
continuada, e dá outras providências.
Esse texto chamou a minha atenção principalmente no artigo 5º, no qual o
diagnóstico e identificação das necessidades formativas dos professores aparecem
como um dos objetivos a serem cumpridos pelos planos estratégicos que deverão
direcionar a política de formação de professores inicial e continuada. O que me
provocava estranheza no Decreto 6755/2009 era o fato de ter sido colocado em
evidência a preocupação em atender as necessidades formativas docentes. O que
está em jogo aí? Que condições tornam possível a necessidade formativa do
professor, um tema que parecia não fazer parte das prioridades relacionadas à
formação dos professores, ser assunto a ser abordado em um decreto que institui a
política nacional de formação dos professores e que normatiza a formação dos
professores brasileiros?
Como já explanei neste capítulo, até formular essas perguntas tais como
estão materializadas no parágrafo anterior, me deparei com outras possibilidades
que me levariam a percorrer ou a construir outros caminhos metodológicos. Portanto,
o caminho que decidi seguir não o assumo como universal e o único verdadeiro; mas
o assumo como sendo uma escolha feita a partir de onde venho, de onde estou e
para onde eu, agora, e somente agora, gostaria de ir; assumo-o como uma
possibilidade dentre outras. Ou seja, é envolta dessa contingência que pretendo
desenvolver a metodologia de análise dos textos selecionados.
7A Lei 13005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação 2014 – 2024, e o Documento Final da CONAE de 2014 não foram selecionados para compor o corpus deste trabalho devido ao prazo de conclusão da tese.
47
Para tanto, uma pergunta, lida em Veiga-Neto e Lopes (2013), me
acompanha na leitura desses textos: qual é o foco difuso de poder acionado pelo
meu problema de pesquisa (as condições de emergência da necessidade formativa
docente nas políticas de formação de professores no Brasil)? O foco difuso do poder
acionado é o tipo de governamentalidade que atualmente exerce o poder sobre a
população de professores brasileiros, sujeitando-os e objetificando-os, ou seja, tanto
produzindo sujeitos que reificam e dominam (subjetivação de tipos docentes) quanto
produzindo objetos de conhecimento a serem dominados (objetificação dos
comportamentos das racionalidades docentes)8.
Guiando-me por essa pergunta, decidi começar pela leitura e seleção de
alguns enunciados dos textos escolhidos, na tentativa de compreender a
coexistência entre os enunciados que tornaram possível o emergir das necessidades
formativas docentes como uma preocupação da política nacional de formação de
professores, assunto da quinta parte deste trabalho.
No próximo capítulo e na seguinte dedico-me a apresentar o referencial
teórico que me guiou nas análises que fiz dos textos selecionados.
8 A possibilidade de produzir sujeitos e, ao mesmo tempo, objetos de conhecimento, segundo Deacon e Parker (2000) é uma atitude da modernidade em relação a ela própria (a modernidade) e essa atitude proporcionou a educação em massa dos seres humanos.
48
3 AS NOÇÕES DE PODER, SABER E DISCURSO
Depois de descrever o trajeto da elaboração desta pesquisa, exponho o
referencial teórico que norteia o que tem sido para mim uma experiência.
Logo que me decidi por me colocar de forma crítica frente aos saberes que
envolviam a análise de necessidades de formação de professores e a formação
continuada de professores, da qual a primeira faz parte, passei a considerar as
necessidades de formação de professores como algo que é atravessado pelas
“relações entre as estruturas de racionalidade que articulam o discurso verdadeiro e
os mecanismos de sujeição” (FOUCAULT, 2000c, p.180). Analisar as necessidades
de formação de professores a partir dessas perspectivas exigiu o entendimento de
noções de poder, de saber e de discurso, segundo as teorizações de Michel
Foucault. Esta terceira parte dedica-se a retomar algumas das ideias coletadas na
obra desse autor e tem a finalidade de me munir de recursos teórico-metodológicos
cujo uso me possibilite o movimento de análise nesse terreno “brejeiro” ao qual
escolhi seguir caminho.
Neste capítulo, serão apresentadas algumas ferramentas teóricas forjadas
por Michel Foucault na análise do poder9. Em um primeiro momento exponho o nexo
entre saber e poder na perspectiva da investigação foucaultiana; em seguida,
abordo, com auxílio de alguns comentaristas, alguns estudos realizados por Foucault
em torno do tema do poder, enfatizando as seguintes ferramentas teóricas: o poder
disciplinar, o poder normalizador, o biopoder e a biopolítica, a governamentalidade e,
por fim, a norma. Apresento, em seguida, algumas considerações de alguns autores
que atualizaram as ferramentas foucaultianas em torno do poder para analisarem a
sociedade contemporânea. Depois, abordo alguns aspectos que articulam a noção
de discurso ao nexo entre o saber e o poder e os procedimentos de análise do
discurso, alguns dos quais utilizados por mim como ferramentas para que eu
pudesse analisar os textos selecionados para esta pesquisa.
9 O termo “poder” está sendo utilizado no singular nesta parte do trabalho porque estou abordando o seu conceito ou a noção de poder segundo os pressupostos foucaultianos que eliminam a possibilidade do exercício do poder ser unidirecional e privilégio apenas de alguns. Não descarto, optando por trabalhar com o termo no singular, as várias formas de poderes que ora entram em conflito ora em consenso na sociedade.
49
3.1 O nexo saber/poder na constituição das individualidades e das coletividades
Para Foucault, o saber (entendido como
prática, materialidade, acontecimento) funciona como peça de um dispositivo
político, o que o torna imanente e indissociável da ação de mecanismos
de poder. Todos os domínios de saber, assim, têm sua gênese em mecanismos
de poder (Gadelha, 2009, p. 140).
O poder não é o tema central na obra de Michel Foucault, mas tornou-se
uma marca temática de seus estudos, desde suas pesquisas na década de 1970,
quando analisa as prisões e se envolve ativamente com o Grupo de Informações
sobre as Prisões (GIP). O que levou Foucault a deslocar a sua atenção do problema
do saber para o problema do poder, acoplando-o à sua arqueologia, a partir de
determinado momento de seu percurso como intelectual e pesquisador, foi a
percepção de que há uma articulação entre a produção do saber, o exercício do
poder e a constituição da subjetividade do indivíduo.
A forma como se dá a produção da subjetividade dos indivíduos é o que
levou Foucault a analisar o poder e suas relações com o saber, bem como a forjar
ferramentas teóricas e metodológicas, a fim de realizar essa análise. Como ele
mesmo assume, em entrevista concedida em 1977, “é o que somos – os conflitos, as
tensões, as angústias que nos atravessam – que, finalmente é o solo, não ouso
dizer sólido, pois por definição ele é minado, perigoso, o solo sobre o qual eu me
desloco” (FOUCAULT, 2012f, p.225).
Essa preocupação com a constituição da subjetividade do indivíduo pode ser
observada, até mesmo antes de 1977, em uma entrevista concedida no ano de
1973, por exemplo, quando Foucault é inquirido sobre a reforma do sistema
penitenciário francês, daquela época. A esse respeito, Foucault comenta que o que
ele percebe não é apenas a necessidade de uma reforma do sistema penal ou do
sistema penitenciário, pois esses dois fazem parte de um sistema muito mais amplo
e abrangente correspondente a um “[...] sistema de poder que penetra
profundamente na vida dos indivíduos [...]” (FOUCAULT, 2012a, p. 64). Um sistema
de poder que também perpassa outras instituições como as relacionadas ao ensino,
à saúde, ao trabalho, à assistência social etc.
50
Nessa mesma entrevista, Foucault também menciona que, na sociedade
contemporânea, as pessoas não são mais enquadradas pela miséria, como eram no
século XIX, mas são, de outra forma, moduladas pelo consumo; são capturadas por
um sistema de poder não mais focado na produção, mas no quanto e no que se
consome. É sempre um tipo de sistema de poder que conduz as pessoas a serem o
que são e a fazerem o que fazem. Ou seja, é a constituição do sujeito que
direcionou o olhar do filósofo.
Já em outra entrevista, também concedida no ano de 1973, Foucault
comenta a relação entre o saber e o poder, declarando que o “Ocidente sempre
procurou mascarar seu apetite gigantesco de poder através do saber” (FOUCAULT,
2012b, p. 56) desde Platão, mas que, na verdade, o saber e o poder estão
profundamente ligados. Isso significa que ele estava atento para os efeitos de poder
que a elaboração dos saberes provocam e vice-versa, mas que para evidenciar essa
relação seria preciso desmascará-la.
Para tanto, Foucault precisou, aos poucos, elaborar ferramentas teórico-
metodológicas pelas quais pudesse analisar esses efeitos e evidenciar o nexo entre
o saber e o poder e a articulação desse nexo na subjetivação do indivíduo. O próprio
Foucault, em 1977, deixa claro isso ao se declarar, em entrevista já citada, um
“empirista cego” ao desvendar os efeitos de verdade e os efeitos de poder
reciprocamente produzidos:
Há efeitos de verdade que numa sociedade como a sociedade ocidental, e hoje se pode dizer a sociedade mundial, produz a cada instante. Produz-se verdade. Essas produções de verdades não podem ser dissociadas do poder e dos mecanismos de poder, ao mesmo tempo porque esses mecanismos de poder tornam possíveis, induzem essas produções de verdade, e porque essas produções de verdade têm, elas próprias, efeitos de poder que nos unem, nos atam. São essas relações verdade/poder, saber/poder que me preocupam. Então, essa camada de objetos, ou melhor, essa camada de relação é difícil de apreender; e, como não há teorias gerais para apreendê-las, eu sou, se quiserem, um empirista cego, quer dizer, estou na pior das situações. Não tenho teoria geral e tampouco um instrumento certo. Eu tateio, fabrico, como posso, instrumentos que são destinados a fazer aparecer objetos. Os objetos são um pouquinho determinados pelos instrumentos, bons ou maus, fabricados por mim (Foucault, 2012f, p. 224).
O nexo entre o poder e o saber, então, é rastreado pelo filósofo francês,
desde sua experiência com o GIP, pois desde essa época já se mostrava
51
preocupado em analisar o poder e sua permanente relação com a elaboração de
saberes, observando as potencialidades, que os efeitos desses poderes-saberes
têm na produção de subjetividades (delinquentes, por exemplo) e também de
coletividades (GADELHA, 2009).
É também desde a época do GIP que Foucault se preocupa em fazer
emergir saberes que não só denunciavam as estruturas de poder, mas resistiam a
elas. Um exemplo disso são os questionários clandestinos que o GIP fez circular
entre os prisioneiros e seus familiares, com a intenção de fazer surgir um saber
nunca pronunciado como tal, isto é, o saber dos delinquentes. Como ele mesmo
afirma em outra entrevista, concedida em 1971: Essa inquirição nós a fizemos de um modo bastante particular: em vez de nos dirigirmos à administração penitenciária, para saber como as coisas se passavam do ponto de vista dessa administração, nós nos dirigimos diretamente aos antigos detentos, àqueles que saíam da prisão, e, entretanto nós mesmos na ilegalidade, nos dirigimos clandestinamente aos detentos, e obtivemos, clandestinamente, suas respostas. Soubemos de modo exato o que era a vida na prisão (FOUCAULT, 2012c, p.32).
Foi em termos do poder que Foucault se propôs a analisar a formação de
saberes em torno das disciplinas, do sexo, do racismo de Estado, da seguridade, do
cuidado de si e dos outros. Enfim, o poder na obra foucaultiana não é apenas um
objeto de análise, mas um instrumental constituído de várias ferramentas teóricas
elaboradas pelo pesquisador a fim de dar visibilidade à questão: quem somos nós
que pertencemos a esse mundo; ou o que nos constitui enquanto pessoas que
vivem como vivem, trabalham como trabalham, amam como amam...? O que nos
tem governado afinal? O poder nunca é pensado por Foucault como um elemento
unitário, mas sempre vem articulado com os efeitos que os saberes produzidos
provocam nas relações de poder e na constituição dos sujeitos. Assim, o filósofo
francês articula o poder à constituição dos saberes e à constituição das
individualidades e das coletividades.
Para compreender o poder nesses termos, Foucault elaborou e utilizou um
instrumental teórico-metodológico forjado a partir das suas pesquisas genealógicas,
cuja abordagem de investigação é a histórico-filosófica. Foucault entende a
abordagem histórico-filosófica como uma prática, que possui como primeira
característica o
52
dessubjetivar a questão filosófica pelo recurso ao conteúdo histórico, libertar os conteúdos históricos pela interrogação sobre os efeitos de poder, onde esta verdade – na qual eles estão censurados de aparecer – os afeta (FOUCAULT, 2000c, p. 180 e 181).
É essa característica da prática histórico-filosófica que coloca a questão
sobre a governamentalidade, sendo necessário tomar o conhecimento não como
fonte de verdade, mas como o resultado do nexo entre os mecanismos coercitivos e
o conhecimento produzido, ou seja, tomar os saberes como um teste de
acontecimentalização. Para Foucault (2000c), portanto, a investigação científica teria
o caráter de esclarecer o que confere os efeitos de legitimidade aos saberes e aos
poderes. Por isso, o saber e o poder são os que induzem os comportamentos e os
discursos; as práticas não discursivas e discursivas.
Por meio da prática histórico-filosófica, amalgamada nos pressupostos
acima, Foucault analisou, então, o poder a partir de uma perspectiva que o levou a
forjar instrumentos teóricos que lhes foram necessários para que pudesse entender
a lógica do poder e suas implicações na constituição não apenas dos saberes, mas
também das individualidades e das coletividades.
3.2 A noção de poder para Michel Foucault
Em A vontade de saber, Foucault, ao explicar o método por ele utilizado para
investigar a formação dos saberes em torno da sexualidade, esclarece que toma o
poder não em sua representação jurídica, negativa, apenas repressiva e violenta,
em termos da lei, ou em termos da soberania do Estado, ou, ainda, em termos da
dominação de classes. Para Foucault, essas são apenas as formas terminais do
poder (FOUCAULT, 1985). Sua perspectiva é outra, pois toma o poder na sua
microfísica, no seu caráter estratégico, na sua imanência a outras relações, e na sua
produtividade e positividade.
Para Foucault o poder é microfísico porque está em toda parte, porque
provém de todos os lugares, assumindo uma multiplicidade de correlações de forças
ao exercer-se, nunca se localizando apenas nos aparelhos do Estado ou em um
sistema de dominação caracterizado por uma oposição dominador/dominado. É, de
outra forma, um jogo de relações de forças que se transforma, se inverte, a todo
53
momento, justamente porque ao travar esse jogo, o poder irradia-se de e em todas
as direções, não parte apenas de uma única direção (de cima para baixo, por
exemplo). Enfim, não são princípios gerais do poder a oposição binária
dominador/dominado e a aquisição do poder como algo a se possuir. Para Foucault
analisar o poder a partir da sua microfísica seria compreender que as relações de
poder se aprofundam no tecido social. Por isso mesmo que o poder é estratégico,
pois é intencional, sendo as relações de poder atravessadas por uma racionalidade
tática, vislumbrando sempre objetivos a serem alcançados. Mas isso não significa
que o poder resulte da ação de uma pessoa, ou de uma equipe ou de um grupo que
detém o controle dos aparelhos e instituições do Estado ou que tomam as decisões
econômicas.
Isso porque o poder não tem apenas uma face repressiva e negativa, pois,
mesmo que invente técnicas repressivas, o poder não é necessariamente negativo.
O poder é, antes disso, produtivo. As relações de poder não estão fora das outras
relações que se travam na sociedade, como as econômicas, as sexuais ou as
relativas à produção do conhecimento. Pelo contrário, as relações de poder são
imanentes a todas as outras relações, porque, ao mesmo tempo, são efeitos das
desigualdades, dos desequilíbrios e das diferenças produzidas no interior das
demais relações sociais, e são também condição para a produção dessas
diferenciações.
É nesse sentido que Foucault compreende que as resistências ao poder são
produzidas no interior das próprias relações de poder, sem um ponto fixo ou
unilateral, ou seja, as resistências são múltiplas, vindas de vários pontos da rede de
relações onde o poder se exerce. O poder, então, possui uma positividade porque
produz mecanismos, tecnologias, dispositivos, saberes, resistências, incidindo,
inclusive, na constituição das individualidades e das coletividades, diferenciando-as
e homogeneizando-as continuamente.
Por causa desse caráter produtivo e positivo do poder que a liberdade não
lhe é exterior, pois o exercício do poder se dá, não necessariamente somente por
meios violentos ou repressivos, mas também, e, sobretudo, ao se considerar o
campo de possibilidades de atuação, de comportamento e de escolhas dos
indivíduos e das coletividades. Por isso, a liberdade e o poder não são excludentes.
Para compreender essa perspectiva foucaultiana sobre o poder, tracei uma
trajetória, apresentada a seguir, a partir de alguns comentaristas da obra de Foucault
54
e também a partir de alguns de seus textos. Nessa breve trajetória, procurei
evidenciar a articulação entre as tecnologias de poder disciplinar e da biopolítica,
bem como a importância da produção de verdades ou de saberes no exercício de
um tipo de poder emergente a partir da Modernidade: o biopoder.
3.3 Biopoder e biopolítica no exercício do poder na Modernidade
Ao abordar o poder em termos de estratégia e tática e não em termos
jurídicos, Foucault analisou-o como uma tecnologia. O termo “tecnologia” é usado
por Foucault, segundo Castro (2009), para agregar ao conceito de prática os
conceitos de tática (correspondente aos meios) e de estratégia (correspondente aos
fins). Por isso Foucault nomeou a capacidade e as formas de manejar o corpo como
tecnologia política do corpo; chamou de tecnologia disciplinar as técnicas que têm
como objetivo tornar os corpos dóceis e úteis; nomeou de tecnologia da vida o
conjunto de saberes e poderes sobre a vida; de tecnologia da verdade os
procedimentos usados para produzi-las; e de tecnologias de si ao referir-se aos
modos de vida, às maneiras de regular a própria conduta e de fixar para si mesmo
os fins e os meios de se viver.
Ainda segundo Castro (2009), Foucault usa o termo ao abordar a tecnologia
do sexo, a tecnologia cristã ou da carne e para tratar das tecnologias do poder utiliza
as expressões tecnologia de governo, tecnologia política dos indivíduos e tecnologia
reguladora da vida.
Segundo Dalpiaz (2009), Foucault estudou diferentes modos a partir dos
quais as pessoas têm desenvolvido saberes sobre si mesmas e classificou esses
modos em quatro grupos de tecnologias:
1. as tecnologias de produção (que nos permitem produzir,
transformar e manipular coisas); 2. Tecnologias de sistemas de signos (que nos permitem utilizar signos, sentidos, símbolos ou significações); 3. tecnologias de poder (que determinam a conduta dos indivíduos, os submetem a certo tipos de fins ou de dominação e consistem na objetivação do sujeito; e, por fim, 4. as tecnologias de eu” (DALPIAZ, 2009, p. 98).
‘Tecnologia’ está sendo usado, neste trabalho, como um conjunto de
procedimentos, técnicas e práticas (incluem-se aqui as práticas discursivas)
transpassadas pelo exercício tático e estratégico do poder; e ‘tecnologia’ de poder
55
está sendo usado neste trabalho como as práticas que tentam conduzir os
indivíduos, interferindo no modo como pensam, sentem, agem e vivem.
Segundo Maia (2003), a análise de Foucault em torno do poder inclui
compreender a trajetória das diferentes tecnologias de poder, que se desenvolveram
no Ocidente, a partir do século XVI. Essas tecnologias de poder se referem a dois
níveis de exercício do poder que, embora se entrelacem e complementem no mundo
contemporâneo, possuem origens distintas (MAIA, 2003): são elas as técnicas
incidentes nos corpos dos indivíduos e as técnicas incidentes no corpo-espécie, ou
seja, na população.
Foucault estava atento para esses dois níveis de exercício do poder que se
articulam com a formação/elaboração de saberes em torno do corpo do indivíduo e
do corpo-espécie da população, ambos tomados como campos biológicos e políticos
tanto na produção de saberes quanto no exercício de poder. O corpo, então, seja do
indivíduo ou da espécie, passa a receber relevo nos trabalhos de Foucault, porque
ele percebe o amplo alcance do poder sobre os corpos, sendo o corpo considerado
não apenas como um campo biológico de produção de saber, mas, sobretudo, como
um campo político de exercício do poder.
Foi em Vigiar e Punir, publicado em 1975, em A Vontade de Saber,
publicado em 1976, no curso Em defesa da sociedade, ministrado em 1976, e no
curso Segurança, território e população, ministrado em 1978, que a análise de
Foucault sobre o poder e seus efeitos nos corpos dos indivíduos e no corpo-espécie
da população passou a receber atenção do pesquisador. Segundo Maia (2003),
nessas pesquisas, Foucault expõe os mecanismos, as táticas e os dispositivos que
foram utilizados no exercício do poder ao longo da Modernidade e que permanecem
ainda na contemporaneidade, mas com certas modificações.
Em uma das suas entrevistas, concedida em 1975, Foucault esclarece que,
na sociedade de soberania, a presença do corpo do monarca tinha uma importância,
mas que se esmiúça com a formação do Estado; a importância da presença do
corpo do monarca vai paulatinamente sendo deslocada para a importância do corpo-
espécie da população, com a formação do Estado: [...] Em compensação, é o corpo da sociedade que se torna, no decorrer do século XIX, o novo princípio. É este corpo que será preciso proteger, de um modo quase médico: em lugar dos rituais através dos quais se restaurava a integridade do corpo do monarca, serão aplicadas receitas, terapêuticas como a eliminação dos
56
doentes, o controle dos contágios, a exclusão dos delinquentes. A eliminação pelo suplício é, assim, substituída por métodos de assepsia: a criminologia, a eugenia, a exclusão dos ‘degenerados’” (FOUCAULT, 2000, p. 145).
Ou seja, um outro tipo de exercício de poder sobre a vida começava a
emergir na transição da sociedade de soberania para a sociedade disciplinar e se
evidenciou na sociedade da normalização. Essa nova modalidade de exercício do
poder foi chamada por Foucault de biopoder ou biopolítica10 e, conforme Foucault
(1985), desenvolveu-se a partir do século XVII em duas formas principais: uma
corresponderia aos mecanismos disciplinares que centraram-se no indivíduo como
máquina a partir da anátomo-política do corpo humano; e a outra corresponderia aos
mecanismos de poder centrados no corpo da população, surgidos em meados do
século XVIII por meio de procedimentos, intervenções e controles reguladores de
uma biopolítica do corpo-espécie, debruçando-se sobre os problemas da natalidade,
da mortalidade, da longevidade, da saúde pública, da habitação etc.. Para Foucault
(1985, p.131), as disciplinas do corpo e as regulações da população constituem os dois polos em torno dos quais se desenvolveu a organização do poder sobre a vida. A instalação – durante a época clássica, desta grande tecnologia de duas faces – anatômica e biológica, individualizante e especificante, voltada para os desempenhos do corpo e encarando os processos da vida – caracteriza um poder cuja função mais elevada já não é mais matar, mas investir sobre a vida, de cima a baixo.
Maia (2003) pensa que as tecnologias de poder que incidem sobre o
indivíduo e sobre a população são possíveis, por causa dessa imposição gradativa
do biopoder, pois ele incide, ao mesmo tempo, diretamente sobre a vida do indivíduo
e da população, mas de formas diferentes. Maia (2003) considera que o biopoder
vem se impondo no Ocidente, desde o século XVI, e não apenas a partir da metade
10 Pérez (2006) ressalta que Foucault utilizou biopoder e biopolítica como sinônimos em sua obra, bem como muitos dos estudiosos que também usaram essas noções em seus trabalhos. No entanto, atenta para a necessidade de definir, atualmente, em separado esses dois conceitos, pois, para ele, o biopoder está compreendido na biopolítica. Para esse autor, com o decorrer do tempo o termo biopolítica se impôs o biopoder pela força do uso, mas isso não ocorreu sem que houvesse um esforço dos estudiosos em definir se eles devem ter o mesmo sentido ou não. Não discutirei, porém, essa diferença com mais profundidade neste trabalho, embora apresentemos, no item 3.3 uma definição para biopoder e outra para biopolítica, de acordo com Castro (2009).
57
do século XVIII, devido à emergência da população como um dos focos da produção
de saber. Para Maia (2003), a tecnologia disciplinar (seus mecanismos, técnicas,
táticas, estratégias etc.) também comporia esse tipo de exercício do poder sobre a
vida.
Para Maia (2003), há uma diferença de tratamento dada por Foucault para
analisar essas duas diferentes tecnologias de poder – o poder disciplinar e o
biopoder -, mas que há um tipo de poder sobre a vida perpassando-as, que torna
possível a articulação entre elas. Castro (2009, p.59), no verbete biopoder também
sugere essa articulação entre a disciplina e o biopoder: o poder, organizado em termos de soberania [na sociedade de soberania], tornou-se inoperante para manejar o corpo econômico e político de uma sociedade em vias de explosão demográfica e, ao mesmo tempo, de industrialização. Por isso, de maneira intuitiva e ao nível local, apareceram instituições como a escola, o hospital, o quartel, a fábrica. Em seguida, no século XVIII, foi necessária uma nova adaptação do poder para enfrentar os fenômenos globais de população e os processos biológicos e sociológicos das massas humanas.
Nessa mesma esteira de pensamento, Revel afirma que as reflexões de
Foucault sobre o tema da biopolítica começaram já em Vigiar e Punir, no qual
Foucault já apresenta o duplo valor da noção de biopolítica: “entendida como o
conjunto de biopoderes locais” (2006, p.53), ou seja, a biopolítica entendida como
uma tecnologia de poder, e como uma política capaz de produzir subjetividades,
sejam de resistência ou não. A autora lembra, inclusive, que Foucault já usara a
palavra biopolítico, referindo-se à medicina como uma estratégia biopolítica e ao
corpo como uma realidade biopolítica, em uma conferência pronunciada em outubro
de 1974, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro11.
Ademais, ainda segundo Revel (2006), em Vigiar e punir o filósofo francês
apresenta, além da disciplinarização nos termos da anátomo-política, enfatizando o
treinamento dos corpos individuais para a docilidade e para a produção, uma
biopolítica nos termos de “uma política dos seres vivos constituídos em populações
segundo uma regra de um tipo novo, não mais jurídica mas pretensamente natural: a 11 Ver REVEL (2009), p. 54-55, onde a autora cita um trecho da conferência e disponibiliza a referência aqui reproduzida: FOUCAULT, M. “El nacimiento de La medicina social” (“La naissance de La médecine sociale”); trad. D. Reynié), Revista centroamericana de Ciencias de la SaludI, no 6, janvier-avril 1977, p. 89-108. (Segunda palestra no curso de Medicina Social UERJ, outubro de 1974. In:____. Dits et écrit.Vol. III. Paris: Gallimard, 1994, p.210).
58
norma” (idem, ibidem, p. 53), que emerge, assim como o dispositivo disciplinar, a
favor da racionalidade político-econômica liberal.
Para Revel (2006), portanto, Foucault desdobrou o estudo dessas duas
tecnologias modernas do exercício do poder em duas linhas – linha disciplinar e
linha biopolítica – devido à complexidade da análise de dois elementos que
prolongam as análises feitas em Vigiar e punir: a aparição do eixo da gestão da
população ao lado do eixo da disciplinarização e docilização dos corpos; e a
emergência da norma como elemento fundamental para a definição das populações
como objeto de governamento.
O estudo do eixo da gestão da população permite, por um lado, visualizar
como os biopoderes atuam no governamento da força de trabalho não de cada
indivíduo em separado, mas de cada indivíduo “reduzido a ser o exemplo ínfimo de
um conjunto muito mais amplo e que, por ser homogêneo, pode ser mais facilmente
manipulado, submisso, assujeitado, governado” (REVEL, 2006, p.56). A análise da
emergência da norma, por outro lado, permite averiguar como o saber passa a ser
produzido a favor de uma racionalidade política preocupada em criar
homogeneidades entre os indivíduos e produzir padrões de normalização,
mensurando, hierarquizando, julgando, examinando, corrigindo muito mais do que
condenando.
Em relação à norma, Castro (2006), diferentemente de Revel (2006),
localiza-a no eixo da disciplina, pois ela funciona como uma técnica disciplinar que
influi na constituição de individualidades disciplinares e que influi também na
organização do saber em disciplinas próprias das Ciências Humanas.
De qualquer modo, os autores anteriormente citados concordam que o poder
disciplinar e o biopoder emergem, portanto, em dois diferentes momentos na
história, incidem em dois níveis diferentes - um no indivíduo o outro na população -,
mas se articulam, se complementam, e perpassam por entre as relações de poder
ainda na contemporaneidade justamente porque derivam de um mesmo tipo de
poder que se exerce sobre a vida dos indivíduos enquanto sociedade.
Nesse sentido, Maia (2003) esclarece que Foucault articula o poder
disciplinar com essa outra tecnologia de poder, o biopoder, e essa articulação
permitiu a Focault deslocar-se da análise do poder no âmbito da disciplina do corpo
do indivíduo para a análise no âmbito do controle da população.
59
3.4 O eixo disciplinar: o dispositivo disciplinar como tecnologia de poder
Em Vigiar e Punir, Foucault (1987) mostra como o efeito do poder passa a
ter por objetivo, na sociedade disciplinar, corrigir o indivíduo, sobretudo, e não mais
punir o corpo do condenado como forma de vingança do soberano ou demonstração
da força do soberano, como ocorria na sociedade de soberania com a prática dos
suplícios12. Nessa obra, o autor examina as modificações que ocorrem no direito
penal, nos séculos XVII, XVIII e XIX, quanto às modalidades de punição mais
severas fisicamente, aquelas que provocavam extremo sofrimento físico e
humilhações públicas, como, por exemplo, o enforcamento e as confissões públicas.
Essas modalidades de punição vão sendo substituídas, gradativamente, por formas
de punição que afastam a violência, a humilhação, a dor e o sofrimento do olhar do
público, sendo analisadas por Foucault como efeitos de uma tecnologia de poder
nomeada por ele de disciplinar.
Nesse sentido, as modalidades de punição vão tornando-se cada vez menos
arbitrárias; cada vez mais interessadas em enfatizar a representação das
desvantagens que a punição impõe, com o intuito de diminuir o que torna o crime
atraente, revelando um caráter preventivo. Por se tornarem cada vez mais corretivas
e não apenas punitivas, o tempo da duração das penas é ressignificado, isto é, da
utilidade de provação do supliciado, o tempo passa a ter a utilidade de
transformação do condenado; o corpo do condenado não é mais o suporte para
expressar o poder soberano, mas é o suporte para expressar as desvantagens que
o crime provoca e as vantagens que a pena traz para a sobrevivência do coletivo; a
importância da presença da figura do soberano vai sendo substituída pela cada vez
mais importante presença de um discurso veiculado por um código das leis no
imaginário coletivo, ou seja, o corpo do supliciado passa de exemplo do terror a ser
gravado na memória a suporte da lição moralizante a ser aprendida tanto pelo
12 Para Foucault, as sociedades de soberania caracterizavam-se por mecanismos de poder que garantiam ao soberano o seu direito de fazer morrer ou deixar viver os súditos; no entanto, a partir da época clássica, os mecanismos de poder vêm sofrendo alterações, o que desloca o antigo poder soberano de fazer morrer e deixar viver para o poder de fazer viver ou deixar morrer (isto é, abandonar à morte). Esse tipo de poder, centrado na organização do fazer viver, é característico das sociedades da disciplina e é o que vem caracterizando as sociedades moderna e contemporânea. (FOUCAULT, 1987b; CASTRO, 2009, p. 57).
60
condenado quanto pelos não condenados - “a memória popular reproduzirá em seus
boatos o discurso austero da lei” (FOUCAULT, 1987b, p. 94).
Em Vigiar e punir, Foucault (1987b) apresenta, portanto, deslocamentos nas
formas de punir que fizeram da tecnologia jurídica algo cada vez mais necessário
para a condução das coisas e das pessoas. Aos poucos, as encenações públicas
das condenações vão se articulando mais às verdades ou técnicas judiciais do que à
figura do soberano e vão criando possibilidades para que o espetáculo das
condenações deixe de ser encenado em praça pública e recolha-se dentro dos
muros altos das prisões, onde o poder disciplinar se exerce com mais intensidade
sobre os condenados, pois a punição é, sobretudo, uma técnica de coerção dos
indivíduos que utiliza processos de treinamento do corpo para corrigir os detentos
(FOUCAULT, 1987b, p. 108).
Para ilustrar a tecnologia disciplinar que vai se sobrepondo no decorrer
século XIX, Foucault elege a figura do Panóptico, elaborado, em 1789, por Jeremy
Bentham, um filósofo e jurista inglês, representante do utilitarismo anglo-saxônico13
e que, conforme Foucault, “programou, definiu e descreveu da maneira mais precisa
as formas de poder em que vivemos” (FOUCAULT, 2002). O Panóptico foi
inicialmente proposto como um modelo arquitetônico, com a finalidade de corrigir os
encarcerados, no entanto, ele também se expandiu para outras instituições, como as
educacionais, as de assistência e as de trabalho. Para Foucault, o Panóptico de Bentham é a figura arquitetural dessa composição [do poder disciplinar]. O princípio é conhecido: na periferia uma construção em anel; no centro, uma torre; esta é vazada de largas janelas que se abrem sobre a face interna do anel; a construção periférica é dividida em celas, cada uma atravessando toda a espessura da construção; elas têm duas janelas, uma para o interior, correspondendo às janelas da torre; outra que dá para o exterior, permite que a luz atravesse a cela de lado a lado. Basta então colocar um vigia na torre central, e em cada cela trancar um louco, um doente, um condenado, um operário ou um escolar. Pelo efeito da contraluz, pode-se perceber da torre, recortando-se exatamente sobre a claridade, as pequenas silhuetas cativas nas celas da periferia. Tantas jaulas, tantos pequenos teatros, em que cada ator está sozinho, perfeitamente individualizado e constantemente visível. O dispositivo panóptico organiza unidades espaciais que permitem ver sem parar e reconhecer imediatamente. Em suma, o princípio da masmorra é invertido; ou antes, de suas três funções – trancar, privar de luz e esconder – só se conserva a primeira e suprimem-se as outras duas. A plena luz e o olhar de um vigia captam melhor que a
13 Maia (2003, p. 83).
61
sombra, que finalmente protegia. A visibilidade é uma armadilha. (FOUCAULT, 1987b, p.165-166).
Bentham já havia manifestado a vontade de ver o esquema Panóptico como
um esboço de uma sociedade racional, e, nesse sentido, Foucault observa que esse
esquema foi também um sonho, uma utopia da sociedade burguesa que, de certa
forma, foi realizado não sob a forma de um projeto de arquitetura, mas sob a forma
de uma tecnologia de poder. Segundo Foucault (1987b), o esquema Panóptico “é na
realidade uma figura de tecnologia política” (p. 170), pois “é um intensificador para
qualquer aparelho de poder: assegura sua economia (em material, em pessoal, em
tempo): assegura sua eficácia por seu caráter preventivo, seu funcionamento
contínuo e seus mecanismos automáticos” (p.170); “é uma maneira de fazer
funcionar relações de poder numa função, e uma função para essas relações de
poder” (p.171); e, por fim, “é destinado a se difundir no corpo social; tem por vocação
tornar-se aí uma função generalizada” (p. 171). Foucault compreende o esquema
panóptico como um dispositivo de poder e não apenas como uma forma
arquitetônica; compreendia-o, sobretudo, como uma forma de governo ou uma forma
de exercício de poder sobre o espírito (CASTRO, 2009, p. 315). Em suma, Foucault
apresenta o panoptismo como “o princípio geral de uma nova ‘anatomia política’ cujo
objeto e fim não são a relação de soberania mas as relações de disciplina”
(CASTRO, 2009, p. 172).
Para Foucault (1987b, p.12), enfim, “a punição pouco a pouco deixou de ser
uma cena” e todo esse movimento gradativo de substituição dos suplícios veio
acompanhado de “uma nova teoria da lei e do crime” (GADELHA, 2009, p. 33), que
surgia amalgamada pela progressiva organização de um aparato burocrático-
administrativo, ambos se pautando no novo princípio da justiça moderna que não era
mais de punir, mas de corrigir ou reeducar ou curar o criminoso. Em Vigiar e Punir,
conforme nos explica Maia (2003, p. 81), Foucault analisa as técnicas que objetivam
“um treinamento ‘ortopédico’ dos corpos, as disciplinas e o poder disciplinar”.
Assim, o que se considera ser um processo gradativo de humanização das
penas é, antes disso, o resultado do alinhave de todo um discurso de ataque às
práticas punitivas violentas com os mecanismos burocrático-administrativos.
Alinhave este que proporcionou uma modificação nas práticas punitivas, suavizando-
62
as, por um lado, mas, por outro, intensificando um jogo de representações
assimilado por todos ao mesmo tempo. Segundo Foucault (1987b, p. 84), sob a humanização das penas, o que se encontra são todas essas regras que autorizam, melhor, que exigem a “suavidade”, como uma economia calculada do poder de punir. Mas elas exigem também um deslocamento no ponto de aplicação desse poder: que não seja mais o corpo, com o jogo ritual dos sofrimentos excessivos, das marcas ostensivas no ritual dos suplícios; que seja o espírito ou antes um jogo de representações e de sinais que circulem discretamente mas com necessidade e evidência no espírito de todos. Não mais o corpo, mas a alma, dizia Mably. E vemos bem o que se deve entender por esse termo: o correlato de uma técnica de poder. Dispensam-se as velhas “anatomias” punitivas.
Então, “uma nova e ampla economia do poder” começa a se desenvolver a
partir dessa forma mais “branda” de punir, ou seja, dessa “nova economia da
punição” (GADELHA, 2009, p. 33). Essa nova economia da punição é explicada por
Gadelha (2009, p. 34) como uma série de substituições de objeto: “[...] em vez de se
julgar o crime, propriamente dito, passou-se a julgar as paixões que o motivavam – o
que nos reenvie à alma do criminoso [...]”. Sendo, portanto, outro o objeto a ser
julgado - ou seja, não mais o crime, mas a paixão que o motivou – o discurso
puramente e unicamente jurídico passa a não ser mais tão competente para tal
julgamento, sendo necessária a evocação de outro discurso, o médico-psiquiátrico,
“[...] que ganhava em prestígio e foi secundado, com o passar do tempo, por
discursos psicopedagógicos e assistenciais” (GADELHA, 2009, p. 34).
Segundo Foucault (1987b, p. 23), sob a suavidade ampliada dos castigos, podemos então verificar um deslocamento de seu ponto de aplicação; e através desse deslocamento, todo um campo de objetos recentes, todo um novo regime da verdade e uma quantidade de papéis até então inéditos no exercício da justiça criminal. Um saber, técnicas, discursos “científicos” se formam e se entrelaçam com a prática do poder de punir.
Em síntese, a substituição do objeto “crime” pela “paixão” exigiu a
substituição do discurso puramente e unicamente jurídico por outros discursos.
Essas substituições possibilitaram o surgimento dessa nova economia da punição
que, por sua vez, auxilia na preparação de um contexto social, político e histórico
composto por elementos, que, articulados entre si, proporcionam essa “nova e ampla
economia do poder” (GADELHA, 2009, p. 33), própria da sociedade disciplinar
63
(FOUCAULT, 1987b) e da sociedade na qual esta vai se transformando,
paulatinamente: a sociedade da normalização ou também nomeada por Gilles
Deleuze (1992) como sociedade de controle14. Segundo Gadelha (2009), Foucault
nos mostra, principalmente em Vigiar e punir, que essas modificações nas formas de
punição revelam como a constituição histórica das sociedades disciplinares foram se
organizando [...] segundo funcionamentos outros, formas de regulação e controle extremamente singulares, procedimentos de regulação e normalização nunca dantes encontrados em quaisquer formações históricas anteriores. Sociedades, além disso, que instauram relações inusitadas entre saber e poder e, por efeito dessas mesmas relações, novas e diferentes políticas de subjetivação (GADELHA, 2009, p. 37).
Dispositivo disciplinar é o nome dado por Foucault a essas novas formas de
regular, controlar e normalizar a microestrutura social. Sem o dispositivo disciplinar e
sem essas novas formas de funcionamento, de organização e de estratégia, não
seria possível um exercício de dominação tão amplo e eficaz, capaz de alcançar o
poder na sua microestrutura e, por isso, manter o corpo social, ou seja, a população,
sob controle. Para Maia (2003, p. 83), as análises presentes em Vigiar e punir
destacam “a emergência de uma nova forma de atuação do poder sobre os corpos:
o poder disciplinar”, que já não tem mais como finalidade as relações de soberania,
mas as relações de disciplina.
Ainda em torno da disciplina, Gadelha (2009, p. 37) esclarece que a família,
a escola, o quartel, os hospitais, os reformatórios para menores, as fábricas, os
manicômios, os saberes das disciplinas clínicas, da epidemiologia e das ciências
humanas, a prática do Direito, os procedimentos da administração pública, as
práticas da educação e da formação para o trabalho,
tudo isso é trespassado ao mesmo tempo pelo que Foucault chamou de dispositivo disciplinar. [...], sociedades em que o exercício da dominação já não podia ser pensado em termos homogêneos, macrossociais, e como se dando apenas referido ao Estado, entendido como instância transcendente ao corpo social, senão mediante a ação de múltiplos micropoderes (do policial, do padre, do professor, do médico-psiquiatra, do supervisor, etc.), os quais
14 Na sociedade da normalização, a lei, gradativamente, vai funcionando cada vez mais como uma norma e, a instituição judicial vai assumindo cada vez mais a função de reguladora (CASTRO, 2009, p.310).
64
investem uns sobre os outros, perfazendo, portanto, uma microfísica do poder (GADELHA, 2009, p. 37).
O contexto para a constituição histórica das sociedades disciplinares é
amparado por uma economia do poder de punir que é possibilitada, por sua vez, por
um tipo de tecnologia política do corpo, ambas circunscritas pelo panoptismo como
princípio geral do dispositivo disciplinar. Essa anatomia política do corpo é a
combinação de saberes do corpo e de controles sobre o corpo; saberes esses que
são mais do que aqueles relacionados ao funcionamento biológico e fisiológico do
organismo, uma vez que o corpo está diretamente envolto por um campo político, no
qual as relações de poder estão sempre agindo sobre ele. Da mesma forma, os
controles sobre o corpo são mais do que a ação contra ele, seja essa ação de
violência ou não. Segundo Gadelha (2009, p.35), o corpo tomado em suas forças é
ao mesmo tempo o que sustenta e o que possibilita a economia do poder, porque ao
corpo é depositado um investimento político que o torna utilizável e dócil ao mesmo
tempo.
Nesse sentido, Maia (2003) explica-nos que a tecnologia de poder disciplinar
se estrutura em bases diferentes daquela usada para articular o poder político na
Idade Média. Esse autor esclarece que, na sociedade da soberania, o poder se
exercia por evidências de lealdade ao senhor feudal, manifestadas por meio de ritos
e cerimônias e por meio da ação sobre os produtos retirados da terra. A tecnologia
de poder disciplinar, de outra forma, configura-se pela ação direta sobre os corpos,
operacionalizando “mecanismos possibilitadores de uma extração de tempo e de
trabalho dos corpos, relegando a um segundo plano as velhas formas de atuação
que tinham na extração imediata de bens e riquezas seu objetivo primordial” (MAIA,
2003, p. 84). A figura do soberano, então, enfraquece-se diante desse tipo de poder
sustentado por “um sistema minucioso de coerções materiais” (idem, ibidem). O
caráter político do corpo, então, constitui-se, por um lado, devido a sua utilidade
econômica, como força de produção, e, por outro lado, devido a sua sujeição em ser
utilizado como força de produção.
Sujeição essa que não necessariamente é realizável por meio de
procedimentos ou instrumentos violentos ou repressivos, pois, a sujeição pode ser
possível por meios e instrumentos sutis, calculados, organizados. Isso se explica
porque o investimento político do corpo tem relação com um “sistema de sujeição
(onde a necessidade é também um instrumento político cuidadosamente organizado,
65
calculado, utilizado)” (FOUCAULT, 1987b, p. 26). O que sustenta a sociedade
disciplinar é a produção de saberes sobre os indivíduos, mas não exatamente
apenas sobre o funcionamento biológico de seus corpos, é a produção de saberes
que agem na fabricação das subjetividades. A isso, Foucault chama de tecnologia
política do corpo.
O dispositivo disciplinar, então, só foi possível por causa dos resultados
obtidos por essa tecnologia política do corpo, ou seja, os saberes; resultados esses
que são os próprios efeitos provocados pelo exercício dos micropoderes na malha
social; efeitos esses que podem ser de sujeição ou de resistência. Em Vigiar e punir,
portanto, Foucault apresenta o dispositivo disciplinar como uma tecnologia do
exercício do poder que, por meio da vigilância constante e do treinamento dos
corpos dos indivíduos para a disposição ao controle dos horários (do tempo), ao
adestramento dos comportamentos e à distribuição dos corpos aos espaços, efetua
um tipo de tratamento político-ortopédico sobre o indivíduo, incidindo, dessa forma,
sobre a subjetividade de cada indivíduo, mas de forma ampla. Segundo Maia (2003),
o poder disciplinar é uma técnica que “exerce seu controle não sobre o resultado de
uma ação, mas sobre seu desenvolvimento” (p.84).
A esse tipo de poder disciplinar acopla-se outra tecnologia de poder, que
incide sobre a população, a biopolítica, da qual tratarei a seguir.
3.5 O biopoder/a biopolítica como tecnologia de poder
Segundo Gadelha (2009), a noção de biopolítica foi forjada por Foucault em
um contexto de grande agitação intelectual e política, na França, correspondente ao
período de final da década de 1960 e início de 1970. Nesse momento se tecia uma
crítica “ao pensamento, à política, à economia, às grandes disciplinas científicas no
âmbito das ciências humanas e outras instituições [...] [por causa dos] compromissos
[das ciências] com o status quo e com o sistema capitalista” (GADELHA, 2009,
p.22).
Para Gadelha (2009), essa agitação consubstanciava a preocupação de
filósofos, como Gilles Deleuze, Félix Guatarri e Jean-François Lyotard, além do
próprio Michel Foucault, com as barbaridades cometidas em nome do comunismo,
da liberdade e da revolução. Michel Foucault caracterizou esse período como “a
eficácia das ofensivas dispersas e descontínuas” (FOUCAULT, 1999, p.10), que
66
quer dizer que as críticas desenvolvidas durante aquele período foram eficazes ao
munirem-se de saberes recolhidos à sombra do saber erudito ou das “teorias
totalitárias” (idem, ibidem), chamados por Foucault de “saberes sujeitados”. Gadelha
(2009) esclarece que Foucault desvia sua atenção para esses saberes, chamando
de genealogia toda uma série de pesquisas que aliavam os saberes sujeitados à
crítica aos saberes unificadores, totalitários e globalizantes. Foi essa articulação
entre os saberes sujeitados e a crítica às teorias totalitárias que permitiu a Foucault
conceber o exercício do poder como microfísico e estratégico, que se irradia de
todos os pontos e para todos os pontos do tecido social.
Em cada um de seus cursos, Foucault vai apresentando ou aprofundando
elementos que já foram mencionados em outras pesquisas e que são fundamentais
para a análise da tecnologia de poder biopolítico, como é o caso da norma,
aprofundada em Em defesa da sociedade, das noções de governo e
governamentalidade, apresentadas em Segurança, território e população, e da
racionalidade dos governados como princípio da arte de governo moderna ou liberal,
mencionada em Nascimento da biopolítica.
Segundo Castro (2009), dois textos fundamentais para a compreensão das
noções de biopoder e biopolítica são, como já mencionei, o último capítulo de A
vontade de saber, de 1976, e a aula de 17 de março de 1976 do curso Em defesa da
sociedade. Nesses dois textos, Foucault focaliza o exercício do poder incidindo na
normalização e regulação da população, de dois modos diferentes: como o poder
sobre a vida, pois diz respeito às políticas da vida biológica - como é o caso das
políticas da sexualidade – e como o poder sobre a morte – como é o caso do
racismo ao ser tomado como condição para se assegurar o direito de matar do
Estado moderno. Em ambas as pesquisas, o biopoder é abordado como o exercício
do poder “da estatização da vida biologicamente considerada, isto é, do homem
como ser vivente” (CASTRO, 2009, p. 57), sendo correspondente ao poder de
administrar, controlar e formar as populações, uma vez que se interessa pela saúde,
pela segurança, pela assistência, pela educação do corpo social (MAIA, 2003).
Apesar de algumas divergências, entre os autores citados, em relação ao
momento em que as noções de biopoder e biopolítica começaram a ser pensadas
por Foucault, eles concordam que não há rupturas no pensamento do filósofo
francês, mas deslocamentos e que essa nova adaptação do poder, que ganha
evidência no século XVIII, é a manifestação do biopoder sendo utilizado como um
67
mecanismo sobre a vida do indivíduo e da população. Um mecanismo de poder que
se utiliza da população tanto como máquina para produzir bens e riquezas, quanto
como corpo-espécie para produzir outros indivíduos. Os procedimentos políticos do
ocidente, portanto, transformam-se em torno de duas descobertas: a descoberta do
indivíduo como corpo-individual a se adestrar ou disciplinar e a descoberta da
população como corpo-espécie a se manejar. O biopoder, portanto, está
relacionado à economia do poder de punir, própria da sociedade disciplinar.
Nesse novo contexto - de uma sociedade que sofreu alterações
demográficas consideráveis -, a elaboração e o planejamento de ações políticas
baseadas em investigações científicas devidamente comprovadas por dados
estatísticos passam a ser importantes para o manejo e controle desse novo
elemento, a população. A esse novo modelo de produzir saber, Foucault chama de
modelo do exame, estabelecendo uma diferença entre a forma de se produzir saber
na sociedade da soberania que foi chamado por ele de modelo do inquérito15.
A elaboração e o planejamento, pensados estrategicamente a partir de
dados estatísticos, são chamados de biopolítica. Segundo Castro,
há que [se] entender por ‘biopolítica’ a maneira pela qual, a partir do século XVIII, se buscou racionalizar os problemas colocados para a prática governamental pelos fenômenos próprios de um conjunto de viventes enquanto população: saúde, higiene, natalidade, longevidade, raça [...]. Essa nova forma do poder se ocupará, então: 1) Da proporção de nascimentos, de óbitos, de taxas de reprodução, da fecundidade da população. Em uma palavra, da demografia. 2) Das enfermidades endêmicas: da natureza, da extensão, da duração, da intensidade das enfermidades reinantes da população; da higiene pública. 3) Da velhice, das enfermidades que deixam o indivíduo fora do mercado de trabalho. Também, então, dos seguros individuais e coletivos, da aposentadoria. 4) Das relações com o meio geográfico, com o clima. O urbanismo e a ecologia. (CASTRO, 2009, p. 59-60).
Nesse sentido, o biopoder e a biopolítica são noções teóricas elaboradas a
partir de evidências históricas que mostram uma nova atitude do poder diante da
vida. Foucault aborda o biopoder a partir de suas pesquisas genealógicas sobre a
sexualidade e sobre o racismo evolucionista, tomando-os, respectivamente como um
dispositivo disciplinador e regulamentador e como um mecanismo para justificar o
direito de matar. Essa forma de abordar esses temas só são possíveis devido à
15 O modelo do exame e o modelo do inquérito serão abordados mais a frente neste texto.
68
atitude do poder sobre a vida – biopoder – e devido às novas estratégias do poder, a
biopolítica.
Essa nova atitude do poder frente à vida surgiu juntamente a uma nova
forma de governo, diferente da praticada na sociedade de soberania, mais adequada
à sociedade disciplinar e, depois, à sociedade da normalização, - a forma de
governo liberal -, e continua a caracterizar a forma de governo da
contemporaneidade - o neoliberalismo. A forma de governar biopolítica vai se
constituindo no decorrer do século XVIII e vai posicionando a população como objeto
e objetivo do governo, a partir da qual foi possível constituir um setor de intervenção
da arte de governar, conhecido atualmente como economia política.
O biopoder é, portanto, fundamental para o desenvolvimento do capitalismo
e, principalmente, para o modo de vida capitalista, para o seu ethos (FOUCAULT,
1999). A racionalidade liberal, para ser praticada nos séculos XVIII, XIX e início do
século XX, encontrou subsídios no poder disciplinar, primeiramente, e, depois, no
biopoder. Ugarte Pérez explica que Foucault situa “o nascimento do biopoder no
surgimento da Revolução Industrial” 16 (UGARTE PÉREZ, 2006, p.81) e Castro
(2009, p. 58) esclarece que o biopoder foi indispensável para o desenvolvimento do
capitalismo porque “serviu para assegurar [ao mesmo tempo] a inserção controlada
dos corpos no aparato produtivo e para ajustar os fenômenos da população aos
processos econômicos”, sendo, portanto, concomitantemente, um tipo de poder
individualizante e totalizante. Essa concomitância é a característica fundamental do
poder moderno, segundo Foucault (CASTRO, 2009, p.58) e, segundo Revel (2006),
desde Vigiar e punir, Foucault está atento para o entrecruzamento das tecnologias
disciplinares e das tecnologias biopolíticas na composição do poder que vinha se
impondo junto à emergência e desenvolvimento do liberalismo.
No curso Nascimento da biopolítica, ministrado em 1979, Foucault ressalta
que os processos de subjetivação são o princípio da arte de governar moderna, nos
revelando que tanto a racionalidade política do “eu soberano” quanto a racionalidade
política do “eu Estado” não estão no foco nas estratégias de poder, numa sociedade
em que a tecnologia biopolítica evidencia-se, como ocorre na sociedade da
normalização. De outra forma, a racionalidade política que está em jogo nesse tipo
16 No original: “el nacimiento del biopoder en el alba de la Revolución Industrial” (tradução é minha).
69
de sociedade é a dos governados que emerge por meio de uma gama de técnicas,
dispositivos e mecanismos reguladores e biopolíticos. Segundo Foucault, trata-se agora de regular o governo não pela racionalidade do indivíduo soberano que pode dizer “eu, o Estado”, [mas] pela racionalidade dos que são governados, dos que são governados como sujeitos econômicos e, de modo mais geral, como sujeitos de interesse, interesse no sentido mais geral do termo, [pela] racionalidade desses indivíduos na medida em que, para satisfazer a esses interesses no sentido geral do termo, eles utilizam certo número de meios e os utilizam como querem: é essa racionalidade dos governados que deve servir de princípio de regulagem para a racionalidade do governo. É isso, parece-me, que caracteriza a racionalidade liberal: como regular o governo, a arte de governar, como [fundar] o princípio de racionalização da arte de governar no comportamento racional dos que são governados (FOUCAULT, 2008, p.423).
Ou seja, como governar a liberdade do outro em autogovernar-se. Para
explicar esse deslocamento da preocupação do Estado em fazer viver a população
em termos da economia do poder, Foucault forjou uma ferramenta teórica com a
qual explicou o processo de governamentalização das sociedades ocidentais. A
governamentalidade é assunto abordado no próximo tópico.
3.6 A governamentalidade como ferramenta teórica
Essa concomitância de um tipo de poder ao mesmo tempo individualizante e
totalizante, disciplinador e normalizador foi possível ser verificada por Foucault
devido à elaboração das noções de governo e governamentalidade, apresentadas
na aula de 1º de fevereiro de 1978, do curso Segurança, território e população,
posteriormente à publicação da Vontade de saber e da realização do curso Em
defesa da sociedade, ambos de 1976.
A noção de governamentalidade é uma ferramenta teórica que muito ajudou
a analisar e explicar o poder na perspectiva histórico-filosófica, microfísica e
imanentista a que Michel Foucault se propunha17 estudar. Foucault (2000b) declara
17 As noções de governo e governamentalidade, segundo Castro (2009) “dominam a análise foucaultiana do poder” e foram elaboradas, em parte, porque os instrumentos teóricos de análise de poder das teorias totalitárias eram insuficientes para explicar o poder na perspectiva histórico-filosófica, microfísica e imanentista, proposta por Foucault e, em parte, porque a própria proposta de análise foucaultiana do poder encontrava dificuldades teóricas a serem respondidas (CASTRO, 2009, p. 190). Essas noções, assim como a perspectiva
70
que, para chegar à questão do governo e da governamentalidade, analisou alguns
dispositivos de segurança com o intuito de compreender, em um primeiro momento,
a emergência do problema da população. Essa análise dos dispositivos de
segurança, feita em Segurança, território e população, levou-o a pensar sobre a
relação entre a segurança, a população e o governo. Nessa aula, Foucault
demonstra a preocupação em entender como a emergência da população conduz à
questão do governo, em outras palavras, como as tecnologias de poder se articulam
com o governamento e com os processos de subjetivação, ou de constituição do
sujeito, tema central na obra foucaultiana.
As noções de governo e governamentalidade, elaboradas por Foucault para
analisar o poder são, então, um dos elos entre os três momentos de pesquisa
vivenciados pelo filósofo francês. Conforme Castro (2009), apesar das pesquisas de
Foucault, a partir dos anos de 1970, se deslocarem do eixo do saber para o eixo do
poder e, depois, para o eixo da ética, muitas vezes apresentadas em três momentos
distintos: a arqueologia, a genealogia e a ética 18 , não há segmentação nem
abandono das problematizações anteriores, pois é, de outra forma, resultado de uma
lógica de ampliação na prática de pesquisa de Foucault (CASTRO, 2009, p. 189).
Isso quer dizer que essa classificação da obra de Foucault é uma continuidade em
torno daquilo que constitui o sujeito. Conforme Castro, o deslocamento-inclusão da episteme na noção de dispositivo responde à necessidade de incluir o âmbito do não discursivo na análise do saber. A formação das ciências humanas, por exemplo, já não será somente consequência de uma disposição epistêmica, mas encontrará nas práticas disciplinares sua condição histórica de possibilidade. Do mesmo modo, a importância das noções de governo e governamentalidade será uma consequência das insuficiências dos instrumentos teóricos para analisar o poder. (CASTRO, 2009, p. 190).
Em outras palavras, a problematização do saber não foi abandonada para
que se tratasse do problema do poder e nem esse foi esquecido para que Foucault
abordasse o tema da ética; esses três momentos compõem uma continuidade de um
trabalho que, conforme foi sendo aprofundado, foi necessitando de novos
histórico-filosófica, fazem parte desse instrumental teórico-metodológico, elaborado por Foucault, no decorrer do seu trabalho ao analisar o poder. 18 Ética, no sentido foucaultiano, são as muitas formas de subjetivação/objetivação pelas quais passa o sujeito.
71
instrumentos teóricos e metodológicos de análise. Como bem ressalta Castro (2009,
p. 189), “a noção de dispositivo incluirá a noção de episteme, e a noção de prática
incluirá a noção de dispositivo”, porque uma noção exigiu a elaboração da outra para
que se entendesse, afinal, quais as formas de subjetivação e objetivação que
constituem o sujeito.
Para Castro (2009, p.189), então, o trabalho de Foucault é “uma análise
filosófico-histórica das práticas de subjetivação”, não sendo, portanto, nem o saber
nem o poder a grande preocupação do filósofo francês, mas sim o que constitui o
sujeito, ou seja, a ética no sentido foucaultiano. Ainda segundo Castro (idem,
ibidem), “essas práticas de subjetivação [...] são também formas de objetivação, isto
é, dos modos em que o sujeito foi objeto de saber e de poder, para si mesmo e para
os outros”. Nesse sentido, as noções de governo e governamentalidade são
fundamentais para a análise das formas pelas quais o poder se exerce, pois são
essas noções que explicam que o poder não é da ordem do enfrentamento entre
dois adversários, mas da ordem do planejamento estratégico do campo de
possibilidade de ação do outro ou dos outros, por um lado, e, por outro, da ordem do
autogoverno.
Castro (2009, p. 190) explica que a noção de governo tem dois eixos: o governo como relação entre sujeitos e o governo como relação consigo mesmo. No primeiro sentido, [...] trata-se [...] de uma conduta que tem por objeto a conduta de outro indivíduo ou de um grupo. Governar consiste em conduzir condutas. Foucault quer manter a sua noção de governo a mais ampla possível. Mas, no segundo sentido, é também da ordem do governo a relação que se pode estabelecer consigo mesmo na medida em que, por exemplo, se trata de dominar os prazeres e os desejos. [...] Foucault interessa-se particularmente pela relação entre as formas de governo de si e as formas de governo dos outros. Os modos de objetivação-subjetivação situam-se no entrecruzamento desses dois eixos.
Assim, para Castro (2009), também a noção de governamentalidade tem
dois eixos de significação: um para referir-se ao âmbito da governamentalidade
política (CASTRO, 2009) ou governo em sua forma política (FOUCAULT, 2000b,
p.278); e, outro eixo que se remete ao âmbito da relação entre o governo dos outros
e o governo de si mesmo. Então, de forma ampla, o termo governamentalidade é
utilizado por Foucault “para referir-se ao objeto de estudo das maneiras de governar”
(CASTRO, 2009, p. 190) e contem dois eixos de significação, sendo o primeiro no
72
âmbito das técnicas, instrumentos, dispositivos, mecanismos, enfim, das estratégias
de governo (governamento) do outro; e, o segundo no âmbito das técnicas,
instrumentos, dispositivos, mecanismos, ou seja, das estratégias de resistência
nascidas da relação das técnicas de dominação exercidas sobre os outros e das
técnicas de domínio de si, chamadas por Foucault de técnica de si.
Então, governamentalidade, no âmbito do primeiro eixo, segundo Foucault
(2000b, p. 291-292) compreende três significações: 1 - o conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análise e reflexões, cálculos e táticas que permitem exercer esta forma bastante específica e complexa de poder, que tem por alvo a população, por forma principal de saber a economia política e por instrumentos técnicos essenciais os dispositivos de segurança;
2 - a tendência de um tipo de poder sobre os outros, o governo (governamento), que
permite a existência de diferentes formas de governo como a soberana, a disciplinar
e a biopolítica, tornando possível “o desenvolvimento de uma série de aparelhos
específicos de governo e de um conjunto de saberes” (FOUCAULT, 2000b, p.292);
3 - e, por fim, governamentalidade, no âmbito do governo na sua forma política,
significa o resultado do processo “pelo qual o Estado de justiça da Idade Média
converteu-se, durante os séculos XV e XVI, no Estado administrativo e finalmente no
Estado governamentalizado” (CASTRO, 2009, p. 191).
Já no segundo eixo, ou seja, no âmbito do governo de si,
governamentalidade corresponde às relações entre o governo dos outros e o
governo de si, âmbito esse que permite o estudo das estratégias de resistência.
A governamentalidade, então, é uma ferramenta teórico-metolodógica
forjada e usada por Foucault para compreender e explicar como o exercício do poder
biopolítico emergiu em uma sociedade que passava a enfatizar os processos de
regulação e normalização da população. Um dos principais instrumentos que se
evidenciou nesse tipo de exercício de poder é a norma, assunto a ser abordado no
próximo item.
3.7 A lei e a norma, a disciplina e a biopolítica No contexto da biopolítica, Foucault observa que a lei também vai cada vez
mais assumindo a função de norma. Isso porque o biopoder terá uma maior
73
necessidade de investir em “mecanismos contínuos, reguladores e corretivos”; “de
distribuir os vivos em um domínio de valor e utilidade” e “de qualificar, medir, avaliar,
hierarquizar” (FOUCAULT, 1985, p.135), do que de exercer o poder de gládio ou de
morte ao qual a lei sempre era referência. Castro (2009) interpreta essa análise de
Foucault, esclarecendo que as sociedades modernas são sociedades da
normalização porque nelas se entrecruzam a norma da disciplina e a norma da
regulação; a primeira refere-se à regulação da vida dos indivíduos por meio das
tecnologias da disciplina (a anátomo-política do corpo como uma máquina, por
exemplo) e a segunda à regulação da população por meio das tecnologias de
regulação e normalização (a estatística, por exemplo, que mensura os processos
biológicos do corpo-espécie como nascimentos, mortes, longevidade etc.).
Para se entender o papel da norma na configuração do poder na
Modernidade, Foucault (1985) observou que o poder se exercia cada vez menos no
domínio da lei e cada vez mais no domínio da norma, já que esta é instrumento,
concomitantemente, de governo do indivíduo e das populações. A norma, por se
apresentar como sendo uma regra natural e por ser aplicada indistintamente a fim de
se preservar o ciclo natural e produtivo da vida (REVEL, 2006), afasta-se da ideia da
repressão produzir somente efeitos negativos. Pelo contrário, para Foucault, os
processos de disciplinarização e normalização não são considerados apenas como
aqueles que reprimem uma individualidade, pelo contrário, são processos que
também a constituem, a formam (CASTRO, 2009)19. Para Castro (2006), a norma é
um dos elementos geradores da individualidade disciplinar porque se inscreve na
disciplinarização dos corpos por meio de uma técnica disciplinar, chamada por ele
de sanção normalizadora. A sanção normalizadora se apresenta como um modo específico de se castigar no domínio disciplinar. Para a disciplina não se trata nem de expiar uma culpa nem de reprimir, mas sim de referir a condutas do indivíduo a um conjunto comparativo, de diferenciar os indivíduos, medir capacidades, impor uma “medida”, traçar a fronteira entre o normal e o anormal (CASTRO, 2006, p.67).
19 A propósito, é também nesse sentido que a resistência deve ser entendida, não como um contrapoder, mas como um processo advindo do próprio domínio do exercício do poder, que inclui a constituição e criação de novas subjetividades. Isso quer dizer que nem a lei nem a norma são instrumentos que fogem à dupla face da governamentalidade, ou seja, os efeitos de poder que elas produzem incidem no âmbito do governo do outro, mas também no do governo de si mesmo.
74
Foucault explica que há cinco diferenças fundamentais entre os domínios da
lei e da norma (CASTRO, 2009), sendo que o primeiro domínio tenciona as condutas
à individualização e o segundo à homogeneidade, como esquematiza-se20 a seguir:
Para Foucault, então, a sociedade da normalização é o efeito histórico do
exercício do biopoder, que por ser uma tecnologia de poder focalizada na vida, “a lei
funciona cada vez mais como norma, e a [...] instituição judiciária se integra cada vez
mais num contínuo de aparelhos (médicos, administrativos etc.) cujas funções são
sobretudo reguladoras” (FOUCAULT, 1985, p. 135). Para Foucault (1985), a
atividade legislativa nesse período não tende a se extinguir, mas, pelo contrário, a
intensificar-se, pois desde a tecnologia de poder panóptica, o exercício do poder vai
se distanciando do modelo do inquérito para produzir o saber e se aproximando do
modelo do exame (FOUCAULT, 2002). Dessa forma, os mecanismos do âmbito
jurídico vão se constituindo paulatinamente em “formas que tornam aceitável um
poder essencialmente normalizador” (FOUCAULT, 1985, p.136).
20 O conteúdo desse quadro é baseado no verbete “norma” que está em Castro (2009, p. 310).
Domínio da lei (individualização) Domínio da norma (generalização)
Refere-se a um campo único que é o do
corpus dos códigos e textos
A norma se refere, concomitantemente, a
três campos diferentes: comparação,
diferenciação e regra a se seguir.
Os atos individuais são especificados a
partir dos códigos.
A diferença entre os indivíduos é
estabelecida conforme uma média ou a
um optimum a ser alcançado.
Distingue o que é permitido daquilo que é
proibido.
Mensura em termos de quantidade e
hierarquiza em termos de valor a
capacidade dos indivíduos.
Busca a condenação. Impõe uma conformidade que deve ser
alcançada, ou seja, busca homogeneizar.
Julga as condutas em aceitáveis ou
inaceitáveis, mas sempre dentro da lei.
Delimita a normalidade, traçando a
anormalidade como sendo tudo que lhe é
exterior.
75
Segundo Foucault (2002), o modelo do inquérito consiste, na prática
judiciária, ao procedimento pelo qual se buscava reconstruir um acontecimento do
passado que fora presenciado por uma ou mais pessoas. O modelo do exame, por
sua vez, não produz a recapitulação de um acontecimento, mas produz uma
vigilância, um exame, ou seja, trata-se de se vigiar alguém totalmente e
ininterruptamente. Nesse sentido, Castro (2006) afirma ser o exame uma das
técnicas disciplinares para a formação de individualidades disciplinares, explicando-o
como sendo uma
técnica que combina o olhar hierárquico que vigia com a sanção normalizadora. Nela se superpõem relações de saber e de poder. No exame se inverte a economia da visibilidade no exercício do poder, o indivíduo ingressa em um campo documental, cada indivíduo se converte em um caso (a individualidade tal como se pode descrever). O exame é a forma ritual da disciplina (CASTRO, 2006, p.67).
É considerando esses dois modelos de produzir saber que Foucault (2002),
em conferência proferida na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, em
1973, ao analisar os mecanismos e efeitos da estatização penal, principalmente na
França e na Inglaterra, no século XVIII e XIX, explica a gradual importância da
norma e da adesão ao modelo do exame, no sistema legislativo e judiciário a partir
da sociedade disciplinar:
Tem-se, portanto, em oposição ao grande saber de inquérito, organizado no meio da Idade Média através da confiscação estatal da justiça, que consistia em obter os instrumentos de reatualização de fatos através dos testemunhos, um novo saber, de tipo totalmente diferente, um saber de vigilância, de exame, organizado em torno da norma pelo controle dos indivíduos ao longo de sua existência. Esta é a base do poder, a forma de saber-poder que vai dar lugar não às grandes ciências da observação como no caso do inquérito, mas ao que chamamos ciências humanas: Psiquiatria, Psicologia, Sociologia etc. (FOUCAULT, 2002, p. 88).
A respeito da disciplinarização dos saberes, Castro (2006) lembra que a
normalização dos saberes foi uma das quatro operações estratégias21 utilizadas pelo
Estado para disciplinar o conhecimento e que nesse processo de disciplinarização
surge a enciclopédia, as grandes escolas (de minas, de estradas, de pontes etc.) e a
21 As outras três operações estratégicas citadas por Castro (2006, p.67) são: a eliminação e desqualificação dos saberes inúteis; a classificação hierárquica dos saberes mais particulares aos mais gerais; e, por fim, a centralização piramidal.
76
ciência que, nesse contexto, vai ocupando o lugar de saber fundamental que era da
filosofia. As ciências chamadas de ciências da normalidade passam a estabelecer o
que é normal e o que é anormal, fortalecendo, por um lado, “os mecanismos de
disciplinarização individual e, por outro, elas mesmas têm sido possíveis a partir
desses mecanismos” (CASTRO, 2006, p. 68).
Maia (2003), concordando com Foucault (2002), explica que, conforme a
população vai emergindo como objeto do poder e fonte de saber, a configuração
política instaurada pelo biopoder, ainda na sociedade disciplinar, integra-se cada vez
mais a uma dimensão epistemológica caracterizada pelo modelo do exame. A norma
se constitui, no modelo de exame, como padrão para se avaliar uma diversidade de
aspectos ligados à vida social, diferentemente da configuração política instaurada
pelo poder do gládio, na sociedade de soberania, na qual a dimensão
epistemológica se caracteriza pelo modelo do inquérito. Para Maia (2003), a
utilização da estatística para a definição de regularidades presentes na população,
juntamente com o discurso dos demógrafos, médicos, sanitaristas, psiquiatras etc.
foram elementos fundamentais para a emergência da norma, havendo, portanto,
uma articulação importante entre a norma, o exame e o biopoder.
No entanto, Maia (2003) lembra que, por causa da morte prematura de
Michel Foucault, em 1984, a articulação entre norma, exame e biopoder não foi
profundamente explorada pelo filósofo francês, mas que outros estudiosos se
ocuparam dessa tarefa, reforçando o caráter sutil e flexível do regime no qual
funciona a biopolítica. Dentre esses pesquisadores estão Gilles Deleuze, Michel
Hardt e Antonio Negri. Segundo Maia (2003), as ferramentas teóricas forjadas por
Foucault para analisar a vida política contemporânea foram atualizadas por esses
autores. Deleuze, assim, percebe que os mecanismos disciplinares que
caracterizaram a Modernidade foram sobrepostos por novos mecanismos de
sujeição que já não se utilizam de espaços fechados para a vigilância, mas de
dispositivos abertos e contínuos de controle, proporcionados pelo desenvolvimento
da tecnologia cibernética. Hardt, por sua vez, nota que o biopoder não se exerce só
sobre a vida desde cima, mas é também um poder que produz e cria vida, porque
age na produção de subjetividades coletivas e de novas formas de vida. Já Negri
defende que o biopolítico possui uma dimensão produtiva e positiva, pois age na
produção social da subjetividade (MAIA, 2003).
77
Veiga-Neto (2011b) também propõe um tipo de atualização das ferramentas
focaultianas relacionadas à análise do poder, trazendo a noção de noopoder
elaborada por Maurizio Lazzarato22 para caracterizar o tipo de governamentalidade
que vem se exercendo na contemporaneidade. Conforme Veiga-Neto (2011b), assim
como a biopolítica não substituiu o poder disciplinar, na emergência da
governamentalidade liberal, também nos tempos da governamentalidade neoliberal,
o poder disciplinar e o biopoder não são simplesmente substituídos por outro; um
novo tipo de poder, no entanto, vem se acoplando à disciplinarização dos corpos e à
regulamentação da vida do corpo-espécie, a partir de meados do século XX.
Esse novo tipo de poder é chamado de noopoder e não tem por objetivo
nem a disciplinarização do corpo do indivíduo, nem a regulamentação do corpo da
espécie, de outra maneira, tem como objetivo capturar a memória e a atenção das
pessoas por meio da modulação dos cérebros (VEIGA-NETO, 2011b). Dessa forma,
introduz-se um novo elemento de análise que é o público, ou a formação do público
ou dos vários públicos que estão unidos pelo tempo, fundamentalmente. Assim, as
sociedades neoliberais caracterizam-se pela “cooperação entre cérebros, por meio
de redes; [pelos] dispositivos tecnológicos arrojados, que potencializam a captura da
memória e da atenção; [pelos] processos de sujeição e subjetivação para a
formação de públicos” (VEIGA-NETO, 2011b, p. 47).
A governamentalidade neoliberal da atual sociedade possui, nesse sentido,
algumas características que a diferenciam da governamentalidade liberal própria
tanto da sociedade disciplinar quanto da sociedade da normalização. Essas
características são os vários deslocamentos da ênfase sobre elementos que sempre
estiveram presentes na sociedade disciplinar e na sociedade da normalização, mas
que, agora, estão em evidência. Deleuze (1992) afirma que o jogo de forças do
poder estaria sofrendo os efeitos do deslocamento da ênfase nos dispositivos de
seguridade, que se amparam no poder disciplinar e no biopoder, para os dispositivos
de controle; por isso, estaríamos transitando para um tipo de sociedade nomeada
por esse autor de sociedade do controle, como já mencionado.
Nesse sentido, segundo Veiga-Neto (2011b), a governamentalidade
neoliberal centra-se na constante produção e exercício de uma liberdade na forma
da competição, cuja ênfase está no consumo e não na produção, sendo inclusive a 22 Alfredo Veiga-Neto ampara-se em LAZZARATO, Maurizio. As revoluções do capitalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006.
78
liberdade considerada um objeto de consumo; a governamentalidade neoliberal
possui como instituição paradigmática da economia capitalista não mais a fábrica, e
sim a empresa, na qual o trabalho já não prioriza mais a vigilância sobre o corpo,
mas a inventividade criativa da alma do indivíduo, transformando a subjetividade do
trabalhador, “dotando-o de poder de gestão e de tomada de decisão” (VEIGA-NETO,
2011b, p. 41), em um cenário onde o imprevisível se sobrepõe ao rotineiro e onde a
inovação sobressalta-se à reprodução de mercadorias padronizadas; a
governamentalidade neoliberal, finalmente, é aquela cuja “administração vem
perdendo espaço para a palavra gestão” (idem, ibidem, p. 45,), porque gestão
transmite um sentido de maior abertura, flexibilidade, adaptabilidade e menos rigidez
do que administração.
Em suma, toda essa atualização teórica em torno das ferramentas
foucaultianas a respeito do poder, situando-as no tempo presente, auxilia ou é um
ponto de apoio, sem dúvida, para as análises dos elementos, objetos, situações,
relações etc. que estão aí postas na contemporaneidade.
Parte dessas análises será abordada no quarto capítulo, no qual busco fazer
algumas aproximações entre esse instrumental teórico-metodológico forjado por
Foucault e atualizado por outros estudiosos a assuntos relacionados ao campo da
educação, mais precisamente, à formação de professores.
Antes disso, no entanto, apresento brevemente como o discurso é abordado
por Foucault e qual a sua utilidade no nexo entre a produção do saber e o exercício
do poder na constituição dos sujeitos.
3.8 A articulação entre discurso, saber e poder
Discurso batalha e não discurso reflexo. Mais precisamente, é preciso fazer
aparecer no discurso funções que não são simplesmente as da expressão [...]
ou da reprodução [...]. O discurso [...] esse fato é em si mesmo uma força. O
discurso é para a relação das forças não apenas uma superfície de inscrição,
mas um operador. (Michel Foucault, 2011, p. 221).
Segundo Veiga-Neto (2011a), a forma como Michel Foucault toma as
questões da linguagem e do discurso está em diálogo com Friedrich Nietzsche e
79
com as descobertas sobre a linguagem na segunda fase de Ludwig Wittgenstein -
com o qual partilha o interesse por realizar uma analítica pragmática e não formal do
discurso. Muito embora não haja referências explícitas da influência das ideias de
Wittgenstein nas teorizações de Foucault, as proximidades entre os dois são muitas,
como, por exemplo, ao assumirem o caráter contingente das teorizações, ao
considerarem que os discursos são gerados nas práticas sociais historicamente
determinadas, o que leva os dois filósofos a não perguntarem “o que é determinado
saber?”, mas a interrogarem sobre “como esse saber funciona?”; ao ignorarem a
Metafísica, por não se interessarem em descobrir o que está oculto por entre as
linhas do discurso; por não assumirem as verdades como descobertas da razão,
mas como produções, fabricações, invenções da razão. Os dois filósofos “ao
fazerem isso, eles dão as costas para a busca de uma suposta razão pura e voltam-
se para a análise das relações da linguagem consigo mesma e das relações entre a
linguagem e o mundo” (VEIGA-NETO, 2011a, p.90-91).
Para compreender o modo como Foucault aborda a questão do discurso é
importante primeiro entender que, para ele, a linguagem possui um caráter atributivo,
ou seja, não há correspondência a priori entre as palavras e as coisas; no entanto, é
por meio da linguagem que se atribui sentido às coisas, sendo ela, portanto,
constitutiva do pensamento, isto é, do sentido que se dá às coisas. (VEIGA-NETO,
2011a). Ao encarar a linguagem dessa forma, Foucault entende o conhecimento não
como natural e intrinsecamente lógico, mas como um produto de discursos, que, por
sua vez, têm a sua logicidade construída e, portanto, não se diferencia da prática.
Para Foucault, discurso é também uma prática, porque é ele que constitui as
práticas e, ao mesmo tempo, é construído por essas práticas.
Fischer (2003, p. 84) sintetiza afirmando que discurso é “o conjunto de
enunciados de um determinado campo de saber, os quais sempre existem como
práticas”. Conforme Fischer (2003, p. 85), os discursos são práticas porque “não só
nos constituem, nos subjetivam, nos dizem ‘o que dizer’, como são alterados, em
função de práticas sociais muito concretas”. Assim, por exemplo, é possível entender
as alterações nos discursos sobre os afrodescendentes, como as piadas e os
chavões relacionados à cor de pele deixaram de ser corriqueiros, na atualidade,
deslocando-se da brincadeira para a agressão. Mesmo que piadas ou frases desse
tipo sejam ainda pronunciadas, não provocam mais risos, mas indignação e
constrangimento. Da mesma forma, os discursos sobre a mulher e sobre o
80
homossexual sofrem transformações no que pode ou não ser dito. Isso porque há
saberes e poderes que articulam a produção dos discursos.
Para se entender esse modo de abordar o discurso, é igualmente relevante
compreender como o filósofo define a prática discursiva e o enunciado, distanciando-
os do ato de fala. A prática discursiva se diferencia do ato de fala, porque ela “não é
uma ação concreta e individual de pronunciar discursos, mas é todo o conjunto de
enunciados” (VEIGA-NETO, 2011a, p. 93) que, por sua vez, também não são atos
de fala cotidianos, nem proposições, “nem uma manifestação psicológica de alguma
entidade que se situasse por baixo ou mais por dentro daquele que fala” (VEIGA-
NETO, 2011a, p. 93). Foucault considera os enunciados como um ato discursivo
porque eles são transmitidos e conservados; recebem valor e, portanto, sua
apropriação é perseguida; são repetidos, reproduzidos e transformados. Segundo
Veiga-Neto (2011a, p. 94-95), o enunciado
se separa dos contextos locais e dos significados triviais do dia a dia, para constituir um campo mais ou menos autônomo e raro de sentidos que devem, em seguida, ser aceitos e sancionados numa rede discursiva, segundo uma ordem – seja em função do seu conteúdo de verdade, seja em função daquele que praticou a enunciação, seja em função de uma instituição que o acolhe.
Outro ponto importante a se compreender é que os discursos são sempre
contingentes, sendo, então, inseparáveis do acontecimento que os gerou e “dos
poderes que o acontecimento coloca em ação” (VEIGA-NETO, 2011a, p.92), não
são apenas a representação das coisas do mundo ou uma combinação de palavras,
porque não são apenas subjetivos, mas, sobretudo, porque subjetivam. Certamente
que os discursos se compõem de signos e possuem uma estrutura, mas há algo
mais que torna os discursos irredutíveis aos recursos da língua. Esse algo mais é a
vontade e o interesse de quem fala; é o que governa quem fala; por isso, esse algo
mais dos discursos torna possível não a representação dos objetos do mundo, mas
a formação/a produção dos objetos de quem fala; torna possível a subjetivação de
quem fala. Isso quer dizer que o que molda a maneira das pessoas constituírem,
compreenderem e representarem o mundo são as práticas discursivas e não
discursivas que são moldadas pela episteme que, ao mesmo tempo, funciona em
decorrência de tais práticas (VEIGA-NETO, 2011a).
81
Veiga-Neto esclarece que, observando o caráter temporal dos discursos, ou
seja, a sua contingência, Foucault compreende que os discursos podem, então,
revelar um arquivo. O arquivo, na perspectiva foucaultiana, é constituído de um
conjunto de discursos que são contingentes porque são sancionados pelos
conteúdos de verdade atribuídos a eles nos momentos históricos em que surgem,
sendo, portanto, o arquivo sempre ligado a um determinado momento histórico.
Veiga-Neto (2011a, p. 96) explica que para designar esse “conjunto de condições,
de princípios, de enunciados e regras que regem sua distribuição, que funcionam
como condições de possibilidade para que algo seja pensado em determinada
época”, Foucault usa a palavra episteme. Ainda segundo Veiga-Neto (2011a, p. 96),
os regimes de discursos são as manifestações apreensíveis, visíveis, da episteme de uma determinada época. Trata-se de um arranjo de possibilidades de discursos que acaba por delimitar um campo de saberes e por dizer quais são os enunciados proibidos ou sem sentido (porque estranhos à episteme) e quais são os enunciados permitidos; e, entre os últimos, quais são os enunciados verdadeiros e quais são os falsos.
Nesse sentido, os discursos marcam o pensamento de cada época e estão
espalhados difusamente pelo tecido social, não se localizando em um determinado
ponto, nem se originando de um determinado ponto específico, como do Estado, por
exemplo. Por isso que o interesse de Foucault não é tentar interpretar o sentido
profundo do que não foi dito, como que procurando nas entrelinhas algo escondido,
o que o enunciador do discurso não disse. O interesse de Foucault não é relacionar
o caráter subjetivo do discurso nem relacionar o sujeito ou a instituição ao discurso
produzido, mas relacionar o discurso ao campo no qual ele se desenrolou. Enfim, o
interesse de Foucault ao analisar discursos está relacionado com as possibilidades
de subjetivação que o discurso produz e nem tanto com o caráter subjetivo e
estrutural do discurso porque, como afirma Veiga-Neto (2011a, p.99), “mais do que
subjetivo, o discurso subjetiva”.
Analisar discursos na perspectiva foucaultiana é considerar a economia no
exercício do poder, assegurada por meio da produção de discursos de verdade,
porque os discursos ativam o poder, colocando-o em circulação; é considerar as
relações de poder que estão ali envolvidas (FISCHER, 2003). No entanto, para essa
perspectiva de análise de discurso, não há espaço para se dialetizar o mundo em
dois blocos de discursos, aqueles que dominam e aqueles que resistem ou de
82
considerar o discurso dos dominadores e dos dominados, pois os discursos são
tomados, na análise foucaultiana, ao mesmo tempo, como instrumento e efeito do
poder; são veículos de produção do poder concomitantemente a que são o ponto de
partida da invenção de novas estratégias de resistência ao poder. Enfim, essa
abordagem de análise preocupa-se com o nexo entre o saber e o poder, com a
ocorrência do balizamento dos mecanismos de poder no interior dos discursos
(FOUCAULT, 2012e).
Por isso que a expressão ‘vontade de verdade’, explica Veiga-Neto (2011a),
não deve ser entendida como o “amor à verdade”, mas como a vontade de
dominação empreendida por cada um por meio dos discursos que são regidos por
procedimentos que estabelecem o que não pode ser dito e pensável daquilo que
pode e, dentro do discurso dizível e pensável, distinguem o verdadeiro do que é
falso. A verdade, portanto, é intrínseca ao que a estabelece, isto é, o que estabelece
o regime de verdade “são os enunciados dentro de cada discurso que marcam e
sinalizam o que é tomado por verdade, num tempo e espaço determinado.” (VEIGA-
NETO, 2011a, p. 101). Os discursos, portanto, não são nem verdadeiros nem falsos,
em si mesmos, porque eles não descobrem verdades, senão as inventam. Veiga-
Neto (2011a) explica que as disciplinas são exatamente a delimitação de cada
campo formado por um conjunto de enunciados que concomitantemente
sistematizam um dado conteúdo e estabelecem a fronteira desse campo de saberes.
Analisar os discursos a partir das ferramentas foucaultianas é pensar sobre
os processos que estabelecem as verdades e os campos de saberes aos quais elas
se assentam; é “problematizar em torno dos regimes de verdade, e não
propriamente por dentro deles” (VEIGA-NETO, 2011a, p. 104), como procedem
algumas análises de conteúdo cuja ênfase é ou ler puramente os elementos lógicos
e formais do discurso ou ler o que não está no discurso, ou seja, seu caráter
ideológico. Na perspectiva foucaultiana de análise do discurso, o que interessa não
é formular uma verdade ou decifrar uma verdade não dita, mas é, diferentemente,
identificar e descrever os regimes de verdade que, ao mesmo tempo, sustentam os
discursos e são sustentados, justificados, criados e recriados por eles. É cartografar
os regimes de verdade, revelando as convergências e as tensões das vozes que
atuam na formação do discurso; é como cartografar as ramificações, as nervuras
que vão se desenhando devido ao exercício do poder/dos poderes e nas quais se
sustentam a emergência dos saberes e conhecimentos legitimados.
83
Isso significa que o texto é lido não como um documento, na sua linearidade
e internalidade. De outra forma, é lido como um monumento, isto é, é lido a partir
das relações que podem ser estabelecidas entre os seus enunciados e os regimes
de verdades que eles descrevem, “para, a partir daí, compreender a que poder(es)
atendem tais enunciados, qual/quais poder(es) os enunciados ativam e colocam em
circulação” (VEIGA-NETO, 2011a, p. 104). O que importa nesse tipo de análise é
compreender que o regime de verdade que acolhe e é sustentado por um enunciado
exclui outros, porque ao separar o que é dizível do que não é, o que é normal do que
não é, o que é verdadeiro daquilo que é falso, o enunciado atende “a determinada
vontade de verdade que, por sua vez, é a vontade final de um processo que tem, lá
na origem, uma vontade de poder” (VEIGA-NETO, 2011a, p. 105).
O que estabelece o dizível e o não dizível, o pensável e o não pensável e o
verdadeiro e o falso são os procedimentos de controle, restrição e coerção usados
na produção dos discursos, dos quais tratarei a seguir.
3.9 Procedimentos que atuam na ordem do discurso
Em A Ordem do Discurso, sua aula inaugural no Collège de France, em 02
de dezembro de 1970, Michel Foucault mostra os modos como os poderes se ligam
ao discurso na produção dos efeitos de verdade, explicitando “as potencialidades da
análise do discurso como ferramenta metodológica” (FERREIRA e TRAVERSINI,
2013, p. 208). Conforme Foucault (2010), os procedimentos de controle, restrição e
coerção usados na produção dos discursos ordenam a grande proliferação dos
discursos, impondo-lhes limites, interdições e supressões; são como parte de jogos
de limitações e exclusões que foram se constituindo no decorrer da história e que
agiram como instrumentos que suprimiram a realidade do discurso no pensamento
filosófico ocidental.
Foucault (2010) explica que a realidade do discurso deixou de ser exposta
ou ocupou menor importância quando se deixou de pensar o discurso como um
campo de batalha onde agem as forças produzidas nas relações, onde se operam
essas forças. Para Foucault (2010), essa supressão da realidade do discurso no
pensamento filosófico ocidental vem ocorrendo a partir de Platão, quando houve um
deslocamento de critérios definidores daquilo que se considerava ser “um discurso
verdadeiro”. A partir daí,
84
o pensamento ocidental tomou cuidado para que o discurso ocupasse o menor lugar possível entre pensamento e palavra; parece que tomou cuidado para que o discurso aparecesse apenas como um certo aporte entre pensar e falar; seria um pensamento revestido de seus signos e tornado visível pelas palavras, ou, inversamente, seriam as estruturas mesmas da língua postas em jogo e produzindo um efeito de sentido (FOUCAULT, 2010, p. 46).
De acordo com Foucault (2010), essa supressão da realidade do discurso
assume muitas formas no decorrer da história, dentre elas, os temas do sujeito
fundante ou fundador, da experiência originária e da mediação universal, cada qual
contribuindo de uma forma para que a realidade do discurso ficasse à sombra,
anulando-se e “inscrevendo-se na ordem do significante” (FOUCAULT, 2010, p. 49).
A invenção do sujeito fundador de panoramas de significações torneou a
função da história em explicitar esses panoramas e ofereceu à ciência o seu
fundamento, pois é em busca do conhecimento desse sujeito que as disciplinas se
organizaram. A fundação do sentido das coisas é atribuída a esse sujeito, ao qual a
capacidade de usar a razão e a lógica lhe garante a função de preencher as formas
vazias da língua com significações e de assimilar o sentido depositado nas coisas. A
esses sujeitos também é atribuída a função de fundar o sentido das coisas sem, no
entanto, “precisar passar pela instância singular do discurso” (FOUCAULT, 2010, p.
47), muito embora esse sujeito se aproprie dos recursos linguísticos (como as letras,
traços, signos etc.) para elaborar-se continuamente ou elaborar os saberes
relacionados a si mesmo.
Já o tema da experiência originária suprime a realidade do discurso do
pensamento filosófico ocidental porque atribui um sentido às coisas antes mesmo da
experiência, “as coisas murmuram, de antemão, um sentido que nossa linguagem
precisa apenas fazer manifestar-se” (FOUCAULT, 2010, p. 48).
Por fim, o tema da mediação universal leva o pensamento ocidental a crer
que há em toda parte um movimento de um logos que “permite desenvolver toda a
racionalidade do mundo [...] mas [que] não é senão um discurso já pronunciado”
(FOUCAULT, 2010, p.48).
Segundo Foucault (2010), no pensamento filosófico ocidental delineado por
esses temas, quando se propõe à análise dos discursos, a realidade própria do
discurso fica de fora, pois o primeiro desses temas restringe o discurso ao jogo da
escritura, o segundo ao jogo da leitura e o terceiro ao jogo da troca. Para Foucault
85
(2010), o pensamento filosófico ocidental manifesta uma veneração pelo discurso,
porque deseja universalizá-lo; mas essa veneração esconde
uma espécie de temor surdo desses acontecimentos, dessa massa de coisas ditas, do surgir de todos os enunciados, de tudo que possa haver aí de violento, de descontínuo, de combativo, de desordem, também, e de perigoso, desse grande zumbido incessante e desordenado do discurso (FOUCAULT, 2010, p. 50).
Enfrentar esse temor, para Foucault (2010), é analisá-lo em suas condições,
em seu jogo e seus efeitos, considerando a realidade própria do discurso. Para
tanto, é preciso, primeiro, ter a disposição de “questionar nossa vontade de verdade;
restituir ao discurso seu caráter de acontecimento; suspender, enfim, a soberania do
significante” 23 (FOUCAULT, 2010, p. 51); e, segundo, compreender os
procedimentos que colocam os discursos na ordem do que pode ser dito e, dentre o
dizível, o que é verdadeiro.
Esses procedimentos usados na produção dos discursos são apresentados
por Foucault (2010) em três grupos, procedimentos externos ao discurso, que tratam
dos poderes do discurso; procedimentos internos, que conjuram os acasos da
aparição dos discursos; e um terceiro grupo: “rarefação dos sujeitos que falam”, que
determina as condições de funcionamento dos discursos e de acesso aos discursos.
Os procedimentos externos são apresentados por Foucault como três
sistemas de exclusão que agem sobre o discurso, sendo eles a interdição, a
separação e a vontade de verdade. Esses procedimentos têm a função de conjurar
os poderes e perigos dos discursos, “dominar seu acontecimento aleatório, esquivar
sua pesada e temível materialidade” (FOUCAULT, 2010, p. 9), controlando,
selecionando, organizando e redistribuindo a produção dos discursos.
Foucault explica que esses procedimentos se exercem a partir do exterior
dos discursos, porque estão “à parte do discurso que põe em jogo o poder e o
desejo” (FOUCAULT, 2010, p. 21). A interdição revela a ligação da produção do
discurso com o desejo e o poder, e também mostra que o discurso não é apenas a
materialidade dos sistemas de dominação e da resistência a ele, mas evidencia que
23 Foucault adverte para as análises que se centram na estrutura da língua, aquelas valorizam o significante do signo linguístico e não às conexões entre os conteúdos e o exercício dos poderes que tornam possíveis a emergência dos saberes e a legitimação dos conhecimentos.
86
o discurso é aquilo que se quer apoderar, é, portanto, também, pelo que se tem
lutado.
Na interdição cruzam-se três tipos de interdições que formam um filtro
complexo que se modifica sempre, de acordo com as contingências. Uma parte
desse filtro é a interdição sobre o objeto do discurso, isto é, não se tem o direito de
falar sobre tudo a respeito de algo, sempre há uma zona proibitiva de se pronunciar;
a segunda é a interdição sobre a circunstância, quer dizer, não se pode falar sobre
as coisas em qualquer circunstância; e a terceira parte que compõem esse sistema
de filtragem é a interdição sobre o sujeito que fala, ou seja, um determinado discurso
recebe restrições dependendo de quem o pronuncia. Foucault resume essas
interdições como o “tabu do objeto, ritual da circunstância [e] direito privilegiado e
exclusivo do sujeito que fala” (FOUCAULT, 2010, p. 9).
Já o procedimento de separação age sobre o discurso separando de um
lado e rejeitando de outro, sem, no entanto, considerar as tramas dos poderes nas
quais essa separação se dá. Por exemplo, como ocorre com a separação do
discurso considerado verdadeiro daquele que é considerado como falso e do
discurso dito racional daquele que não é aceitável como racional (o discurso do
louco, por exemplo). Historicamente constituído, o procedimento da separação
produz o efeito de desligamento entre o discurso e o exercício do poder.
Foucault explica como isso se deu, retomando o que era considerado, no
século VI, na Grécia, um discurso verdadeiro, e o que, um século depois, a partir de
Platão, passou a ser valorizado no discurso para que ele fosse verdadeiro.
Resumidamente, Foucault acredita que o que era considerado um discurso
verdadeiro, antes de Platão, não separava os poderes do efeito discursivo produzido
com a enunciação do discurso, pois o poder profético do discurso se revelava na
contribuição da sua realização, suscitando “a adesão dos homens” (FOUCAULT,
2010, p. 15) na trama do destino. A partir de Platão, a verdade passou a não mais
residir no que o discurso “fazia, mas residia no que ele dizia: chegou um dia em que
a verdade se deslocou do ato ritualizado, eficaz e justo, de enunciação, para o
próprio enunciado: para seu sentido, sua forma, seu objeto, sua relação a sua
referência” (FOUCAULT, 2010, p. 15).
Essa separação histórica, ocorrida na antiguidade clássica, segundo
Foucault (2010), delineou outro procedimento de exclusão que se localiza na
exterioridade do discurso: a vontade de saber da sociedade ocidental moderna.
87
Muito embora a vontade de saber da Antiguidade Clássica e a vontade de saber da
sociedade moderna ocidental não tenham a mesma forma, elas possuem a mesma
nuance de distanciamento entre as malhas tecidas pelo exercício do poder e o que
se considera como discursos verdadeiros. Assim, nos diz Foucault (2010, p. 17),
apareceu uma vontade de saber, desde o século XVI, que impunha a constituição de
um certo tipo de sujeito cognoscente que assumisse uma “certa posição, certo olhar
e certa função (ver, em vez de ler, verificar, em vez de comentar)”; uma vontade de
verdade que já rascunhava modos de tornar possível observar, mensurar e
classificar objetos; uma vontade de verdade, enfim, prescritora de técnicas das quais
os conhecimentos deveriam ser investidos ao serem produzidos para serem
considerados verdadeiros (úteis e verificáveis). Por se apoiar nas instituições e se
moldar a partir da forma “como o saber é aplicado em uma sociedade, como é
valorizado, distribuído, repartido e de certo modo atribuído” (FOUCAULT, 2010, p.
17), a vontade de verdade é reforçada e reconduzida continuamente por meio de um
conjunto de práticas (dentre elas Foucault cita a pedagogia) e exerce sobre os
discursos um poder de coerção.
Os outros dois sistemas de exclusão de discursos, a interdição e a
separação, orientam-se sempre em direção da vontade de verdade, modificando-se
quando atravessados por essa vontade. No entanto, a vontade de verdade é, dos
três sistemas, o menos perceptível, pois ao separar o discurso do desejo e do poder,
o discurso não pode mais reconhecer a vontade de verdade que o apodera. Foucault
(2010) nos explica que a partir desses três sistemas de exclusão a verdade aparece
aos nossos olhos como esclarecedora e universal, acobertando a vontade de
verdade geradora desse efeito esclarecedor e universal; ignoramos a “prodigiosa
maquinaria destinada a excluir todos aqueles que, ponto por ponto, em nossa
história, procuraram contornar essa vontade de verdade, lá justamente onde a
verdade assume a tarefa de justificar a interdição e definir a loucura [...]”
(FOUCAULT, 2010, p. 20).
Quanto aos procedimentos que controlam os discursos a partir do seu
interior, esses funcionam como princípios de rarefação, porque têm a função de
espalhá-los por entre outros discursos. Foucault (2010) apresenta o comentário, o
autor e as disciplinas como procedimentos de controle interno dos discursos.
O comentário é responsável pelo desnivelamento entre o discurso primeiro e
aquele que o comenta, tornando possível a reaparição de alguns ditos e a
88
fugacidade de outros, proporcionando a conservação, permanência e a
transformação de algumas coisas ditas e a efemeridade de outras. Esse desnível
entre o texto primeiro e o comentário permite a construção de novos discursos a
partir de um já dito e permite sempre dizer algo além do texto devido ou à ênfase
que é dada ao que já foi dito ou àquilo que nunca se disse. Por meio do comentário,
é possível dizer sempre pela primeira vez o que já foi dito ou repetir sempre o que
jamais fora dito. Como afirma Foucault (2010, p. 26), “o novo não está no que é dito,
mas no acontecimento de sua volta”. O comentário, então, usa a forma da repetição
para atribuir identidade ao que fora dito ao acaso, transferindo o acaso, a
multiplicidade aberta e aquilo que se arriscou dizer em um discurso primeiro “para o
número, a forma, a máscara, a circunstância da repetição” (FOUCAULT, 2010, p. 26)
no discurso segundo.
Já o autor, por sua vez, é um princípio que usa a forma da individualidade
para limitar o acaso de um discurso primeiro ao jogo da identidade. Foucault explica
o procedimento do autor não “como o indivíduo falante que pronunciou ou escreveu
um texto, mas o autor como princípio de agrupamento do discurso, como unidade e
origem de suas significações, como foco de sua coerência” (FOUCAULT, 2010, p.
26). O que importa nessa perspectiva de análise de discurso é a função-autor e não
a autoria em si do discurso, mas a posição da função de autoria em relação ao
campo discursivo.
O terceiro procedimento interno ao discurso responsável por limitar o dito
dos discursos, ou seja, por controlar sua produção, são as disciplinas, que Foucault
(2010, p.30) define como “um domínio de objetos, um conjunto de métodos, um
corpus de proposições consideradas verdadeiras, um jogo de regras e de definições,
de técnicas e de instrumentos” que está à disposição para o uso de todos, pois as
disciplinas não estão associadas a alguém que as tenha inventado. Nas disciplinas
requer-se sempre a construção de novos enunciados, pois “para que haja disciplina
é preciso [...] que haja possibilidade de formular indefinidamente, proposições novas”
(FOUCAULT, 2010, p.30).
O terceiro grupo de procedimentos usados na produção de discurso
compreende a rarefação de sujeitos que falam e tem a função de impor condições
aos sujeitos, a fim de assegurar que nem todos terão acesso a determinados
discursos, ou seja, “ninguém entrará na ordem do discurso se não satisfizer a certas
exigências ou se não for, de início, qualificado para fazê-lo” (FOUCAULT, 2010, p.
89
37). A troca e a comunicação de conhecimentos, verdades e saberes não
funcionam sem os sistemas de restrição que estão envolvidos na produção desses
conhecimentos, verdades e saberes. A forma mais visível dos sistemas de restrição
é constituída pelo o que Foucault (2010) chama de ritual que
define a qualificação que devem possuir os indivíduos que falam (e que, no jogo de um diálogo, da interrogação, da recitação, devem ocupar determinada posição e formular determinado tipo de enunciado); define os gestos, os comportamentos, as circunstâncias, e todo o conjunto de signos que devem acompanhar o discurso; fixa enfim, a eficácia suposta ou imposta das palavras, seu efeito sobre aqueles aos quais se dirigem, os limites de seu valor de coerção. (FOUCAULT, 2010, p.39).
Além de compreender os procedimentos em torno da ordenação dos
discursos, Foucault (2010) discute alguns princípios que comporiam algumas
exigências quanto ao método adotado por ele ao analisar os discursos: os princípios
de inversão, de descontinuidade, da especificidade e da exterioridade. Esses
princípios levam às quatro noções reguladoras para a análise de discurso proposta
pelo filósofo: a noção de acontecimento, de série, de regularidade e a de condição
de possibilidade.
Segundo Foucault (2010), essas noções afastam-se do modo como a
história tradicional das ideias tem feito as suas análises, pois enquanto essa
“procurava o ponto da criação, a unidade de uma obra, de uma época ou de um
tema, a marca da originalidade individual e o tesouro indefinido das significações
ocultas” (FOUCAULT, 2010, p. 54), a proposta foucaultiana de analisar o discurso
opõe o “acontecimento à criação, a série à unidade, a regularidade à originalidade e
a condição de possibilidade à significação” (FOUCAULT, 2010, p. 54).
O princípio de inversão traduz a necessidade de reconhecer o jogo do
recorte pelo qual se constitui o discurso, não reconhecendo no discurso uma
continuidade, mas uma rarefação que leva aos demais outros princípios. O princípio
da descontinuidade permite encarar a rarefação dos discursos não como malhas que
levam a um grande discurso universal, ilimitado e contínuo, camuflado pelos
sistemas de rarefação, e no qual o analista tem obrigação de descobrir o não-dito ou
o não-pensado escondido nas entrelinhas. De outra forma, o princípio da
descontinuidade aborda os discursos como “práticas descontínuas, que se cruzam,
por vezes, mas também se ignoram ou se excluem” (FOUCAULT, 2010, p. 53). O
90
princípio da especificidade, por sua vez, garante ao analista “não transformar o
discurso em um jogo de significações prévias” (FOUCAULT, 2010, p. 53), pois esse
princípio sugere abordar “o discurso como uma violência [...] às coisas, como uma
prática que lhe impomos [...]; e é nesta prática que os acontecimentos do discurso
encontram o princípio de sua regularidade” (FOUCAULT, 2010, p. 53). Já o princípio
da exterioridade permite ao analista partir da emergência e da regularidade do
discurso e “passar às suas condições externas de possibilidade, àquilo que dá lugar
à série aleatória desses acontecimentos e fixa suas fronteiras” (FOUCAULT, 2010,
p. 53), evitando que o analista passe do discurso para a significação manifestada
pelo discurso.
Esses princípios propostos e seguidos por Foucault asseguram deslocar a
análise da causalidade para a da casualidade, a do contínuo para a do descontínuo,
a da representação para a da materialidade; esses princípios garantem à analise da
história das ideias afastar-se da narração do “desenrolar contínuo de uma
necessidade ideal” (Foucault, 2010, p. 59-60) e permite ao pensamento refletir sobre
o acaso e o descontínuo. Ao seguir esses princípios, Foucault propõe-se a enfrentar
aquele temor, construído historicamente, o temor em observar a realidade do
discurso.
As análises discursivas realizadas por Foucault se dispõem em dois
conjuntos: o crítico ou arqueológico e o genealógico. Foucault (2010) explica que o
conjunto crítico trata-se da análise do que controla o discurso e coloca em prática o
princípio da inversão, porque permite “perceber como se realizou, [...] como se
repetiu, se reconduziu, se deslocou essa escolha da verdade no interior da qual nos
encontramos, mas que renovamos continuamente” (FOUCAULT, 2010, p.62), bem
como possibilita medir o efeito de um discurso com pretensão científica sobre um
conjunto de práticas e de discursos prescritivos (Foucault cita o efeito do discurso
psiquiátrico, médico e sociológico nos discursos do sistema penal). Esse conjunto
versa sobre as funções de exclusão, ou seja, as formas da exclusão, da limitação e
da apropriação; bem como aborda os procedimentos de limitação dos discursos,
proporcionando detectar na construção do discurso como funcionam os princípios do
autor, do comentário e da disciplina.
De outro modo, Foucault (2010) esclarece que o conjunto genealógico de
estudos coloca em prática os princípios de descontinuidade, de especificidade e de
exterioridade, porque procura perceber “como se formaram, através, apesar, ou com
91
o apoio desses sistemas de coerção, séries de discursos; qual foi a norma específica
de cada uma e quais foram suas condições de aparição, de crescimento, de
variação” (FOUCAULT, 2010, p. 61).
Conforme Foucault (2010), os procedimentos de análise utilizados por esses
dois conjuntos nunca são exclusivos de um ou de outro conjunto, porque essas
tarefas nunca se separam completamente; conforme o filósofo, o que diferencia a
arqueologia da genealogia não é o objeto nem o domínio, de outra forma, é o ponto
de ataque, a perspectiva e a delimitação. Para Foucault (2010, p. 65-66), enfim, “a
crítica analisa os processos de rarefação, mas também de reagrupamento e de
unificação dos discursos; a genealogia estuda sua formação ao mesmo tempo
dispersa, descontínua e regular”, no entanto, esses dois tipos de análises se
alternam e se apoiam uma na outra, complementando-se.
Nos textos que serão analisados mais a frente, no quinto capítulo deste
trabalho, procurei utilizar a noção de discurso de Foucault e as seguintes
ferramentas de análise apresentadas até aqui: ocupei-me do objeto necessidade
formativa docente como um acontecimento; utilizei a norma, a função autor, o
comentário, a noção de biopolítica para compreender a ordem discursiva na qual o
objeto necessidade de formação docente emerge.
Antes, entretanto, no próximo capítulo, apresento algumas aproximações
entre o referencial teórico-metodológico elaborado por Foucault e o campo
educacional.
92
4 BIOPOLÍTICA, GOVERNAMENTALIDADE E EDUCAÇÃO
Todo sistema de educação é uma maneira política de manter ou de
modificar a apropriação dos discursos, com os saberes e os poderes que eles trazem consigo (FOUCAULT, 2010, p.
44).
Este capítulo destina-se a aproximar o referencial teórico-metodológico
proposto por Michel Foucault de problemáticas próprias ao campo da educação,
pois, embora esse filósofo não tenha trabalhado diretamente com temas
educacionais, outros pesquisadores - aos quais citarei ainda neste capítulo - o
fizeram, usando as ferramentas teóricas e metodológicas elaboradas por ele. Nesse
sentido, no primeiro item deste capítulo, discuto a possibilidade de abordar temas
relacionados à educação, apontados por Foucault em algumas entrevistas, a partir
do referencial forjado por ele nas suas pesquisas; já no segundo tópico, apresento
possibilidades de estudo que utilizam as noções de governamentalidade e bipolítica
no campo da educação; no terceiro item, apresento ideias de alguns autores que
relacionam a emergência das ciências da educação ao exercício do poder biopolítico
nas sociedades governamentalizadas; no quarto item, comento estudos que
reconhecem o processo de pedagogização da sociedade como uma estratégia
biopolítica da racionalidade neoliberal; e, por fim, no último tópico dedico-me a
discutir a emergência da formação continuada como uma prática decorrente do
exercício do poder normalizador.
4.1 Foucault e a educação
Embora Michel Foucault não tenha se dedicado especificamente ao estudo
dos temas educacionais - pois eles sempre aparecem, em sua obra, relacionados a
outros temas (CASTRO, 2009; GADELHA, 2009; MARÍN DÍAZ e NOGUERA
RAMÍREZ, 2013) - isso não significa que ele ignorava a relevância do sistema
educacional, de suas práticas, de suas políticas, de seus mecanismos e
instrumentos ao exercício do poder. Motta (2012, p. XXIX) esclarece que Foucault
ressaltava haver entre as instituições uma “identidade morfológica” (FOUCAULT,
2012e, p.72) do sistema de poder, que perpassa todas elas, inclusive as
93
educacionais. É essa identidade do exercício do poder entre as diferentes
instituições sociais que permite aos pesquisadores utilizar as ferramentas teórico-
metodológicas forjadas pelo filósofo francês para investigar assuntos relacionados à
área educacional, apesar dele não ter se ocupado especificamente dela.
Um exemplo dessa identidade morfológica é a comparação entre o sistema
psiquiátrico e o sistema do ensino superior feita por Foucault ao ser questionado a
esse respeito, em uma entrevista concedida em 1971. Nessa entrevista, Foucault
(2012d) esclarece que os mecanismos de exclusão e aprisionamento também estão
presentes no campo educacional, mas se manifestam de modo diferente daqueles
próprios do sistema psiquiátrico, pois, diferentemente do estudante, ao louco não se
oferece o mesmo espaço para a contestação. No caso dos loucos, a crítica ao
sistema psiquiátrico é possível apenas do exterior, diferentemente do que ocorre no
sistema universitário, que pode ser contestado pelos próprios estudantes, pois nesse
âmbito, as críticas dos teóricos, especialistas, historiadores não bastam, sendo “os
estudantes [...] seus próprios arquivistas” (FOUCAULT, 2012d, p.13). No entanto,
Foucault lembra que essa contestação dos estudantes somente é possível desde
que estes consigam se desvencilhar dos mecanismos de exclusão/inclusão também
presentes na universidade.
Foucault explica essa diferença entre os mesmos mecanismos de
exclusão/inclusão ao analisar o maior acesso, a partir do século XX, de pessoas
provenientes de uma burguesia mais empobrecida aos campi universitários.
Segundo Foucault (2012d), quando a universidade percebeu um certo potencial
revolucionário dentro de seus muros, passou a preocupar-se, cada vez mais, em
reforçar os mecanismos de exclusão e inclusão, assegurando “um número sempre
crescente de rituais de inclusão no interior de um sistema de normas capitalistas”
(FOUCAULT, 2012d, p. 15). Foucault (2012d) esclarece que os estudantes, assim
como os loucos, são aprisionados em um circuito que tem dupla função, primeiro a
de excluir e depois a de incluir. O saber transmitido e os rituais acadêmicos
vivenciados pelos estudantes - “as relações hierárquicas, os exercícios
universitários, a banca examinadora, todo o ritual de avaliação” (FOUCAULT, 2012d,
p. 14) - na universidade afastam-no das necessidades e dos problemas do mundo
atual, porque criam em torno dele uma espécie de “sociedade teatral” ou “sociedade
de papelão”, mediante a qual os estudantes são “[...] neutralizados para e pela
sociedade, tornados confiáveis, impotentes, castrados, política e socialmente”
94
(FOUCAULT, 2012d, p. 14). Essa é a primeira função desse circuito. A sua segunda
função é reincluir o estudante na sociedade, depois de ter vivido alguns anos de sua
vida nessa sociedade artificial recriada pelos mecanismos de exclusão do sistema
de ensino superior, ele se torna assimilável, “a sociedade pode consumi-lo”
(FOUCAULT, 2012d, p. 14).
Então, já em 1971, Foucault demonstra compreender que o sistema
educacional se sustenta na eficácia dos saberes e no exercício dos poderes como
reguladores do comportamento humano e da subjetivação de indivíduos: Insidiosamente, ele [o estudante] recebeu os valores dessa sociedade. Ele recebeu modelos de conduta socialmente desejáveis, formas de ambição, elementos de um comportamento político, de modo que esse ritual de exclusão termina por tomar a forma de uma inclusão e de uma recuperação, ou de uma reabsorção (FOUCAULT, 2012d, p. 14).
Nessa mesma entrevista, quando questionado sobre a posição do professor
em relação à dupla função de exclusão/inclusão do sistema de ensino superior,
Foucault chama a atenção para duas coisas: primeiro, ressalta o status de
funcionário do professor, posição que o obriga a perpetuar os saberes exigidos pela
instituição a que se insere; segundo, o fato do professor ter sido produzido no
interior dessa sistemática de exclusão/inclusão.
Embora essa entrevista não tenha como enfoque nenhum dos assuntos
ligados à educação, notamos que o sistema educacional é uma estrutura privilegiada
do exercício de poder com a mesma identidade morfológica24, também exercida no
sistema penitenciário e psiquiátrico, no que se refere ao modelo de exclusão e
inclusão. Nesse sentido, as ferramentas teóricas forjadas por Foucault podem ser
utilizadas na análise de outros âmbitos que não aqueles visitados pelo seu criador.
Apresentamos, a seguir, algumas considerações de pesquisadores que, a
partir das noções de biopolítica e governamentalidade, analisaram temas do âmbito
24 Michel Foucault classifica pelo menos três identidades morfológicas diferentes para o exercício do poder: o poder soberano, o poder disciplinar e o bipoder. Isso, porém, não significa que o exercício do poder seja engessado nessas três formas e que não existirão outras identidades morfológicas para o seu exercício. Como já pronunciado em capítulo anterior, Maurizio Lazzarato, em As revoluções do capitalismo, chama a atenção para a emergência na contemporaneidade de um tipo de exercício de poder característico da governamentalidade neoliberal, o noopoder.
95
da educação, dentre os quais, as políticas educacionais, a emergência dos saberes
relacionados ao ensino e a formação continuada de professores.
4.2 Biopolítica e governamentalidade: ferramentas para a pesquisa educacional
A relação entre a biopolítica e a educação não é evidente na obra
foucaultiana. Gadelha (2009, p.15) salienta que, ao tratar dos mecanismos
estratégicos da biopolítica, Foucault detém-se nos assuntos relacionados com a
“medicina social [...], a polícia, a previdência social e o racismo biológico do Estado”
(GADELHA, 2009, p.15) e não especificamente aos elementos relacionados à
educação. No entanto, Gadelha (2009) constatou que, paulatinamente e
discretamente, o conceito de biopolítica tem adentrado às discussões,
primeiramente, sobre assuntos relacionados ao meio ambiente e à saúde coletiva e,
secundariamente, a questões relacionadas às políticas públicas nos campos da
saúde, da educação e da segurança pública25.
Essa relação entre biopolítica e educação, segundo Gadelha (2009), verifica-
se ao se analisar os processos de normalização, justamente porque a norma incide,
ao mesmo tempo, sobre o indivíduo, subjetivando-o, e sobre a população,
regulamentando-a. Para Gadelha (2009), a norma disciplinar, atuante sobre o corpo
individual, e a norma da regulamentação, incidente sobre o corpo-espécie como
biopolítica, se cruzam no campo das práticas e dos saberes da educação, bem como
no âmbito das políticas educacionais, uma vez que essas são estratégias que
instrumentalizam, operacionalizam e produzem efeitos de saber-poder,
“incrementando novas formas de governamentalidade” (GADELHA, 2009, p. 175).
Em função desse cruzamento, a pedagogia moderna emerge baseada em
práticas e saberes das ciências humanas como a Sociologia, Antropologia, História,
25 Entretanto, Gadelha (2009) faz uma ressalva sobre o uso do termo, pois verificou que a biopolítica e os problemas relacionados a ela tem sido abordados a partir de uma perspectiva de análise do poder que se afasta daquela praticada por Foucault. Segundo Gadelha, a biopolítica e os assuntos pertinentes a ela têm sido tratados a partir da perspectiva de análise do poder “jurídico-política e/ou jurídico-filosófica” e não a partir da perspectiva histórico-filosófica proposta por Foucault (já abordadas anteriormente). Para Gadelha, para se compreender o que é biopolítica há a necessidade de se compreender a diferença entre essas perspectivas de análise do poder, pois elas concebem o poder de formas diferentes.
96
Direito, Economia e Psicologia que se cruzam ou se completam com outras práticas
e saberes das disciplinas clínicas como a Medicina, Psiquiatria, Pediatria e
Psicanálise, perfazendo os ditos fundamentos da educação “que irão consubstanciar
o ‘sujeito da educação’, ou seja, que irão moldar esse misto de objeto e objetivo que
constitui a razão de ser da ação dos educadores” (GADELHA, 2009, p.176).
Ainda para Gadelha (2009), a inserção da noção de biopolítica nas
discussões referentes às políticas públicas no campo da educação é também
possível devido às mudanças no pensamento foucaultiano no decorrer de sua obra,
possibilitadas pelo estudo dos dispositivos de segurança e pela criação da noção de
governamentalidade, bem como pela ampliação posterior dessa noção à dimensão
ética. Em consequência da introdução da noção de governamentalidade a partir dos
cursos Segurança, território e população (1977-1978) e Nascimento da biopolítica
(1978-1979), Foucault também amplia a noção de biopolítica, afirma Gadelha (2009),
pois desloca seu foco de atenção às estratégias e dispositivos biopolíticos
relacionados à “noção de governo, isto é, tipos de racionalidade que envolvem
conjuntos de procedimentos, mecanismos, táticas, saberes, técnicas e instrumentos
destinados a dirigir a conduta dos homens” (GADELHA, 2009, p. 120). Para Gadelha
(2009), ao reinscrever a biopolítica à noção de governamentalidade, o pensamento
foucaultiano possibilita o uso dessas noções como ferramentas para análise dos
mecanismos de exercício de poder no campo da educação.
Conforme nos explica Veiga-Neto e Traversini (2009), a noção de
governamentalidade utilizada na análise dos assuntos educacionais pode evidenciar
o como e o porquê, no decorrer da Modernidade, a educação escolar se tornou
objeto e objetivo do Estado moderno. Sendo assim, a escola se tornou, desde então,
a instituição que melhor articula a “genealogia do sujeito com a genealogia do
Estado” (VEIGA-NETO e TRAVERSINI, 2009, p.16), se firmando como espaço
preponderante para a subjetivação dos sujeitos em favor do poder disciplinar. A
escola funcionaria, desde então, como uma “dobradiça entre o saber e o poder”
(VEIGA-NETO, 2008, p.30), constituindo-se em um local privilegiado de poderosos
processos de subjetivação. A escola localiza-se, portanto, em posição estratégica
importante do exercício dos poderes.
É essa posição estratégica da escola que possibilita uma característica
contemporânea dos processos educativos: o deslocamento da subjetivação,
operacionalizada pela escola, para outros espaços sociais mais amplos, fora do
97
âmbito escolar (VEIGA-NETO, 2008). Dessa forma, os assuntos relacionados à
formação continuada ou à aprendizagem ao longo da vida são passíveis de
problematizações quando aproximamos as práticas educativas das práticas de
governamento disciplinar e da governamentalidade liberal e neoliberal.
De acordo com Marín Díaz e Noguera Ramírez (2013), as práticas de
governamento encontraram nas práticas pedagógicas sua principal forma de
desdobramento, pois as questões de governo sempre estiveram relacionadas
intimamente aos assuntos de ordem educativa e pedagógica, já que ambas “se
ocupam da condução da própria conduta e da conduta dos outros”26 (MARÍN DÍAZ e
NOGUERA RAMÍREZ, p. 158, 2013). Marín Díaz e Noguera Ramírez (2013), ao
investigarem a emergência da Didática, entre os séculos XVI e XVII, e da
emergência da noção de “educação” entre os séculos XVIII e XIX, esclarecem que
ambos saberes pedagógicos estiveram articulados a dispositivos do exercício do
poder, no primeiro caso ao poder disciplinar, e, no segundo, a dispositivos
vinculados à governamentalidade liberal. Para esses autores, é possível verificar
esse deslocamento por causa do uso da noção de governamentalidade como
ferramenta para a análise da emergência dos saberes relacionados às “ciências do
ensino” (MARÍN DÍAZ e NOGUERA RAMÍREZ, 2013).
Assim como Gadelha (2009), Veiga – Neto (2008), Veiga – Neto e Traversini
(2009) e Marín Díaz e Noguera Ramírez (2013), Aquino (2011) percebe que o uso
da noção de governamentalidade é útil na problematização do exercício da liberdade
no âmbito da educação, por isso ele propõe que ela seja utilizada como uma
plataforma analítica para os estudos educacionais. Para esse autor, a
problematização dos processos de governamentalização presentes no campo
educacional, alarga os horizontes da pesquisa nessa área, pois confere às
pesquisas educacionais outra perspectiva ética-política, diferente tanto daquela
inscrita por pressupostos vinculados à “tradição científico-iluminista hegemônica”
quanto daquela adepta aos “crivos político-ideológicos determinados pelas vertentes
críticas” (AQUINO, 2011, p. 198).
Para Aquino (2011), com o uso dessa ferramenta, é possível ultrapassar a
dicotomia determinismo social versus subjetividade que tanto preocupa as ciências
humanas e sociais, justamente porque a noção de governamentalidade se explica 26 No original: “se ocupan de la conducción de la conducta propia y de los otros” (a tradução é minha).
98
pelo contato entre as tecnologias de dominação sobre o outro e as tecnologias de si.
Em consequência disso, seria possível, então, compreender que as “estratégias
psicopedagogizantes” (AQUINO, 2011, p. 200) de governamento, tanto do aluno
quanto do professor, utilizadas na contemporaneidade não agem por meio da
imposição, mas por meio de um tipo de jogo com a liberdade dos indivíduos
envolvidos. Essas estratégias assumem a função de normalizar os modos de vida
das populações a partir de dinâmicas tanto de individualização quanto de totalização
(AQUINO e RIBEIRO, 2009; AQUINO, 2011). Para Aquino (2011), então, o estudo
dos temas educacionais, tendo em vista a noção de governamentalidade, é
importante porque os professores são “um segmento populacional amplamente
visado quanto à exaltação e à incorporação contínuas de missões de cunho
governamentalizador” (AQUINO, 2011, p. 202).
Alguns exemplos de estudos que utilizaram a governamentalidade como
ferramenta conceitual foram os realizados por Veiga-Neto e Lopes (2007), por Lopes
(2011) e por Lopes e Rech (2013) que se dedicaram a analisar as políticas de
inclusão escolar, implementadas no Brasil, na atualidade, utilizando como
ferramentas analíticas as noções de governamentalidade e biopolítica; bem como de
César, Duarte e Sierra (2013), que também se utilizaram da noção de
governamentalidade para investigar as políticas curriculares para o favorecimento da
inclusão social e jurídica das populações classificadas como LGBT (lésbicas, gays,
bissexuais, travestis e transsexuais); Fymiar (2009) ao estudar as políticas
educacionais relacionadas à avaliação do nível médio da Educação Básica
ucraniânia, no período pós-comunista.
Na seção seguinte, ainda na tentativa de aproximar os estudos foucaultianos
aos assuntos da educação, procuro mostrar como as ciências da educação surgem
como tecnologia biopolítica das sociedades governamentalizadas e a articulação da
emergência dessas ciências à racionalidade liberal ao deslocar o foco da relação
ensino-aprendizagem para a aprendizagem, e à racionalidade neoliberal ao elaborar
a Teoria do Capital Humano como possibilidade de análise em termos estritamente
econômicos do processo educativo.
99
4.3 A emergência das ciências da educação como tecnologia biopolítica das sociedades governamentalizadas e sua articulação com a racionalidade liberal e neoliberal
A constituição de alguns saberes, noções, conceitos e práticas da educação
e da pedagogia são produtos da preocupação de como governar os indivíduos e as
populações a partir das sociedades governamentalizadas (MARÍN DÍAZ e
NOGUERA RAMÍREZ, 2013; BALL, 2013). Conforme Marín Díaz e Noguera
Ramírez (2013), Foucault menciona em seus estudos que as práticas pedagógicas
foram muito importantes para que se resolvesse a crise do governo dos homens,
pela qual passou o Ocidente, entre os séculos XV e XVI, justamente porque elas são
“práticas destinadas a conduzir condutas: formar, instruir, disciplinar, ensinar,
orientar etc.”27 (MARÍN DÍAZ e NOGUERA RAMÍREZ, 2013, p. 158). Nesse sentido,
por um lado, a emergência da Didática e das noções de ‘instrução’ e ‘ensino’, entre
os séculos XVI e XVII, fazem parte de um conjunto de dispositivos que expressa e
materializa a forma de pensamento do poder disciplinar. Por outro, a emergência da
noção de ‘educação’ nos discursos pedagógicos, entre os séculos XVIII e XIX, bem
como da compreensão da liberdade como prática da ação pedagógica, nos séculos
XIX e XX, materializam uma forma de pensamento vinculada aos dispositivos da
governamentalidade liberal (MARÍN DÍAZ e NOGUERA RAMÍREZ, 2013).
Por isso, para Marín Díaz e Noguera Ramírez (2013), a Didática Magna e
Emílio são as obras fundadoras da pedagogia moderna, porque expressam nas
práticas discursivas e não discursivas, as nuances da disciplina e do liberalismo.
Esses autores, ao investigarem a emergência desses saberes pedagógicos,
constatam que a modernidade inventou a necessidade de ensinar tudo a todos
durante toda a vida, desde o nascimento até a morte, e quem delineou esse
princípio foi Comenius em Didática Magna e, sobretudo, em Pampoedia. Segundo
esses autores, Comenius materializou, nas práticas discursivas, “a utopia
pedagógica da primeira parte da modernidade”28 (p.160) cujo princípio era pensar a
sociedade como uma grande escola, esboçando, assim, “o mapa educativo com o 27 No original: “prácticas destinadas a conducir conductas: formar, instruir, disciplinar, enseñar, orientar, etc.” (a tradução é minha). 28 No original: “la utopia pedagógica de la primera parte de la modernidad” (a tradução é minha).
100
qual, até hoje, nossas sociedades se orientam” 29 (MARÍN DÍAZ e NOGUERA
RAMÍREZ, p.160, 2013). O lema da “arte de ensinar tudo a todos” fazia parte de um
projeto muito mais amplo do que aquele restrito ao meio educativo, pois buscava
sujeitar o indivíduo “a um regime disciplinar baseado no ensinar e aprender
constante e por toda a vida”30 (MARÍN DÍAZ e NOGUERA RAMÍREZ, p. 160, 2013).
Dessa forma, a emergência da Didática foi possível porque suas verdades ou
saberes passaram a fazer parte do processo de constituição da Razão de Estado,
desde o século XV, no Ocidente.
Nesse contexto, os governantes se esforçavam para praticar um governo no
qual o Estado passa a ser o princípio de inteligibilidade, as técnicas disciplinares que
estavam confinadas nos mosteiros e nas comunidades religiosas expandiram-se
para outros espaços sociais e, então, “o ensino e a instrução deixaram de ser um
assunto de colégios e universidades e se transformaram em um problema de
‘polícia’ e, por tanto um foco de atenção do governo”31 (MARÍN DÍAZ e NOGUERA
RAMÍREZ, p. 159, 2013).
Algo semelhante ocorre com a noção de “educação”. Conforme Marín Díaz e
Noguera Ramírez (2013), esse termo é bastante recente no contexto discursivo
pedagógico, emergindo no final do século XVII, com John Locke, e se fixando e
delineando durante os séculos XVIII e XIX, devido a um novo esboço de regime de
verdade enunciadas em Emílio, de Jean Jacques Rousseau. Para esses autores,
embora tenha sido Locke quem inaugurou o termo ‘education’, em 1693, em Some
thoughts concerning education, foi Rousseau, setenta anos depois, que deu à
palavra seu sentido moderno. Locke enfatizava “um governo pedagógico disciplinar”
(MARÍN DÍAZ e NOGUERA RAMÌREZ, 2013, p. 162) cuja disciplina, a importância
do exercício e da repetição na constituição de hábitos eram ressaltados. Rousseau,
por sua vez, inaugura um “governo pedagógico liberal” no qual “estabelece uma
nova forma de educação, condução, direção (governamento) do ‘homem’,
29 No original: “el mapa educativo con el cual, hasta hoy, nuestras sociedades se orientan” (a tradução é minha). 30 No original: “a un régimen disciplinario basado en un enseñar y aprender constante y por toda la vida” (a tradução é minha). 31 No original: “la enseñanza y la instrucción dejaron de ser um asunto de colégios y universidades y se volvieron un problema de ‘policía’ y, por tanto um foco de atención del gobierno” (a tradução é minha).
101
fundamentada nas ideias da natureza, liberdade e interesse (ou desejo) do agente
que aprende (a criança)”32 (MARÍN DÍAZ e NOGUERA RAMÍREZ, p. 162, 2013).
Marín Díaz e Noguera Ramírez (2013) esclarecem que a discussão em torno
da liberdade de quem aprende também está em Kant, que problematiza o estado
natural da liberdade do ser humano. Para Kant, o ser humano não nasce livre, ele
constrói a sua liberdade quando se distancia da sua natureza animal em direção da
constituição da sua natureza humana, que envolve a formação do pensamento e,
portanto, da própria liberdade (MARÍN DÍAZ e NOGUERA RAMÍREZ, 2013). Para
esses autores, em Kant, encontra-se a ideia de que a educação é um “processo
destinado a produzir autonomia no pensamento e na ação, a partir da disciplina e da
coação”33 (p.164), configurando uma relação paradoxal entre educação e liberdade,
paradoxo ainda presente como princípio na educação atual, em tempos de
neoliberalismo.
Tanto Rousseau quanto Kant, portanto, expressam por meio de suas ideias uma forma de pensar que articula perfeitamente práticas disciplinares e discursos naturalistas e liberalismo, se inscrevendo na matriz de pensamento filosófica e moral que teve nos dispositivos de seguridade seu correlato e na educação uma de suas principais estratégias de governo (MARÍN DÍAZ e NOGUERA RAMÌREZ, p. 166, 2013, minha tradução34).
Baseados nesses pressupostos, Marín Díaz e Noguera Ramírez (2013)
entendem a governamentalidade como um processo que levou todo o Ocidente,
desde o século XVI, a se transformar em uma sociedade educadora que motivou a
emergência de novas disciplinas, dentre as quais, a Didática e as ciências da
educação. A configuração dessa sociedade educadora apoiou-se, primeiro, no
princípio de ensinar tudo a todos ao qual, depois, se acoplou o princípio da
educação de todos como estratégia de alcançar a ‘liberdade’, princípio que
32 No original: “establece una nueva forma de educación, condución, dirección (gobernamiento) del ‘hombre’, fundamentada en las ideas de naturaleza, liberdad e interes (o deseo) del agente que aprende (el niño)” ( a tradução é minha). 33 No original: “proceso destinado a producir autonomía en el pensamiento y en la acción, a partir de la disciplina e de la coacción” (a tradução é minha). 34 No original: “[...] una forma de pensar que articula perfectamente, prácticas disciplinares, y discursos naturalistas y liberalismo, inscribiéndose en la matriz de pensamiento filosófica y moral que tuvo en los dispositivos de seguridad su correlato y en la educación una de sus principales estrategias de gobierno”.
102
permanece sólido, nos processos de governamentalização educacionais
contemporâneos. Assim, as práticas educacionais são “uma prova histórica do vigor
da governamentalidade” (AQUINO, 2013, p. 203) em subjetivar e normalizar, visto
que as práticas educacionais são práticas sociais de amplo espectro, sem, contudo,
deixar de ser eficientes na condução de cada gesto do indivíduo. Daí o efeito das
práticas e saberes educacionais transpassarem os muros da escola para outros
âmbitos, espaços e tempos transitáveis pelo indivíduo.
Essa migração das verdades educacionais para outros campos da
sociedade articula-se com o investimento dos neoliberais em deslocar os valores
restritos somente à análise das relações econômicas para a análise de relações
sociais fora do âmbito da economia. No curso Nascimento da biopolítica (1978-
1979), Foucault evidencia a migração de valores econômicos para outros âmbitos da
vida social a partir da elaboração da Teoria do Capital Humano pelos neoliberais
norte-americanos, por meio de políticas de subjetivação com um forte poder
normativo cujo efeito é a produção de indivíduos empresários de si mesmos. Essas
análises dos neoliberais norte-americanos a partir do investimento no chamado
capital humano buscavam responder, dentre outras perguntas, como o capital
humano poderia ser adquirido por meio de políticas educacionais (GADELHA, 2009).
Foucault, nesse curso, aborda a Teoria do Capital Humano para mostrar que
o liberalismo nos Estados Unidos se desenvolveu como uma maneira de ser e de
pensar e, portanto, esse autor o considera como um “método de pensamento, uma
grade de análise econômica e sociológica” (FOUCAULT, 2008a, p. 301) que surge a
partir das críticas dos neoliberais norte-americanos à teoria liberal clássica.
A crítica que os neoliberais fazem ao liberalismo clássico, segundo Foucault
(2008a), reside no fato de que para os neoliberais norte-americanos, a análise
econômica não deveria consistir apenas no “estudo dos mecanismos de produção,
dos mecanismos de troca e dos fatos de consumo no interior de uma estrutura
social” (FOUCAULT, 2008a, p. 306), mas a análise deveria também se ocupar da
natureza e das consequências de como são “alocados recursos raros para fins que
são concorrentes , isto é, para fins que são alternativos, que não podem se superpor
uns aos outros” (FOUCAULT, 2008a, p. 306). Para os neoliberais norte-americanos,
portanto, a análise econômica deveria ter como referência “o estudo da maneira
como os indivíduos fazem a alocação desses recursos raros para fins que são fins
alternativos” (idem, ibidem, p. 306). Para Foucault (2008a), esse deslocamento da
103
análise econômica proposta pelos neoliberais possibilita a análise do
comportamento humano e da sua racionalidade interna em termos econômicos.
Nesse sentido, a análise do ‘trabalho’, nos moldes da teoria clássica do
liberalismo, desloca-se do interesse em saber quanto custa o trabalho, qual o seu
valor e o que ele produz para “como quem trabalha utiliza os recursos de que
dispõe” (FOUCAULT, 2008a, p. 307). Assim, os neoliberais norte-americanos
introduzem um tipo de racionalidade estratégica interessada em saber os efeitos
econômicos provocados pelas diferenças qualitativas de trabalho. Foucault nos
explica que esse deslocamento do interesse do saber a respeito do trabalho introduz
o trabalho no campo da análise econômica a partir do ponto de vista de quem
trabalha e, nesse caso,
será preciso estudar o trabalho como conduta econômica, como conduta econômica praticada, aplicada, racionalizada, calculada por quem trabalha. [...] Situar-se, portanto, do ponto de vista do trabalhador e fazer, pela primeira vez, que o trabalhador seja na análise econômica não um objeto, o objeto de uma oferta e de uma procura na forma de força de trabalho, mas um sujeito econômico ativo. (FOUCAULT, 2008a, p. 307 - 308).
Foucault nos explica então que os neoliberais, ao analisar o trabalho do
ponto de vista do trabalhador em termos econômicos, nos garantem que o trabalho
para o trabalhador não é o preço da venda da sua força de trabalho, mas é uma
renda. O salário, assim, é uma renda que é definida em termos econômicos como o
rendimento de um capital. Nesse sentido, a partir do ponto de vista do trabalhador,
os neoliberais analisam o trabalho como aquilo que “comporta um capital, isto é,
uma aptidão, uma competência” (FOUCAULT, 2008a, p. 308) que gera uma renda (o
salário).
Essa decomposição do trabalho em capital e renda torna possível considerar
capital e detentor do capital como indissociáveis, ou, como esclarece Foucault
(2008a), “a competência do trabalhador é uma máquina, sim, mas uma máquina que
não se pode se separar do trabalhador” (p. 309). Essa
máquina/competência/trabalhador fica, no entanto, obsoleta, com o passar do
tempo, exigindo do seu detentor investir continuamente em si mesmo para renovar
sua máquina/competência. A inovação, nesse sentido, é um fenômeno que pode ser
analisado em termos econômicos porque se elas existem, se os homens são
capazes de inovar, inventar, criar, essas inovações são fruto dos investimentos no
104
capital humano, ou seja, no próprio homem. É nesse sentido que os neoliberais
veem o trabalhador como uma espécie de empresa para si mesmo, já que ele deve
gerenciar o investimento na sua máquina/competência para assim ter condições de
permanecer sempre ativo para concorrer no mercado de trabalho.
Foucault (2008a) ainda nos explica que ao efetuar esse deslocamento de
analisar o trabalho em termos econômicos, do ponto de vista do trabalhador, os
neoliberais tomam o trabalhador como um tipo de homo oeconomicus, que, embora
também é citado pela teoria clássica liberal, não é mais tomado como um parceiro
que troca a sua força de trabalho para suprir determinada necessidade de produção
ou de consumo como era visto na teoria clássica. De outra forma, o homo
oeconomicus, ao qual o neoliberalismo quer produzir, é um empresário de si mesmo,
“sendo ele próprio seu capital, sendo para si mesmo seu produtor, sendo para si
mesmo a fonte de [sua] renda” (FOUCAULT, 2008a, p. 311). Os neoliberais, então,
passam a se interessar pelo estudo da constituição e da acumulação do capital
humano e dos efeitos em termos econômicos que essa constituição e acumulação
provocam.
Para Foucault (2008a), o interesse dos neoliberais norte-americanos na
elaboração da Teoria do Capital Humano reside no fato de que ela permite a
aplicação das ferramentas teóricas e princípios próprios da análise econômica em
campos não considerados econômicos pelos liberais clássicos. Desse modo, a
elaboração da Teoria do Capital Humano possibilita a interpretação em termos
estritamente econômicos de campos considerados não econômicos até então e um
desses campos, lembrados por Foucault, é a educação, ou, como ele menciona: os
investimentos educacionais.
Os neoliberais analisam que o capital humano é composto por dois
elementos de tipos diferentes: os inatos e os adquiridos. Os inatos são os elementos
correspondentes ao equipamento genético e hereditário e Foucault, já em 1979,
mencionava a respeito da preocupação dos neoliberais em investigar, medir e
calcular o risco de produzir equipamentos genéticos menos eficientes ou que, no
futuro, pudessem desenvolver algum tipo de doença já herdada de seus
antepassados35. Já os elementos adquiridos são aqueles que se constituem no
35 Atualmente, a mais recente materialização dessa racionalidade de se calcular o risco de se desenvolver uma doença hereditária, no futuro, pode ser exemplificada pela atitude da
105
decorrer da vida dos indivíduos de um modo quase voluntário. A educação faz parte
dos elementos adquiridos do capital humano, pois é por meio desse tipo de
investimento que é possível formar as competências/máquinas que são inseparáveis
do trabalhador.
A Teoria do Capital Humano possibilitou aos neoliberais analisarem desde o
processo de gestação de um feto, a relação da mãe com seus filhos, a aquisição de
competências e habilidades pela educação escolar, os investimentos em saúde, em
segurança e em higiene pública, campos até então considerados como fora do
campo econômico, a partir de um quadro de análise configurado por termos
econômicos. Até mesmo a migração dos indivíduos, que é a capacidade do
indivíduo de se deslocar de localidade ou de posto de trabalho pode ser analisada
em termos econômicos se a essa análise é aplicada a Teoria do Capital Humano,
pois opções de mobilidade também são opções de investimentos para se obter uma
melhor renda. Assim, em termos econômicos, os comportamentos de mobilidade são
tomados “em termos de empreendimento individual, de empreendimento de si
mesmo com investimentos e renda” (FOUCAULT, 2008a, p. 317).
A sociedade educadora (MARÍN DÍAZ e NOGUERA RAMIREZ, 2013),
também chamada de sociedade pedagogizada, por Ball (2013), emergiu na dinâmica
da governamentalidade liberal, primeiramente, e, atualmente, solidifica-se por meio
de processos de governamentalização neoliberais. Dentre os processos de
governamentalização neoliberais, os processos de governamentalização
educacionais destacam-se, tanto no interior quanto no exterior da escola. Isso
porque a Teoria do Capital Humano possibilitou a articulação entre os princípios
econômicos e educacionais, permitindo o trânsito de princípios, que até então eram
somente econômicos, para o campo educacional. Da mesma forma, esse trânsito
possibilitou que os assuntos educacionais invadissem outros setores da sociedade
na forma de preocupação com a formação para a aquisição de uma melhor saúde,
uma melhor segurança, uma melhor produtividade industrial, um maior lucro
comercial etc., tendo em vista o investimento no capital humano e, assim, analisar a
partir de um quadro econômico a vida dos indivíduos.
Para Lockmann (2013), existe uma vinculação entre neoliberalismo, a cultura
do empreendedorismo e o governamento dos sujeitos, porque o neoliberalismo não atriz Angelina Jolie em se submeter a uma mastectomia, em 2013, devido ao risco de, no futuro, desenvolver o câncer de mama, doença que levou a sua mãe a óbito.
106
só age sobre os sujeitos, mas faz com que os sujeitos ajam sobre si mesmo, como
investidores de e em si mesmo, como empreendedores e empresas ao mesmo
tempo. Assim, o princípio da competição se constitui como mecanismo regulador em
favor do neoliberalismo, agindo “sobre cada ponto da espessura social, ou sobre
cada sujeito” (LOCKMANN, 2013, p. 150).
Essa autora, ao fazer um estudo genealógico sobre a política de assistência
social no Brasil, afirma que desde o final do século XIX vem ocorrendo o fenômeno
da ‘educacionalização do social’ no país. Esse fenômeno, que se potencializou na
atualidade, consiste em atribuir à escola o papel de resolver uma grande variedade
de problemas que acometem a sociedade na contemporaneidade desde problemas
relacionados à mudança de comportamento no trânsito à sexualidade, às drogas, à
saúde.
Desse modo, a maquinaria educativa (saberes e práticas) forja, desde o
nascimento até a morte, o indivíduo contemporâneo cujo aprendizado é conduzido,
monitorado, avaliado, diagnosticado, previsto, vigiado no decorrer de toda a sua
vida. A educação, analisada por esses pressupostos, é uma tecnologia biopolítica
das mais eficazes na atualidade, porque além de disseminar os valores da
moralidade neoliberal por meio das práticas discursivas e não discursivas, ou seja,
dos saberes e práticas educacionais, transpõe os limites dos muros da escola,
projetando-se para fora do seu campo específico e subsidiando outras áreas sociais,
sem, contudo, abrir mão de possuir um lócus específico de atuação: a creche, a
escola básica e a universidade. A essa dinâmica própria da governamentalidade
contemporânea, Aquino (2013) tem chamado de processos de pedagogização,
assunto a ser abordado no próximo tópico.
4.4 A emergência de processos de pedagogização na racionalidade neoliberal Tendo em vista o quanto a emergência dos saberes agrupados nas ciências
da educação está articulada com a formação das sociedades governamentalizadas,
transformando-as em sociedades educadoras ou pedagogizadas, verifica-se que aos
processos de governamentalização disciplinares preponderantes na escola, durante
a Modernidade, estão se acoplando processos outros, mais característicos da
racionalidade neoliberal. Ball (2013) acredita que os princípios da racionalidade
neoliberal mobilizam uma transformação social, “uma mudança epistemológica
107
profunda, de um paradigma educacional moderno para um pós-moderno”36 (p.152),
no qual o aprendiz produzido não é mais o do bem-estar, mas é um indivíduo “sem
profundidade, flexível, solitário, alerta e responsável (coletivamente representado
pelo capital humano)” (p.152). Uma mudança epistemológica que, segundo Aquino
(2011, p. 202), não objetiva segregar a diferença, mas proporcionar a “adesão
voluntária de todos”; enfatiza “a cooptação do controle” mais que a coerção do
disciplinamento e ressalta “a incitação da coletividade rumo a ideias consensuais”
em detrimento da “contenção física dos corpos”.
Ball (2013), ao analisar um conjunto de textos, a respeito da aprendizagem
ao longo da vida, produzidos pela Organização para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OECD), pela UNESCO, pela Comissão Europeia, vinculada à União
Europeia, pelo Ministério da Educação Sueco e pelo Department for Education and
Employment (DFEE - Reino Unido), ressalta que o discurso veiculado nesses textos
é parte de uma “maquinaria política de mecanismos, procedimentos e táticas” (BALL,
p.145, 2013) de subjetivação, ou seja, esses textos são a materialidade do
governamento porque executam parte do trabalho dos políticos e do Estado.
Segundo Ball (2013, p.145), o que é produzido nesses documentos e o que é tema das políticas que deles provêm não é mais que um novo tipo de pessoa e uma nova “ética de personalidade” [...]. Com efeito, o que está sendo construído é uma nova ontologia de aprendizagem e de política e uma “tecnologia de si” muito elaborada, por meio das quais conformamos nossos corpos e subjetividades de acordo com as necessidades de aprendizagem.
Exemplo dessa mudança de paradigma é o maior investimento na
aprendizagem permanente do indivíduo, que é transpassada pelo paradoxo coação
e ‘liberdade’ (ou produção da liberdade), presente nos processos de
governamentalização educacionais da contemporaneidade. Uma das características
marcantes das governamentalidades liberal e neoliberal é o gerenciamento da
36 Mesmo sabendo que Michel Foucault não adentrou às discussões sobre a pós-modernidade, optamos por usar o termo “pós-moderno” para retratar o pensamento de autores como Ball (2013) e Biesta (2013) que utilizam as ferramentas teóricas forjadas por Foucault para fazer as suas análises sobre os temas educacionais na contemporaneidade. O meu interesse ao citar esses autores está nas análises que fazem sobre os processos de pedagogização e o deslocamento da ênfase da prática discursiva da educação para a aprendizagem e como esses processos e esse deslocamento estão vinculados à racionalidade neoliberal e à Teoria do Capital Humano.
108
‘liberdade’ por meio de mecanismos que deixam surgir possibilidades de escolha ou
que calculam as probabilidades dessas possibilidades de ‘liberdade’ (AQUINO e
RIBEIRO, 2009). Se há mecanismos responsáveis pela produção e controle da
‘liberdade’, o exercício do poder envolve a condução da ação do outro nos espaços
das liberdades do outro, por isso “a necessidade de o poder acionar movimentos
incessantes de (auto)regulação” (AQUINO e RIBEIRO, 2009, p. 62).
Assim, poder e liberdade são exercidos concomitantemente nos processos
de governamentalização, numa dinâmica de retroalimentação, sendo os discursos
produzidos por essa dinâmica, no campo educacional e, especificamente, no campo
das políticas educacionais, um instrumental importante para a edificação da
sociedade educadora ou pedagogizada tal qual mencionam Ball (2013) e Aquino
(2013). Em tal sociedade, o Estado mobiliza-se para garantir que todo tempo do
indivíduo e todo espaço transitado por ele sejam, então, pedagogizados (BALL,
2013), pois justifica suas ações na “crença-base do projeto escolar-civilizatório”
(AQUINO, 2013, p. 204) que versa: quanto “mais pedagogicamente talhado” é o
indivíduo, mais desenvolvida, emancipada e humana é a coletividade à qual
pertence.
Conforme Ball (2013), nesse contexto, a aprendizagem ao longo da vida tem
como efeito a produção de um tipo de cidadão mais adequado às novas formas de
governamento neoliberais: um cidadão que está perdendo a capacidade de
cidadania, porque as suas experiências são abstraídas das relações de poder,
impossibilitando, dessa forma, a crítica. Para Ball (2013), esse processo está
corroendo as possibilidades de autenticidade e de sentido do ensino, da
aprendizagem e da pesquisa, porque não expande as subjetividades dos indivíduos,
pelo contrário, as delimita.
Para Biesta (2013), o deslocamento no campo discursivo educacional
corresponde à ênfase ao conceito “aprendizagem” e ao declínio do conceito
“educação”, na contemporaneidade, ou seja, para esse autor, a linguagem da
educação está sendo substituída por uma linguagem da aprendizagem. Quatro
tendências têm colaborado para essa mudança epistemológica, segundo Biesta
(2013): o discurso pós-moderno que prega o fim da educação e a ênfase na
aprendizagem, a ênfase na aprendizagem do adulto, a emergência das teorias da
aprendizagem construtivistas e socioculturais que se centram na aprendizagem do
aluno, e o enfraquecimento do Estado de Bem-estar social que modificou a relação
109
entre governos e cidadãos de uma relação política para uma relação econômica:
“uma relação entre o Estado como provedor de serviços públicos e o contribuinte
como o consumidor dos serviços estatais” (BIESTA, 2013, p. 36).
Nesse contexto da sociedade da aprendizagem, o indivíduo trabalhador
torna-se responsável pela aquisição, desenvolvimento e atualização das suas
habilidades e competências em função de demandas impostas por necessidades de
aprendizagem que constantemente são reatualizadas e recriadas. A experiência
vivenciada por esse indivíduo, seu saber acumulado no decorrer do tempo é
desvalorizado; atualmente, sua capacidade de esquecer o que já aprendeu para dar
atenção ao que lhe é apresentado como inovação é mais significativa. Um sujeito
permanentemente educável está sendo produzido por uma governamentalidade na
qual as escolhas e as ações desse sujeito o tornam sempre retornável, flexível,
disposto à aprendizagem das inovações da sociedade capitalista neoliberal. Esse
sujeito permanentemente educável é o indivíduo-empresa, produzido para
administrar-se a si mesmo no mercado das competências, habilidades e
capacidades, conforme propõe a Teoria do Capital Humano, já mencionada.
Segundo Ball (2013, p.150), os indivíduos-empresa “devem internalizar e assumir a
responsabilidade pelas suas necessidades, na mesma medida em que suas histórias
pessoais e suas condições sociais para a aprendizagem são eliminadas nesse
processo”.
É nesse cenário que, segundo Ball (2013), os saberes e verdades ao redor
da “aprendizagem ao longo da vida” estão sendo produzidos. Para esse autor, a
“aprendizagem ao longo da vida é uma microtecnologia de poder” (p.146), que
mobiliza os indivíduos a terem a iniciativa de buscarem continuamente o
desenvolvimento de capacidades, habilitando-os, assim, a se refazerem
constantemente, como em um processo de otimização de si mesmos até os finais de
seus dias. Dessa forma, o indivíduo pensa e age tal como um eu empreendedor que
tem como capital as suas próprias capacidades aprendidas, fazendo da sua vida
uma empresa.
O investimento na e os saberes produzidos sobre a aprendizagem ao longo
da vida, a permanente capacitação, atualização e formação dos profissionais, dentre
eles a dos professores, são estratégias da racionalidade neoliberal. O efeito dessas
estratégias discursivas e não discursivas, na formação do docente, é a criação de
cada vez mais tecnologias e mecanismos de governo, incidindo sobre a sua
110
formação que, nos tempos atuais, tem se direcionado pelo princípio da competição e
do “progresso” quantificável por meio do número de diplomas e certificados
adquiridos, e do “progresso” mensurável pela porcentagem de acertos em questões
de múltipla escolha de provas de desempenho aplicadas aos alunos nas escolas. O
efeito dessas estratégias remete à emergência da cultura do empreendedorismo, da
meritocracia e das competências e habilidades dos professores e estudantes,
temáticas comuns nos debates educacionais, na atualidade (GADELHA, 2009).
4.5 A emergência da formação continuada de professores no Brasil
Toda essa enunciação em torno da aprendizagem permanente caracteriza
os processos educativos e profissionais na contemporaneidade, incluindo-se aí a
formação dos professores. No Brasil, segundo Santos (2006), a formação
continuada de professores emergiu impulsionada por essa transformação epistêmica
que criou condições, surgidas entre a Modernidade e a contemporaneidade, para a
produção de um tipo de liberdade cerceada, produzida por meio de um mecanismo
que o pesquisador chama de “alforria”.
Santos (2006) realizou um estudo arqueológico-genealógico da formação
continuada de professores no Brasil, utilizando-se desse conceito de “alforria” como
uma ferramenta de análise dos discursos produzidos em torno da formação
continuada desses profissionais, na primeira metade do século XX, na Revista
Brasileira de Estudos Pedagógicos (RBEP), editada pelo Instituto de Estudos
Pedagógicos (INEP), do Ministério da Educação e Cultura (MEC). A “alforria”,
conforme Santos (2006), é um mecanismo que produz a liberdade por meio de
práticas discursivas e não discursivas, nas quais a vigilância é supostamente mais
branda, o que torna possível a regulação do outro de modo mais econômico. Isso
porque se dá a partir de uma iniciativa do próprio indivíduo, que se movimenta
conforme as relações de poder atuantes no seu campo de ação.
O pesquisador explica que o mecanismo da “alforria” possui um duplo
movimento de libertar o indivíduo ao mesmo tempo que o aprisiona à
responsabilidade de gerenciar-se a si mesmo na busca do autocontrole e do
autoinvestimento, supostamente autônomo e direcionado pela sua própria vontade.
Essa liberdade produzida é uma das condições que possibilitam a intensificação do
controle sobre o indivíduo que se submete à formação continuada, tornando o
111
controle mais econômico. Nesses termos, Santos (2006) acredita que a formação
continuada é “um forte sinal da emergência de controles reguladores no âmbito da
educação escolar” (SANTOS, 2006, p. 66) e na formação de professores. A
emergência da formação continuada de professores tem pertinência, então, ao
deslocamento da ênfase na disciplina para a ênfase no controle mais econômico dos
indivíduos e das coletividades. Nesse sentido, as tecnologias de normalização são
mais eficientes e econômicas para o controle do que as disciplinares, e a formação
continuada faria parte dessas tecnologias de normalização, segundo Santos (2006).
A produção da liberdade, nesse sentido, é condição essencial para o
funcionamento da regulação e a estatística é bastante útil ao processo da produção
da liberdade, porque funciona como uma tecnologia de produção de saber sobre a
população, medindo-a, classificando-a, tornando-a visível; a estatística produz os
conhecimentos úteis no cerceamento do campo de atuação dos indivíduos. A
valorização do método estatístico para a produção do saber sobre a educação
escolar, é verificada por Santos (2006) nos discursos da RBEP, da primeira metade
do século XX.
Ainda segundo a pesquisa de Santos (2006), as condições que tornaram
possível a emergência da formação continuada tem relação com essa produção de
discursos (saberes) que valorizam a liberdade quando em comparação a
procedimentos disciplinares. Os discursos educacionais também apresentam a
necessidade da liberdade nos processos educativos quando enfocam o aluno como
centro da relação ensino-aprendizagem, modificando a posição do professor para
orientador; quando ampliam o papel do professor além do âmbito técnico,
associando-o principalmente ao campo da assistência social; quando propõe o
autogoverno, a autonomia, o autocontrole e o autoinvestimento como solução para a
disciplina excessiva; e quando propõem a valorização do individual e da
personalidade de cada indivíduo em oposição à disciplinarização.
Além dessas condições proporcionadas pelos vários discursos incidentes no
campo educacional, Santos (2006) menciona ainda que a emergência da formação
continuada tem relação com a sensação de crise produzida ainda na Modernidade
por meio dos discursos que, por buscarem sempre a ordem e a certeza absoluta e
duradoura das coisas, frustram-se interminavelmente. Os discursos contemporâneos
redimensionam, por sua vez, a sensação de crise produzida pelo discurso da
modernidade, abandonando a certeza de que há uma ordem absoluta e duradoura
112
das coisas, por um lado, e admitindo, por outro, que as mudanças são cada vez
mais frequentes e as inovações são cada vez mais necessárias.
Essa sensação de crise é um efeito dos discursos modernos que
desencadearam, por exemplo, a necessidade de aperfeiçoamento permanente do
professor, ou seja, uma modalidade de formação que tem a potencialidade de nunca
tornar-se obsoleta, já que o tempo de sua duração não é mais considerado rígido e
terminal, pelo contrário, é flexível, fluido, contínuo. Características que também
moldarão o espaço da formação que, na contemporaneidade, não se limitará aos
espaços universitários, por exemplo, mas assumirão modalidades a distância ou
semipresenciais, como são os cursos via internet e televisão; e nas modalidades
ditas “em serviço”, para aquelas que ocorrem dentro do horário e do local de
trabalho do professor.
A emergência da formação continuada de professores, no Brasil, relaciona-
se a um tipo de governamentalidade que começa a se instituir no país desde o início
do século XX, e está mais associada à ênfase na normalização e em tecnologias
resultantes dos efeitos dos controles reguladores do que dos efeitos da disciplina
como é o confinamento e a ortopedia política dos corpos e das almas dos indivíduos.
O fato, então, da formação de professores receber um caráter contínuo na
contemporaneidade deve-se mais à preocupação na continuidade do controle sobre
a produção de docentes e alunos e menos à continuidade da formação, que, na
prática, é sempre descontínua. Para Santos (2006), portanto, a formação continuada
de professores emergiu a partir das transformações epistêmicas veiculadas por
discursos produzidos na ordem da biopolítica.
Para resistir à formação do professor como um investimento em capital
humano e como uma prática de produção de um homo oeconomicus empresário de
si mesmo, Pagni (2011), ao pesquisar a relação da infância com a experiência e a
formação, avista na atitude do ‘cuidado de si’ e na acepção da ‘psicagogia’ formas
de resistência para pensar a relação do professor consigo mesmo. Baseado nas
ideias de Michel Foucault sobre a ética, Pagni (2011, p. 140) nos explica que o
cuidado de si pode ser entendido “como uma atitude ética, um modo de atenção e
um conjunto de práticas exercidas sobre si mesmo, no sentido de sua própria
transformação, sem deixar que o sujeito se fixe em uma fôrma preconcebida e em
um eu idêntico a esse si mesmo”. Já a psicagogia pode ser entendida como o
processo de transmissão de uma verdade e tem o objetivo de modificar o modo de
113
ser de um indivíduo e não apenas de qualificá-lo de conhecimentos, capacidades e
habilidades que ainda não possuía. Esse pesquisador ainda nos esclarece que
essas noções podem servir para que pensemos a formação relacionando-a com
uma atitude crítica e com as práticas de liberdade que podem levar os indivíduos a
refletirem sobre a possibilidade de fazer da própria existência uma obra de arte37.
Problematizar o ideal moderno de formação (no qual se encontra a formação
dos professores, e também no qual se vincula o ideal neoliberal de formação de
capital humano destinado a esse profissional) a partir das noções do cuidado de si e
da psicagogia pode nos impulsionar a pensar em modos de se praticar a formação
de professores que possam resistir a certas formas de governamentalização e a
certos mecanismos biopolíticos38.
37 Sobre o uso das noções de psicagogia e de cuidado de si na Educação ver FREITAS, Alexandre Simão. Foucault e a Educação: um caso de amor (não) correspondido?. In: PAGNI, Pedro Angelo; BUENO, Sinésio Ferraz e GELAMO, Rodrigo Pelloso. Biopolítica, arte de viver e educação. Marília: Oficina Universitária; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2012, p. 51-73. 38 A referência à outras possibilidades de formação a partir do referencial teórico elaborado por Michel Foucault sobre a temática da ética é citado aqui por meio do trabalho de Pagni (2011), mas não é aprofundado, pois este trabalho centra-se nas questões relacionadas ao poder elaboradas pelo filósofo francês.
114
5 A NECESSIDADE FORMATIVA DOCENTE NA ORDEM DO DISCURSO DA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Antes de continuar no afã de perguntar acerca do que pode Foucault nos dizer,
fazer por nós e pela Educação, é preciso ter bem claro que ficaremos bastante decepcionados se formos
buscar em sua Filosofia da Prática as soluções para as nossas próprias
práticas. Foucault não está aí para nos dizer as verdades sobre as coisas, mas sim para nos ajudar a compreender de
que maneiras, por quais caminhos, tudo aquilo que se considera verdade tornou-se um dia verdadeiro. Seu pensamento
herdou de Nietzsche essa revolucionária noção de que a Filosofia deve ser, antes de tudo, uma atividade
que nos leva a examinar as nossas relações com a verdade (VEIGA-NETO,
2006, p.87).
Com o auxílio do que expressa a epígrafe desta seção, reitero brevemente o
princípio norteador dos meus objetivos, apresentados no primeiro capítulo,
reafirmando que não estou à procura de revelar uma verdade que seja a única e
universal. De outra forma, construo aqui uma posição sobre o que tem me
governado, o que está governando o discurso da legislação sobre a formação de
professores no Brasil. Por isso, quero entender como a necessidade formativa
docente ocupou espaço dentro do discurso das políticas elaboradas para os
professores, no Brasil, tornando-se uma realidade nas e das práticas discursivas e
não discursivas da formação de professores.
A pergunta que persigo é que condições (externas e internas ao discurso)
tornam possível a emergência das ‘necessidades de formação de professores’ como
objeto de preocupação da política de formação de professores no Brasil
contemporâneo? Os enunciados têm uma função de fazer emergir os temas e os
objetos. Então, estou buscando aqueles enunciados que compõem as condições
para que o tema/objeto ‘necessidade formativa docente’ tenha se tornado uma
realidade, ou uma preocupação para as políticas de formação de professores.
115
Por meio da escolha de alguns enunciados do corpus da pesquisa, descrevo
a trama discursiva na qual o tema/objeto ‘necessidade formativa docente’ vem se
constituindo.
Este capítulo compõe-se, então, de cinco itens, sendo que no primeiro
apresento as minhas intenções com essa análise, abordando o aparecimento das
necessidades de formação de professores como preocupação nos discursos
educacionais; no segundo abordo o método escolhido para tratar com os textos,
corpus da pesquisa; no terceiro item, trato da norma como agente do exercício do
poder biopolítico na formação dos enunciados sobre formação de professores; no
quarto, apresento o acumulado enunciativo com o qual o enunciado ‘necessidade
formativa docente’ mantém coexistência, usando como ferramenta as noções da
função autor e do comentário como princípios de rarefação discursiva; e, por fim, no
quinto item abordo a emergência da ‘necessidade formativa docente’ como um
tema/objeto que legitima a atual política nacional de formação de professores.
116
5.1 A emergência da necessidade formativa docente no campo discursivo da formação de professores
O sujeito da educação (discursos,
instituições, internatos) é como “uma camada de textos sobrepostos, cada
‘texto’ marcado por uma diferente profissão para definir e separar conjuntos de necessidades que somente aquela profissão pode
satisfazer” (DEACON e PARKER, 2000, p.105-106, citando Illich e Sanders39).
O diagnóstico e a análise de necessidades formativas docentes
materializam-se como preocupação, no contexto da legislação das políticas de
formação de professores, no Brasil, manifestados em vários documentos e também
mais recentemente por meio do Decreto nº 6755, de janeiro de 2009, que institui a
Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica,
no artigo 5º. Esse artigo normatiza os planos estratégicos formulados por Fóruns
Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente e versa que esses fóruns
devem contemplar o diagnóstico das necessidades formativas docentes nos
seguintes termos:
O diagnóstico e a análise de necessidades formativas docentes também
aparecem, dentre outros assuntos relacionados à política docente, no livro Políticas
Docentes no Brasil: um estado da arte, de autoria de Bernardete Gatti, Elba de Sá
39 ILLICH, I. & SANDERS, B. The alphabetization of the popular mind. N. York, Vintage, 1989, p. xi.
Art. 5º o plano estratégico a que se refere o § 1º do art. 4º deverá contemplar: I – diagnóstico e identificação das necessidades de formação de profissionais do magistério e da capacidade de atendimento das instituições públicas de educação superior envolvidas; [...] § 1º O diagnóstico das necessidades de profissionais do magistério basear-se-á nos dados do censo da educação básica, de que trata o art. 2º do Decreto nº 6.425, de 4 de abril de 2008, e discriminará: I – os cursos de formação inicial; II – os cursos de formação continuada; III – a quantidade, o regime de trabalho, o campo ou a área de atuação dos profissionais do magistério a serem atendidos; (grifo meu)
117
Barreto e Marli André, publicado em 201140, como uma das preocupações das
autoras com o modo como alguns desafios atuais - relacionados à formação inicial e
continuada de professores, aos planos de carreira, às condições de trabalho e à
valorização desses profissionais - estão sendo enfrentados pelas políticas
educacionais brasileiras. Já na apresentação, logo no primeiro parágrafo, as autoras
referem-se às necessidades de professores da seguinte forma: “[...] as condições de
trabalho, a carreira e os salários que recebem nas escolas de educação básica não
são atraentes nem recompensadores, e a sua formação está longe de atender às
suas necessidades de atuação” (GATTI et al, p. 11, 2011, grifo meu).
Ainda nesse livro, Gatti et al (2011, p. 53), ao descreverem as finalidades do
decreto anteriormente citado, identificam como sendo uma das finalidades da
Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério de Educação Básica
“identificar e suprir necessidades de formação das redes e sistemas públicos de
ensino e promover a equalização nacional de oportunidades de formação” (grifo
meu). Além disso, em suas conclusões, afirmam que o Ministério da Educação e
Cultura (MEC) busca formular uma política nacional de formação docente e, para
tanto, construiu, em menos de uma década, um grande aparato institucional, que
envolve as instituições públicas de ensino superior (IPES) e as secretarias estaduais
e municipais de educação, aparato esse coordenado pela Coordenadoria de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e pelo Conselho Técnico da
Educação Básica. Esse aparato tem como tarefa suprir as demandas de formação
inicial e continuada de professores da educação básica, demandas essas que serão
diagnosticadas nos Fóruns Estaduais de Apoio à Formação dos Profissionais da
Educação, como determina o Decreto 6755/2009, anteriormente citado.
Todo esse aparato descrito por Gatti et al certamente favorece o exercício
de uma biopolítica de formação de professores brasileiros cujo enunciado
necessidade formativa docente surge como um tema a ser discutido e um objeto a
ser investigado. Essa possibilidade de discussão e análise das necessidades
40 Esse livro é resultado de uma pesquisa que teve como parceiros a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e o Ministério da Educação (MEC), e recebeu apoio do Conselho Nacional de Secretários de educação (CONSED) e da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) e teve como objetivo revelar “a dinâmica das políticas docentes no Brasil” (GATTI et al., 2011, p. 11).
118
docentes objetifica e subjetiva41 o professor, pois esse profissional ocupa, ao mesmo
tempo, a posição daquilo que é investigado, ou seja, do objeto a ser estudado, e a
posição de meta, objetivo do estudo, isto é, um dos sujeitos da educação que se
quer subjetivar. Isto quer dizer que junto aos discursos e instituições, como
menciona a epígrafe anterior, os professores são também sujeitos da educação
marcados e constituídos por textos sobrepostos. Discursos que vão compondo uma
padronização do perfil dessa profissão cuja posição é de importância estratégica no
jogo do exercício dos poderes, que agem sobre o sujeito professor e também
irradiam dele.
Gatti et al (2011) nos informam, inclusive, que a preocupação com a
satisfação das necessidades docentes está também presente no âmbito das
políticas educacionais internacionais. Essas autoras comentam que um dos
aspectos comuns entre os informes de diferentes países europeus sobre a questão
docente é a “formação docente do professorado, considerando suas necessidades
práticas e contextuais, assim como as temáticas atuais” (GATTI et al, p. 16, 2011,
grifo nosso)42. Essas pesquisadoras ainda nos informam que “estudar as novas
competências que o professorado deve adquirir na sociedade atual” (GATTI, et al, p.
17, 2011) aparece com destaque nesses informes europeus e vincula essa
construção de saber ou saberes sobre os professores “à necessidade de um novo
perfil profissional para enfrentar os desafios de ensino e aprendizagem no momento
atual e no futuro” (GATTI, et al, p.16-17, 2011). Preocupação essa que enfatiza os
aspectos da dimensão técnica da formação docente, ao assumir o discurso da
aquisição de competências e habilidades como norteador das ações de formação
docente o que contribui com a condução da subjetivação de um tipo profissional
controlado pelos pressupostos neoliberais da competição no mercado de trabalho e
do consumo da formação como investimento profissional.
Ao analisar os processos de formação continuada das políticas relacionadas
aos docentes de alguns Estados e Municípios brasileiros, Gatti et al (2011) destacam
“as iniciativas das Secretarias de Educação que se dispõem a levantar as
41 Quando uso o termo ‘subjetivar’ me refiro ao processo que conduz a conduta das pessoas. 42 As autoras dão essa informação baseadas em uma análise sobre os informes de diferentes países europeus sobre a questão docente, realizada por Francisco Imbernón e publicada na Revista de Educación, n. 340 (2006).
119
necessidades formativas junto aos docentes, muitas vezes na própria unidade
escolar” (p. 200, destaque das autoras) e cita as iniciativas da Secretaria da
Educação do Governo do Estado do Ceará (SEDUC/CE), a Secretaria de Estado da
Educação do Espírito Santo (SEDU/ES) e da Secretaria Municipal de Educação de
Manaus (SEMED de Manaus). As autoras manifestam simpatia por essas iniciativas
e pelo levantamento e análise de necessidades formativas junto aos professores e
vinculam, de modo genérico, os estudos relacionados à análise das necessidades
de formação docente à estratégia de formação reflexiva, apresentada por Maria
Ângela P. Rodrigues, no livro Análise de práticas e de necessidades de formação
(2006). Gatti et al (2011, p. 200-201) comentam que
o levantamento e a análise das necessidades formativas junto aos docentes é um passo essencial, para que tomem consciência de si em situações de trabalho, de suas crenças, valores, posições ideológicas, políticas, éticas, científicas, pedagógicas, daquilo que norteia sua ação, nos dizeres de Rodrigues, configurando-se como estratégia de desenvolvimento da competência reflexiva (grifo meu).
Não considero, no entanto, que toda iniciativa de analisar necessidades
docentes tenha o mesmo objetivo de ser “uma estratégia de desenvolvimento da
competência reflexiva”, visto que o Decreto 6755/2009 (citado anteriormente)
considera o diagnóstico das necessidades formativas docentes os dados do censo
da educação básica, desconsiderando qualquer processo de reflexão dos
professores, atuantes nas salas de aula. Dessa forma, o referido decreto engaja-se
em defender um tipo de formação-atualização-orientação e não um tipo de formação
que preserve práticas de discussão e reflexão dos professores sobre si mesmo, sua
atuação como docente e sobre as políticas educacionais.
Além dessas iniciativas de algumas secretarias estaduais e municipais de
educação em pesquisarem as necessidades dos professores, citadas por Gatti et al
(2011), no primeiro capítulo deste trabalho, mencionei a realização de pelo menos
vinte e três pesquisas de mestrado e doutorado, cinco em Portugal e dezoito no
Brasil, entre os anos de 2000 a 2010, cujo objeto de estudo são as necessidades de
formação de professores, o que demonstra um certo interesse pelo tema no meio
acadêmico e científico. Junto a essa atenção dada pelo Decreto 6755/2009, há todo
um aparato teórico, metodológico e técnico que compõe o campo de pesquisa desse
objeto que se constituiu no discurso científico.
120
Apresento esses recortes selecionados dos textos anteriormente
mencionados, do Decreto 6755/2009, do estudo de Gatti et al (2011) e lembro as
pesquisas realizadas sobre necessidades de formação docente, para mostrar que o
objeto necessidade formativa docente está se constituindo nas práticas discursivas e
não discursivas das políticas de formação dirigidas aos docentes, tanto no contexto
nacional quanto no contexto internacional, como uma realidade que cria
possibilidades para se organizar a vida formativa do professor no sentido de ampliá-
la cada vez mais em razão do diagnóstico constante de demandas formativas.
É possível que o objeto necessidade formativa docente esteja se
constituindo como uma realidade que dá condições a implementação de uma
biopolítica de formação da população docente, porque a elaboração das
necessidades desses profissionais legitima e influencia as ações de formação na
direção da produção de um profissional que exerça a sua liberdade (alforriada, como
nos explicou Santos, 2006, citado no capítulo anterior) na busca pela formação
adequada e exigida devido às demandas sociais e do sistema, mantendo, assim, o
professor sempre ativo no mercado de trabalho.
Subjetivar um professor disposto a estar sempre em busca de ocupar a
posição de ‘sempre ativo’ no mercado de trabalho significa duas coisas. Primeira, o
professor está sendo produzido de acordo com o princípio da concorrência, e,
segunda, é possível comparar esse profissional a uma empresa que investe
continuamente no seu capital humano a fim de possuir mais condições de competir.
A necessidade formativa docente emerge em um contexto de discussão da
consolidação do Sistema Nacional de Educação que intenta tornar as políticas
educacionais planos que ultrapassem as ações de governos, que não se limitem a
programas e propostas governistas, fragmentárias e sem continuidade. No entanto,
atentar para a realidade discursiva na qual se constitui esse objeto se faz importante
para que percebamos o quanto o exercício do poder biopolítico está em articulação
com os princípios neoliberais da competitividade e do empreendedorismo e como os
efeitos dessa articulação podem impactar na subjetivação dos professores.
A emergência desse objeto envolve-se nas tramas da construção de
discursos que legitimam a sua própria existência e a existência da formação
continuada como verdades. Essas verdades estão motivadas pela vontade de
saberes e de poderes interessados na regulação e normalização de um profissional
docente que parece estar condenado ou destinado a ser/estar sempre mal formado
121
pelos cursos de formação inicial ou a ser/estar sempre desatualizado e obsoleto já
que o mundo atual está em constante transformação. Isso ratifica uma crise na
formação docente, uma crise que parece ter vindo para ficar, embora a oferta da
formação continuada esteja se tornando cada vez mais variada, preocupada em
atender o maior número de professores possível, senão, todos, principalmente
porque a formação continuada tem sido cada vez mais reivindicada como um direito
do professor.
Determinadas condições tornaram possível a existência do objeto
necessidade formativa docente na legislação das políticas de formação docente e na
esfera científica, tornando-a uma realidade nas políticas atuais. Tais condições
fabricam-se no cerne do exercício dos poderes e das técnicas de produção de
saberes (verdades, conhecimentos) investidas nas práticas discursivas e não
discursivas. O Decreto 6755/2009 e os textos do âmbito científico que abordam o
objeto em questão são suportes para a materialidade discursiva constitutiva do
enunciado necessidade formativa docente.
Esse regime de materialidade repetível confere ao enunciado o seu status
de objeto ou de coisa, não permitindo que o enunciado apenas se identifique com
um fragmento de matéria linguística sonora ou escrita, representativo de um sentido
de algo; mas possibilita que a identidade do enunciado modifique-se sempre, sem
deixar, entretanto, de ser também suscetível de ser repetido ou colocado em
questão. Por isso, encontramos nos textos lidos termos variados, mas que se
referem ao mesmo enunciado constituinte do objeto necessidade formativa docente,
pois têm a mesma função enunciativa: ‘necessidades de formação dos profissionais
do magistério’, ‘necessidades de profissionais do magistério’, ‘demanda formulada’
(Decreto 6755/2009); ‘necessidades formativas junto aos docentes’, ‘necessidades
práticas e contextuais’ dos professores (GATTI et al, 2011); ‘necessidades de
atuação’ (GATTI et al, 2011; Parecer CNE/CP 09/2001); ‘demandas de um exercício
profissional específico’, ‘prioridades de investimento em relação à própria formação’,
‘eventuais dificuldades’ dos professores (Parecer CNE/CP 09/2001); ‘necessidades
de formação’ (Parecer CNE/CP 09/2001; Decreto 6755/2009; PNE de 2000-2010);
‘demanda por formação inicial e continuada dos professores’, ‘necessidades de
formação inicial e continuada dos professores’ (Portaria 09/2009); ‘necessidades de
qualificação’, ‘avaliação periódica da qualidade da atuação dos professores’,
‘definição de necessidades e características dos cursos de formação continuada’
122
(PNE de 2000-2010); ‘demandas pela formação de docentes’, ‘atuais demandas
educacionais e sociais’, ‘lacunas na formação inicial’ (Documento final da CONAE de
2010).
Neste capítulo, a proposta é capturar os regimes de materialidade repetível
que tornaram a série de signos linguísticos ‘necessidade formativa docente’ um
objeto possível de ser considerado real e de entrar nos discursos que estão sendo
produzidos sobre a formação de professores no Brasil. Essa análise é
correspondente aos procedimentos internos aos discursos (tratados no terceiro
capítulo deste trabalho), que são aqueles que conjuram os acasos da aparição
desse objeto. Ao capturar os regimes de materialidade repetível do enunciado
necessidade formativa docente é possível descrever as condições que o tornam um
objeto de preocupação, ou seja, uma realidade, na legislação das políticas de
formação de professores em tempos neoliberais e biopolíticos.
No entanto, antes de apresentar as análises dos textos, comento, no
próximo tópico, sobre o método utilizado.
5.2 O contexto do corpus analisado e o método de análise
De repente, começa-se a fazer falar o criminoso, a fazê-lo escrever. De um
lado os médicos e os homens da lei; do outro o criminoso, visto desta vez como
um “louco”. Mas, pode-se perguntar, por que esta fala nova dos interrogatórios,
por que esta redação do memorial, o que se quer fazer dizer, o que se quer
saber? (FONTANA, 1977, p. 277).
De repente, começa-se a falar sobre as necessidades de formação de
professores... de um lado os especialistas e os homens da lei...do outro os
professores, vistos desta vez (e talvez para sempre) como mal formados,
despreparados, desatualizados e fontes, no entanto, de saberes... Mas pode-se
perguntar o porquê dessa preocupação, desse interesse novo... o que se quer fazer
dizer, o que se quer saber? Estou parodiando Alexandre Fontana para mostrar que o
artigo 5º do Decreto 6755/2009 (citado novamente a seguir) não “começou a falar”
de necessidade formativa docente sem que certas condições externas e internas ao
discurso assegurassem o aparecimento dessa preocupação em um documento do
âmbito jurídico, provocando, por sua vez, efeitos na governamentalidade docente -
123
no modo como os professores vêm sendo governados tanto pelos seus governantes
quanto por si próprios (por aquilo que os governa):
Estou tomando os enunciados grifados na citação anterior -“necessidades de
formação de profissionais do magistério” e “necessidades de profissionais do
magistério” – na sua função enunciativa, por isso há uma variedade de termos,
retirados dos textos postos em análise, já citados anteriormente. Isso quer dizer que
o que me preocupa ao analisar as condições que tornaram possível a emergência
do objeto necessidade formativa docente no discurso da formação de professores
está relacionado à função do enunciado e não às unidades linguísticas conhecidas
com o nome de ‘enunciado’, ‘frase’ ou ‘proposição’. De acordo com Foucault (1987a,
p. 122),
[...] essa função, em vez de dar um ‘sentido’, a essas unidades, coloca-as em relação com um campo de objetos; em vez de lhes conferir um sujeito, abre-lhes um conjunto de posições subjetivas possíveis; em vez de lhes fixar limites, coloca-as em um domínio de coordenação e de coexistência; em vez de lhes determinar a identidade, aloja-as em um espaço em que são consideradas utilizadas e repetidas.
Se investigar as necessidades formativas docentes é uma estratégia do
exercício do poder biopolítico, como mencionei anteriormente, estratégia que pode
ser conduzida a reforçar o princípio neoliberal de acumulação de capital, no caso, de
capital humano investido no professor, a preocupação das políticas educacionais em
tornar realidade o objeto necessidade formativa docente emergiu nas relações de
poder que atravessam a constituição dos discursos educacionais. Isso quer dizer
que as técnicas de saber - dentre as quais o é o diagnóstico de necessidades
formativas docentes -, que vão sendo elaboradas, são indissociáveis de todo um
conjunto de estratégias de poder, sendo os discursos educacionais um dos
elementos de articulação entre os saberes produzidos e os poderes exercidos.
Art. 5º o plano estratégico a que se refere o § 1º do art. 4º deverá contemplar: I – diagnóstico e identificação das necessidades de formação de profissionais do magistério [...] [...] § 1º O diagnóstico das necessidades de profissionais do magistério basear-se-á nos dados do censo da educação básica, (grifo meu)
124
Sendo assim, o enunciado necessidade formativa docente mantém relação com o
campo dos discursos educacionais referentes à formação docente, ou seja, esse
campo discursivo é seu referente.
Dentre esses discursos estão aqueles fabricados nas instituições,
associações, entidades, comissões etc. influentes nos rumos das políticas
educacionais e que são um dos pontos de apoio pelos quais a vontade de verdade é
conduzida, disseminada e reforçada no tecido social, exercendo influência em outros
discursos, como os científicos, pedagógicos, midiáticos etc. A vontade de verdade
investe nos e reveste os discursos, estimulando, inclusive, as práticas discursivas
produzidas nas instituições a serem suporte e apoio para a disseminação daquilo
que se elabora como ‘verdade verdadeira’.
Assim, os discursos instrumentalizam a edificação de princípios da
sociedade pedagogizada, como, por exemplo, ao enfatizar a aprendizagem como
prática essencial à busca da liberdade e da perfeição; ou os princípios da
racionalidade neoliberal ao enfocar a formação continuada como uma prática
necessária ao acúmulo do capital no humano. Princípios que, embora tenham
diferenças, convergem para o que se tem chamado de “desenvolvimento
profissional” do professor.
Os textos aqui analisados foram aprovados pelo Conselho Nacional de
Educação (CNE) e um deles redigido pela Conferência Nacional da Educação
(Conae), realizada em 2010. Eles possuem vozes diferentes no seu interior, pois são
o resultado de debates e disputas no campo das políticas educacionais do país.
Desses embates, convergências e divergências, a política educacional em torno da
formação dos professores vai se constituindo.
Segundo informa o site do Ministério da Educação e Cultura (MEC), o
Conselho Nacional de Educação é um órgão colegiado integrante do Ministério da
Educação, instituído pela Lei 9.131, de 25/11/1995 que tem a função estratégica de
“colaborar na formulação da Política Nacional de Educação e exercer atribuições
normativas, deliberativas e de assessoramento ao Ministro da Educação” (site do
MEC), além de possibilitar a participação da sociedade no aprimoramento e na
consolidação da educação nacional. Cabe, portanto, a esse Conselho emitir
pareceres sobre os assuntos pertinentes à educação, dentre eles, a formação
docente.
125
A Conferência Nacional de Educação (Conae), realizada de 28 de março a
1º de abril de 2010, em Brasília – DF, foi uma iniciativa do MEC e foi precedida por
outras conferências municipais, intermunicipais, estaduais e distrital (etapa
preparatória da Conae, realizada no primeiro semestre de 2009). Na etapa
preparatória da Conae, reuniram-se diferentes setores da sociedade para discutir o
tema proposto: “Construindo o sistema nacional articulado de educação: o plano
nacional de educação, diretrizes e estratégias de ação”, a partir de um Documento
de Referência, elaborado pela Comissão Nacional. As colaborações das discussões
realizadas na etapa preparatória compilaram-se no Documento Base da Conferência
Nacional de Educação usado para nortear as discussões e deliberações da Conae
em Brasília. As discussões e as deliberações resultaram numa versão última, o
Documento Final da Conae cuja intenção é representar, como a própria introdução
do documento manifesta: “o resultado das deliberações majoritárias ou
consensuadas, nas plenárias de eixo e que foram aprovadas na plenária final”
(BRASIL, 2010, p. 11).
O Documento Referência, o Documento Base e o Documento Final são
organizados em seis eixos temáticos em torno dos quais foram direcionadas as
discussões dos grupos de trabalho. O texto analisado neste trabalho, o Eixo IV –
Formação e Valorização dos Trabalhadores em Educação é parte integrante do
Documento Final, pois é essa versão que será tomada como referência na
construção do Sistema Nacional de Educação e de elaboração do Plano Nacional de
Educação.
Segundo Laranjeira (2003), os textos que selecionei fazem parate de um
conjunto de textos que teve como motivação o que era proposto no Plano Decenal
de Educação, instituído em 1993, e nos Anais da Conferência Nacional de Educação
para Todos, realizada em Brasília em 1994. Esses documentos foram fundamentais
porque, segundo a autora, serviram para se desenhar a reforma da política
educacional, no período de 1995 a 2002, incluindo-se aí a política de formação de
professores. Laranjeira ainda nos informa que esses textos preocuparam-se em
equalizar as necessidades de aprendizagem do alunado (diagnosticadas pelos
processos de avaliação como é o Sistema de Avaliação da Educação Básica –
SAEB), com as necessidades de formação dos professores a serem atendidas nos
cursos de formação tanto inicial quanto continuada.
126
Conforme essa autora, então, depois da promulgação da LDB de 1996,
surgiram instrumentos cujo objetivo é regulamentar o que era proposto nessa Lei e o
Plano Decenal de Educação e os Anais da Conferência Nacional de Educação para
Todos, dentre outros assuntos, orientaram as discussões na esfera da política
educacional de formação de professores no que diz respeito a: adequar os
conteúdos dos currículos da Educação Básica em consonância com as novas
demandas da sociedade; adequar os livros didáticos aos novos parâmetros; e a
articular a valorização do magistério e os planos de carreira dos professores como
medida necessária para a melhoria da Educação Básica. Para essa autora,
inclusive, o último capítulo dos Referenciais para formação dos professores trata da
“defesa da necessidade de articulação entre: desenvolvimento profissional
permanente, avaliação da atuação profissional e progressão na carreira”
(LARANJEIRA, 2003, p. 43).
Quanto à formação continuada especificamente, estudo de Romanowski e
Martins (2010) mostra que há a preocupação da institucionalização da formação
continuada desde a década de 1940, no Brasil, mas é a partir da década de 1980
que a formação continuada passa a ser considerada na carreira docente como meio
de promoção a funções ou cargos hierarquicamente superiores. Na década
seguinte, a formação continuada incorpora a perspectiva de considerar o professor
como sujeito de sua própria prática o que implicou na elaboração de novas
propostas de formação que favoreceram “os processos coletivos de reflexão e
interação; a oferta de espaços e tempos para os professores dentro da própria
escola; a criação de sistemas de incentivo à socialização; a consideração das
necessidades dos professores e dos problemas de seu dia a dia” (p. 291).
Essas últimas duas autoras citadas mencionam a articulação da formação
dos professores, seja inicial ou continuada, com as demandas sociais, com a
qualidade da educação e com a promoção na carreira docente, a partir da década
de 1980, intensificando-se nas décadas sequentes. Todos esses assuntos mantêm
relação com a formulação das necessidades formativas docentes e, portanto, são
aqui considerados como enunciados que se articulam ao favorecimento da
emergência do objeto necessidade formativa docente como uma estratégia de
subjetivação de um tipo de professor empreendedor no seu próprio capital humano e
condizente com os preceitos neoliberais.
127
A política educacional brasileira, desde o período ditatorial das décadas de
1960 a início dos anos de 1980 e após a redemocratização (Governos de José
Sarney, Collor de Melo/Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Luís Ignácio
Lula da Silva e Dilma Rousseff), influencia-se fortemente pelo projeto societário do
neoliberalismo 43 e por mecanismos preocupados em instituir uma biopolítica de
formação dos professores, por enfatizar processos de normalização de um tipo de
professor que tem direito à formação permanente, que se responsabiliza pela própria
formação, avaliando-a constantemente e retroalimentando-a permanentemente.
Para tanto, esse professor deve ser atendido nas suas necessidades de formação
que podem ser elaboradas pelo sistema educacional, por especialistas ou por ele
próprio, já que a autonomia é uma das características valorizadas no perfil do
professor atual.
Entendo que o objeto necessidade formativa docente surge nos textos de
diferentes espaços discursivos e se constitui como uma prática que, dentre outras,
emerge com o exercício do poder biopolítico na formação de professores, porque
esse modo de produzir saber sobre o professor incide nos modelos e conteúdos das
ações de formação de professores. O objetivo, então, desta análise de textos é
mostrar como o objeto necessidade formativa docente entrou no foco da legislação
das políticas de formação docente e de “sacudir a quietude” (FOUCAULT, 1987a, p.
29) com a qual aceitamos a análise, o estudo, o diagnóstico das necessidades
formativas docentes, proposta pelo Decreto 6755/2009, como algo a ser realizado na
política de formação nacional desses profissionais.
Para tanto, dediquei meus esforços em compreender com quais outros
enunciados o enunciado necessidade formativa docente mantém relação, compondo
o campo de coexistência que determina a sua materialidade enunciativa, ou seja, o
seu status de objeto ou de ‘coisa’. Afinal, compreendo que o que compõe o campo
de coexistência que forma a unidade dos discursos que acolhe a necessidade
formativa de professores como um objeto não está fundamentado na existência do
objeto necessidade formativa docente, mas no jogo de regras que tornam possível o
aparecimento desse objeto, nesse determinado tempo-espaço: na atual legislação
43 Muito embora desde 2003, quando Luís Inácio Lula da Silva foi eleito como presidente pela primeira vez, representando um partido que já foi considerado um dos maiores partidos de massa da esquerda, o Partido dos Trabalhadores (PT), venha governando o país, esse governo tem introduzido em seus discursos princípios próprios do neoliberalismo e se afastado dos originais princípios quando do surgimento do partido no final da década de 1970.
128
da política nacional de formação de professores no nosso país. Em síntese, estou
me propondo a pensar o enunciado necessidade formativa docente em sua
exterioridade, ou seja, articulando-o a outra ‘coisa’ que não seja ele próprio; em seu
princípio de rarefação ou sistema de dispersão; e também em seu acumulado
enunciativo.
Essas regras às quais quero fazer aparecer por meio desta análise são as
relações mantidas entre os enunciados, entre o enunciado necessidade formativa
docente e outros que com ele coexistem na formação do campo discursivo da
formação de professores. Esse trabalho não se trata, portanto, de uma análise
interpretativa dos enunciados, mas de uma “análise de sua coexistência, de sua
sucessão, de seu funcionamento mútuo, de sua determinação recíproca, de sua
transformação independente ou correlativa” (FOUCAULT, 1987a, p. 33). Não se
trata, portanto, nem de “reconstituir cadeias de inferências” nem de “estabelecer
quadros de diferenças”, mas de descrever “sistemas de dispersão” (idem, ibidem,
p.43). Foucault chama de “formações discursivas” esses sistemas de dispersão dos
enunciados e de “regras de formação” as condições de existência das repartições
discursivas que são os “objetos, as modalidades de enunciação, conceitos, escolhas
temáticas” (FOUCAULT, 1987a, p. 43) materializados nos enunciados.
Esse tipo de relação enunciativa, então, tem a ver com a função enunciativa.
Dessa forma, tem-se ou chega-se à função enunciativa ao interrogar o modo
singular de existência de uma série de signos (ORLANDI, 1987, p. 13), por isso
Foucault lida com o enunciado como se ele fosse uma função e não uma
proposição, frase ou atos de fala. A análise proposta por Foucault diferencia-se da
análise semântica e gramatical, ou seja, da análise da representação linguística de
um determinado objeto ou realidade e da análise estrutural da língua porque o
enunciado é uma função por meio da qual o conteúdo surge, se cria, se apresenta.
Foucault (1987a, p.99) explica que “é essa função que é preciso descrever [...] em
seu exercício, em suas condições, nas regras que a controlam e no campo em que
se realiza”.
O enunciado, a partir desta perspectiva a que me proponho analisá-lo, trata-
se, então, de um acontecimento que por sê-lo é único, embora esteja sempre “aberto
à repetição, à transformação, à reativação; [...] porque está ligado não apenas a
situações que o provocam, e a consequências por ele ocasionadas, mas, ao mesmo
tempo, [...], a enunciados que o precedem e o seguem” (FOUCAULT, 1987a, p. 32);
129
o enunciado é um acontecimento porque possibilita, enfim, uma existência que
permanece no campo de uma memória, ou na materialidade de qualquer forma de
registro.
Não pretendo descrever todas as relações que aparecem, apareceram ou
prever outras que possam ainda aparecer nas formações discursivas constitutivas
pelas relações de coexistência enunciativa com o enunciado necessidade formativa
docente, pois isso estaria fora de cogitação. Como sugere Foucault (1987a, p. 33), é
preciso operar um recorte provisório (pois nunca é definitivo e absoluto) que permita
a descrição de um certo número de relações. Para tanto, escolhi trabalhar com
alguns textos presentes no espaço discursivo da legislação da política de formação
docente no Brasil a partir dos quais apresento a descrição de relações entre o
enunciado necessidade formativa docente e outros com os quais há coexistência na
formação discursiva da formação de professores. Em outras palavras, apresento a
descrição daquilo que tornou possível a necessidade formativa docente acontecer;
apresento a descrição das relações entre os enunciados que tornaram possível a
emergência do objeto necessidade formativa docente no atual contexto da legislação
das políticas de formação de professores no Brasil. Para tanto, selecionei alguns textos que abordam a formação de professores
no campo discursivo legislativo a partir da promulgação da Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional, de 1996 (LDB/1996), porque, como já mencionado, essa lei
motivou debates no campo das políticas educacionais que resultaram em
resoluções, decretos, pareceres portarias e planos (PNE 2000-2010, e PDE de
2007), além de discussões entre as entidades em encontros como a CONAE.
Os textos que foram analisados já foram citados no primeiro capítulo deste
texto, mas relembro-os a sguir: a Lei 9394/1996 (LDB); a Resolução CNE 02/1997,
que Dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes
para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da
educação profissional em nível médio; o Decreto 3276/1999, que Dispõe sobre a
formação em nível superior de professores para atuar na educação básica, e dá
outras providências; a Resolução 01/1999, que Dispõe sobre os Institutos
Superiores de Educação, considerados os Art. 62 e 63 da Lei 9.394/96 e o Art. 9º, §
2º, alíneas "c" e "h" da Lei 4.024/61, com a redação dada pela Lei 9.131/95; o
Parecer CNE/CP 09/2001, que tem como assunto as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior,
130
curso de licenciatura, de graduação plena; o Parecer CNE/CP 27/2001; que Dá nova
redação ao item 3.6, alínea c, do Parecer CNE/CP 9/2001, que dispõe sobre as
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação
Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena; o Parecer
CNE/CP 28/2001, que Dá nova redação ao Parecer CNE/CP 21/2001, que
estabelece a duração e a carga horária dos cursos de Formação de Professores da
Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena; a
Resolução CNE/CP 01/2002, que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de
licenciatura, de graduação plena; a Resolução CNE/CP 02/2002, que Institui a
duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de
formação de professores da Educação Básica em nível superior; os Referenciais
para a formação de professores, elaborado pelo Ministério da Educação e publicado,
em 2002; o Parecer CNE/CP 05/2005, que tem como assunto as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia; o Parecer CNE/CP 03/2006, que
tem como assunto o Reexame do Parecer CNE/CP nº 5/2005, que trata das
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia; a Resolução CNE/CP
01/2006, que Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação
em Pedagogia, licenciatura; o Parecer CNE/CP 05/2006, que Aprecia Indicação
CNE/CP nº 2/2002 sobre Diretrizes Curriculares Nacionais para Cursos de
Formação de Professores para a Educação Básica; o Plano de Desenvolvimento da
Educação: razões, princípios e programas, de 2007; o Decreto nº 6755/2009, que
Institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação
Básica, disciplina a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior -CAPES no fomento a programas de formação inicial e continuada, e
dá outras providências; a Portaria Normativa MEC 09/2009, que Institui o Plano
Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica no âmbito do Ministério
da Educação; a Portaria Normativa MEC 883/2009, que Estabelece as Diretrizes
para o Funcionamento dos Fóruns Estaduais de Apoio à Formação dos Profissionais
da Educação; o Plano Nacional da Educação 2000-2010; parte do Documento Final
da CONAE, realizada em 2010, o IV Eixo – Formação e Valorização dos
Profissionais da Educação.
131
5.3 A norma como estratégia do exercício do poder biopolítico no discurso da formação de professores no Brasil
O exercício do biopoder, na contemporaneidade, aproxima o discurso das
leis mais do estatuto de norma do que de punição, atendendo à maior necessidade
que esse tipo de poder tem em investir em mecanismos contínuos e reguladores,
que, por sua vez, alcançam tanto o indivíduo quanto as coletividades das quais esse
indivíduo faz parte. Isso porque a norma, lembrando o que já foi mencionado em
capítulo anterior, no contexto da biopolítica, e da racionalidade político-econômica
neoliberal, emerge como sendo “natural” e não como sendo uma imposição ou uma
proibição, conferindo ao poder exercer-se estrategicamente sobre a força de
trabalho de cada indivíduo não apenas como indivíduo, mas como se ele fosse um
pequeno exemplo de um conjunto mais amplo do qual ele pertence e ao qual é
homogêneo (REVEL, 2006).
Os enunciados seguintes, presentes nos Referenciais para formação de
professores (BRASIL, 2002), ao apresentar o conceito de “competência” como um
elemento teórico importante a comparecer na concepção da formação de
professores a ser implementada no nosso país, evidencia o mecanismo de ação da
norma no âmbito do individual e do coletivo na constituição do perfil de docente
almejado:
Esse conceito de competência exigirá uma mudança de foco na formulação dos objetivos gerais da formação, que deverão deixar de ser uma lista de capacidades que todos os professores deveriam desenvolver isoladamente. O que se espera é que tais competências sejam desenvolvidas coletivamente, preservando-se as singularidades, e que os próprios professores as valorizem como necessárias, de modo a, conscientemente e intencionalmente, procurar garanti-las no conjunto da equipe. Para isso é importante investir no aprendizado do trabalho coletivo: aprender a estudar, a pesquisar, a produzir coletivamente. (p.62, grifos meu). A formação continuada deve propiciar atualizações, aprofundamento das temáticas educacionais a apoiar-se numa reflexão sobre a prática educativa, promovendo um processo constante de autoavaliação que oriente a construção contínua de competências profissionais. [...] Isso supõe que a formação continuada estenda-se às capacidades e atitudes e problematize os valores e as concepções de cada professor e da equipe (p. 70, grifo meu). [...] as condições e necessidades de formação é que definem que recursos devem ser utilizados e como utilizá-los apropriadamente. O fundamental é otimizar o bom uso possível de todos os recursos que possam contribuir para o desenvolvimento das competências necessárias ao exercício da função de professor. (p. 75, grifo nosso).
132
O exercício da norma valoriza o profissional que está disposto a formar-se
continuamente em prol do seu coletivo, já que essa atitude agrega valor ao seu
trabalho e ao coletivo no qual trabalha. Essa atitude leva ambos, o indivíduo e o
campo de trabalho a estarem sempre (pro)ativos ao estudo, à pesquisa, à inovação
e é amparada pela justificativa de que esse profissional deve valorizar como
necessárias todas as competências que dele serão exigidas e que serão por ele
ratificadas, já que a aquisição delas agrega valor ao seu trabalho.
O Decreto 6755/2009, no qual o enunciado ‘necessidades de formação dos
profissionais do magistério’ aparece, faz parte do conjunto composto por outros
textos que juntos foram integrando o objeto em discussão, tornando possível a
existência dele, materializando-o enquanto objeto. Assim como os decretos, alguns
desses textos aqui analisados são também suportes do âmbito jurídico, porque
constituem, explicam e comentam o aporte legal sobre a formação de professores no
Brasil. Há nesses textos do âmbito jurídico – leis, pareceres, decretos, resoluções e
portarias – a atuação da norma como estratégia do exercício do poder biopolítico. Da
mesma forma, em textos como nos documentos de referência e planos de governo
ou de ação – como são os Referenciais para a formação de professores, o Plano
Nacional da Educação 2000-2010 e o Plano de Desenvolvimento da Educação de
2007 - a norma age como estratégia de normalização.
Devido à emergência da norma, o discurso educacional legislativo e
institucional age estrategicamente no governamento dos envolvidos no processo
educativo, tanto na constituição do indivíduo quanto da coletividade a qual pertence,
produzindo condições para que as necessidades formativas docentes tornem-se um
objeto a ser abordado nos discursos relacionados à formação de professores e às
políticas destinadas à formação dessa categoria profissional. A emergência da
norma, então, cria condições para que o discurso científico produza um saber em
favor à fabricação de homogeneidades entre os indivíduos e de padrões de
normalização das coletividades às quais faz parte cada indivíduo; por isso,
necessidade formativa docente toma a posição de objeto a ser investigado. (É bom
lembrar que, mesmo com atuação da norma nas estratégias do exercício dos
poderes, sempre há vazão para movimentos de resistência à normalização e ao
controle, pois a possibilidade da constituição de subjetividades não sujeitadas se dá
nas relações de poder cuja resistência é seu produto).
133
O exercício do poder biopolítico produz possibilidades para que o objeto
necessidade formativa docente evidencie-se nos textos sobre formação de
professores porque surge devido a condições e necessidades criadas a partir da
discussão da implementação de uma política educacional nacional cujas estratégias
exigem a fabricação de dispositivos de normalização. O aparecimento desse objeto
reflete a movimentação do exercício da biopolítica na formação docente, sendo as
práticas discursivas em torno da formação de professores um dos campos de
exercício desse tipo de poder.
Dessa forma, a necessidade formativa docente é um objeto que emerge
nesse contexto em que o exercício do poder biopolítico está atuando por meio da
norma. O enunciado necessidade formativa docente aparece nos textos como parte
de uma rede discursiva que torna viável e necessária a elaboração de uma política
nacional de formação de professores, pois a elaboração de uma política que se
propõe a universalizar a formação de professores necessita de estratégias,
mecanismos e técnicas de normalização.
A norma age em enunciados como os seguintes, o primeiro presente na LDB
de 1996, o segundo e o terceiro, retirados da Resolução CNE 02/1997, que Dispõe
sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes para as
disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação
profissional em nível médio:
§4º até o fim da Década da educação somente serão admitidos professores habilitados em nível superior ou formados por treinamento em serviço (LDB/1996, p. 39, art. 87, grifo meu). Art. 1º - A formação de docentes no nível superior para as disciplinas que integram as quatro séries finais do ensino fundamental, o ensino médio e a educação profissional em nível médio, será feita em cursos regulares de licenciatura, em cursos regulares para portadores de diplomas de educação superior e, bem assim, em programas especiais de formação pedagógica estabelecidos por esta Resolução. Parágrafo único - Estes programas destinam-se a suprir a falta nas escolas de professores habilitados, em determinadas disciplinas e localidades, em caráter especial. (Resolução CNE 02/1997, p.1, grifo meu). [...] Parágrafo único - Os participantes do programa que estejam ministrando aulas da disciplina para a qual pretendam habilitar-se poderão incorporar o trabalho em realização como capacitação em serviço, desde que esta prática se integre dentro do plano curricular do programa e sob a supervisão prevista no artigo subsequente. (Resolução CNE 02/1997, art. 5º, p.2, grifo meu).
134
Neste outro enunciado, presente no Decreto 3276, de 6 de dezembro de
1999, que Dispõe sobre a formação em nível superior de professores para atuar na
educação básica, e dá outras providências, a norma também atua:
O primeiro enunciado, aquele presente na LDB, institui um padrão para o
nível de escolaridade mínimo dos professores, não instituindo punição, mas abrindo
a possibilidade de adequação daqueles que ainda não possuem esse nível ao incluir
aqueles “formados por treinamento em serviço”, ideia reiterada pelos enunciados
retirados da Resolução CNE 02/1997. O quarto enunciado, presente no Decreto
3276/1999, possibilita a criação de um padrão curricular formativo para os
professores da educação básica, assunto retomado no Parecer CNE/CP 09/2001,
que tem como assunto as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de
Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de
graduação plena, por meio do seguinte enunciado que manifesta o vínculo da
formação docente a um projeto nacional de educação:
É na relação desses enunciados que a norma atua, associando temas e
objetos diferentes, enunciados outros que têm existência própria, mas que coexistem
uns com os outros. No caso: a formação dos professores em nível superior, os
conteúdos da formação dos professores, os conteúdos da formação dos alunos da
educação básica, a formação em serviço, todos esses temas com existência própria,
mas que se apoiam uns nos outros para existirem, para coexistirem e manterem
relação com outros enunciados que constituem o campo discursivo da formação de
Art. 5o O Conselho Nacional de Educação, mediante proposta do Ministro de Estado da Educação, definirá as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica. (p.1, grifo meu).
O estudo e a análise de propostas curriculares de Secretarias Estaduais e/ou Municipais e de projetos educativos das escolas também ficam, em geral, ausentes da formação dos professores dos respectivos estados e municípios. O resultado é que a grande maioria dos egressos desses cursos desconhecem os documentos que tratam desses temas ou os conhecem apenas superficialmente. A familiaridade com esses documentos e a sua inclusão nos cursos de formação, para conhecimento, análise e aprendizagem de sua utilização, é condição para que os professores possam inserir-se no projeto nacional, estadual e municipal de educação. (p. 19, grifo meu).
135
professores. Dentre esses enunciados aquele que constitui o tema da política
nacional de formação dos professores e o objeto necessidade formativa docente.
Todos esses enunciados são transpassados pela norma atuando como estratégia do
exercício do poder biopolítico, porque seus efeitos atuam no planejamento de ações
direcionadas para a formação da população de professores atuantes no território
nacional e dão relevância para a formalização de um padrão aceitável de formação.
O exercício do poder biopolítico age na produção de comportamentos que
podem ser considerados positivos ou negativos. A biopolítica impulsiona o professor
leigo, o professor com escolaridade menor ao ensino superior, a movimentar-se na
direção da ampliação da formação, em direção à formação superior, que tem sido
traduzida como também de melhor qualidade, às vezes tão somente porque o tempo
da escolaridade da formação do professor é quantitativamente maior. Isso tem
favorecido a emergência de um “mercado” de formação, espaço ocupado por
empresários do ramo da educação, interessados em lucrar com a demanda de
professores com formação insuficiente. Esse “mercado” favorece, por sua vez, um
tipo de política de “certificação” dos professores.
A formação continuada de professores, por exemplo, é apresentada pelo
Parecer CNE/CP 09/2001 como sendo um dos elementos, juntamente com a
formação inicial, responsável pela qualidade do docente e, por isso, esse documento
destaca que a melhoria da qualidade profissional dos professores depende de
políticas que objetivem “estabelecer um sistema nacional de desenvolvimento
profissional contínuo para todos os professores do sistema educacional” (p.5),
anunciando a possibilidade de inclusão de todos os professores brasileiros em um
mesmo sistema nacional de formação continuada. No trecho a seguir, o sistema
nacional de formação continuada de professores correlaciona-se com a melhoria da
qualificação profissional e com o desenvolvimento profissional:
Importa destacar que, além das mudanças necessárias nos cursos de formação docente, a melhoria da qualificação profissional dos professores vai depender também de políticas que objetivem: [...] - estabelecer um sistema nacional de desenvolvimento profissional contínuo para todos os professores do sistema educacional; [...]. (Parecer CNE/CP 09/2001, p. 5, grifo meu).
136
O sistema nacional de formação continuada vai se constituindo como uma
necessidade para a melhoria da qualidade do profissional por meio de enunciados
que:
1. abordam a necessidade de se complementar a formação inicial com um tipo
de formação ou qualificação prevista para o longo da vida, devido às
exigências de novas demandas sociais, econômicas e políticas impostas pela
sociedade do conhecimento e ditadas pela perspectiva do mercado, como
mostram os enunciados a seguir:
2. que tomam a escola como uma instituição com novas atribuições na
atualidade e, por isso, faz-se necessária a definição dos conteúdos que
possam responder às necessidades de atuação do professor, como o
enunciado seguinte:
Com relação ao mundo do trabalho, sabe-se que um dos fatores de produção decisivo passa a ser o conhecimento e o controle do meio técnico-científico-informacional, reorganizando o poder advindo da posse do capital, da terra ou da mão-de-obra. O fato de o conhecimento ter passado a ser um dos recursos fundamentais tende a criar novas dinâmicas sociais e econômicas, e também novas políticas, o que pressupõe que a formação deva ser complementada ao longo da vida, o que exige formação continuada. (Parecer CNE/CP 09/2001, p.9, grifo meu). [...] a formação aqui entendida como processo contínuo e permanente de desenvolvimento, o que pede do professor disponibilidade para a aprendizagem; da formação que o ensine a aprender; e do sistema escolar [...], condições para continuar aprendendo. Ser profissional implica ser capaz de aprender sempre. (Referenciais para formação de professores, 2002, p. 63, grifo meu).
As novas tarefas atribuídas à escola e a dinâmica por elas geradas impõem a revisão da formação docente em vigor na perspectiva de fortalecer ou instaurar processos de mudança no interior das instituições formadoras, respondendo às novas tarefas e aos desafios apontados, que incluem o desenvolvimento de disposição para atualização constante de modo a inteirar-se dos avanços do conhecimento nas diversas áreas, incorporando-os, bem como aprofundar a compreensão da complexidade do ato educativo em sua relação com a sociedade. Para isso, não bastam mudanças superficiais. Faz-se necessária uma revisão profunda de aspectos essenciais da formação de professores, tais como: a organização institucional, a definição e estruturação dos conteúdos para que respondam às necessidades da atuação do professor, os processos formativos que envolvem aprendizagem e desenvolvimento das competências do professor, a vinculação entre as escolas de formação e os sistemas de ensino, de modo a assegurar-lhes a indispensável preparação profissional. (Parecer CNE/CP 09/2001, p.10 – 11, grifo meu).
137
3. e por aqueles enunciados que comparam o perfil de um professor
ultrapassado a um perfil mais adequado às demandas profissionais, como os
que seguem:
Os textos vão delineando o perfil adequado de professor comparando
basicamente três perfis: o do professor leigo, que é considerado uma vítima das
condições de formação oferecidas no país; o do professor conservador, que é
aquele que se recusa a se aperfeiçoar; e o do professor pesquisador, atento ao seu
tempo, inovador, que é aquele que investe em sua própria formação e que se
Para atender à exigência de uma escola comprometida com a aprendizagem do aluno importa que a formação docente seja ela própria agente de crítica da tradicional visão de professor como alguém que se qualifica unicamente por seus dotes pessoais de sensibilidade, paciência e gosto no trato com crianças, adolescentes e jovens e adultos. É preciso enfrentar o desafio de fazer da formação de professores uma formação profissional de alto nível. Por formação profissional, entende-se a preparação voltada para o atendimento das demandas de um exercício profissional específico que não seja uma formação genérica e nem apenas acadêmica (Parecer CNE/CP 09/2001, p.29, grifo meu). Entre as inúmeras dificuldades encontradas para essa implementação [de políticas educacionais que visam a melhoria da educação básica] destaca-se o preparo inadequado dos professores cuja formação de modo geral, manteve predominantemente um formato tradicional, que não contempla muitas das características consideradas, na atualidade, como inerentes à atividade docente, entre as quais se destacam: orientar e mediar o ensino para a aprendizagem dos alunos; comprometer-se com o sucesso da aprendizagem dos alunos; assumir e saber lidar com a diversidade existente entre os alunos; incentivar atividades de enriquecimento cultural; desenvolver práticas investigativas; elaborar e executar projetos para desenvolver conteúdos curriculares; utilizar novas metodologias, estratégias e materiais de apoio; desenvolver hábitos de colaboração e trabalho em equipe.” (Parecer CNE/CP 09/2001, p. 4, grifo meu). Evidentemente, quando se delineia o perfil de um profissional, o que se leva em conta é o conjunto de características comuns à maioria, e não a todos. Existem professores leitores e pesquisadores, que investem pessoalmente em seu desenvolvimento profissional, que exigem oportunidades de formação de seus empregadores, que trabalham em equipe, que participam do projeto educativo de suas escolas, que estudam sobre a aprendizagem dos alunos para poder ensiná-los mais e melhor... Mas não é assim com a maioria, e essa realidade precisa ser encarada de frente (Referenciais para formação de professores, 2002, p.32, grifo meu). É certo que há uma enorme distância entre o perfil de professor que a realidade atual exige e o perfil de professor que a realidade até agora criou. Essa circunstância provoca a necessidade de muito investimento na formação profissional (Referenciais para formação de professores, 2002, p.32, grifo meu).
138
responsabiliza pelos resultados da educação escolar, atualmente, adquiridos com a
aplicação das avaliações de grande escala.
O tempo de escolarização, ou seja, quantidade de diplomas, certificados e
tempo dedicado à aprendizagem de novos conteúdos, competências e atitudes
compreendidas como necessárias ao professor, vai se constituindo como um dos
itens que o qualifica como um “bom” profissional ou aquele profissional adequado ao
modelo de indivíduo almejado pelo neoliberalismo: um profissional que busca sua
própria formação, sempre (re)ativando suas capacidades, competências, habilidades
e conhecimentos. No próximo enunciado, retirados dos Referenciais para formação
de professores (2002), percebo essa preocupação da política de formação de
professores com a constituição de profissionais dispostos a responsabilizar-se pela
própria formação que deve ser permanente. Formação essa que os conduz a se
tornarem sempre dispostos a adquirir novas competências, conhecimentos e
atitudes para se manterem ativos no mercado de trabalho docente e manterem o
próprio mercado em atividade, inovado e unificado:
Dentre as competências que esse documento elenca como sendo
importantes a serem desenvolvidas pelos programas de formação de professores
está:
Sendo assim, o processo de construção de conhecimento profissional do professor é contínuo devido a pelo menos quatro exigências: - o avanço das investigações relacionadas ao desenvolvimento profissional do professor; - o processo de desenvolvimento pessoal do professor, que o leva a transformar seus valores, crenças, hábitos, atitudes e formas de se relacionar com a vida e, consequentemente, com a sua profissão; - a inevitável transformação das formas de pensar, sentir e atuar das novas gerações em função da evolução da sociedade em suas estruturas materiais e institucionais, nas formas de organização da convivência e na produção dos modelos econômicos, políticos e sociais; - o incremento acelerado e as mudanças rápidas no conhecimento científico, na cultura, nas artes, nas tecnologias da comunicação, elementos básicos para a construção do currículo escolar. (p. 63-64, grifos meus).
- desenvolver-se profissionalmente e ampliar seu horizonte cultural, adotando uma atitude de disponibilidade para a atualização, flexibilidade para mudanças, gosto pela leitura e empenho na escrita profissional. (p. 84, grifo meu).
139
Além de parâmetros nacionais curriculares para a educação básica e de
referenciais e parâmetros nacionais que conduzem o professor a se normalizar
quanto a sua atitude diante da sua própria formação, outros mecanismos e práticas
colaboram com o objetivo de normalizar a população docente, mecanismos mais
capazes de examinar, medir, comparar as diferenças, julgando-as uma em relação à
outra; enfim, mais preocupados em normalizar do que em punir os professores.
Dentre esses mecanismos e práticas estão a avaliação da atuação docente e as
ações de formação continuada de professores, duas práticas que emergem no
exercício do poder biopolítico e que estão em correlação com a emergência do
objeto necessidade formativa docente, como demonstram os enunciados a seguir:
Quando a perspectiva é de que o processo de formação garanta o desenvolvimento de competências profissionais, a avaliação destina-se à análise da aprendizagem dos futuros professores, de modo a favorecer seu percurso e regular as ações de sua formação e tem, também, a finalidade de certificar sua formação profissional. Não se presta a punir os que não alcançam o que se pretende, mas a ajudar cada aluno a identificar melhor as suas necessidades de formação e empreender o esforço necessário para realizar sua parcela de investimento no próprio desenvolvimento profissional. Dessa forma, o conhecimento dos critérios utilizados e a análise dos resultados e dos instrumentos de avaliação e autoavaliação são imprescindíveis, pois favorecem a consciência do professor em formação sobre o seu processo de aprendizagem, condição para esse investimento. Assim, é possível conhecer e reconhecer seus próprios métodos de pensar, utilizados para aprender, desenvolvendo capacidade de autorregular a própria aprendizagem, descobrindo e planejando estratégias para diferentes situações. (Parecer CNE/CP 09/2001, p.33 – 34, grifo meu). Embora seja mais difícil avaliar competências profissionais do que domínio de conteúdos convencionais, há muitos instrumentos para isso. Algumas possibilidades: identificação e análise de situações educativas complexas e/ou problemas em uma dada realidade; elaboração de projetos para resolver problemas identificados num contexto observado; elaboração de uma rotina de trabalho semanal a partir de indicadores oferecidos pelo formador; definição de intervenções adequadas, alternativas às que forem consideradas inadequadas; planejamento de situações didáticas consonantes com um modelo teórico estudado; reflexão escrita sobre aspectos estudados, discutidos e/ou observados em situação de estágio; participação em atividades de simulação; estabelecimento de prioridades de investimento em relação à própria formação. (Parecer CNE/CP 09/2001, p.34, grifo meu).
140
Como já mencionado neste trabalho, Santos (2006) nos mostra que a
formação continuada de professores é uma prática que faz parte dos dispositivos de
normalização que vêm se fortalecendo no decorrer do século XX e início do século
XXI, no Brasil. Esse autor argumenta que a formação continuada de professores
emerge a partir de condições que proporcionam a produção de um tipo de “professor
alforriado”, ou seja, que é livre para escolher sua formação que, no entanto, é cada
vez mais controlada e estendida por toda a sua vida profissional. A formação
continuada de professores adéqua-se bem à governamentalidade biopolítica que
enfatiza o uso dos dispositivos, dos mecanismos e das tecnologias de normalização
as quais investem na fabricação de uma liberdade cerceada, sendo a emergência do
objeto necessidade formativa docente nas políticas de formação de professores
impulsionada pela ênfase nos processos de normalização do professor e de
autorregulação.
Isso porque é por meio de um conjunto de técnicas produtoras de
necessidades que é possível averiguar o que está fora da norma, fora do perfil do
professor exigido pelo mercado, e elaborar ações para que os que estão fora do
padrão normalizem-se. A autorregulação é enfatizada porque convida os professores
a elaborarem suas necessidades, mas muitas vezes sem fazer uma análise mais
aprofundada da conjuntura educacional, o que resulta na reprodução de
necessidades já divulgadas pelos discursos do sistema educacional e na produção
de um professor preocupado com a sua adequação às lacunas do que necessita o
mercado ou o sistema. O interesse biopolítico é forjar um professor capaz de se
autorregular e se autoavaliar permanentemente, sempre em busca de se reinventar,
[...] [as formas de formação continuada] não devem perder de vista a ligação com as questões e demandas dos professores sobre seu trabalho. As secretarias de educação têm o papel fundamental na organização e promoção da formação continuada, uma vez que são elas que possibilitam acompanhamento sistemático às equipes escolares, fixam as diretrizes gerais do trabalho, promovem assessorias, eventos de atualização e programas de formação. Mas é decisivo o papel formador do trabalho cotidiano das equipes técnicas junto ás escolas, seja como dinamizadoras e orientadoras, para manter viva a discussão dos projetos educativos, avaliar o trabalho dos educadores, fazer chegar às escolas materiais e propostas inovadoras. É esse trabalho contínuo dos técnicos que possibilita o conhecimento da realidade das escolas e permite que os programas de formação continuada sejam significativos e orientados pelas demandas das escolas e por uma análise de suas questões. (Referenciais para formação de professores, 2002, p. 71, grifo meu).
141
se reformular. A norma impulsiona para a formação de diferentes tipos de
professores que se normalizam numa mesma regra: tornar-se ativo no mercado de
trabalho adquirindo cada vez mais competências diferentes para atuar.
O enunciado necessidade formativa docente surge nas discussões sobre a
formação inicial e continuada de professores que alimentam o comportamento de
autoformação e autoavaliação dos professores por se apoiarem em enunciados
sobre o próprio gerenciamento da formação, como mostra os enunciados
anteriormente citados do Parecer CNE/CP 09/2001, p.33 – 34 e dos Referenciais
para formação de professores e os seguintes:
Art. 5o O Conselho Nacional de Educação, mediante proposta do Ministro de Estado da Educação, definirá as diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores da educação básica. § 1o As diretrizes curriculares nacionais observarão, além do disposto nos artigos anteriores, as seguintes competências a serem desenvolvidas pelos professores que atuarão na educação básica: [...] VI - gerenciamento do próprio desenvolvimento profissional (Decreto 3276/1999, p.1, grifo meu). Assim, é necessário, também, prever instrumentos de autoavaliação, que favoreçam o estabelecimento de metas e exercício da autonomia em relação à própria formação. Por outro lado, o sistema de avaliação da formação deve estar articulado a um programa de acompanhamento e orientação do futuro professor para a superação das eventuais dificuldades. (Parecer CNE/CP 09/2001, p.40-41, grifo meu). São critérios de seleção de conteúdos, na formação de professores para a educação básica, as potencialidades que eles têm no sentido de ampliar: a) a visão da própria área de conhecimento que o professor em formação deve construir; [...] (Parecer CNE/CP 09/2001, p.47, grifo meu). Art. 4º Na concepção, no desenvolvimento e na abrangência dos cursos de formação é fundamental que se busque: [...] V - a avaliação deve ter como finalidade a orientação do trabalho dos formadores, a autonomia dos futuros professores em relação ao seu processo de aprendizagem e a qualificação dos profissionais com condições de iniciar a carreira (Resolução 01/2002, p.2, grifo meu).
142
A norma age estrategicamente na construção do discurso sobre a formação
de professores, sobrepondo enunciados, correlacionando-os com enunciados sobre
o professor autogerenciar a sua própria formação, procurando fortalecer
comportamentos de autoavaliação sobre as suas próprias necessidades formativas.
A norma aqui age na construção de uma estratégia de exercício de poder mais
econômico do que o sistema de punições, pois é um poder que se exerce no sentido
de fazer formar cada vez mais o professor, aproveitando-o a cada inovação,
demanda e necessidade por meio de um sistema nacional de formação que cria
parâmetros e modelos de formação, ao mesmo tempo que deixa o professor se
formar ao permitir que ele se autogerencie na sua formação, se autoavalie nas suas
necessidades.
Considerar os futuros professores como sujeitos ativos de seu processo de construção de conhecimento implica considerar suas representações, conhecimentos e pontos de vista; criar situações-problema que os confrontem co obstáculos e exijam sua superação; criar situações didáticas nas quais possam refletir, experimentar e ousar agir a partir dos conhecimentos que possuem; incentivá-los a registrar suas reflexões por escrito; ajudá-los a assumir a responsabilidade pela própria formação. Isso demanda flexibilidade das ações de formação, que não devem ser sempre organizadas e propostas de uma única forma, mas de acordo com as necessidades de aprendizagem do professor e as características do que se aprende. (Referenciais para formação de professores, 2002, p. 107, grifo meu). Se a supervisão está prioritariamente comprometida com o desenvolvimento da autonomia para a atuação profissional e por isso estará privilegiando a reflexão sobre a prática profissional, o grupo de estudo contempla esse objetivo por propiciar a construção de um percurso próprio de desenvolvimento intelectual, compartilhado com os pares. Podem ser organizados a partir das demandas identificadas ou de propostas dos formadores, mas sua trajetória deve estar sempre pautadas nas necessidades dos participantes do grupo. Podem ser totalmente autônomos ou coordenados por um formador (Referenciais para formação de professores, 2002, p. 115, grifo meu). [...] Embora seja mais difícil avaliar competências profissionais do que conteúdos convencionais, há muitos instrumentos para isso. Algumas possibilidades: [...] estabelecimento de prioridades de investimento em relação à própria formação (Referenciais para formação de professores, 2002, p. 117-118, grifo meu). É necessário prever instrumentos de autoavaliação, o que favorece a tomada de consciência do percurso de aprendizagem, a construção de estratégias pessoais de investimento no desenvolvimento profissional, o estabelecimento de metas e o exercício da autonomia em relação à própria formação. A autoavaliação faz sentido quando é discutida e serve de importante canal de interlocução com os formadores. (Referenciais para formação de professores, 2002, p. 127, grifo meu).
143
Nesse sentido, a norma atua na naturalização de saberes/verdades, no
caso, de saberes/verdades sobre a formação do professor e sobre as suas
necessidades de formação. Um dos saberes naturalizados é a necessidade do
professor se escolarizar cada vez mais para suprir necessidades formativas que se
modificam e são criadas constantemente. Não se pergunta se os professores têm
necessidades de formação, afirma-se. Os textos aqui analisados não se questionam
sobre isso, mas afirmam a existência das necessidades docentes, naturalizando-as.
Nas tramas desses textos a constatação das necessidades formativas se dá quando
se articula a sua existência a uma série de demandas exigidas na atualidade, como
a necessidade da ampliação da escolaridade docente, a atualização dos aspectos
teórico e metodológicos dos programas curriculares de formação docente, a
adequação dos programas curriculares a novas demandas sociais como a inclusão
dos considerados excluídos (portadores de necessidades especiais e excluídos
socialmente como os delinquentes, menores infratores, indígenas, afrodescendente)
e o contraste entre o professor arcaico, obsoleto e o professor inovador, aquele que
domina o uso das tecnologias de informação e comunicação.
A constatação de que o professor possui necessidades de formação devido
às demandas sociais contribui com a emergência do objeto necessidade formativa
docente no sentido de produzir o efeito de verdade que leva à produção de uma
identidade docente preocupada com o investimento em si mesma não apenas
porque tem a intenção de “desenvolver-se profissionalmente” e alcançar a
autonomia intelectual, mas, sobretudo, porque necessita sobreviver ou manter-se
competitivo no mercado de trabalho. O que esses discursos parecem tecer nas suas
malhas é um tipo de subjetividade docente que se preocupa em tornar-se ativa
economicamente no mercado educacional, sendo a ampliação da escolaridade
docente, a constante atualização e a qualificação da força de trabalho docente os
elementos que tornam o professor competitivo e apto para o trabalho.
O que se espera desse professor é que ele esteja pronto a atuar com todos
os públicos possíveis, atendendo à variedade da demanda escolar, em qualquer
posto que estiver disponível, ampliando a capacidade de mobilidade do profissional.
O professor, ao se formar em várias especialidades, adquire maior capacidade de
mobilidade profissional, podendo atender a qualquer uma das demandas existentes
e isso aumenta a sua condição de sobrevivência no mercado de trabalho. A verdade
necessidade formativa docente articula-se à produção de um professor que seja
144
flexível e inovador, que se autogoverne no gerenciamento da sua formação, que
seja, portanto, um investidor no seu próprio capital formativo.
Em Nascimento da Biopolítica, Foucault comenta que o princípio da arte de
governar a partir da Modernidade são os processos de subjetivação, pois a
racionalidade dos governados é aquela que se tem interesse em governar. O
interesse do exercício do poder desde a Modernidade é governar os governados
como sujeitos econômicos, como homo oeconomicus, indivíduos empresários de si
mesmos, capazes de se autocapacitar, se autorregular, se autocobrar e para, assim,
continuamente, estarem aptos para a produção e para o consumo. Foucault (2008d)
analisa que há dois modelos teóricos sobre a formação do homo oeconomicus: o
modelo clássico e o modelo neoliberal.
O modelo clássico de homo oeconomicus toma o indivíduo como parceiro da
troca, sendo que o que caracteriza essa concepção é a análise dos comportamentos
do indivíduo conforme a sua utilidade em um contexto de necessidades, “já que é a
partir dessas necessidades que poderá ser caracterizada ou definida, ou em todo
caso poderá ser fundada, uma utilidade que trará o processo de troca” (FOUCAULT,
2008d, p. 310). De outra forma, o modelo neoliberal de homo oeconomicus toma o
indivíduo como o investidor em si mesmo, “como empresário de si mesmo, sendo ele
próprio seu capital, sendo para si mesmo seu produtor, sendo para si mesmo a fonte
de sua renda” (FOUCAULT, 2008d, p. 311).
O discurso presente nos textos aqui analisados, na esfera legislativa da
política educacional brasileira, parece-me permeado por essas duas concepções de
homo oeconomicus expostas anteriormente. Ao problematizar esses regimes de
verdade construídos pelos discursos veiculados nos textos analisados aqui sobre as
necessidades formativas dos professores, a intenção é compreender o que tem
governado esses discursos. Parece-me que a ênfase desses discursos é a
valorização da formação como investimento no capital humano do professor para
melhor aproveitá-lo continuamente no mercado de trabalho e nem tanto a
preocupação com a formação de um tipo de autonomia intelectualizada como
característica para subjetivação do docente. A subjetivação de um professor
empresário de si mesmo sobrepõe-se à formação de um docente que se possa
chamar autônomo em relação às suas escolhas teóricas e políticas.
Por um lado, ao legitimar os saberes construídos em torno do diagnóstico de
necessidades de formação docente, como uma constatação e uma afirmação, esse
145
diagnóstico é formalizado como um quadro indicativo de conteúdos, atitudes,
procedimentos, metodologias pelas quais as ações de formação dos professores
devem se direcionar. Nesse caso, o exercício da tecnologia disciplinar exerce-se na
produção de um homo oeconomicus no sentido da teoria clássica do liberalismo,
pois ele se produz na utilidade a qual servirá.
Por outro lado, e, ao mesmo tempo, a tecnologia de poder biopolítica age no
incentivo da produção de uma subjetividade que se autorregule, que queira investir
em si mesma por vontade própria, que se autorrenove a partir do que o mercado
necessita, fazendo esse professor querer adquirir cada vez mais competências e
habilidades diferenciadas. O discurso em torno da formação e das necessidades
formativas docentes articulado à valorização profissional como sendo um tipo de
desenvolvimento profissional coloca em relevo um tipo de formação cumulativa e
preocupada em forjar um professor sempre disposto a querer vivenciar situações
que ampliam a sua escolaridade e a sua aprendizagem de inovações. Nesse caso, o
homo oeconomicus que se quer produzir é o do neoliberalismo, sendo o professor
não apenas um parceiro da troca, mas também um empresário de si mesmo.
Ao conceituar o homo oeconomicus como consumidor que ao consumir
investe na produção de sua satisfação, o discurso neoliberal considera-o como
empresa. Isso porque o empresário de si realiza a atividade empresarial de produzir
algo ao mesmo tempo que consome esse algo produzido, agregando valor a si
mesmo, investindo no seu próprio capital (o capital humano). Ao estudar como esse
capital humano se constitui e se acumula, os neoliberais aplicaram nos campos e
nas áreas que não eram consideradas econômicas modelos de análise econômicas.
Assim, a formação de professores também está sujeita a uma análise a partir do
modelo econômico.
O discurso, presente na legislação das políticas educacionais brasileiras na
atualidade, enfatiza a produção de um professor produtor de suas próprias
necessidades de formação que serão consumidas, posteriormente, por eles
mesmos, nos programas de formação ou nos projetos coletivos na escola. Dessa
forma, os professores atendem aos requisitos exigidos pelo mercado e investem em
si mesmos transformando-se em investidores do e no seu próprio capital. O
professor ao se constituir nesse contexto é um professor que deve saber produzir ou
elaborar o ‘não produto do seu trabalho’ (as suas necessidades, as suas
dificuldades, as suas demandas de formação) para que um grupo de formadores ou
146
especialistas planejem e implementem ações de formação para satisfazer esse ‘não
produto’ diagnosticado ou para que ele próprio juntamente com seu coletivo de
trabalho defina ações que satisfaçam o que foi por ele detectado. Ao consumir essas
ações de formação que satisfazem o seu ‘não produto’, os professores produzem a
sua satisfação e investem no seu próprio capital, garantindo a sua sobrevivência no
mercado ou a posição de sujeitos ativos economicamente.
O próximo enunciado sintetiza o exercício da norma na correlação das
práticas de avaliação e autoavaliação, com a identificação de necessidades
formativas e com a cultura do investimento no próprio capital humano:
Os mecanismos de avaliação, autoavaliação, diagnósticos de necessidades
formativas e as ações de formação favorecem o poder biopolítico em exercer-se. O
objetivo é normalizar o professor e torná-lo um indivíduo sempre preocupado em
investir no seu capital, o subjetiva, pois, a se tornar um homo oeconomicus atuante
na esfera educativa, sendo possível, portanto, configurar e analisar esse campo de
ação nos moldes ou padrões econômicos, assim como almeja o discurso neoliberal.
A formação continuada aparece como norma para a constituição de um
professor de melhor qualidade nos moldes do neoliberalismo. E as necessidades de
formação desse professor, diagnosticadas pelas técnicas de levantamento e critérios
de avaliação, são os saberes que legitimam a prática da formação continuada como
uma necessidade eternizada, ou seja, a formação de um professor alforriado na
órbita da exigência do mercado em autoinvestir no seu capital pedagógico para
sobreviver no mercado de trabalho.
Como fazer a formação de professores escapar à análise dos padrões
econômicos? Talvez a resposta para essa pergunta esteja na proposta do cuidado
de si como indivíduo que elabora continuamente uma ética de viver e não como um
As práticas de avaliação devem se pautar pelo compromisso, de formadores e professores com o desenvolvimento das competências que são objetivos da formação: não se trata de punir os que não alcançam o que se pretende, mas a ajudar cada professor a identificar melhor as suas necessidades de formação e empreender o esforço necessário para realizar sua parcela de investimento no próprio desenvolvimento profissional. Dessa forma o conhecimento dos critérios utilizados e a análise dos resultados e dos instrumentos de avaliação e autoavaliação são imprescindíveis, pois favorecem a consciência do professor sobre o seu processo de aprendizagem, condição para esse investimento. (Referenciais para formação de professores, 2002, p. 117, grifo meu).
147
investidor que constantemente investe em si mesmo como uma empresa que
acumula capital. Para tanto, é interessante pensarmos a formação de professores
como uma experiência ética nos termos do cuidado de si foucautiano.
Pagni (2011) reflete sobre a possibilidade de elaborar uma estratégia política
que atente para “a formação de atitudes, e não apenas de competências, e para a
formação ética e não apenas para a qualificação profissional” (p. 191) do professor,
ressaltando as noções de cuidado de si e da “psicagogia” na busca de uma
formação que contraste com a visão especializada da formação, a “sua
racionalidade técnica e a sua restrição atual à mera qualificação profissional”
(PAGNI, 2011, p. 193). A “psicagogia” é entendida por Foucault, segundo Pagni
(2011), como um tipo de formação que não apenas intenta transmitir conhecimentos
que têm a função de desenvolver o indivíduo quanto às suas capacidades e
competências, mas de transmitir uma verdade que tem como função transformar o
seu modo de ser diante da vida. Esse tipo de formação converge com a noção de
cuidado de si, porque envolve abordar a verdade como uma estética de existência,
portanto, também ética, e não apenas como um instrumental técnico, teórico e
prático de se adquirir potenciais e habilidades.
Sem diferenciar formação de qualificação, os enunciados aqui ressaltados,
presentes no discurso das políticas de formação de professores, evidenciam o
quanto o empenho em se formalizar e implementar um sistema nacional de
formação de professores precisa atentar para a ênfase dos discursos em um tipo de
formação que não proporciona ao professor um encontro ético consigo mesmo e
com suas possibilidades de resistir ao assujeitamento. Os enunciados não têm
diferenciado a autonomia intelectual como sendo uma atitude de fazer escolhas
teóricas, políticas e éticas diante da profissão e da vida de uma suposta liberdade
dos docentes de escolherem quais competências e habilidades são mais rentáveis
na sua formação.
Em estudo sobre a relação da formação continuada com o desenvolvimento
profissional docente, Romanowski e Martins (2010) concluem que as atuais políticas
nessa área, implementadas no Brasil, têm favorecido a regulação profissional e não
o desenvolvimento profissional44 do professor. Isso porque, segundo as autoras, ao
44 As autoras entendem desenvolvimento profissional como “um processo através do qual os trabalhadores melhoram o seu estatuto, elevam seus rendimentos e aumentam o seu poder/autonomia” (NOVOA, apud ROMANOWSKI e MARTINS, 2010, p. 287).
148
enfatizarem a autonomia como traço significativo na formação do indivíduo
professor, essas políticas ampliam a responsabilização do trabalho docente sobre os
resultados das avaliações de grande escala, favorecendo o discurso de
culpabilização do professor como elemento principal da pouca qualidade da
educação escolar, o que coloca o profissional em posição de desprestígio diante da
sociedade, enfraquecendo-o profissionalmente e socialmente. Além disso, as
autoras alegam que o discurso das atuais políticas de formação de professores no
Brasil muito embora enfatizem a autonomia do professor como uma ideia de
participação e emancipação profissional que está aliada à ideia de descentralização
da administração escolar “há um processo centralizado de controle com autonomia
de execução local” (ROMANOWSKI e MARTINS, 2010, p. 298). Para as autoras, há
uma tendência nas atuais políticas de formação de professores em regular até as
entranhas os professores cujas “qualidades próprias da [sua] pessoalidade [...]
tornam-se exigências de desempenho profissional, para além do desempenho
profissional do professor” (ROMANOWSKI e MARTINS, 2010, p. 298).
A regulação, no caso, se concretiza com a ação da norma na formação que
se faz interminável de um professor que estará a correr atrás do que está a sua
frente, a frente de seu tempo, de suas capacidades já adquiridas, dos
conhecimentos que já adquiriu e, assim, parece tornar-se sempre obsoleto diante
das exigências das inovações do mercado. A analogia construída por Santos (2006)
ao aproximar a formação continuada dos professores do processo de alforria dos
escravos traduz o que o discurso da legislação das políticas de formação continuada
está construindo: um professor alforriado ao seu processo de formação. Alforriar o
professor ao seu processo de formação/qualificação não é proporcionar um caminho
para que ele pratique a sua liberdade, mas é cercear o professor em uma suposta
liberdade ou em uma certa liberdade fabricada pelos princípios neoliberais do
consumismo e da competição. Que comportamento está sendo incentivado? O do
dirigir-se a si mesmo na construção de uma subjetividade diferente daquela que
ratifica a competição como meio de convívio com os outros, como meio de disputa
por um espaço no mercado de trabalho? É preciso formar-se cada vez mais para se
tornar melhor? O que é tornar-se melhor então? É ter mais e melhores chances de
competir? Essas questões problematizam o discurso da política de formação que
está sendo implementada atualmente e chamam atenção para a diferença entre
formar para a autonomia intelectual e qualificar para o mercado; entre constituir o
149
outro eticamente diante da profissão e da própria vida e constituir o outro como um
sujeito assujeitado ao jogo do mercado.
Essa diferença é estabelecida na disputa de forças presentes no discurso da
formação de professores, sendo a Associação Nacional pela Formação dos
Profissionais da Educação (Anfope) e a CONAE dois espaços favoráveis à
delimitação dessas diferenças. A Anfope tem realizado nos seus encontros bienais
discussões relacionadas aos rumos da política de formação de professores e
registrou no Documento Final do 16º Encontro Nacional da Anfope Políticas de
Formação e Valorização dos Profissionais da Educação: PNE, Sistema Nacional da
CONAE/20014 e Fóruns Permanentes de Apoio à Formação Docente, realizado em
2012, em Brasília, a preocupação com a implementação de um sistema nacional de
formação e valorização dos profissionais da educação que ofereça resistência aos
pressupostos neoliberais. A Anfope defende a construção de um Sistema Nacional
de Educação que inclua um Subsistema Nacional de Formação e Valorização dos
Profissionais da Educação, mas se coloca contrária aos mecanismos de certificação
de competência dos professores, concebendo a formação continuada como uma
estratégia de resistência aos princípios neoliberais. Inclusive, nesse documento final,
a Anfope reivindicou a revogação da Resolução CNE/CP n.01/2002, que Institui
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação
Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena, por entender
que os pressupostos que regem tal resolução estão arraigados à “tendência
neotecnicista de educação e a teoria do neocapital humano” (ANFOPE, 2012, p. 17).
Segundo a Anfope (2011a, p. 87-89), ao explicar a sua concepção sobre a base
comum nacional na formação dos profissionais da educação, dentre outras coisas,
defende a concepção da formação continuada como sendo contrária à
ideia de currículo e formação extensiva, sem comprometer a formação teórica de qualidade, permitindo a autonomia e independência intelectual e a direção de seu próprio processo de formação como estratégia de resistência às determinações externas sobre o caráter de sua formação, na direção do aprimoramento pessoal e profissional (grifo dos autores).
A Anfope, desde que foi instituída a Política Nacional de Formação de
Profissionais do Magistério de Educação Básica, por meio do Decreto n. 6.755, de
29 de janeiro de 2009, vem desenvolvendo uma pesquisa participante chamada
150
Observatório de Formação e Valorização Docente: configurações e impactos da
implementação dos Fóruns Permanentes de Apoio à Formação do Magistério. Por
meio dessa pesquisa a Anfope chama a atenção para o fato de que “os Fóruns
Estaduais vêm desempenhando a função de simples validadores ou legitimadores
das ações impostas ou pelo poder central, ou pelo poder estadual, ou pelo poder
municipal” (ANFOPE, 2012, p. 42) muito embora sejam espaços que foram
constituídos para serem democráticos. Essa informação chama atenção porque são
nesses fóruns que as necessidades de formação dos professores devem ser
diagnosticadas, segundo o Decreto 6755/2009.
As vozes que compõem a CONAE/2010 e a Anfope incorporam ao seu
discurso o objeto necessidades formativa docente como um referencial de apoio às
políticas de formação de professores, mas são contrárias a diretrizes que articulem a
formação e a valorização do professor a mecanismos de punição e premiação.
Segundo o Documento Final da CONAE de 2010,
No Documento Final do 14º Encontro Nacional da Anfope, realizado em
Goiânia, em 2008, consta que mais recentemente, o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado em 24/04/2007, e sua complementação, o Decreto Presidencial nº 6094/2007, que dispôs sobre o “Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação”, prevê programas de formação inicial e continuada de profissionais da educação, embora ressalte para isto o ‘mérito’ e o ‘desempenho’ dos professores numa clara vinculação a uma lógica meritocrática, o que é preocupante de nosso ponto de vista. (ANFOPE, 2011a, p. 91).
Pensar, portanto, em uma formação de professores que possa superar a
ênfase na dimensão cognitiva e instrumental das ações de formação, valorizando
outras dimensões a dimensão estética e artística, a dimensão corporal e a dimensão
a construção da autonomia intelectual dos/das professores/as para um exercício mais qualificado não é algo para ser resolvido por meio de punição ou de premiação. Para avançar nesse sentido, é fundamental conceber e implementar programas amplos e orgânicos, de médio e longo prazos, pactuados entre universidades, sistemas de ensino e demais instituições educativas. Tais programas devem promover ações voltadas para a formação de professores/as e gestores/as, para garantir qualificação e apoio permanentes às práticas docentes e de gestão das escolas públicas. (Documento Final da CONAE, 2010, p.97- 98).
151
ética da profissão talvez possam trazer outras formas de se fazer aflorar novas
identidades docentes fortalecidas a resistir à normalização de um tipo de homo
oeconomicus da docência como um dos sujeitos da educação.
5.4 A função autor e o comentário como princípios de rarefação dos enunciados coexistentes à necessidade formativa docente: a ‘qualidade’ e a ‘valorização’ usadas como estratégias de governamento docente.
Nesta seção discutirei como a função autor e o comentário são regras que
colaboram com as formações discursivas nas quais o enunciado necessidade
formativa docente apoiou-se para constituir-se como objeto e, assim, entrar na
ordem do discurso da atual política nacional de formação de professores, no Brasil.
Operar com a noção de autor na análise dos discursos implica entender que
essa noção não se refere a um indivíduo-autor, mas a uma posição-autor que é uma
posição estratégica dentro do jogo de exercício do poder e de produção de saber.
Como explica Foucault (1987a, p. 109),
descrever uma formulação enquanto enunciado não consiste em analisar as relações entre um autor e aquilo que ele disse (ou quis dizer ou disse sem querer); mas em determinar qual é a posição que pode e deve ocupar todo indivíduo para nela ser o sujeito.
Textos como referenciais e documentos emitidos por comissões, grupos e
instituições, bem como textos da legislação em torno da educação fazem parte da
educação escolar que é um dos “sistemas administrativos e burocráticos de
organização social e [de] regulação” (DEACON e PARKER, 2000, p. 98). Sendo
assim, os textos aqui analisados são um dos conjuntos nos quais circulam e se
constituem os discursos educacionais, pois são um dos mecanismos de transmissão
de conhecimento de uma autoridade, e que não deixam, portanto, de criar
“condições de possibilidade de sujeição, mascarada por alegações de favorecimento
do progresso intelectual, da mobilidade socioeconômica e do progresso social”
(DEACON e PARKER, 2000, p. 102).
Embora os textos aqui analisados por si só não determinem mudanças logo
que um decreto, lei, parecer ou resolução sejam sancionados ou que algum
documento de referência seja publicado, eles provocam efeitos reguladores, porque
apoiados neles surgem as ações, os programas, os levantamentos de dados, todo
152
um arsenal técnico-burocrático que separa o que pode ser feito e ser dito daquilo
que não pode ser feito e dito.
Desse modo, a legislação educacional juntamente com os referenciais
curriculares nacionais e outros documentos produzidos por entidades influentes nas
instituições e políticas educacionais são importantes procedimentos de sujeição, pois
são
‘grandes edifícios que asseguram a distribuição de sujeitos falantes pelos diferentes tipos de discurso e a apropriação dos discursos a certas categorias de sujeito’ [FOUCAULT, in: A ordem do discurso], e que têm o ‘poder de constituir domínios de objetos’ [idem, ibidem]; eles são mecanismos pelos quais uma ordem ou um significado são violentamente impostos sobre as coisas [...]. (DEACON e PARKER, 2000, p. 102).
Nesse sentido, os discursos analisados aqui lançam regularidades na
produção de outras práticas discursivas, funcionando como sistemas de dispersão e
de exclusão discursiva que traçam limites ao discursivo. Assim, o discurso presente
no corpus aqui selecionado assume a posição-autor, porque estão numa posição
estratégica de definição dos objetos, temas, assuntos etc. do que pode ou não ser
aceitável na ordem do discurso educacional.
Quanto à noção de comentário, fiz a leitura da LDB/1996, da legislação e de
textos publicados depois dela, porque toda a legislação e textos produzidos a partir
dela fazem-na operar, ora reforçando o que já fora dito, ora criando novos discursos
daquilo que já havia sido dito nessa lei; produzindo o efeito da identidade na ordem
do discurso educacional, separando o que está previsto em lei do que não está;
fabricando o efeito do que é verdadeiro e do que não é, do que é possível e do que
não é.
Não se trata aqui de procurar a origem do enunciado necessidade formativa
docente, mas de considerar os elementos que lhes são antecedentes e que mantêm
relação com ele, tornando-o possível; esses elementos são chamados de
“fenômenos de recorrência” e Foucault (1987a, p. 143) os explica da seguinte forma:
todo enunciado compreende um campo de elementos antecedentes em relação aos quais se situa, mas que tem o poder de reorganizar e de redistribuir segundo relações novas. Ele constitui seu passado, define, naquilo que o precede, sua própria filiação, redesenha o que o torna possível ou necessário, exclui o que não pode ser compatível com ele. Além disso, coloca o passado enunciativo como verdade adquirida, como um acontecimento que se produzia, como uma
153
forma que se pode modificar, como matéria a transformar, ou, ainda, como objeto de que se pode falar.
Foucault (1987a, p. 121) explica que “o enunciado tem a particularidade de
ser repetido: mas sempre em condições estritas”, e, por isso, o enunciado “entra em
redes, se coloca em campos de utilização, se oferece a transferências e a
modificações possíveis, se integra em operações e em estratégias onde sua
identidade se mantém ou se apaga” (idem, ibidem). Visualizar essa rede na qual se
formou o enunciado necessidade formativa docente é o que pretendo com esta
análise.
Apresentarei logo adiante alguns enunciados aos quais acredito entrar em
rede com o enunciado necessidade formativa docente, tal como é apresentado no
Decreto 6755/2009 e na Portaria MEC 09/2009, ou seja, como um tema a ser
discutido nos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente e um
objeto a ser investigado, já que deve ser identificado e diagnosticado. Essa
discussão e diagnóstico devem ser pautados nos dados do censo da educação
básica e devem servir de parâmetros para discriminar os cursos de formação
continuada, como versam os artigos 1º e 5º do decreto acima mencionado:
E como estabelecem os artigos 1º e 2º da Portaria citada anteriormente:
Art. 1º Fica instituída a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, com a finalidade de organizar, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a formação inicial e continuada dos profissionais do magistério para as redes públicas da educação básica (Decreto 6755/2009, p.1, grifo meu). Art. 5º o plano estratégico a que se refere o § 1º do art. 4º deverá contemplar: I – diagnóstico e identificação das necessidades de formação de profissionais do magistério e da capacidade de atendimento das instituições públicas de educação superior envolvidas; [...] § 1º O diagnóstico das necessidades de profissionais do magistério basear-se-á nos dados do censo da educação básica, de que trata o art. 2º do Decreto nº 6.425, de 4 de abril de 2008, e discriminará: I – os cursos de formação inicial; II – os cursos de formação continuada; III – a quantidade, o regime de trabalho, o campo ou a área de atuação dos profissionais do magistério a serem atendidos; IV – outros dados relevantes que contemplem a demanda formulada (Decreto 6755/2009, p. 3, grifo meu).
154
A formação continuada é um dos enunciados com os quais necessidade
formativa docente mantém relação de coexistência, pois emerge com a necessidade
do planejamento das ações formativas docentes que ao mesmo tempo legitima a
existência das práticas tanto discursivas quanto não discursivas de formação
continuada de professores, auxiliando a constituir a formação continuada como uma
prática imprescindível para a melhoria da qualidade do professor e da educação
básica.
O discurso a respeito das necessidades de formação dos professores
produz um efeito de legitimação política que sustenta o planejamento das práticas
de formação continuada dos professores como uma necessidade do sistema
educacional e um direito do professor. Da mesma forma, a necessidade da formação
continuada legitima, por sua vez, a discussão sobre as necessidades formativas dos
professores que emerge no contexto em que se buscam meios de melhor planejar a
formação dos professores, sendo o levantamento e a coleta de dados sobre a
formação um componente importante nas estratégias de planejamento das ações
formativas. O levantamento e a análise de informações sobre a formação do
professor e as ações formativas são descritas como meios para melhor atender as
dificuldades práticas e cotidianas dos docentes, como que favorecendo o docente
Art. 1º Fica instituído o Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica, uma ação conjunta do MEC, por intermédio da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES, em colaboração com as Secretarias de Educação dos Estados, Distrito Federal e Municípios e as Instituições Públicas de Educação Superior (IPES), nos termos do Decreto 6755, de 29 de janeiro de 2009, que institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, com a finalidade de atender à demanda por formação inicial e continuada dos professores das redes públicas de educação básica (Portaria MEC 09/2009, p. 1, grifo meu). Art. 2º O atendimento às necessidades de formação inicial e continuada dos professores pelas Instituições Públicas de Educação Superior (IPES) e Secretarias de Educação dos Estados, conforme quantitativos discriminados nos planos estratégicos elaborados pelos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente, de que trata o art. 4º do Decreto 6755/2009, dar-se-á por meio de: [...] II – fomento às IPES para apoio à oferta de cursos de licenciatura e programas especiais emergenciais destinados aos docentes em exercício na rede pública de educação básica e à oferta de formação continuada [...] (Portaria MEC 09/2009, p. 2, grifo meu).
155
para que se desenvolva profissionalmente, valorizando-o, portanto; e como
estratégias que agregam qualidade à educação básica.
Então a formação continuada de professores constitui-se nos textos aqui
analisados como um elemento que promove a valorização do docente e como um
elemento que melhor qualifica a educação básica, junto a outros temas como
condições salariais e de trabalho. A recorrência da formação continuada como um
elemento de valorização profissional e de direito do docente, como sendo uma
prática essencial ao desenvolvimento da profissionalidade docente, como um dos
elementos responsáveis pela qualidade da educação básica e como algo que deve
ser planejada e oferecida pelo Estado, é também utilizada como estratégia de
governamentalidade do docente. Isso porque o exercício do poder biopolítico age na
emergência da prática da formação continuada naturalizando-a como necessária e a
emergência do objeto necessidade formativa docente contribui para legitimar a
necessidade da formação continuada como uma prática que agrega qualidade ao
professor e ao sistema educacional. A formação continuada, então, pode ser
considerada uma possibilidade, uma necessidade e um direito ‘quase obrigatório’
para que o professor se mantenha ativo e apto à função docente no sistema
educacional.
A necessidade formativa docente coexiste com a formação continuada dos
professores, pois comprova, legitima a necessidade da existência e do planejamento
da formação continuada que precisa da necessidade formativa docente para existir e
para ser planejada ou controlada, ou seja, governamentalizada. Para entender essa
estratégia de governamentalização da formação dos professores brasileiros, trago
alguns enunciados mais adiante que mostram a rede discursiva na qual o enunciado
necessidade formativa docente se tece e emerge.
Nesse sentido, o objeto necessidade formativa docente está em correlação
com a formação continuada, interagindo no mesmo campo discursivo da formação
de professores e das políticas de formação desses profissionais. Ambos os
enunciados foram construídos historicamente apoiando-se em outros temas e
objetos que vão compondo conjuntamente esses campos discursivos, tornando-os
reais e possíveis nas práticas não discursivas e discursivas como aparecem no
Decreto 6755/2009 e na Portaria MEC 09/2009 anteriormente mencionados. O
percurso de coexistência entre os enunciados na constituição do objeto necessidade
156
formativa docente é o que pretendo apresentar a seguir, na intenção de melhor
visualizar a rede discursiva na qual emergiu tal enunciado.
A análise seguinte mostra que tal rede discursiva, na qual o enunciado
necessidade formativa docente é coexistente, apresenta a formação continuada
como uma possibilidade a ser oferecida em várias modalidades diferentes, como
uma possibilidade para a materialização da ampliação da
escolaridade/formação/atualização docente; como uma necessidade porque permite
a ampliação da escolaridade para além da formação inicial; como um elemento que
agrega qualidade ao sistema escolar e ao professor ao valorizá-lo; como uma prática
que deve ser planejada conforme as necessidades educativas das redes de ensino e
dos professores. Essa é a rede discursiva na qual o enunciado necessidade
formativa docente emerge e a qual descreverei na tentativa de capturar ou mapear a
rarefação dos enunciados coexistentes à necessidade formativa docente. Mais
adiante, após essa descrição, analiso os efeitos dessa rede de saber (enunciados
coexistentes) na governamentalização do processo de formação dos docentes pelas
atuais políticas e o quanto essas políticas estão comprometidas com a subjetivação
de um professor empresário de si mesmo.
Nesse sentido, no artigo 67, item II, da LDB/1996, a formação continuada é
apresentada como um elemento de valorização profissional:
Os outros textos ou repetem o já dito ou a partir desse já dito criam outros
discursos redimensionando o já dito, e criando condições para a materialização de
outros enunciados a partir do já pronunciado, como é o caso dos enunciados a
seguir que coexistem na formulação da formação continuada como um elemento de
valorização profissional, de direito do docente e de qualidade da educação básica:
1. Enunciados que criam a possibilidade do oferecimento da formação
continuada, inclusive a distância:
Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de carreira do magistério: [...] II. aperfeiçoamento profissional continuado [...] (LDB, art. 67, item II, p.30, grifo meu).
157
Os institutos superiores de educação manterão: [...] III. Programas de educação continuada para os profissionais da educação dos diversos níveis (LDB, p. 30, item III do art. 63, grifo meu). [...]considerar-se-ão como de manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas realizadas com vistas à consecução dos objetivos básicos das instituições educacionais de todos os níveis, compreendendo as que se destinam a: I. remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação; (LDB, p. 32, item I do art. 70). O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada (LDB, p. 36, art. 80, grifo meu). Cada Município e, supletivamente, o Estado e a União, deverá: [...] III - realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando também, para isto, os recursos da educação a distância (LDB, p. 38 - 39, art. 87, §3º, item III, grifo meu). Art. 1º Os institutos superiores de educação, de caráter profissional, visam à formação inicial, continuada e complementar para o magistério da educação básica, podendo incluir os seguintes cursos e programas: [...] III - programas de formação continuada, destinados à atualização de profissionais da educação básica nos diversos níveis (Resolução CP 01/1999, p.1, grifo meu). Art. 14 Os programas de formação continuada ficam dispensados de autorização de funcionamento e de reconhecimento periódico (Resolução CP 01/1999, p. 5, grifo meu). A formação continuada dos profissionais da educação pública deverá ser garantida pelas secretarias estaduais e municipais de educação, cuja atuação incluirá a coordenação, o financiamento e a manutenção dos programas como ação permanente e a busca de parceria com universidades e instituições de ensino superior. Aquela relativa aos professores que atuam na esfera privada será de responsabilidade das respectivas instituições (PNE 2000-2010, p.79, grifo meu). [Entre os objetivos e metas apresentadas pelo PNE está:] 22. Garantir, já no primeiro ano de vigência deste plano, que os sistemas estaduais e municipais de ensino mantenham programas de formação continuada de professores alfabetizadores, contando com a parceria das instituições de ensino superior sediadas nas respectivas áreas geográficas (PNE 2000-2010, p. 81, grifo meu). No prazo máximo de três anos a contar do início deste plano, colocar em execução programa de formação em serviço, em cada município ou por grupos de Município, preferencialmente em articulação com instituições de ensino superior, com a cooperação técnica e financeira da União e dos Estados, para a atualização permanente e o aprofundamento dos conhecimentos dos profissionais que atuam na educação infantil, bem como para a formação do pessoal auxiliar (PNE 2000-2010, p.17, grifo meu).
158
É preciso reconhecer que a formação inicial e continuada dos próprios índios, enquanto professores de suas comunidades, deve ocorrer em serviço e concomitantemente à sua própria escolarização. (PNE 2000-2010, p.71, grifo meu). Estabelecer e assegurar a qualidade de programas contínuos de formação sistemática do professorado indígena, especialmente no que diz respeito aos conhecimentos relativos aos processos escolares de ensino-aprendizagem, à alfabetização, à construção coletiva de conhecimentos na escola e à valorização do patrimônio cultural da população atendida (PNE 2000-2010, p.72-73, grifo meu). Estabelecer, em todos os Estados, com a colaboração dos Municípios e das universidades, programas diversificados de formação continuada e atualização visando a melhoria do desempenho no exercício da função ou cargo de diretores de escolas (PNE 2000-2010, p.96, grifo meu). No caso da UAB, estados e municípios, de um lado, e universidades públicas, de outro, estabelecem acordos de cooperação. Por meio deles, os entes federados mantêm polos de apoio presencial para acolher professores sem curso superior ou garantir formação continuada aos já graduados. As universidades públicas, da sua parte, oferecem cursos de licenciatura e especialização, especialmente onde não exista oferta de cursos presenciais. Quando instalados os polos previstos, todos os professores poderão se associar a um centro de formação nas proximidades do trabalho. A UAB dialoga, assim, com objetivos do PNE: “Ampliar, a partir da colaboração da União, dos estados e dos municípios, os programas de formação em serviço que assegurem a todos os professores a possibilidade de adquirir a qualificação mínima exigida pela LDB, observando as diretrizes e os parâmetros curriculares” e “Desenvolver programas de educação a distância que possam ser utilizados também em cursos semipresenciais modulares, de forma a tornar possível o cumprimento da meta anterior” (PDE, 2007, p.16-17, grifo meu). A CAPES passa a fomentar não apenas a formação de pessoal para o nível superior, mas a formação de pessoal de nível superior para todos os níveis da educação. Faz toda a diferença o que dispõe a LDB – “O Distrito Federal, cada estado e município e, supletivamente, a União, devem realizar programas de capacitação para todos os professores em exercício, utilizando também, para isso, os recursos da educação a distância” – e o que propõe o PDE: “A União, o Distrito Federal, os estados e os municípios, inclusive em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, continuada, e a capacitação dos profissionais de magistério”. Para dar consequência a essas responsabilidades, a União necessita de uma agência de fomento para a formação de professores da educação básica, inclusive para dar escala a ações já em andamento (PDE, 2007, p. 17, grifo meu). Quanto à relação entre educação e ciência, o IFET deve constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, voltado à investigação empírica; qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas escolas públicas; oferecer programas especiais de formação pedagógica inicial e continuada, com vistas à formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de física, química, biologia e matemática, de acordo com as demandas de âmbito local e regional, e oferecer programas de extensão, dando prioridade à divulgação científica. (PDE, 2007, p.32-33, grifo meu).
159
Art. 2º São princípios da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica: [..] IX - a equidade no acesso à formação inicial e continuada, buscando a redução das desigualdades sociais e regionais (Decreto 6755/2009, p.1-2, grifo meu) Art. 3º São objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica: [...] II - apoiar a oferta e a expansão de cursos de formação inicial e continuada a profissionais do magistério pelas instituições públicas de educação superior; III - promover a equalização nacional das oportunidades de formação inicial e continuada dos profissionais do magistério em instituições públicas de educação superior (Decreto 6755/2009, p.2, grifo meu). Art. 9º O Ministério da Educação apoiará as ações de formação inicial e continuada de profissionais do magistério ofertadas ao amparo deste Decreto, mediante: I - concessão de bolsas de estudo e bolsas de pesquisa para professores, na forma da Lei no 11.273, de 6 de fevereiro de 2006, bem como auxílio a projetos relativos às ações referidas no caput; e II - apoio financeiro aos Estados, Distrito Federal, Municípios e às instituições públicas para implementação de programas, projetos e cursos de formação (Decreto 6755/2009, p.4, grifo meu). Art. 11. A CAPES fomentará, ainda: [...] VI - programas de apoio a projetos educacionais e de pesquisa propostos por instituições e por profissionais do magistério das escolas públicas que contribuam para sua formação continuada e para a melhoria da escola; e VII - programas que promovam a articulação das ações de formação continuada com espaços de educação não-formal e com outras iniciativas educacionais e culturais. (Decreto 6755/2009, p.4-5, grifo nosso). Art. 4º O Ministério da Educação manterá sistema eletrônico denominado “Plataforma Paulo Freire” como vistas a reunir informações e gerenciar a participação nos cursos de formação inicial e continuada voltados para profissionais do magistério das redes públicas da educação básica no âmbito do Plano Nacional de Formação de Professores. [...] § 2º As Secretaria de Educação dos Municípios, Estados e do Distrito Federal deverão analisar as pré-inscrições efetuadas por meio da “Plataforma Paulo Freire” e validar aquelas que correspondam às necessidades da respectiva rede, de acordo com o planejamento estratégico elaborado. (Portaria MEC 09/2009, p. 2, grifo meu).
160
2. Enunciados que criam a possibilidade de ampliação da formação docente para além da formação inicial:
3. Enunciados que criam a necessidade de ampliação da formação docente para além da formação inicial:
Art. 2o Os cursos de formação de professores para a educação básica serão organizados de modo a atender aos seguintes requisitos: [...] II - possibilidade de complementação de estudos, de modo a permitir aos graduados a atuação em outra etapa da educação básica; [...] IV - articulação entre os cursos de formação inicial e os diferentes programas e processos de formação continuada (Decreto 3276/1999, p.1, grifo meu). É ainda no momento de definição da estrutura institucional e curricular do curso que caberá a concepção de um sistema de oferta de formação continuada que propicie oportunidade de retorno planejado e sistemático dos professores às agências formadoras (Parecer CNE/CP 09/2001, p.58, grifo meu). Art. 14. Nestas Diretrizes, é enfatizada a flexibilidade necessária, de modo que cada instituição formadora construa projetos inovadores e próprios, integrando os eixos articuladores nelas mencionados. [...] § 2º Na definição da estrutura institucional e curricular do curso, caberá a concepção de um sistema de oferta de formação continuada, que propicie oportunidade de retorno planejado e sistemático dos professores às agências formadoras (Resolução CNE/CP 01/2002, p.6, grifo meu).
A formação de professores como preparação profissional passa a ter papel crucial, no atual contexto, agora para possibilitar que possam experimentar, em seu próprio processo de aprendizagem, o desenvolvimento de competências necessárias para atuar nesse novo cenário, reconhecendo-a como parte de uma trajetória de formação permanente ao longo da vida (Parecer CNE/CP 09/2001, p.11, grifo meu).
Os cursos de graduação, etapa inicial da formação em nível superior a ser necessariamente complementada ao longo da vida, terão que cumprir, conforme o Art. 47 da Lei 9.394/96, no ano letivo regular, no mínimo, 200 (duzentos) dias de trabalho acadêmico efetivo em cada um dos anos necessários para a completude da qualificação exigida (Parecer CNE/CP 28/2001, p.8, grifo meu). Tudo parece indicar, portanto, que uma boa formação profissional, aliada a um contexto institucional que favoreça o espírito de equipe, o trabalho em colaboração, a construção coletiva, o exercício responsável de autonomia profissional e adequadas condições de trabalho, são ingredientes sem os quais não se alcançará a qualidade pretendida na educação – são, na verdade, direitos dos profissionais da educação, principalmente se a meta for a qualidade real. E devem ser objeto de sua luta se a meta da categoria for a conquista de níveis superiores de profissionalização [...] (Referenciais para a Formação de Professores, 2002, p. 27, grifo meu).
161
4. Enunciados que apresentam a formação continuada como um elemento
responsável pela melhoria da qualidade da educação básica juntamente com
a valorização do magistério e do professor:
A própria natureza do trabalho educativo exige que o movimento de contínua construção e reconstrução de conhecimento e de competências profissionais, vivenciado na formação inicial, se prolongue ao longo da carreira do professor. (Referenciais para a Formação de Professores, 2002, p. 64, grifo meu). Formar mais e melhor os profissionais do magistério é apenas uma parte da tarefa. É preciso criar condições que mantenham o entusiasmo inicial, a dedicação e a confiança nos resultados do trabalho pedagógico. É preciso que os professores possam vislumbrar perspectivas de crescimento profissional e de continuidade de seu processo de formação. Se, de um lado, há que se repensar a própria formação, em vista dos desafios presentes e das novas exigências no campo da educação, que exige profissionais cada vez mais qualificados e permanentemente atualizados, desde a educação infantil até a educação superior (e isso não é uma questão meramente técnica de oferta de maior número de cursos de formação inicial e de cursos de qualificação em serviço) por outro lado é fundamental manter na rede de ensino e com perspectivas de aperfeiçoamento constante os bons profissionais do magistério (PNE 2000-2010, p.73-74, grifo meu). A qualificação específica para atuar na faixa de zero a seis anos inclui o conhecimento das bases científicas do desenvolvimento da criança, da produção de aprendizagens e a habilidade de reflexão sobre a prática, de sorte que esta se torne, cada vez mais, fonte de novos conhecimentos e habilidades na educação das crianças. Além da formação acadêmica prévia, requer-se a formação permanente, inserida no trabalho pedagógico, nutrindo-se dele e renovando-o constantemente (PNE 2000-2010, p.14, grifo meu). Art. 3o São objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica: [...] X - promover a integração da educação básica com a formação inicial docente, assim como reforçar a formação continuada como prática escolar regular que responda às características culturais e sociais regionais (Decreto 6755/2009, p.2, grifo meu).
A melhoria da qualidade do ensino, que é um dos objetivos centrais do Plano Nacional de Educação, somente poderá ser alcançada se for promovida, ao mesmo tempo, a valorização do magistério. Sem esta, ficam baldados quaisquer esforços para alcançar as metas estabelecidas em cada um dos níveis e modalidades do ensino. Essa valorização só pode ser obtida por meio de uma política global de magistério, a qual implica, simultaneamente, . a formação profissional inicial; . as condições de trabalho, salário e carreira; . a formação continuada (PNE 2000-2010, p. 73, grifo meu)
162
A valorização do magistério implica, pelo menos, os seguintes requisitos: [...] um sistema de educação continuada que permita ao professor um crescimento constante de seu domínio sobre a cultura letrada, dentro de uma visão crítica e da perspectiva de um novo humanismo (PNE 2000-2010, p.77, grifo meu). Assim, a valorização do magistério depende, pelo lado do Poder Público, da garantia de condições adequadas de formação, de trabalho e de remuneração e, pelo lado dos profissionais do magistério, do bom desempenho na atividade. Dessa forma, há que se prever na carreira sistemas de ingresso, promoção e afastamentos periódicos para estudos que levem em conta as condições de trabalho e de formação continuada e a avaliação do desempenho dos professores (PNE 2000-2010, p.77, grifo meu). Valorização dos profissionais da educação. Particular atenção deverá ser dada à formação inicial e continuada, em especial dos professores (PNE 2000-2010, p.8, grifo meu). O Ministério da Educação, ciente de que a melhoria da qualidade da educação brasileira depende, em grande parte, da melhoria da qualidade do trabalho do professor, assumiu entre suas principais metas, a valorização do magistério (Referenciais para Formação de Professores, 2002, palavras do Ministro da Educação Paulo Renato Souza, grifo meu). Todas as instituições e cidadãos comprometidos com a educação brasileira parecem concordar que sem investimento na formação dos profissionais da educação não se conquistará as metas de qualidade que vêm se tornando cada vez mais consensuais. Entretanto, será a capacidade de gestar e implementar políticas de formação profissional e de valorização do magistério – ou seja, de realizar o investimento necessário – o que pode fazer a diferença de fato (Referenciais para Formação de Professores, 2002, p. 40, grifo meu). Art. 2º São princípios da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica: [...] VIII - a importância do docente no processo educativo da escola e de sua valorização profissional, traduzida em políticas permanentes de estímulo à profissionalização, à jornada única, à progressão na carreira, à formação continuada, à dedicação exclusiva ao magistério, à melhoria das condições de remuneração e à garantia de condições dignas de trabalho; [...] XI - a formação continuada entendida como componente essencial da profissionalização docente, devendo integrar-se ao cotidiano da escola e considerar os diferentes saberes e a experiência docente; e XII - a compreensão dos profissionais do magistério como agentes formativos de cultura e, como tal, da necessidade de seu acesso permanente a informações, vivência e atualização culturais (Decreto 6755/2009, p.1-2, grifo meu).
163
5. Enunciados que apresentam a formação continuada como um elemento
responsável pela melhoria da qualidade da educação básica
6. Enunciados que sugerem a adequação da formação continuada às
necessidades de formação docentes ou às necessidades das redes de
ensino:
A formação continuada do magistério é parte essencial da estratégia de melhoria permanente da qualidade da educação, e visará à abertura de novos horizontes na atuação profissional. Quando feita na modalidade de educação a distância, sua realização incluirá sempre uma parte presencial, constituída, entre outras formas, de encontros coletivos, organizados a partir das necessidades expressas pelos professores (PNE 2000-2010, p.78-79, grifo meu). A formação inicial e continuada do professor exige que o parque de universidades públicas se volte (e não que dê as costas) para a educação básica. Assim, a melhoria da qualidade da educação básica depende da formação de seus professores, o que decorre diretamente das oportunidades oferecidas aos docentes (PDE, 2007, p.10, grifo meu).
Art. 8º Os programas de formação continuada estarão abertos a profissionais da educação básica nos diversos níveis, sendo organizados de modo a permitir atualização profissional. § 1º Os programas de formação continuada para professores terão duração variável, dependendo de seus objetivos e das características dos profissionais neles matriculados (Resolução CP 1/1999, p. 4, grifo meu). A formação continuada do magistério é parte essencial da estratégia de melhoria permanente da qualidade da educação, e visará à abertura de novos horizontes na atuação profissional. Quando feita na modalidade de educação a distância, sua realização incluirá sempre uma parte presencial, constituída, entre outras formas, de encontros coletivos, organizados a partir das necessidades expressas pelos professores (PNE 2000-2010, p.78-79, grifo meu).
Art. 3o São objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica: [...] I - promover a melhoria da qualidade da educação básica pública; [...] V - promover a valorização do docente, mediante ações de formação inicial e continuada que estimulem o ingresso, a permanência e a progressão na carreira; (Decreto 6755/2009, p.1-2, grifo meu).
164
Por outro lado, trabalhar no segmento com formação continuada dos professores em exercício contribui para que as escolas de formação tenham a necessária atualização em relação às questões relevantes, às dificuldades, aos desafios e projetos nos quais estão envolvidas as escolas e as redes de ensino. Podem assim planejar, elaborar, e avaliar seu trabalho de formação – inicial inclusive – levando em conta a realidade das escolas, garantindo o atendimento às necessidades de atuação profissional dos professores. (Referenciais para formação de professores, 2002, p. 65-66, grifo meu). As indicações que se seguem partem do princípio de que a formação continuada de professores deve responder tanto às necessidades do sistema de ensino quanto às demandas dos professores em exercício. (Referenciais para formação de professores, 2002, p. 131, grifo meu). Art. 5º O plano estratégico a que se refere o § 1º do art. 4º deverá contemplar: [...] § 2º O planejamento e a organização do atendimento das necessidades de formação de profissionais do magistério deverão considerar os dados do censo da educação superior, de que trata o art. 3º do Decreto nº 6.425, de 2008, de forma a promover a plena utilização da capacidade instalada das instituições públicas de educação superior. (Decreto 6755/2009, p.3, grifo nosso). Art. 3o São objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica: [...] IV - identificar e suprir a necessidade das redes e sistemas públicos de ensino por formação inicial e continuada de profissionais do magistério (Decreto 6755/2009, p.2, grifo meu).
Art. 8º O atendimento às necessidades de formação continuada de profissionais do magistério dar-se-á pela indução da oferta de cursos e atividades formativas por instituições públicas de educação, cultura e pesquisa, em consonância com os projetos das unidades escolares e das redes e sistemas de ensino. § 1º A formação continuada dos profissionais do magistério dar-se-á por meio de cursos presenciais ou cursos à distância. § 2º As necessidades de formação continuada de profissionais do magistério serão atendidas por atividades formativas e cursos de atualização, aperfeiçoamento, especialização, mestrado ou doutorado. § 3º Os cursos de atualização, aperfeiçoamento e especialização serão fomentados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES, deverão ser homologados por seu Conselho Técnico-Científico da Educação Básica e serão ofertados por instituições públicas de educação superior, preferencialmente por aquelas envolvidas no plano estratégico de que tratam os arts. 4º e 5º. § 4º Os cursos de formação continuada homologados pelo Conselho Técnico-Científico da Educação Básica da CAPES integrarão o acervo de cursos e tecnologias educacionais do Ministério da Educação. § 5º Caso a necessidade por formação continuada não possa ser atendida por cursos já homologados na forma do § 4º, a CAPES deverá promover o desenvolvimento de projetos político-pedagógicos específicos, em articulação com as instituições públicas de educação superior (Decreto 6755/2009, p.4, grifo meu).
165
Os efeitos de verdade produzidos por esses enunciados são provocados
pela ação das regularidades discursivas em torno da valorização da formação
continuada de professores relacionada à melhor qualidade da educação e em torno
dos esforços no planejamento desse tipo de formação correlacionados ao
atendimento das demandas das redes de ensino e das necessidades formativas
docentes. A coexistência desses enunciados produzem efeitos de verdade sobre
como fazer com que a educação tenha mais ‘qualidade’, e um desses efeitos é
investir no capital humano, na capacidade do ser humano dedicado aos assuntos da
docência ser um professor com o perfil admitido como de qualidade.
Mas o que vem a ser qualidade para esses discursos e o que é valorizar o
professor para esses discursos? Nesses discursos, formação do professor é um
instrumento estratégico tanto para se construir um tipo de ‘qualidade’ para a
educação escolar quanto para se elaborar um tipo de valorização do professor. Por
meio do exercício biopolítico, a qualidade e a valorização são usadas como
estratégias de governamentalidade docente a partir de pressupostos neoliberais,
pois retratam a constituição de um professor como um sujeito de interesse e um
sujeito de direito.
Ao buscar entender a emergência do homo oeconomicus, Foucault (2008b)
trata da noção de interesse desenvolvida pelo empirismo inglês que define
“interesse” como sendo um princípio no qual uma escolha é individual,
intransmissível, irredutível e que se refere ao próprio sujeito. Para Foucault (2008b),
com a noção de interesse, a filosofia empírica inglesa fez surgir um tipo de sujeito
constituído pelo princípio de interesse, sendo que o interesse é, pela primeira vez,
caracterizado como “uma forma de vontade ao mesmo tempo imediata e
absolutamente subjetiva” (FOUCAULT, 2008b, p. 372).
No entanto, o homo oeconomicus que emerge na biopolítica é um sujeito de
interesse que coexiste com um outro tipo de sujeito, o sujeito de direito, que
diferentemente do que versa a definição de interesse, renuncia a si mesmo, quando
aceita ser detentor de direitos naturais e imediatos. O sujeito econômico e o sujeito
de direito possuem princípios heterogêneos um ao outro porque estão em esferas
diferentes: o primeiro é do âmbito econômico e o segundo do âmbito jurídico.
Foucault acredita que a não superposição desses dois tipos de sujeito cria
um problema para a arte de governo liberal, que é “como governamentalizar sujeitos
econômicos que, segundo os pressupostos da teoria liberal, não poderiam ser
166
governamentalizados pelo Estado, porque esse não deve interferir na esfera
econômica, deve, pelo contrário, assumir uma posição passiva diante do mercado?”.
Esses sujeitos de direito-econômicos, que emergiram no processo histórico
junto ao liberalismo, segundo Foucault, “só são governáveis na medida em que se
poderá definir um novo conjunto que os envolverá, ao mesmo tempo a título de
sujeitos de direito e a título de atores econômicos” (FOUCAULT, 2008c, p. 401-402).
Foucault acredita que esse novo conjunto considerado como referência para a
governamentalização dos indivíduos sujeitos econômicos/de direito é a sociedade
civil que é o elemento indissociável dos dois tipos de sujeito. Para Foucault, então, a
sociedade civil surge como um conceito da tecnologia da arte de governar liberal, e,
atualmente, neoliberal, pois o homo oeconomicus neoliberal é a base da razão
governamental formulada a partir do século XVIII, sendo, portanto, a base da
biopolítica.
Foucault (2008b) ainda comenta que por meio do cruzamento da concepção
do homo oeonomicus como um sujeito de interesse e a aplicação de um quadro
teórico econômico para analisar assuntos até então não abordados em termos
econômicos, foi possível definir um sujeito econômico e de interesse cuja ação
também pudesse ser multiplicadora e benéfica para o todo, mesmo que esse sujeito
nem pense em objetivar o benefício de todos ao agir em interesse próprio.
Ao aproximar a formação continuada e permanente com o que parece ser
um direito e com o que parece ser um elemento de valorização do docente, o que o
discurso sobre a formação dos professores parece estar fazendo emergir é um tipo
de professor bem parecido com o homo oeconomicus como um sujeito de interesse
e como um sujeito de direito: um profissional que atende uma necessidade de
atualização e inovação do mercado, investindo em si mesmo, valoriza-se a si
mesmo, agregando valor de qualidade ao seu próprio trabalho, ao mesmo tempo
que valoriza a educação ou o sistema educacional como um todo. Por que um
professor não pode ser valorizado simplesmente por ser professor, por atuar na sala
de aula, por atuar na escola? Por que ele deve encher-se de certificados e diplomas
para ser valorizado financeiramente, inclusive? Qual é o elemento que aproxima
formação, valorização e qualidade senão o interesse em qualificar-se para melhor
atender o mercado de trabalho e, assim, agregar valor à sua própria formação como
capital humano e à educação como bem comum de todos senão a noção de
interesse desenvolvida pela teoria neoliberal?
167
O interesse em progredir na carreira, associado ao interesse em não ser
considerado inativo no mercado, pelo contrário, em ser valorizado pelo mercado
devido aos investimentos realizados na própria formação; tal interesse associado
também a uma valorização financeira na carreira e, por fim, ao interesse de
colaborar com a melhoria da qualidade do sistema educacional são os efeitos
provocados na subjetivação do homo oeconomicus docente por meio da rede
discursiva que se tece na coexistência dos enunciados analisados.
A parte V dos Referenciais para Formação de Professores (2002), intitulada
“Desenvolvimento profissional permanente e progressão na carreira”, aproxima os
temas da qualidade da educação, com o da qualificação profissional permanente
(desenvolvimento profissional permanente) e com a progressão na carreira desde o
seu primeiro parágrafo, no qual apresenta a importância em articulá-los:
Na discussão sobre formação de professores é central o reconhecimento e a afirmação da importância do atual processo de profissionalização dos professores. Nessa perspectiva, não só a elevação da qualidade e da formação profissional é inadiável como a valorização e a reestruturação da carreira do magistério. Não parece coerente que se projete uma formação com níveis de exigência que expressem a importância do papel do professor sem associá-lo a uma carreira que seja atraente, que estimule investimentos pessoais dos professores, e que isso reverta em melhoria salarial. [...] é imprescindível discutir a necessidade de uma relação estreita entre desenvolvimento profissional e progressão na carreira. Atualmente, de modo geral, o empenho dos professores que atuam com responsabilidade e investem no seu desenvolvimento profissional ao longo da carreira não tem sido devidamente considerado. Os critérios mais comumente utilizados para progressão na carreira independem desse empenho: sobrevalorizam a titulação, os certificados e o tempo de serviço, que vale igual para todos, independentemente da qualidade da atuação e do desenvolvimento de competências profissionais. Transformar essa concepção implica: - ampliação e revisão das ofertas de formação – para que todos tenham acesso a condições de desenvolvimento profissional, não ficando, esse, associado exclusivamente ao esforço individual; - necessidade de avaliar adequadamente a atuação dos professores para que ela expresse os avanços e limitações no desenvolvimento profissional, orientando o trajeto de cada professor e as ações dos sistemas de ensino; - construir indicadores para progressão na carreira, de modo que haja correspondência entre o aperfeiçoamento dos professores e possibilidades efetivas de progressão na carreira. Esta parte final dos Referenciais aborda formas de promover a profissionalização do magistério tendo como princípio a articulação das ações de formação, da avaliação da atuação profissional e da progressão na carreira na perspectiva do desenvolvimento de uma cultura de responsabilidade por parte de todos os envolvidos: secretarias de educação, agências formadoras e professores. (Referenciais para formação de professores, 2002, p. 141, grifos meus, itálico do original).
168
O conceito de “desenvolvimento profissional” admitido pelos Referenciais
para a formação dos professores (2002) sintetiza a articulação entre a qualificação, a
avaliação e a carreira, tornando possível analisar todo o processo que poderia se
dizer de formação do professor como um processo possível de ser analisado a partir
de pressupostos econômicos como é proposta do projeto dos neoliberais:
Dentre os pressupostos dos Referenciais para Formação de Professores
(2002, p. 19) há a defesa da formação de professores como se fosse uma fita
métrica para avaliar e para “valorizar” financeiramente o professor que, no decorrer
da sua carreira, atende, se sujeita a “desenvolver-se profissionalmente” como se
fosse uma empresa a estar sempre disposta a investir na sua carreira e no seu
salário, agregando valor, assim, ao sistema educacional como um todo. O enunciado
seguinte sintetiza o que a política educacional entende por “formação”,
“desenvolvimento profissional”, e “valorização” do professor, todos os três termos
muito próximos do interesse neoliberal de constituir professores como homo
oeconomicus da educação:
Essa vinculação da eficácia da educação com a formação, avaliação e
valorização produzem hoje o efeito da emergência da meritocracia como um dos
princípios para se qualificar, valorizar e avaliar o professor, segundo parâmetros
impostos pelo sistema educacional, como, por exemplo, o desempenho dos alunos
nas provas de ampla escala. Nos mesmos Referenciais para Formação de
Professores (2002), ao indicar algumas diretrizes para a formação continuada, esse
texto apresenta a importância em adequar as ações de formação continuada às
necessidades formativas docentes identificadas, adequando as ações aos
[...] a concepção de desenvolvimento profissional refere-se ao processo contínuo que se inicia com a preparação profissional realizada nos cursos de formação inicial e prossegue, após o ingresso no magistério, ao longo de toda a carreira com o aperfeiçoamento alcançado por meio da experiência, aliada às ações de formação continuada organizada. (Referenciais para formação de professores, 2002, p. 142, grifo meu).
9. Os projetos de desenvolvimento profissional só terão eficácia se estiverem vinculados a condições de trabalho, avaliação, carreira e salário. (Referenciais para formação de professores, 2002, p. 19).
169
professores e avaliando-os de acordo com os parâmetros elaborados e valorizando-
os na carreira de acordo com os resultados esperados, ou seja, de acordo com a
aprendizagem dos alunos:
Também em outro ponto do mesmo texto, ao orientar as secretarias de
educação quanto à formação continuada, verifica-se a coexistência dos temas da
qualificação, com as necessidades formativas, com a avaliação e a valorização dos
professores:
9. A observação da atuação dos professores é parte intrínseca do trabalho dos formadores: é isso que lhes permite conhecer o processo de aprendizagem dos professores, adequar as ações de formação a ele e avaliar seus resultados. 10. É imprescindível que a sequenciação dos conteúdos de um programa de formação tenha uma relativa flexibilidade: por um lado, não pode perder de vista os objetivos definidos no início e, por outro, deve adequar-se às necessidades identificadas no percurso do trabalho. [...] 13. Definir uma sistemática de avaliação criteriosa para os programas de formação continuada é uma necessidade: é preciso criar espaços e mecanismos de avaliação processual e de alcance das ações desenvolvidas, para que os seus resultados sejam utilizados na reformulação das práticas tanto dos formadores quanto dos professores. Um sistema de avaliação pautado nas competências profissionais que são objetivos da formação dos professores e na qualidade das aprendizagens de seus alunos é fundamental, também, para instituir uma carreira que valorize o desenvolvimento profissional. (Referenciais para formação de professores, 2002, p. 133, grifo meu).
1. As ações de formação continuada terão maior sucesso quando planejadas de forma integrada a um plano maior, que inclua propostas de melhoria das condições de trabalho, carreira e salário dos profissionais da educação e leve em consideração as necessidades identificadas, as determinações legais e as diretrizes do Conselho Nacional de Educação. (Referenciais para formação de professores, 2002, p. 135, grifo meu). 3. Constituir um sistema de formação para superar a desarticulação e a pulverização das ações de formação promovidas por diferentes instituições, implica enfrentar o desafio de coordenar as diferentes ações de formação inicial ou continuada a serem propostas ou em curso em cada Estado ou Município. Isso deve ser fruto de uma parceria entre as esferas administrativas envolvidas e as agências formadoras, para que possam convergir para uma perspectiva de desenvolvimento profissional permanente articulado com um plano de carreira e salários. [...] 5. A equipe de formação das secretarias deve atuar em estreita relação com os formadores das escolas, o que, além de favorecer o acompanhamento do dia-a-dia, propicia intercâmbio constante, avaliação das reais necessidades de alunos e professores, planejamento institucional pautado em informações mais objetivas e controle mais efetivo dos resultados das ações desenvolvidas. (Referenciais para formação de professores, 2002, p. 136, grifo meu).
170
A formação continuada vinculada a um discurso que a torna instrumento de
valorização tanto do professor quanto do sistema educacional e do processo
educativo naturaliza-a como uma estratégia necessária para a melhoria da
educação. É nesse contexto que o processo de levantamento de necessidades de
formação docentes surge como estratégia fundamental para atender a demanda de
formação dos professores. Ao compreender as redes discursivas nas quais a
formação de professores está sendo normalizada e normatizada é possível
compreender que a população de professores está sendo governamentalizada por
pressupostos de origem liberal, interessados em governementalizá-los enquanto
homo oeconomicus sem, contudo, descaracterizá-los de sua condição de sujeito de
direito.
A coexistência dos enunciados da qualidade da educação com a formação
continuada como um direito do professor e uma necessidade do sistema educacional
e com a identificação das necessidades formativas docente produz o efeito de
responsabilização do professor em formar-se continuamente em prol de um tipo de
qualidade da educação escolar que se constrói a partir de pressupostos também
neoliberais. Ou seja, a qualidade da educação escolar depende de um profissional
de qualidade que parece resumir-se na qualificação contínua de necessidades de
formação, como evidencia o enunciado a seguir:
Em relação à formação de professores, é particularmente importante que se avalie, em cada unidade da federação, quais são as reais necessidades que estão colocadas: a demanda da formação inicial em nível médio e em nível superior, a demanda para a formação continuada, as eventuais transformações a serem feitas nas instituições formadoras e práticas existentes, o efeito das experiências já realizadas. Essa avaliação do sistema de formação é subsídio para decisões relativas à progressão na carreira na perspectiva tratada a seguir. (Referenciais para formação de professores, 2002, p. 151, grifo meu). Tomar o desenvolvimento profissional como princípio para a progressão na carreira significa dar maior peso relativo aos créditos obtidos por meio das avaliações sucessivas da atuação profissional o que àqueles relativos à certificação e ao tempo de serviço. Assim, a defesa é de que, quanto mais os professores desenvolverem suas competências profissionais, e melhor atuarem efetivamente, melhores salários recebam. (Referenciais para formação de professores, 2002, p. 153, grifo meu).
171
Ao operar com as ferramentas da função autor e do comentário nos textos
analisados, foi possível verificar que esses textos são vias pelas quais enunciados
que coexistem com o enunciado necessidade formativa docente dispersam-se pelo
tecido discursivo da formação de professores, formando regularidades discursivas
que oferecem condições, então, para que o objeto necessidade formativa docente
constitua-se, torne-se necessário em meio às estratégias da atual política de
formação de professores. Essas regularidades discursivas (práticas discursivas) vão
constituindo práticas não discursivas, ambas produtoras de subjetividades, dentre as
quais também a dos sujeitos-professores, posição estratégica no contexto
pedagógico, pois ocupam também a função autor do discurso em torno da produção
das necessidades de formação.
As noções de autor e de comentário, portanto, funcionam como princípios de
rarefação também dos discursos que mantêm coexistência com o enunciado
necessidade formativa docente, o que torna possível a formulação de redes
discursivas que possibilitam a emergência de tal enunciado e a aceitação das
práticas de análises e diagnósticos das necessidades de formação dos professores
como uma preocupação das políticas de formação de professores e como uma
estratégia de legitimação dessas políticas, assunto a ser tratado a seguir.
5.5 Necessidade formativa docente e legitimação das políticas para formação de professores
Segundo Rodrigues e Esteves (1993), o interesse em analisar as
necessidades de professores atrela-se ao interesse em investigar as necessidades
educativas que servem de indicadores que auxiliam no planejamento de processos e
ações de formação que melhor respondam às exigências sociais. As investigações
sobre a necessidade formativa foram primeiramente desenvolvidas no âmbito das
O princípio que se pretende é o da progressão na carreira como resultado da composição entre a oferta de oportunidades de formação continuada e o investimento do professor no seu próprio desenvolvimento profissional. A partir disso, todas as avaliações aqui propostas devem então ser traduzidas em créditos que, somados à certificação e tempo de serviço indiquem a sua possibilidade, ou não, de avançar nos patamares da carreira. (Referenciais para formação de professores, 2002, p. 155, grifo meu).
172
práticas de formação de adultos, cujas pesquisas e procedimentos serviram de
modelo para a investigação das necessidades formativas docentes, no campo da
formação continuada de professores (YAMASHIRO, 2008, p. 40). A análise de
necessidades de professores, então, sempre esteve associada a uma técnica de
pesquisa que reúne diversos procedimentos pelos quais seria possível informar
sobre a formação dos professores e, desse modo, orientar estratégias e ações para
a formação, incluindo-se aí a formação continuada.
Conforme Rodrigues e Esteves (1993), a análise de necessidades são,
então, procedimentos que fazem parte de uma das etapas do processo pedagógico
de formação e pode enfocar o formando ou a instituição formadora. Quando enfoca
o indivíduo a ser formado, a análise de necessidades de formação tem como
objetivo fortalecer os princípios de autoformação, apostando na conscientização dos
professores sobre as suas próprias necessidades, ou seja, reafirmando o princípio
da autonomia; quando os procedimentos de análise de necessidades de formação
enfoca a instituição formadora, ela objetiva a eficácia da formação considerando o
ajuste entre a formação esperada pelo formando e a formação pretendida pela
instituição formadora, reafirmando o princípio da negociação entre os pares. Os
enunciados referentes à utilização de técnicas, metodologias e teorias científicas,
bem como a utilização da estatística no levantamento e coleta de dados para a
análise das necessidades educacionais, dentre essas as necessidades formativas
docentes, são conjuntos discursivos aos quais o objeto necessidade formativa
docente se correlaciona no campo discursivo da formação docente, particularmente,
no discurso da formação continuada de professores. Os enunciados a seguir
aproximam o planejamento da formação docente à necessidade de averiguação das
necessidades formativas docentes:
[...] as práticas de formação continuada têm se configurado predominantemente em eventos pontuais – cursos, oficinas, seminários e palestras -, que, de modo geral, não respondem às necessidades pedagógicas mais imediatas dos professores e nem sempre se constituem num programa articulado e planejado como tal [...] (Referenciais para formação de professores, 2002, p. 41, grifo meu).
173
As críticas apontadas neste documento não se aplicam, assim, à formação inicial e continuada como tal, mas ao modelo em que se baseiam esses processos de ensino e aprendizagem de professores. algumas das características desse modelo que, embora questionável, foi se tornando convencional são as seguintes: [...] - ignoram-se as condições reais e os pontos de partida dos professores – seus interesses, motivações, necessidades, conhecimentos prévios, experiências e opiniões – quando esses deveriam servir como ingredientes do planejamento das ações de formação; - as práticas inspiram-se numa perspectiva homogeneizadora: são destinadas a ‘professores em geral’, e não ajustáveis a diferentes tipos de professores e suas respectivas necessidades de formação; - a concepção é autoritária, cabendo ao professor um papel passivo de receptor de informações e executor de propostas, e não de co-participante do planejamento e discussão do próprio processo de formação. [...] E, em relação especificamente à formação continuada, as características mais comuns são as que se seguem: [...] - não se organiza a partir de uma avaliação diagnóstica das reais necessidades e dificuldades pedagógicas dos professores; (Referenciais para formação de professores, 2002, p. 42 - 44, grifo meu). Por sua vez, o acompanhamento ao trabalho interno das escolas pelas equipes técnicas das secretarias é um elemento importante na articulação entre as ações de formação, pois permite conhecer em profundidade as demandas de formação de toda a rede a partir das quais se pode selecionar temáticas para programas de formação e planejar ações maiores e mais abrangentes, como a criação de centros de formação e publicações. Isso também permite que as secretarias demandem ações de formação mais concretas e específicas às agências formadoras (universidades, institutos de formação, escolas normais, ONGs, associações profissionais etc.), realizando um trabalho conjunto para responder efetivamente à expectativa dos professores e às necessidades do seu desenvolvimento profissional. (Referenciais para formação de professores, 2002, p. 143, grifo meu). Art. 3º A formação de professores que atuarão nas diferentes etapas e modalidades da educação básica observará princípios norteadores desse preparo para o exercício profissional específico, que considerem: [...] II - a coerência entre a formação oferecida e a prática esperada do futuro professor, tendo em vista: [...] d) a avaliação como parte integrante do processo de formação, que possibilita o diagnóstico de lacunas e a aferição dos resultados alcançados, consideradas as competências a serem constituídas e a identificação das mudanças de percurso eventualmente necessárias (Resolução 01/2002, p.2, grifo meu).
174
O diagnóstico sobre as necessidades dos professores está relacionado à
tendência do Estado em levantar informações sobre a educação nacional, com a
intenção de melhorar a qualidade da educação por meio da elaboração de metas,
planos, programas e ações educacionais. O texto, por exemplo, dos Referenciais
para formação de professores, faz críticas quanto àquela formação pontual, sem
planejamento estratégico e contínuo, que desconhece as necessidades de formação
dos professores e que não os coloca como ‘coparticipantes’ do próprio processo de
formação.
Art. 6º A estrutura do curso de Pedagogia, respeitadas a diversidade nacional e a autonomia pedagógica das instituições, constituir-se-á de: I - um núcleo de estudos básicos que, sem perder de vista a diversidade e a multiculturalidade da sociedade brasileira, por meio do estudo acurado da literatura pertinente e de realidades educacionais, assim como por meio de reflexão e ações críticas, articulará: [...] f) realização de diagnóstico sobre necessidades e aspirações dos diferentes segmentos da sociedade, relativamente à educação, sendo capaz de identificar diferentes forças e interesses, de captar contradições e de considerá-lo nos planos pedagógico e de ensino aprendizagem, no planejamento e na realização de atividades educativas; [...] II - um núcleo de aprofundamento e diversificação de estudos voltado às áreas de atuação profissional priorizadas pelo projeto pedagógico das instituições e que, atendendo a diferentes demandas sociais, oportunizará, entre outras possibilidades: a) investigações sobre processos educativos e gestoriais, em diferentes situações institucionais: escolares, comunitárias, assistenciais, empresariais e outras (Resolução CNE CP 01/2006, p. 3 - 4, grifo meu). 25. Identificar e mapear, nos sistemas de ensino, as necessidades de formação inicial e continuada do pessoal técnico e administrativo, elaborando e dando início à implementação, no prazo de três anos a partir da vigência deste PNE, de programas de formação. [...] 27. Promover, em ação conjunta da União, dos Estados e dos Municípios, a avaliação periódica da qualidade de atuação dos professores, com base nas diretrizes de que trata a meta nº 8, como subsídio à definição de necessidades e características dos cursos de formação continuada (PNE 2000-2010, p.81, grifo meu). Art. 3º São objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica: [...] IV - identificar e suprir a necessidade das redes e sistemas públicos de ensino por formação inicial e continuada de profissionais do magistério (Decreto 6755/2009, p.2, grifo meu).
175
Como já explicitado neste trabalho, o poder biopolítico é correspondente ao
poder de administrar, de controlar e de formar as populações, portanto, está
interessado pela educação do corpo social docente e também do corpo social
discente, já que o primeiro é elemento fundamental na administração, controle e
formação dos alunos que são a massa de cidadãos componentes da sociedade civil
(da população). O poder biopolítico é uma tecnologia, pois, que se utiliza da
população para produzir outros indivíduos e, no caso da educação do docente, isso
fica evidente na preocupação das políticas educacionais em recolher e manipular as
informações sobre o sistema educacional, o professor e o aluno. Nesse contexto, o
planejamento estratégico e os estudos estatísticos ganham credibilidade como
modelo de produção da verdade e dos saberes em torno dos quais as práticas de
formação/constituição de indivíduos são elaboradas e implementadas. Como já
mencionado, o exame configura-se como o modelo do exercício do poder biopolítico
que também age no campo da educação escolar e da formação de professores. Um
setor, portanto, que pode ser considerado como de intervenção da arte de governar
a população docente e discente na atualidade das políticas educacionais brasileiras
é a formação de professores.
As estratégicas biopolíticas de governamento da população, explica-nos
Foucault (1999), foram importantes para o desenvolvimento do capitalismo e,
fundamentalmente, para a constituição de um modo de vida capitalista, ou seja, para
o ethos capitalista, porque o exercício do poder biopolítico age, concomitantemente,
no indivíduo e na coletividade da qual esse faz parte. Na arte de governar liberal o
que está em jogo é a racionalidade dos governados, por isso os processos de
subjetivação são o princípio da arte de governar desde a emergência do liberalismo.
Os saberes produzidos em torno das populações são instrumentos de compreensão
da racionalidade dos governados que levam a elaboração de reguladores, padrões e
referenciais como modelos e metas, atuando na subjetivação dos indivíduos, na
administração e controle das populações. Um desses saberes é o levantamento de
necessidades de formação de professores que podem ser diagnosticadas por
especialistas com ou sem a participação dos professores na formulação dessas
necessidades. Para tanto, a produção de saber por meio da estatística e da
pesquisa é fundamental como evidenciam os enunciados seguintes:
176
A União incumbir-se-á de: [...] V – coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação; VI – assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade de ensino; [...] §2º Para o cumprimento do disposto nos incisos V a IX, a União terá acesso a todos os dados e informações necessários de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais (LDB, p. 8, art.9º, grifo meu). IV. levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino (LDB, p. 32, item IV do art. 70, grifo meu). Considerando que os recursos financeiros são limitados e que a capacidade para responder ao desafio de oferecer uma educação compatível, na extensão e na qualidade, à dos países desenvolvidos precisa ser construída constante e progressivamente, são estabelecidas prioridades neste plano, segundo o dever constitucional e as necessidades sociais. [...] 5. Desenvolvimento de sistemas de informação e de avaliação em todos os níveis e modalidades de ensino, inclusive educação profissional, contemplando também o aperfeiçoamento dos processos de coleta e difusão dos dados, como instrumentos indispensáveis para a gestão do sistema educacional e melhoria do ensino (PNE 2000-2010, p.7-8, grifo meu). Para que seja possível o planejamento educacional, é importante implantar sistemas de informação, com o aprimoramento da base de dados educacionais do aperfeiçoamento dos processos de coleta e armazenamento de dados censitários e estatísticas sobre a educação nacional. Desta maneira, poder-se-á consolidar um sistema de avaliação - indispensável para verificar a eficácia das políticas públicas em matéria de educação. A adoção de ambos os sistemas requer a formação de recursos humanos qualificados e a informatização dos serviços, inicialmente nas secretarias, mas com o objetivo de conectá-las em rede com suas escolas e com o MEC (PNE 2000-2010, p.93, grifo meu). A avaliação do Plano Nacional de Educação deve valer-se também dos dados e análises qualitativas e quantitativas fornecidos pelo sistema de avaliação já operado pelo Ministério da Educação, nos diferentes níveis, como os do Sistema de Avaliação do Ensino Básico – SAEB; do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM; do Sistema de Avaliação do Ensino Superior (Comissão de Especialistas, Exame Nacional de Cursos, Comissão de Autorização e Reconhecimento), avaliação conduzida pela Fundação/Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES (PNE 2000-2010, p.98, grifo meu).
177
O PNE de 2000-2010 indica, baseado em dados estatísticos, qual
modalidade da educação básica se localiza a demanda de professores sem
qualificação, conforme padroniza a LDB/1996. O texto está chamando de
“necessidades de qualificação” a formação adequada, normatizada pela LDB de
1996 para cada modalidade de ensino da educação básica e de “necessidades de
formação” quando associa a formação à expansão das metas. “Necessidades de
qualificação” está sendo usada no texto, então, para determinar a formação mínima
exigida pela lei e “necessidades de formação” é usada para determinar a formação
que acompanha a expansão das metas na educação. Um exemplo é o apontamento
sobre a modalidade da educação especial e a educação de jovens e adultos:
Os enunciados anteriores demonstram que o poder biopolítico se exerce nas
malhas do discurso da política educacional brasileira na atualidade coletando dados
para elaborar diagnósticos das situações consideradas como problemáticas e
elaborar ações de formação. O interesse em coletar dados sobre as necessidades
de formação dos professores surge da necessidade de melhor saber como planejar,
então, a formação desses profissionais, de melhor conhecê-los para melhor conduzi-
los ao perfil de docente almejado. O poder biopolítico revela-se e cria condições para
agir sobre os professores, alvo de governamentalização, ao coletar essas
informações e investigar os professores, seu perfil, suas dificuldades, seus desejos e
suas prioridades formativas. Assim, a produção de saber sobre o objeto necessidade
formativa docente pode ser um instrumento de vigilância ao revelar o que os
As necessidades de qualificação para a educação especial e para a educação de jovens e adultos são pequenas no que se refere ao nível de formação pois, em ambas as modalidades, 97% dos professores têm nível médio ou superior. A questão principal, nesses dois casos, é a qualificação para a especificidade da tarefa. (PNE 2000-2010, p.75, grifo meu). É fundamental que os dados sobre necessidades de qualificação sejam desagregados por Estado, o que deverá ser feito nos planos estaduais, a fim de dimensionar o esforço que em cada um deles deverá ser feito para alcançar o patamar mínimo de formação exigido. (PNE 2000-2010, p.76, grifo meu) Os dados acima [refere-se aos dois enunciados anteriores] apontam somente para a necessidade atual, isto é, para que o magistério brasileiro que está atuando nos sistemas de ensino possua o nível de formação mínimo estabelecido pela lei. Considerando que este plano fixa metas de expansão e de melhoria da qualidade do ensino, as necessidades de formação crescerão na mesma proporção daquelas metas. (PNE 2000-2010, p. 76, grifo meu).
178
professores são, querem, pensam, sentem e um instrumento de controle aliado ao
planejamento de ações ditas de formação que vão oferecendo aquilo que se julga
ser preciso oferecer. Os programas de formação continuada planejados sobre esses
saberes não deixam de ser estratégias de (re)condução dos professores ao perfil de
professor almejado.
A partir das leituras que realizei, observei que no contexto brasileiro, a
emergência da necessidade formativa docente está associada à adequação da
formação desses profissionais a três situações: adequação da formação aos
pressupostos direcionados pelas políticas relacionadas à regulação do currículo da
educação básica, divulgados por textos, a partir da década de 1990, como os
Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (RCN), os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCN) e os Referenciais para a Formação dos Professores;
preparação dos professores para receber um público estudantil diverso, em respeito
às suas diferenças e multiplicidade, em atendimento à emergência do discurso da
inclusão; e a uma política de valorização da profissão.
Um dos programas que incentivou a disseminação das orientações dos
referenciais curriculares nacionais é o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD),
porque para que os livros sejam distribuídos nas escolas, primeiro precisam ser
apreciados por uma comissão nacional de especialistas que avalia a adequação das
obras às diretrizes curriculares estabelecidas. A formação de professores também
cria espaços usados para a divulgação e fortalecimento desses parâmetros
curriculares, a ponto de Gatti et al (2011) atestarem em seu estudo sobre a formação
de professores no Brasil, já citado aqui, que “as políticas de formação continuada de
docentes gravitam [...] em torno da implementação do currículo da educação básica”
(GATTI et al, p.37, 2011) e que as políticas de currículo, classificadas por elas como
ético-profissionais concebem os processos de formação continuada de professores
como a finalidade de implementação do currículo como uma exigência45. O discurso
dos parâmetros curriculares nacionais permeia grande parte da discussão sobre as
45 Essas autoras identificam nas políticas de currículo dos Estados e Municípios princípios diferentes que foram ordenados por elas em dois polos: as políticas de ordem ético-profissionais e de ordem econômico-burocrático. Baseadas em terminologia sugerida por Hargreaves, as autoras nos explicam que “o modelo assenta-se na profissionalidade docente, ou seja, no conjunto de competências adquiridas pela formação e pela experiência por um (a) profissional, reconhecidas socialmente como características de determinada profissão” (GATI et al, p. 43, 2011).
179
necessidades formativas docentes, bem como das ações de formação de
professores tanto inicial quanto continuada (GATTI et al, 2011), como demonstra os
enunciados a seguir:
A preocupação com a elaboração de um currículo que tenha uma base
comum nacional coexiste com a preocupação em formar os professores de acordo
Mas há dois aspectos no Art. 61 [da LDB/1996] que precisam ser destacados: a relação entre teoria e prática e o aproveitamento da experiência anterior. Aprendizagens significativas, que remetem continuamente o conhecimento à realidade prática do aluno e às suas experiências, constituem fundamentos da educação básica, expostos nos artigos citados. Importa que constituam, também, fundamentos que presidirão os currículos de formação e continuada de professores. Para construir junto com os seus futuros alunos experiências significativas e ensiná-los a relacionar teoria e prática é preciso que a formação de professores seja orientada por situações equivalentes de ensino e de aprendizagem (Parecer 09/2001, p.14, grifo meu). [Entre os objetivos e metas apresentadas pelo PNE está:] 9. Definir diretrizes e estabelecer padrões nacionais para orientar os processos de credenciamento das instituições formadoras, bem como a certificação, o desenvolvimento das competências profissionais e a avaliação da formação inicial e continuada dos professores (PNE 2000-2010, p.80, grifo meu). Esta perspectiva ampla de formação e profissionalização docente, seja inicial ou continuada, deve romper com a concepção de formação, reduzida ao manejo adequado dos recursos e técnicas pedagógicas. Para isso, é mister superar a dicotomia entre a formação pedagógica stricto sensu e a formação no campo de conhecimentos específicos. Ela deve-se pautar pela defesa de bases sólidas para a formação contínua e permanente dos/as profissionais, tendo a atividade docente como dinâmica e base formativa. Deve estar alicerçada nos princípios de uma base comum nacional, como parâmetro para a definição da qualidade, bem como ser resultado da articulação necessária entre o MEC, as instituições formadoras e os sistemas de ensino (Documento Final da Conae de 2010, p.82, grifo meu). Uma demanda inicial, concernente às propostas que estão sendo implantadas, especificamente, a formação de docentes para a educação básica, é a de reestruturar o currículo das instituições públicas e privadas, possibilitando a formação inicial e continuada dos/das educadores/as, tanto para o atendimento aos/às educandos/as dos anos iniciais, como para os anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, conforme as matrizes curriculares, resguardando uma base comum nacional (Documento Final da Conae de 2010, p.82, grifo meu). Uma política nacional de formação e valorização de profissionais em educação deverá traçar, além de diretrizes para a formação inicial e continuada de professores/as e funcionários/as, as condições (se presencial ou a distância) em que cada modalidade será desenvolvida (Documento Final da Conae de 2010, p.83, grifo meu).
180
com uma base comum curricular. O objeto necessidade formativa docente ganha
relevância por causa desse contexto porque, a partir da investigação das
necessidades de formação dos professores relacionadas à base comum curricular,
podem-se delinear propostas de formação direcionada a suprir necessidades
relacionadas às diretrizes curriculares estabelecidas.
Já a discussão sobre as necessidades de formação de professores para o
atendimento à diversidade evidencia-se junto à maior ênfase dada ao direito à
educação como um direito humano inalienável, sobretudo desde a década de 1990,
demandando políticas de currículo que considerem, além da desigualdade social, a
diversidade e a diferença de gênero, étnico-raciais, de idade, de orientação sexual,
de pessoas portadoras de necessidades especiais. O discurso da inclusão de todos
na educação escolar ara o terreno para a necessidade de se ter uma nova formação
para os profissionais da educação. Esses profissionais teriam que ter outro perfil e,
portanto, essa formação deveria atender as necessidades formativas relacionadas à
construção desse novo perfil.
O objeto necessidade formativa docente torna-se uma realidade a partir da
articulação do discurso da inclusão e também da inovação metodológica com os
discursos da falta de preparação docente para lecionar para as diferenças e do
professor mal formado. A inclusão é entendida como inclusão de todos à educação
escolar, portanto, é preciso um professor sempre disposto a tratar com diferentes
alunos e situações, que saiba agir diante de diferentes contextos de aprendizagem,
porque esses contextos são constituídos por diferentes agentes que trazem
situações sempre inovadoras para a escola e sala de aula.
O efeito produzido por essa combinação de discursos é a necessidade de se
formar um profissional sempre disposto a atender as demandas inclusivas, diversas
e inovadoras que lhe impõe a educação para todos, ou seja, que lhe impõe a
sociedade educadora ou pedagogizada (MARÍN DIAS e NOGUERA RAMIREZ,
2013; BALL, 2013; AQUINO, 2013), também conhecida como sociedade da
aprendizagem. A necessidade desse profissional sempre se adequar continuamente
às diferenças e inovações ressalta-se e impõe-se como meta de formação. Mas
como saber quais necessidades formativas os programas de formação docentes
devem priorizar ou abordar? O levantamento de necessidades de formação, neste
caso, é uma tecnologia eficiente de dupla função: tanto de sondagem quanto de
construção de um novo perfil docente, o perfil do docente que tem a formação
181
sempre por se fazer diante das diferenças e inovações que (re)surgem
continuamente.
Os enunciados a seguir trazem a necessidade da formação de um professor
para atender às novas demandas e à diversidade a ser incluída:
É consensual a afirmação de que a formação de que dispõem os professores hoje no Brasil não contribui suficientemente para que seus alunos se desenvolvam como pessoas, tenham sucesso nas aprendizagens escolares e, principalmente, participem como cidadãos de pleno direito num mundo cada vez mais exigente sob todos os aspectos (Referenciais para Formação dos Professores, 2002, p. 16, grifo meu). O atendimento às diversidades e a perspectiva da escola inclusora trazem grandes demandas para o professor. [...] Para compreender seus alunos, o professor também precisa acompanhar temas atuais em que eles estão envolvidos. [...] conhecer esses processos e se manter atualizado em relação às novas descobertas é muito importante para o professor. (Referenciais para Formação dos Professores, 2002, p. 89, grifo meu). O avanço e a disseminação das tecnologias da informação e da comunicação estão impactando as formas de convivência social, de organização do trabalho e do exercício da cidadania (Parecer 09/2009, p. 3-4, grifo meu). Quanto mais o Brasil consolida as instituições políticas democráticas, fortalece os direitos da cidadania e participa da economia mundializada, mais se amplia o reconhecimento da importância da educação para a promoção do desenvolvimento sustentável e para a superação das desigualdades sociais (Parecer 09/2009, p.4, grifo meu). É necessário ressignificar o ensino de crianças, jovens e adultos para avançar na reforma das políticas da educação básica, a fim de sintonizá-las com as formas contemporâneas de conviver, relacionar-se com a natureza, construir e reconstruir as instituições sociais, produzir bens, serviços, informações e conhecimentos e tecnologias, sintonizando-o com as formas contemporâneas de conviver e de ser. (Parecer 09/2009, p.7, grifo meu). A democratização do acesso e a melhoria da qualidade da educação básica vêm acontecendo num contexto marcado pela redemocratização do país e por profundas mudanças nas expectativas e demandas educacionais da sociedade brasileira (Parecer 09/2009, p.3, grifo meu). A internacionalização da economia confronta o Brasil com a necessidade indispensável de dispor de profissionais qualificados (Parecer 09/2009, p. 4, grifo meu).
182
Além disso, as transformações científicas e tecnológicas, que ocorrem de forma acelerada, exigem das pessoas novas aprendizagens, não somente no período de formação, mas ao longo da vida. Há também a questão da necessidade de aprendizagens ampliadas – além das novas formas de aprendizagem. Nos últimos anos, tem-se observado o uso cada vez mais disseminado dos computadores e de outras tecnologias, que trazem uma grande mudança em todos os campos da atividade humana. A comunicação oral e escrita convive cada dia mais intensamente com a comunicação eletrônica, fazendo com que se possa compartilhar informações simultaneamente com pessoas de diferentes locais (Parecer 09/2009, p. 9, grifo meu). Nesse contexto, reforça-se a concepção de escola voltada para a construção de uma cidadania consciente e ativa, que ofereça aos alunos as bases culturais que lhes permitam identificar e posicionar-se frente às transformações em curso e incorporar-se na vida produtiva e sócio-política. Reforça-se, também, a concepção de professor como profissional do ensino que tem como principal tarefa cuidar da aprendizagem dos alunos, respeitada a sua diversidade pessoal, social e cultural (Parecer 09/2009, p.9, grifo meu). Com abordagens que vão na contramão do desenvolvimento tecnológico da sociedade contemporânea, os cursos raramente preparam os professores para atuarem como fonte e referência dos significados que seus alunos precisam imprimir ao conteúdo da mídia. Presos às formas tradicionais de interação face a face, na sala de aula real, os cursos de formação ainda não sabem como preparar professores que vão exercer o magistério nas próximas duas décadas, quando a mediação da tecnologia vai ampliar e diversificar as formas de interagir e compartilhar, em tempos e espaços nunca antes imaginados (Parecer 09/2009, p.25, grifo meu). Uma cultura geral ampla favorece o desenvolvimento da sensibilidade, da imaginação, a possibilidade de produzir significados e interpretações do que se vive e de fazer conexões – o que, por sua vez, potencializa a qualidade da intervenção educativa. Do modo como é entendida aqui, cultura geral inclui um amplo espectro de temáticas: familiaridade com as diferentes produções da cultura popular e erudita e da cultura de massas e a atualização em relação às tendências de transformação do mundo contemporâneo. A cultura profissional, por sua vez, refere-se àquilo que é próprio da atuação do professor no exercício da docência. Fazem parte desse âmbito temas relativos às tendências da educação e do papel do professor no mundo atual (Parecer 09/2009, p.45, grifo meu). Nos cursos de formação para a educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental é preciso incluir uma visão inovadora em relação ao tratamento dos conteúdos das áreas de conhecimento, dando a eles o destaque que merecem e superando abordagens infantilizadas de sua apropriação pelo professor (Parecer 09/2009, p.47, grifo meu).
183
Então, o objeto necessidade formativa docente ampara-se na necessidade
de formar um profissional mais preparado a lidar com a inclusão na escola, o que
demanda a formação de um profissional aberto às práticas da educação inclusiva.
Lopes (2009), ao estudar as práticas da educação inclusiva, explica que o
Estado está cada vez mais preocupado em tornar-se onipresente e em manter-se
articulado com o mercado, age como investidor em políticas que enfatizam a
i) Garantia de que, na formação inicial e continuada, a concepção de educação inclusiva esteja sempre presente, o que pressupõe a reestruturação dos aspectos constitutivos da formação de professores/as, com vistas ao exercício da docência no respeito às diferenças e no reconhecimento e valorização da diversidade. O compromisso deve ser com o desenvolvimento e a aprendizagem de todos/as os/as estudantes, por meio de um currículo que favoreça a escolarização e estimule as transformações pedagógicas das escolas, visando à atualização de suas práticas, como meio de atender às necessidades dos/das estudantes durante o percurso educacional (Documento Final da Conae de 2010, p.80-82, grifo meu). r) Proporcionar formação continuada aos/às profissionais do magistério atuantes em EJA, favorecendo a implementação de uma prática pedagógica pautada nas especificidades dos sujeitos da EJA e uma postura mediadora frente ao processo ensino-aprendizagem. E, no mesmo sentido, qualificar docentes e gestores/as para atuar nos cursos de educação profissional integrada à educação básica na modalidade de EJA (Proeja). s) Ofertar cursos de formação inicial e continuada aos/às profissionais em educação do campo, admitindo-se em caráter emergencial a alternativa da educação a distância que ultrapasse a especialização por disciplinas, buscando uma lógica que se aproxime dos campos constituídos dos saberes, oportunizando o diálogo entre as áreas. t) Consolidar a formação superior para os/as professores/as indígenas, ciganos, quilombolas, populações tradicionais e demais etnias, bem como ofertar para os/as já formados/as o programa de educação continuada voltado para essa especificidade de educação. u) Implementar programas de formação inicial e continuada que contemplem a discussão sobre gênero e diversidade étnico-racial, de orientação sexual e geracional, de pessoas com deficiências, com transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades, superdotação e transtornos funcionais especiais, com destaque para as lutas contra as variadas formas de discriminação sexual, racial e para a superação da violência contra a mulher e outras formas de violências que influem negativamente no processo ensino-aprendizagem. v) Elaborar, implantar e implementar políticas e programas de formação continuada, de pós-graduação, acerca de gênero, diversidade sexual e orientação sexual para todos/ as os/as profissionais da área da saúde, educação, serviço social, esporte e lazer. [...] y) Implementar programas de formação continuada, em nível de especialização ou aperfeiçoamento, em atendimento educacional especializado para os/as profissionais que atuarão nas salas de recursos multifuncionais (Documento Final da Conae de 2010, p.86-89, grifos meus).
184
importância do empresariamento de si, incentivando políticas de assistência social,
educacionais e inclusivas interessadas na formação do sujeito econômico. Para essa
autora, as normas instituídas no ethos neoliberal têm a finalidade de “criar e
conservar o interesse em cada um em particular, para que o indivíduo se mantenha
presente em redes sociais e de mercado” além de posicioná-lo em redes de saberes.
A aproximação do discurso da valorização docente com o direito e a necessidade de
formação permanente do professor é uma estratégia de cooptação da vontade do
professor em estar sempre (pro)ativo e incluído no jogo do mercado. Como comenta
Lopes (2009, p. 156), “não se trata de preocupação, de qualificação ou de cuidado
com o outro; trata-se sim da necessidade da permanência do outro” para sustentar o
jogo do mercado.
Nesse sentido, a autora aponta duas regras operadas no jogo da
constituição de sujeitos neoliberais: os sujeitos devem manter-se sempre em
atividade e todos devem estar incluídos.
Essas duas regras, explica-nos Lopes (2009), refere-se ao interesse do
poder biopolítico em integrar todos ou a maior quantidade de pessoas nas redes que
sustentam o jogo do mercado e em fazer com que todos tenham interesse em fazer
parte do jogo do mercado. Para tanto, o Estado e o mercado estão cada vez mais
articulados “na tarefa de educar a população para que ela viva em condições de
sustentabilidade, de empresariamento e de autocontrole” (LOPES, 2009, p. 155). A
autora cita três principais condições de participação que garantem a integração das
pessoas no jogo do mercado: ser educado em direção a entrar no jogo, permanecer
sempre incluído no jogo e desejar permanecer no jogo.
O professor é um dos principais sujeitos na tarefa de educar a população,
embora, em tempos biopolíticos e neoliberais, não seja o único, já que credito
vivermos numa sociedade pedagogizada, como já mencionado. Por um lado, o
professor é, então, uma peça fundamental no processo de capturar as
subjetividades e conduzi-las ao ethos neoliberal, preparando os alunos a entrarem
no jogo do mercado. Por outro lado, ao mesmo tempo que o professor captura
subjetividades, ele próprio tem sua subjetividade capturada e conduzida para a
finalidade de se integrar no jogo do mercado, porque a evidência e importância da
formação continuada torna possível a sua sempre participação no jogo, mantendo-o
sempre em posição de atividade e permanência nas malhas do mercado. Fazê-lo
185
desejar permanecer nesse jogo do mercado é criar estratégias que possam capturar
a sua própria vontade em participar do jogo.
O discurso da inclusão de todos na educação coexiste com o discurso da
formação continuada e com o enunciado necessidade formativa docente porque
compõem juntos as estratégias do poder biopolítico para governamentalizar os
excluídos, incluindo-os nas normas regidas pela forma de viver neoliberal.
Quanto ao discurso de valorização dos professores, as necessidades de
formação dessa categoria ganha visibilidade quando a formação continuada desses
profissionais passa a ser vista como um direito e como uma necessidade ao
desenvolvimento profissional docente. Gatti et al (2011) mencionam que, depois da
promulgação da Lei 9.394, de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
e de Valorização do Magistério (Fundef), instituído pela Emenda Constitucional
nº.14, de 1996, e, depois, pelo Fundo de Manutenção e desenvolvimento da
Educação Básica (Fundeb), instituído pela Medida Provisória nº 339, de 2006,
posteriormente sancionada pela Lei nº 11.494, de 2007 (as principais formas de
regulação dos recursos financeiros destinados aos professores da educação básica),
políticas de formação continuada e formação em serviço passaram a receber
recursos financeiros para serem implementadas, pois passam a ser “entendidas
como um direito dos profissionais da educação e como uma condição indispensável
ao exercício da profissão” (GATTI et al, 2011, p. 34). Segundo essa legislação, 60%
dos recursos desses fundos deveriam ser destinados à remuneração e ao
aperfeiçoamento do quadro do magistério tanto para adequá-lo ao que era
determinado pela LDB em relação ao nível de formação mínima para se obter a
licença de lecionar quanto para aperfeiçoar e atualizar os professores já habilitados
de acordo com a lei por meio de variadas e diferentes ações, como capacitações,
cursos, oficinas.
A formação continuada e aquela denominada em serviço, entendidas como
um direito do professor na LDB, e a regulamentação dos recursos destinados ao
aperfeiçoamento do quadro de magistério, estabelecido em lei, pelo Fundef e
Fundeb, colocam esse tipo de formação em posição de destaque dentro das
políticas de formação de professores, acirrando-se a preocupação das instituições
mantenedoras da educação básica com o planejamento e os resultados da formação
continuada. Essa preocupação manifesta-se pela assinatura dos vinte e seis
186
Estados, do Distrito Federal e dos cinco mil quinhentos e sessenta e cinco
municípios brasileiros ao Termo de Adesão ao Plano de Metas do Plano de
Desenvolvimento da Educação, de 2007, adesão essa que possibilitou a elaboração
dos Planos de Ações Articuladas (PAR) que contêm “o diagnóstico dos sistemas
locais e as demandas de formação de professores” (GATTI et al, p.35, 2011).
Atualmente o site do MEC46 disponibiliza aos diretores e professores um
espaço destinado à formação. Nesse ambiente virtual, é possível encontrar os
cursos oferecidos a esses profissionais que trabalham na educação básica pública e
espaços virtuais de apoio e informações sobre as ações destinadas à formação
continuada. Conforme consta no site do MEC, a formação continuada de professores
é oferecida por meio dos seguintes programas: Formação no Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa: curso presencial para professores alfabetizadores);
Proinfantil: curso de nível médio oferecido aos profissionais da educação infantil;
Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Basica – Parfor: curso de
nível superior aos professores em exercício da rede pública da educação básica;
Proinfo Integrado: programa de formação voltado para o uso didático-pedagógico
das Tecnologias da Informação e Comunicação; e-Proinfo: ambiente virtual de
administração e desenvolvimento de ações formativas (há 221 ações registradas
nesse ambiente, dentre elas o anúncio de cursos presenciais, semipresenciais e a
distância em vários municípios do país); Pró-letramento: programa de formação
continuada para os professores dos anos iniciais do ensino fundamental quanto aos
conteúdos relacionados à Matemática e à leitura e à escrita; Gestar II (Programa
Gestão da Aprendizagem Escolar): atende os professores dos anos finais do ensino
fundamental quanto aos conteúdos relacionados à Matemática e Língua Portuguesa.
As instituições de ensino superior públicas, federais e estaduais que fazem parte da
Rede Nacional de Formação Continuada de Professores, segundo consta no site,
preparam o material de orientação usados nos cursos a distância e semipresenciais
com carga horária de 120 horas, com a finalidade de atender as necessidades e
demandas do Plano de Ações Articuladas dos sistemas de ensino. Para Gatti et al
(2011), após a regulação da formação mínima para lecionar, estabelecida pela LDB,
foi possível estabelecer entre as instituições mantenedoras da educação básica e as
46 Site disponível, em 27/11/2014, no seguinte endereço eletrônico: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=18838&Itemid=842
187
instituições de formação de professores novas articulações, que incluíam também a
formação continuada de profissionais já licenciados.
Os Referenciais para formação de professores (2002) define a formação
continuada como uma “necessidade intrínseca para os profissionais da educação
escolar e faz parte de um processo permanente de desenvolvimento profissional que
deve ser assegurado a todos” (p. 70) e o Documento Final da Conae de 2010
apresenta a formação continuada como um direito do professor e como uma
obrigação do Estado:
Formação continuada concebida como um direito, como uma necessidade
intrínseca do professor e como um mecanismo de valorização docente constrói um
discurso bastante positivo. Isso porque já que a formação continuada é um meio de
valorização, o professor convence-se facilmente a buscar formação
permanentemente, e, sendo ela considerada um direito, melhor aparenta ser, pois,
assim, pode se tornar uma prática a ser implementada na jornada de trabalho do
professor, principalmente se é vista como uma necessidade intrínseca ao
desenvolvimento profissional do professor, pois, dessa forma, ela está de acordo
com a ‘natureza’ da docência. Mas mesmo assim considerada, isto é, como um
A formação dos/das profissionais da educação deve ser entendida na perspectiva social e alçada ao nível da política pública, tratada como direito e superando o estágio das iniciativas individuais para aperfeiçoamento próprio, com oferta de cursos de graduação, especialização/aperfeiçoamento e extensão aos/às profissionais da educação pública, em universidades também públicas. Esta política deve ter como componentes, juntamente com a carreira (a jornada de trabalho e a remuneração), outros elementos indispensáveis à valorização profissional. Deve ser pensada como processo inicial e continuado, como direito dos/das profissionais da educação e dever do Estado (Documento Final da CONAE de 2010, p. 79, grifo meu). É importante garantir a obrigatoriedade do financiamento pelo poder público da formação inicial e continuada, assegurando graduação e pós-graduação lato sensu e stricto sensu a todos os profissionais da educação. Que seja garantida a redução em 50% da jornada de trabalho aos/às trabalhadores/as em educação, cursando especialização, e liberação de 100% da jornada de trabalho ou licença automática e remunerada, com a manutenção integral dos salários, aos/às profissionais do magistério que estiverem cursando ou ingressarem em programas de mestrado e doutorado. É necessário garantir a responsabilidade da União no financiamento dessas políticas, assim como as condições, como ajuda de custo aos profissionais que residam em bairros/municípios afastados do Município-sede, para que possam participar da formação continuada (Documento Final da CONAE de 2010, p.83, grifo meu).
188
direito, uma necessidade e uma prática de valorização docente, não pude deixar de
problematizá-la como mecanismo de sujeição e de controle dos docentes.
Mecanismo que inclui e prende permanentemente o docente no jogo da
aprendizagem permanente.
A positividade desse discurso age na vontade do professor em ser formado
continuamente, na disposição de buscar formação de diversos temas relacionados a
sua atuação e na disposição a não resistir à formação pois, além de ser um direito e
de valorizar o seu trabalho, ela é uma necessidade intrínseca, sendo apresentada
como se fosse ‘natural’ ao ser professor. Quem, então, não estiver disposto a
participar dos processos de formação continuada oferecidos ou resistir de algum
modo a fazer parte dele estaria rejeitando um direito, não se importando em valorizar
o próprio trabalho e renegando a ‘natureza’ do seu trabalho? No jogo da constituição
de sujeitos neoliberais, homo oeconomicus docentes, a inclusão e a permanência
em atividade no mercado são reforçadas por essa rede de saber que apresenta a
formação continuada como um direito, uma prática de valorização e de necessidade
intrínseca do docente.
A formação continuada legitimada pela necessidade da adequação da
formação ao currículo nacional, à inclusão de todos no sistema escolar e à
valorização da profissão governamentaliza o professor, porque age na sua vontade
de produzir necessidades de formação que serão consumidas nos programas de
formação continuada para docentes. Assim, a formação continuada se torna quase
um direito obrigatório, porque é por meio dela que se é valorizado, fazendo emergir
mecanismos como a meritocracia destinada a avaliar e premiar (“valorizar”) o
professor, e porque é uma estratégia de incluir permanentemente o professor no
jogo do mercado, como um sujeito sempre ativo.
Problematizar a formação continuada desse modo não quer dizer rejeitá-la
totalmente, mas torna possível fazer uma crítica sobre os modelos que estão sendo
propostos, apoiados em discursos que tecem a mesma rede de saberes descritos
nesta análise. A formação continuada não é intrínseca ao desenvolvimento
profissional do professor que, por sua vez, também só existe porque houve
condições históricas para a sua emergência como saber. A formação continuada é
uma estratégia política na qual o exercício do biopoder está presente, agindo no
governamento dessa determinada população. Ela não é, portanto, natural e nem
“intrínseca” e só se constitui em um direito porque há forças que a tornam um direito.
189
Forças essas que precisam atentar para o exercício da racionalidade neoliberal na
constituição dos sujeitos professores, porque ela é, tem sido utilizada como um
mecanismo de conduzir a conduta do professor a tornar-se um empresário de si
mesmo, conformado à cultura do empreendedorismo e à lógica da competição.
O levantamento de necessidades docentes justifica e legitima as ações,
programas e projetos em torno da necessidade em adequar a formação do professor
ao currículo nacional da educação básica, às demandas da inclusão e em justificar
investimentos no setor da formação continuada como sendo ações de valorização
docente. A coexistência desses temas na política de formação docente ressalta o
exercício do poder biopolítico em produzir uma liberdade docente cerceada.
A constituição de um ethos neoliberal por meio da objetificação de um sujeito
econômico e um sujeito de interesse que convivem na atualidade está presente nos
discursos em torno da formação de professores e da análise de necessidades
formativas docentes. O professor é sujeito econômico quando precisa competir no
mercado de trabalho, investindo sempre em si mesmo como capital humano, como
empresário de si mesmo; e é sujeito de direito quando tem garantias de participar da
formação como um direito, mesmo sendo esse direito quase obrigatório. Desse
modo, o exercício do poder biopolítico tem colaborado para a subjetivação de
profissionais dispostos a estarem sempre em atividade no mercado.
190
6 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao iniciar este trabalho não sabia ao certo se seria possível estudar a
necessidade formativa docente a partir de um referencial teórico-metodológico
foucaultiano. De forma diferente de outros trabalhos que tratam desse tema, este
não se preocupou em levantar ou elaborar junto aos professores necessidades
relacionadas ao seu trabalho e à sua formação. Na tentativa de aproximar esta
pesquisa da abordagem histórico-filosófica, propus-me a compreender as estruturas
de racionalidade que articulam os discursos e os mecanismos de sujeição
envolvidos no discurso da política de formação de professores e que mantêm
relação com a existência desse objeto. Por isso, preocupei-me em problematizar a
emergência do objeto necessidade formativa docente no atual cenário das políticas
de formação de professores no Brasil.
O percurso realizado até aqui mostrou-me a possibilidade em utilizar as
ferramentas teóricas forjadas por Foucault para pensar assuntos referentes à
educação e à formação de professores nos termos de uma biopolítica destinada ao
docente. Sei que essa opção teórica não é a única forma de tratar esse objeto de
modo crítico, toda escolha tem suas limitações e toda pesquisa precisa em algum
momento ‘colocar um ponto final’. Sei também que essas limitações podem ser
expandidas por meio das críticas e debates que ainda serão tecidos sobre esse
objeto e que o ponto final nunca esgota o assunto. Não tenho, por isso, a pretensão
de esgotar o assunto. Esta perspectiva é uma das possíveis para abordar a referida
temática.
A abordagem, a metodologia de trabalho, as ferramentas teóricas utilizadas
para a análise foram escolhidas para ‘desnaturalizar’ o objeto necessidade formativa
docente. Afinal, esta pesquisa tem a sua intecionalidade. E quando me pergunto do
porquê quis construir um trabalho assim, a resposta que me aparece é ‘porque eu
não quero ser tratada como estou sendo tratada pela política de formação de
professores no Brasil, como alguém que não sabe ou como alguém que é conduzido
a ter vontade de sempre não saber algo para, então, suprir isso e ser ‘melhor’ ou
mais ‘potencializado’ ou ‘melhor desenvolvido’. Não quero enviar respostas que os
tutores querem ouvir nos cursos a distância como mostra a conversa das duas
professoras citadas no capítulo um deste texto. Não quero acreditar que a maior
responsabilidade pelo fracasso da educação escolar no Brasil é fruto da minha ação,
191
do meu trabalho, da minha falta de conhecimento, de criatividade, de traquejo com a
informática, da minha falta de conhecimento sobre como ensinar os portadores de
necessidades especiais, mesmo que eu reconheça essas e outras limitações na
minha formação ou no meu ser-professor’. O que me impulsionou a fazer esta
pesquisa foi uma vontade de saber sobre aquilo que eu quero resistir, sobre aquilo
que me tem constituído como professora e pesquisadora. Optar por ‘desnaturalizar’
o objeto necessidade formativa docente foi a forma que eu encontrei de resistir às
forças exercidas na constituição de mim mesma como um homo economicus da
docência. Quero assumir claramente a minha intencionalidade nesta pesquisa, para
também mostrar que formas de resistências são possíveis mesmo com a biopolítica
sendo exercida como tecnologia de poder sobre a população e mesmo com a
racionalidade neoliberal permeando as práticas discursivas e não discursivas dos
discursos de formação de professores.
Ao estudar a emergência do objeto necessidade formativa docente utilizando
as ferramentas teóricas da norma e dos procedimentos internos de análise dos
discursos – a função-autor e o comentário –, a fim de evidenciar a rede discursiva na
qual esse objeto se aloja e a fim de compreender as condições políticas que
possibilitaram a instituição dos discursos que alojam esse objeto, não estou
preocupada em assumir a posição contrária à existência da necessidade formativa
docente, acusando-a de perversa ao processo de formação dos professores.
De outra forma, a existência desse objeto é uma tecnologia de produção de
saberes que deve ser entendida na sua capacidade de produzir efeitos de
governamento dos professores e não como fonte de saber de ‘verdades verdadeiras’
ou naturais ou intrínsecas ao ser professor. Assim como todo saber, ela é inventada
a partir das condições políticas que a envolvem. Então, se a necessidade formativa
docente está sendo proposta como um conhecimento necessário para a elaboração
da formação dos professores pelo sistema educacional, este trabalho propôs-se a
pensar as estruturas de racionalidade que constituem os discursos sobre esse objeto
e sobre as técnicas de subjetivação implementadas para o governamento dos
docentes.
Devido à minha intencionalidade ao elaborar este estudo, fiz um recorte na
obra foucaultiana, me detendo mais ao referencial teórico relacionado ao
saber/poder, procurando tratar o objeto desta pesquisa a partir dele. No entanto, a
formação de professores, bem como o objeto necessidade formativa docente podem
192
ser também estudados a partir das ferramentas teóricas elaboradas pelo Foucault
mais maduro, como as noções do cuidado de si, da parresia e das tecnologias de si.
Devido ao recorte que propus, não me preocupei em trabalhar com essas noções
nesta pesquisa.
As análises feitas aqui me possibilitam tecer algumas considerações.
Primeiro, me permitem problematizar o status da necessidade formativa docente
como sendo um saber elaborado e não descoberto. Isso confere ao objeto
necessidade formativa docente o caráter de um acontecimento, porque o
conhecimento construído sobre as necessidades de formação dos professores é
validado a partir das conexões que mantém com outros conhecimentos, sendo,
portanto, provisório e empírico.
Em segundo lugar, ao descrever por meio das ferramentas teóricas da
‘função autor’ e do ‘comentário’ as coexistências entre os enunciados presentes no
discurso da formação de professores nos textos analisados, percebi que o objeto
necessidade formativa docente é uma tecnologia de vigilância e de controle do
docente. A combinação de estratégias que podem vigiar e controlar a racionalidade
dos docentes (a sua vontade, a sua conduta) possibilita a subjetivação de um tipo de
docente empresário de si mesmo.
A análise de necessidades é uma técnica de produzir saber própria do
modelo do exame, pois combina a técnica da vigilância com a da normalização. É
uma investigação científica que torna o professor visível quase que
ininterruptamente quando, a partir de seus resultados, permite a elaboração e o
planejamento de ações políticas destinadas a essa população (como é a formação
continuada, por exemplo).
O saber produzido pelas investigações das necessidades de formação
docentes reafirma o nexo entre saber e poder, que tornou inclusive possível a
emergência das ciências humanas, pois tais quais essas, os conhecimentos
produzidos sobre as necessidades formativas podem produzir saberes que vigiam,
que examinam, que são organizados em torno da norma para a subjetivação
docente e controle dos indivíduos-professores no decorrer de sua existência
profissional. Lembro aqui a proliferação de pesquisas sobre a formação de
professores desde a década de 1990, no Brasil, as quais funcionaram como saberes
importantes para a elaboração de políticas para a formação de professores.
193
A emergência da preocupação em analisar ou levantar as necessidades de
formação de professores das atuais políticas educacionais brasileiras é própria dos
efeitos da norma e do modelo do exame articulados entre si em consonância com o
exercício do biopoder e com a racionalidade neoliberal. A emergência do interesse
em analisar as necessidades formativas docentes é, então, resultado do exercício do
biopoder agindo na formação de professores, pois essa técnica de produção de
saber toma, ao mesmo tempo, os professores como objeto e objetivo do exercício do
poder. Toma-os como objeto, ao forjar saberes sobre o que se passa com os
professores e com a sua formação; e toma-os como objetivo do poder, ao forjar
mecanismos de subjetivação, combinados com as ações de formação continuada
destinadas a essa parte da população.
Sendo assim, o objeto necessidade formativa docente está fortemente
associado à formação continuada de professores, que planejada e elaborada
estrategicamente a partir do levantamento ou da análise das necessidades
formativas desses profissionais, é uma ação biopolítica de vigilância e controle do
docente.
Analisando assim a emergência da necessidade formativa docente, posso
chegar a uma terceira consideração: a atual política de formação de professores no
Brasil está preocupada com a regulação dos docentes. O diagnóstico, o
levantamento e a análise de necessidades de formação desses profissionais tornam-
se tecnologias de produção de saber sobre essa parte da população que permitem
visualizar a conduta dos docentes e conduzi-las. Mesmo quando essa produção de
saber envolve a participação dos professores na elaboração de suas próprias
necessidades de formação, esses profissionais não deixam de ser
governamentalizados, pois o exercício do biopoder age na inclusão desses
profissionais no jogo da produção de necessidades e consumo daquilo que satisfaz
as necessidades produzidas. As ações de formação são os meios de satisfação e
consumo das necessidades produzidas.
Deacon e Parker (2000), ao analisarem os discursos educacionais,
comentam que, a partir da modernidade, a educação escolar foi tomando a forma
que possui hoje porque se reconheceu na definição kantiana dos seres humanos
como sendo, ao mesmo tempo, sujeitos cognoscentes e objetos de seu próprio
conhecimento. Essa atitude tornou possível e necessária “a educação em massa de
seres que são tanto objetificados quanto sujeitados, ou seja, tanto produzidos como
194
objetos de conhecimento a serem dominados quanto produzidos como sujeitos que
reificam e dominam” (DEACON e PARKER, 2000, p. 100). Segundo esses autores,
os discursos educacionais atuais são bastante marcados pelas concepções de
conhecimento, de linguagem, de sujeito e de poder fundamentadas no iluminismo47.
Nesse sentido, esses autores nos explicam que
‘o poder da razão humana’ que satura os discursos educacionais pode ser caracterizado como uma série de grades interconectadas de relações de saber e poder, nos interstícios das quais são constituídos sujeitos que são simultaneamente ambas as coisas: tanto os alvos de discursos (seus objetos e invenções) quanto os veículos de discursos (seus sujeitos e agentes) (DEACON e PARKER, 2000, p.101).
Os textos analisados materializam a preocupação biopolítica de
governamento dos professores, por meio da criação de possibilidades de
diagnóstico das necessidades de formação, e, portanto da criação de condições
para que uma técnica biopolítica cujo princípio de racionalização é o de governar o
comportamento racional dos que se pretende governar. A investigação sobre as
necessidades formativas docentes coloca em jogo a racionalidade dos governados,
que serve de princípio regulador à racionalidade do governo, ou seja, partir do
princípio de racionalização de governar por dentro do comportamento racional dos
governados. Os sujeitos ao constituírem-se “são intersubjetivamente sujeitados pelo
fato de que eles são governados externamente por outros e internamente por suas
próprias consciências” (DEACON e PARKER, 2000, p. 101).
Dessa forma, o objeto necessidade formativa docente emerge, no campo
discursivo da legislação da política nacional de formação de professores e está se
afirmando especificamente no campo da formação continuada de professores,
campo esse que emergiu a partir dos deslocamentos proporcionados por discursos
produzidos na ordem da biopolítica (SANTOS, 2006). Os mecanismos biopolíticos
combinados com saberes/poderes da racionalidade neoliberal em produzir capital
humano especificamente investido no professor, principalmente desde a década de
1990, no Brasil, intensificam os efeitos da subjetivação de um tipo de professor cada
47 Conhecimento como sendo uma representação da verdade ou do real, materializado por meio da linguagem; do poder como sendo negativo, homogêneo, centralizado e separado do conhecimento (fundamentos iluministas); e do sujeito como sendo unitário, autoconsciente, racional e autônomo (DEACON e PARKER, 2000, p. 99).
195
vez mais sobrecarregado de responsabilidade sobre o ‘sucesso’ da educação
escolar e cada vez mais preocupado em desenvolver-se no sentido do acúmulo de
cursos de atualização, de capacitações, de ações de aperfeiçoamento etc..
Isso me leva à quarta consideração: a política nacional de formação docente
é campo-alvo de atuação dos esforços da racionalidade neoliberal em produzir
práticas e mecanismos de transposição do princípio econômico de acumulação do
capital a outras áreas que não sejam a econômica. Uma das preocupações da teoria
neoliberal é criar formas por meio das políticas educacionais em garantir a aquisição
do capital humano e, assim, transpor princípios de análise próprios da teoria
econômica à formação de seres humanos. Uma política nacional de formação
docente, que produz a formação continuada como um direito, porém quase
obrigatório, porque é formalizada como elemento fundamental e essencial para a
valorização (entendida nos termos da meritocracia 48) e para o desenvolvimento
profissional49 do professor, cujas necessidades formativas devem ser produzidas e
consumidas, pode ser a forma cujos mecanismos de aquisição do capital humano se
materializem em práticas na constituição de professores empresários de si mesmos,
investidores de suas capacidades e habilidades, dentro da ordem do discurso
apropriada a uma biopolítica neoliberal.
O discurso sobre a formação de professores ao tratar com relevância o
desenvolvimento de competências e habilidades adquiridas traduz essa biopolítica
neoliberal e também representa a concepção de que a função da escola é gerenciar
o processo de aprendizagem, comparando a escola a uma empresa e o professor e
o diretor a gestores do conhecimento. A política nacional de formação de
professores sente os efeitos do exercício biopolítico combinado com a racionalidade
48 A articulação entre formação e valorização docente é mencionada, no artigo 3º, item V, do Decreto 6755/2009, como sendo um dos objetivos da Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, e é apresentada como sendo um estímulo: “V – promover a valorização do docente, mediante ações de formação inicial e continuada que estimulem o ingresso, a permanência e a progressão na carreira.” A valorização do docente é proposta nos termos da meritocracia e da aprendizagem por toda a vida. 49 A formação continuada é apresentada como “componente essencial da profissionalização docente”, no artigo 2º, no item XI, do Decreto 6755/2009, como um dos princípios da política nacional de formação dos professores: “XI – a formação continuada entendida como componente essencial da profissionalização docente, devendo integrar-se ao cotidiano da escola e considerar os diferentes saberes e a experiência docente”.
196
neoliberal ao aceitar transpor princípios de análise da economia ao campo da
formação humana, no caso, mais específico da formação de professores.
Os discursos em torno da formação continuada como um direito, como uma
modalidade necessariamente intrínseca ao ser professor e como uma prática de
valorização docente, permeados pela racionalidade neoliberal e pelo exercício da
biopolítica em normalizar, legitimam a busca de um tipo de necessidade formativa
servil ao atendimento de um tipo de ‘direito’, de um tipo de noção de
‘desenvolvimento profissional’ e de um tipo de ‘valorização’ do docente. Todas essas
três noções construídas por meio de regras que as colocam, por um lado, dentro da
ordem do discurso da democratização das relações sociais e políticas, mas que, por
outro, fabricam um tipo de liberdade cerceada. O direito à formação continuada que
leva ao desenvolvimento profissional e à valorização desenha um determinado
campo de atuação da vontade dos professores, regulando-os e controlando-os.
Essas noções assim construídas, sob a alegação de serem apenas conquistas da
categoria docente, encobrem o seu caráter de também serem mecanismos de
sujeitar a vontade dos professores a formarem-se continuamente. Essas noções são
sinais, pois, de que a governamentalidade dirige-se mais por procedimentos de
regulação, de autocontrole, do que por procedimentos de imposição.
Dessa forma, as necessidades formativas de professores aparecem como as
anomalias que devem ser reformadas; a produção de ‘professores necessitados’ e
de necessidades justifica a própria necessidade da educação em ser planejada e
reformada continuamente. De certo modo, concordo com Deacon e Parker (2000, p.
105) quando afirmam que “a educação está planejada para fracassar; ela produz
necessidades e sujeitos necessitados, a fim de justificar sua própria necessidade”. O
diagnóstico, o levantamento, o estudo e a análise das necessidades formativas
docentes são formas ou técnicas de “identificar cientificamente as anomalias”, que
são utilizadas pelas tecnologias do biopoder que “estão numa posição perfeita para
supervisioná-las e administrá-las” (DEACON e PARKER, 2000, p. 105) na produção
de um professor empresário de si mesmo, disposto a sempre investir no seu capital
profissional. Um sujeito, enfim, que ocupa uma posição estratégica na educação
escolar, posição que o torna um sujeito da educação constituído na e para a
produção contínua de necessidades a serem consumidas em espaços ditos
formativos.
197
A regulação da população docente aliada aos termos neoliberais tem sido
implementada por meio de discursos que se empenham na legitimação dos saberes
relacionados à importância da atualização contínua de professores para que estejam
disponíveis a trabalhar com uma demanda de indivíduos que devem ser incluídos ao
sistema educacional e, posteriormente, ao mercado; que sejam capazes de utilizar
as inovações tecnológicas no seu trabalho e de colaborar com as diretrizes
elaboradas como sendo eficazes na direção da maior qualidade da educação.
A noção de ‘qualidade’ da preparação desses profissionais tem sido
articulada com o tempo de escolarização docente e isso leva à ideia de que se o
professor sempre se escolarizar e sempre aprender algo novo ou inovador estará
agregando qualidade ao seu trabalho e ao sistema educacional como um todo. Esse
tipo de qualidade associada ao tempo de escolarização docente é um tipo de
mecanismo de coação que age no professor do exterior e do interior dele. Age do
exterior do professor ao associar qualidade e tempo de escolarização com a
valorização do professor na carreira, uma vez que a valorização e a formação
(escolarização docente) são citadas nos discursos como sendo meios de se alcançar
a maior qualidade no sistema educacional. Age a partir do interior do professor,
quando essa noção de qualidade produz o efeito de criar no professor uma
disponibilidade para se inovar, se atualizar, estudar e investigar o seu próprio
trabalho continuamente, produzindo junto a isso o efeito de responsabilidade sobre
os resultados da qualidade da educação que, atualmente, se traduz pelos resultados
das avaliações aplicadas em larga escala. Nesse sentido, desenvolver-se
profissionalmente passa a ser adotar uma postura de disponibilidade constante ao
aprender coisas novas, metodologias novas, tecnologias novas, teorias novas para
atender as demandas que sempre se modificarão com o tempo - na atualidade a
demanda é a da inclusão de todos na educação e a das diretrizes curriculares
nacionais com ênfase nos conteúdos vinculados às disciplinas de Português e
Matemática.
A articulação do enunciado necessidade formativa docente com os
enunciados relacionados à demanda social, à inclusão de todos na educação, à
qualidade da educação escolar, à valorização docente e ao direito à formação levam
à subjetivação de um indivíduo homo oeconomicus da docência, preocupado com os
investimentos que pode fazer em seu próprio capital humano, tornando-se sempre
ativo e proativo no mercado educacional.
198
A regulação da população docente se faz, então, pela condução de
princípios econômicos neoliberais como: capital (no caso humano), investimentos,
valorização agregada ao trabalho devido ao investimento realizado, concorrência e
empreendedorismo. Ao discurso da formação de professores é então aplicado um
quadro econômico de análise que coloca as práticas de formação docente dentro
dos pressupostos do ethos neoliberal e dentro da lógica da sociedade pedagogizada
contemporânea. Os pressupostos do ethos neoliberal e da sociedade pedagogizada
esforçam-se na constituição de um tipo de professor alforriado (SANTOS, 2006), ou
seja, livre para escolher o tipo de formação, mas preso a ela permanentemente.
A subjetivação do indivíduo homo oeconomicus da docência o leva à
autorregulação que é uma conduta que está de acordo com a governamentalidade
biopolítica de economia de poder sobre o outro. O próprio indivíduo sente a
necessidade ou chega à conclusão de que precisa entrar na norma para existir
enquanto profissional que tem valor no sistema educacional. Portanto, esse
profissional, ao entender as suas necessidades de formação e as necessidades do
sistema educacional, pode buscar por conta própria a sua qualificação e
responsabilizar-se cada vez mais pelas escolhas que faz dentre as que são
oferecidas pelo Estado ou pelas instituições privadas de ensino superior ou até
mesmo pelas empresas de elaboração de material didático apostilado em parcerias
contratuais feitas com secretarias de educação de alguns estados e municípios
brasileiros. Já que a formação continuada está se constituindo em um direito do
professor, o Estado de algum modo deve garanti-la: planejando-a, usando os
profissionais de que dispõem – assistentes técnicos pedagógicos, coordenadores,
supervisores, diretores – ou terceirizando, contratando especialistas ou empresas
que têm se especializado na formação permanente desses profissionais.
O objeto necessidade formativa docente, então, surge na coexistência com
outros objetos como a necessidade de se constituir uma base comum curricular, a
inclusão de todos no sistema educacional e com o a valorização docente. Esses
objetos tecem a rede de saber dos discursos relacionados à formação de
professores e agem no governamento do professor, na sua vontade de produzir
necessidades de formação que podem e devem ser satisfeitas/consumidas nos
programas de formação para docentes. A formação continuada torna-se um direito
quase que obrigatório, que ao valorizar o professor na sua carreira, ara o terreno
para a meritocracia e constitui-se em uma prática eficiente de tornar o professor
199
sempre apto ao mercado de trabalho, recolocando-o permanentemente no ‘jogo’ da
formação-investimento.
Neste sentido, estabelecer prioridades de investimento à própria formação
ou identificar as próprias necessidades formativas é uma prática que determina a
conduta de um professor homo oeconomicus. O sistema educacional parece dar
preferência à constituição desse tipo de professor, porque entende a noção de
‘desenvolvimento profissional’ como uma normalização do indivíduo e da população
docente, ou como um elemento que alimenta os pressupostos do mercado.
A subjetivação dos professores em empresários de si não produz apenas
‘competidores’ ou ‘empreendedores’, proporciona também um efeito de abatimento
frente ao próprio trabalho, um sentimento de rejeição constante de si. O efeito mais
perverso de se aplicar um quadro econômico na formação de pessoas, no caso aqui
dos professores, é reduzir a responsabilidade dos resultados da educação escolar
(que também são construídos por meio de verdades forjadas de acordo com
condições históricas) à atuação desses profissionais. Esse efeito talvez seja o mais
pernicioso da biopolítica neoliberal, pois afeta os indivíduos professores diretamente
na sua vida biológica e emocional, levando-o ao adoecimento, à frustração, ao
abatimento físico e psicológico. Essa tendência de responsabilização do professor
pelo fracasso ou pela crise da educação escolar, presente no discurso das políticas
de formação de professores, gera no professor um sentimento de angústia infinito,
de impossibilidade de amadurecer intelectualmente, porque é como se estivesse
sempre em falta, em ‘descrédito’ consigo e com o outro.
Por fim, gostaria de manifestar uma última consideração que diz respeito à
subjetivação de um tipo de professor crítico. Para tanto, é preciso definir a noção de
crítica dos textos analisados. A noção de crítica almejada pelos textos analisados
limita-se a se referir a um profissional capaz de identificar melhor as suas
necessidades de formação e por isso ele deve ser preparado pelo processo
formativo para ser crítico do seu próprio trabalho. Por isso que não se pune quem
está fora da norma, mas criam-se mecanismos de coação que ‘convidam’ o
professor a “empreender o esforço necessário para realizar sua parcela de
investimento no próprio desenvolvimento profissional” (Parecer CNE/CP 09/2001, p.
33-34, já citado neste texto anteriormente).
A preparação de um professor que tenha uma atitude crítica limitada à
análise da sua adequação ao mercado de trabalho e à norma vigente não reconhece
200
a noção de crítica como sendo uma atitude ou disposição para a problematização
daquilo que nos vem governando como sujeitos que somos, constituídos neste
momento histórico em que vivemos. Os textos analisados mostram que a noção de
crítica presente no discurso que envolve a emergência do objeto necessidade
formativa docente é também um instrumento teórico de normalização. A
necessidade formativa docente funciona como um mecanismo que prepara o
professor a ser um tipo de ‘crítico autônomo’ ao qual se limita a pensar a sua
adequação ao mercado, ratificando aquilo que nos tem governado e não
problematizando esse tipo de governamento.
Para colocar, enfim, um ponto final, não no assunto, mas neste trabalho,
lembro que o que persegui com ele foi tentar compreender as regularidades
existentes no discurso da atual política de formação de professores brasileiros para,
então, perceber os regimes de verdade e os efeitos por ele produzidos quanto à
necessidade formativa docente. Para tanto, procurei compreender as condições que
proporcionaram a emergência da necessidade formativa docente como objeto no
campo discursivo dessas políticas. Em síntese, ao perseguir esses objetivos,
concluo que o exercício do poder biopolítico aliado a pressupostos da racionalidade
neoliberal provoca o efeito da emergência dos estudos sobre a necessidade
formativa dos professores que, aliados à preocupação da normalização da
população de professores e aos princípios neoliberais, tornam-se uma tecnologia de
subjetivação de um tipo de homo oeconomicus da docência.
201
REFERÊNCIAS
ANDRADE, Maria Celeste de M. Cultura, cidadania e diferença na escola. 2003. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Uberaba, Uberaba – MG, Brasil. AQUINO, Julio Groppa; RIBEIRO, Cyntia Regina. Processos de governamentalização e a atualidade educacional: a liberdade como eixo problematizador. Educação e Realidade, Porto Alegre, v. 34, n. 2, p. 57-71, 2009. AQUINO, Julio Groppa. A governamentalidade como plataforma analítica para os estudos educacionais: a centralidade da problematização da liberdade. In: CASTELO BRANCO, Guilherme; VEIGA-NETO, Alfredo (Org.). Foucault: filosofia e política. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. p. 195-211. (Estudos foucaultianos). AQUINO, Julio Groppa. Pedagogização do pedagógico: sobre o jogo do expert no governamento docente. Educação, Porto Alegre, v. 36, n. 2, p. 201-209, maio/ago. 2013. ARAGON, Dionara T. da R. Formação de professores de Matemática: espaço de possibilidades para produzir formas de resistência e singularidade docente. 2009. 105f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre – RS, Brasil. ASSOCIAÇÃO NACIONAL PELA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. Documento final do XIV Encontro Nacional da ANFOPE. In: BRZEZINSKI, Iria (Org.). Anfope em movimento 2008-1010. Brasília: Líber Livro, 2011a. p. 75-137. ASSOCIAÇÃO NACIONAL PELA FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. Documento final do XVI Encontro Nacional da ANFOPE. Brasília, 2012. Disponível em: <http://www.gppege.org.br/home/secao.asp?id_secao=186>. Acesso em: 9 out. 2014. BALL, Stephen. Aprendizagem ao longo da vida, subjetividade e a sociedade totalmente pedagogizada. Educação, Porto Alegre, v. 36, n. 2, p.144-155, maio/ago. 2013. BARBOSA, Ana Paula de. A ressignificação da educação a distância no ensino superior do Brasil e a formação de professores de Ciências e Matemática. 2010. Dissertação (Mestrado no Ensino de Ciências) – Universidade de São Paulo, São Paulo – SP, Brasil. BARROS, Manoel de. Pintura. In: ______. Memórias inventadas: as infâncias de Manoel de Barros. São Paulo: Planeta, 2008. p. 77. BIESTA, Gert. Contra a aprendizagem: recuperando uma linguagem para a educação numa era da aprendizagem. In: ______. Para além da aprendizagem: educação democrática para um futuro humano. Belo Horizonte: Autêntita, 2013. p. 29-53.
202
BORGES, Rita de Cássia B. Reforma educacional e formação de professores: a crise, o poder e o discurso. 2006. 220f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Uberaba, Uberaba – MG, Brasil. BRASIL. Decreto n. 3.276, de 6 de dezembro de 1999. Dispõe sobre a formação em nível superior de professores para atuar na educação básica, e dá outras providências. Diário Oficial da União: República Federativa do Brasil: Brasília, DF, 07 dez. 1999. Seção 1, p. 4. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3276.htm>. Acesso em: 10 abr. 2014. BRASIL. Decreto n. 6.755, de 29 de janeiro de 2009. Institui a Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica, disciplina a atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES no fomento a programas de formação inicial e continuada, e dá outras providências. Diário Oficial da União: República Federativa do Brasil: Brasília, DF, 30 jan. 2009. Seção 1, p. 1. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D6755.htm>. Acesso em: 10 abr. 2014. BRASIL. Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Lei n. 9.394: diretrizes e bases da educação nacional. São Paulo: Ed. do Brasil, [19--?]. BRASIL. Lei n. 10.172, de 09 de janeiro de 2001. Aprova o Plano Nacional de Educação e dá outras providências. Diário Oficial da União: República Federativa do Brasil: Brasília, DF, 10 jan. 2001. Seção 1, p. 1. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10172.htm>. Acesso em: 10 abr. 2014. BRASIL. Ministério da Educação. O plano de desenvolvimento da educação: razões, princípios e programas. Brasília, [2007]. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/arquivos/livro/index.htm>. Acesso em: 10 abr. 2014. BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Parecer CNE/CP n. 9, de 8 de maio de 2001. Relator: Edla de Araújo Lira Soares. et al. Diário Oficial da União: República Federativa do Brasil: Brasília, DF, 18 jan. 2002. Seção 1, p. 31. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/009.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2014. BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Dá nova redação ao item 3.6, alínea c, do parecer CNE/CP 9/2001, que dispõe sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Parecer CNE/CP n. 27, de 02 de outubro de 2001. Relator: Edla de Araújo Lira Soares. et al. Diário Oficial da União: República Federativa do Brasil: Brasília, DF, 18 jan. 2002. Seção 1, p. 31. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/027.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2014. BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Dá nova redação ao parecer CNE/CP 21/2001, que estabelece a duração e a carga horária dos cursos
203
de Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Parecer CNE/CP n. 28, de 02 de outubro de 2001. Relator: Carlos Roberto Jamil Cury. et al. Diário Oficial da União: República Federativa do Brasil: Brasília, DF, 18 jan. 2002. Seção 1, p. 31. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/028.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2014. BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia. Parecer CNE/CP n. 5, de 13 de dezembro de 2005. Relator: Clélia Brandão Alvarenga Craveiro e Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva. Diário Oficial da União: República Federativa do Brasil: Brasília, DF, 15 maio 2006. Reexaminado pelo parecer CNE/CP n. 3/2006. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pcp05_05.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2014. BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Reexame do Parecer CNE/CP n. 5/2005, que trata das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Pedagogia. Parecer CNE/CP n. 3, de 21 de fevereiro de 2006. Relator: Clélia Brandão Alvarenga Craveiro e Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva. Diário Oficial da União: República Federativa do Brasil: Brasília, DF, 11 abr. 2006. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pcp003_06.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2014. BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Aprecia Indicação CNE/CP n. 2/2002 sobre Diretrizes Curriculares Nacionais para Cursos de Formação de Professores para a Educação Básica. Parecer CNE/CP n. 5, de 04 de abril de 2006. Relator: Paulo Monteiro Vieira Braga Barone. Diário Oficial da União: República Federativa do Brasil: Brasília, DF, 24 maio 2006. Seção 1, p. 30. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/pcp005_06.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2014. BRASIL. Ministério da Educação. Institui o Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica no âmbito do Ministério da Educação. Portaria normativa n. 9, de 30 de junho de 2009. Diário Oficial da União: República Federativa do Brasil: Brasília, DF, 01 jul. 2009. Seção 1, p. 9. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/port_normt_09_300609.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2014. BRASIL. Ministério da Educação. Estabelece as diretrizes nacionais para o funcionamento dos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente, criados pelo Decreto 6.755, de 29 de Janeiro de 2009. Portaria normativa n. 883, de 16 de setembro de 2009. Diário Oficial da União: República Federativa do Brasil: Brasília, DF, 17 set. 2009. Seção 1, p. 26. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/port883.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2014. BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Dispõe sobre os programas especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio. Resolução CNE/CP n. 2, de 16 de junho de 1997. Diário Oficial da União: República Federativa do Brasil: Brasília, DF, 15 jul. 1997. Seção 1, p. 29. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/RCNE_CEB02_97.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2014.
204
BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Dispõe sobre os Institutos Superiores de Educação, considerados os Art. 62 e 63 da Lei 9.394/96 e o Art. 9º, § 2º, alíneas "c" e "h" da Lei 4.024/61, com a redação dada pela Lei 9.131/95. Resolução CNE/CP n. 1, de 30 de setembro de 1999. Diário Oficial da União: República Federativa do Brasil: Brasília, DF, 07 out. 1999. Seção 1, p. 50. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp001_99.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2014. BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores da Educação Básica, em nível superior, curso de licenciatura, de graduação plena. Resolução CNE/CP n. 1, de 18 de fevereiro de 2002. Diário Oficial da União: República Federativa do Brasil: Brasília, DF, 09 abr. 2002. Seção 1, p. 31. Republicada por ter saído com incorreção do original no DOU de 4 de março de 2002, seção 1, p. 8. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_02.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2014. BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Institui a duração e a carga horária dos cursos de licenciatura, de graduação plena, de formação de professores da Educação Básica em nível superior. Resolução CNE/CP n. 2, de 19 de fevereiro de 2002. Diário Oficial da União: República Federativa do Brasil: Brasília, DF, 04 mar. 2002. Seção 1, p. 9. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CP022002.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2014. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria da Educação Fundamental. Referenciais para formação de professores. Brasília, 2002. BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em Pedagogia, licenciatura. Resolução CNE/CP n. 1, de 15 de maio de 2006. Diário Oficial da União: República Federativa do Brasil: Brasília, DF, 16 maio 2006. Seção 1, p. 11. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rcp01_06.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2014. BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria Executiva. Documento final [da Conferência Nacional de Educação (Conae)]. Brasília, 2010. Disponível em: <http://conae.mec.gov.br/images/stories/pdf/pdf/documetos/documento_final_sl.pdf>. Acesso em: 10 abr. 2014. CALDEIRA, Claudio G. Dos professores de Química aos professores alquímicos: uma transmutação no profissional docente. 2007. 106f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Uberaba, Uberaba – MG, Brasil. CARDOSO, Lilian A. M. Conhecimento: limites e possibilidades na formação do professor. 1999. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Brasil. CARVALHO, Alexandre Filordi de. Da sujeição às experiências de construção de si na função-educador: uma leitura foucaultiana. 2008. 213f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas – SP, Brasil.
205
CASIMIRO, Susana I. R. Necessidades de formação dos formadores da componente de formação de base dos cursos EFA de nível secundário. 2010. 74f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal. CASTRO, Edgardo. Leituras da modernidade educativa. Disciplina, biopolítica, ética. In: GONDRA, José; KOHAN, Walter (Org.). Foucault 80 anos. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. p. 62-77. CASTRO, Edgardo. Vocabulário de Foucault: um percurso pelos seus temas, conceitos e autores. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. CÉSAR, Maria Rita de Assis; DUARTE, André; SIERRA, Jamil Cabral. Governamentalização do Estado, movimentos LGBT e escola: capturas e resistências. Educação, Porto Alegre, v. 36, n. 2, p. 192-200, maio/ago. 2013. CHAVES, Gustavo B. A educação sexual e seus avessos. 2010. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil. CHIACHIRI, Maria Ângela de F. EAD online: práticas discursivas e constituição da identidade virtual do aluno no webfólio. 2008. 114f. Dissertação (Mestrado em Liguística) – Universidade de Franca, Franca – SP, Brasil. COLLA, Anamaria L. A constituição da subjetividade docente: para além de uma lógica dual. 1999. Tese (Doutorado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil. COSTA, Alexandre F. da. A arqueologia da formação do professor: a nova ordem de discurso da educação brasileira. 2007. 259f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas – SP, Brasil. DALPIAZ, Alexandra da Silva Santos. Do quadro negro à tela do computador: a produtividade do governamento na constituição do aluno no curso de Pedagogia a distância da FACED/UFRGS. 2009. 160 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2009. DEACON, Roger; PARKER, Ben. Educação como sujeição e recusa. In: SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.). O sujeito da educação: estudos foucaultianos. Petrópolis: Vozes, 2000. p. 97-110. DECKER, Alice. Inclusão: o currículo na formação de professores. 2006. 169f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade do Vale do Rio dos Sinos, São Leopoldo – RS, Brasil. DELEUZE, Gilles. Post-scriptum sobre as sociedades de controle. In: ______. Conversações: 1972-1990. São Paulo: 34, 1992. p. 219-226. DUARTE, Carina S. B. Análise de necessidades de formação contínua de professores dos cursos de educação e formação. 2009. 107f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Educação) – Universidade de Lisboa, Lisboa, Portugal.
206
DUARTE, André. Foucault e a governamentalidade: genealogia do liberalismo e do Estado Moderno. In: CASTELO BRANCO, Guilherme; VEIGA-NETO, Alfredo (Org.). Foucault: filosofia e política. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. p. 53-70. (Estudos foucaultianos). FERREIRA, Celeste R. O uso de visualizações no ensino de química: a formação inicial do professor de Química. 2010. 179f. Dissertação (Mestrado no Ensino de Ciências) – Universidade de São Paulo, São Paulo – SP, Brasil. FERREIRA, Mauricio dos Santos; TRAVERSINI, Clarice Salete. A análise foucaultiana do discurso como ferramenta metodológica de pesquisa. Educação e Realidade, Porto Alegre, v. 38, n. 1, p. 207-226, jan./mar. 2013. Disponível em <http://www.seer.ufrgs.br/index.php/educacaoerealidade/article/view/17016/24330>. Acesso em: 01 jun. 2013. FISCHER, Rosa Maria Bueno. Televisão e educação: fruir e pensar a TV. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. FONTANA, Alexandre. As intermitências da razão. In: FOUCAULT, Michel (Org.). Eu, Pierre Rivière, que degolei minha mãe, minha irmã e meu irmão. Rio de Janeiro: Graal, 1977. p. 277-294. FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber. Rio de Janeiro: Graal, 1985. FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Rio de Janeiro: Forense-Universitária, 1987a. FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir. Petrópolis: Vozes, 1987b. FOUCAULT, Michel. Aula de 7 de janeiro de 1976. In:______. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 3-26. FOUCAULT, Michel. Poder - corpo. In: MACHADO, Roberto (Org.). Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 2000a. p. 145-152. FOUCAULT, Michel. A governamentalidade: curso do Collège de France, 1 de fevereiro de 1978. In: MACHADO, Roberto (Org.). Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal, 2000b. p. 277-293. FOUCAULT, Michel. O que é a crítica? (crítica e aufklärung). In: BIROLI, Flávia; ALVAREZ, Marcos César (Org.). Michel Foucault: histórias e destinos de um pensamento. Cadernos da FFC, Marília, v. 9, n. 1, p. 169-189. 2000c. FOUCAULT, Michel. Conferência 4. In:______. A verdade e as formas jurídicas. Rio de Janeiro: NAU, 2002. p. 79-102. FOUCAULT, Michel. Aula de 14 de março de 1979. In: ______. Nascimento da biopolítica. São Paulo: Martins Fonte, 2008a. p. 298-327.
207
FOUCAULT, Michel. Aula de 28 de março de 1979. In: ______. Nascimento da biopolítica. São Paulo: Martins Fonte, 2008b. p. 365-395. FOUCAULT, Michel. Aula de 4 de abril de 1979. In: ______. Nascimento da biopolítica. São Paulo: Martins Fonte, 2008c. p. 397-430. FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970. São Paulo: Loyola, 2010. FOUCAULT, Michel. O discurso não deve ser considerado como.... In: ______. Arte, epistemologia, filosofia e história da medicina. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2011. p. 220-221. (Ditos e escritos, 7). FOUCAULT, Michel. Prisões e revoltas nas prisões. In: ______. Estratégia, poder-saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012a. p. 59-78. (Ditos e escritos, 4). FOUCAULT, Michel. Da arqueologia à dinastia. In: ______. Estratégia, poder-saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012b. p. 46-58. (Ditos e escritos, 4). FOUCAULT, Michel. Um problema que me interessa há muito tempo é o sistema penal. In: ______. Estratégia, poder-saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012c. p. 31-35. (Ditos e escritos, 4). FOUCAULT, Michel. Conversação com Michel Foucault. In: ______. Estratégia, poder-saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012d. p. 12-24. (Ditos e escritos, 4). FOUCAULT, Michel. Sobre o internamento penitenciário. In: ______. Estratégia, poder-saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012e. p. 67-83. (Ditos e escritos, 4). FOUCAULT, Michel. Poder e saber. In: ______. Estratégia, poder-saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012f. p. 218-235. (Ditos e escritos, 4). FYMIAR, Oleana. Governamentalidade como ferramenta conceitual na pesquisa de políticas educacionais. Educação e Realidade, Porto Alegre, v. 34, n. 2, p. 35-56, 2009. GADELHA, Sylvio. Biopolítica, governamentalidade e educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. GALINDO, Camila José. Análise de necessidades de formação continuada de professores: uma contribuição às propostas de formação. 2011. 378f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual Paulista, Araraquara – SP, Brasil. GATTI, Bernadete; BARRETO, Elba Siqueira de Sá; ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo de Afonso. Políticas docentes no Brasil: um estado da arte. Brasília: UNESCO, 2011.
208
GELATTI, Lilian Schwab. A formação de educadores de jovens e adultos: potencializadora e potencializada pela educação a distância?. 2005. Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil. GRÜN, Mauro. A produção discursiva sobre a educação ambiental: terrorismo, arcaísmo e transcendentalismo. In: VEIGA-NETO, Alfredo (Org.). Crítica pós-estruturalista e educação. Porto Alegre: Sulina, 1995. p. 159-184. GUERRA, Antonio F. S. Das tecnologias de poder sobre o corpo à vivência da corporeidade – a construção da oficina como espaço educativo. 1996. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Santa Catarina, Brasil. HECKERT, Ana Lucia C. Narrativas de resistência: educação e política. 2004. 298f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal Fluminense, Niterói – RJ, Brasil. HOLZMEISTER, Ana Paula P. A docência como devir – entre obstruções e invenções: uma cartografia das experimentações educativas engendradas pelas professoras de um Centro de Educação Infantil. 2007. 160f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória – ES, Brasil. LARANJEIRA, Maria Inês. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de Professores: entre a ambição e a realidade ou sobre a coerência e a factibilidade. 2003. 184f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Filosofia e Ciência, Universidade Estadual Paulista, Marília, 2003. LEITÃO, Ana Rita D. Análise de necessidades de formação contínua de professores do primeiro ciclo – um contributo para o ensino da leitura. 2009. 169f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Educação) – Universidade de Lisboa, Portugal. LEONE, Naiara M. Necessidades formativas dos professores dos anos iniciais na sua inserção no exercício da docência. 2011. 315f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente – SP, Brasil. LOCKMANN, Kamila. A proliferação das políticas de assistência social na educação escolarizada: estratégias de governamentalidade neoliberal. 2013. 317f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2013. LOPES, Maura Corcini. Políticas de inclusão e governamentalidade. Educação e Realidade, Porto Alegre, v. 34, n. 2, p. 153-169, maio/ago. 2009. LOPES, Maura Corcini. Norma, inclusão e governamentalidade neoliberal. In: CASTELO BRANCO, Guilherme; VEIGA-NETO, Alfredo (Org.). Foucault: filosofia e política. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. p. 283-298. (Estudos foucaultianos). LOPES, Maura Corcini; RECH, Tatiana Luiza. Inclusão, biopolítica e educação. Educação, Porto Alegre, v. 36, n. 2, p. 210-219, maio/ago. 2013.
209
LOURENÇO, Dídia A. C. A avaliação do desempenho docente: necessidades de formação percebidas pelos professores: um contributo para a definição de um plano de formação. 2008. 175f. Dissertação (Mestrado em Ciências da Educação) – Universidade de Lisboa, Portugal. MAIA, Antônio Cavalcanti. Biopoder, biopolítica e o tempo presente. In: NOVAES, Adauto (Org.). O homem-máquina: a ciência manipula o corpo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003, p. 77-108. MARÍN DÍAZ, Dora Lilia; NOGUERA-RAMÍREZ, Carlos Ernesto. El arte de gobernar moderno: o de la constitución de uma ciencia de la educación. Educação, Porto Alegre, v. 36, n. 2, p.156-167, maio/ago. 2013. MARTINS, Ronaldo M. Cuidado de si e educação matemática: perspectivas, reflexões e práticas de atores sociais (1925 – 1945). 2007. 304f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual Paulista, Rio Claro – SP, Brasil. MESSER, Sylvia. A formação dos professores da EJA e a constituição do currículo - rupturas e inovações. 2007. Dissertação (Mestrado em Educação nas Ciências) – Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Brasil. MOTTA, Manoel Barros da. Apresentação à edição brasileira. In: FOUCAULT, Michel. Estratégia, poder-saber. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012. p. vii-lxvii. (Ditos e escritos, 4). NIETZSCHE, Friedrich. Obras incompletas. São Paulo: Nova cultural, 2005. NOGUERA-RAMÍREZ, Carlos Ernesto. A governamentalidade nos cursos do professor Foucault. In: CASTELO BRANCO, Guilherme; VEIGA-NETO, Alfredo (Org.). Foucault: filosofia e política. Belo Horizonte: Autêntica, 2011. p. 71-80. (Estudos foucaultianos). OLIVEIRA, Samuel L. C. de. A formação crítico-reflexiva do orientador acadêmico do Curso de Pedagogia a Distância da Universidade Federal do Espírito Santo. 2004. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil. OLIVEIRA, Vânia F. de. Territórios da formação docente: o entre-lugar da cultura. 2007. 61f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria – RS, Brasil. ORLANDI, Luiz Benedicto Lacerda. Do enunciado em Foucault à teoria da multiplicidade em Deleuze. In: TRONCA, Ítalo. Foucault vivo. Campinas: Pontes, 1987. p. 11-42. (Linguagem/crítica). PAGNI, Pedro A. Dos cantos da experiência aos desafios da arte do viver à educação escolar: um percurso da experiência estética à estética da existência. 2011. 210f. Tese (Livre-docência em Educação) – UNESP, Marília.
210
PASCHOAL, Geralda de F. L. A formação de professores no curso de Pedagogia à luz do pensamento de Michel Foucault. 2006. 115f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, Curitiba – PR, Brasil. PASSOS, Angela A. dos. O corpo, a Educação Física e o Curso Normal Regional: memórias do Instituto Estadual de Educação Ponche Verde. 2010. 130f. Dissertação (Mestrado em Educação Física) – Universidade Federal de Pelotas, Pelotas – RS, Brasil. PEREIRA, Fernado L. PCNS-Arte: questões de governo e governamento na fabricação da docência em Arte. 2008. 102f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Luterana do Brasil, Canoas – RS, Brasil. PINHEIRO, Cristiane Feitosa. História e memória da Escola Normal Oficial de Picos (1967 – 1987). 2007. 205f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Fundação Universidade Federal do Piauí, Teresina – PI, Brasil. PONTE, Luciana G. Docência artista: arte, estética de si e subjetividades femininas. 2005. 208f. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre – RS, Brasil. PONTELLO, Luísa S. Cartografias das relações de saber-poder na formação de professores de Matemática, nas universidades públicas de Fortaleza. 2009. 140f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Estadual do Ceará, Fortaleza – CE, Brasil. REIS, Felizmina do C. S. dos. Avaliação das necessidades de formação em professores do ensino secundário em Cabo Verde. 2009. 198f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade do Minho, Portugal. REVEL, Judith. Nas origens do biopolítico: de Vigiar e punir ao pensamento da atualidade. In: GONDRA, José; KOHAN, Walter (Org.). Foucault 80 anos. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. p. 51-62. ROCHA, Célia Ap. A re-significação da eugenia na educação entre 1946 e 1970: um estudo sobre a construção do discurso eugênico na formação docente. 2010. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil. RODRIGUES, Ângela; ESTEVES, Manuela. A análise de necessidades na formação de professores. Porto: Porto, 1993. ROMANOWSKI, Joana Paulin; MARTINS, Pura Lúcia Oliver. Formação continuada: contribuições para o desenvolvimento profissional dos professores. Diálogo Educacional, Curitiba, v. 10, n. 30, p. 285-300, maio/ago. 2010. ROSA, Renata A. A subjetivação de docentes do ensino fundamental de Itajaí através da análise de material discursivo referente à mídia e à cultura. 2004. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade do Vale do Itajaí, 2004.
211
SANTOS, João de Deus dos. Formação continuada: cartas de alforria e controles reguladores. 2006. 170 f. Tese (Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006. SANTOS, Rodrigo A. dos. Do professor de literatura ao formador de leitores críticos de textos literários: um estudo sobre a (re) invenção do professor de Língua Portuguesa para o trabalho com a leitura literária no novo Ensino Médio. 2009. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil. SILVA, Oscarina Maria da. A orientação sexual como tema transversal e a formação de professores. 2005. Dissertação (Mestrado em Educação) – Fundação Universidade Federal do Piauí, Teresina – PI, Brasil. SILVEIRA, Viviane T. Produzindo narrativas (en)gendrando currículo: subjetivação de professores e a invenção da ESEF/Pelotas – RS. 2008. 122f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal do Paraná, Curitiba – PR, Brasil. SOARES, Alessandro Cury. A arquitetura da formação em serviço dos professores na educação de jovens e adultos. 2010. 92f. Dissertação (Mestrado das Ciências Químicas da Vida e Saúde) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre – RS, Brasil. SOUZA, Eliana da S. A prática social do cálculo escrito na formação de professores: a história como possibilidade de pensar questões do presente. 2004. 284f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas – SP, Brasil. TUCKMANTEL, Maísa M. A educação sexual: mas qual? Diretrizes para a formação de professores em uma perspectiva emancipatória. 2009. 401f. Tese (Doutorado em Educação) – Universidade Estadual de Campinas, Campinas – SP, Brasil. UGARTE PÉREZ, Javier. Biopolítica: un análisis de la cuestión. Claves de Razón Práctica, Madrid, n. 166, p. 76-82, oct. 2006. VASCONCELOS, Fábio. A mulher professora: gênero e formação. 2003. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Uberaba, Brasil. VALE JÚNIOR, João B. Currículo e prática docente: formação teórica dos alunos do curso de Licenciatura Plena em História da Universidade Estadual do Piauí. 2000. Dissertação (Mestrado em Educação) - Fundação Universidade Federal do Piauí, Teresina – PI, Brasil. VASCONCELOS, Fábio. A mulher professora: gênero e formação. 2003. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade de Uberaba, Brasil. VEIGA-NETO, Alfredo. Na oficina de Foucault. In: KOHAN, Walter Omar (Org.). Foucault 80 anos. Belo Horizonte: Autêntica, 2006. p. 79-91.
212
VEIGA-NETO, Alfredo; LOPES, Maura Corcini. Inclusão e governamentalidade. Educação e Sociedade, Campinas, v. 28, n. 100, p. 947-963, out. 2007. Edição especial. VEIGA-NETO, Alfredo. Dominação, violência, poder e educação escolar em tempos de Império. In: RAGO, Margareth; VEIGA-NETO, Alfredo (Org.). Figuras de Foucault. Belo Horizonte: Autêntica, 2008. p. 13-38. (Estudos foucaultianos). VEIGA-NETO, Alfredo; TRAVERSINI, Clarice. Por que governamentalidade e educação? Educação e Realidade, Porto Alegre, v. 34, n. 2, p. 13-19, 2009. VEIGA-NETO, Alfredo. Foucault e a educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2011a. VEIGA-NETO, Alfredo. Governamentalidades, neoliberalismo e educação. In: CASTELO BRANCO, Guilherme; VEIGA-NETO, Alfredo (Org.). Foucault: filosofia e política. Belo Horizonte: Autêntica, 2011b. p. 37-52. (Estudos foucaultianos). VEIGA-NETO, Alfredo; LOPES, Maura Corcini. Há teoria e método em Michel Foucault?: implicações educacionais. In: CLARETO, Sônia Maria; FERRARI, Anderson (Org.). Foucault, Deleuze e educação. Juiz de Fora: Ed. UFJF, 2013. p. 105-121. VELOSO, Nanci T. F. Competências na formação de professores: rastros e visibilidades. 2005. Dissertação (Mestrado em Educação) - Universidade Luterana do Brasil, Canoas – RS, Brasil. VIEIRA, Evaldo. Democracia e política social. São Paulo: Cortez: Autores Associados, 1992. YAMASHIRO, Carla Regina Caloni. Necessidades formativas dos professores do ciclo I do ensino fundamental de Presidente Prudente - SP. 2008. 176 f. Dissertação (Mestrado em Educação) – Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2008. ZULKE, Maria Inês U. A reforma do estado e os processos de subjetivação: um estudo sobre a relação subjetividade – trabalho com servidores públicos em instituições de educação profissional. 2007. 96f. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social e Institucional) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre – RS, Brasil.
213
ANEXO A - Quadro 1: Quadro-síntese do levantamento bibliográfico das pesquisas sobre necessidades formativas de professores
214
Títu
lo/a
no/g
rau/
inst
ituiç
ão/p
aís
Aut
or(a
)/Orie
ntad
or(a
) Ju
stifi
cativ
a O
bjet
ivos
M
etod
olog
ia/in
stru
men
tos
Apo
rte te
óric
o R
esul
tado
s
Ava
liaçã
o da
s ne
cess
idad
es d
e fo
rmaç
ão e
m
prof
esso
res
do
ensi
no
secu
ndár
io e
m
Cab
o Ve
rde
2009
- M
estra
do
Inst
ituto
de
Educ
ação
e
Psi
colo
gia
– U
nive
rsid
ade
do
Min
ho -
Por
tuga
l
AUTO
RA
– Fe
lizm
ina
do
Car
mo
Sant
os
dos
Rei
s O
RIE
NTA
DO
R
–Jos
é Au
gust
o de
Brit
o Pa
chec
o
Dev
ido
à re
cent
e in
depe
ndên
cia,
Cab
o V
erde
ain
da n
ão
poss
uía
um e
nsin
o se
cund
ário
ad
equa
dam
ente
es
trutu
rado
e, p
or
isso
, a p
reca
rizaç
ão
da fo
rmaç
ão d
e pr
ofes
sore
s pa
ra
este
nív
el d
e es
cola
ridad
e er
a um
a re
alid
ade.
A
inve
stig
ação
das
ne
cess
idad
es d
e fo
rmaç
ão d
esse
s pr
ofes
sore
s co
ntrib
ui
para
um
a m
elho
r le
itura
des
sa
real
idad
e.
- Enq
uadr
ar a
fo
rmaç
ão in
icia
l e
cont
ínua
no
sist
ema
educ
ativ
o ca
bo-
verd
iano
; - I
dent
ifica
r que
stõe
s pr
oble
mát
icas
na
form
ação
inic
ial e
co
ntín
ua d
e pr
ofes
sore
s de
Cab
o V
erde
; - E
stud
ar a
s re
pres
enta
ções
dos
pr
ofes
sore
s de
di
fere
ntes
cat
egor
ias
prof
issi
onai
s e
com
fo
rmaç
ões
dist
inta
s de
C
abo
Ver
de fa
ce à
fo
rmaç
ão c
ient
ífica
-pe
dagó
gica
e s
uas
repe
rcuç
ões
no s
eu
dese
mpe
nho
prof
issi
onal
; - E
stud
ar a
s re
pres
enta
ções
de
resp
onsá
veis
pel
a fo
rmaç
ão in
icia
l e
cont
ínua
.
Pesq
uisa
de
cará
ter q
uant
i-qu
alita
tivo,
cl
assi
ficad
a pe
la
auto
ra c
omo
estu
do
exte
nsiv
o.
Que
stio
nário
, en
trevi
sta
e an
ális
e do
cum
enta
l. A
aná
lise
de
cont
eúdo
foi
aplic
ada
no
trata
men
to d
os
dado
s co
leta
dos
pelo
s in
stru
men
tos
de
cole
ta.
- A a
utor
a ut
iliza
-se
de
auto
res:
>
que
trata
m d
a av
alia
ção,
St
uffle
beam
, Za
balz
a, S
aul,
Fern
ande
s,
Est
rela
e N
óvoa
, S
tuffl
ebea
m e
S
kinf
ield
, B
arbi
er;
> qu
e tra
tam
de
anál
ise
de
nece
sida
des
com
o um
tipo
de
aval
iaçã
o:
Zaba
lza,
De
Kete
le,
Rod
rigue
s e
Est
eves
, Tyl
er;
>que
trat
am d
a im
portâ
ncia
da
form
ação
de
prof
esso
res
frent
e às
m
udan
ças
e ex
igên
cias
à
educ
ação
na
atua
lidad
e co
mo:
Med
ina
e D
omin
guéz
; Fo
rmos
inho
;
- Há
uma
prec
ariz
ação
no
si
stem
a de
form
ação
inic
ial
de p
rofe
ssor
es e
inex
iste
pr
ogra
mas
de
form
ação
co
ntín
ua d
e pr
ofes
sore
s.
- há
um d
éfic
it de
form
ação
gr
itant
e qu
anto
à fo
rmaç
ão
técn
ica
e pe
dagó
gica
dos
do
cent
es q
ue e
stão
na
ativ
a.
Qua
dro
1: Q
uadr
o-sí
ntes
e do
leva
ntam
ento
bib
liogr
áfic
o da
s pe
squi
sas
sobr
e ne
cess
idad
es fo
rmat
ivas
de
prof
esso
res
215
Del
ors;
Pe
rren
oud;
Pa
chec
o e
Flor
es; N
óvoa
; >q
ue tr
atam
dos
m
odel
os d
e fo
rmaç
ão d
e pr
ofes
sore
s:
Zeic
hner
(fo
rmaç
ão
inic
ial);
Pac
heco
e
Flor
es
(seg
undo
E
raut
); B
urk;
Im
bérn
on;
Mar
celo
; Pe
rren
oud
(form
ação
co
ntín
ua).
N
eces
sida
des
de
form
ação
dos
fo
rmad
ores
da
com
pone
nte
de
form
ação
de
base
do
s cu
rsos
EFA
de
nív
el
secu
ndár
io
2010
– M
estra
do
Uni
vers
idad
e de
Li
sboa
- In
stitu
to
de E
duca
ção
- P
ortu
gal
AU
TOR
A:
Sus
ana
I. R
. C
asim
iro
OR
IEN
TAD
OR
: Jo
ão F
ilipe
M
atos
Nec
essi
dade
de
form
ação
ade
quad
a pa
ra e
quip
es d
e fo
rmad
ores
de
adul
tos
de n
ível
se
cund
ário
.
Inte
rpre
tar a
pe
rcep
ção
dos
form
ador
es
resp
onsá
veis
pel
a co
mpo
nent
e de
fo
rmaç
ão d
e ba
se d
os
curs
os d
e E
duca
ção
e Fo
rmaç
ão d
e A
dulto
s de
nív
el s
ecun
dário
, so
bre
as s
uas
nece
ssid
ades
de
form
ação
.
Pesq
uisa
de
cará
ter
qual
itativ
o,
clas
sific
ada
pela
au
tora
com
o es
tudo
de
caso
. P
ara
a re
colh
a de
dad
os a
au
tora
real
izou
a
anál
ise
docu
men
tal,
ques
tioná
rio.
A a
utor
a ut
iliza
au
tore
s qu
e tra
tam
: - d
os p
roce
ssos
de
ap
rend
izag
em
de a
dulto
s,
com
o, D
ewey
; Li
ndem
an;
Lew
in; K
olb;
Au
sube
l; R
oger
s;
Kno
wle
s; F
inge
r e
Asún
; Pire
s;
Qui
ntas
; Pau
lo
Frei
re;
- do
conc
eito
de
- A d
ocum
enta
ção
exis
tent
e so
bre
o pe
rfil d
o do
cent
e do
s cu
rsos
de
EFA
no
nív
el s
ecun
dário
são
ba
stan
te c
ompl
etas
, no
enta
nto
não
há o
rient
ação
su
ficie
nte
sobr
e a
form
ação
co
ntín
ua d
esse
s pr
ofis
sion
ais;
-O
s fo
rmad
ores
dos
cur
sos
de E
FA e
m n
ível
se
cund
ário
têm
um
a pe
rcep
ção
posi
tiva
sobr
e su
as c
ompe
tênc
ias
e ca
paci
dade
s pr
ofis
sion
ais;
- c
omo
tem
as p
ara
a fo
rmaç
ão a
aut
ora
conc
lui
216
nece
ssid
ades
, co
mo,
R
odrig
ues
e E
stev
es;
Kauf
man
; St
uffle
beam
; B
arbi
er e
Les
ne;
Mic
kllip
;
ser n
eces
sário
s a
conc
epçã
o e
impl
emen
taçã
o de
si
tuaç
ões
de
apre
ndiz
agem
, os
fund
amen
tos
da
apre
ndiz
agem
au
todi
reci
onad
a, p
roce
ssos
de
pla
neja
men
to.
A a
valia
ção
do
dese
mpe
nho
doce
nte:
ne
cess
idad
es d
e fo
rmaç
ão
perc
ebid
as p
elos
pr
ofes
sore
s: u
m
cont
ribut
o pa
ra a
de
finiç
ão d
e um
pl
ano
de
form
ação
M
estra
do -
2008
U
nive
rsid
ade
de
Lisb
oa –
Inst
ituto
de
Psi
colo
gia
e C
iênc
ias
da
Educ
ação
(FPC
E)
AU
TOR
A: D
ídia
Al
exan
dra
Car
rego
sa
Lour
enço
O
RIE
NTA
DO
RA
: Âng
ela
Rod
rigue
s
O e
stud
o fo
i re
aliz
ado
devi
do à
s no
vas
atrib
uiçõ
es
aos
prof
esso
res
enca
rreg
ados
par
a av
alia
r o
dese
mpe
nho
de
outro
s pr
ofes
sore
s.
- Ide
ntifi
car a
s ne
cess
idad
es d
e fo
rmaç
ão p
erce
bida
s pe
los
prof
esso
res
aval
iado
res,
no
1º
cicl
o, e
m o
rdem
ao
novo
exe
rcíc
io d
e av
alia
r o s
eus
pare
s;
- Con
tribu
ir pa
ra a
el
abor
ação
de
um
prog
ram
a de
form
ação
ad
equa
do a
ess
es
prof
issi
onai
s, d
e m
odo
a fo
rnec
er-lh
es u
m
conj
unto
de
proc
edim
ento
s,
capa
cida
des,
val
ores
, co
mpe
tênc
ias
e té
cnic
as q
ue lh
es
poss
ibili
tem
resp
onde
r m
ais
adeq
uada
men
te
às e
xigê
ncia
s da
s no
vas
funç
ões
que
lhes
são
ped
idas
.
Ent
revi
sta
sem
idire
tiva,
se
ndo
que
os
dado
s co
leta
dos
fora
m
subm
etid
os à
an
ális
e de
co
nteú
do
A a
utor
a ut
iliza
au
tore
s qu
e tra
tam
dos
co
ncei
tos
de:
- ava
liaçã
o de
de
sem
penh
o:
Gub
a e
Linc
oln;
N
evo;
Scr
iven
; Jo
int C
omm
itee;
C
ronb
ah; S
take
; So
mõe
s;
Fern
ande
s;
Dan
iels
on e
M
acG
real
; V
eloz
; Had
ij;
Shul
man
; M
ateo
; R
odrig
ues
e P
eral
ta.
- nec
essi
dade
s de
form
ação
: St
uffle
beam
; S
uare
z; B
arbi
er
e Le
sne;
R
odrig
ues
e E
stev
es;
Kauf
man
;
O e
stud
o re
velo
u qu
e os
pr
ofes
sore
s id
entif
icam
va
ntag
ens
na a
valia
ção
de
dese
mpe
nho;
reve
lou
tam
bém
os
cont
eúdo
s de
fo
rmaç
ão q
ue o
s pr
ofes
sore
s av
alia
dore
s co
nsid
eram
impo
rtant
es
para
a s
ua fo
rmaç
ão.
217
Rod
rigue
s;
Est
rela
et a
l.;
A
nális
e de
ne
cess
idad
es d
e fo
rmaç
ão
cont
ínua
de
prof
esso
res
do
prim
eiro
cic
lo –
um
con
trib
uto
para
o e
nsin
o da
le
itura
M
estra
do -
2009
U
nive
rsid
ade
de
Lisb
oa –
Inst
ituto
de
Psi
colo
gia
e C
iênc
ias
da
Educ
ação
(FPC
E)
AU
TOR
A: A
na
Rita
Dom
ingo
s Le
itão
OR
IEN
TAD
OR
A: Â
ngel
a R
odrig
ues
O e
stud
o ju
stifi
ca-s
e na
impo
rtânc
ia d
e se
al
fabe
tizar
os
alun
os
com
mai
s ef
iciê
ncia
m
etod
ológ
ica.
- Apr
eend
er o
mun
do
subj
etiv
o da
s di
ficul
dade
s vi
vida
s,
dos
dese
jos
e do
s in
tere
sses
de
mud
ança
e
dese
nvol
vim
ento
, no
âmbi
to d
as
met
odol
ogia
s de
in
icia
ção
à le
itura
; - C
onhe
cer a
s co
ncep
ções
que
os
prof
esso
r pos
suem
ac
erca
das
prá
ticas
pr
omot
oras
da
leitu
ra
e as
repr
esen
taçõ
es
sobr
e a
form
ação
re
cebi
da e
des
ejad
a ne
sta
área
.
Est
udo
expl
orat
ório
, de
natu
reza
qu
alita
tiva,
com
a
aplic
ação
de
entre
vist
a se
mid
iretiv
a pa
ra re
colh
a de
da
dos.
Os
dado
s co
leta
dos
fora
m
subm
etid
os à
an
ális
e de
co
nteú
do.
A a
utor
a ap
rese
nta
idei
as
a re
spei
to:
- da
anál
ise
de
nece
ssid
ades
de
form
ação
no
âmbi
to d
a fo
rmaç
ão
cont
ínua
de
prof
esso
res,
ab
orda
ndo
a co
ncei
tuaç
ão d
e fo
rmaç
ão
cont
ínua
de
prof
esso
res
e a
anál
ise
de
nece
ssid
ades
co
mo
estra
tégi
a de
form
ação
. - d
a fo
rmaç
ão
de p
rofe
ssor
es
rela
cion
ada
ao
ensi
no d
a le
itura
.
O e
stud
o re
velo
u qu
e, p
ara
as p
rofe
ssor
as, o
s as
pect
os te
óric
os
abor
dado
s na
form
ação
in
icia
l não
fora
m d
ecis
ivos
pa
ra a
esc
olha
m
etod
ológ
ica
de e
nsin
o à
leitu
ra. A
exp
eriê
ncia
ao
long
o da
vid
a e
o co
ntat
o co
m s
eu p
ares
fora
m o
s as
pect
os fu
ndam
enta
is
para
ess
a es
colh
a.
Aná
lise
de
nece
ssid
ades
de
form
ação
co
ntín
ua d
e pr
ofes
sore
s do
s cu
rsos
de
educ
ação
e
form
ação
AU
TOR
A:
Car
ina
Sof
ia
Bar
ata
Dua
rte
OR
IEN
TAD
OR
A: M
aria
Man
uela
E
stev
es
O e
stud
o ju
stifi
ca-s
e de
vido
a re
cent
e im
plem
enta
ção
dos
Cur
sos
de E
duca
ção
e Fo
rmaç
ão d
e Jo
vens
.
- Con
hece
r as
conc
epçõ
es d
os
prof
esso
res
sobr
e os
C
urso
s de
Edu
caçã
o e
Form
ação
de
Jove
ns;
- Ave
rigua
r os
desa
fios
que
esse
s pr
ofes
sore
s en
frent
am, a
form
ação
de
que
nec
essi
tam
, a
Pesq
uisa
de
cará
ter
qual
itativ
o;
aplic
ação
de
entre
vist
as
sem
iest
rutu
rada
s pa
ra
prof
esso
res
que
leci
onam
num
A a
utor
a ap
rese
nta:
- u
m
enqu
adra
men
to
legi
slat
ivo
e no
rmat
ivo
sobr
e os
Cur
sos
de
Educ
ação
e
Form
ação
de
O e
stud
o co
nsta
tou
que
os
prof
esso
res
que
leci
onam
no
s cu
rsos
de
Edu
caçã
o e
Form
ação
de
Jove
ns n
ão
rece
bera
m n
enhu
ma
form
ação
nem
ant
es n
em
dura
nte
sua
atua
ção
prof
issi
onal
.
218
Mes
trado
- 20
09
Uni
vers
idad
e de
Li
sboa
– In
stitu
to
de P
sico
logi
a e
Ciê
ncia
s da
Ed
ucaç
ão (F
PCE)
qual
idad
e de
sua
re
flexã
o so
bre
a pr
átic
a e
o tip
o de
fo
rmaç
ão q
ue
gost
aria
m d
e re
cebe
r.
Cur
so d
e Ed
ucaç
ão e
Fo
rmaç
ão d
e Jo
vens
; a a
utor
a se
util
izou
de
técn
icas
da
anál
ise
de
cont
eúdo
.
Jove
ns;
- um
en
quad
ram
ento
te
óric
o so
bre
a ed
ucaç
ão d
e jo
vens
.
Com
bas
e no
est
udo
e na
an
ális
e da
s ne
cess
idad
es
expr
essa
das
pelo
s pr
ofes
sore
s e
infe
ridas
pel
a pe
squi
sado
ra, a
pe
squi
sado
ra te
ce
suge
stõe
s vo
ltada
s pa
ra
açõe
s de
form
ação
co
ntín
ua d
esse
s pr
ofes
sore
s.
A
nális
e de
ne
cess
idad
es d
e fo
rmaç
ão
cont
inua
da d
e pr
ofes
sore
s:
uma
cont
ribui
ção
às p
ropo
stas
de
form
ação
20
11 –
Dou
tora
do
- Edu
caçã
o U
nesp
– F
acul
dade
de
Ciê
ncia
s e
Letra
s de
A
rara
quar
a
AU
TOR
A:
Cam
ila J
osé
Gal
indo
O
RIE
NTA
DO
R:
Edso
n D
o C
arm
o In
fors
ato
Impo
rtânc
ia d
e um
m
elho
r pla
neja
men
to
da fo
rmaç
ão
cont
inua
da n
o at
endi
men
to d
as
nece
ssid
ades
de
form
ação
dos
pr
ofes
sore
s;
carê
ncia
de
pesq
uisa
s so
bre
as
nece
ssid
ades
fo
rmat
ivas
doc
ente
s no
Bra
sil;
Com
pree
nder
com
o se
m
anife
stam
e s
e re
vela
m a
s ne
cess
idad
es
form
ativ
as n
o co
ntex
to
de a
tuaç
ão
prof
issi
onal
das
pr
ofes
sora
s;
- Ide
ntifi
car
repr
esen
taçõ
es d
e ne
cess
idad
es
das/
pela
s do
cent
es
em s
ituaç
ão d
e tra
balh
o;
- Com
pree
nder
os
elem
ento
s ci
rcun
dant
es e
in
terfe
rent
es n
a m
anife
staç
ão d
e ne
cess
idad
es
doce
ntes
e d
e ne
cess
idad
es d
e fo
rmaç
ão c
ontin
uada
; -C
ompr
eend
er o
mod
o co
mo
as p
rofe
ssor
as
Etn
ogra
fia
(reg
istro
s de
ob
serv
ação
pa
rtici
pant
e em
du
as s
alas
de
aula
de
duas
do
cent
es
atua
ntes
no
1º
ano
do 1
º cic
lo
do E
nsin
o Fu
ndam
enta
l, co
m s
upor
te n
a en
trevi
sta
estru
tura
da c
om
as d
oze
prof
esso
ras
atua
ntes
no
prim
eiro
cic
lo d
o En
sino
Fu
ndam
enta
l da
esco
la
pesq
uisa
da)
As a
nális
es
obtid
as p
or m
eio
Form
ação
de
prof
esso
res
(Day
, Gat
ti,
Est
rela
, M
izuk
ami,
Mon
teiro
e
Gio
vann
i, G
arci
a), a
nális
e de
ne
cess
idad
es
(Gal
indo
, R
odrig
ues,
W
ilson
e E
asen
, R
odrig
ues
e E
stev
es) e
tra
balh
o do
cent
e (T
ardi
f e
Less
ard)
Os
resu
ltado
s ap
onta
m q
ue
as n
eces
sida
des
são
dive
rsas
, am
plas
e
com
plex
as e
são
pr
oven
ient
es d
a or
gani
zaçã
o es
cola
r, do
cu
rríc
ulo,
do
conv
ívio
com
os
par
es, d
o te
mpo
de
carr
eira
, de
expe
riênc
ias
sign
ifica
tivas
liga
das
ao
perc
urso
de
form
ação
pr
ofis
sion
al e
esc
olar
, das
m
otiv
açõe
s pr
ofis
sion
ais,
be
m c
omo
dos
elem
ento
s da
vid
a pe
ssoa
l, qu
e ne
m
sem
pre
são
cons
cien
tes
às
doce
ntes
. Por
ém, p
ossu
em
pote
ncia
l de
impl
icaç
ão
sobr
e a
rotin
a do
trab
alho
e
a re
pres
enta
ção
de
nece
ssid
ades
form
ativ
as.
Prop
õe-s
e um
a am
plia
ção
da c
once
pção
ace
rca
das
nece
ssid
ades
form
ativ
as a
pa
rtir d
as n
eces
sida
des
219
atua
ntes
no
1º c
iclo
do
Ens
ino
Fund
amen
tal
lidam
com
sua
s ne
cess
idad
es n
a es
cola
; - S
uger
ir a
estru
tura
ção
de
prop
osta
s de
form
ação
co
ntin
uada
par
a pr
ofes
sore
s ba
sead
a na
aná
lise
de
nece
ssid
ades
.
de a
nális
es d
e co
nteú
do
(Bar
din)
e p
or
inte
rpre
taçõ
es
emba
sada
s em
re
ferê
ncia
s da
m
etod
olog
ia
etno
gráf
ica
doce
ntes
e d
as
nece
ssid
ades
de
form
ação
, qu
e ex
igem
alte
raçõ
es n
os
proc
edim
ento
s de
aná
lise
de n
eces
sida
des
de
form
ação
par
a at
ende
r de
man
das
da fo
rmaç
ão
cont
inua
da.
Nec
essi
dade
s fo
rmat
ivas
dos
pr
ofes
sore
s do
s an
os in
icia
is n
a su
a in
serç
ão n
o ex
ercí
cio
da
docê
ncia
20
11 –
Mes
trado
–
Educ
ação
U
nive
rsid
ade
Est
adua
l Pau
lista
–
Facu
ldad
es d
e C
iênc
ias
e Te
cnol
ogia
de
Pre
side
nte
Pru
dent
e/S
P
AU
TOR
A:
Nai
ara
Men
donç
a Le
one
OR
IEN
TAD
OR
:Y
oshi
e U
. F.
Leite
Exp
ansã
o do
ens
ino
e no
vas
dem
anda
s im
post
as à
ed
ucaç
ão; C
arên
cia
de p
esqu
isas
re
laci
onad
as a
o pr
ofes
sor i
nici
ante
e
suas
nec
essi
dade
s de
form
ação
.
Inve
stig
ar a
s ne
cess
idad
es
form
ativ
as d
e pr
ofes
sore
s em
iníc
io
de c
arre
ira q
ue a
tuam
no
s an
os in
icia
is d
o E
nsin
o Fu
ndam
enta
l, em
esc
olas
púb
licas
da
rede
mun
icip
al d
e R
anch
aria
- SP
, a fi
m
de o
fere
cer s
ubsí
dios
pa
ra a
con
stru
ção
de
proj
etos
de
form
ação
co
ntín
ua n
os q
uais
as
nece
ssid
ades
des
ses
novo
s do
cent
es
poss
am s
er re
fletid
as,
disc
utid
as e
tra
balh
adas
.
Abor
dage
m
qual
itativ
a, d
e ca
ráte
r de
scrit
ivo-
expl
icat
ivo
(apl
icaç
ão d
e qu
estio
nário
e
entre
vist
a se
mi-
estru
tura
da,
dado
s an
alis
ados
por
m
eio
da a
nális
e de
con
teúd
o)
Aut
ores
re
laci
onad
os
aos
conc
eito
s de
“d
esen
volv
imen
to
prof
issi
onal
do
cent
e” “c
iclo
da
car
reira
do
cent
e” e
“fo
rmaç
ão
cont
inua
da d
e pr
ofes
sore
s”
Os
resu
ltado
s da
pes
quis
a in
dica
ram
a n
eces
sida
de
de q
ue s
e de
senv
olva
m
açõe
s vo
ltada
s à
inse
rção
pr
ofis
sion
al d
os
prof
esso
res
recé
m-
form
ados
, as
quai
s se
da
riam
em
dua
s di
reçõ
es:
de u
m la
do, u
ma
aten
ção
sufic
ient
e e
expl
ícita
, na
form
ação
inic
ial,
para
pr
epar
ar o
futu
ro p
rofe
ssor
pa
ra o
seu
ingr
esso
no
mag
isté
rio, e
, de
outro
, o
com
prom
isso
e a
re
spon
sabi
lidad
e da
s ag
ênci
as fo
rmad
oras
e d
as
inst
ituiç
ões
esco
lare
s,
sobr
etud
o, n
a co
nstru
ção
de p
rogr
amas
de
apoi
o ao
s no
vos
doce
ntes
, que
lhes
as
segu
rem
ass
esso
ria e
fo
rmaç
ão, d
e m
anei
ra
estru
tura
da e
sis
tem
átic
a,
220
desd
e os
seu
s pr
imei
ros
dias
de
prof
issã
o,
auxi
liand
o-os
na
soci
aliz
ação
com
a c
ultu
ra
esco
lar e
no
enfre
ntam
ento
do
s pr
oble
mas
que
ca
ract
eriz
am o
iníc
io d
a ca
rrei
ra d
ocen
te.
221
ANEXO B - Quadro 2: Quadro-síntese do levantamento bibliográfico de pesquisas sobre formação de professores
222
Títu
lo/a
no/g
rau
/inst
ituiç
ão/p
aís
Aut
or(a
)/Orie
nta
dor(
a)
Obj
eto
Obj
etiv
os
Met
odol
ogia
/inst
rum
ento
s A
port
e te
óric
o R
esul
tado
s
A e
duca
ção
físic
a no
es
tado
de
Sant
a C
atar
ina:
a
cons
truç
ão d
e um
a pe
dago
gia
raci
onal
e
cien
tífic
a (1
930-
1940
) 20
10 –
D
outo
rado
- Ed
ucaç
ão
Uni
vers
idad
e Fe
dera
l de
San
ta C
atar
ina
– SC
AU
TOR
A: T
icia
ne
Bom
bass
aro
OR
IEN
TAD
OR
: Al
exan
dre
Fern
ande
z V
az
A p
olíti
ca d
e in
terv
ençã
o do
es
tado
cat
arin
ense
no
s co
rpos
infa
ntis
a
parti
r da
“ped
agog
ia
mod
erna
” que
a
enun
ciav
a en
tre o
s an
os d
e 19
30 a
19
40.
Des
crev
er a
co
nstit
uiçã
o de
um
pr
ojet
o po
lític
o e
uma
prop
osta
ped
agóg
ica
para
a E
duca
ção
Físi
ca E
scol
ar e
m
San
ta C
atar
ina,
nos
m
arco
s da
m
oder
niza
ção
do
esta
do e
da
afirm
ação
da
s fu
nçõe
s na
cion
aliz
ador
as d
a ed
ucaç
ão e
ntre
os
anos
de
1930
e 1
940.
Aná
lise
docu
men
tal
(ata
s de
reun
iões
pe
dagó
gica
s, a
rtigo
s de
per
iódi
cos
da
Rev
ista
de
Edu
caçã
o e
da R
evis
ta E
stud
os
Edu
caci
onai
s, o
fício
s,
man
uscr
itos
de
rela
tório
s,pl
anos
de
ensi
no, d
ecre
tos,
po
rtaria
s, c
ircul
ares
, co
rres
pond
ênci
as e
an
otaç
ões,
ata
s de
re
uniã
o do
s in
spet
ores
esc
olar
es,
rela
tório
s an
uais
do
Dep
arta
men
to d
e E
duca
ção,
pla
nos
de
aula
com
par
ecer
es
de c
onco
rdân
cia
e co
rreç
ão e
miti
dos
pela
Insp
etor
ia,
prov
as d
o co
ncur
so
para
pro
vim
ento
da
cade
ira d
e E
duca
ção
Físi
ca n
os In
stitu
tos
de E
duca
ção
de
Flor
ianó
polis
e L
ages
, em
193
9, m
ater
iais
re
fere
ntes
às
asso
ciaç
ões
desp
ortiv
as
Nor
bert
Elia
s, A
. G
arrig
ou, P
. Bo
urdi
eu,
Mic
hel F
ouca
ult
Per
cebe
-se
aí u
ma
conf
igur
ação
esp
ecífi
ca
que
dá o
rigem
aos
pl
anos
de
mod
erni
zaçã
o do
E
stad
o po
r mei
o da
es
cola
e q
ue fe
z us
o da
di
scip
lina
de E
duca
ção
Físi
ca c
omo
um e
ixo
viáv
el d
e re
aliz
ação
das
su
as a
mbi
ções
, den
tre
elas
, a m
odel
ação
de
cond
utas
, a
higi
eniz
ação
dos
há
bito
s e
a au
tom
atiz
ação
do
cont
role
, faz
endo
eco
ar
para
a v
ida
priv
ada
os
ensi
nam
ento
s da
es
cola
.
Qua
dro
2: Q
uadr
o-sí
ntes
e do
leva
ntam
ento
bib
liogr
áfic
o de
pes
quis
as s
obre
form
ação
de
prof
esso
res
223
cata
rinen
ses
exis
tent
es a
ntes
de
1930
, not
ícia
s,
rela
tório
s da
se
cret
aria
de
Seg
uran
ça P
úblic
a)
A a
rque
olog
ia
da fo
rmaç
ão
do p
rofe
ssor
: a
nova
ord
em
de d
iscu
rso
da
educ
ação
br
asile
ira
2007
–
Dou
tora
do –
Li
nguí
stic
a Ap
licad
a U
nive
rsid
ade
Est
adua
l de
Cam
pina
s -
UN
ICA
MP
Aut
or: A
lexa
ndre
Fe
rrei
ra d
a C
osta
O
rient
ador
a:
Cel
ene
Mar
garid
a C
ruz
A n
ova
estru
tura
de
form
ação
do
prof
esso
r, ab
orda
da
em s
eus
aspe
ctos
dis
curs
ivos
e
na p
ersp
ectiv
a do
s de
bate
s de
senv
olvi
dos
no
âmbi
to d
a Li
nguí
stic
a Ap
licad
a (L
A)
Des
crev
er e
in
terp
reta
r os
valo
res
e os
obj
etiv
os d
as
mud
ança
s or
gani
zaci
onai
s e
epis
tem
ológ
icas
do
traba
lho
esco
lar e
su
as c
onse
qüên
cias
id
entit
ária
s do
pr
ofes
sor.
Aná
lise
do d
iscu
rso
críti
ca d
e do
cum
ento
s of
icia
is
Noç
ões
de
prát
ica
e es
trutu
ra n
as
obra
s de
Mik
hail
Bak
htin
, U
mbe
rto E
co,
Mic
hel F
ouca
ult,
Pie
rre
Bou
rdie
u e
Nor
man
Fa
irclo
ugh,
to
mam
-se
os
para
digm
as d
a di
alog
ia e
da
obje
tivaç
ão
com
o os
ax
iom
as
Con
clui
-se
que:
- a
pesa
r das
po
ssib
ilida
des
de
inov
ação
da
nova
es
trutu
ra
epis
tem
ológ
ica
prop
osta
pe
los
PC
N, a
epi
stem
e da
form
ação
do
prof
esso
r ain
da é
, in
stitu
cion
alm
ente
, re
lativ
a à
repr
oduç
ão
- o e
xam
e da
s re
laçõ
es
inte
rtext
uais
e
inte
rdis
curs
ivas
dos
pe
rcur
sos
cons
titut
ivos
pe
rmite
dem
onst
rar q
ue
a fo
rmaç
ão ‘p
ara’
o
traba
lho,
com
o “a
tivid
ade
de e
nsin
o”, e
‘p
elo’
trab
alho
, com
o “fo
rmaç
ão e
m s
ervi
ço”,
cons
truiu
-se
em
perm
anen
te c
onfli
to
com
a d
eman
da d
e ‘g
estã
o de
moc
rátic
a’,
seja
com
o “g
eren
ciam
ento
au
tôno
mo
dos
recu
rsos
m
ater
iais
da
esco
la”,
224
seja
com
o “e
labo
raçã
o co
mpe
tent
e da
s pr
opos
tas
polít
ico-
peda
gógi
cas
da
docê
ncia
A
doc
ênci
a co
mo
devi
r -
entr
e ob
stru
ções
e
inve
nçõe
s:
uma
cart
ogra
fia d
as
expe
rimen
taçõ
es e
duca
tivas
en
gend
rada
s pe
las
prof
esso
ras
de
um C
entr
o de
Ed
ucaç
ão
Infa
ntil
2007
–
Mes
trado
–
Educ
ação
U
nive
rsid
ade
Fede
ral d
o E
spíri
to S
anto
Auto
ra: A
na P
aula
P
atro
cíni
o H
olzm
eist
er
Orie
ntad
or:
Jane
te
Mag
alhã
es
Car
valh
o
Os
mov
imen
tos
inve
ntiv
os
inst
aura
dos
pela
s pr
ofes
sora
s no
s en
cont
ros
prom
ovid
os c
om a
s cr
ianç
as e
m u
m
Cen
tro M
unic
ipal
de
Educ
ação
Infa
ntil
de
Vitó
ria
Evi
denc
iar a
em
ergê
ncia
de
outro
s ca
mpo
s de
pos
síve
is
para
o a
cont
ecim
ento
da
doc
ênci
a co
mo
devi
r, on
de fo
rças
dí
spar
es, a
o pr
oduz
irem
a
dife
renç
a, c
riam
m
ovim
ento
s vi
rtual
men
te p
oten
tes
para
a ir
rupç
ão d
e m
odos
sin
gula
res
de
exis
tênc
ia,
pens
amen
to e
açã
o ed
ucat
iva,
úte
is p
ara
se p
ensa
r a p
artir
de
um p
onto
de
vist
a de
in
flexã
o, n
ovas
ab
ertu
ras
para
os
perc
urso
s de
fo
rmaç
ão c
ontin
uada
de
pro
fess
ores
; - c
arto
graf
ar o
s m
ovim
ento
s do
pe
nsam
ento
nas
aç
ões
educ
ativ
as
enge
ndra
das
pela
s pr
ofes
sora
s, te
ndo
com
o pa
râm
etro
de
anál
ise
uma
Obs
erva
ção
a pa
rtir
de u
ma
pers
pect
iva
de a
nális
e m
icro
polít
ica
que
diz
resp
eito
às
form
açõe
s do
cam
po s
ocia
l de
dese
jo e
que
se
dá n
o en
trela
çam
ento
das
trê
s lin
has
cons
titut
ivas
dos
di
fere
ntes
mod
os d
e ex
istê
ncia
s: a
s lin
has
mol
ares
, as
linha
s fle
xíve
is
e as
linh
as d
e fu
ga.
Base
teór
ico-
met
odol
ógic
a in
spira
da n
os
estu
dos
de
Gill
es D
eleu
ze,
Mic
hel F
ouca
ult,
Suel
y R
olni
k e
Virg
ínia
Kas
trup
A a
nális
e da
pe
squi
sado
ra a
par
tir d
a pe
rspe
ctiv
a ad
otad
a pa
ra o
bser
vaçã
o e
do
apor
te te
óric
o ut
iliza
do
perm
ite re
fletir
sob
re a
cr
iaçã
o de
nov
os
proc
esso
s fo
rmat
ivos
.
225
pers
pect
iva
étic
o-es
tétic
o-po
lític
a.
A R
e-si
gnifi
caçã
o da
eu
geni
a na
ed
ucaç
ão
entr
e 19
46 e
19
70: U
m
estu
do s
obre
a
cons
truç
ão d
o di
scur
so
eugê
nico
na
form
ação
do
cent
e 20
10 –
D
outo
rado
–
Educ
ação
U
nive
rsid
ade
Fede
ral d
e M
inas
Ger
ais
AU
TOR
A: C
élia
A
pare
cida
Roc
ha
OR
IEN
TAD
OR
: B
erna
rdo
Jeffe
rson
de
Oliv
eira
O d
iscu
rso
euge
nist
a no
Cur
so d
e Fo
rmaç
ão d
e pr
ofes
sore
s pr
imár
ios
de M
inas
G
erai
s, d
esen
volv
ido
na
s di
scip
linas
de
Biol
ogia
Edu
caci
onal
e
Hig
iene
e
Pue
ricul
tura
, ent
re o
pe
ríodo
de
1946
e
1970
- des
crev
er d
e qu
e m
odo
a Eu
geni
a pa
rtici
pou,
em
co
njun
to c
om a
ed
ucaç
ão e
a s
aúde
, de
um
pro
jeto
de
reco
nstru
ção
naci
onal
, com
o
obje
tivo
de p
rom
over
o
dese
nvol
vim
ento
do
país
; - d
escr
ever
a
form
ação
do
mod
elo
eugê
nico
, de
senv
olvi
do n
o C
urso
de
Form
ação
de
pro
fess
ores
pr
imár
ios
de M
inas
G
erai
s, n
as
disc
iplin
as B
iolo
gia
Edu
caci
onal
e H
igie
ne
e Pu
eric
ultu
ra, e
ntre
o
perío
do d
e 19
46 e
19
70;
- des
crev
er o
mod
o co
mo
dive
rsos
in
tele
ctua
is b
usca
ram
re
dim
ensi
onar
o
prob
lem
a do
atra
so
bras
ileiro
; –
desc
reve
r o m
odo
com
o a
defin
ição
ci
entíf
ica
de ra
ça e
ra
apre
sent
ado
no
Util
izou
-se
font
es
com
o m
anua
is
didá
ticos
, leg
isla
ções
qu
e re
gula
men
tara
m
o En
sino
Nor
mal
, os
prog
ram
as d
as
disc
iplin
as,
entre
vist
as c
om e
x-al
unas
e c
om u
m e
x-pr
ofes
sor d
a D
isci
plin
a B
iolo
gia
Edu
caci
onal
do
IEM
G,
docu
men
tos
dive
rsos
do
Inst
ituto
de
Edu
caçã
o de
Min
as
Ger
ais
(pon
tos
de
exam
e de
suf
iciê
ncia
, po
ntos
de
prov
as
parc
iais
, Pas
ta d
o C
urso
de
Féria
s, L
ivro
de
Reg
istro
de
Em
prés
timos
da
Bib
liote
ca, P
asta
de
Rec
orte
s de
Jor
nal
orga
niza
do p
ela
inst
ituiç
ão,
corr
espo
ndên
cia)
, ar
tigos
pub
licad
os n
o Jo
rnal
Diá
rio O
ficia
l de
Min
as G
erai
s,
artig
os p
ublic
ados
na
Rev
ista
do
Ens
ino
e na
Rev
ista
Bra
sile
ira
de E
stud
os
Esta
pes
quis
a ap
oiou
-se
em
apor
tes
da
His
tória
das
D
isci
plin
as
Esc
olar
es e
dos
liv
ros
didá
ticos
, hi
stór
ia d
o cu
rríc
ulo,
H
istó
ria d
a C
iênc
ia, d
a Te
oria
da
Aná
lise
do
Dis
curs
o, a
lém
de
util
izar
-se
da
conc
epçã
o de
Bi
opod
er,
dese
nvol
vida
po
r Mic
hel
Fouc
ault.
Est
e tra
balh
o m
ostra
: - a
pro
duçã
o de
se
ntid
os d
iver
sos
asso
ciad
os a
o m
odel
o eu
geni
sta
adot
ado,
re
vela
ndo
cont
radi
ções
, ru
ptur
as e
pe
rman
ênci
as d
essa
ci
ênci
a na
his
tória
da
educ
ação
, ass
im c
omo,
m
ostra
r que
a E
ugen
ia
ensi
nada
no
perío
do
foca
lizad
o, e
xigi
u su
a re
-sig
nific
ação
, que
im
plic
ou a
neg
ação
das
m
edid
as p
rátic
as
eugê
nica
s ne
gativ
as
(abo
rto, e
ster
iliza
ção,
ex
term
ínio
, co
mpu
lsor
ieda
de) e
a
valo
rizaç
ão d
as
med
idas
con
cebi
das
com
o po
sitiv
as, a
inda
qu
e in
fluen
ciad
as p
elo
raci
smo
prev
alec
ente
; - c
omo
o E
nsin
o N
orm
al
min
eiro
reaf
irmou
e
dese
nvol
veu
um p
roje
to
eugê
nico
de
soci
edad
e,
mos
trand
o co
mo
a eu
geni
a co
ntin
uou
send
o in
voca
da, a
inda
qu
e va
riand
o se
us
226
mat
eria
l did
átic
o,
usad
o em
dis
cipl
inas
do
Cur
so N
orm
al
Peda
gógi
cos.
m
odos
, seu
s pr
otag
onis
tas,
seu
s fu
ndam
ento
s, s
uas
refe
rênc
ias
e su
as
prát
icas
. Fo
rmaç
ão d
e pr
ofes
sore
s de
m
atem
átic
a:
espa
ço d
e po
ssib
ilida
des
para
pro
duzi
r fo
rmas
de
resi
stên
cia
e si
ngul
arid
ade
doce
nte
2009
- M
estra
do –
Ed
ucaç
ão
Uni
vers
idad
e Fe
dera
l do
Rio
G
rand
e do
Sul
AU
TOR
A:
Dio
nara
Te
resi
nha
da
Ros
a Ar
agon
O
RIE
NTA
DO
R:
Sam
uel E
dmun
do
Lope
z Be
llo
Form
ação
co
ntin
uada
de
prof
esso
res
de
mat
emát
ica
- Des
crev
er d
e qu
e m
anei
ra a
s te
nsõe
s qu
e em
ergi
ram
ent
re
o di
scur
so d
isci
plin
ar
da e
tnom
atem
átic
a e
as n
arra
tivas
dos
pr
ofes
sore
s e
prof
esso
ras
prod
uzem
fo
rmas
de
resi
stên
cia
e si
ngul
arid
ade
doce
nte.
Aná
lise
de n
arra
tivas
de
set
e pr
ofes
sore
s qu
e pa
rtici
pava
m d
e um
cur
so d
e fo
rmaç
ão
cont
inua
da p
ara
doce
ntes
de
mat
emát
ica;
aná
lise
de e
ntre
vist
as s
emi-
estru
tura
das.
As
teor
izaç
ões
de M
iche
l Fo
ucau
lt em
to
rno
do
“con
ceito
” de
disc
urso
; et
nom
atem
átic
a
A p
esqu
isa
reve
lou
o re
conh
ecim
ento
da
perti
nênc
ia e
a
emer
gênc
ia d
e te
nsõe
s no
s co
ntex
tos
de
form
ação
doc
ente
, que
po
dem
ser
co
nsid
erad
as c
omo
poss
ibili
dade
s pa
ra a
co
nstit
uiçã
o de
form
as
de re
sist
ênci
a e
de
sing
ular
idad
es
doce
ntes
, orie
ntad
as a
o fa
zer p
edag
ógic
o no
s âm
bito
s pe
dagó
gico
, so
cial
e c
ultu
ral.
PC
NS-
AR
TE:
QU
ESTÕ
ES D
E G
OVE
RN
O E
G
OVE
RN
AME
NTO
NA
FA
BR
ICA
ÇÃ
O
DA
DO
CÊN
CIA
EM
AR
TE
2008
–
AU
TOR
: Fe
rnan
do
Lifc
zins
k P
erei
ra
OR
IEN
TAD
OR
: Lu
ís H
enriq
ue
Som
mer
O s
ujei
to-p
rofe
ssor
de
Arte
inst
ituíd
o pe
los
Par
âmet
ros
Cur
ricul
ares
N
acio
nais
par
a a
área
de
Arte
(PC
NS
-AR
TE, 5
ª E 8
ª SÉ
RIE
)
- Des
crev
er e
ana
lisar
os
PC
NS-
AR
TE c
omo
tecn
olog
ias
de
gove
rnam
ento
do
cent
e;
- Dem
onst
rar e
an
alis
ar o
s ví
ncul
os
exis
tent
es e
ntre
o
mod
elo
de d
ocên
cia
Aná
lise
docu
men
tal
(PC
N-A
RTE
, 5ª E
8ª
SÉR
IE)
Con
tribu
içõe
s te
óric
as d
e M
iche
l Fou
caul
t e
de o
utro
s au
tore
s qu
e de
senv
olve
m
anál
ises
a p
artir
de
sua
pr
oduç
ão,
sobr
etud
o
A p
esqu
isa
dem
onst
ra
que
o te
xto
gove
rnam
enta
l par
a a
educ
açaõ
em
Arte
s se
pr
opõe
a g
uiar
, for
mar
, di
rigir
a co
ndut
a do
cent
e de
mod
o a
pote
ncia
lizar
a
gove
rnam
enta
lizaç
ão
do E
stad
o.
227
Mes
trado
–
Educ
ação
U
nive
rsid
ade
Lute
rana
do
Bra
sil –
RS
prod
uzid
o pe
lo
disc
urso
ofic
ial s
obre
o
ensi
no d
e A
rtes
e a
raci
onal
idad
e po
lític
a do
Est
ado
bras
ileiro
; - D
emon
stra
r e
anal
isar
o m
odel
o de
do
cênc
ia p
ara
o en
sino
de
Arte
s pr
oduz
ido
por e
ste
disc
urso
.
aque
les
dese
nvol
vido
s de
sde
a pe
rspe
ctiv
a an
alíti
ca d
a go
vern
amen
tali
dade
Form
ação
C
ontin
uada
: ca
rtas
de
alfo
rria
&
cont
role
s re
gula
dore
s 20
06 –
D
outo
rado
–
Educ
ação
U
nive
rsid
ade
Fede
ral d
o R
io
Gra
nde
do S
ul
AU
TOR
: Joã
o de
D
eus
dos
San
tos
OR
IEN
TAD
OR
: A
lfred
o Jo
sé d
a Ve
iga-
Net
o
Form
ação
co
ntin
uada
de
prof
esso
res
- des
crev
er c
omo
se
deu
a em
ergê
ncia
da
form
ação
con
tinua
da
no B
rasi
l.
Abor
dage
m
gene
alóg
ica
do te
ma;
an
ális
e do
dis
curs
o de
en
unci
ados
ve
icul
ados
na
Rev
ista
B
rasi
leira
de
Est
udos
P
edag
ógic
os, n
a pr
imei
ra m
etad
e do
sé
culo
XX
.
A a
rque
olog
ia e
a
gene
alog
ia d
e M
iche
l Fou
caul
t; o
conc
eito
de
alfo
rria
Ao
desc
reve
r ess
es
enun
ciad
os, i
mpl
icad
os
na c
rise
mod
erna
da
Esc
ola
e en
volv
idos
em
re
laçõ
es d
e po
der,
foi
poss
ível
dem
onst
rar
que
eles
con
tribu
íram
pa
ra c
ompo
r as
cond
içõe
s po
lític
as p
ara
a em
ergê
ncia
da
form
ação
con
tinua
da n
o B
rasi
l e q
ue, p
orta
nto,
a
emer
gênc
ia d
a fo
rmaç
ão c
ontin
uada
de
prof
esso
res
no B
rasi
l pr
oduz
iu-s
e no
in
ters
tício
que
se
form
ou n
a vi
rada
do
mod
o de
vid
a m
oder
no
para
o m
odo
de v
ida
cont
empo
râne
o, n
a or
dem
da
biop
olíti
ca e
no
s m
olde
s da
alfo
rria
.
228
A fo
rmaç
ão d
e ed
ucad
ores
de
jove
ns e
ad
ulto
s:
pote
ncia
lizad
ora
e
pote
ncia
lizad
a pe
la e
duca
ção
a di
stân
cia?
20
05 –
M
estra
do –
Ed
ucaç
ão
Pont
ifíci
a U
nive
rsid
ade
Cat
ólic
a do
Rio
G
rand
e do
Sul
AU
TOR
A: L
ilian
Sc
hwab
Gel
atti
OR
IEN
TAD
OR
A:
Mar
ilú F
onto
ura
de M
edei
ros
Form
ação
de
educ
ador
es d
e jo
vens
e a
dulto
s a
dist
ânci
a
- Ide
ntifi
car c
omo
se
prod
uz a
For
maç
ão
de E
duca
dore
s de
Jo
vens
e A
dulto
s pe
la
Edu
caçã
o a
Dis
tânc
ia
com
o po
tenc
ialid
ade
de p
roce
ssos
in
clus
ivos
de
jove
ns e
ad
ulto
s;
- ide
ntifi
car a
co
nstru
ção
de p
onto
s e
cont
ra-p
onto
s re
fere
ncia
is p
ara
a po
tenc
ializ
ação
da
Form
ação
de
Educ
ador
es d
e Jo
vens
e A
dulto
s pe
la
Edu
caçã
o a
Dis
tânc
ia.
Aná
lise
de D
iscu
rso,
ab
orda
gem
m
etod
ológ
ica
qual
itativ
a.
Teor
izaç
ões
de
Mic
hel F
ouca
ult,
a re
spei
to d
as
prát
icas
di
scur
siva
s e
não-
disc
ursi
vas
inst
ituíd
as d
o co
ntex
to
inve
stig
ado.
A p
esqu
isa
perm
itiu
aver
igua
r que
: - a
For
maç
ão d
e Ed
ucad
ores
de
Jove
ns
e A
dulto
s vi
abili
zada
pe
la E
duca
ção
a D
istâ
ncia
é u
ma
forte
ve
rtent
e de
aut
o-fo
rmaç
ão e
form
ação
co
ntin
uada
; - a
edu
caçã
o a
dist
ânci
a su
rge
com
par
ticul
ar
pote
ncia
lidad
e na
fo
rmaç
ão d
e jo
vens
e
adul
tos,
libe
rtand
o-os
do
s co
ndic
iona
lism
os
de te
mpo
e e
spaç
o da
ed
ucaç
ão p
rese
ncia
l e
perm
itind
o, a
ssim
, dar
re
spos
ta a
um
a ne
cess
idad
e bá
sica
dos
no
ssos
tem
pos:
ap
rend
er o
que
se
quis
er, o
nde
se q
uise
r e
quan
do s
e qu
iser
. - a
edu
caçã
o a
dist
ânci
a é
uma
form
a de
de
senv
olvi
men
to d
os
proc
esso
s de
ens
ino
e ap
rend
izag
em q
ue,
utili
zand
o-se
de
sist
ema
de te
cnol
ogia
da
com
unic
ação
, que
é
229
capa
z de
sup
rir o
af
asta
men
to fí
sico
tota
l ou
par
cial
ent
re
prof
esso
res
e es
tuda
ntes
, bus
ca
prom
over
efe
tivam
ente
a
cons
ecuç
ão d
os
obje
tivos
edu
caci
onai
s fix
ados
. C
ultu
ra,
Cid
adan
ia e
D
ifere
nça
na
Esco
la
2003
–
Mes
trado
–
Educ
ação
U
nive
rsid
ade
de
Ube
raba
AU
TOR
A: M
aria
C
eles
te d
e M
oura
An
drad
e O
RIE
NTA
DO
RA
: An
a M
aria
Fa
ccio
li de
C
amar
go
Rep
rese
ntaç
ão d
os
prof
esso
res
sobr
e ci
dada
nia
e su
as
impl
icaç
ões
na s
ua
form
ação
.
-Iden
tific
ar a
re
pres
enta
ção
que
os
prof
esso
res
do e
nsin
o fu
ndam
enta
l faz
em d
a ed
ucaç
ão p
ara
a ci
dada
nia;
- I
dent
ifica
r com
o es
ta
conc
epçã
o pe
rpas
sa
a fo
rma
do p
rofe
ssor
de
per
cebe
r e a
tuar
na
que
stão
da
dive
rsid
ade
cultu
ral
Os
dado
s fo
ram
co
leta
dos
atra
vés
de
entre
vist
as s
emi-
estru
tura
das
feita
s a
10 p
rofe
ssor
es c
om
perg
unta
s so
bre
cida
dani
a, id
entid
ade
e di
fere
nça
e su
as
impl
icaç
ões
na p
rátic
a pe
dagó
gica
. A a
nális
e qu
alita
tiva
dos
dado
s ad
otou
um
a pe
rspe
ctiv
a pó
s-es
trutu
ralis
ta, i
nser
ida
na p
robl
emát
ica
sabe
r-po
der,
cujo
s fu
ndam
ento
s fo
ram
bu
scad
os e
m M
iche
l Fo
ucau
lt e
em a
utor
es
mul
ticul
tura
lista
s.
Teor
izaç
ões
de
Mic
hel F
ouca
ult
a re
spei
to d
a pr
oble
mát
ica
sabe
r-po
der e
ou
tros
auto
res
mul
ticul
tura
lista
s.
A p
esqu
isa
evid
enci
a qu
e:
- o p
rópr
io c
urríc
ulo
vive
ncia
do p
elos
pr
ofes
sore
s ao
long
o de
su
a fo
rmaç
ão e
scol
ar
func
iono
u co
mo
elem
ento
dis
curs
ivo
que
prod
uz v
erda
des
sobr
e di
vers
idad
e cu
ltura
l e
educ
ação
par
a a
cida
dani
a, d
efin
indo
os
papé
is d
e al
unos
(as)
e
prof
esso
res(
as),
cons
truin
do h
iera
rqui
as,
prod
uzin
do id
entid
ades
. - a
nec
essi
dade
de
ques
tiona
men
to
cont
ínuo
das
prá
ticas
de
sig
nific
ação
le
gitim
adas
pel
a es
cola
na
edu
caçã
o di
ta c
idad
ã e
visl
umbr
a, n
a no
ção
de a
miz
ade
e es
tétic
a da
exi
stên
cia
em
230
Fouc
ault,
pos
sibi
lidad
es
men
os re
strit
as d
e se
pe
nsar
as
rela
ções
so
ciai
s.
Ref
orm
a Ed
ucac
iona
l e
Form
ação
de
Prof
esso
res:
a
cris
e, o
pod
er
e o
disc
urso
20
06 –
M
estra
do –
Ed
ucaç
ão
Uni
vers
idad
e de
U
bera
ba
AU
TOR
A: R
ita d
e C
ássi
a B
oave
ntur
a B
orge
s O
RIE
NTA
DO
RA
: An
a M
aria
Fa
ccio
li de
C
amar
go
O d
iscu
rso
da
form
ação
con
tinua
da
de p
rofe
ssor
es
- Des
crev
er o
su
rgim
ento
do
disc
urso
da
form
ação
co
ntin
uada
em
Goi
ás
para
pro
fess
ores
at
uant
es n
o en
sino
m
édio
em
esc
olas
pú
blic
as d
o Pr
ojet
o Es
cola
Jov
em
- Situ
ar o
dis
curs
o de
fo
rmaç
ão d
e pr
ofes
sore
s at
uant
es
no e
nsin
o m
édio
em
es
cola
s pú
blic
as d
o P
roje
to E
scol
a Jo
vem
no
refe
renc
ial t
eóric
o do
dis
curs
o do
s cu
rsos
de
form
ação
no
con
text
o da
s re
form
as
educ
acio
nais
da
déca
da d
e 19
90.
- Obs
erva
ções
as
sist
emát
icas
do
ambi
ente
esc
olar
; - L
eitu
ra d
e te
xtos
so
bre
refo
rma
educ
acio
nal d
o en
sino
m
édio
e c
urso
s de
fo
rmaç
ão d
e pr
ofes
sore
s (d
ocum
ento
s da
re
form
a, d
os c
urso
s de
form
ação
) - V
inte
e o
ito
entre
vist
as c
om
prof
esso
res
parti
cipa
ntes
dos
cu
rsos
de
form
ação
qu
e at
uam
em
oito
es
cola
s de
sei
s ci
dade
s da
Mic
ro-
regi
ão d
o R
io
Ver
mel
ho;
- Aná
lise
do d
iscu
rso
Con
ceito
s in
spira
dos
no
proj
eto
gene
alóg
ico
de
Mic
hel F
ouca
ult
e co
ncei
tos
de
Gill
es D
eleu
ze,
num
cen
ário
de
cris
e e
rela
ções
de
pod
er.
- A p
esqu
isa
reve
lou
a co
-exi
stên
cia
híbr
ida
de
mod
elos
da
esco
la
disc
iplin
ar e
um
nov
o m
odel
o de
con
trole
. - A
s an
ális
es m
ostra
ram
qu
e a
refo
rma
na
form
ação
de
prof
esso
res
está
im
bric
ada
por u
m
mov
imen
to m
undi
al..
A fo
rmaç
ão
críti
co-
AUTO
R: S
amue
l Lo
uzad
a C
astro
P
roje
to
Form
ar/P
rofa
, - A
nalis
ar a
s pr
átic
as
e os
dis
curs
os
- Aná
lise
e di
scur
so
dos
text
os s
obre
- A
per
spec
tiva
de M
iche
l A
pes
quis
a ev
iden
ciou
a
rele
vânc
ia d
a
231
refle
xiva
do
orie
ntad
or
acad
êmic
o do
C
urso
de
Peda
gogi
a a
Dis
tânc
ia d
a U
nive
rsid
ade
Fede
ral d
o Es
pírit
o Sa
nto
2004
–
Mes
trado
–
Educ
ação
U
nive
rsid
ade
Fede
ral d
o E
spíri
to S
anto
de O
livei
ra
OR
IEN
TAD
OR
: Ja
nete
M
agal
hães
C
arva
lho
impl
emen
tado
em
oi
to m
unic
ípio
s do
N
orte
do
Esta
do d
o E
spíri
to S
anto
, ent
re
os a
nos
de 2
001
e 20
02.
prod
uzid
os n
o co
ntex
to d
o pr
ojet
o FO
RM
AR
/PR
OFA
, um
pro
jeto
de
form
ação
con
tinua
da
para
pro
fess
ores
do
Ens
ino
Fund
amen
tal.
form
ação
doc
ente
, do
s te
xtos
ac
adêm
icos
e d
os
text
os p
rodu
zido
s pe
los
parti
cipa
ntes
do
proj
eto
FOR
MA
R/P
RO
FA.
Fouc
ault
acer
ca
do d
iscu
rso,
al
ém d
a pe
rspe
ctiv
a ap
onta
da p
or
Félix
Gua
tarr
i pa
ra a
co
mpr
eens
ão
da s
ubje
tivid
ade
dive
rsid
ade
de p
rátic
as
mov
imen
tada
s na
fo
rmaç
ão e
na
atua
ção
doce
nte,
ain
da q
ue e
las
este
jam
sob
a é
gide
de
dete
rmin
ados
pr
ogra
mas
, pro
jeto
s,
prin
cípi
os o
u po
lític
as
de fo
rmaç
ão d
ocen
te.
A fo
rmaç
ão
dos
prof
esso
res
da
EJA
e a
co
nstit
uiçã
o do
cur
rícul
o -
rupt
uras
e
inov
açõe
s 20
07 –
M
estra
do –
Ed
ucaç
ão n
as
Ciê
ncia
s U
nive
rsid
ade
Reg
iona
l do
Nor
oest
e do
AUTO
RA
: Syl
via
Mes
ser
OR
IEN
TAD
OR
: E
lza
Mar
ia
Fons
eca
Falk
emba
ch
O c
urríc
ulo
da
form
ação
inic
ial e
co
ntin
uada
dos
pr
ofes
sore
s de
Ed
ucaç
ão d
e Jo
vens
e
Adul
tos
- apr
esen
tar o
s pr
inci
pais
mar
cos
sobr
e a
cons
truçã
o do
di
scur
so s
obre
o
curr
ícul
o;
- ide
ntifi
car c
omo
esse
s di
scur
sos
se
faze
m p
rese
ntes
na
prát
ica
educ
ativ
a do
s pr
ofes
sore
s do
EJA
; - v
erifi
car s
e na
hi
stór
ia d
a ed
ucaç
ão
popu
lar e
da
EJA
no
Bra
sil,
houv
e pr
eocu
paçã
o em
Aná
lise
docu
men
tal
da le
gisl
ação
pe
rtine
nte
ao o
bjet
o da
pes
quis
a
Con
cepç
ões
de
Pau
lo F
reire
e
Mic
hel F
ouca
ult
A p
esqu
isa,
alé
m d
e at
ende
r os
obje
tivos
pr
opos
tos,
pro
põe
a re
flexã
o so
bre
a po
ssib
ilida
de d
e pe
nsar
na
form
ação
inic
ial e
co
ntin
uada
dos
pr
ofes
sore
s, b
em c
omo
a co
nstit
uiçã
o do
cu
rríc
ulo
da E
JA, t
endo
em
vis
ta a
nec
essi
dade
bu
scar
nov
as e
di
fere
ntes
form
as d
e ob
jetiv
ação
e
subj
etiv
ação
, que
pe
rmita
m a
os
prof
esso
res
e al
unos
,
232
Est
ado
do R
io
Gra
nde
do S
ul
prop
or u
ma
orga
niza
ção
curr
icul
ar
dife
renc
iada
par
a es
ses
educ
ando
s vi
sand
o a
aten
der s
ua
com
plex
idad
e di
fere
ncia
l, at
ravé
s da
ab
orda
gem
mai
s es
pecí
fica
dos
aspe
ctos
lega
is
rela
tivos
a E
JA e
do
olha
r e d
a vo
z do
s pr
ofes
sore
s so
bre
a qu
estã
o.
ver,
pens
ar e
agi
r no
mun
do d
e fo
rma
dife
rent
e do
que
fazi
am,
atra
vés
de u
m tr
abal
ho
étic
o-po
lític
o re
flexi
vo.
A
AR
QU
ITET
UR
A D
A
FOR
MA
ÇÃ
O
EM S
ERVI
ÇO
D
OS
PRO
FESS
OR
ES
NA
ED
UC
AÇ
ÃO
D
E JO
VEN
S E
AD
ULT
OS
2010
–
Mes
trado
–
Educ
ação
das
C
iênc
ias
Quí
mic
as d
a Vi
da e
Saú
de
Uni
vers
idad
e Fe
dera
l do
Rio
G
rand
e do
Sul
AU
TOR
: A
less
andr
o C
ury
Soar
es
OR
IEN
TAD
OR
A:
Roc
hele
de
Qua
dros
Lo
guer
cio
Cria
ção
da E
JA e
co
ndiç
ões
para
a
emer
gênc
ia d
e es
paço
s de
fo
rmaç
ão e
m
serv
iço,
cap
azes
de
cont
empl
arem
o
“sab
er d
a E
JA”
- ver
ifica
r as
cond
içõe
s hi
stór
icas
, bi
blio
gráf
icas
e
empí
ricas
par
a a
emer
gênc
ia d
e gr
upos
de
form
ação
em
se
rviç
o;
- ver
ifica
r com
o es
sa
form
ação
se
deu
dent
ro d
as e
scol
as e
as
est
raté
gias
usa
das
para
ope
raci
oná-
las.
-v
erifi
car c
omo
se d
á a
prod
ução
de
sabe
res
entre
os
prof
esso
res
de
Quí
mic
a, a
tuan
tes
na
EJA
- Aná
lise
docu
men
tal
(text
os le
gais
que
ap
onta
m p
ara
a cr
iaçã
o da
EJA
e,
com
isso
, par
a a
exis
tênc
ia/n
eces
sida
de
de u
m s
aber
pró
prio
de
sta
mod
alid
ade
de
educ
ação
); - A
plic
ação
de
ques
tioná
rio
(que
stõe
s ab
erta
s) a
pr
ofes
sore
s at
uant
es
na E
JA, d
o m
unic
ípio
de
Pel
otas
– R
S.
- Aná
lise
do d
iscu
rso
aplic
ada
aos
docu
men
tos
e à
resp
osta
s do
s pr
ofes
sore
s no
s
- Con
ceito
s de
do
is
pens
ador
es
soci
ais:
Tho
maz
Po
pkew
itz -
e as
refo
rmas
ed
ucac
iona
is
ocor
ridas
nos
E
stad
os U
nido
s,
e M
iche
l Fo
ucau
lt - e
sua
ar
queo
logi
a;
- Sab
er d
ocen
te
de a
cord
o co
m
Tard
if, F
reire
, M
alda
ner,
Sch
ön,
Zeic
hner
.
A p
artir
da
anál
ise
do
corp
us d
a pe
squi
sa, f
oi
poss
ível
che
gar à
se
guin
tes
conc
lusõ
es:
233
ques
tioná
rios
Incl
usão
: o
curr
ícul
o na
fo
rmaç
ão d
e pr
ofes
sore
s 20
06 –
M
estra
do –
Ed
ucaç
ão
Uni
vers
idad
e do
V
ale
do R
io d
os
Sino
s –
UN
ISIN
OS
- R
S
AU
TOR
A: A
lice
Dec
ker
OR
IEN
TAD
OR
A:
Mau
ra C
orci
ni
Lope
s
Incl
usão
esc
olar
nos
cu
rsos
de
form
ação
de
pro
fess
ores
Con
hece
r e
prob
lem
atiz
ar o
s di
scur
sos
que
estã
o ci
rcul
ando
e
cons
titui
ndo
o ol
har
sobr
e a
incl
usão
es
cola
r, be
m c
omo
prob
lem
atiz
ar a
s ve
rdad
es p
rodu
zida
s so
bre
o te
ma.
Aná
lise
do d
iscu
rso
de 2
50 te
xtos
na
rrat
ivos
pro
duzi
dos
por a
cadê
mic
os
dura
nte
um c
urso
com
o
tem
a in
clus
ão. A
s fe
rram
enta
s de
an
ális
e ut
iliza
das
fora
m o
con
ceito
de
disc
urso
– e
m u
m
sent
ido
fouc
aulti
ano
– e
o co
ncei
to d
e in
clus
ão –
ent
endi
do
com
o se
ndo
parte
co
nstit
utiv
a da
ex
clus
ão.
Ref
eren
ciai
s de
in
spira
ção
pós-
estru
tura
lista
s,
prin
cipa
lmen
te
aque
les
que
têm
com
o ba
se
o pe
nsam
ento
de
Mic
hel
Fouc
ault
e do
s E
stud
os
Cul
tura
is q
ue s
e ar
ticul
am a
es
ses
refe
renc
iais
.
A p
esqu
isa
poss
ibilit
ou
- exp
licita
r com
o a
idéi
a de
incl
usão
apa
rece
al
iada
a d
iscu
rsos
cl
ínic
os, r
elig
ioso
s,
psic
ológ
icos
e
educ
acio
nais
cor
retiv
os
que
a pr
oduz
em,
dete
rmin
ando
dis
tinta
s co
ndiç
ões
para
um
a in
clus
ão e
xclu
dent
e;
- obs
erva
r que
os
curr
ícul
os d
os c
urso
s de
lic
enci
atur
as, q
uand
o ab
orda
m ta
l tem
átic
a,
não
apro
fund
am o
s sa
bere
s qu
e pr
oduz
em
a ne
cess
idad
e da
in
clus
ão e
, nem
mes
mo
abor
dam
as
cond
içõe
s hi
stór
icas
que
est
ão
impr
imin
do à
incl
usão
o
cará
ter d
e um
a co
ndiç
ão a
ser
co
nqui
stad
a.
DO
S PR
OFE
SSO
RE
S D
E Q
UÍM
ICA
A
OS
PRO
FESS
OR
ES A
LQU
ÍMIC
OS:
um
a tr
ansm
utaç
ão
AU
TOR
: Cla
udio
G
alen
o C
alde
ira
OR
IEN
TAD
OR
A:
Ana
Mar
ia
Facc
ioli
de
Cam
argo
Form
ação
de
prof
esso
res
de
Quí
mic
a
- Ver
ifica
r com
o o
ensi
no d
e Q
uím
ica
pass
ou a
ace
itar o
di
scur
so im
post
o pe
la
ciên
cia.
Pesq
uisa
Bib
liogr
áfic
a M
iche
l Fou
caul
t, An
a M
aria
G
oldf
arb,
Atti
co
Cha
ssot
, Otá
vio
Mal
dane
r e
Ros
eli P
ache
co
Sch
netz
ler.
A p
esqu
isa
poss
ibilit
ou
desc
reve
r a
trans
form
ação
do
ensi
no d
e Q
uím
ica
nos
mol
des
da a
lqui
mia
pa
ra o
s m
olde
s da
s ci
ênci
as m
oder
nas.
234
no p
rofis
sion
al
doce
nte
2007
–
Mes
trado
–
Educ
ação
U
nive
rsid
ade
de
Ube
raba
A
prá
tica
soci
al d
o cá
lcul
o es
crito
na
form
ação
de
pr
ofes
sore
s: a
hi
stór
ia c
omo
poss
ibili
dade
de
pen
sar
ques
tões
do
pres
ente
20
04 –
D
outo
rado
–
Educ
ação
U
nive
rsid
ade
Est
adua
l de
Cam
pina
s
AU
TOR
A: E
liana
da
Silv
a S
ouza
O
RIE
NTA
DO
R:
Ant
onio
Mig
uel
A p
artic
ipaç
ão d
a hi
stór
ia d
a m
atem
átic
a e
da
educ
ação
m
atem
átic
a na
fo
rmaç
ão d
e pr
ofes
sore
s da
s sé
ries
inic
iais
do
ensi
no fu
ndam
enta
l
- ide
ntifi
car o
s va
lore
s qu
e es
taria
m
sust
enta
ndo
a na
tura
lizaç
ão d
o pr
oces
so d
e tra
nsm
issã
o da
pr
átic
a so
cial
do
cál
culo
esc
rito
na
inst
ituiç
ão e
scol
ar
- Aná
lise
docu
men
tal
e bi
blio
gráf
ica
(em
ob
ras
rara
s);
- Ent
revi
stas
com
pr
ofes
sore
s;
- Pro
blem
atiz
ação
do
diál
ogo
ocor
rido,
du
rant
e se
ssõe
s in
tera
tivas
de
inve
stig
ação
, en
tre a
pes
quis
ador
a e
um g
rupo
de
prof
esso
ras
das
série
s in
icia
is d
o En
sino
Fu
ndam
enta
l
Gen
ealo
gia
apre
sent
ada
e pr
atic
ada
nos
traba
lhos
de
Mic
hel F
ouca
ult;
aspe
ctos
da
hist
ória
dos
pr
oces
sos
de
apro
pria
ção
da
prát
ica
soci
al d
o cá
lcul
o es
crito
ao
mod
o hi
ndu-
aráb
ico.
A p
esqu
isa
pôde
co
nsta
r: -
que
as ra
zões
que
es
taria
m n
a ba
se d
o ab
ando
no d
e pr
oced
imen
tos
obso
leto
s no
pro
cess
o de
tran
smis
são
do
cálc
ulo
escr
ito n
a es
cola
ser
iam
men
os d
e or
dem
té
cnic
o-co
ncei
tual
(m
aior
ou
men
or g
rau
de c
ompl
exid
ade
conc
eitu
al d
o pr
oced
imen
to) o
u ps
icol
ógic
o-co
gniti
va
(de
mai
or o
u m
enor
di
ficul
dade
par
a o
alun
o ap
rend
er) d
o qu
e de
or
dem
pol
ítico
-ax
ioló
gica
; - s
e no
s pr
oces
sos
hist
óric
os d
e ap
ropr
iaçã
o pr
agm
átic
a da
prá
tica
235
soci
al d
o cá
lcul
o es
crito
, em
tem
pos
e co
ntex
tos
geop
olíti
cos
dife
rent
es,
a pr
ecis
ão d
o cá
lcul
o e
a ob
tenç
ão d
e re
sulta
dos
corr
etos
pa
reci
am e
star
dire
ta e
co
nsci
ente
men
te
ligad
as
a ob
jetiv
os e
inte
ress
es
post
os p
or o
utra
s pr
átic
as s
ocia
is c
omo
a as
tronô
mic
o-as
troló
gica
, a
náut
ica,
a c
omer
cial
, a
finan
ceira
, a
adm
inis
trativ
a, e
tc.,
no
cont
exto
esc
olar
de
refe
rênc
ia,
ao q
ual o
s di
scur
sos
das
prof
esso
ras
parti
cipa
ntes
da
pesq
uisa
rem
etem
, a
prát
ica
soci
al d
o cá
lcul
o es
crito
pa
rece
não
mai
s es
tar
vinc
ulad
a a
outra
s pr
átic
as, p
arec
endo
ter
adqu
irido
um
a au
tono
mia
que
faz
com
qu
e as
noç
ões
de
prec
isão
e c
orre
ção
nos
cálc
ulos
es
crito
s pa
ssem
a s
er
vist
as c
omo
algo
bom
e
dese
jáve
l em
si e
por
si
236
mes
mas
; - o
pro
cess
o de
va
loriz
ação
, ap
ropr
iaçã
o e
re-
sign
ifica
ção
da p
rátic
a so
cial
do
cálc
ulo
escr
ito
ao m
odo
hind
u-ar
ábic
o po
r par
te d
e po
rtugu
eses
e á
rabe
s pa
rece
nã
o te
r oco
rrid
o de
fo
rma
isol
ada
ou
inde
pend
ente
do
proc
esso
de
valo
rizaç
ão,
apro
pria
ção
e re
-sig
nific
ação
de
outra
s pr
átic
as s
ocia
is
cujo
s de
senv
olvi
men
tos,
a
parti
r de
certo
m
omen
to, m
ostra
ram
-se
con
dici
onad
os a
o de
senv
olvi
men
to d
a pr
ópria
prá
tica
soci
al d
o cá
lcul
o es
crito
; - a
exi
stên
cia
de u
ma
tradi
ção
met
odol
ógic
a qu
e ex
erce
um
pod
er
dete
rmin
ante
sob
re a
fo
rma
de tr
ansm
issã
o da
prá
tica
soci
al d
o cá
lcul
o es
crito
no
cont
exto
237
esco
lar,
pode
r est
e qu
e pa
rece
não
est
ar
situ
ado
em u
m ‘t
opos
’ id
entif
icáv
el, m
as q
ue,
mes
mo
assi
m, p
arec
e ex
erce
r-se
de
fora
par
a de
ntro
da
inst
ituiç
ão
esco
lar,
dete
rmin
ando
co
ndut
as e
esc
olha
s pe
dagó
gica
s e,
po
rtant
o, im
pond
o a
apro
pria
ção
de
dete
rmin
ados
va
lore
s qu
e, p
or s
ua
vez,
tam
bém
ser
iam
ve
icul
ados
no
proc
esso
de
tran
smis
são
da
prát
ica
do c
álcu
lo e
scrit
o no
co
ntex
to e
scol
ar. T
al
pode
r se
man
ifest
aria
co
m ta
l int
ensi
dade
e
forç
a na
form
ataç
ão p
adrã
o do
pro
cess
o já
na
tura
lizad
o de
tra
nsm
issã
o da
prá
tica
soci
al d
o cá
lcul
o es
crito
na
esco
la q
ue, t
enta
r de
safiá
-lo, s
eria
um
“ato
de
louc
ura”
. Tal
pod
er
pene
tra
e co
ntro
la o
ato
co
tidia
no d
e fa
zer
cont
as.
238
A
edu
caçã
o se
xual
e s
eus
aves
sos
2010
–
Mes
trado
–
Educ
ação
U
nive
rsid
ade
Fede
ral d
e M
inas
Ger
ais
AU
TOR
: Gus
tavo
B
atis
ta C
have
s O
RIE
NTA
DO
R:
Ana
Lydi
a Be
zerr
a Sa
ntia
go
Form
ação
do
educ
ador
qua
nto
aos
tem
as d
a se
xual
idad
e
- Ofe
rece
r um
cur
so
de fo
rmaç
ão d
e pr
ofes
sore
s qu
anto
ao
s te
mas
da
sexu
laid
ade
que
leve
m e
m
cons
ider
ação
a
subj
etiv
idad
e do
s pr
ofes
sore
s pa
rtici
pant
es d
essa
fo
rmaç
ão
(cur
so d
e fo
rmaç
ão
intit
ulad
o S
exua
lidad
e in
fant
il e
apre
ndiz
agem
, re
aliz
ado
pelo
NIP
SE
– N
úcle
o In
terd
isci
plin
ar d
e Pe
squi
sa e
m
Psic
anál
ise
e E
duca
ção,
em
pa
rcer
ia c
om o
M
inis
tério
da
Edu
caçã
o e
a Pr
ó R
eito
ria d
e E
xten
são
da U
FMG
)
-não
est
á ex
plic
itada
no
resu
mo
Os
traba
lhos
de
Mic
hel F
ouca
ult
e su
a an
alíti
ca
do p
oder
Foi p
ossí
vel e
stab
elec
er
uma
orie
ntaç
ão d
ecis
iva
para
que
o e
duca
dor
poss
a no
rtear
sua
s in
terv
ençõ
es
educ
ativ
as.
A o
rient
ação
se
xual
com
o te
ma
tran
sver
sal e
a
form
ação
de
AU
TOR
A:
Osc
arin
a M
aria
da
Silv
a O
RIE
NTA
DO
R:
Form
ação
dos
pr
ofes
sore
s qu
anto
ao
s te
mas
as
soci
ados
à
sexu
alid
ade.
- Con
hece
r o p
erfil
do
prof
esso
r des
taca
do
para
min
istra
r a
disc
iplin
a O
rient
ação
S
exua
l e v
erifi
car a
- Aná
lise
das
resp
osta
s de
um
qu
estio
nário
abe
rto
aplic
ado
aos
prof
esso
res.
A fund
amen
taçã
o te
óric
a é
com
post
a:
- por
aut
ores
A p
esqu
isa
poss
ibilit
ou
verif
icar
que
: - a
incl
usão
da
disc
iplin
a O
rient
ação
Se
xual
no
dia-
a-di
a
239
prof
esso
res
2005
–
Mes
trado
–
Educ
ação
Fu
ndaç
ão
Uni
vers
idad
e Fe
dera
l do
Piau
í
José
Rib
amar
To
rres
Rod
rigue
s fo
rmaç
ão q
ue e
stão
re
cebe
ndo
esse
s ed
ucad
ores
par
a pr
átic
a em
sal
a de
au
la n
o E
nsin
o Fu
ndam
enta
l de
duas
es
cola
s m
unic
iais
de
Tere
sina
(Pia
uí)
que
abor
dam
te
mát
icas
lig
adas
à
sexu
alid
ade
e à
form
ação
de
prof
esso
res;
de
ntre
est
es,
dest
acam
-se
Mic
hel F
ouca
ult
que
cont
extu
aliz
a hi
stor
icam
ente
as
prim
eira
s co
ncep
ções
so
bre
a se
xual
idad
e do
ho
mem
oc
iden
tal e
de
scre
ve a
s or
igen
s da
O
rient
ação
S
exua
l; M
onts
erra
t M
oren
o e
Ulis
ses
Araú
jo
que
faze
m u
ma
cont
extu
aliz
açã
o hi
stór
ica
e fil
osóf
ica
dos
Tem
as
Tran
sver
sais
em
edu
caçã
o;
- por
aut
ores
qu
e tra
tam
da
form
ação
de
esco
lar,
com
o Te
ma
Tran
sver
sal,
é ne
cess
ária
e p
rem
ente
; -a
pol
ítica
de
form
ação
do
s pr
ofes
sore
s pe
squi
sado
s nã
o es
tá
send
o su
ficie
nte
para
pr
eenc
her a
s la
cuna
s de
ixad
as n
a pr
epar
ação
pr
ofis
sion
al d
e cu
nho
teór
ico-
psic
ológ
ico-
filos
ófic
o-pe
dagó
gico
so
bre
sexu
alid
ade,
par
a a
prát
ica
didá
tico-
peda
gógi
ca n
a es
cola
.
240
prof
esso
res,
co
mo
Ange
l Pér
ez
Góm
ez e
D
onal
d Sh
ön.
C
uida
do d
e Si
e
Educ
ação
M
atem
átic
a:
pers
pect
ivas
, re
flexõ
es e
pr
átic
as d
e at
ores
soc
iais
(1
925-
1945
) 20
07 –
D
outo
rado
–
Educ
ação
M
atem
átic
a U
nive
rsid
ade
Est
adua
l P
aulis
ta/
Cam
pus
de R
io
Cla
ro
AU
TOR
: Ron
aldo
M
arco
s M
artin
s O
RIE
NTA
DO
R:
Ant
onio
Car
los
Car
rera
de
Sou
za
As
prát
icas
soc
iais
de
pro
fess
ores
de
Mat
emát
ica
no B
rasi
l en
tre o
s an
os d
e 19
20 a
194
5.
Con
hece
r e e
xplic
itar
prát
icas
, tát
icas
e
estra
tégi
as p
ara
o cu
idad
o de
si,
utili
zada
s po
r ato
res
soci
ais,
ent
re o
s an
os
de 1
925
e 19
45, n
a re
gião
da
cida
de d
e Ja
ú (S
P)
His
tória
ora
l e D
iário
de
Cam
po: o
mét
odo
utili
zado
par
a re
gist
rar
as v
ozes
de
11
depo
ente
s, c
om
idad
es e
ntre
79
a 93
an
os, f
oi a
His
tória
O
ral,
atra
vés
de
entre
vist
as s
emi-
estru
tura
das,
in
divi
dual
izad
as,
real
izad
as n
as
resi
dênc
ias
dos
depo
ente
s. A
pós
trans
criç
ão,
text
ualiz
ação
e
reor
gani
zaçã
o cr
onol
ógic
a do
s de
poim
ento
s, e
stes
fo
ram
leva
dos
para
ob
tenç
ão d
a ca
rta d
e ce
ssão
.
O re
fere
ncia
l te
óric
o pa
ra
tant
o fo
i a
Her
men
êutic
a do
Suj
eito
de
Mic
hel F
ouca
ult
A p
esqu
isa
cont
ribui
u co
m o
map
eam
ento
da
form
ação
do
prof
esso
r de
Mat
emát
ica
no B
rasi
l e
fom
ento
u di
scus
sões
so
bre
a ut
iliza
ção
de
novo
s m
étod
os e
ab
orda
gens
nos
do
mín
ios
da p
rodu
ção
cien
tífic
a em
Edu
caçã
o M
atem
átic
a.
D
o qu
adro
ne
gro
à te
la d
o co
mpu
tado
r: a
pr
odut
ivid
ade
do
gove
rnam
ento
AU
TOR
A:
Ale
xand
ra d
a si
lva
San
tos
Dal
piaz
O
RIE
NTA
DO
RA
:
Cur
so d
e Fo
rmaç
ão
de p
rofe
ssor
es
(Ped
agog
ia) a
di
stân
cia
Apr
esen
tar e
ana
lisar
as
est
raté
gias
de
gove
rnam
ento
ut
iliza
das
no c
urso
de
Peda
gogi
a a
Dis
tânc
ia d
a
Est
udo
de c
aso
feito
a
parti
r da
anál
ise
de
docu
men
tos
Est
udos
que
se
apro
xim
am d
a pe
rspe
ctiv
a pó
s-es
trutu
ralis
ta,
mai
s
O e
stud
o fe
ito p
erm
ite
afirm
ar q
ue o
cur
so,
atra
vés
Sem
inár
io
Inte
grad
or, i
nves
tiu
num
a he
tero
gene
idad
e de
ativ
idad
es,
241
na
cons
titui
ção
do a
luno
no
Cur
so d
e Pe
dago
gia
a D
istâ
ncia
da
FAC
ED/U
FRG
S 20
09 –
M
estra
do –
Ed
ucaç
ão
Uni
vers
idad
e Fe
dera
l do
Rio
G
rand
e do
Sul
Mar
ia L
uisa
M
erin
o de
Fre
itas
Xav
ier
FAC
ED
/UFR
GS
prec
isam
ente
do
s es
tudo
s de
M
iche
l Fou
caul
t
ente
ndid
as c
omo
estra
tégi
as d
e go
vern
amen
to, q
ue
busc
aram
faze
r as
alun
as a
o fa
lare
m d
e si
, se
mod
ifica
rem
com
o pr
ofes
sora
s e
alun
as.
Nes
se p
roce
sso
de fa
lar
de s
i, po
r mei
o da
es
crita
, as
alun
as fo
ram
m
odifi
cand
o se
us
mod
os d
e ag
ir, d
e pe
nsar
, de
se e
xpre
ssar
co
nstit
uind
o-se
com
o al
unas
des
ejad
as p
elo
curs
o, m
ais
autô
nom
as,
críti
cas
e co
mpr
omet
idas
com
a
prop
osta
do
mes
mo.
Os
dado
s an
alis
ados
ta
mbé
m p
ossi
bilit
am
salie
ntar
, que
no
curs
o de
EAD
est
udad
o, o
s pr
oces
sos
de
acom
panh
amen
to,
cont
role
e re
gula
ção
pode
m s
er v
isto
s co
mo
tão
ou m
ais
efet
ivos
do
que
na m
odal
idad
e pr
esen
cial
.
Da
suje
ição
às
expe
riênc
ias
de c
onst
ruçã
o
AU
TOR
: A
lexa
ndre
Filo
rdi
de C
arva
lho
Form
ação
da
noçã
o de
funç
ão-e
duca
dor
Inve
stig
ar c
omo
a pr
oble
mat
izaç
ão d
o su
jeito
, con
figur
ada
Pesq
uisa
bib
liogr
áfic
a A
s te
oriz
açõe
s de
Mic
hel
Fouc
ault
em:
Ela
bora
ção
de u
m
diag
nóst
ico
para
inst
igar
os
suj
eito
s po
sici
onad
os
242
de s
i na
funç
ão-
educ
ador
: U
ma
leitu
ra
fouc
aulti
ana
2008
–
Dou
tora
do –
Ed
ucaç
ão
Uni
vers
idad
e E
stad
ual d
e C
ampi
nas
OR
IEN
TAD
OR
A:
Reg
ina
Mar
ia d
e So
uza
no p
ensa
men
to d
e M
iche
l Fou
caul
t, é
fund
amen
tal p
ara
delin
ear a
o ed
ucad
or
cont
empo
râne
o um
no
vo c
ampo
co
ncei
tual
e, a
ssim
, of
erec
er-lh
e co
ndiç
ões
para
um
re
posi
cion
amen
to e
ex
perim
enta
ção
de
sua
próp
ria
cons
titui
ção
de v
ida
enqu
anto
su
bjet
ivid
ade
em
cons
truçã
o e
funç
ão-
educ
ador
.
curs
os
min
istra
dos
no
Col
lège
de
Fran
ce (1
974-
1982
); V
igia
r e
Pun
ir; H
istó
ria
da S
exua
lidad
e I –
a v
onta
de d
e sa
ber;
His
tória
da
sex
ualid
ade
II –
o us
o do
s pr
azer
es;
His
tória
da
sexu
alid
ade
III –
o
cuid
ado
de s
i; D
its e
Écr
its.
na fu
nção
-edu
cado
r a
elab
orar
em fe
rram
enta
s qu
e re
ssal
tem
a
mul
tiplic
idad
e do
s m
odos
de
ser.
Nar
rativ
as d
e R
esis
tênc
ia:
Educ
ação
e
Polít
ica
2004
–
Dou
tora
do –
Ed
ucaç
ão
Uni
vers
idad
e Fe
dera
l Fl
umin
ense
AUTO
RA:
Ana
Lu
cia
Coe
lho
Hec
kert
OR
IEN
TAD
OR
A:
Cél
ia F
razã
o S
oare
s Li
nhar
es
Nar
rativ
as d
e re
sist
ênci
a te
cida
s na
s pr
átic
as
esco
lare
s em
mei
o ao
suc
atea
men
to d
a es
cola
púb
lica
Ace
ntua
r as
mem
ória
s in
tens
ivas
da
s lu
tas
que
atra
vess
am a
esc
ola
públ
ica
com
pree
nden
do q
ue
as p
olíti
cas
educ
acio
nais
não
en
volv
em a
pena
s as
aç
ões
form
ulad
as
pelo
Est
ado,
mas
ta
mbé
m a
s lu
tas
cotid
iana
s, fa
zend
o em
ergi
r nov
os
prob
lem
as e
en
gend
rand
o pr
oces
sos
de
auto
nom
ia e
ex
ercí
cios
de
- O re
curs
o m
etod
ológ
ico
utili
zado
fo
i a c
arto
graf
ia-
narr
ativ
a, a
s en
trevi
stas
e a
pe
squi
sa d
ocum
enta
l -In
vest
igaç
ão d
os
emba
tes
e te
nsõe
s qu
e pe
rmei
am a
im
plem
enta
ção
das
prop
osta
s po
lític
o-pe
dagó
gica
s da
E
scol
a C
idad
ã/P
orto
A
legr
e, E
scol
a P
lura
l/Bel
o H
oriz
onte
e
Esco
la
Cab
ana/
Belé
m
Ent
recr
uzam
ent
o do
s ap
orte
s te
óric
os
advi
ndos
, pr
inci
palm
ente
, do
s tra
balh
os
de M
arx,
Mic
hel
Fouc
ault
e W
alte
r Be
njam
in
Est
es e
stud
o re
ssal
tou
que
no c
otid
iano
de
traba
lho
na e
scol
a pú
blic
a, fo
rjam
-se
exer
cíci
os d
e re
sist
ênci
a,
impr
evis
ívei
s, q
ue
prod
uzem
bifu
rcaç
ões
nas
prát
icas
ed
ucac
iona
is,
dese
stab
iliza
ndo
os
proc
esso
s na
tura
lizad
os
que
atra
vess
am e
sse
cotid
iano
.
243
resi
stên
cia.
A
ress
igni
ficaç
ão
da e
duca
ção
a di
stân
cia
no
ensi
no
supe
rior d
o B
rasi
l e a
fo
rmaç
ão d
e pr
ofes
sore
s de
ci
ênci
as e
m
atem
átic
a 20
10 –
M
estra
do –
E
nsin
o de
C
iênc
ias
Uni
vers
idad
e de
São
Pau
lo
AUTO
RA:
Ana
P
aula
de
Lim
a B
arbo
sa
OR
IEN
TAD
OR
A:
Ade
laid
e Fa
ljoni
-Al
ario
Form
ação
de
prof
esso
res
de
Ciê
ncia
s e
Mat
emát
ica
a di
stân
cia
(Lic
enci
atur
as)
Rev
elar
a
ress
igni
ficaç
ão d
a ed
ucaç
ão a
dis
tânc
ia
para
o E
nsin
o S
uper
ior,
prin
cipa
lmen
te p
ara
a fo
rmaç
ão d
e pr
ofes
sore
s
Aná
lise
de d
iscu
rso
de d
ocum
ento
s of
icia
is
Trab
alho
s de
M
iche
l Fou
caul
t O
resu
mo
não
apre
sent
a os
resu
ltado
s
A C
onst
ituiç
ão
da
Subj
etiv
idad
e D
ocen
te: p
ara
além
de
uma
lógi
ca d
ual
1999
–
Dou
tora
do –
Ed
ucaç
ão
Pont
ifíci
a U
nive
rsid
ade
Cat
ólic
a do
Rio
AU
TOR
A :
Ana
mar
ia L
opes
C
olla
O
RIE
NTA
DO
RE
S: M
arilu
Fon
tour
a de
Med
eiro
e
Per
gent
ino
Ste
fano
Piv
atto
Con
stru
ção
da
subj
etiv
idad
e do
cent
e na
s so
cied
ades
ca
pita
lista
s m
oder
nas
Iden
tific
ar a
co
nstru
ção
de
regi
mes
de
verd
ade
nos
espa
ços
inst
ituci
onai
s ed
ucat
ivos
que
po
dem
pro
duzi
r, en
quan
to e
feito
do
pode
r, ta
nto
o su
jeito
as
suje
itado
qua
nto
o su
jeito
livr
e, a
travé
s de
jogo
s es
traté
gico
s de
pod
er o
u de
jogo
s de
libe
rdad
e;
Não
há
refe
rênc
ia n
o re
sum
o so
bre
a m
etod
olog
ia e
in
stru
men
tos
de
cole
ta d
e da
dos
A te
oria
de
Mic
hel F
ouca
ult
Não
há
refe
rênc
ia n
o re
sum
o so
bre
os
resu
ltado
s ob
tidos
244
Gra
nde
do S
ul
- Ide
ntifi
car o
s ef
eito
s co
erci
tivos
dos
jogo
s de
ver
dade
de
senv
olvi
dos
nas
esco
las
de e
xerc
ício
do
cent
e e
de
form
ação
de
prof
esso
res:
efe
itos
que
inib
em a
fala
e
redu
zem
a
capa
cida
de p
olíti
ca d
o su
jeito
ao
extra
ir de
le
a m
áxim
a ut
ilida
de e
su
bmis
são
O
CO
RPO
, A
EDU
CA
ÇÃ
O
FÍSI
CA
E O
C
UR
SO
NO
RM
AL
REG
ION
AL:
M
EMÓ
RIA
S D
O IN
STIT
UTO
ES
TAD
UA
L D
E ED
UC
AÇ
ÃO
PO
NC
HE
VER
DE
2010
–
Mes
trado
–
Educ
ação
Fí
sica
U
nive
rsid
ade
Fede
ral d
e
AUTO
RA:
Ang
ela
Alve
s do
s Pa
ssos
O
RIE
NTA
DO
R:
Luiz
Car
los
Rig
o
Cur
so d
e fo
rmaç
ão
de p
rofe
ssor
es
Nor
mal
Reg
iona
l (1
954
-197
1) e
a
Edu
caçã
o Fí
sica
po
sta
em p
rátic
a ne
ste
espa
ço
educ
ativ
o.
Con
stru
ir as
m
emór
ias
do In
stitu
to
Est
adua
l de
Edu
caçã
o P
onch
e,
situ
ado
no m
unic
ípio
de
Pira
tini –
RS
Fora
m u
tiliz
adas
fo
ntes
esc
ritas
(d
ocum
ento
s in
stitu
cion
ais,
ata
s,
rela
tório
s, d
ecre
tos,
le
is, r
epor
tage
ns d
e jo
rnai
s da
cid
ade,
et
c.),
font
es
imag
étic
as e
de
poim
ento
s or
ais
de
antig
os m
embr
os d
a es
cola
Ref
erên
cia
teór
ico-
met
odol
ógic
a a
conc
epçã
o de
hi
stór
ia d
e M
iche
l Fou
caul
t, os
est
udos
de
mem
ória
e o
s pr
incí
pios
m
etod
ológ
icos
da
His
tória
Ora
l
A co
nclu
são
da
pesq
uisa
ass
inal
ou
com
o o
Cur
so N
orm
al
Reg
iona
l “P
onch
e V
erde
” foi
um
cen
tro
irrad
iado
r de
educ
ação
e
da c
ultu
ra, n
a ci
dade
e
na re
gião
, que
atu
ou
paut
ado
por p
rincí
pios
de
mor
al, b
ons
cost
umes
e d
o ci
vism
o e,
com
o a
uxíli
o da
E
duca
ção
Físi
ca
(mét
odos
gin
ástic
os)
ajud
ou n
a co
nstit
uiçã
o de
um
cor
po
disc
iplin
ado
e co
rdia
l ao
s di
scur
sos
e as
no
rmas
soc
iais
vig
ente
s na
s di
fere
ntes
épo
cas.
245
Pel
otas
D
AS
TEC
NO
LOG
IAS
DE
POD
ER
SOB
RE
O
CO
RPO
À
VIVÊ
NC
IA D
A
CO
RPO
REI
DA
DE
- A
CO
NST
RU
ÇÃ
O
DA
OFI
CIN
A
CO
MO
ES
PAÇ
O
EDU
CAT
IVO
19
96 –
M
estr
ado
– Ed
ucaç
ão
Uni
vers
idad
e Fe
dera
l de
Sant
a C
atar
ina
AU
TOR
: Ant
onio
Fe
rnan
do
Silv
eira
Gue
rra
OR
IEN
TAD
OR
A:
Mar
ia O
ly P
ey
Form
ação
inic
ial d
e pr
ofes
sore
s
- ide
ntifi
car c
omo
se
prod
uziu
a c
onst
ruçã
o hi
stór
ica
de u
ma
[vis
ão m
ecan
icis
ta d
o co
rpo
hum
ano]
, ain
da
mui
to p
rese
nte
nas
prát
icas
dis
curs
ivas
do
ens
ino
de C
iênc
ias
e B
iolo
gia
- des
crev
er a
co
nstru
ção
da p
rátic
a ed
ucac
iona
l por
mei
o da
ofic
ina
"Nos
so
corp
o - e
sse
(des
)con
heci
do",
com
o u
m e
spaç
o de
co
nviv
enci
alid
ade
Não
há
refe
rênc
ia n
o re
sum
o so
bre
a m
etod
olog
ia e
in
stru
men
tos
de
cole
ta d
e da
dos
Teor
izaç
ões
de
Mic
hel F
ouca
ult
quan
to à
s
tecn
olog
ias
de
pode
r com
o pr
odut
oras
da
subj
etiv
idad
e,
anál
ise
gene
alóg
ica
e an
ális
e ar
queo
lógi
ca.
Não
há
refe
rênc
ia n
o re
sum
o so
bre
os
resu
ltado
s ob
tidos
O u
so d
e vi
sual
izaç
ões
no e
nsin
o de
qu
ímic
a: a
fo
rmaç
ão
inic
ial d
o pr
ofes
sor d
e qu
ímic
a 20
10 –
M
estra
do –
E
nsin
o de
AU
TOR
A: C
eles
te
Rod
rigue
s Fe
rrei
ra
OR
IEN
TAD
OR
: Ag
nald
o Ar
roio
Form
ação
inic
ial d
o pr
ofes
sor d
e Q
uím
ica
Con
hece
r e a
nalis
ar
as c
once
pçõe
s do
s al
unos
de
uma
turm
a de
lice
ncia
tura
em
Q
uím
ica
da U
SP
(U
nive
rsid
ade
de S
ão
Pau
lo),
sobr
e o
uso
de v
isua
lizaç
ões
no
ensi
no d
e Q
uím
ica
- Obs
erva
ção
das
aula
s de
Met
odol
ogia
de
Quí
mic
a II,
dur
ante
um
sem
estre
; - f
oi a
plic
ado
um
ques
tioná
rio p
ara
alun
os m
atric
ulad
os
na L
icen
ciat
ura
em
Quí
mic
a - f
oram
esc
olhi
dos
As
teor
izaç
ões
de M
iche
l Fo
ucau
lt so
bre
anál
ise
do
disc
urso
A pe
squi
sa c
oncl
ui q
ue:
- o d
iscu
rso
dest
es
futu
ros
prof
esso
res,
ac
erca
do
uso
de
visu
aliz
açõe
s,
apre
sent
a co
mo
prin
cipa
is re
fere
ntes
a
natu
reza
abs
trata
dos
co
ncei
tos
quím
icos
e a
ca
paci
dade
que
as
visu
aliz
açõe
s ap
rese
ntam
par
a
246
Ciê
ncia
s U
nive
rsid
ade
de
São
Paul
o
dois
gru
pos
de s
ete
alun
os q
ue
resp
onde
ram
os
ques
tioná
rios,
aos
qu
ais
fora
m
entre
vist
ados
(e
ntre
vist
a se
mi-
estru
tura
da)
- for
am a
nalis
ados
re
lató
rios
prod
uzid
os
pelo
s al
unos
en
trevi
stad
os,
rela
tório
s es
ses
sobr
e um
min
i-cur
so
min
istra
dos
por e
les
a al
unos
do
Ens
ino
Méd
io.
- a a
nális
e de
stes
di
scur
sos
(que
stio
nário
e
entre
vist
as,
rela
tório
s pr
oduz
idos
pel
os
alun
os e
ntre
vist
ados
)
torn
arem
as
aula
s de
Q
uím
ica
mai
s in
tere
ssan
tes
para
ca
ptar
a a
tenç
ão d
os
alun
os e
de
torn
arem
os
conc
eito
s qu
ímic
os
mai
s pr
óxim
os d
o co
tidia
no;
- nos
enu
ncia
dos
dest
es
disc
urso
s ap
arec
em
asso
ciad
os e
nunc
iado
s de
out
ros
dom
ínio
s di
scur
sivo
s (m
ídia
, pu
blic
idad
e, d
a ps
icol
ogia
cog
nitiv
a,
etc.
); - V
erifi
ca-s
e ig
ualm
ente
ne
stes
enu
ncia
dos
a pr
esen
ça d
e pr
átic
as d
a in
stitu
ição
que
fre
qüen
tam
(os
alun
os),
das
prát
icas
dos
seu
s pr
ofes
sore
s da
gr
adua
ção,
da
indú
stria
in
form
átic
a (d
omín
ios
não
disc
ursi
vos)
; - e
ste
disc
urso
est
á as
soci
ado
a u
m
conj
unto
de
prát
icas
nã
o di
scur
siva
s re
laci
onad
as c
om o
uso
da
s fe
rram
enta
s vi
suai
s.
Ref
orm
a,
AU
TOR
: H
istó
ria d
a ed
ucaç
ão
Dem
onst
rar a
s A
nális
e de
Te
oriz
açõe
s de
A
pesq
uisa
con
clui
que
247
Ciê
ncia
e
Prof
issi
onal
iza
ção
da
Educ
ação
: o
Cen
tro
De
Pesq
uisa
s e
Orie
ntaç
ão
Educ
acio
nais
do
Rio
Gra
nde
do S
ul
2007
–
Dou
tora
do –
Ed
ucaç
ão
Uni
vers
idad
e Fe
dera
l do
Rio
G
rand
e do
Sul
Cla
udem
ir de
Q
uadr
os
OR
IEN
TAD
OR
A:
Mar
ia S
teph
anou
do R
io G
rand
e do
Su
l, en
tre o
s an
os d
e 19
37 e
197
1. T
em
com
o fo
co o
Cen
tro
de P
esqu
isas
e
Orie
ntaç
ão
Educ
acio
nais
- C
PO
E/R
S -,
órgã
o vi
ncul
ado
à S
ecre
taria
da
Edu
caçã
o e
Cul
tura
do
Est
ado
- SEC
/RS
, cr
iado
em
194
3.
cond
içõe
s de
em
ergê
ncia
, de
inse
rção
e d
e fu
ncio
nam
ento
des
se
órgã
o, c
om v
ista
s a
com
pree
nder
, na
sua
espe
cific
idad
e, o
s m
odos
pel
os q
uais
o
sist
ema
educ
ativ
o fo
i to
rnad
o ob
jeto
de
refo
rma
e co
mo
certo
s di
scur
sos
se
inst
ituíra
m e
nqua
nto
verd
ades
, pro
duzi
ndo
sign
ifica
dos
acer
ca d
a ed
ucaç
ão n
o R
io
Gra
nde
do S
ul
docu
men
tos
escr
itos
(cor
resp
ondê
ncia
s of
icia
is, j
orna
is,
perió
dico
s, le
is,
decr
etos
e a
tos,
de
ntre
out
ros)
, bem
co
mo
de d
ocum
ento
s or
ais
- nar
rativ
as d
e m
emór
ias.
Tai
s do
cum
ento
s fo
ram
co
nceb
idos
com
o pr
átic
as d
iscu
rsiv
as,
mon
umen
tos,
se
gund
o a
estra
tégi
a an
alíti
ca a
dota
da e
in
spira
da n
a ob
ra d
e M
iche
l Fou
caul
t.
Mic
hel F
ouca
ult
acer
ca d
a an
ális
e do
di
scur
so
O C
POE/
RS
inst
ituci
onal
izou
-se
com
o um
a op
eraç
ão
delib
erad
a do
gov
erno
, qu
e fix
ou e
m p
roje
to
polít
ico
as in
stitu
içõe
s e
proc
edim
ento
s qu
e en
tend
eu fo
ssem
ap
ropr
iado
s. F
oi o
re
sulta
do d
e di
scur
sos
que
defe
ndia
m a
ef
icác
ia, o
ap
rove
itam
ento
de
recu
rsos
e, s
obre
tudo
, a
difu
são
e co
nsol
idaç
ão
de a
lgun
s sa
bere
s ed
ucac
iona
is q
ue
busc
am le
gitim
ar-s
e en
quan
to u
m s
aber
pe
dagó
gico
nov
o e
mod
erno
, por
que
expe
rimen
tal e
ci
entíf
ico.
His
tória
e
mem
ória
da
AU
TOR
A:
Cris
tiane
Fei
tosa
C
onst
ituiç
ão d
o su
jeito
pro
fess
or
Com
pree
nder
que
tipo
de
H
istó
ria o
ral
- Nov
a H
istó
ria
Cul
tura
l, C
omo
resu
ltado
s, a
pe
squi
sa a
pres
enta
:
248
Esco
la N
orm
al
Ofic
ial d
e Pi
cos
(196
7-19
87)
2007
–
Mes
trado
–
Educ
ação
Fu
ndaç
ão
Uni
vers
idad
e Fe
dera
l do
Piau
í
Pinh
eiro
O
RIE
NTA
DO
RA
: M
aria
do
Ampa
ro
Borg
es F
erro
a co
nstit
uiçã
o do
su
jeito
pro
fess
or, n
o es
paço
da
Esco
la
Nor
mal
Ofic
ial d
e Pi
cos
(EN
OP)
, du
rant
e os
ano
s de
19
67 a
198
7.
resp
alda
ndo-
se
nos
conc
eito
s te
óric
os d
e Ja
cque
s Le
G
off,
Pete
r B
urke
, Rog
er
Cha
rtier
, Mic
hel
de C
erte
au,
Pau
l Tho
mps
on,
Mic
hel P
olla
k e
Mau
rice
Hal
bwac
hs,
além
dos
co
ncei
tos
de
Mic
hel F
ouca
ult
em to
rno
da
soci
edad
e di
scip
linar
e d
os
sist
emas
de
vigi
lânc
ia e
ca
stig
o.
- Anc
orou
-se
tam
bém
nas
pe
squi
sas
em
educ
ação
de
Agus
tín
Esc
olan
o, M
aria
C
ecíli
a C
orte
z C
hris
tiano
de
Sou
za, A
ntôn
io
Vinã
o Fr
ago
e Irl
en A
nton
io
Gon
çalv
es e
Lu
cian
o M
ende
s de
-os
mot
ivos
que
le
vara
m à
fund
ação
da
Esc
ola
Nor
mal
Ofic
ial
de P
icos
; - a
sis
tem
átic
a de
fu
ncio
nam
ento
da
Esc
ola
Nor
mal
Ofic
ial
de P
icos
, des
taca
ndo-
se a
rela
ção
entre
al
unos
e p
rofe
ssor
es,
as p
rátic
as d
os
prof
esso
res,
as
repr
esen
taçõ
es e
m
torn
o da
esc
ola,
as
fest
as e
m q
ue a
esc
ola
parti
cipa
va e
ativ
idad
es
que
envo
lvia
m a
s no
rmal
ista
s;
- o s
iste
ma
de n
orm
as
vige
ntes
na
Esc
ola
Nor
mal
Ofic
ial d
e P
icos
e
a qu
e el
as v
isav
am;
- a im
portâ
ncia
des
sa
esco
la p
ara
a ci
dade
de
Pico
s-P
i e s
ua
mac
rorr
egiã
o, e
nqua
nto
agên
cia
form
ador
a de
pr
ofes
sore
s pr
imár
ios;
- a
cul
tura
esc
olar
pr
ópria
da
EN
OP,
com
o ge
rado
ra d
e um
tipo
es
pecí
fico
de p
rofe
ssor
:
249
Faria
Filh
o,
tam
bém
es
tudi
osos
do
cam
po d
a hi
stór
ia d
a ed
ucaç
ão.
dóci
l e ú
til, c
apaz
de
se
ajus
tar a
o m
odel
o de
E
stad
o ex
iste
nte
e à
soci
edad
e lo
cal e
que
so
ubes
se c
umpr
ir as
no
rmas
da
esco
la a
que
se
vin
cula
ssem
. A
mul
her
prof
esso
ra:
gêne
ro e
fo
rmaç
ão
2003
–
Mes
trado
–
Educ
ação
U
nive
rsid
ade
de
Ube
raba
AU
TOR
: Fab
io
Vas
conc
elos
O
RIE
NTA
DO
RA
: An
a M
aria
Fa
ccio
li de
C
amar
go
Con
stitu
ição
da
mul
her e
duca
dora
no
Bras
il
- evi
denc
iar c
omo
e po
rque
a m
ulhe
r e
não
o ho
mem
foi,
prog
ress
ivam
ente
, se
ndo
imbu
ída
do
pape
l de
educ
ador
a;
- Inv
estig
ar a
s ci
rcun
stân
cias
hi
stór
ico-
disc
ursi
vas
em q
ue s
e in
sere
a
cons
titui
ção
da
mul
her e
duca
dora
no
Bra
sil e
, mai
s es
peci
ficam
ente
, em
M
inas
Ger
ais.
- C
ircun
scre
ver a
s ev
idên
cias
do
proc
esso
dis
curs
ivo
relig
ioso
nas
re
pres
enta
ções
das
pr
ofes
sora
s so
bre
suas
funç
ões
peda
gógi
cas.
-
Infe
rir o
s en
trecr
uzam
ento
s da
lin
guag
em c
ristã
O c
orpu
s de
aná
lise
do d
iscu
rso
é a
Bíb
lia
e a
form
a co
mo
o di
scur
so re
ligio
so
atra
vess
a os
pap
éis
fem
inin
os, u
ma
vez
que,
gra
nde
parte
das
pr
ofes
sora
s m
inei
ras
pass
ou p
or e
scol
as
conf
essi
onai
s.
Est
udos
C
ultu
rais
a
parti
r do
pós-
estru
tura
lism
o e
suas
im
plic
açõe
s na
s qu
estõ
es d
e gê
nero
: os
fund
amen
tos
teór
icos
fora
m
busc
ados
em
M
iche
l Fou
caul
t; G
uaci
ra L
opes
Lo
uro;
Mar
y de
l P
riore
; Tom
ás
Tade
u da
Silv
a;
Jorg
e La
rros
a;
Jura
ndir
Cos
ta
Frei
re; M
iche
le
Per
rot ,
ent
re
mui
tos
outro
s(as
). N
esse
s (a
s)
auto
res(
as)
enco
ntra
m-s
e el
emen
tos
para
an
alis
ar a
co
nstru
ção
hist
óric
a da
s
A p
esqu
isa
com
põe-
se
em u
ma
rele
itura
de
algu
ns te
xtos
bíb
licos
re
lativ
os à
mul
her,
na
tent
ativ
a de
enc
ontra
r os
mec
anis
mos
de
pode
r-sa
ber q
ue
mar
cara
m o
s pr
oces
sos
disc
ursi
vos
que
fora
m
cons
titui
ndo
a nó
s,
hom
ens
e m
ulhe
res,
co
mo
suje
itos
leito
res
e co
nstru
t Int
erfa
ces
de
gêne
ro e
relig
iosi
dade
na
form
ação
da
prof
esso
ra m
inei
ra.
250
(esp
ecia
lmen
te d
a Ig
reja
cat
ólic
a) c
om
as fo
rmas
com
o a
mul
her p
rofe
ssor
a se
re
laci
ona
cons
igo
mes
ma
e co
m o
s ou
tros,
nos
mea
ndro
s de
pod
er d
o es
paço
es
cola
r
dife
renç
as d
e se
xo e
gên
ero,
o
imag
inár
io d
a e
sobr
e a
mul
her
educ
ador
a e
a pr
oduç
ão d
e su
a su
bjet
ivid
ade.
A
FO
RM
AÇ
ÃO
D
E PR
OFE
SSO
RE
S N
O C
UR
SO
DE
PED
AG
OG
IA À
LU
Z D
O
PEN
SAM
ENTO
D
E M
ICH
EL
FOU
LCA
LT
2006
–
Mes
trado
–
Educ
ação
Po
ntifí
cia
Uni
vers
idad
e C
atól
ica
do
Par
aná
AU
TOR
A:
Ger
alda
de
Fátim
a Lo
pes
Pasc
hoal
O
RIE
NTA
DO
R:
Per
i Mes
quid
a
Cur
sos
de fo
rmaç
ão
de p
rofe
ssor
es
Ver
ifica
r se
os
mec
anis
mos
de
cont
role
est
ão
expr
esso
s no
s di
scur
sos
dos
curs
os
de fo
rmaç
ão d
e pr
ofes
sore
s em
qu
estã
o.
Pes
quis
a do
cum
enta
l: an
ális
e in
terp
reta
tiva
de
Doc
umen
tos
(em
enta
s, P
roje
to
Inst
ituci
onal
e
Org
aniz
ação
Did
átic
o-pe
dagó
gica
) de
pro
gram
as d
e ap
rend
izag
em d
os
curs
os F
orm
ação
de
Pro
fess
ores
e d
e P
edag
ogia
(li
cenc
iatu
ra) d
e um
a in
stitu
ição
de
ensi
no
supe
rior p
rivad
a.
Pen
sam
ento
de
Mic
hel F
ouca
ult
e su
a pr
esen
ça
na e
duca
ção
esco
lar
apre
sent
ando
os
três
m
omen
tos
de
sua
traje
tória
: A
rque
olog
ia,
Gen
ealo
gia
e É
tico
com
o
obje
tivo
de
dest
acar
o ti
po
de re
laçã
o sa
ber/p
oder
; al
ém d
os
segu
inte
s au
tore
s:
Rob
erto
M
acha
do; J
osé
Gui
lher
me
Mer
quio
r e
Ren
ato
Jani
ne
Rib
eiro
.
A p
esqu
isa
conc
lui q
ue:
- o p
oder
dis
cipl
inar
, pr
esen
te n
as
inst
ituiç
ões
de e
nsin
o,
prod
uz u
m c
ampo
de
sabe
r sob
re o
alu
no, o
pr
ofes
sor,
o en
sino
e a
av
alia
ção;
- o
pod
er d
e co
ntro
le s
e en
cont
ra d
ispo
sto
nas
emen
tas
e no
s cr
itério
s de
ava
liaçã
o do
s Pr
ogra
mas
de
Apr
endi
zage
m;
-o c
ontro
le e
stá
pres
ente
em
toda
s as
et
apas
do
prog
ram
a e
em to
das
as d
isci
plin
as;
-o c
once
ito d
e di
scip
lina
está
pre
sent
e no
pr
ogra
ma
de fo
rmaç
ão
de p
rofe
ssor
es, e
m
vigo
r a p
artir
de
2000
, no
s cu
rsos
de
251
Peda
gogi
a e
de
Form
ação
de
Prof
esso
res
da
inst
ituiç
ão e
m q
uest
ão.
C
urríc
ulo
e Pr
átic
a D
ocen
te:
form
ação
te
óric
a do
s al
unos
do
curs
o de
Li
cenc
iatu
ra
Plen
a em
H
istó
ria d
a U
nive
rsid
ade
Esta
dual
do
Piau
í 20
00 –
M
estra
do –
Ed
ucaç
ão
Fund
ação
U
nive
rsid
ade
Fede
ral d
o Pi
auí
AU
TOR
: Joã
o B
atis
ta V
ale
Júni
or
OR
IEN
TAD
OR
: Ta
nya
Mar
ia P
ires
Bra
ndão
Mod
elos
teór
icos
que
no
rteia
m o
ens
ino
supe
rior d
e hi
stór
ia
na U
nive
rsid
ade
Esta
dual
do
Piau
í
Ava
liar a
rela
ção
exis
tent
e en
tre o
cu
rríc
ulo
form
al e
a
prát
ica
doce
nte,
e
espe
cial
men
te a
in
fluên
cia
exer
cida
po
r est
a re
laçã
o so
bre
a fo
rmaç
ão te
óric
a do
s al
unos
do
Cur
so
de L
icen
ciat
ura
Ple
na
em H
istó
ria d
a re
ferid
a in
stitu
ição
- Apl
icaç
ão d
e ta
refa
s de
cla
ssifi
caçã
o de
fic
has
cont
endo
co
ncei
tos
de v
erda
de
hist
óric
a, fa
to h
istó
rico
e ca
usal
idad
e hi
stór
ica
aos
doce
nte
e di
scen
te;
- ap
licaç
ão d
e qu
estio
nário
aos
do
cent
e
Ref
lexõ
es d
e M
iche
l Fou
caul
t, P
ierr
e B
ourd
ieu
e Jü
rgen
H
aber
mas
so
bre
as
rela
ções
ent
re
lingu
agem
e
pode
r; os
es
tudo
s de
Jos
é Lu
z D
omin
gues
so
bre
a re
laçã
o ex
iste
nte
entre
in
tere
sses
hu
man
os e
pa
radi
gmas
cu
rric
ular
es e
as
con
cepç
ões
de A
dam
Sch
aff
sobr
e as
di
fere
ntes
co
ncep
ções
de
verd
ade
em
hist
ória
.
A co
nclu
são
reve
lou:
-
A d
isco
rdân
cia
entre
a
conc
epçã
o de
his
tória
pr
edom
inan
te n
o cu
rríc
ulo
e a
conc
epçã
o de
his
tória
pr
edom
inan
te e
ntre
o
corp
o do
cent
e -
Um
a m
aior
influ
ênci
a do
dis
curs
o do
pr
ofes
sor s
obre
a
form
ação
teór
ica
do
alun
ado;
-
Um
a m
aior
ade
são
do
corp
o do
cent
e, b
em
com
o de
alu
nos
dos
bloc
os in
term
ediá
rio e
fin
al d
o cu
rso
ao
mod
elo
teór
ico
resu
ltant
e do
par
adig
ma
dos
Ann
ales
.
CO
NH
ECIM
ENTO
: LIM
ITES
E
POSS
IBIL
IDA
DES
NA
FO
RM
AÇ
ÃO
AU
TOR
A: L
ilian
A
uxili
ador
a M
acie
l C
ardo
so
OR
IEN
TAD
OR
A:
A fo
rmaç
ão d
o pr
ofes
sor e
nqua
nto
proc
esso
de
form
ação
de
uma
iden
tidad
e
Rel
acio
nar o
dis
curs
o re
fere
ndad
o e
diss
emin
ado
na
acad
emia
e a
s id
entid
ades
"ves
tidas
"
Pesq
uisa
bib
liogr
áfic
a R
efer
enci
al
teór
ico
de
Mic
hel F
ouca
ult
A p
esqu
isa
mos
trou
que
dife
rent
es d
iscu
rsos
têm
si
do a
cirr
ados
com
o bl
ocos
tátic
os n
o pr
oces
so d
e fo
rmaç
ão
252
DO
PR
OFE
SSO
R
1999
–
Mes
trado
–
Educ
ação
U
nive
rsid
ade
do
Est
ado
do R
io
de J
anei
ro
l
Siom
ara
Borb
a Le
ite
prof
issi
onal
pe
los
prof
esso
res
do p
rofe
ssor
e
poss
ibili
tou
com
pree
nder
que
os
limite
s e
poss
ibili
dade
s do
nos
so p
ensa
r, ag
ir e
ser n
ão s
ão d
efin
itivo
s,
pode
ndo
ser
expa
ndid
os o
u re
duzi
dos
no b
ojo
das
múl
tipla
s re
laçõ
es
esta
bele
cida
s po
r di
fere
ntes
ato
res,
em
di
vers
os e
spaç
os
/tem
pos
Doc
ênci
a A
rtis
ta: A
rte,
Es
tétic
a de
si e
Su
bjet
ivid
ades
Fe
min
inas
20
05 –
D
outo
rado
–
Educ
ação
U
nive
rsid
ade
Fede
ral d
o R
io
Gra
nde
do S
ul
AU
TOR
A:
Luci
ana
Gru
ppel
li Po
nte
OR
IEN
TAD
OR
A:
Ros
a M
aria
Bu
eno
Fish
er
Form
ação
doc
ente
em
Arte
es
tabe
lece
r um
a re
laçã
o en
tre g
êner
o,
arte
s vi
suai
s e
ensi
no
de a
rte, a
par
tir d
e um
a pr
oble
mat
izaç
ão
que
se fa
z em
três
te
mpo
s: o
mito
da
geni
alid
ade
artís
tica
e do
suj
eito
cria
dor,
arte
e
imag
ens
de
mul
here
s e
uma
esté
tica
da in
timid
ade
pres
ente
nas
arte
s do
més
ticas
fem
inin
as
-- p
rocu
rand
o ar
ticul
á-lo
s co
m a
pro
duçã
o da
doc
ênci
a em
arte
Aná
lise
docu
men
tal
(text
os d
iver
sos,
ca
rtas,
mem
oria
is,
portf
ólio
s, d
iário
s de
ca
mpo
)
A p
artir
das
te
oriz
açõe
s de
M
iche
l Fou
caul
t so
bre
esté
tica
da e
xist
ênci
a,
étic
a, e
scrit
a de
si
e re
laçõ
es d
e am
izad
e,
prob
lem
atiz
a-se
a
poss
ibili
dade
de
um
a do
cênc
ia a
rtist
a
A pe
squi
sa c
oncl
ui q
ue
A d
ocên
cia
artis
ta e
m
deba
te n
esta
tese
co
ntra
põe-
se a
um
a do
cênc
ia p
aste
uriz
ada,
ou
a m
odel
os fe
itos
para
ves
tir, m
arca
da p
or
rótu
los
de m
anua
is
didá
ticos
, end
ereç
ados
a
supo
stas
“pro
fess
oras
cr
iativ
as”
Car
togr
afia
da
s re
laçõ
es
de s
aber
-po
der,
na
form
ação
de
AU
TOR
: Lu
ísa
San
tos
Pont
ello
O
RIE
NTA
DO
R:
Prá
tica
peda
gógi
ca
de p
rofe
ssor
es
form
ador
es d
e pr
ofes
sore
s de
M
atem
átic
a
Iden
tific
ar a
s re
laçõ
es
de s
aber
/pod
er
pres
ente
s no
ens
ino
de M
atem
átic
a, n
os
curs
os d
e P
edag
ogia
- São
car
togr
afad
as
as tr
ajet
ória
s de
fo
rmaç
ão,
cons
titui
ção
de
sabe
res
e pr
átic
a do
s
Est
udos
de
Mic
hel F
ouca
ult
sobr
e o
disc
urso
e a
in
stitu
ição
dos
A p
esqu
isa:
-in
dica
que
os
prof
esso
res
que
traba
lham
com
os
cont
eúdo
s de
ens
ino
de
253
prof
esso
res
de
Mat
emát
ica,
na
s un
iver
sida
des
públ
icas
de
Fort
alez
a M
estra
do –
20
09 –
Ed
ucaç
ão
Uni
vers
idad
e E
stad
ual d
o C
eará
Ant
onio
Ger
man
o M
agal
hães
Jún
ior
e Li
cenc
iatu
ra e
m
Mat
emát
ica,
nas
U
nive
rsid
ades
pú
blic
as d
e Fo
rtale
za
form
ador
es q
ue
traba
lham
os
cont
eúdo
s de
ens
ino
de M
atem
átic
a;
- As
font
es d
e pe
squi
sa
cons
tituí
ram
-se
das
entre
vist
as d
os
prof
esso
res
e de
do
cum
ento
s da
s In
stitu
içõe
s/pr
ogra
ma
s de
form
ação
, com
o m
atriz
es c
urric
ular
es
de é
poca
s di
stin
tas,
hi
stór
icos
dos
cur
sos
e In
stitu
içõe
s
valo
res
de
verd
ade
cons
titui
ndo
os
espa
ços
de
sabe
r-po
der;
estu
dos
de
Mau
rice
Tard
if so
bre
os
sabe
res
e pr
átic
as
doce
ntes
.
Mat
emát
ica
nos
curs
os
de P
edag
ogia
e
Lice
ncia
tura
em
M
atem
átic
a pe
squi
sado
s,
adqu
irira
m, e
m s
ua
traje
tória
, sab
eres
m
atem
átic
os e
sab
eres
da
edu
caçã
o, q
ue
pode
m o
u nã
o te
r sid
o ob
tidos
nas
inst
ituiç
ões
form
ativ
as
- ind
ica
que,
qua
nto
às
rela
ções
de
sabe
r/pod
er, o
s do
cent
es re
conh
ecem
a
auto
ridad
e da
quel
es
com
que
m
com
parti
lham
o d
iscu
rso
de v
erda
de, m
esm
o qu
e nã
o at
uem
nos
refe
ridos
cu
rsos
. A
edu
caçã
o se
xual
: mas
qu
al?
Dire
triz
es p
ara
form
ação
de
prof
esso
res
em u
ma
pers
pect
iva
eman
cipa
tória
20
09 –
D
outo
rado
–
Educ
ação
AU
TOR
A: M
aísa
M
agan
ha
Tuck
man
tel
OR
IEN
TAD
OR
: C
ésar
Apa
reci
do
Nun
es
Form
ação
de
prof
esso
res
quan
to
aos
tem
as d
a se
xual
idad
e
- Ide
ntifi
car e
ana
lisar
as
con
cepç
ões
e pr
átic
as d
ocen
tes
acer
ca d
o pr
oces
so
de e
nsin
o –
apre
ndiz
agem
da
sexu
alid
ade
hum
ana
na e
scol
a bá
sica
, e, a
pa
rtir d
a ed
ucaç
ão
sexu
al q
ue
efet
ivam
ente
tem
os,
refle
tir s
obre
as
dire
trize
s
Mét
odo
dial
étic
o;
com
o té
cnic
as d
e pe
squi
sa fo
ram
ut
iliza
das
a ob
serv
ação
pa
rtici
pant
e, a
en
trevi
sta
e a
anál
ise
docu
men
tal.
As
refe
rênc
ias
teór
icas
e
conc
eitu
ais
para
a
inte
rpre
taçã
o da
pro
blem
átic
a ab
orda
da s
e fu
ndam
enta
m
nos
estu
dos
sobr
e a
sexu
alid
ade
hum
ana
de
Sig
mun
d Fr
eud,
co
mpl
emen
tado
A p
esqu
isa
poss
ibilit
ou:
- apr
esen
tar o
pap
el
exer
cido
pel
o pa
triar
cado
, pel
a re
ligiã
o e
pelo
ca
pita
lism
o na
co
nstru
ção
das
raíz
es
hist
óric
as d
a se
xual
idad
e;
- O p
rofe
ssor
das
sér
ies
inic
iais
da
esco
la
bási
ca, o
bjet
o de
sta
254
Uni
vers
idad
e E
stad
ual d
e C
ampi
nas
indi
spen
sáve
is p
ara
a fo
rmaç
ão d
e pr
ofes
sore
s na
pe
rspe
ctiv
a de
um
pr
ojet
o ed
ucat
ivo
eman
cipa
tório
s pe
las
teor
ias
de W
ilhel
m
Rei
ch, H
erbe
rt M
arcu
se e
M
iche
l Fou
caul
t.
inve
stig
ação
, rev
elou
um
per
fil,
pred
omin
ante
men
te,
cons
erva
dor,
base
ado
no s
enso
com
um.
Det
ecto
u-se
a
inex
istê
ncia
de
um
proj
eto
artic
ulad
o, e
m
term
os d
e co
nhec
imen
tos
sobr
e a
sexu
alid
ade
hum
ana,
que
um
pr
ofes
sor d
as s
érie
s in
icia
is d
a es
cola
bás
ica
deve
ria p
ossu
ir. E
sta
carê
ncia
fico
u ex
plíc
ita
pela
s se
guin
tes
obse
rvaç
ões:
a v
isão
es
senc
ialis
ta d
e se
xual
idad
e e
de in
fânc
ia
apre
sent
adas
; o
trata
men
to re
duci
onis
ta
dado
aos
con
teúd
os
que
envo
lvem
a
sexu
alid
ade,
rest
rito
ao a
spec
to b
ioló
gico
-re
prod
utiv
o; o
s tip
os d
e va
lor s
ocia
lizad
os
(pre
conc
eitu
osos
e
estig
mat
izan
tes)
; e, o
s pe
rfis
reve
lado
s (c
onse
rvad
ores
e
auto
ritár
ios)
. - O
tem
a tra
nsve
rsal
O
rient
ação
Sex
ual,
tal
255
com
o é
apre
sent
ado
no
text
o do
s P
CN
s, re
strin
ge o
quê
de
ve s
er in
form
ado
ao
alun
o. E
ssa
conc
epçã
o de
sex
ualid
ade
se
resu
me
a um
sim
ples
da
do d
a na
ture
za, f
ixo
e su
jeito
a d
eter
min
ism
os,
sobr
e o
qual
é
poss
ível
inve
stir
mec
anis
mos
de
inte
rven
ção
e de
co
ntro
le tr
ansv
ersa
is,
que,
at
rave
ssan
do fr
onte
iras
disc
iplin
ares
, se
diss
emin
am p
or to
do o
un
iver
so p
edag
ógic
o,
expa
ndin
do s
eus
efei
tos
nos
mai
s va
riado
s do
mín
ios
EAD
ON
LIN
E:
PRÁT
ICA
S D
ISC
UR
SIVA
S E C
ON
STIT
UIÇ
ÃO
DA
ID
ENTI
DA
DE
VIR
TUA
L D
O
ALU
NO
NO
W
EBFÓ
LIO
20
08 –
M
estra
do –
Li
guís
tica
AU
TOR
A: M
aria
Ân
gela
de
Frei
tas
Chi
achi
ri O
RIE
NTA
DO
RA
: M
aria
Reg
ina
Mom
esso
de
Oliv
eira
Prá
ticas
dis
curs
ivas
qu
e se
faze
m e
m
web
folio
s ed
ucac
iona
is, e
m
curs
os d
e fo
rmaç
ão
de p
rofe
ssor
es a
di
stân
cia
- Ide
ntifi
car q
uais
pr
átic
as d
iscu
rsiv
as e
id
entit
ária
s se
es
tabe
lece
m n
os
web
folio
s do
cur
so d
e Li
cenc
iatu
ra e
m
Ped
agog
ia E
AD
do
Cen
tro U
nive
rsitá
rio
Cla
retia
no d
e B
atat
ais,
Est
ado
de
São
Paul
o;
- Ana
lisar
com
o se
dá
a co
nstru
ção
do
Aná
lise
do d
iscu
rso
de li
nha
franc
esa.
O
corp
us d
a pe
squi
sa é
fo
rmad
o po
r um
co
njun
to d
e en
unci
ados
de
cinc
o su
jeito
s al
unos
em
inte
raçã
o co
m o
tu
tor,
escr
itos
em
seus
web
fólio
s da
sa
la
de a
ula
virtu
al, n
o cu
rso
de g
radu
ação
Li
cenc
iatu
ra e
m
A pe
rspe
ctiv
a te
óric
a fo
i a d
a A
nális
e de
D
iscu
rso
de
linha
fran
cesa
(A
D),
fund
ada
pelo
filó
sofo
M
iche
l Pê
cheu
x;
auto
res
da á
rea
do d
iscu
rso,
co
mo
Gre
golin
e
Cor
acin
i e
a es
tudi
osos
que
A p
esqu
isa
poss
ibilit
ou
verif
icar
que
No
web
fólio
, ass
im c
omo
entre
os
greg
os, a
s pr
átic
as d
e es
crita
de
si
apon
tam
par
a a
cons
titui
ção
hete
rogê
nea
do s
ujei
to
alun
o on
line
com
o um
pr
ofes
sor d
ivid
ido
entre
re
pres
enta
ções
que
lhe
vêem
da
mem
ória
di
scur
siva
do
pass
ado
e da
s ex
periê
ncia
s
256
Uni
vers
idad
e de
Fr
anca
suje
ito a
luno
onl
ine,
de
que
form
a a
subj
etiv
idad
e em
erge
em
sua
s pr
átic
as
disc
ursi
vas
e id
entif
icar
qua
is s
ão
seus
efe
itos
de
sent
ido
Peda
gogi
a a
dist
ânci
a, d
o C
entro
Uni
vers
itário
C
lare
tiano
de
Bat
atai
s, n
o in
terio
r do
Est
ado
de S
ão
Pau
lo.
pesq
uisa
m a
re
spei
to d
e id
entid
ade
com
o Ba
uman
e
Hal
l e a
s te
oriz
açõe
s de
M
iche
l Fou
caul
t.
do p
rese
nte,
em
que
ele
é
colo
cado
em
xeq
ue a
to
do o
mom
ento
tant
o pe
las
nova
s te
cnol
ogia
s co
mo
pelo
s di
spos
itivo
s de
con
trole
e
pode
r da
soci
edad
e.
A R
EFO
RM
A
DO
EST
AD
O E
O
S PR
OC
ESSO
S D
E SU
BJE
TIVA
ÇÃ
O: U
M
ESTU
DO
SO
BR
E A
R
ELA
ÇÃ
O
SUB
JETI
VID
AD
E –
TRAB
ALH
O
CO
M
SER
VID
OR
ES
PÚB
LIC
OS
EM
INST
ITU
IÇÕ
ES
DE
EDU
CA
ÇÃ
O
PRO
FISS
ION
AL 20
07 –
M
estra
do –
P
sico
logi
a S
ocia
l e
Inst
ituci
onal
AU
TOR
A: M
aria
In
ês U
tzig
Zul
ke
OR
IEN
TAD
OR
: H
enriq
ue C
aeta
no
Nar
di
Form
ação
da
subj
etiv
idad
e de
pr
ofes
sore
s e
func
ioná
rios
de u
ma
inst
ituiç
ão
educ
acio
nal
- Ide
ntifi
car e
ana
lisar
os
efe
itos
das
trans
form
açõe
s co
ntem
porâ
neas
nos
pr
oces
sos
de
subj
etiv
ação
dos
tra
balh
ador
es d
o se
rviç
o pú
blic
o es
tata
l em
um
con
text
o de
R
efor
ma
do E
stad
o
- Ent
revi
stas
com
pr
ofes
sore
s e
func
ioná
rios
de d
uas
inst
ituiç
ões
de
educ
ação
pro
fissi
onal
da
regi
ão d
o Va
le d
o R
io d
os S
inos
; - P
esqu
isa
docu
men
tal (
mat
éria
s de
jorn
ais
e re
vist
as
da re
gião
)
Con
tribu
içõe
s te
óric
as d
e M
iche
l Fou
caul
t
A p
esqu
isa
dem
onst
ra
que
a R
efor
ma
do
Est
ado
enge
ndro
u um
co
njun
to d
e pr
oced
imen
tos
e de
sa
bere
s co
nsid
erad
os
útei
s pa
ra a
co
nfor
maç
ão d
e su
jeito
s e
de in
stitu
içõe
s ad
equa
dos
às
nece
ssid
ades
co
ntem
porâ
neas
do
capi
tal,
no n
osso
cas
o or
ient
ado
aos
traba
lhad
ores
das
es
cola
s e
aos
futu
ros
traba
lhad
ores
que
est
ão
send
o fo
rmad
os p
or
esta
s in
stitu
içõe
s de
ed
ucaç
ão p
rofis
sion
al.
Fina
lmen
te, o
est
udo
enfa
tiza
a he
tero
gene
idad
e do
E
stad
o e
a m
ultip
licid
ade
disc
ursi
va
que
poss
ibilit
am
visl
umbr
ar a
s re
sist
ênci
as q
ue
257
Uni
vers
idad
e Fe
dera
l do
Rio
G
rand
e do
Sul
coex
iste
m n
o in
terio
r do
s jo
gos
de p
oder
e
verd
ade
que
cara
cter
izam
o c
ampo
de
pes
quis
a.
Com
petê
ncia
s na
For
maç
ão
de
Prof
esso
res:
R
astr
os e
Vi
sibi
lidad
es
2005
–
Mes
trado
–
Educ
ação
U
nive
rsid
ade
Lute
rana
do
Bras
il
AU
TOR
A: N
anci
Te
reza
Fél
ix
Velo
so
OR
IEN
TAD
OR
A:
Mar
ia Is
abel
Ed
elw
eiss
Buj
es
Dis
curs
os s
obre
co
mpe
tênc
ias
pres
ente
s na
s D
iretri
zes
Cur
ricul
ares
N
acio
nais
par
a a
Form
ação
de
prof
esso
res
da
Edu
caçã
o B
ásic
a,
em n
ível
sup
erio
r-
DC
Ns
Iden
tific
ar o
s di
vers
os
sent
idos
atri
buíd
os à
no
ção
de
com
petê
ncia
, de
svel
ando
os
nexo
s e
tece
ndo
as re
laçõ
es
de u
so d
o co
ncei
to n
a fo
rmaç
ão d
e pr
ofes
sore
s
Aná
lise
docu
men
tal.
Com
põe
o co
rpus
de
ssa
pesq
uisa
o
Par
ecer
CN
E/C
P 00
9/20
01, e
man
ado
do C
onse
lho
Nac
iona
l de
Edu
caçã
o qu
e ap
rova
as
Dire
trize
s C
urric
ular
es
Nac
iona
is p
ara
a Fo
rmaç
ão d
e pr
ofes
sore
s da
E
duca
ção
Bás
ica,
em
ní
vel s
uper
ior,
curs
o de
lice
ncia
tura
, de
grad
uaçã
o pl
ena
Teor
izaç
ões
de
Mic
hel F
ouca
ult,
bem
com
o em
au
tore
s qu
e se
in
scre
vem
na
pers
pect
iva
dos
Est
udos
C
ultu
rais
Não
há
refe
rênc
ias
no
resu
mo
A C
ultu
ra d
a M
ídia
atu
ando
na
Su
bjet
ivaç
ão
Doc
ente
20
04 –
M
estra
do –
Ed
ucaç
ão
Uni
vers
idad
e do
V
ale
do It
ajaí
AU
TOR
A: R
enat
a A
pare
cida
Ros
a.
OR
IEN
TAD
OR
A:
Sola
nge
Punt
el
Mos
tafa
A s
ubje
tivaç
ão d
e do
cent
es d
o en
sino
fu
ndam
enta
l de
Itaja
í at
ravé
s da
aná
lise
de
mat
eria
l dis
curs
ivo
refe
rent
e à
míd
ia e
à
cultu
ra
Não
há
refe
rênc
ia n
o re
sum
o
A m
etod
olog
ia in
clui
u da
dos
de e
ntre
vist
as
indi
vidu
ais,
cad
erno
s de
ativ
idad
es d
as
doce
ntes
e
ques
tioná
rio s
obre
o
cons
umo
de m
ídia
do
s do
cent
es n
a re
gião
da
esco
la o
nde
a pe
squi
sa fo
i re
aliz
ada
Os
estu
dos
de
Mic
hel F
ouca
ult
a re
spei
to d
as
prát
icas
de
cont
role
soc
ial.
Não
há
refe
rênc
ia n
o re
sum
o
Do
Prof
esso
r A
UTO
R: R
odrig
o Fo
rmaç
ão d
e V
erifi
car e
ana
lisar
A
nális
e do
cum
enta
l e
Teor
izaç
ões
do
O e
stud
o em
cau
sa
258
de li
tera
tura
ao
form
ador
de
leito
res
críti
cos
de
text
os
liter
ário
s:um
es
tudo
sob
re a
(r
e) in
venç
ão
do p
rofe
ssor
de
líng
ua
port
ugue
sa
para
o tr
abal
ho
com
a le
itura
lit
erár
ia n
o no
vo E
nsin
o M
édio
20
09 –
D
outo
rado
–
Educ
ação
U
nive
rsid
ade
Fede
ral d
e M
inas
Ger
ais
Alve
s do
s Sa
ntos
O
RIE
NTA
DO
RA
: Ar
acy
Alve
s M
artin
s
prof
esso
res
de
Líng
ua P
ortu
gues
a qu
e pr
ofes
sor d
e lín
gua
portu
gues
a es
tá s
endo
de
man
dado
e
fabr
icad
o pa
ra o
tra
balh
o co
m a
leitu
ra
liter
ária
no
novo
En
sino
Méd
io
de d
iscu
rso
dos
segu
inte
s te
xtos
: P
arâm
etro
s C
urric
ular
es
Nac
iona
is d
e Lí
ngua
P
ortu
gues
a do
Ens
ino
Méd
io; P
CN
+ de
Lí
ngua
Por
tugu
esa
do
mes
mo
níve
l de
ensi
no; O
rient
açõe
s C
urric
ular
es d
o En
sino
Méd
io d
e Lí
ngua
Por
tugu
esa;
Pl
ano
Nac
iona
l de
Edu
caçã
o (P
NE
20
01);
Res
oluç
ões
CN
E/C
P 1
e C
NE
/CP
2, p
ublic
adas
no
Diá
rio O
ficia
l da
Uni
ão
de 0
9 de
abr
il de
200
2 (q
ue tr
atam
da
regu
laçã
o do
s cu
rsos
de
form
ação
de
prof
esso
res
para
a
atua
ção
na e
duca
ção
bási
ca);
Dire
trize
s C
urric
ular
es
Nac
iona
is d
o C
urso
de
Let
ras,
pub
licad
as
sob
o fo
rmat
o do
P
arec
er C
NE
/CES
20
01, p
ublic
ado
no
Diá
rio O
ficia
l da
Uni
ão
de 0
9/07
/200
1;
Pro
jeto
s P
olíti
co-
peda
gógi
cos
de d
ois
filós
ofo
franc
ês
Mic
hel F
ouca
ult
e em
est
udos
fo
ucau
ltian
os
perm
ite c
onst
atar
que
o
enun
ciad
o da
ce
ntra
lidad
e do
pr
ofes
sor c
omo
agen
te
de u
ma
mud
ança
na
educ
ação
form
al é
o
mai
s re
corr
ente
no
disc
urso
ana
lisad
o.
Nes
te, o
suj
eito
doc
ente
fa
bric
ado
e de
man
dado
, no
que
se
refe
re a
o tra
balh
o co
m a
leitu
ra
liter
ária
nos
ano
s fin
ais
da e
duca
ção
bási
ca, é
o
form
ador
de
leito
res
críti
cos
de te
xtos
lit
erár
ios,
o q
ual v
em,
nos
term
os
cons
ider
ados
nes
ta
pesq
uisa
, ass
inal
ar a
“m
orte
” do
prof
esso
r de
liter
atur
a da
edu
caçã
o bá
sica
. Com
a in
venç
ão
dess
e ou
tro s
ujei
to
doce
nte
de L
íngu
a P
ortu
gues
a pa
ra o
tra
balh
o co
m a
leitu
ra
liter
ária
e c
om s
ua
emer
gênc
ia n
o di
scur
so
aqui
ana
lisad
o, s
urge
ta
mbé
m u
m n
ovo
mod
o de
exi
stên
cia
no q
ual o
s in
diví
duos
que
alm
ejam
oc
upar
a p
osiç
ão d
e pr
ofes
sor d
e Lí
ngua
P
ortu
gues
a no
s an
os
259
curs
os d
e Li
cenc
iatu
ra e
m
Letra
s –
Líng
ua
Por
tugu
esa
(o d
a Fa
culd
ade
de L
etra
s da
Uni
vers
idad
e Fe
dera
l de
Min
as
Ger
ais
e o
do
Dep
arta
men
to d
e Le
tras
da
Uni
vers
idad
e Fe
dera
l de
Viç
osa)
finai
s da
edu
caçã
o bá
sica
dev
erão
se
insc
reve
r.
TER
RIT
ÓR
IOS
DA
FO
RM
AÇ
ÃO
D
OC
ENTE
: O
ENTR
E-LU
GA
R D
A
CU
LTU
RA
20
07 –
M
estra
do –
Ed
ucaç
ão
Uni
vers
idad
e Fe
dera
l de
San
ta M
aria
AU
TOR
A: V
ânia
Fo
rtes
de O
livei
ra
OR
IEN
TAD
OR
: V
aldo
Her
mes
de
Lim
a Ba
rcel
os
Form
ação
cul
tura
l do
cent
e e
auto
form
ação
- Con
tribu
ir co
m
subs
ídio
s te
óric
os -
epis
tem
ológ
icos
par
a a
form
ação
de
prof
esso
res,
a p
artir
do
ent
rela
çam
ento
en
tre c
ultu
ra e
ed
ucaç
ão, r
efle
tindo
so
bre
o pa
pel d
a cu
ltura
na
form
ação
do
pro
fess
or.
Aná
lise
docu
men
tal;
o co
rpus
da
pesq
uisa
fo
i a p
esqu
isa
real
izad
a pe
lo
Inst
ituto
Nac
iona
l de
Educ
ação
e P
esqu
isa
(MEC
/ IN
EP)
em
pa
rcer
ia c
om a
O
rgan
izaç
ão d
as
Naç
ões
Uni
das
para
a
educ
ação
, ciê
ncia
e a
cu
ltura
(UN
ES
CO
), P
erfil
dos
pro
fess
ores
br
asile
iros:
o q
ue
faze
m, o
que
pen
sam
, o
que
alm
ejam
Cor
neliu
s C
asto
riadi
s; o
co
ncei
to d
e cu
idad
o de
si d
e M
iche
l Fou
caul
t
A p
esqu
isa
reve
la q
ue,
no q
ue d
iz re
spei
to à
s pr
efer
ênci
as d
os
prof
esso
res,
de
um
mod
o ge
ral,
os g
osto
s vã
o ao
enc
ontro
do
imag
inár
io s
ocia
l e à
s pr
átic
as d
a po
pula
ção
em g
eral
, dep
ende
ndo
do lo
cal d
e m
orad
ia e
da
idad
e. E
ntre
tant
o,
reve
la-s
e a
dive
rsid
ade
das
esco
lhas
a p
artir
da
plur
alid
ade
cultu
ral.
Por
fim
, a c
ontri
buiç
ão d
o co
ncei
to d
o cu
idad
o de
si
mos
tra-s
e co
mo
uma
poss
ibili
dade
no
sent
ido
do c
uida
r de
si
(pro
fess
or) p
ara
cuid
ar
do o
utro
(alu
no).
Pr
oduz
indo
na
rrat
ivas
(en)
gen
dran
do
AUTO
RA
: Viv
iane
Te
ixei
ra S
ilvei
ra
Form
ação
de
prof
esso
res
de
Educ
ação
Fís
ica
Ana
lisar
as
conc
epçõ
es a
re
spei
to d
a fo
rmaç
ão
Aná
lise
docu
men
tal;
depo
imen
tos
orai
s (p
ress
upos
tos
da
Judi
th B
utle
r, (e
stud
os s
obre
a
mat
eria
lidad
e
Não
há
refe
rênc
ias
no
resu
mo
260
curr
ícul
o:
subj
etiv
ação
de
pro
fess
oras
e
a in
venç
ão
da
ESEF
/Pel
otas
- R
S 20
08 –
M
estra
do –
Ed
ucaç
ão
Uni
vers
idad
e Fe
dera
l do
Par
aná
OR
IEN
TAD
OR
A:
Mar
ia R
ita d
e As
sis
Ces
ar
fem
inin
a pr
esen
te n
os
disc
urso
s e
nas
prát
icas
cur
ricul
ares
qu
e at
uara
m n
a fo
rmaç
ão d
as
prof
esso
ras
da E
scol
a S
uper
ior d
e E
duca
ção
Físi
ca d
a U
nive
rsid
ade
Fede
ral
de P
elot
as
(ES
EF/U
FPEL
), no
s an
os 7
0 e
iníc
io d
os
anos
80
His
tória
Ora
l) do
s co
rpos
e o
s co
rpos
abj
etos
), G
uaci
ra L
opes
Lo
uro(
Est
udos
de
Gên
ero
e m
ovim
ento
fe
min
ista
na
Edu
caçã
o);
auto
ras
da á
rea
da H
istó
ria
(Mar
gare
th
Rag
o e
Den
ise
San
t’Ann
a);
Mic
hel F
ouca
ult
(ref
lexõ
es s
obre
se
xual
idad
e,
étic
a e
esté
tica
da e
xist
ênci
a).