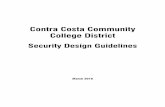A BANALIDADE DO MAL, O BULLYNG E A EDUCAÇÃO CONTRA A BARBÁRIE
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of A BANALIDADE DO MAL, O BULLYNG E A EDUCAÇÃO CONTRA A BARBÁRIE
A BANALIDADE DO MAL, O BULLYNG E A EDUCAÇÃO CONTRA A BARBÁRIE
INTRODUÇÃO
Há um passado no meu presenteUm sol bem quente lá no meu quintalToda vez que a bruxa me assombra
O menino me dá a mão
E me fala de coisas bonitas que eu acreditoQue não deixarão de existir:
Amizade, palavra, respeito, caráter, bondade alegria e amorPois não posso
Não devoNão quero
Viver como toda essa genteInsiste em viver
E não posso aceitar sossegadoqualquer sacanagem ser coisa normal
(Milton Nascimento e Fernando Brant: “Bola de meia, bola de gude”)
É absolutamente necessário recuperar as possibilidades
da infância. Que fantástico seria se toda criança e todo
jovem pudesse ter um passado advogando a favor do seu
presente e inspirando a sua luta pelo futuro. O singelo
poema que nos serve de epígrafe cumpre bem o papel de
sinalizar o fio condutor desse texto, pois a centralidade
da memória na história de vida é o seu tema principal, da
mesma forma que é o nosso. Como reafirmação do que se
registrou desse passado transmutado em valores, os poetas
descrevem uma atitude, uma decisão perante a vida: “não
posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa
normal”. Nesta frase, inadvertidamente, apontam para o
problema que elegemos discutir, à luz dessa reflexão
primeira sobre o passado, qual seja: o bullying.
Alguns outros autores, nem sempre poetas, foram por
nós convocados como companheiros de percurso. Recuperando o
conceito1de “banalidade do mal” de Hannah Arendt,
pretendemos analisar a configuração dominante na sociedade
brasileira hoje, do ponto de vista da sociabilidade
(aspecto definidor do que pode ser concebido como
“humanidade”), que é, por um lado, o desmoronamento de
vínculos familiares e de grupos de referência tradicionais
como a escola, a igreja, etc. e, por outro a violência nos
relacionamentos interpessoais (algumas vezes simbólica, mas
muitas vezes implicando riscos físicos bem concretos2,
conforme afirmado por Gilberto Velho - 2005, s/p).
AS BASES DO TECIDO SOCIAL
Para falar sobre sociabilidade, convidamos Marcel
Mauss em seu clássico“Ensaio sobre o Dom”, texto a partir do
qual, desde a fundação das ciências antropológicas, fomos
levados a compreender quais são as operações básicas que
1 A autora provavelmente discordaria que se trata de um conceito (nosentido de algo fechado e definido para sempre) e talvez concebesse aideia muito mais como uma formulação descritiva de um modo de ser, umapossibilidade da existência humana. 2 É claro que a violência simbólica, assim dita por não utilizar formasvisíveis de exercício de violência, pode gerar, também, consequências bem concretas, como no caso do bullying, que será discutido neste trabalho.
definem os processos de troca contínua que configuram a
mola propulsora do nascimento e da continuidade dos
relacionamentos humanos: dar – receber - retribuir. Quais
seriam os objetos/conteúdo dessas trocas essenciais?
Absolutamente tudo: palavras, presentes, alimentos,
esposas3, roupas, olhares, sentimentos, cuidados, etc.Todas
elas constituem o conceito de “reciprocidade”.
A GUERRA COMO NECESSIDADE E COMO DIÁLOGO NÃO
INTERROMPIDONAS SOCIEDADES TRADICIONAIS
Vida social é igual a: reciprocidade - continuidade de
trocas, que devem ser, na maioria das vezes, pacíficas. Na
maioria das vezes não significa sempre, obviamente. Ora,
seria o caso de pensarmos na existência de “trocas – não –
pacíficas”? Certamente. É o que nos foi ensinado por outro
antropólogo: Pierre Clastres, em duas grandes obras: A
Sociedade Contra o Estado e Arqueologia da Violência. Onde encontramos
investigações profundas sobre o significado da guerra e da
violência para a existência humana, já que esses são
aspectos persistentes através de nossa história.
3 O significado das mulheres para a cosmologia e organização social étema clássico da pesquisa antropológica e conta com inúmeraspublicações a respeito, sendouma das mais importantes, sem sombra dedúvidas “As Estruturas Elementares do Parentesco” de Claude-Lèvi-Strauss.
É preciso, antes de prosseguir mais um passo, sermos
minuciosos com as análises de Clastres. É que elas são
essenciais e não merecem ser mal compreendidas. Segundo o
autor, a imanência da guerra nas sociedades arcaicas tem um
sentido político muito claro: é uma espécie de consciência
difusa que impede a agregação de suas pequenas unidades
territoriais/populacionais, impedindo, consequentemente, a
eliminação das inúmeras diferenças históricas e culturais
contidas em cada uma. Manter a fragmentação é preservar-se
na diferença cultural que dificulta a constituição de
Estados Nacionais.
De forma bem resumida: as sociedades que fundaram a
existência humana se constituíram como sociedades sempre
prontas para a guerra, por que são sociedades contra o Estado.Pode-se
dizer que – de certa forma – Clastres afirma um anarquismo
praticamente “instintivo” como elemento essencial nas
primeiras formas de organização social. Evitar o surgimento
da organização estatal significava manter a horizontalidade
primordial, fundadora das relações humanas: a
reciprocidade. Nesse sentido, a dose de violência utilizada
nas guerras entre grupos tribais, seria algo estritamente
necessário para a possibilidade mesma de reprodução
histórica desses mesmos grupos.
VIOLÊNCIA ESSENCIALMENTE DESTRUTIVA: GENOCÍDIO E ETNOCÍDIO
Permanecemos ainda com Clastres, evocando os conceitos
de genocídio e etnocídio que não se confundem com a noção
de guerra. No contexto da guerra estamos diante de grupos
que se opõem, onde ambos compartilham os mesmos
significados sobre a guerra, suas armas e suas estratégias.
No contexto do genocídio como no etnocídio as possibilidades de
comunicação estão a priori interditadas. Não são confrontos
entre os soldados ou os guerreiros de um povo contra os do
outro povo. Trata-se de grupos que decidem por razões não
militares e não políticas atacar um povo ou parcela dele,
por outras razões, derivadas de preconceitos e
discriminações diversas.
Seguindo ainda de perto o texto de Clastres, passamos
a outra distinção conceitual. Se dividirmos os grupos
sociais entre existência física e existência cultural,
saberemos que o genocídio elimina a parte física, enquanto o
etnocídio se dedica ao extermínio cultural. Os processos de
colonização empreendidos pelos europeus tanto no século
XVI, quanto no XIX, foram ao mesmo tempo genocídios e
etnocídios. A perseguição nazista igualmente. Mas, há
inúmeras formas de etnocídio acontecendo todos os dias, a
cada vez que alguém decide destruir crenças, valores,
práticas, rituais de outros grupos sociais, apenas pelo
fato de não espelharem a si próprios ou ao seu grupo de
referência.
BULLYING, A DESCONSIDERAÇÃO EXTREMA DO “OUTRO”
Tanto o genocídio quanto o etnocídio recusam ao grupo
ou indivíduodiferente o mesmo estatuto de humanidade
desfrutado pelo grupo do “eu”. Recorrentemente, conforme
afirmou em extrema lucidez Lúcio Kowarik, ocorre um
processo de demonização ou maleficação do “outro”, que é
percebido como alguém (ou como grupo) desprovido do direito
de ter direitos, única e exclusivamente pelo fato de ousar
ser diferente.
Tendo como alvo existências supostamente maléficas ou
demoníacas a ação discriminatória, inúmeras vezes
exterminadora, passa por ato heróico, missão civilizatória
ou espiritual. As disputas e perseguições religiosas
existentes na atualidade figuram como exemplo transparente
e, segundo pensamos, alarmante, desse tipo de
discriminação. Estamos diante de processos sociais que se
configuram a partir de determinadas concepções sobre
pessoas e grupos portadores de alguma espécie de “mal”,
cuja essência tida como maléfica é utilizada para
justificar massacres discursivos (ou mesmo físicos),
atualizados através de todos os meios de comunicação
disponíveis e, também, nas relações face a face.
Parece que continuamos bem sintonizados com o mundo
grego antigo, onde a essência do que se considerava “não
humano”, sintetizada na categoria: “bárbaro”, era
exatamente o outro, aquele que não pertencia ao grupo do
“eu”, o estrangeiro que, somente por ser outro, deveria ser
morto ou escravizado.
Fenômenos como o bullying, reeditam no cotidiano esse
processo de desconsideração extrema do outro. Diríamos que
ele se caracteriza por levar ao exagero discursos e ações
que há uns vinte anos atrás chamávamos de “brincadeira sem
graça”, “brincadeira de mau gosto” ou “brincadeira pesada”.
Elas eram no passado acontecimentos episódicos, condenados
tanto pelos adultos quanto pela maioria das crianças e
jovens. Vemos hoje um quadro rigorosamente invertido: as
brincadeiras “leves” e alegres são exceção, enquanto o
bullying torna-se cada vez mais corriqueiro, e reprovado
apenas por uma minoria de adultos, quanto por uma minoria
de crianças e jovens.Os ditos jocosos (piadinhas)
considerados engraçados agregam por vezes ofensa,
humilhação, preconceito e discriminação nua e crua. Sem
contar o quão normal está se tornando rir do infortúnio, da
violência e da tragédia alheia.
TEMPOS SOMBRIOS: OS PERIGOS DE UM MUNDO HEDONISTA
Estamos vivendo em tempos sombrios, para usar a célebre
expressão de Bertold Brecht (apropriada também por Hannah
Arendt4)num poema em que mostrou sua desolação por causa da
falta de solidariedade humana e de responsabilidade social
para com os desprovidos e injustiçados de seu tempo,4 Retomaremos essa questão adiante.
imaginando o triste legado a ser deixado para as gerações
futuras:
Que tempos são estes, em que é quaseum delito falar de coisas inocentes.Pois implica silenciar tantoshorrores! Esse que cruzatranquilamente a rua não poderájamais ser encontrado pelos amigosque precisam de ajuda?
Através de inúmeras violências socialmente
consolidadas, instituídas, formal ou informalmente, emerge
o fenômeno do bullying, como ponta de um iceberg, indicando
que algo muito maior existe, numa região oculta, para além
daquilo que salta imediatamente aos olhos. Que tal
procurarmos, então, regiões mais profundas que possam
elucidar melhor aquilo que todos estão vendo?
O antropólogo José Carlos Rodrigues pode nos ajudar
agora. Em seu texto sobre infância e poder, publicado há
cerca de 20 anos, encontramos um diagnóstico sobre os
problemas do mundo atual que segundo nossa apreciação
permanece 100% válido. Dizia Rodrigues, evocando a
filosofia grega clássica, que a maior parte dos problemas
referentes a comportamentos infantis excessivamente
rebeldes e sem limites, sociabilidades estilhaçadas e até
mesmo a violência são construtos de uma história social
fundamentada numa perspectiva hedonista. A busca por aquilo
que suscita prazer imediato seria, segundo o autor, o fio
condutor das escolhas do nosso tempo. Tal motivação teria
sido sedimentada pela instauração e proliferação do
consumismo, sobretudo – no caso brasileiro –após os anos
1960.
Esse imperativo hedonista transmutado em consumismo
cada vez mais exagerado, onde predomina o gosto por tudo
quanto seja descartável, tem construído ao sabor da
história social do nosso tempo um desapego generalizado por
tudo o que exala conservação. Preservar, resguardar,
consertar, cuidar para não estragar, para não destruir,
para não acabar... recomendações relegadas a um passado
distante que a ninguém parece interessar.
A VULGARIZAÇÃO DO CONCEITO DE TRAUMA E SUAS CONSEQUÊNCIAS
PARA A EDUCAÇÃO
Segundo Rodrigues, esse mesmo hedonismo invadiu as
concepções de educação infantil – desavisadamente, talvez –
e, em conjunto com as transformações no ritmo de vida das
pessoas, principalmente das mulheres5, propiciou o
surgimento de novas gerações de crianças e jovens que não
querem reconhecer limites aos seus impulsos, desejos e
fruições emocionais. Nesse trecho é interessante trazermos
alguns argumentos da pedagoga Tânia Zagury, quando ela
explica, dentro da história da educação, a origem dessa
5 Que não são mais cuidadoras full time das crianças e da família.
dificuldade com os “limites”. As concepções psico -
pedagógicas que apareciam nas revistas de divulgação
científica voltadas para um público de classe média,
principalmente entre os anos 1960/70, criticavam o
autoritarismo presente nas formas de educação tradicional,
e estavam absolutamente corretas. O problema – que só se
apresentou concretamente após os anos 1980 –é que não houve
a preocupação de informar o que deveria ser posto no lugar
da tradição e do autoritarismo para garantir o
compartilhamento de regras e valores que mantivessem a
viabilidade do bom convívio social. É como se nesse momento
da história as preocupações com o bem estar dos indivíduos
passassem a ocupar um espaço maiore relegassem ao
ostracismo as preocupações com o coletivo.
Esse predomínio psico - pedagógico do indivíduo foi
alcançado a partir do conceito de trauma, numa versão
popularizada é claro, informando a prescrição de que não
deveríamos “contrariar” as crianças, nem impor limites de
forma autoritária, para evitar que fossem “traumatizadas”
pelos excessos de rigor do mundo adulto.
Ninguém, em princípio, discordaria da crítica ao
autoritarismo e aos rigores excessivos da educação à moda
antiga. Parece-nos, entretanto, que os excessos cometidos a
partir dessa mesma crítica, têm gerado problemas sérios e
de difícil solução para as gerações que vieram após esse
momento histórico. Recorremos, mais uma vez, ao texto de
Zagury para explicar o equívoco e o vazio que estamos
tentando sinalizar. Segundo a autora, que se reconhece como
mãe e educadora dessa geração de transição, os adultos
acreditaram que se fossem honestos, transparentes,
cumpridores das regras e generosos para com as crianças
iriam receber em troca, de forma automática, honestidade,
transparência, cumprimento das regras e generosidade. Mas,
isso não aconteceu. E, a partir desse equívoco, não se
sabia exatamente como proceder com as crianças: manter-se
numa postura “anti-trauma” e não conseguir os resultados
esperados, retornar aos rigores do passado ou fazer o quê?
Diante desse quadro, vemos uma inversão total dos
atributos geracionais: são as crianças e jovens que estão
no comando. Eles decidem o querem ou não comer; o que
querem ou não vestir; o que querem ou não fazer. E se são
eventualmente contrariados pulam, saltam, gritam, batem no
adulto, rasgam a roupa, jogam o presente fora, xingam,
ameaçam, etc. ficando os adultos muitas vezes em situações
verdadeiramente vexatórias. É como se o mundo adulto, que
deveria cuidar da boa formação das futuras gerações
estivesse totalmente destituído de poder para o exercício
de suas atribuições sociais.
É como se o suposto “perigo do trauma”, agregado às
jornadas intensas de trabalho exercidas tanto por homens
quanto por mulheres, tivesse criado uma espécie de vazio
nas concepções educacionais e na responsabilidade cuidadora
e formadora das gerações mais velhas perante as mais novas.
Ou seja, a maior parte dos adultos, além de não saber muito
bem como conduzir a educação, começou também a não ter
tempo para dedicaraos mais novos.
Acompanhamos, portanto, o percurso da construção dessa
inversão de papéis geracionais, que nos fez compreender o
contexto em que o hedonismo consegue predominar, impondo o
prazer próprio (desde criança) acima de qualquer regra,
norma de convivência, ou interesse coletivo. Esse cenário,
se não explica completamente por que o bullying se alastra em
todos os lugares de convivência, no mínimo sinaliza a
congruência de alguns fatores que devem ser considerados
quando o elegemos como objeto de análise.
A BANALIDADE DO MAL E A INTERPRETAÇÃO DO BULLYING
Chegamos ao momento de nossa exposição em que
convidaremos Hannah Arendt a acrescentar algo de seu às
nossas análises. Trata-se da ideia de banalidade do mal. Nossa
autora cunhou essa expressão no contexto do julgamento de
um dos protagonistas do genocídio nazista: Adolf Eichmann.
Hannah conviveu brevemente com esse personagem na condição
de repórter de um jornal norte – americano, para cobrir o
seu julgamento em Israel, no ano de 1961.
As ações praticadas por Eichmann foram
indubitavelmente cruéis. Como funcionário do governo alemão
sob o domínio do Terceiro Reich , concebeu os campos de
concentração, assim como as formas de extermínio em massa
dos judeus. Comandou a perseguição, aprisionamento, os maus
tratos e o genocídio. Não há como ter dúvidas sobre os
efeitos maléficos de tudo o que praticou como membro de
alto escalão do staff nazista.
Cara a cara com a personagem, Hannah Arendt
verdadeiramente se surpreendeu ao verificar que esse ser
humano, que nossos pressupostos inconscientes levariam a
crer ser um psicopata, um desequilibrado, enfim, alguém que
exibisse alguma forma de “anormalidade”, possuía todos os
requisitos de um homem perfeitamente comum: bom filho, bom
pai, cidadão cumpridor de seus deveres. Além disso, não
apresentava qualquer tipo de sintoma que pudesse ser
interpretado como “doente mental”, “personalidade bipolar”,
“esquizofrenia”, nada que confortasse o nosso desejo de
responder à pergunta: como e por que uma pessoa consegue
praticar tanta maldade?
Tal descoberta lembra os militares latino-americanos
envolvidos com prisões, torturas e mortes em períodos de
ditadura, que entrevistados recentemente falam com muita
tranquilidade do período e, na maior parte das vezes, não
demonstram qualquer arrependimento ou embaraço por ter
participado de tamanhas maldades.
Hannah, através de seu trabalho, de suas reflexões e,
sobretudo, através de sua perplexidade, nos coloca diante
do grande embaraço de reconhecermos a banalidade do mal,
insinuando que não haveria resposta para nenhuma das
seguintes indagações: qual a “natureza” do mal? Que
características um ser humano precisa portar para ser
maléfico? A maldade é necessariamente planejada por seu
praticante? Qualquer pessoa pode realizar ações geradoras
de mal? O praticante do mal pode não se arrepender?
Todas as perguntas – sem resposta definitiva – nos
reconduzem à perplexidade de Arendt: não há como localizar
o mal, descobrir sua essência e seu modo de funcionamento,
propiciando nos prevenirmos contra ele, nem mesmo
aprendermos como exterminá-lo aqui ou ali. O mal não está
em lugar nenhum, nem pode ser explicado por fórmulas
precisas. Os atos podem gerar malefícios como consequência
e esses atos podem ser cometidos por qualquer um, pois, não
há como prever que pessoa poderá ou não praticar a maldade.
Não há um perfil, não há uma essência.
Retornamos, então, à interpretação da dinâmica do
bullyingna sociedade brasileira atual. Estamos vivendo tempos
sombrios, onde os valores da preservação dos vínculos e das
regras de conduta capazes de reproduzir a “reciprocidade”
foram postos em segundo plano, correndo risco de extinção.
Estamos vivendo tempos sombrios, onde se descartam os
objetos, as amizades, os parentes, os casamentos, as
divindades e a própria vida humana. Se tudo é, em
princípio, descartável e incessantemente substituído, ou
pensado como substituível, por que não descartar os seres
humanos? Não seriam as diversas formas de violência, os
assassinatos a sangue frio, frutos dessa mentalidade tão
afeita ao descarte?
O bullying retoma, então, no contexto de nossa análise,
o sentido da “ponta do iceberg”. Talvez ele seja a
manifestação/denúncia da rotinização do preconceito, da
discriminação, da demonização do outro, obrigando-nos a
parar para prestar atenção no que está acontecendo
exageradamente com nossas crianças e jovens, mas, também
com inúmeros adultos: um processo que podemos chamar talvez
de “desumanização”. E se podemos dizer que isso é um grande
mal porque é algo desagregador, destruindo a dignidade e o
respeito que todo ser humano deveria merecer, então temos
que reconhecer que essa maldade está sendo praticada pela
maioria das pessoas.
Nesse ponto, nos perguntamos junto com Hannah Arendt:
será que reconhecer a “banalidade”, a rotinização do mal,
significa afirmar que a maldade é algo que devemos encarar
com a mesma naturalidade com que entendemos que é “normal”
dormir, acordar, tomar banho, comer, beber, se relacionar,
ter filhos, aprender a falar, a andar, etc.? Certamente que
não. Ou seja, mesmo que algo se torne repetitivo, por isso
mesmo considerado comum numa determinada sociedade, num
período determinado, não significa que mereça ser encarado
comotranqüilo, desejável, recomendável como padrão
norteador para nossas ações cotidianas.
Mas, como essas atitudes maléficas se banalizam? A
resposta de Arendt, embora elaborada três décadas antes das
respostas de Rodrigues e Zagury apresenta extrema sintonia
com esses autores. Para ela isso se tornou possível a
partir do predomínio da superficialidade e da superfluidade
no contexto das sociedades de massa. Não seria essa
formulação uma maneira diferente de falar do “descarte”, do
individualismo e do hedonismo presentes em nossa sociedade
global?
Algo a mais deve ser esclarecido aqui. O “mal” de que
estamos falando não remete a uma interpretação moralista.
Trata-se, na verdade, de qualquer tipo de comportamento ou
ação que proporcione consequências destrutivas para a
humanidade, considerando o caráter eminentemente social que
define a própria natureza humana. Ou seja: atentar contra
as regras de sociabilidade é atentar - em alguma medida -
contra a preservação da humanidade.
EM TEMPOS DE ROTINIZAÇÃO DO BULLYING E DA VIOLÊNCIA: SERÁ
QUE A INFÂNCIA ACABOU?
Somos capazes, então, de reconhecer sintomas e
compartilhar diagnósticos sombrios, que nos fazem reler o
passado em busca de possibilidades melhores para o presente
e para o futuro. Lembramos que: a comunicação, a
aprendizagem, o cuidado mútuo e a transmissão de tudo isso
para as gerações novas são processos que nos dão
características próprias, humanas, diferenciando-nos dos
outros seres da natureza.
É exatamente dessas características rigorosamente
humanas que trata a educadora Sônia Kramer quando reedita o
conceito de “educar contra a barbárie”. Especialista em
educação infantil, a autora evoca as múltiplas capacidades
inerentes às crianças – um ser humano “em aberto” – para
nos lembrar que podemos reaprender todas as coisas, para
nos ensinar a sair do conformismo fatalista daqueles que
diagnosticam as violências e maldades do nosso tempo como
se revelassem uma condição histórica definitiva, sem saída.
Dentre esses diagnósticos fatalistas combatidos pela
autora encontra-se a ideia – transformada em senso comum –
de que a infância acabou. Percorrendo os caminhos da
análise sócio-política, Kramer desvenda o caráter
ideológico de tal diagnóstico, apontando os interesses de
classe e políticos a que a reafirmação dessa falsa verdade
serviria.
Endossando por completo os argumentos de Sônia,
gostaríamos de destacar o reforço que ela faz – mesmo que
de forma subliminar - à premissa de que é necessário que as
gerações adultas cuidem das crianças e jovens, ensinando a
eles que devem cuidar das próximas gerações. Assim,
reconhecer que os conteúdos de significado atribuídos ao
conceito de infância possam ter sofrido modificações é
apenas um corolário da percepção de sua historicidade. Daí
a inferir que, por causa dessa transformação conceitual, os
adultos não têm mais obrigação de cuidar das crianças e
jovens (!) além de não obedecer a qualquer lógica, seria
negar premissas definidoras do que há de “humano” na
humanidade. E aqui nos reencontramos – resguardando aportes
teóricos, filosóficos, e preocupações distintas - com todos
os autores que nos ajudaram a construir nossa análise.
PARA ENCERRAR
[...] mesmo no tempo mais sombrio temos o direitode esperar alguma iluminação, e que tal iluminaçãopode bemprovir, menos das teorias e conceitos, emais da luz incerta, bruxuleante e frequentementefraca que alguns homens e mulheres, nas suas vidase obras, farão brilhar em quase todas ascircunstâncias e irradiarão pelo tempo que lhesfoidado na terra (ARENDT,1987, p. 7).
O mundo adulto pode e deve recuperar as rédeas da
formação de nossas crianças e jovens. Deve, sobretudo,
recuperar o desejo e a disponibilidade emocional para
realmente cuidar das novas gerações.Tomemos como reforço de
nossa posição a fala de Leonardo Boff:
Sem o cuidado o ser humano deixa de ser humano. Se não receber cuidado desde o nascimento até a morte,o ser humano desestrutura-se, definha, perde sentido e morre.
Nosso autor retrata a necessidade de cuidados ao longo
de toda a biografia humana. Nesse ponto retomamos a poesia
de Milton Nascimento e Fernando Brandt que fala de um
adulto que, por ter sido muito bem cuidado quando
pequenino, recorre à memória de infância toda vez que se vê
aturdido, confuso, em apuros ou triste. Lembranças que
funcionam como um sol quente e luminoso em meio à escuridão
proporcionada pelos imprevisíveis e indesejáveis da vida.
No rol dos indesejáveis encontram-se costumes,
comportamentos, atitudes, com os quais aquele que tem uma
memória de infância alegre e aconchegante não consegue se
identificar: “Não posso aceitar sossegado qualquer
sacanagem ser coisa normal”. Os poetas prosseguem, dizendo
mais adiante: “(...) o solidário não é solidão, toda vez
que a tristeza me alcança o menino me dá a mão”. Uma
memória de infância bem construída, a partir de cuidados,
aconchego, solidariedade e alegria, torna-se eterna
companheira na resistência contra os mecanismos de
desumanização que possamos encontrar ao longo de nossa
história de vida.
Ao recuperarmos o sentido sedimentador de estruturas
solidamente humanas a serem plantadas na mais tenra
infância, estamos lidando , no plano individual, com as
mesmas premissas responsáveis pela constituição básica da
tessitura social. Asorganizações sociais tradicionais, com
suas infindáveis repetições de cerimônias de aniversários,
batismos, casamentos, iniciações, etc. rememoravam a cada
rito a necessidade da preservação dos vínculos, do dar –
receber – retribuir, para que a humanidade pudesse
reproduzir-se conservando bases de afeto e de memória
fortes e periodicamente renovados.
Todos os adultos devem responsabilizar-se pela
reconstrução dos alicerces humanitários a cada nova
geração. Assumir esse compromisso é educar contra a
barbárie, é estruturar-se metódica e apaixonadamente contra
os horrores do passado, sejam eles quais forem. É dedicar-
se a construir um presente que possa ser lembrado com
gratidão, com alegria e carinho e que possa servir como
suporte cada vez que precisarmos de reforço emocional e
ético.
Não há fórmulas mágicas nem instituições milagrosas: é
necessáriauma mudança geral de mentalidade, uma crítica
profunda de nossas próprias práticas, crenças, valores;
além de um grande desejo de se doar, de uma grande
disponibilidade para cuidar dos que nasceram depois de nós
e, por isso mesmo, dependem de nós.
REFERÊNCIAS