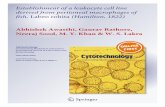(2010) Bracara Augusta. Balanço de 30 anos de investigaçâo arqueológica na capital da Galécia Romana
1846) O que Portugal nos legou?; um balanço de 1808-1822 e as perspectivas do presente (2007)
Transcript of 1846) O que Portugal nos legou?; um balanço de 1808-1822 e as perspectivas do presente (2007)
O que Portugal nos legou?um balanço de 1808-1822 e as perspectivas do presente
Paulo Roberto de Almeida(www.pralmeida.org; [email protected])
1. Um introdução em retrospectiva
Aproximando-se as comemorações pelos 200 anos da vinda da
família real portuguesa para o Brasil, em janeiro de 2008,
caberia talvez fazer uma espécie de balanço em torno do que
isto representou para o Brasil e sobre o quê, em decorrência
desse fato, mudou na vida da jovem nação, então em fase de
constituição, independentemente de continuar, durante alguns
anos mais, a estar formalmente subordinada a Portugal (tendo
passado a Reino Unido, isto é, a um estatuto quase pleno de
autonomia, em 1816).
Uma maneira de fazê-lo seria a de proceder uma espécie de
confronto entre o “então” e o “agora”, ou seja, examinar a
situação econômica do Brasil, tal como ela se apresentava em
1808, acompanhar as mudanças ocorridas a partir daí, até a
independência ser consolidada, grosso modo em 1825, e
verificar, então, o que se fizemos desde aquela época, ou
seja, nos últimos 200 anos. É o que tentarei fazer no presente
texto, mas confesso que uma grande pergunta me assalta a
mente. Ela poderia ser formulada da seguinte forma:
Por que o Brasil, desde o início do século XIX até este
início de século XXI, falhou em realizar as promessas de
desenvolvimento contidas na primeira e na segunda revoluções
industriais, ocorridas ao longo do século XIX e no decorrer do
século XX, como fizeram muitos outros países, e por que ele
1
falha, ainda e sempre, em acompanhar as tendências mais
dinâmicas do século XXI?
Em outros termos, e vista a mesma pergunta por outro
ângulo: o quê, exatamente, nos separa de 1808-1822 em termos
de realizações e conquistas? Ou ainda: será que somos, 200
anos depois, tão diferentes assim, do que éramos na conjuntura
do estabelecimento da família real portuguesa entre nós?
Estabelecida a hipótese de trabalho, os objetivos do
presente ensaio de revisão histórica poderiam ser assim
estabelecidos: quais eram as condições de partida do Brasil,
no contexto colonial português e europeu?; qual era o peso do
Estado, que sempre constituiu, então e agora, nossa
característica fundamental em termos de organização política e
social?; como era e como está, agora, o ambiente de negócios,
provavelmente pavoroso e piorando?; como andamos de
empreguismo estatal e de irresponsabilidade fiscal?; será que
essa mania de construir palácios para o setor público, como já
então se via, é nova?; como defendemos nossos recursos
naturais, econômicos, humanos e institucionais?; quais eram e
quais são as nossas deficiências essenciais nesse campo?; por
que as políticas adotadas por nossas elites conseguem ser tão
equivocadas nos planos macro e no micro?; qual foi o nosso
desempenho econômico em perspectiva comparada com outros
países?; como caminharam os outros?
Enfim, esta tentativa de balanço visa, simplesmente,
analisar de onde viemos e onde estamos atualmente. Acredito,
pessoalmente, que fizemos grandes progressos nestes 200 anos,
mas esses avanços podem, ainda assim, ser considerados
2
insuficientes, em vista de tudo o que poderíamos ou deveríamos
ter feito, e em face dos enormes desafios que ainda temos que
enfrentar para podermos apresentar-nos ao mundo, 200 anos
depois, como uma nação desenvolvida, o que ainda não somos.
Mas, desejo desde já deixar constância de um fato, que pode
ser considerado como uma mera opinião, mas ela vem sustentada
em uma infinidade de “provas materiais”:
Não, não creio que os portugueses – o povo ou a família
real – sejam culpados pelo que somos ainda hoje, ou seja, um
país industrialmente desenvolvido, mas socialmente iníquo,
economicamente avançado, mas socialmente atrasado,
cientificamente realizado, mas tecnologicamente mal dotado.
Não se devem aos portugueses nossos comportamentos atávicos e
nossos fracassos de modernização. Eles não podem responder
pelo que fizemos desde 1822. Nós mesmos somos responsáveis
pelo muito que conseguimos fazer neste período, em termos de
construção da nação, assim como devemos ser considerados
culpados pelo quadro lamentável no plano social ou educacional
que ainda contemplamos hoje.
Parte do que vou aqui dizer – pelo menos a conjuntura
histórica do “processo da independência”, como diria o
historiador Manoel de Oliveira Lima – encontra-se descrito com
maior grau de detalhe na minha contribuição, “A formação
econômica brasileira a caminho da autonomia política: uma
análise estrutural e conjuntural do período pré-
independência”, que constitui um dos capítulos da coletânea
coordenada por Rubens Ricupero e Luiz Valente de Oliveira,
3
sobre Os 200 anos da Abertura dos Portos (São Paulo: Editora Senac-SP,
2008).
2. O que Portugal nos legou, exatamente?
Uma breve relação do que Portugal implantou na terra
“braziliense” – como diria José Hipólito da Costa, o grande
cronista independente da conjuntura que estamos analisando –,
desde o período colonial até a independência, poderia ser
resumida na seguinte lista:
1. A língua portuguesa, obviamente;
2. Um povo aberto à miscigenação racial;
3. Instituições estatais exacerbadas e muito
centralizadas;
4. Uma diplomacia bastante competente e alerta aos
“negócios” do mundo;
5. Comportamentos rentistas, patrimonialistas e
extrativistas em economia;
6. Um judiciário antiquado, desde a origem, e
provavelmente corrupto, também;
7. Uma religiosidade pervasiva, mas bastante maleável e
integradora, finalmente;
8. Uma introversão nos comportamentos e a desconfiança do
que é estrangeiro.
Não pretendo desenvolver cada um desses pontos de maneira
sistemática, tanto porque alguns deles dispensam maiores
comentários, como o fato da língua portuguesa, por exemplo. A
despeito de não ser ela uma das línguas científicas, de
4
comércio ou de cultura universal, em virtude da baixa
qualificação original de Portugal nessas áreas, graças ao
espírito aventureiro e desbravador dos líderes do pequeno
Estado europeu, ela se espalhou por três ou quatro
continentes, o que hoje permite constituir uma comunidade de
povos lusófonos que pode servir para ampliar os horizontes
culturais e econômicos desse substrato lingüístico. Da mesma
forma, a maleabilidade religiosa e, sobretudo, a racial são
dois traços importantes da nossa nacionalidade, sendo que o
segundo é distintivamente português, embora o primeiro seja
mais controverso, em vista da carolice e do tradicionalismo
religiosos de Portugal. Mas, o confronto com tantos povos e
tradições culturais e religiosas distintas permitiu um
sincretismo religioso bastante rico que, ainda que não
existente na metrópole, passou a se desenvolver nas colônias
desde cedo. Quanto à mistura racial, ela constitui um dos
traços mais importantes da nossa formação étnica e, ainda que
alguns estejam, hoje, tentando substituí-la por uma cultura do
apartheid racial – sob a forma de programas de ação dita
“afirmativa” e de valorização da negritude, que nada mais
constituem do que um programa de construção da separação
racial e, portanto, do racismo –, ela deve ser valorizada pelo
que representa de legado a ser projetado no futuro, na certeza
de que certamente conseguirá superar os proponentes atuais do
racismo e da separação racial.
Não necessito, por outro lado, deter-me em demasia na
competência diplomática, que constitui, sim, um excelente
legado português, uma vez que as boas heranças devem ser
5
mantidas e desenvolvidas. Uma atitude auto-congratulatória
constitui, porém, a mais segura receita de estagnação e
retrocesso, pois que o excesso de confiança nas próprias
virtudes induz a erros de julgamento e a uma predisposição
para a não-mudança.
Pretendo-me deter em alguns aspectos desse legado
português e verificar em que medida fomos capazes de vencer as
dificuldades do momento inicial – feito de construção da nação
praticamente a partir do zero – e desenvolver nossa capacidade
de vencer novos desafios ao longo do tempo, construindo, ou
não, uma nação inclusiva e próspera.
3. O que falava do Brasil um globalizador esclarecido do
século XVIII?
Comecemos por uma citação de uma mente avançada do
Iluminismo, ou seja, um observador contemporâneo do império
colonial ultramarino português:
“O Brasil converter-se-á num dos mais formosos
estabelecimentos do globo (nada para isso lhe falta) quando o
tiverem libertado dessa multidão de impostos, desse cardume de
recebedores que o humilham e oprimem; quando inúmeros
monopólios não mais encadearem sua atividade; quando o preço
das mercadorias que lhe trazem não mais for duplicado pelas
taxas que andam sobrecarregadas; quando os seus produtos não
pagarem mais direitos ou não os pagarem mais avultados que os
dos seus concorrentes; quando as suas comunicações com as
outras possessões nacionais se virem desembaraçadas dos
entraves que as restringem...”
6
O autor desta passagem, absolutamente pertinente para os
nossos dias, é o francês Guillaume-Thomas Raynal, mais
conhecido como Abade Raynal (1713-1796), na Histoire philosophique et
politique des établissements et du commerce des européens dans les deux Indes
(publicada em Amsterdã, a partir de 1770, para o primeiro dos
seis volumes da obra); a tradução deste trecho para o
português foi feita pelo diplomata e historiador Manuel de
Oliveira Lima, no D. João VI no Brasil (3a. ed.; Rio de Janeiro:
Topbooks, 1996, p. 58-59).
Incrível, de fato, a atualidade dos argumentos
transcritos acima, de uma das cabeças mais lúcidas do século
XVIII francês, um pouco obscurecido, é verdade, pelos
enciclopedistas Diderot e D’Alembert, com os quais, porém, ele
pode ser comparado com grande vantagem. Anti-escravista em
plena era do mais intenso tráfico africano (ele vinha de uma
família de mercadores que enriqueceu no comércio de escravos),
pensador iluminista, profundo conhecedor das coisas do mundo,
mesmo sem ter viajado fora da Europa, o abade Raynal poderia
ser descrito, em linguagem moderna, como um “globalizador
esclarecido”, categoria à qual eu mesmo me orgulharia de
pertencer, se existisse entre nós um tal clube filosófico.
Com efeito, a sua provocadora Histoire philosophique et politique
des établissemens & du commerce des européens dans les deux Indes pode ser
classificada como o primeiro “tratado da globalização” dos
tempos modernos. Os franceses, sempre suscetíveis nessas
coisas de anglofonia, talvez preferissem chamá-la de premier
traité de la mondialisation. [Nota: Os leitores interessados em ler na
íntegra esta obra, obviamente na linguagem original de 1770,
7
em francês, podem descarregá-la, da base de dados “Frantext”,
do Institut National de la Langue Française, na coleção Galica
da Bibliothèque Nationale de France, a partir deste link:
http://visualiseur.bnf.fr/Visualiseur?
Destination=Gallica&O=NUMM-89431.]
Raynal começava sua obra proclamando a mudança radical
que tinha sido a passagem do cabo da Boa-Esperança: “uma
revolução começou então no comércio, na potência das nações,
nos costumes, na indústria e no governo dos povos. Foi nesse
momento que os homens dos lugares mais distantes se fizeram
necessários: os produtos dos climas equatoriais são consumidos
nos climas vizinhos do pólo; a indústria do norte é
transportada ao sul; os tecidos do Oriente vestem o Ocidente
e, em todas as partes, os homens intercambiam suas opiniões,
suas leis, seus hábitos, seus remédios, suas enfermidades,
suas virtudes e seus vícios” (Nota: minha tradução, a partir
do arquivo acima citado). Continuava, um pouco mais adiante, o
abade Raynal: “Como essas descobertas influenciaram a situação
dos povos? Por que, enfim, as nações mais florescentes não são
exatamente aquelas com as quais a natureza foi mais pródiga?”
Ele começa, então, a explorar essas questões, partindo do
pressuposto da unificação comercial do mundo sob a hegemonia
do se poderia chamar, hoje em dia, de capitalismo global. Sua
análise é absolutamente atual, podendo-se dizer que seus
argumentos se referem exatamente à globalização contemporânea.
De fato, as nações mais prósperas não são aquelas mais bem
dotadas de recursos naturais – embora esse fator seja
importante, como no caso dos Estados Unidos – e sim aquelas
8
que desenvolveram seus recursos humanos. Não fosse assim, o
Japão seria um conjunto de ilhas de desenvolvimento médio, ao
passo que os gigantes do petróleo, como Nigéria, Irã e
Venezuela, seriam países avançadíssimos nos campos social e
tecnológico. Esta advertência inicial serve apenas para
moderar o entusiasmo daqueles que acreditam que o Brasil é um
gigante destinado, pela própria natureza, a ser uma das
grandes potências mundiais, apenas por deter imensos recursos
naturais. Nada é garantido, como já ensinava o abade Raynal em
1770...
Sua leitura nos relembra, também, no que se refere a cada
um dos pontos levantados por Raynal, em 1770, é que
continuamos a ser extorquidos por uma multidão de impostos,
por um cardume de recebedores, nossas mercadorias carregam o
peso de muitas taxas e ainda enfrentam protecionismo duplo,
aqui e lá fora. Duzentos depois da chegada da família real e
da abertura dos portos, o que temos, é exatamente aquilo que
descrevia o Abade Raynal.
4. Comecemos, justamente, pelos impostos: o que havia em 1808,
o que temos hoje?
O que existia, no momento da chegada da família real?
Esta era a coleção de impostos, taxas e contribuições em vigor
em 1808:
(A) Tributos de incidência local: selos, foros depatentes, taxas do sal;
(B) Tributos de incidência geral: subsídio real sobrecarnes e couros, taxa suntuária sobre lojas e armazéns;taxa sobre engenhos; sisa de 10% sobre os imóveis; meiasisa sobre os escravos urbanos;
9
(C) Impostos sobre o comércio exterior, nos dois sentidos(a principal fonte de receita, aliás).
Em 1821, quando D. João VI parte de volta a Portugal, a
estrutura tributária do Reino Unido, compreendia, além de
muitas outras taxas gerais (selos, foros de patentes, direitos
de chancelaria, taxas de correio, sobre sal, sesmarias,
ancoragens etc., ou impostos locais cobrados de particulares),
os seguintes direitos e impostos:
1º) subsídio real ou nacional (carne verde, couros crus oucurtidos, aguardente de cana e lãs grosseiras);
2º) subsídio literário (para custeio dos mestres-escola,percebido sobre cada rês abatida, sobre aguardentedestilada e sobre carne seca);
3º) imposto em benefício do Banco do Brasil (12$800 sobrecada negociante, livreiro, boticário, loja de jóias eartigos de cobre, tabaco);
4º) taxa suntuária (também para o Banco, sobre cadacarruagem de quatro e de duas rodas, navios de trêsmastros, lojas de mercadorias e armazéns, 5% da compra denavios);
5º) taxa sobre engenhos de açúcar e destilações (variávelpor província);
6º) décima predial urbana (casas ou quaisquer imóveis);7º) sisa (imposto de 10% sobre o valor da venda de imóveisurbanos);
8º) meia sisa (imposto de 5% sobre a renda de cada escravoque fosse negro ladino, isto é, que já soubesse umofício);
9º) novos direitos (taxa de 10% sobre os vencimentos dosfuncionários da Fazenda e da Justiça)... et encore...
E agora, em matéria de impostos, taxas e contribuições, o
que temos hoje? Existem, hoje, 76 tributos federais, 12
estaduais, 15 municipais, além de 5 outros “latentes”, isto é,
que podem vir a ser implementados (entre eles o das “grandes
fortunas”), num total de 109 impostos, taxas e contribuições,
10
sem contar pedágios e cobranças por serviços específicos. Este
é o quadro de terror tributário, sem considerar a burocracia
do sistema declaratório, que consome dias e dias e de vários
contabilistas, apenas para cumprir as obrigações e provar ao
Estado que somos honestos e cumpridores dos nossos deveres de
contribuintes (tosquiados). De fato, segundo as informações de
consultorias especializadas, numa lista de 178 países, Brasil
é aquele em que o empresário mais perde tempo nessa atividade:
são 2.600 horas só para pagar impostos. O Brasil é campeão na
quantidade de horas gastas para que uma empresa pague todos os
impostos e tributos. De acordo com análise da
PriceWaterhouseCoopers, com base nos dados reunidos pelo Banco
Mundial, são necessárias 2.600 horas (352 dias) para que uma
empresa cumpra todas as obrigações fiscais, o que deixa o
Brasil em último lugar entre 178 países.
5. E o ambiente de negócios, como ele tem se desenvolvido?
Ao chegar à Bahia, em janeiro de 1808, D. João, príncipe
regente, não apenas decreta a abertura dos portos
(absolutamente necessária), mas também aprovou os estatutos da
primeira companhia de seguros, a “Comércio Marítimo”; mandou
abrir uma fábrica de vidro e uma fábrica de pólvora; autorizou
o governador da Bahia a estabelecer a cultura e a moagem de
trigo; mandou abrir estradas, sim estradas (de fato, pouco
mais que picadas...).
O que surpreende, no modelo ibérico de administração,
preservado em grande medida até os nossos dias, é que tudo
tenha de ser autorizado ou ordenado pelo príncipe, mediante um
11
decreto, um alvará régio, um instrumento qualquer da
autoridade política. O que, por outro lado, faz a eficiência
do modelo anglo-saxão de organização social e econômica, é que
tudo o que não estiver expressamente proibido em alguma lei
aprovada por um parlamento ou conselho, está ipso facto
autorizado e aberto à iniciativa privada, exatamente o
contrário do que ocorria no mundo português e ainda ocorre
entre nós.
De fato, a julgar pelo PAC, o Programa de Aceleração do
Crescimento, continuamos cingidos pela autoridade política,
circunscritos ao que ela possa determinar, autorizar,
permitir, se dignar a nos deixar trabalhar. A mania que temos
de tornar toda e qualquer atividade dependente das boas graças
da administração é propriamente irracional, sobretudo quando
sabemos que o processo burocrático de autorizações e
permissões está eivado de descaminhos corruptores.
Em outra vertente, mas no mesmo terreno, pode-se examinar
como evoluiu o “ambiente de negócios”. Ao chegar ao Rio de
Janeiro, em março de 1808, D. João, por alvará de 1º de
abril, revogou o alvará de D. Maria I, de 1785, que tinha
proibido todas as indústrias de tecidos no Brasil, exceto as
de pano grosso, para os sacos e escravos. Vinhos, azeites,
tecidos e todos os demais produtos úteis tinham, até então, de
ser comprados de Portugal, a despeito do fato de possuir a
colônia plenas condições de fabricá-los quase todos. Agora, os
principais problemas que se colocam aos candidatos a
empreendedores é o número absurdo de requisitos legais,
exigências burocráticas e autorizações variadas para quem
12
decide iniciar um negócio. Basta consultar o Doing Business anual
do Banco Mundial para constatar que o Brasil continua a
figurar nos últimos lugares do ambiente de negócios.
No plano da indústria, o que ocorria, duzentos anos
atrás? Entre 1810 e 1811, novas medidas buscaram estimular a
indústria local: isenção de direitos sobre fios e tecidos de
algodão, seda ou lã, fabricados no Brasil; foram criados
arsenais e fundições, no Rio de Janeiro, uma indústria de
lapidação de diamantes e um laboratório químico. Eram empresas
estatais, com a eficiência que se conhece nesse tipo de
empreendimento. E o que temos hoje, como pregação industrial?
O presidente de um dos principais órgãos de planejamento
estatal, o IPEA, acredita que novamente enfrentamos a mesma
“dependência” da grande empresa agro-exportadora à base de
cana-de-açúcar, como existia no século XVI. E o que ele propõe
para reduzir a suposta “nova dependência”? Segundo ele, “o
Brasil precisa constituir uma empresa pública de agroenergia”
e operar uma “centralização do comércio da energia renovável
no país” (Márcio Pochmann, presidente do IPEA: “Antídoto ao
novo dependentismo”, Valor Econômico, 01.11.2007). Trata-se,
certamente, da receita mais segura para inviabilizar
completamente uma indústria pujante do etanol e do biodiesel
no Brasil, só se justificando como uma forma de cobrar um
“pedágio” dos verdadeiros criadores de riqueza no Brasil, que
são os empreendedores privados.
6. Como evoluímos em termos de respeito aos direitos de
propriedade e ao patrimônio?
13
Como ensinam os economistas da escola institucionalista
(Douglass North e outros), o respeito aos direitos de
propriedade e aos contratos – duas das mais importantes
instituições da vida econômica – estão entre os elementos mais
relevantes do progresso econômico. Nesse terreno, o legado da
instalação da família real no Brasil não é dos mais
edificantes.
Quando a comitiva que acompanhava o príncipe regente
chegou ao Rio de Janeiro, um grave problema habitacional
colocou-se: onde acomodar tantos nobres? Criou-se, então, um
sistema das “aposentadorias”: as casas mais apresentáveis e
espaçosas eram requisitadas em nome do Príncipe, e os locais
escolhidos eram logo pintados com as iniciais “PR”, de
Príncipe Regente. Mas, o povo carioca logo as interpretou à
sua maneira, dizendo que representavam, na verdade, um “Ponha-
se na Rua”. Hipólito da Costa escreveu em seu Correio Braziliense
que o sistema das aposentadorias era um “regulamento
medieval”, um “ataque direto ao sagrado direito de
propriedade”, que “poderia tornar o novo governo no Brasil
odioso para o seu povo”. Nem tão medieval assim, uma vez que
ele continua existindo em nossos dias.
O que temos hoje, em matéria de desapropriações forçadas,
é um fenômeno diferente, mas não menos preocupante em termos
de legalidade e respeito aos direitos de propriedade: são
contingentes organizados (em número relativamente
desconhecido) de “sem-terra” e de “sem-teto” profissionais
que, alimentados por cestas básicas fornecidas pelo próprio
Estado e arregimentados de forma quase militar por
14
organizações igualmente sustentadas pelo dinheiro estatal, se
dedicam a invadir propriedades rurais e urbanas em nome da
“justiça social”. Eles o fazem invocando “direitos”, que
sempre são os seus direitos particulares, não os direitos da
coletividade. De fato, a Constituição brasileira de 1988
contém 76 vezes a palavra “direito”, muito poucas vezes a
palavra “obrigação”, raríssimas vezes a palavra produtividade
e quase nenhuma o conceito de eficiência.
Mas, talvez esses ataques ao direito da propriedade, e
aos cofres públicos – pois é deles que sairão os recursos para
garantir tantos direitos a terras e moradias – não sejam os
mais lesivos ao erário público. Passados duzentos anos de
desapropriações estatais para acomodar os poderosos do
momento, o que temos hoje em matéria de “acomodação” dos
nobres servidores do Estado? A transcrição de uma matéria da
Folha de São Paulo, de 22.10.2007, nos informa que: “Judiciário
vai gastar R$ 1,2 bi para construir três tribunais”.
Subtítulos esclarecedores: “Procuradoria investiga suspeita de
desperdício de dinheiro e superfaturamento”; “Presidente do
Tribunal Regional Federal de Brasília terá um gabinete 4 vezes
maior que o de Lula”.
Vale a pena transcrever alguns pontos da matéria: “O
Judiciário vai gastar R$ 1,2 bilhão na construção de três
suntuosas sedes de tribunais com suspeitas de desperdício de
dinheiro público, direcionamento de licitações e
superfaturamento. Os custos estimados pelos tribunais poderão
aumentar até o final das obras. O Tribunal Regional Federal da
1ª Região, em Brasília, decide nesta semana quem tocará uma
15
obra de R$ 489,8 milhões com área total de construção maior do
que a do Superior Tribunal de Justiça. Nas novas instalações,
o presidente do tribunal e seus assessores ocuparão um
gabinete quatro vezes maior do que o do presidente Luiz Inácio
Lula da Silva. O Ministério Público Federal pediu a suspensão
das obras e a anulação da licitação para a construção da nova
sede do Tribunal Superior Eleitoral, estimada em R$ 336,7
milhões.”
7. Como evoluímos em matéria de empregos públicos?
A fuga da família real não se restringiu, como se sabe, a
meia dúzia de ministros e algumas dezenas de funcionários do
Estado. Foram alguns milhares de “dependentes” do Estado que
precisavam ser agraciados com os favores da corte. Apenas a
título de comparação mencione-se que em 1800, ao transferir a
capital da Filadélfia para Washington, o presidente John Adams
trouxe consigo cerca de 1.000 funcionários governamentais. Com
D. João, vieram entre 10 e 15 mil funcionários portugueses,
segundo as crônicas históricas.
Era preciso dar emprego para toda essa gente. Na verdade,
muitos deles não trabalhavam, consoante seu estatuto de
“nobres” (aos quais não se permitia o exercício de alguma
atividade “manual”. Em Portugal, para sermos precisos, não
eram muitos os nobres, mas o coração generoso de D. João se
encarregaria de criar muitos mais, ao aqui chegar, pela
prática de enobrecer aqueles que tinham cedido suas casas,
contribuído financeiramente para a manutenção da corte,
16
participado na constituição do Banco do Brasil e outros
favores mais.
Como esclarece um historiador: “Os indivíduos
enobrecidos, agraciados com hábitos ou comendas, entendiam não
lhes quadrar mais comerciar, sim viver das suas rendas, ou
melhor ainda, dos empregos do Estado. Avolumar-se-ia desta
forma o número dos funcionários públicos, com o rancor dos
burocratas do reino, que tinham acompanhado a família real ou
chegavam seduzidos por essas colocações em que as fraudes
multiplicavam os ganhos lícitos, muito pouco remunerados”
(Oliveira Lima, D. João VI no Brasil, p. 57). E não eram poucos, os
candidatos a um emprego público: além da família real, 276
fidalgos e dignitários régios recebiam verba anual de custeio
e representação, paga em moedas de ouro e prata, retiradas do
erário real; havia ainda 2000 funcionário reais, 700 padres,
500 advogados, 200 praticantes da medicina, entre 4 e 5 mil
militares, todos vivendo em torno da Coroa. Um dos padres
recebia 250 mil réis (14 mil reais de hoje), só para confessar
a rainha (Fonte: Luiz Felipe Alencastro, “Vida privada e ordem
privada no império” in História da Vida Privada no Brasil, vol. 2, p.
12).
Hoje, o que temos, exatamente, em matéria de sanguessugas
do Estado? As prebendas estatais, deve-se reconhecer, se
democratizaram: o número de funcionários públicos tem
experimentado uma curva ascendente no atual governo, que criou
ou recriou dezenas de estatais (a última sendo um TV estatal),
expandiu cargos de confiança devidamente aparelhados pelo
partido no poder, e se esforça para convencer a população que
17
para melhorar o serviço público é preciso contratar mais
gente.
8. Como foi o nosso desenvolvimento econômico comparado com
outros países?
Como se situava o Brasil no confronto econômico com
outros países? Éramos pobres, mas os demais países não eram
muito mais ricos do que nós. No início do século XIX, a
divergência econômica entre os países ainda não tinha
alcançado os patamares que ela ostentaria um século depois.
Segundo os dados comparativos coletados em bases homogêneas
pelo economista-historiador Angus Madison, a distância entre o
Brasil e países como México ou Japão não era significativa,
assim como era relativamente pequeno o diferencial de renda em
relação à maior parte dos países, com exceção dos Estados
Unidos e da Grã-Bretanha, então a economia mais avançada em
termos de renda em função do seu pioneirismo na revolução
industrial, sendo o país americano o seu êmulo direto nesse
processo. A tabela seguinte dá uma idéia dos valores em
dólares constantes (atualizados para 1990, segundo os cálculos
de Angus Madison) e sua proporção em relação ao Brasil:
PIB per capita e comparações entre os países, 1820Países PIB per capita Brasil = 100Brasil 670 100México 759 113Japão 669 99França 1.230 183
Estados Unidos 1.257 232Grã-Bretanha 1.707 254
18
Como foi a nossa evolução desde então? A mesma tabela
pode ser construída com valores mais atuais:
PIB per capita e comparações entre os países, 1998Países PIB per capita Brasil = 100Brasil 5.459 100México 6.655 122Japão 20.084 368França 19.558 358
Estados Unidos 27.831 500Grã-Bretanha 18.714 342
A distância só fez aumentar, evidenciando o nosso baixo
dinamismo econômico no longo período decorrido desde então.
Aqui, os mesmos resultados em visão diacrônica:
Evolução histórica do PIB per capita, 1820-1998 (1820
= 100)Países 1900 1998Brasil 105 814México 152 876Japão 161 3.002França 233 1.590
Estados Unidos 318 2.174Grã-Bretanha 261 1.096
Muito desse baixo dinamismo econômico pode ser explicado
por nossa pequena abertura internacional. Uma comparação de
nosso coeficiente de abertura externa revela a reduzida
participação do comércio exterior na formação do PIB, quando é
pelas transações externas que se realizam as incorporações de
capitais e tecnologias modernizadoras. No período recente, em
particular, nosso crescimento tem sido pífio em relação à
19
média mundial e, sobretudo, em relação aos emergentes
dinâmicos da Ásia oriental. Considere-se, por exemplo, o PIB
per capita da Coréia do Sul que, em 1960, representava 50% do
valor do PIB per capita do Brasil. Atualmente, o país asiático
nos superou por uma razão de três. Na média, o crescimento dos
países emergentes nos últimos dez anos tem sido três vezes
superior ao do Brasil, que cresce mais ou menos a metade do
PIB mundial. Nesse ritmo, nossa renda per capita vai dobrar
apenas em três gerações (75 anos), ao passo que a da China
dobra a cada 17 anos.
9. E o que a nossa Constituição tem a ver com tudo isso?
Bem, aqui já não estamos falando de nenhum legado
português, e sim de problemas e deficiências “made in Brazil”.
O fato é que, desde a promulgação da Constituição de 1988, a
carga fiscal promovida pelo Estado predador aumentou
inapelavelmente a cada ano, passando de um quarto do PIB a
mais de um terço (e crescendo continuamente). Em comparação
mundial, nos situamos atualmente no nível dos países da OCDE –
que dispõem de uma renda per capita seis vezes superior à
nossa –, o que representa cerca de dez pontos percentuais
acima da média dos paises emergente e vinte pontos acima dos
mais dinâmicos.
A lista de problemas brasileiros é muito extensa, mas ela
poderia ser resumida da seguinte forma:
1. Constituição detalhista, intrusiva, concedendo muitos“direitos” e demandando muito poucas obrigações;
2. Estado extenso, também intrusivo, perdulário, gastador,“burrocrático” e gigantesco;
20
3. Regulação microeconômica hostil aos negócios e aotrabalho, dando pouco espaço às relações autoreguladas ediretamente contratuais;
4. Monopólios em excesso, cartéis e restrições de mercado,pouca competição e muitas barreiras a novos ofertantes debens e serviços;
5. Reduzida abertura externa, seja para comércio,investimentos ou fluxos de capitais, criando ineficiências,altos custos e preços, ausência de competição e deinovação;
6. Sistemas legal e judicial atrasados, permitindo manobrasprocessuais que atrasam a solução das disputas e aumentamcustos de transação.
Uma agenda das reformas absolutamente necessárias para
sustentar um processo sustentado de crescimento econômico, não
detalhada no presente ensaio por razões de espaço,
compreenderia ações nos seguintes campos: político,
tributário, educacional, previdenciário, trabalhista e no da
governança pública. A reforma política, deveria começar pela
Constituição (operando uma limpeza em regra); ela continuaria
pela redução das legislaturas nos três níveis (a representação
parlamentar é excessiva, com enormes gastos, injustificáveis);
passaria pela reforma eleitoral ( com a introdução do sistema
distrital misto) e atingiria a estrutura partidária
(diminuindo o “mercado” político que hoje impera no
Congresso).
A tributária choca-se com o problema da federação, mas
deveria ser uma reforma completa, macro e micro; ela começaria
por uma simplificação tributária geral e caminharia no sentido
da redução progressiva dos tributos; teria continuidade na
abertura econômica, com redução dos impostos alfandegários, e
passaria também pela liberalização do comércio e dos
21
investimentos estrangeiros; concederia, por fim, incentivos à
inovação (reforço da propriedade intelectual).
A reforma educacional deveria concentrar-se no ensino
básico, prevendo capacitação de professores, a introdução de
um regime meritocrático de avaliação e de remuneração. Em
qualquer hipótese, se deveria conceder prioridade absoluta de
recursos para os dois primeiros ciclos de ensino, concedendo-
se a tão solicitada autonomia universitária, igualmente em
termos de orçamentos. No plano da seguridade social, impõe-se,
antes de mais nada corrigir o festival de privilégios ainda
existentes, ou seja, reduzir os benefícios abusivos do setor
público; depois, seria necessário ampliar os prazos e as
idades mínimas, modular as contribuições em função de uma
relação estrita entre pagamentos e benefícios, com garantias
mínimas, suprimir os regimes especiais e diminuir os
desincentivos derivados dos direitos garantidos.
Quanto à reforma trabalhista (e sindical), o ideal seria
a flexibilização da legislação (mais contratualismo e
negociações diretas entre as partes), a eliminação da Justiça
do Trabalho (por ser, na verdade, uma instância estimuladora
de conflitos, substituindo-se a ela o regime arbitral) e
operar de vez a extinção da Contribuição Sindical, que cria
sindicatos de papel. Finalmente, quanto à governança pública,
o que se pretende seria uma redução radical do governo (que
seria mantido sob dieta estrita), a retomada das
privatizações, o reforço das agências reguladoras e o fim da
estabilidade do funcionalismo público.
22
Existe alguma chance de sucesso num programa desse tipo?
Duvidoso. O Brasil está provavelmente condenado ao baixo
crescimento, à preservação de uma estrutura social iníqua e ao
baixo dinamismo nos processos de inovação e modernização. Esse
tipo de desempenho não é inédito em termos históricos: antes
de nós, a Grã-Bretanha e a Argentina constituíram as duas
evidências mais remarcáveis de uma longa decadência e de
empobrecimento contínuo. Talvez o Brasil seguirá o mesmo
caminho pelos próximos 20 anos ou mais. Não é certo, mas é
provável que isso ocorra, em vista da nossa incapacidade de
empreender as reformas que são necessárias para corrigir as
deficiências atuais do nosso sistema (que, repita-se, não têm
mais nada a ver com o legado português). A responsabilidade
está com cada um de nós…
Brasília, 16 de dezembro de 2007.
23