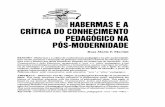1 OS PATRIMÔNIOS PÚBLICO E PRIVADO E A INFORMAÇÃO EM ARTE COMO VETORES PARA O CONHECIMENTO
-
Upload
independent -
Category
Documents
-
view
1 -
download
0
Transcript of 1 OS PATRIMÔNIOS PÚBLICO E PRIVADO E A INFORMAÇÃO EM ARTE COMO VETORES PARA O CONHECIMENTO
1
OS PATRIMÔNIOS PÚBLICO E PRIVADO E A INFORMAÇÃO EM ARTE COMO VETORES PARA O CONHECIMENTO
Ana Claudia Henriques de Araújo1; Paulo Roberto Gomes Pato2
Resumo
Uma das linhas de pesquisa da Ciência da Informação é a difusão da informação em espaços de conhecimento e de memória tais como museus, arquivos, bibliotecas, centros de documentação. Entendemos que os lugares de memória, termo cunhado por Pierre Nora (NORA, 1993), não são apenas endereços ou monumentos petrificados no território urbano de pequenas ou grandes cidades. Ao contrário, são espaços de reinvenção da memória e da convivência, nem sempre afinada, de aspectos materiais, simbólicos, ideológicos, funcionais e que afetam os processos de construção dessa memória. São locais destinados à conservação e, principalmente, à promoção da memória e do conhecimento por meio de projetos culturais, programas de ação educativa e atividades de animação cultural. No Brasil, há um tema a ser discutido e explorado relativo aos usos da informação em arte, em especial a dos acervos artísticos guardados por instituições financeiras (públicas e privadas). Acervos artísticos, fontes de saber repletos de informação, história e memória e compostos por uma diversidade de suportes e objetos. O objetivo do artigo é levantar algumas questões sobre a difusão de informações originárias desse patrimônio artístico e suas relações com a sociedade, o desenvolvimento humano e os processos cognitivos.
Palavras-chave: lugares de memória; arte; informação; conhecimento; instituições
financeiras.
Abstract
A line of research in Information Science is the dissemination of information in areas of memory and knowledge such as museums, archives, libraries, documentation centers. We believe that the places of memory, a term coined by Pierre Nora (NORA, 1993), are not only addresses or petrified monuments on the territory of small or large urban cities. On the contrary, they are reinventing spaces of memory and coexistence, not always in tune, issues of material, symbolic, ideological, and functional processes that affect the construction of this memory. They are places for conservation and especially the promotion of memory and knowledge through cultural projects, educational action programs and activities of cultural entertainment. In Brazil, there is a theme to be discussed and explored on the uses of information on art, especially the art of collections kept by financial institutions (public and private). Artistic collections, sources of knowledge full of information, history and memory, and composed of a variety of media and objects. The aim of this paper is to raise some issues about the dissemination of information originating in this artistic heritage and its relations with society, human development and cognitive processes.
Keywords: places of memory; art; information; knowledge; financial institutions.
1 Doutoranda em Ciência da Informação, Universidade de Brasília (UnB); E-mail: [email protected]. 2 Doutorando em Ciência da Informação, Universidade de Brasília (UnB); E-mail: [email protected].
2
Introdução
A arte acompanha o ser humano desde a pré-história. As inscrições
rupestres de Lascaux, na França, as igrejas monumentais da Idade Média, as
vanguardas do século XX e as constantes rupturas fazem da arte uma
instituição. Arte que se desdobra continuamente e exige sempre nova
conceituação a cada escola, movimento, iniciativa ou projeto. Dentre as muitas
atribuições e definições de arte, a função social é a que acreditamos ter uma
relação mais estreita com o campo de estudo da educação em lugares de
memória, tendo como perspectiva os estudos sobre informação, acesso,
compartilhamento e conhecimento. A arte é, antes de tudo, uma forma de
conhecimento. Arte como informação e memória. Arte como educação e
conhecimento.
A arte romana, utilizada como forma eficiente de propaganda ao celebrar
o sucesso na guerra e os frutos da paz, construir monumentos, arcos do triunfo
e altares, parece indicar o objetivo comunicacional desses grandiosos objetos
artísticos. Durante a Idade Média, as igrejas eram construídas a partir de
instruções que tinham como intenção mostrar aos fiéis o poder divino.
Arquitetura, afrescos, vitrais, pinturas, baixos-relevos das catedrais e grupos
escultóricos foram largamente utilizados pela Igreja católica na evangelização.
Como afirmam Briggs e Burke (2004, p. 20), “[...] nas catedrais da Idade Média,
as imagens esculpidas em madeira, pedra ou bronze e figurando em vitrais
formavam um poderoso sistema de comunicação”. Dirigidas a uma massa de
iletrados, as mensagens visuais “materializavam” principalmente passagens
bíblicas, aproximando o homem do povo das manifestações divinas. No Brasil
colonial jesuítas utilizavam técnicas teatrais para catequisar e educar
indígenas.
Na contemporaneidade, a arte vem passando por diversas
transformações proporcionadas por artistas que são também comunicadores.
Se a arte é uma forma de expressão e tem função social ela exige processos
contínuos de comunicação e promoção. O termo sítio específico (site
especific), define obras de arte criadas de acordo com o ambiente e com um
espaço determinado, um trabalho planejado e instalado em locais públicos. O
objetivo é que os elementos esculturais, sensoriais ou pictóricos dialoguem
3
com o meio, com os espectadores e outros elementos que estão ao seu redor:
o vento, a chuva, a poeira e o ruído. Projetos site specific procuram modificar
não apenas a paisagem e os locais em que estão permanente ou
temporariamente instalados, mas também as pessoas que por ali circulam e
remetem à noção de arte pública, arte realizada fora dos espaços tradicionais.
No Brasil, nas últimas duas décadas foi crescente a preocupação com o
patrimônio artístico e cultural. Preservação, conservação, tombamento e
comunicação foram motivos para pesquisas acadêmicas, criação de políticas
públicas, ações legislativas, incentivo fiscal. Isso tornou instituições,
monumentos, patrimônio imaterial e acervos artísticos objetos de debate, além
de despertar o interesse e gerar investimentos por grandes corporações e
instituições financeiras públicas e privadas.
Os lugares de memória (lieux de mémoire), denominação cunhada pelo
francês Pierre Nora (NORA, 1993), foram sendo construídos sistematicamente.
Compreendemos que os lugares de memória não são apenas endereços ou
monumentos petrificados e localizados no território urbano, em pequenas ou
grandes cidades. Ao contrário, são espaços de reinvenção da memória e da
convivência, nem sempre afinada, de aspectos materiais, simbólicos,
funcionais e que afetam os processos de construção dessa memória.
Estudo sobre a importância de reunir dados para a pesquisa em arte
realizado no período 1983-86, o Museum Prototype Project (MPP)3 indicou que
a arte é um campo interdisciplinar e, segundo Lima (2000, p. 20), espaço “no
qual a interpenetração dos conhecimentos se aglutinava em torno de novas
propostas metodológicas para pensamento e ação”. O MPP abordou vários
assuntos, entre eles análises de processos de comunicação do conhecimento e
sua transferência ao pesquisador de arte, além de reforçar a proposta do
reconhecimento do objeto artístico como fonte de informação.
Passadas duas décadas – e com a evolução tecnológica – arte vem
sendo estudada a partir perspectivas diferentes do foco da Filosofia, Teoria e
História da Arte. Em exemplo é o trabalho realizado por Velthuis (2005),
pesquisador que coordena na Universidade de Amsterdã estudo sobre o
3 Um dos programas lançados pela Fundação Getty, o Museum Prototype Project foi estabelecido para
fornecer um amplo fórum para a discussão das questões referentes à informatização das coleções dos museus de arte.
4
mercado de arte em países emergentes e que abrange a Sociologia (arte,
cultura e consumo) e o sistema das artes. Segundo Velthuis (2005a), o
mercado da arte é um contexto em que as interdependências e trocas têm uma
dimensão simbólica importante. Ultrapassam a questão econômica e englobam
questões sociais, culturais, identitárias e de informação.
Arte nos bancos: lugares de memória?
A aquisição de obras de arte para decorar, enfeitar ou criar ambientes
especiais é histórica. A igreja, o poder público e os mais ricos tinham como
hábito, contratar pintores, escultores e diversos outros artistas para pintar,
esculpir, decorar ou construir palácios, casas, igrejas e prédios. Como afirma
Baxandall (1991, p.11) “uma pintura no século XV é o testemunho de uma
relação social”. De um lado, o pintor produzia ou supervisionava a realização
de um quadro. Do outro, alguém encomendava a obra e fornecia fundos para
sua realização e, uma vez concluída, decidia de que forma usá-la. A arte e
suas qualidades proporcionando uma comunicação e propaganda eficientes,
engajadas em favor de ideologias, religião e poder. Há, com certeza, muitas
diferenças entre as estruturas de séculos passados e as atuais. Contundo,
existe a permanência de determinados valores e crenças que são perpetuados
em e por algumas instituições.
O engajamento corporativo nas artes e na cultura é anterior à década de
1980, mas foi nesse período que se viu a utilização do poder do dinheiro
corporativo como participante ativo na arena cultural. A novidade nesse
processo de “privatização da cultura” foi a busca deliberada da arte não apenas
como investimento financeiro, mas também como instrumento de realce de
imagem por um setor da sociedade que antes era visto como, se não filisteu,
pelo menos indiferente à arte. E continua crescente o papel das grandes
empresas e seus interesses privados no mundo das artes: na produção,
circulação e nas instituições culturais no mundo, submetendo-as aos seus
interesses sob a ótica do marketing, do investimento em ativos e da diplomacia
de negócios (TAO WU, 2006).
Segundo Miranda, na apresentação da obra de Tao Wu (2006) ao público
brasileiro, essa política de privatização da cultura iniciada nos países ricos
5
repercutiu na periferia econômica e teve desdobramentos no Brasil, onde
adquiriu características próprias. Instituições financeiras públicas nacionais
recuperaram o papel dos antigos mecenas4 e passaram a patrocinar entidades,
museus, artistas e publicações. Inúmeros livros de arte mostrando a trajetória
de artistas e registrando a memória de pintores e escultores brasileiros são
publicados periodicamente (TAO WU, 2006).
Como contrapartida aos investimentos em patrocínio, são produzidos
livros destinados aos principais clientes e parceiros, transformados em brindes,
presentes de final de ano ou como marco comemorativo do aniversário das
instituições. A prática – associar a imagem objetiva dos bancos ao mundo
subjetivo da arte – persiste e foi aprimorada com a criação de espaços culturais
e territórios para cumprir essa finalidade. A ideia de mecenato – incentivo e
patrocínio de artistas e literatos e de atividades artísticas e culturais – é comum
em várias instituições financeiras públicas e privadas, no Brasil e no mundo.
Além do patrocínio, que tem a arte como ativo para agregar valor à
imagem institucional, há acervos de obras de arte de artistas brasileiros,
mobiliários, antiguidades, objetos e livros raros em instituições públicas
nacionais como Caixa Econômica Federal (CEF), Banco do Brasil (BB), Banco
Central do Brasil (BCB), Petrobras, Instituto Nacional de Seguridade Social
(INSS, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Itamaraty, Universidade de
Brasília (UnB) e Correios, entre outros. Grandes corporações privadas, como
Banco Itaú, Santander, BM&F/Bovespa também possuem coleções próprias.
Os Correios, empresa de 350 anos, tem um acervo de um milhão de
peças relacionadas à história postal, telegráfica e filatelia. Gerenciam o Museu
Nacional dos Correios, inaugurado em 15 de janeiro de 1980, em Brasília, e
administram um edifício que abriga em cinco andares locais para exposições,
auditório para apresentações de música, cinema e teatro5. O Museu oferece
exposições temáticas com base no acervo filatélico, como a exposição Orisun
Asa que mostrou a representação do negro na filatelia brasileira desde o
4 O termo deriva do nome de Caio Mecenas (68 A.C. - 8 A.C.), um influente conselheiro de Otávio
Augusto que formou um círculo de intelectuais e poetas, sustentando sua produção artística. 5 A empresa mantém centros e espaços culturais no Rio de Janeiro, Recife, Salvaldor, Fortaleza e Juiz de
Fora.
6
primeiro selo relativo à abolição da escravidão, lançado em 1900, até as
recentes emissões do fim do século XX e início do XXI6.
O Banco Central do Brasil possui um acervo avaliado em 10 milhões de
reais, guardado no Edifício Sede em Brasília que reúne obras de pintores
brasileiros como Portinari, Volpi, Di Cavalcanti, Vicente do Rego Monteiro,
Aldemir Martins e Tarsila do Amaral. O acervo já foi composto de 4.500 obras.
As mais valiosas e de maior expressão – cerca de 200 – foram integradas ao
patrimônio artístico do BCB por sugestão de uma comissão técnica integrada
por Pietro Maria Bardi e Edson Mota. O objetivo era garantir a preservação e a
exposição à comunidade nacional e internacional. Quanto às demais obras –
de menor valor – a instituição se desfez de parte delas, participando de leilões
ou doando-as a entidades culturais brasileiras, mantendo uma reserva técnica
destinada à ambientação de áreas de trabalho no BCB. Hoje, com a
revitalização da Galeria do Banco Central do Brasil, há uma equipe trabalhando
para difundir o acervo e promover a visitação de educadores e alunos à galeria.
Na sede do BACEN em Brasília funciona também o Museu de Valores que
exibe acervo reunindo cédulas, moedas, documentos e peças que expressam
ou estão relacionadas ao contexto monetário, organizado em mostras
permanentes e temporárias. O Museu desenvolve programas de integração
com escolas, mantém serviços de atendimento a pesquisas na área
numismática e promove exposições itinerantes.
O Banco do Brasil possui obras de arte, mas o acervo não é centralizado:
há óleos, esculturas e gravuras espalhados pelas agências do BB no Brasil e
no exterior. A quase totalidade do acervo é resultado de pagamento ao governo
de dívidas contraídas por pessoas físicas e jurídicas.
A Caixa Econômica Federal possui um acervo com 1.960 obras de arte,
entre pinturas, esculturas, gravuras, tapeçarias, desenhos e fotografias. Entre
elas, O enterro, de Cândido Portinari, avaliada em cerca de um milhão de reais;
Baianas e Vendedor de frutas, de Di Cavalcanti, avaliadas em duzentos e
quarenta mil reais; e São João, também de Di Cavalcanti, cujo valor atual é
cento e cinquenta mil reais. O acervo foi constituído por aquisições de coleções
temáticas – que tem como marco o ano de 1968, quando a CEF começou a
6 A exposição foi realizada de janeiro a março de 2013.
7
encomendar obras de renomados artistas brasileiros; pela incorporação de 246
obras do acervo do extinto Banco Nacional da Habitação (BNH), em 1996;
passando pela aquisição da Coleção Brasília, em 1987, a coleção do V
Centenário em 1998/9, e também por algumas doações de artistas expositores.
A Câmara dos Deputados tem 800 esculturas, pinturas e gravuras de
artistas brasileiros como Iberê Camargo, Aldemir Martins, Rafael de Falco,
Quirino Campofiorito, Glênio Bianchetti, Fayga Ostrower e Floriano Teixeira
espalhadas pelas suas dependências7.
Instituições públicas e privadas promovem exposições dos seus acervos
artísticos, como é o caso do Conjunto Cultural da Caixa (Brasília/DF), Itaú
Cultural, Câmara dos Deputados, Itamaraty, Pirelli e BM&F Bovespa. Empresa
de origem italiana, a Pirelli tem um acervo de obras representativas de
modernistas brasileiros, como Di Cavalcanti.
O acervo do Banco Itaú cresceu e resultou na criação do Instituto Itaú
Cultural para gerir o patrimônio artístico que tem atualmente 10 mil peças. O
instituto faz um trabalho de difusão das obras, emprestando para museus e
galerias de arte, e promove exibições em locais públicos.
Obras de arte e os labirintos da legalidade
Além de acervos que são patrimônio de instituições financeiras públicas,
existem obras de arte apreendidas pelo Estado que são inacessíveis ao
público. Há casos marcantes de obras apreendidas nos anos 1980 pela Polícia
Federal (PF) e pela Receita Federal que estão sob custódia ou foram doadas a
instituições museológicas. Peças pertencentes à coleção do falido Banco
Coroa Brastel foram confiadas há duas décadas pela Justiça Federal ao Museu
Nacional de Belas Artes e, desde então, permanecem isoladas na reserva
técnica. Atualmente há obras apreendidas pela PF em pelo menos quatro
museus brasileiros. No entanto, por determinação judicial elas não podem ser
expostas. É o caso do Museu Nacional de Belas Artes (MNBA), que recebeu 23
obras da coleção do ex-banqueiro Salvatore Cacciola8.
7 Exposição Palácio Museu: Arte por toda a Casa, foi realizada no Gabinete de Arte da Presidência da
Câmara, de dezembro de 2012 até 27 de janeiro 2013, em visitas guiadas, com algumas dessas obras. 8 O banqueiro foi condenado a 13 anos de prisão por gestão fraudulenta do Banco Marka.
8
Os depósitos da Justiça Federal em São Paulo guardam um patrimônio
acondicionado precariamente. Um lote com 10 mil obras de arte apreendidas
em operações policiais e decretos de falências de bancos aguarda destino.
Talvez a dificuldade em dispor essas coleções esteja ligada justamente à sua
origem. Para que “servem” obras de arte em cofres de bancos, em grandes
salas de reunião? São coleções, escolhidas de forma técnica com curadoria e
orientação, ou apenas acumulação ou uma composição aleatória?
O Museu Nacional da República de Brasília recebeu 195 obras
apreendidas em 2006 pela Polícia Federal durante operação que desmantelou
um cartel colombiano e prendeu o traficante de drogas Juan Carlos Abadia. O
Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo (MAC-USP) foi
o destino das gravuras Le predateur, La cantatrice e outra sem título, de Joan
Miró, além de três obras de Fukushima Tikashi, Sérgio Milliet e Eternit Bar. As
peças foram apreendidas durante a Operação Satiagraha e pertenciam ao
investidor Naji Nahas, preso pela Polícia Federal em julho de 2009.
O mercado da arte no Brasil e no mundo sofre o impacto da economia,
das políticas econômicas e culturais e das novas tecnologias da informação,
que têm favorecido a recuperação, gestão, conservação de acervos e,
especialmente, a sua difusão, o que pode permitir a democratização do acesso
aos bens culturais. Um bom exemplo foi o lançamento, em abril de 2012, da
segunda fase do Google Art Project 9. A Pinacoteca do Estado de São Paulo e
o Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM-SP) estão presentes no site.
Segundo o Google, o número de instituições participantes passou de 17 -
quando foi lançado em fevereiro de 2011- para 151.
É fato que existem muitos acervos cujo acesso é vedado ao grande
público, e essa é uma questão cultural relevante para a sociedade brasileira.
Zins (2007), no seu estudo "Mapa do Conhecimento da Ciência da Informação”,
no qual procura, principalmente, conceituar o campo da Ciência da Informação
(CI), afirma que “o modelo cultural representa a principal corrente da Ciência da
Informação contemporânea” (ZINS, 2007, p. 341). Esse modelo tem como foco
9 Serviço que disponibiliza na internet parte do acervo de museus do mundo todo e proporciona um passeio virtual pelas instituições.
9
os aspectos de mediação de DICM (dados, informação, conhecimento e
mensagem) e como eles são implementados nas sociedades humanas.
A CI é um campo interdisciplinar, integra abordagens diferenciadas para
compreender a complexidade da questão informacional. O conceito de
informação é marcado pela amplitude, multiplicidade e inúmeras definições:
informação científica, tecnológica, gerencial, jornalística, genética e artística.
Neste artigo entendemos a arte, por meio dos objetos pertencentes a acervos e
coleções, como elemento informacional e educativo capaz de contribuir para a
aquisição e construção de conhecimento.
Objetos, como produtos da ação humana, são portadores de informação
e, para Lima (2000, p. 17), os objetos artísticos de museus – e que neste caso
em análise estão alocados em outro contexto – são categorias de informação:
[...] objetos culturais indicativos de formas da Representação do Conhecimento com propriedades específicas para informação, têm exigido enfoque de novas práticas e recomendações pertinentes ao tema especializado da Pesquisa em Artes, na dimensão conjugada da Informação, Arte e Museu.
Há vários conceitos sobre a arte como representação. Neste caso a arte é
mediadora e parte ativa do processo de transferência da informação, do
conteúdo informacional. A obra estética pode contribuir com o processo de
disseminação de informação e o consequente conhecimento sobre ela mesma
e o mundo.
Objetos fazem parte de sistemas simbólicos e de representação, e se
fundamentam na estrutura de um sistema de relações sociais de produção,
circulação e consumo. Lima (2000) mostra como esse processo acontece em
instituições que têm como objetivo a gestão de acervos, em especial os
museus.
No espaço cultural formulador de modelos de pensamentos e ações, cenário para integrar os bens culturais, bens simbólicos, a instituição Museologia/Museus assume presença na qualidade de meio e agente cultural/social referido a qualquer geração, comunicação, transmitindo a permanência de conceitos ou sua transformação. É dimensão relacional para ocorrências de circulação, consumo e os citados mecanismos que envolvem as significações (LIMA, 2000, p.28).
10
Lima (2000) afirma ainda que o museu é espaço social e de trocas
simbólicas.
[...] espaço e agente competente de decisão (habilitação cultural/social) para o processo envolvendo: a coleta e/ou seleção e organização do acervo; apresentação das coleções e disseminação da informação cultural correspondente (exposições, etc.), os demais estudos e atividades referentes ao acervo; à disciplina Museologia; a outras situações e ocorrências. Trata-se da questão da construção da imagem pública qualitativa (técnicas e profissional) (LIMA, 2000, p. 30).
Espaços dedicados e específicos de difusão da arte são locais de
exposição, difusão, consagração e de reprodução. Nesse sentido,
perguntamos: instituições financeiras são espaços sociais de circulação de
informação estética? Neste artigo procuramos entender os espaços simbólicos
das instituições financeiras – que julgamos não serem espaços específicos de
difusão da arte, mas atuam como se assim o fossem – como locais para onde
algumas atividades típicas dos museus foram deslocadas e são administradas
atualmente: disseminação da informação, transmissão de conhecimento,
conservação, restauração e ação educativa. Enfim, espaços de aprendizagem,
conhecimento e memória.
Em sua missão precípua, as instituições financeiras não são lugares
sociais de difusão cultural. O conceito de lugar social refere-se às posições de
referência imputadas e assumidas socialmente pelos sujeitos e instituições,
caracterizando-se assim como posição simbólica e não referência topográfica.
Lima (2000, p. 38) define “lugar social do saber da informação estética” como
aquele onde ocorre o jogo entre grupos de agentes de informação,
especialistas e não especialistas, pelo domínio do capital simbólico/cultural
com vistas a adquirir o poder simbólico e exercer a competência cultural no trato
das questões de informação de conteúdo artístico. Portanto, existe uma série de
contextos particulares que se mesclam para formar o campo da arte: artistas,
marchands, experts, colecionadores, críticos, acadêmicos, gestores culturais que
são, afinal, aqueles que dizem o que deve ou não ser “artístico”.
Instituições financeiras não são lugares do “saber da informação estética.”
São locais onde acontece a apropriação da arte com outras finalidades, distintas
das missões dos espaços culturais, de documentação e de memória. Então, por
11
que instituições financeiras públicas brasileiras fazem gestão de acervos artísticos
diversos? Qual a orientação para a realização de atividades educativas nessas
instituições.
Ciência e arte: educação e informação
O que arte e ciência têm em comum? Essa é a pergunta de Stephen
Wilson na obra Information arts na qual discute as diferenças e semelhanças
entre a pesquisa científica e a arte. Para o autor, a pesquisa científica é o
centro da inovação cultural e influencia a vida e o pensamento; defende a ideia
de que arte deve participar da agenda de pesquisa de cientistas e profissionais
que trabalham com tecnologia, e que esse relacionamento poderá enriquecer e
expandir as áreas de interesse da ciência e da arte.
Bates (1999) afirma que a Ciência da Informação estuda o mundo da
informação registrada pela ação humana nos campos social, cultural e artístico
(livros, artigos, banco de dados, arquivos, literatura, música, cinema, etc.). Em
suma, esses são os produtos documentais da atividade humana que merecem
ser estudados pela CI.
O tema da pesquisa em arte com enfoque nos pressupostos teóricos da
CI é complexo. Lima (2000, p. 22) mostra que as modalidades do discurso da
arte e sobre a arte merecem ser:
[...] identificadas e definidas, classificadas e ordenadas, coletadas e integradas como fonte documental para o uso nas pesquisas envolvendo as Artes Plásticas, segundo as características da Informação em Arte, atendendo, assim, à Ciência da Informação, Museologia e História da Arte.
Le Coadic apresenta assim sua acepção de Ciência da Informação:
A ciência da informação, com a preocupação de esclarecer um problema social concreto, o da informação, e voltada para o ser social que procura informação, coloca-se no campo das ciências sociais (das ciências do homem e da sociedade), que são o meio principal de acesso a uma compreensão do social e do cultural (LE COADIC, 1996, p. 21).
Le Coadic (1996, p. 5) define informação como “um conhecimento inscrito
(gravado) sob a forma escrita (impressa ou numérica), oral ou audiovisual e
que comporta ‘elementos de sentido’”. Baseados nessa definição, vemos os
objetos artísticos como documentos, pois podem ser considerados como sendo
12
algo “que representa ou exprime com a ajuda de sinais gráficos (palavras,
imagens, diagramas, mapas, figuras, símbolos), um objeto, uma idéia”
(COADIC, 1996, p. 17). Complementamos nosso entendimento sobre o objeto
artístico como documento com a proposta da filosofia da informação de Ilharco
(2003, p. 9), que mostra a informação como “um fundamento da ação, da
comunicação e da decisão, e também como manifestação primitiva e
fundamental”.
Como estudar o objeto artístico como portador de informação e disponível
em outro contexto fora dos arquivos, museus, galerias e centos culturais? A
informação em arte enfoca o estudo especializado da comunicação e
disseminação da informação. Segundo Lima (2000, p. 19), é informação que
“contempla assuntos artísticos vinculados às coleções reconhecidas como de
natureza museológica, em suas feições plurais, no tocante ao processamento
do acervo quando da sua exposição pública em ambiente fechado ou a céu
aberto”.
Para Capurro e Hjørland (2007), não apenas a Ciência da Informação
deveria estudar a informação, mas toda uma rede de disciplinas. A informação
deve ser considerada como algo que depende fundamentalmente do usuário
(agente cognitivo), inserido em determinada(s) comunidade(s) discursiva(s), e dos
seus processos interpretativos (necessidades e habilidades linguísticas). Ou seja,
a definição de informação não é única, mas dependente, situacional e relacional.
Segundo Hjørland e Albrechtsen (1995), a estrutura e organização do
conhecimento, os padrões de cooperação, as formas de linguagem e
comunicação, os sistemas de informação, os critérios de relevância, a literatura e
sua distribuição são reflexos dos objetos de trabalho de comunidades e dos seus
papéis na sociedade. E certamente a arte e o objeto artístico não escapam desses
critérios.
Buckland (1991) identifica e classifica os usos do termo informação em três
grupos: Informação-como-processo, o ato de informar no qual a informação
modifica o conhecimento, sendo intangível; Informação-como conhecimento,
quando informação é também usada para denotar aquilo que é percebido na
informação-como-processo, o conhecimento comunicado referente a algum fato
particular, assunto ou evento, é intangível e não pode ser medida, podendo
13
reduzir a incerteza ou mesmo aumentá-la em certas situações; e Informação-
como-coisa, quando o termo informação é atribuído aos objetos, sendo tangível.
Buckland (1991, p. 353, tradução nossa) relaciona Informação-como-coisa com
“evidência” e objeto.
[...] é possível aprender através do exame de vários tipos de coisas. Na sequência desse aprendizado, textos são lidos, números são calculados, objetos e imagens são examinados, tocados ou percebidos.
O termo evidência é adequado porque denota compreensão e que, se
encontrado e corretamente compreendido, pode mudar um saber, uma crença,
uma cultura.
Imagem, mensagem e educação
Trabalhar a poética do museu e a poética do patrimônio. Eis um desafio que importa encarar. Para além de suas possíveis serventias políticas e científicas, museu e patrimônio são dispositivos narrativos, servem para contar histórias, para fazer a mediação entre diferentes tempos, pessoas e grupos.
Mário de Souza Chagas,
2006.
Durante a Idade Média, imagens sacras eram utilizadas pela Igreja para
doutrinar e evangelizar fiéis analfabetos. No século XX, o poder persuasivo das
imagens se tornou estratégia para incrementar o desenvolvimento industrial e
econômico. Na década de 1980, ainda como resultado dos projetos de
reconstrução cultural da Europa esfacelada pela II Guerra, governos – em
especial, o francês – proporcionaram a criação de espaços e novas práticas
culturais, muitas delas financiadas pela iniciativa privada.
Para Cunha (2003, p. 4), a idéia de ação cultural surge na Europa após a
Segunda Guerra Mundial como parte dos esforços da reconstrução cultural e
integração da região.
A denominação é de origem francesa – action culturelle – igualmente usada na Suíça e na Bélgica, mas seus princípios assemelham-se aos programas existentes nos centros de arte ingleses (arts centers), ou mesmo em instituições culturais norte-americanas cujas atividades são chamadas mais correntemente de (education programs). No Brasil, a expressão vem sendo empregada desde 1970 e, muitas vezes, como sinônimo de animação cultural ou, ainda, de animação sociocultural.
14
As principais características da animação cultural, segundo o autor, são:
a) do ponto de vista social, o intuito permanente de atrair e integrar indivíduos e grupos de diferentes idades e estratos sociais ao universo artístico-cultural, vinculando-os na medida do possível àquelas ações que resolvam ou minimizem problemas comunitários; b) relativamente ao conteúdo, estimular o conhecimento e a convivência de públicos novos ou regulares com as linguagens, expressões ou signos menos recorrentes ou usuais – as “exceções” – à cultura de massa, procurando revelar suas obras, características e significados; ou ainda eleger e determinar critérios pelos quais se possam selecionar aquelas obras que, elaboradas integralmente no interior da indústria cultural, contenham as qualidades necessárias para serem difundidas com um tratamento diferenciado (reorganizadas em ciclos ou temas específicos, por exemplo); c) sob o aspecto organizacional, a de ser uma forma relativamente estruturada e permanente de intervenção institucional, mantida por profissionais de formação multidisciplinar em centros culturais de atividades múltiplas ou específicas, fundações ou associações, ou ainda por quadros comprometidos voluntariamente com as situações de carência local; d) e, por fim, uma identificação com os princípios e os objetivos políticos da educação permanente ou informal.
Cunha (2003, p. 7) define a ação ou animação cultural como “uma
intervenção técnica, política, social e econômica, levada a efeito pelo poder
público ou por organismos particulares da sociedade civil, que concebe,
coordena, gere ou participa de programas, projetos e atividades [...]”. Nos
programas, projetos e atividades relacionadas estão implícitas a formação
(treinamentos, cursos, grupos), a difusão (cultural, de modalidades esportivas),
a conservação (patrimônios e acervos) e a criação (movimentos, formação de
centros).
Segundo o autor (2003, p. 7), a ação cultural intervém na vida social como
portadora de valores, porque “segue a tradição humanista ou iluminista, das
experiências e da diversidade do pensar”, contribuindo para diminuir as
desigualdades culturais, conseqüentemente minimizando as diferenças sociais.
Além disso, colabora para criar oportunidades, como o surgimento de talentos,
ampliar as visões de mundo com “a pesquisa, recuperação e análise de fatos,
documentos ou registros históricos” (CUNHA, 2003, p.7).
A importância da ação cultural é o seu compromisso social e, “ao mesmo
tempo, a sua responsabilidade pública” (CUNHA, 2003, p. 7).
15
Pois o fato de uma instituição ou agência criar ou patrocinar um determinado projeto ou evento indica, clara ou implicitamente, que ela assume um compromisso ético ou moral de aprovação e de mérito daquela atividade que desenvolveu ou ajudou a realizar.
A difusão cultural é uma das práticas da ação cultural e tem por referência
a programação de eventos – concertos, exposições, festivais, espetáculos,
mostras e torneios – destinados à fixação de um hábito. Cabe aos agentes
culturais a responsabilidade pela alfabetização e pela execução da difusão
cultural: a alfabetização cultural é entendida como propiciadora e facilitadora do
acesso e aprendizagem de conhecimentos a um público amador, diletante ou
semiprofissional, por meio de oficinas, cursos, ateliês, treinamentos e
programas educacionais. Enfim, a apropriação e incoporação de valores
culturais e artísticos é um elemento do desenvolvimento individual e coletivo
(CUNHA, 2003, p. 4).
Educar pela e para a memória
‘A visitação, o uso, o arejamento dos acervos de memória não podem ser serviços farisaicos dos sacrários, um mero incensamento de ídolos petrificados. Deve ser uma prática intensa e comprometida, reflexiva e crítica, implicando os agentes na coisa visitada, consultada, de modo a permitir a emergência da verdadeira vida: a que brota pela ação da força subjetiva, íntima, sobre o imenso solo das criações passadas.”
Luiz Fernando Dias Duarte, 2003
A partir das décadas de 1960 e 1970, segundo Courchesne (1998-1999,
p. 150) proliferaram nos Estados Unidos a implantação dos serviços educativos
e a discussão da idéia do museu como agente educacional. Isso provocou uma
mudança na relação entre educação e espaço museológico como lugar de
memória e conhecimento.
No Brasil, na década de 1970, o Museu de Arte Moderna do Rio de
Janeiro realizava cursos de arte com o objetivo de oferecer educação artística
a todas as classes sociais. Em São Paulo, foram desencadeadas várias ações
educativas – não apenas a monitoria ou visita guiada – envolvendo obras da
Bienal de Arte de São Paulo e exposições no MAC (Museus de Arte
16
Contemporânea) e no Museu Lasar Segall (BARBOSA, 1996, p. 87). O Museu
de Arte de São Paulo (MASP), na década de 1990, criou um programa
educativo com equipe de monitores que dialoga com o público e está
permanentemente propondo atividades paralelas dentro dos modelos de arte-
educação, com visão multidisciplinar e criativa.
As atividades de difusão cultural cotidianas em arquivos públicos na
Europa e América do Norte (FUGUERAS, 2001; COURCHESNE, 1998-1999)
são várias: produção de CDs interativos e sítios eletrônicos, arquivos virtuais,
audiovisuais, exposições – permanentes, temporárias, itinerantes e virtuais –
cartazes; marca-páginas; edição de livros, guias, inventários, catálogos,
índices, catálogos de exposições; edição de boletins; publicação de revistas;
realização de congressos, seminários, palestras, encontros, cursos; produção
de vídeos, documentários; elaboração de material educativo; dramatização;
maquetes; jogos; concursos e visitas guiadas ao arquivo.
A função educativa não é limitada às atividades com alunos e
professores, e esse assunto é consenso entre os autores (FUGUERAS et al.
2001; COURCHESNE, 1998-1999; BLAIS; ENNS, 1990). Ao contrário, é uma
prática cultural baseada na transmissão de informação, de conhecimento, na
formação cultural destinada a vários públicos. Para Fugueras (2001, p. 162), o
serviço educativo é entendido como a exploração pedagógica de fundos de um
arquivo, através de diversas práticas tais como visitas guiadas, exposições e
atividades didáticas, dirigidas ao público em geral e especialmente ao público
escolar.
Tratar da educação nos arquivos significa colocar em cena não apenas o
processo que podemos chamar de pedagógico e seus atores – arquivistas,
professores, alunos, público em geral e documentos – mas citar
fundamentalmente as relações entre poder, memória e esquecimento que
estão presentes nessas instituições, assim como em outros locais de memória
como museus, centros de documentação e bibliotecas.
Para entender a importância dos serviços educativos e da difusão cultural
em arquivos públicos e museus e a educação pela e para a memória, é
fundamental a compreensão dessa prática social para entender por que as
ações empreendidas podem dinamizar acervos. Acerca da dinamização de
17
acervos, Nóbrega (1999, p. 59) mostra, quando discute o assunto em relação
às bibliotecas, os principais elementos que constituem esse processo:
memória, linguagem, interpretação, discursos e narrativas. Segundo a autora, é
crescente nas bibliotecas o interesse pelos diferentes públicos e as reflexões
sobre a sua finalidade educadora, mesmo que permaneça “em sua prática a
dificuldade de harmonizar conservação e uso dos estoques” (NÓBREGA, 1999,
p. 64).
Mas qual é o público/sujeito dessa ação política de educar pela memória?
Para Canclini (1997, p. 150), o público dos espaços culturais contemporâneos
é heterogêneo.
[...] a noção de público é perigosa se a tomarmos como um conjunto homogêneo e de comportamentos constantes. O que se denomina público, a rigor, é uma soma de setores que pertencem a estratos econômicos e educativos diversos, com hábitos de consumo cultural e disponibilidades diferentes para relacionar-se com os bens oferecidos no mercado. Sobretudo nas sociedades complexas, em que a oferta cultural é muito heterogênea, coexistem vários estilos de recepção e compreensão formados em relações díspares com bens procedentes de tradições cultas, populares e massivas. Essa heterogeneidade se acentua nas sociedades latino-americanas pela convivência de temporalidades históricas distintas.
A realidade social é uma construção conjunta dos indivíduos que
compartilham significados através da comunicação. Isso quer dizer que ela é
produto das práticas sociais (VÁZQUEZ, 2001). E arquivos públicos e museus
são locais de exercício dessas práticas que são também culturais.
Nessa perspectiva, procuramos aproximar os museus e espaços de
difusão nas instituições financeiras dos arquivos públicos a partir do conceito
proposto por Castro (1999, p. 13) quanto ao espaço museológico, considerado
pelo autor “enquanto narrador autorizado e referência cultural”. Pensamos o
espaço arquivístico como local de convergência de atividades e públicos,
ambiente de comunicação e informação cultural.
A pesquisa sobre a memória histórica alcançou âmbito internacional e a
memória e a musealização juntas são necessárias para construir ”uma
proteção contra a obsolescência e o desaparecimento, para combater a nossa
profunda ansiedade com a velocidade de mudança e o contínuo encolhimento
dos horizontes de tempo e espaço” (HUYSSEN, 2000, p. 28).
18
Como é possível educar pela memória? Quais os instrumentos e técnicas
utilizados para esse fim? Qual o princípio em educar para a memória? Como os
profissionais podem atuar?
Duarte (2003, p. 315) dá indícios sobre o desafio dos profissionais da
informação em relação à memória:
Esse é, sem dúvida, o maior desafio que hoje se apresenta aos profissionais da memória: o de como assegurar que os extraordinários recursos de que se pode lançar mão mantenham o comprometimento reflexivo dos fiéis (e dos sacerdotes). Permitir, nos termos de Max Weber, que o carisma, o comprometimento subjetivo e a força vital permaneçam circulando no aparelhamento burocrático da memória.
Os arquivos são, então, espaços de discurso do patrimônio e, pela
definição proposta por Gonçalves (2002, p. 110), esses “discursos do
patrimônio cultural” estão presentes em todas as sociedades nacionais
modernas. O autor define os patrimônios culturais – enquanto gênero de
discurso – como “modalidades de expressão escrita ou oral, que partem de um
autor posicionado (individual ou coletivo) e se dirigem e respondem a outros
discursos” (GONÇALVES, 2002, p. 111). Assim, o patrimônio cultural não é
considerado pelo autor como uma “coleção de objetos e estruturas materiais
que existem por si mesmas, mas são, na verdade, discursivamente
construídos”, e sim como “um conjunto de concepções de patrimônio,
concepções de tempo, espaço, subjetividades, etc”.
Partindo do conceito de memória social, destacamos as capacidades e
competências dos arquivos públicos, centros de documentação, museus,
bibliotecas e outros espaços construídos para a cultura e arte, para a
realização de processos e práticas sociais mediados pela informação,
linguagem e comunicação visando a construção de uma parcela do fato social.
O fato social, construído e re(construído) nos “lugares de memória” não têm o
sentido exclusivo da narrativa e conhecimento do passado, pronto e acabado.
É trabalho de escrita e de leitura, assim como a visita a uma exposição é um
processo de construção de conhecimento.
O processo de tratamento da memória – e do esquecimento – não pode
ser encarado pelas instituições apenas como a concepção de memória
19
identificada com acumulação, individualidade e retenção (VÁZQUEZ, 2001, p.
26). Ao contrário, o sentido da memória, assim como a própria memória, é
recriado constantemente, influenciado pelo momento histórico, pelo tempo e
pelos indivíduos (historiadores, arquivistas, jornalistas e público).
Em síntese, as operações usadas para tornarem vivas certas lembranças,
dentro dos espaços culturais de memória são afetadas por movimentos
internos e externos, além de todas as implicações no processo de
administração da instituição e que podem interferir para a não-concretização
dessa educação pela e para a memória: gestão do arquivo, tratamento dos
acervos, recursos, infraestrutura e pessoal.
Internamente, as mutações são motivadas pelo documento como objeto:
a descoberta de novas informações, a análise de um fundo, a recuperação ou
recebimento de um acervo importante e também fatos negativos, como um
acervo fragmentado, não conservado. Externamente, as transformações são
motivadas pelos sujeitos através de grupos sociais, econômicos e políticos.
Esses movimentos modificam a memória e os fatos e a maneira de utilização
dessa informação acumulada.
Educar pela memória significa dar visibilidade aos acervos de herança
cultural, mostrando que o passado, a consciência de que a história ensinada é
uma interpretação das fontes documentais e, por isso, é fundamental a
responsabilidade sobre a conservação e uso dos documentos de arquivo
(VELA, 2001, p. 80). Através das ações culturais é possível atuar na formação
de novos usuários e na democratização e expansão dos saberes.
Educar para a memória é dar sentido ao patrimônio e seus discursos, de
forma crítica e construtiva. Se o discurso10 faz parte das narrativas e da
história, que história está sendo reconstruída por essa sociedade e nesses
espaços financeiros?
10
O discurso, neste caso, está relacionado “às visões de mundo que são parte integrante dessas linguagens e que se opõem às outras. Não há visões de mundo, formas de pensamento separadas dos discursos que as veiculam” (GONÇALVES, 2002, p. 111).
20
Considerações finais
Percebemos que assim como o conceito de informação e de arte, a
exposição e aquisição de informação e conhecimento também podem
acontecer fora dos espaços tradicionais de difusão da arte. O que nos diz
respeito nesse sentido é de que forma esse acesso pode e deve ser
democratizado. Quantos empregados do Santander são efetivamente
sensibilizados pelo seu acervo, pela presença de obras-primas de grandes
pintores brasileiros? De que forma a arte pode ser um vetor para o
conhecimento? Quais ações devem ser agregadas para potencializar uma
exposição em um corredor da sede de um banco? Quais as diferenças entre
uma galeria instalada na cobertura do Banco Central e um espaço público?
Como garantir o acesso?
Concordamos com Castro (1999, p. 28) em relação à necessidade da
revisão das práticas de gestão da informação – em relação à disseminação
efetivada pela difusão cultural – em museus e nos arquivos públicos brasileiros:
Só assim torna-se viável a expectativa do museu que, ao sair de sua torre de marfim, seja entendido como instituição comunicativa, fonte de pesquisa científica e estética, transmissora de conhecimento e disseminação de informação, ao ser vivenciado como local onde o contexto cultural seja mostrado e discutido em toda a pluralidade social.
É importante a abordagem de nosso objeto pela perspectiva apontada por
Le Coadic (1996, p. 21) em relação ao espaço informacional das bibliotecas
especializadas e dos museus, a de “missão educativa”.
A ciência da informação, com a preocupação de esclarecer um problema social concreto, o da informação, e voltada para o ser social que procura informação, coloca-se no campo das ciências sociais (das ciências do homem e da sociedade), que são o meio principal de acesso a uma compreensão do social e do cultural.
Essa missão deve “levar em consideração o impacto da informação na
vida do usuário, fora do sistema de informação que utiliza” (COADIC, 1996, p.
44). Assim, em um país de escassos recursos destinados à arte e cultura,
acreditamos ser fundamental incluir os espaços dos bancos brasileiros
destinados à difusão da arte como locais de prática educativa e cultural dirigida
ao grande público, aos pesquisadores e estudantes. Se há problemas de
21
manutenção dos acervos e dificuldades para a realização de atividades de
difusão, isso não é exclusividade nacional.
No exterior, a situação não é muito diferente. Em 2010, os bancos
Commerzbank e Dresdner Bank distribuíram obras de sua coleção de arte a
vários museus alemães: Nationalgalerie (Berlim), Museu de Arte Moderna
(Frankfurt), Museu Städel, Coleções Estatais de Arte de Dresden e as galerias
municipais de Dresden (BLOCH, 2010).
Mas por que essa transformação, se era política de algumas das
instituições financeiras expor em salas de reuniões, escritórios e corredores
obras de artistas muito ou pouco conhecidos? Os bancos Commerzbank e
Dresdner Bank mantêm ligações com as cidades de Berlim, Frankfurt
e Dresden e, segundo a direção do banco, a instituição pretende “devolver algo
à sociedade. Nosso objetivo é incentivar a arte, a cultura e a nova geração.
Mas para isso não precisamos montar coleções de arte, pois acreditamos que
o museu pode cuidar melhor delas" (BLOCH, 2010). Essa ação pode ser
considerada como uma mudança na política das instituições financeiras em
relação à arte, que guardavam as obras para o uso corporativo? Ou algo
relacionado ao quadro de crise na Europa e os altos custos de manutenção do
acervo?
Desde os anos 1970, o Dresdner Bank realiza aquisições para compor
uma coleção internacional que hoje conta com cerca de duas mil peças, das
quais 100 são consideradas especialmente valiosas. E justamente essas foram
doadas a cinco museus. A curadora Astrid Kiessling-Taskin participa desde
2002 da aquisição das obras e afirma:
Estou em parte aliviada com o fato de justamente as peças mais valiosas realmente estarem em boas mãos. Não dispomos dos recursos nem das condições de conservar as obras e nem de cuidá-las, garantindo que ainda possam ser vistas pelas próximas gerações (BLOCH, 2010, grifo nosso).
No início de 2010, o Commerzbank vendeu em leilão o objeto de maior
renome internacional da coleção do recém-incorporado Dresdner Bank: uma
escultura do artista suíço Alberto Giacometti (1901-1966) intitulada L'Homme
qui marche, pelo valor de 74 milhões de euros. A soma foi distribuída – a maior
parte permaneceu como acervo do banco – e cada um dos cinco museus
22
escolhidos recebeu um milhão de euros para projetos de restauração e
conservação (BLOCH, 2010).
Contudo, esse é um ato solitário. Os diretores de outras coleções na
Alemanha não pretendem fazer o mesmo. O Deutsche Bank, por exemplo,
continuará investindo na sua coleção, mesmo tendo cedido obras ao museu
Städel. O mesmo acontece com a seguradora Allianz, de Munique, cujos
curadores avaliam doar a museus apenas "coisas obsoletas, como aquarelas
dos anos 1950" (BLOCH, 2010, grifo nosso). Ao mesmo tempo em que poupa
dinheiro com restaurações e com a gestão do acervo (armazenamento,
segurança, difusão, documentação, entre outras atividades), ao doá-las, o
Commerzbank está construíndo para si uma boa imagem e melhorando sua
reputação junto a opinião pública.
No Brasil, duas iniciativas recentes, ainda não concluídas, inserem novas
perguntas sobre o acesso aos bens culturais apreendidos e os rumos para as
políticas públicas brasileiras que têm como objeto as áreas de patrimônio, arte
e cultura.
Em Brasília, o Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM) discute com a
Receita Federal os detalhes de uma espécie de anistia para peças que não
pagaram impostos ao chegar ao país e que hoje integram coleções particulares
de forma irregular. A Comissão de Educação e Cultura do Senado se prepara
para analisar o projeto de lei 97/2011, da deputada federal Alice Portugal
(PCdoB), que determina que todas as obras apreendidas em aduanas e
envolvidas com problemas fiscais, façam parte do pagamento de dívidas, ou
mesmo as que tenham sido abandonadas por seus proprietários sejam
repassadas à União e distribuídas pelo IBRAM aos museus do país.
O texto foi analisado pela Câmara dos Deputados e tem parecer positivo
da Comissão de Justiça e Cidadania do Senado. Se sancionado pela
presidente Dilma Rousseff, prevê a destinação aos museus federais dos bens
de valor artístico, histórico e/ou cultural que já estão sob a guarda de órgãos e
entidades da administração pública federal e da Justiça Federal.
O objetivo das duas medidas é semelhante: esvaziar reservas técnicas,
legalizar obras e tornar visíveis centenas de peças, garantindo o acesso
democrático aos bens culturais.
23
A ocupação do espaço social pelas instituições de memória deve ser
precedida por uma intervenção cultural e representativa do local como espaço
de onde a tradição é contemporânea. Um local de referência, reflexão e prazer
onde o visitante possa aprender a rememorar e onde sejam realizadas
atividades tão diversas e criativas que possam contribuir para transformar o
visitante ocasional em freqüentador. A valorização e atualização desses
espaços de memória significa também a difícil tarefa de ampliação do público e
estabelecimento de uma função social da instituição financeira: com a difusão
das informações, por exemplo, a arte brasileira poderá ser conhecida por um
público cada vez maior.
A partir de um delicado processo de interpretação e ressignificação,
motivado pelos acervos em poder dos bancos, a difusão cultural pode inventar
dispositivos para criar e recriar a memória da arte e ser também mais um
antídoto ao esquecimento e abandono de obras de arte: ações que podem dar
vida aos acervos para realmente os elevar à condição de testemunhos e fontes
da história da arte brasileira, de onde pode jorrar o conhecimento; ações que
podem trazer o passado para o presente através de imagens e palavras. É uma
sutil mudança no ciclo de vida das obras de arte em instituições financeiras.
A ação cultural é também uma forma de ação política e, neste caso, uma
forma de educar pela e para a memória. Educar pela memória significa usar
fontes documentais para orientar, por exemplo, o professor a utilizar os
arquivos como fontes importantes de informação e produzir material didático.
Educar para a memória é realizar um trabalho de educação política: mostrar a
importância do passado, dos documentos, dos objetos e das formas de
experssão artística como testemunhos da história nacional e a suas relações
com o presente.
Os bancos são também ambientes de informação, com outras qualidades,
formas e funções. Ao praticar a difusão cultural não estariam fazendo refletir
interesses sociais, fazendo história? Afinal, as sociedades contemporâneas e
suas instituições e grupos sociais estão passando por transformações de toda
ordem, e questões de gênero, direitos de “minorias”, participação pública
mediada, redes sociais estão na “ordem do dia”. O sistema escolar tradicional
procura se adaptar às mudanças ciente de que a informação e o conhecimento
24
podem ser encontrados nos mais variados locais. A escola está sendo
questionada enquanto locus privilegiado de aquisição de conhecimento e
socialização, e por isso precisa se repensar.
Em nossa reflexão sobre a memória sentimos que a memória da arte
preservada nos acervos artísticos ainda são, com algumas exceções, a
memória da conservação material, da técnica e da preservação. Concordamos
com Boix (2001, p. 105) quando ressalta que sem memória e linguagem não há
civilização e que memória é elemento constituinte da consciência coletiva e da
cidadania. Então, é possível afirmar que, se não há discursos reconstruindo
processos históricos, não há consciência coletiva nem memória; há, então, o
esquecimento e o desconhecimento.
Se as instituições refletem a sociedade, a difusão cultural poderia dar à
sociedade brasileira outra imagem, neste caso, dos bancos, restaurada,
revigorada e atualizada? Ou não? As instituições estão refletindo a sociedade
brasileira e essa ausência é justamente o reflexo da sociedade brasileira,
desatualizada, desarranjada?
A arte que sobrevive nesses espaços é extremamente preservada - e
confinada - e ainda permanece, em alguns casos, silenciosa. Acreditamos que
essas instituições podem ser também locais de restituição de identidades, e a
atualização do espaço passa necessariamente pela dinâmica da introdução
dos grupos sociais nesses ambientes.
É essencial que não apenas o Estado, mas as instituições reconheçam a
importância da criação de uma política de cultura e patrimônio específica para
esse contexto, de locais que, ao lado de museus, bibliotecas, centros culturais
e centros de documentação são fundamentais para a constante valorização da
arte e cultura nacionais, no sentido de preservar não apenas os acervos, mas
os valores culturais e da memória da arte.
Memórias parecem-se e perecem. A memória do país não é tão diferente
da nossa memória individual: complexa, afetiva, lúdica, difusa. Forjada com
papéis, retalhos, pedaços de canções, fotos estragadas e imaginário. Nosso
esquecimento indispensável, uma espécie de refresco, distanciamento das
dores, remédio dos sentimentos, das perdas. Lugares da memória, confusão
do tempo. Memória que, inconscientemente, cultivamos para construir o nosso
25
dia-a-dia sem amnésia. A memória do país também é assim: imprecisa,
fragmentada, emaranhada, mas que tem lugar, tempo e espaço.
Referências
ALBERCH FUGUERAS, R. Los archivos, entre la memoria histórica y la
sociedad del conocimiento. Barcelona: Editorial UOC, 2003.
BATES, Marcia J. The invisible substrate of Information Science. In: Journal of
the American Society for Information Science, v. 50, n. 12, p. 1043-1050,
October 1999.
BAXANDALL, Michael. O olhar renascente: pintura e experiência social na
Itália da Renascença. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991.
BLAIS, Gabrielle, ENNS, David. Intensificando o nobre sonho: programação
pública nos arquivos canadenses. Acervo. Revista do Arquivo Nacional, Rio de
Janeiro, v. 4, v. 5, p. 55-68, jul, dez, 1989, jan-jun, 1990.
BLOCH, Werner. Banco alemão distribui obras de sua coleção de arte a museus. Deutsche Weller, Bonn, 16 set. 2010. Disponível em: http://www.dw.de/banco-alem%C3%A3o-distribui-obras-de-sua-cole%C3%A7%C3%A3o-de-arte-a-museus/a-6011944-1. Acesso em: 02 mar. 2013.
BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma história social da mídia: de Gutenberg à
Internet. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 2004.
BUCKLAND, Michael K. Information as thing. In: Journal of the American
Society of Information Science, v. 42, n. 5, p. 351-360, 1991.
CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas Híbridas: Estratégias para entrar e sair da
modernidade. São Paulo: Ensaios Latino-americanos-USP, 1997.
CAPURRO, R.; HJØRLAND, B. O conceito de informação. In: Perspectivas
em Ciência da Informação. Belo Horizonte, v. 12, n. 1, p. 148-207, abr. 2007.
CAPURRO, Rafael. Epistemologia e ciência da informação. In: V Encontro
Nacional de Pesquisa em Ciência da Informação (ENANCIB), Belo
Horizonte, 2007.
CASTRO, A. L. S. Memórias clandestinas e sua museificação: uma proposição
teórico-informacional. Informare, v. 4, n. 2, jul.-dez, 1998, p. 17-29.
______. Informação museológica: uma proposição teórica a partir da Ciência
da Informação. In: PINHEIRO, Lena Vânia Ribeiro (org.). Ciência da
Informação, Ciências Sociais e Interdisciplinaridade. Rio de Janeiro: Ibict,
1999.
26
COURCHESNE, Marie-Josée. L’action éducative en archivistique et en
muséologie. Archives, v. 30, n. 2, Canadá, 1998-1999.
CUNHA, Newton. Dicionário Sesc: a linguagem da cultura. Editora
Perspectiva. 2003. São Paulo.
DUARTE, L.F. Memória e reflexividade na cultura ocidental. In: Memória e
patrimônio: ensaios contemporâneos. Rio de Janeiro: DP&A, 2003. p.305-316.
GONÇALVES, José Reginaldo Santos. Monumentalidade e cotidiano: os
patrimônios culturais como gênero de discurso. In: OLIVEIRA, Lúcia Lippi (org).
Cidade: história e desafios. Rio de Janeiro: Editora Fundação Getúlio Vargas,
p. 108-123, 2002.
GONZÁLEZ DE GÓMEZ, Maria Nélida. Dos estudos sociais da informação aos
estudos do social desde o ponto de vista da informação. In: AQUINO, Mirian A.
(Org.). O campo da Ciência da Informação; gênese, conexões e
especificidades. João Pessoa: Ed. Universitária, 2002, p. 25-47.
HJØRLAND, Birger; ALBRECHTSEN, Hanne. Toward a new horizon in
information science: domain-analysis. Journal of the American Society for
Information Science, v. 46, n. 6, p. 400-425, Jul.1995.
HUTTON, Patrick. History as an art of memory. London: University Press of
New England, 1993.
HUYSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória. Rio de Janeiro: Aeroplano,
2000.
LE COADIC, Yves-François. A ciência da informação. Brasília: Briquet de
Lemos, 1996.
LIMA, Diana Farjalla Correia. Acervos artísticos e informação: modelo estrutural
para pesquisas em artes plástica. In: PINHEIRO, Lena Vania Ribeiro,
GONZÁLES DE GÓMEZ, Maria Nélida (Org). Interdiscursos da Ciência da
Informação: arte, museu e imagem. Rio de Janeiro; Brasília: IBICT/DEP/DDI,
2000, p. 17-40.
NÓBREGA, Nanci Gonçalves da. Acervos como memória do mundo (e sobre
sua dinamização). Informare. Rio de Janeiro: Cadernos do Programa de Pós-
graduação wm Ciencia da Informação.v. 5, n. 1, jan.-jun., p. 59 –76, 1999.
NORA, Pierre. Entre memória e história. A problemática dos lugares. Projeto
História. Revista do Programa de Estudos Pós-graduados em História e do
Departamento de História, São Paulo, PUC, p. 7-28, v. 10, dez. 1993.
27
VÁZQUEZ, Félix. La memoria como acción social: relaciones, significados e
imaginario. Barcelona: Paidós, 2001.
VELA, Susanna. El servicio educativo. In: FUGUERAS et al. Archivos y
cultura: manual de dinamización. Ediciones Trea, S.L.Gijón (Asturias), 2001, p.
85-106.
VELTHUIS, Olav. Imaginary economics. Rotterdam: Nai Publishers, 2005.
______. Talking prices: symbolic meanings of prices on the market for
contemporary art. Princeton: Princeton University Press, 2005a.
WU, Chi Tao. Privatização da cultura: a intervenção corporativa nas artes
desde os anos 80. São Paulo: Boitempo Editorial, 2006.
ZINS, Chaim. Conceptions of Information Science, in: Journal of the American
Society for Information Science and Technology, v. 58, n.3, p. 333-335,
2007.