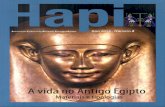UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS A CRIAÇÃO DE PEQUENOS MUNICÍPIOS COMO UM FENÔMENO DA...
Transcript of UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS A CRIAÇÃO DE PEQUENOS MUNICÍPIOS COMO UM FENÔMENO DA...
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS
A CRIAÇÃO DE PEQUENOS MUNICÍPIOS COMO UM FENÔMENO DA
DESCENTRALIZAÇÃO POLÍTICA: O CASO DE ITAOCA – SP
SÃO CARLOS
2002
2
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS CENTRO DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS SOCIAIS
A CRIAÇÃO DE PEQUENOS MUNICÍPIOS COMO UM FENÔMENO DA
DESCENTRALIZAÇÃO POLÍTICA: O CASO DE ITAOCA – SP
Vidal Dias da Mota Júnior
Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação
em Ciências Sociais da Universidade Federal de São
Carlos/UFSCar, como parte dos requisitos para a
obtenção do Título de Mestre em Ciências Sociais, Área
de Concentração: Relações Sociais, Poder e Cultura.
Linha de Pesquisa: Instituições e Comportamento Político
Orientador: Prof. Dr. Eduardo Garuti Noronha
São Carlos
2002
3
SUMÁRIO
AGRADECIMENTOS................................................................................04
RESUMO....................................................................................................06
INTRODUÇÃO..........................................................................................07
CAPÍTULO I – O MUNICÍPIO NO FEDERALISMO BRASILEIRO
I - O federalismo e suas definições.............................................................18
II - O federalismo brasileiro...................................................................... 24
III - O município no federalismo brasileiro...............................................39
CAPÍTULO II - A DESCENTRALIZAÇÃO POLÍTICA E A CRIAÇÃO
DE MUNICÍPIOS
I - A onda descentralizadora da década de 1980/1990...............................51
II - A criação de municípios........................................................................54
CAPÍTULO III - A EMANCIPAÇÃO DE ITAOCA – SP
I - A criação de municípios no Estado de São Paulo..................................65
II - O Vale do Ribeira.................................................................................77
III - A emancipação de Itaoca....................................................................81
CAPÍTULO IV – A CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS, A QUEM
INTERESSA?...........................................................................................100
CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................106
BIBLIOGRAFIA....................................................................................111
4
SUMÁRIO DAS TABELAS
Tabela 1 – Quantidade de Municípios no Brasil – 1940-2000...................09
Tabela 2 – Quantidade e Incremento de Município no Brasil (por Estados)
1988/97........................................................................................................12
Tabela 3 – Distribuição atual dos encargos por esfera de governo...........47
Tabela 4 – Estrutura Tributária..................................................................48
Tabela 5 – Lista de Transferência..............................................................49
Tabela 6 – Número de Municípios instalados após 1984, por classes de
tamanho da população, 1997......................................................................56
Tabela 7 – Receita Corrente Própria dos Municípios como porcentagem de
sua receita corrente total, por grupos de Municípios, 1996.......................57
Tabela 08 – Exigências à emancipação de Municípios..............................63
Tabela 09 – Criação de Municípios em São Paulo –
1532/1996....................................................................................................66
Tabela 10 – Número de Municípios Paulistas – 1945/1995.......................67
Tabela 11 – Classe dos municípios criados em São Paulo entre 1990/1994
por população..............................................................................................68
Tabela 12 – Municípios criados pela Lei Estadual n.º 6.645 de
09/01/1990...................................................................................................73
Tabela 13 – Municípios criados pela Lei Estadual n.º 7.664 de
30/12/1991...................................................................................................73
Tabela 14 – Municípios criados pela Lei Estadual n.º 8.550 de
30/12/1993...................................................................................................75
Tabela 15 – Municípios criados pela Lei Estadual n.º 9.330 de
27/12/1995...................................................................................................75
Tabela 16 – Vale do Ribeira – IDH – 1996................................................77
Tabela 17 – Resultado do Plebiscito para a emancipação de Itaoca.........92
Tabela 18 – Resultados da Eleição Municipal de 03/10/1992...................97
5
AGRADECIMENTOS
A realização de uma dissertação de mestrado é um trabalho solitário,
mas que envolve uma série de auxílios externos sem os quais a pesquisa
não poderia ser concluída. Por isso, gostaria de agradecer as pessoas e
instituições que contribuíram decisivamente à realização dessa dissertação.
Agradeço aos meus pais, Vidal e Maria de Lourdes que, durante toda
a minha vida eles têm sido fonte de estímulo, apoio afetivo, exemplo de
vida, confiança no meu trabalho e nos meus ideais e; as minhas irmãs,
Valéria e Maria Vidaline que vem acompanhando e apoiando a minha
trajetória.
Agradeço a Giane pelo carinho, atenção, apoio afetivo, paciência,
confiança e colaboração. A sua companhia foi imprescindível para a
realização deste trabalho.
Aos meus tios, Antonio Livino e Olinda, que me receberam de
braços abertos no momento decisivo deste trabalho. Sem o apoio e
estrutura oferecidos por esses, a dissertação não seria concluída a tempo.
Agradeço também ao meu primo Irineu que, “quebrou alguns galhos”
imprescindíveis; ao meu tio Sebastião Eupídio por importantes informações
sobre a emancipação de Itaoca. Aos meus amigos, Helton e Silvana, pelo
apoio.
Ao meu orientador Eduardo Garuti Noronha registro um profundo
agradecimento. Seus ensinamentos, comentários, sua honradez profissional
e acompanhamentos ao longo desses breves dois anos de mestrado foram (e
estão sendo) fundamentais em minha formação intelectual e realização
desta dissertação.
Meus colegas de turma do mestrado tiveram grande importância no
desenvolvimento de minhas idéias e de meu projeto. O amigo Edvaldo,
6
Davys, Roberval, Cleverson e Riberti, sempre contribuíram com opiniões
pertinentes e sugestões para o meu trabalho.
Agradeço as “secretárias da pós”, as simpáticas irmãs Ana e Claire,
pela atenção, carinho, amizade e empenho em nos atender e resolver os
nossos problemas burocráticos.
Aos professores do programa, agradeço pelo estímulo intelectual. Em
particular, agradeço aos professores Fernando Azevedo, Paul Freston e
Marcelo Vargas, cujos cursos na pós-graduação me deram instrumental
teórico necessário para a realização deste trabalho.
Ao departamento de Assistência Social da UFScar que me concedeu
alojamento no difícil período em que eu não tinha bolsa de pesquisa e, aos
antigos colegas do alojamento estudantil.
Agradeço em Itaoca a Cely Mota, o sr. José Lambert e o Sr. Antenor
Gonçalves; em Apiaí agradeço a Donizetti Borges e o Sr. Osvaldo
Mancebo pelas informações que ajudaram na compreensão da emancipação
de Itaoca. Agradeço o ex-deputado Luiz Francisco da Silva que contribuiu
para a compreensão do encaminhamento das emancipações.
Agradeço ainda a todas as instituições que tornaram possível a
realização deste trabalho. Sou grato a CAPES pela bolsa de pesquisa, sem
ela não haveria como realizar este trabalho; a Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo, especialmente, a secretaria da Comissão de Assuntos
Municipais que contribuíram com o fornecimento dos dados fundamentais
para minha pesquisa; a Prefeitura de São José do Rio Preto, pelo material
concedido e à CEPAM pelos dados fornecidos.
7
RESUMO
Esta dissertação propõe-se compreender a lógica política e o
funcionamento da criação de um pequeno município no interior do Estado
de São Paulo. A ênfase do estudo está pautada no aumento da criação de
municípios no pós-Constituição de 1988. Dados sobre o fenômeno da
proliferação de municípios mostram que a grande parte dos municípios
criados são pequenos, não possuem uma base de arrecadação própria,
dependem das transferências fiscais das outras esferas de governo para a
sua sustentação e, conseqüentemente, trazem desequilíbrios, notadamente,
ao federalismo fiscal. As emancipações foram um fenômeno nacional, mas
tiveram grande variação e dinâmica entre estados e regiões. Após a
democratização, o Estado de São Paulo teve um surto de emancipações e
seu funcionamento é ainda pouco conhecido.
Para compreender esse processo no território paulista, realizamos um
estudo de caso da emancipação do distrito de Itaoca, na região do Vale do
Ribeira. Emancipado de Apiaí em 1991, esse é um típico município
pequeno e sem bases de arrecadação fiscal.
Por meio do referencial teórico, que circunscreve o tema, e das
observações empíricas percebemos que a emancipação desse local esteve
atrelada a uma legislação permissiva que fez, por um lado, o despertar do
interesse da elite política regional para uma forma de atrair recursos
públicos para a região e, por outro lado, principalmente, o legislativo
estadual nos interesses de ampliar suas áreas de influência política.
Termos para indexação: federalismo, criação de municípios, poder local,
São Paulo.
8
INTRODUÇÃO
Itaoca, situado na região do Vale do Ribeira, interior do Estado de
São Paulo é um município com 3.403 habitantes numa área de 196 km²1.
Sua receita corrente total em 1997 era de R$ 2.119.361,00 e, desse
montante, apenas R$ 116.179,00 faziam parte de sua própria arrecadação,
ou seja, Itaoca, arrecadava apenas 5,48% de sua receita total.2 Além do fato
do município ter sido recém-criado (1991) dispor de pequena população,
pequeno território e baixa capacidade de arrecadação, ele chama a atenção
pelo pouco tempo de sua emancipação. Em 2001, Itaoca comemorou 10
anos de emancipação política.
O município está inserido num fenômeno conhecido como “explosão
municipal”3, ou seja, a criação de municípios que a partir de 1988 cresceu
intensamente no Brasil. Esse município fez parte da dinâmica paulista de
emancipações a qual, até agora, foi pouco estudada e não se sabe direito
como funcionou em São Paulo ou em outro estado brasileiro.
A criação de novos municípios vem redesenhando as fronteiras
internas do país e “ampliando” o nosso sistema federativo com o aumento
do número de entes subnacionais. As idéias de descentralização e
democratização que marcaram o Brasil em fins do período de exceção
explicam, em parte, a disseminação de idéias emancipacionistas.
Portanto, nos últimos quinze anos, intensificou-se o processo de
descentralização no Brasil, que proporcionou, por sua vez, o
1 Fonte : www.ibge.gov.br - Cidades@
2 Dados obtidos através da Fundação Seade: www.seade.gov.sp.br . Os dados sobre as finanças de Itaoca
estavam disponíveis até o ano de 1997. 3 A expressão “explosão municipal” é utilizada no estudo de Tomio (2000) – “Explosão Municipal”- a
Criação de municípios no contexto institucional democrático posterior à Constituição de 1988”, neste
trabalho autor procurou compreender a dinâmica e a variação estadual na criação de municípios.
9
remodelamento do Estado brasileiro e do sistema federativo do país. Uma
das características desse processo foi a descentralização política, ou seja, o
fortalecimento das instâncias subnacionais (Estados e Municípios) no que
diz respeito as decisões político- administrativas perante o governo federal.
Até 1988 a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de
Municípios estavam regulados pela Lei Federal – 01/67. A partir da nova
Constituição, os Estados passaram a ter autonomia sobre essa matéria por
meio da elaboração das Constituições Estaduais.
A lei federal de 1967 restringia a criação de municípios no país, pois,
estabelecia uma série de pré-requisitos para transformar uma localidade em
município, entre elas o mínimo de 10.000 eleitores e uma base de
arrecadação própria que garantisse a sua viabilidade fiscal.
Com a Constituição de 1988 a União passou a ter menor controle
sobre o assunto delegando essa responsabilidade para os governos
estaduais. Os Estados, por meio de suas Constituições, implementaram leis
estimuladoras a criação de novos municípios em seus territórios.
A partir daí, o Brasil vivenciou um grande aumento no número de
municípios criados em seu território, ora incentivados pelos aumentos de
repasses dos Fundos de Participação, ora incentivadas pelas Legislações
permissivas (Tomio, 2000). Totalizando, 1403 novas unidades municipais
foram criadas entre o período de 1984 a 2000 em um cenário de 5.561
municípios existentes atualmente no país.4
4 www.ibge.gov.br
10
TABELA 1 – Quantidade de Municípios no Brasil – 1940-2000
REGIÕES ANOS
1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000
Norte 88 99 120 143 153 298 449
Nordeste 584 609 903 1.376 1.375 1.509 1.791
Sudeste 641 845 1.085 1.410 1.410 1.432 1.668
Sul 181 224 414 717 719 873 1.190
Centro-Oeste 80 112 244 306 317 379 463
TOTAL
(Brasil) 1.574 1.889 2.766 3.952 3.974 4.491 5.561
FONTE: IBGE e TSE. Adaptado de Tomio (2000)
A Tabela 1 – mostra que a criação de municípios sempre esteve
presente na história da federação brasileira. Nos últimos 60 anos os
números de municípios no território nacional praticamente quintuplicaram.
Os anos de 1940 foram aqueles nos quais mais se criaram municípios no
Brasil, porque a Constituição de 1946 foi uma instituição que facilitou e
estimulou a proliferação de governos locais no Brasil. Já no período da
ditadura militar houve um represamento do processo emancipacionista. A
União, por meio da Constituição de 1967, estabeleceu critérios mais
rigorosos para a criação de municípios, que na verdade eram quase
impossíveis de serem atingidos, como por exemplo, a capacidade de
arrecadação que garantisse a sobrevivência do local. A partir da década de
1980, com a abertura política, surge uma nova “explosão municipal”.
A especificidade desse fenômeno foi a sua capacidade de criar
pequenos municípios. Municípios com menos de 5.000 habitantes foram
aqueles que mais cresceram, correspondendo hoje a cerca de 1/4 do total de
municípios no Brasil e ½ dos municípios criados a partir de 1988. Esses
11
pequenos municípios arrecadam em média menos de 8,9% do total de sua
receita.5
Devido a essa característica da criação de municípios, em 14/12/1995
o governo federal apresentou ao Congresso Nacional uma emenda
alterando o art. 18 da Constituição, modificando assim os procedimentos
estabelecidos para esse processo. Em 1996, a criação de municípios passou
a ser restringida pela Emenda Constitucional de n.º 156 que estabeleceu
novas exigências para a emancipação distrital: a viabilidade municipal7 e a
consulta prévia, mediante plebiscito às populações dos municípios
envolvidos.
Durante os sete anos (1989-1996) em que os Estados legislaram sobre
a criação de novos municípios, as leis tiveram uma dinâmica estadual e
regional muito distinta. As regiões Nordeste e Sul foram aquelas que mais
criaram municípios nos períodos que compreendem 1984 a 1997. Todavia,
a criação de municípios foi um fenômeno visivelmente nacional, mais
localizado em algumas regiões. A região sul e a região norte são aquelas
que mais se destacaram no processo de emancipações. Tomio (2000),
atribui a criação de municípios nessas regiões a dois fatos: primeiro porque
elas se localizam em regiões fronteiriças8, e segundo por ocorreram de
5Para maiores informações conferir Gomes e Mac Dowell, 1997, pág. 6
6 Constituição Federal, Emenda Constitucional n.º 15 Artigo 18 4.º Parágrafo: “A criação, a
incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios far-se-ão por lei estadual, dentro do período
determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às
populações dos Municípios envolvidos, após a divulgação dos Estudos de viabilidade municipal,
apresentados e publicados na forma de lei”. 7 Conforme Noronha (1996), por viabilidade municipal entende-se por número de habitantes, receita
mínima, número mínimo de casas, de prédios para a instalação de repartições públicas, de postos de
saúde, de escolas públicas, etc. a constatação desses requisitos antecede a realização da consulta prévia
(plebiscito) à população mediante plebiscito. 8 O conceito de fronteira para Tomio (2001) não é a fronteira no sentido político, mas enquanto "fronteira
de colonização". Isto quer dizer que, nas regiões Norte e Centro Oeste, existem (ou existiram no passado
próximo) um processo de ocupação de territórios pouco povoados e deste processo obviamente surgiram
povoados que foram transformados em municípios. Algo semelhante ao que ocorreu em outras regiões
nos séculos anteriores. Mas não é um problema relevante para o autor, visto que seu modelo explicativo
fundamenta-se na determinação dos arranjos institucionais e da interação entre os atores políticos sobre o
processo emancipacionista.
12
forma independente das mudanças institucionais, que parecem ter um papel
preponderante nas emancipações das outras regiões brasileiras.
Além da variação regional no processo de criação de municípios,
houve uma diferença muito grande do fenômeno entre os estados da
federação brasileira. A Tabela 2 - mostra a quantidade e incrementos de
municípios nos estados do Brasil, no período entre 1988 e 1997.
13
TABELA 2 - Quantidade e Incremento de Municípios no Brasil (por
estados) - 1988/97
Estados Municípios Criados Incremento 1988/1997
1988 1997 Quantidade (%)
RS 244 467 253 104%
MG 722 853 131 18%
PI 116 221 105 91%
SC 199 293 94 47%
PR 311 399 88 28%
MA 132 217 85 64%
SP 572 645 73 13%
TO(*
) 79 139 60 76%
PA 87 143 56 64%
PB 171 223 52 30%
BA 367 415 48 13%
MT 82 126 44 54%
RO 18 52 34 189%
CE 152 184 32 21%
RJ 66 91 25 38%
ES 58 77 19 33%
PE 167 184 17 10%
RN 151 166 15 10%
MS 65 77 12 18%
AP 5 16 11 220%
AC 12 22 10 83%
RR 8 15 7 88%
AL 96 102 6 6%
AM 59 62 3 5%
SE 74 75 1 1%
GO(*
) 244 242 -2 -1%
TOTAL (Brasil) 4179 5507 1358 32%
FONTE: IBGE. (Tomio, 2000)
Uma característica verificável na criação de municípios foi a
similaridade no incremento das emancipações em estados com indicadores
sócio-econômicos absolutamente distintos: Rio Grande do Sul e Piauí
dobraram a quantidade de municípios. O Maranhão apresentou um alto
14
índice de emancipações; Santa Catarina, Rio de Janeiro ficaram acima da
média brasileira. Os estados com baixos índices também apresentaram a
mesma discrepância sócio-econômica; estão nesse grupo São Paulo e
Sergipe. Percebe-se por meio desses dados que o fenômeno da criação de
municípios não pode estar atrelado as características sócio-econômicas
como o PIB, o IDH, densidade demográfica ou a urbanização de estados e
regiões.
Os estudos para compreender o fenômeno de tais emancipações
possuem em geral um caráter normativo. Alguns argumentam que esse
processo é negativo, porque traz mais custos do que benefícios para o país.
São favoráveis a essa tese os “fiscalistas”. Eles criticam a emancipação de
distritos que nada arrecadam, e que, portanto não contribuem para o
orçamento da União dependendo exclusivamente dos repasses de fundos de
participação como o – FPM 9(Fundo de Participação Municipal). Entre os
que criticam esse processo, podemos destacar Gomes e MacDowell (1997,
2000), pesquisadores do IPEA (Instituto de Pesquisas Econômicas
Aplicadas), instituição da administração pública federal.
Por outro lado, existem aqueles que defendem a criação de
municípios como um fator que possibilita o avanço da democracia no
Brasil, a melhor distribuição de recursos públicos pelo território nacional e
a possibilidade da população ser melhor atendida pelo poder público.
Foram e continuam defensores da criação de municípios alguns técnicos do
IBAM (Instituto Brasileiro de Administração Municipal) localizado no
município do Rio de Janeiro, e da FPFL/CEPAM10
(Fundação Prefeito
9 O Fundo de Participação Municipal é a mais importante das transferências federais aos municípios.
Existe no país a pelo menos 50 anos e hoje é de vital importância para o município. Conforme Bremaeker
(1993:77), ele se constitui na principal fonte de recursos financeiros para mais da metade das
Administrações Municipais (52,8% delas). Para os pequenos municípios, com menos de 10.000
habitantes, este grau de dependência se faz sentir em 57,1% deles. 10
Dados preliminares mostram que agentes da Cepam participavam das reuniões dos Comitês Pró-
emancipação dos distritos paulistas. Esses agentes explicavam as vantagens e os benefícios de uma
emancipação. Na verdade foram agentes estimuladores do processo.
15
Faria Lima/ Centro de Estudos e Pesquisa de Administração Municipal) em
São Paulo que possuem publicações e prestação de serviços (assessoria,
assistência técnica, cursos, consultoria e publicações) destinados aos
governos municipais.11
Tomio (2000) procurou compreender como foram criados
municípios, analisando a dinâmica geral e a variação estadual.
Esse autor identificou os mecanismos político-institucionais que
influenciaram o processo emancipacionista. O autor identificou três tipos
distintos de instituições de influência no processo de criação de novos
municípios: as limitadoras (as constituições estaduais); as estimuladoras
(leis que ampliam a transferência de recursos fiscais como o FPM); e as
processuais (determinam a forma que o processo legislativo deve seguir
até a promulgação da lei de emancipação). Dentro destas instituições estão
inseridos um conjunto de atores e estratégias no processo de criação de
municípios, são eles: as lideranças políticas locais, os eleitores, os
deputados estaduais e o executivo estadual.
Para explicar o fato de terem sido criados muitos municípios de
forma e quantidade diferentes entre os estados e regiões, Tomio (2000:39)
atribui tais diferenças à “disponibilidade de localidades emancipáveis
(estoques), à correlação de forças entre o executivo e o legislativo estadual
e à ausência de mecanismos institucionais que favoreçam a autonomia do
legislativo, ou seja, somente o esgotamento da real capacidade
emancipacionista estadual ou a oposição de um executivo com coalizão
majoritária – solidamente apoiado ou com restrições processuais ao
clientelismo, diante da manutenção dos estímulos fiscais aos pequenos
municípios e das expectativas futuras dos deputados quanto a sua carreira
11
O IBAM possui uma publicação intitulada de “Revista de Administração Municipal”, voltada
especificamente para as prefeituras. A FPFL/CEPAM publica os “Cadernos da Cepam” voltado também
para a administração pública municipal. Essas publicações são instrumentos direcionados para assessorar
e informar os governos municipais.
16
política - foi capaz de interromper os surtos emancipacionistas nos
estados.”
Em relação aos demais Estados brasileiros, após a Constituição, o
Estado de São Paulo teve um processo de criação de municípios abaixo da
média nacional que foi de 32%, atingindo um crescimento em torno de
13%. Todavia, São Paulo possui a segunda malha municipal do país, com o
total de 645 municípios, ficando apenas atrás do estado de Minas que
possuí hoje 853 unidades municipais. Isso mostra que o Estado de São
Paulo passou por um processo de “explosão municipal” anterior a
Constituição de 1988 particularmente de 1946 a 1964. No regime de
exceção houve um estancamento das emancipações. O processo foi
retomado depois de 1988 e cessou em 1996.
A criação de municípios em São Paulo teve uma dinâmica interna
muito parecida com a dinâmica nacional, porque não pôde estar atrelada às
características sócio-econômicas de suas regiões por meio de indicadores
como PIB, IDH e outros. No Estado foram criados municípios nas regiões
mais ricas e de maior urbanização, como a Região de Araraquara
(Guatapará, Gavião Peixoto, Motuca, etc.); e na região mais pobre e com
menor densidade demográfica, a Região do Vale do Ribeira (Cajati, Ilha
Comprida, Barra do Chapéu, Itapirapuã Paulista e Itaoca).
A criação do município de Itaoca será tomada como um modelo
representativo para fins de análise do processo de criação de municípios no
Brasil e, especificamente, no Estado de São Paulo. O estudo de sua
emancipação demonstra características específicas no processo, observado
em São Paulo, visto que o local é de baixa densidade demográfica e
reduzida atividade econômica.
Para compreendermos a emancipação de Itaoca, que era um distrito
do município de Apiaí, levantamos as seguintes hipóteses: i) a criação do
município pode estar atrelada aos interesses das lideranças políticas locais
17
que procuravam maior quantidade de recursos públicos e representividade
política para a região; ii) a segunda hipótese diz respeito aos interesses
municipalistas do Governo Estadual (Quércia e Fleury) (1987-1994), do
PMDB, e dos outros governos seqüentes que tiveram como característica
de sua política o fortalecimento da influência do executivo no interior e iii)
ao legislativo estadual que via os projetos de emancipação de distritos
como oportunidade e espaço de fortalecimento institucional e meio de
garantir votos e influências no território paulista.
A hipótese que parece compreender melhor esse processo é a terceira
apresentada. Por meio dos dados obtidos constatou-se que todo o processo
emancipacionista paulista deu-se no parlamento estadual. Os deputados
tiveram grande poder de decisão sobre o tema chegando até mesmo a
derrubar vetos do executivo.
Para desvendarmos como e por que Itaoca, um município pequeno e
pobre, se emancipou tivemos como objetivo explicar como funcionou o
processo emancipatório, sobretudo, os interesses políticos nele envolvidos.
Assim, a proposta deste trabalho obedecerá a seguinte estrutura:
No capítulo I, procuramos desenhar o quadro teórico em que se
move a bibliografia nacional sobre federalismo, município e poder local. O
fenômeno da explosão municipal está inserido dentro das discussões sobre
o tipo de federalismo que possuímos e, portanto, neste capítulo
abordaremos as especificidades da nossa federação, destacando as diversas
correntes interpretativas sobre o tema do município e do poder local em sua
trajetória histórica-política federal.
No capítulo II, o escopo será demonstrar o processo de
descentralização que ocorreu no Brasil durante o período de abertura do
regime militar. A idéia de descentralização configurou como sinônimo de
democratização e, conseqüentemente, fortalecimento das unidades
subnacionais. Aconteceram duas formas de descentralização, a de recursos
18
e a política. A criação de municípios foi um dos fenômenos atribuídos pela
literatura específica como parte da segunda vertente descentralizadora e,
implica impactos diretos no arranjo federativo.
No capítulo III mostramos o processo da criação de municípios no
Estado de São Paulo e os resultados do estudo empírico sobre a
emancipação de Itaoca. Neste capítulo foi realizada a análise do caso de
Itaoca procurando mostrar como e por que o distrito de Apiaí se
emancipou. Para realizar este processo fizemos levantamentos de dados,
junto às diversas instituições públicas, e entrevistas com os diversos atores
envolvidos no processo.
Já o capítulo IV tem o intuito de articular os dados do terceiro
capítulo, com a bibliografia especializada sobre emancipações mostrando
que a emancipação do antigo distrito de Apiaí foi reflexo do fortalecimento
do legislativo estadual e do partido governista. Temos indícios de que a
concepção do ultrapresidencialismos estadual formulada por Abrucio
(1994, 1998) parece não ser aplicável no caso das emancipações.
Nas considerações finais procuramos amarrar a criação de um novo
município como algo que diz respeito às novas configurações que o sistema
federativo brasileiro vem sofrendo e muitas vezes tornando-se vítima de
desvios que, muitas vezes, impedem que tenhamos equilíbrio e cooperação
entre os entes federados.
19
CAPÍTULO I – O MUNICÍPIO NO FEDERALISMO BRASILEIRO
I – O Federalismo e as suas definições
Ao falarmos de criação de municípios, poder local e unidades
subnacionais no Brasil estamos, conseqüentemente, nos referindo direta ou
indiretamente ao modelo de estado adotado no país: o federalismo.
Formamos há mais de um século uma federação e, desde então, o estado
brasileiro se inspirou nesse modelo de organização política baseado, em
tese, na cooperação e autonomia das diversas esferas de governo.
Apesar dos solavancos de nosso federalismo, que em alguns
momentos praticamente inexistiu, hoje se tem a certeza que constituímos
uma federação. Todavia, cheio de desequilíbrios e distorções, mesmo assim
o Brasil está mais “federal” do que nunca. Autores como Aspásia Camargo
(2001) consideram a atual fase como a do Novo Federalismo, menos
patrimonialista e mais integrador.
Uma das novidades disso tudo é o fato de que o município brasileiro
é um ente da federação. Isso é um fato inédito em outras federações e
países do mundo. Portanto, o poder político no Brasil se divide em três
esferas distintas: a federal, a estadual e a municipal.
Isso tudo foi conseqüência do processo de democratização da década
de 1980. O ideal democratizante, muitas vezes, foi confundido com
descentralização. A Constituição de 1988 coroou esse movimento
descentralizando recursos e poder.
Nesse sentido houve o fortalecimento das unidades subnacionais e,
nesse processo esteve inserida a criação de novos municípios. Todavia, a
criação desses novos membros da federação ainda é pouco estudada,
principalmente no seu funcionamento político. Porém, percebemos que
20
esse fato tem trazido mudanças na configuração do poder político e nas
concepções tradicionais de federação.
Para compreendermos melhor esta mudança institucional do
município. Faremos uma breve reconstrução do que é e como se configurou
o federalismo na história do Brasil buscando ressaltar o papel do governo
local em sua consolidação.
Desde a sua consolidação enquanto República, o Federalismo foi a
forma de governo adotada no Brasil para a conciliação e integração de um
país marcado por enormes disparidades regionais.
Federalismo e democracia sempre estiveram conceitualmente
próximos, pois a idéia de federação acompanha a proposta de cooperação e
autonomia entre estados.
Celina Souza (1998), mostrou que federalismo, lato sensu, refere-se
aos laços constitutivos de um povo e de suas instituições, construídos
através de consentimento mútuo e voltados para objetivos específicos, sem,
contudo, significar a perda de identidades individuais.
Conforme Abrucio (1998), (citando King, 1982; Smith, 1985 e
Gagnon, 1993) “o federalismo é uma das soluções mais bem sucedidas
para equacionar democraticamente o conflito entre os níveis de governo
em países onde a existência de diversidade regional e/ou étnica soma-se ao
desejo de autogoverno por parte das unidades subnacionais”.
Para Elazar (1987:5) “em essência um arranjo federal é uma
parceria, estabelecida e regulada por um pacto, cujas conexões internas
refletem um tipo especial de divisão de poder entre os parceiros, baseados
no reconhecimento mútuo da integridade de cada um e no esforço de
favorecer uma unidade especial entre eles”.
Percebe-se que as caracterizações do federalismo são a integração, a
cooperação e o respeito mútuo entre a divisão de poderes dentro de um
Estado.
21
Para Abrúcio, (1998:28): “além de democrático, o sistema federativo
bem sucedido será aquele que tornar mais republicana a esfera pública.
Os locais por excelência do aprendizado republicano são o poder local e o
nível estadual. É este o ponto fundamental que leva um arranjo federativo
ao sucesso, uma vez que tanto a classe política como os cidadãos têm seus
processos de socialização política realizados nos níveis subnacionais de
governo”.
O sistema federativo proporciona, em tese, um exercício do poder
político descentralizado mais próximo do cidadão, onde as unidades
subnacionais de governo são fortalecidas e se tornam contrapesos à atuação
de um Estado centralizador e opressivo.
Almeida (1995) define o federalismo como um sistema baseado na
distribuição territorial – constitucionalmente definida e assegurada – de
poder e autoridade entre instâncias de governo, de tal forma que os
governos nacionais e subnacionais são independentes em sua esfera própria
de ação. A autora ainda afirma que “o federalismo em sua forma original,
ou seja, a autonomia e cooperação dos governos subnacionais, bem como
na definição normativa, o federalismo se caracteriza pela não
centralização, isto é, pela difusão dos poderes de governo entre muitos
centros, nos quais a autoridade não resulta da delegação de um poder
central, mas é conferida por sufrágio popular”. (Almeida,1995:89)
Conforme Márcia Miranda Soares (1998) a organização federal
surgiu como um projeto de engenharia institucional que visava superar os
problemas colocados à formação do Estado Nacional Estadunidense a partir
da unificação das treze colônias inglesas.
O Federalista, coleção de ensaios escritos por Alexander Hamilton,
James Madison e John Jay, apareceu no Séc. XVIII erigindo os principais
alicerces teóricos do federalismo. A Constituição Norte Americana de 1787
foi, em grande parte, a institucionalização destes ensaios. Desta forma, a
22
organização federal é um sistema que responde aos problemas envolvidos
na formação de um estado nacional em determinado contexto (contexto de
heterogeneidade territoriais), ou promove a acomodação dos interesses
regionais dentro de um estado nacional já consolidado, como no caso
brasileiro.
Na definição clássica de federalismo, a organização territorial
designada como federação, consistiu em instituir um sistema de dupla
soberania política, com a distribuição do poder entre duas esferas
territoriais: o governo central (União) e as unidades constituintes (estados).
O que é interessante deste sistema é que essa engenharia institucional não
só promoveu a divisão do poder, como garantiu a autonomia das duas
esferas federais por meio de um mecanismo de checks and balances, no
qual as instituições políticas se limitavam uma às outras, propiciando o
equilíbrio federativo. (Márcia Soares, 1998).
As principais características do modelo clássico de federalismo
foram e ainda são conforme Márcia Soares (1998:140):
1) Divisão territorial do Estado em várias subunidades
2) Sistema bicameral: representação das subunidades federadas
junto ao governo federal através de uma segunda Câmara
Legislativa (Senado)
3) Poder Executivo, Legislativo e Judiciário presente nos dois níveis
federais.
4) Existência de uma corte Suprema de Justiça responsável pela
regulação dos conflitos federativos: cuja função primordial é
garantir a ordem federal.
5) Definição das competências (administrativas e fiscais) e
jurisdições das esferas federativas, com cada nível de governo
apresentando ao menos uma área de ação em que é autônomo.
23
6) Autonomia de cada ente federativo para constituir seus
governos.”
Aléxis de Tocqueville em sua obra clássica sobre a democracia
americana percebe o sistema federativo como algo novo na história política
mundial:
Essa constituição, que a primeira vista somos tentados a confundir
com as constituições federais que a precederam, apóia-se na
realidade em uma teoria inteiramente nova e que deve marcar como
que uma grande descoberta da ciência política dos nossos dias.12
"
(Tocqueville,1971:122)
Hoje, o federalismo se expandiu e temos vários Estados Nacionais
designados pela Ciência Política como sendo organizados na forma
federativa. São eles: Estados Unidos, Canadá, Austrália, Áustria, Suíça,
Alemanha, Argentina, Brasil, México, Venezuela, Iugoslávia, Bósnia,
Rússia, Índia, Nigéria, Paquistão e Malásia.
Soares (1998) chama a atenção para um importante detalhe,
mostrando que a experiência federativa no mundo é uma forma minoritária
de organização territorial do poder nos Estados Nacionais: mais ou menos
17 países no mundo são classificados como federações. Surge então uma
questão: o que explica a adoção do sistema federal nestes países? Soares
(1998) argumenta que o sistema federativo foi criado e posteriormente
adotado por diversos países tendo como objetivo prioritário dar solução
conciliatória a interesses territoriais antagônicos presentes na estrutura do
Estado Nacional.
O critério essencial no qual reside a atratividade que se pode
verificar historicamente no modelo federalista, está na possibilidade de
solução que ele oferece para um amplo problema histórico-político
relacionado ao conceito do moderno Estado Territorial, a saber, a
24
existência de forças políticas opostas de integração e desintegração num
determinado espaço geográfico. Do ponto de vista histórico, um
ordenamento estatal federalista sempre significa um equilíbrio num campo
de tensão entre forças centrífugas e centrípetas ou integrativas e
desintegrativas. 13
Conforme Soares (1998) é importante ressaltar que a maioria das
federações (EUA, Canadá e todo o bloco latino americano) se formou pela
unificação de colônias independentes e pela manutenção da unidade
colonial, sendo que o processo colonial tinha imprimido nas colônias as
bases para a federação: uma estrutura de poder, que apesar de centralizada
na metrópole, conferia ampla autonomia política às esferas territoriais que
formavam a unidade colonial.
Em nosso caso, é importante ressaltar que o federalismo brasileiro
não está pautado em um acordo pacífico e estável entre os estados
federados. Esse arranjo tem sido útil na acomodação dos interesses das
elites regionais. Por ser o Brasil um país com enorme disparidade social e
econômica entre as regiões, o federalismo é o arranjo que proporciona
maior acomodação das disputas internas.
Conforme Kerbauy (1999) e Souza (1998), o federalismo muitas
vezes é confundido com descentralização, apesar de não ser condição
necessária, nem suficiente para ele; e a descentralização se confunde com
regionalização. [...] O federalismo se constitui, portanto num mecanismo de
negociação política, capaz de acomodar diferenças regionais.
“A experiência brasileira corrobora visão de que o federalismo
como mecanismo de divisão territorial de poder é uma forma de acomodar
conflitos em vez de promover harmonia. [...] O federalismo é mais uma
ideologia, que se baseia mais em valores e interesses, do que apenas num
12
Aléxis de Tocqueville, A democracia na América, Belo Horizonte, Ed. Itatiaia, p. 122
25
compromisso baseado em arranjos jurídicos e territoriais.” (Celina Souza,
1998:587).
O federalismo no século XX apresentou duas formas de
configuração. A primeira dela, diz respeito ao modelo dual no qual se
organizou a nação estadunidense que é fortemente ancorado na autonomia
e na força política das unidades federadas. Nesse modelo de federação a
regra é a competição entre os entes federados e o poder central possui
pouco poder de intervenção nos entes subnacionais, salvo em algumas
exceções14
.
O segundo modelo de federação foi aquele que a Alemanha
vivenciou no pós-guerra. Como maneira de promover o desenvolvimento
daquela nação européia criou-se lá o federalismo cooperativo. Os alemães
teceram um federalismo inteiramente original, baseado na cooperação e no
princípio de subsidiariedade, isto é, baseado nos princípios de integração e
interpenetração visando combater as disparidades internas e objetivando o
combate dos desequilíbrios políticos, sociais e econômicos do país.
Autores como Aspásia Camargo (2000) defendem a idéia de um
federalismo cooperativo no Brasil, ou seja, um federalismo fortemente
impregnado pelo compromisso da redução das diferenças espaciais e
sociais. Esse novo pacto federativo romperia com a tradição
patrimonialista, pautada no clientelismo da formação de nossa federação.
II – O Federalismo Brasileiro
A implantação de um sistema político que garantisse autonomia
política as unidades subnacionais nos remete a Independência do Brasil e
13
Michael Bothe, “Federalismo – Um conceito em transformação histórica” in Federalismo na Alemanha,
Fundação Konrad Adenauer, n.º 7, 1995, p. 5 14
Estamos nos referindo as intervenções da União por meio do New Deal promovido nos anos de 1930 e
nas recentes medidas antiterror tomadas a partir dos atentados de 11 de setembro de 2001.
26
do período Imperial. Conforme Resende (1990) em torno do binômio
centralização-federação se nutre o grande debate nacional desde o
momento inicial da nação. “Desde a instalação da Assembléia Constituinte
de 1823 é recorrente o apelo à federação, nem sempre articulado com uma
proposta republicana, haja visto o esforço da maioria do Senado e da
maioria da Câmara dos Deputados em 1832 para fazer cair o parágrafo do
projeto da Câmara em que se diz: “O Governo do Império do Brasil será
uma Monarquia Federativa”. (Resende, 1990:28)
No Primeiro Reinado e na Regência, o Partido Liberal tinha, na
federação a linha de força de seu programa. A Confederação do Equador,
violentamente reprimida, inspirava-se no manifesto de Paes de Andrade:
“Cada estado terá seu respectivo centro, e cada um desses centros,
formando um anel da grande cadeia, nos tornará invencíveis”.
Após a abdicação de D. Pedro I, a perspectiva da descentralização
política reúne adeptos da Sociedade Federal na qual se assentava uma
minoria a favor da República. O Ato Adicional de 1834, modificando a
Constituição de 1824 estava marcado pelo caráter negociado da
descentralização, que ficava restrita à instauração de Assembléias
Legislativas Provinciais. O Ato não estabelecia a federação, mas um
regime que participava de ambos sistemas, centralizador e descentralizador.
Pode-se se dizer que este Ato continha o embrião da federação.
Conforme Bovo (1999:33) podemos expor a formação da Federação
brasileira da seguinte maneira:
“1)1889/1930 (Primeira República) marcado pela existência de um
federalismo oligárquico, com forte autonomia e poder dos Estados;
2) 1930/1945, no qual ocorreu a centralização do poder na esfera do
executivo, mas, simultaneamente, as oligarquias estaduais preservaram o
seu poder econômico;
27
3) 1945/1960, caracterizado pela realização de quatro eleições
presidenciais, fato raro na história republicana do país em um período de
20 anos. Foi um amadurecimento do Federalismo no Brasil, especialmente
no governo Kubitschek;
4) 1961-1964, período caracterizado pela elevada instabilidade
política que impediu qualquer avanço da ordem federativa;
5) 1964/1974, período marcado pela forte centralização das
decisões na esfera da União, o que retardou o aperfeiçoamento do
federalismo descentralizado;
6) 1974/1989, marca a transição para a abertura do regime político
e o início do processo de redemocratização do país, colocando na ordem
do dia questões como a reorganização da Federação e a reconstrução do
Estado”.
A formação do Federalismo no Brasil nos remete à “República da
Espada”, momento de consolidação e auto-afirmação Republicana. Esse
momento é marcado pela República oligárquica influenciada pelas
oligarquias rurais, pela política dos governadores, pelo coronelismo e pelo
voto de cabresto.
Conforme Abrucio (1998) e Souza (2000) a implantação do
federalismo na República Velha foi acompanhado de grandes distorções do
ideal federativo. Para Souza, o federalismo aqui implantado, foi um
federalismo “isolado”.
O federalismo que aqui surgiu tinha como objetivo atender as
demandas por autonomia e descentralização das oligarquias rurais que
estavam descontentes com o centralismo imperial e a sua base de
sustentação política.
“Somente com a primeira Constituição Republicana de 1891,
definidora da nova Ordem Republicana, foi adotada a estrutura federativa,
rompendo-se com a tradição do unitarismo imperial. Embora o principal
28
idealizador da implantação da estrutura federativa, Rui Barbosa, tivesse
em mente o modelo americano, as origens e a forma assumida pelo
federalismo brasileiro foram bem distintas. Ao contrário da experiência
americana, em que havia unidades territoriais autônomas antes do
surgimento da União, no Brasil como notara Rui Barbosa,“tivemos União
antes de ter Estados, tivemos o todo antes das partes”. E mais: o
federalismo brasileiro nasceu, em grande medida, do descontentamento
ante o centralismo imperial, ou seja, em prol da descentralização, o que
deu um sentido especial a palavra federalismo para o vocabulário político
brasileiro, que persiste até hoje. (Abrucio, 1998:32)
Muitos autores brasileiros dizem que em relação ao federalismo
norte-americano que se constituiu no sentido de cooperação e defesa
comum o federalismo brasileiro se formou ligado ao apego de autonomia.
Abrucio (1988) cita Torres, (1961: 153) que diz que:
“Federalismo entre nós quer dizer apego ao espírito de autonomia;
nos Estados Unidos, associação de estados para defesa comum”.
O federalismo implantado no Brasil era claramente hierárquico. No
aspecto fiscal, ficou evidente esse caráter da Federação Brasileira com a
preponderância dos Estados de Minas Gerais e de São Paulo. Mas era na
questão da autonomia política que todas as províncias sem exceção, se
uniram em prol do projeto federalista, porque só neste aspecto poderia
haver uma equalização dos benefícios a todas as unidades da federação.
Além de hierárquica, Celina Souza define a Federação daquele
momento como “isolada” no sentido de que havia poucos canais de
comunicação e ligação entre os níveis de governo. A federação nasceu sob
a égide da desigualdade.
Em suma, diz Abrucio (1998: 34-5), “a federação brasileira tem em
sua origem dois parâmetros básicos: uma hierarquia de importância dos
Estados dentro da federação, que determinará o predomínio de São Paulo
29
e Minas Gerais no plano nacional; e a garantia de que no âmbito interno
dos estados a elite local comandará por si só o processo político,
determinando autonomamente as regras do jogo eleitoral, sem a ameaça
das “derrubadas” impostas pelo governo imperial. A partir deste momento
histórico, as máquinas políticas estaduais serão peças fundamentais no
tabuleiro político do país.”
Abrucio (1998:40) “conclui que na primeira República o
federalismo no Brasil surgiu dissociado da República. O federalismo da
primeira República foi o reino das oligarquias, do patrimonialismo e da
ausência do povo no cenário político. Ou seja, anti-republicano por
excelência.”
Não podemos deixar de citar outra característica fundamental da
consolidação do federalismo no Brasil a República Velha. Percebemos que
o federalismo aconteceu como um mecanismo que atendeu aos interesses
das oligarquias estaduais por maior autonomia. Todavia, esta
independência adquirida pelo poder estadual, traduzida na eleição do
governador, foi a atual base do federalismo brasileiro. Por trás deste poder
da esfera estadual estava o controle sobre os votos, adquiridos através de
um compromisso com o poder local, ou melhor, com os chefes políticos
locais, os coronéis. Se no plano nacional vigorava o pacto da política dos
governadores, no nível estadual imperava o compromisso entre o Poder
público estadual e os coronéis. Nos dois tipos de relacionamento o elo mais
forte era o governador.
Os governadores eram aqueles que detinham o poder dentro do pacto
federativo brasileiro. Ele exercia o poder na esfera da União e sua
sustentação vinha basicamente do apoio dos poderes locais, que era o
membro mais frágil da federação onde o governador desenvolvia todo o seu
poder e influência.
30
Conforme Abrucio (1998:38), “o controle político que o
governador exercia sobre o poder local acontecia por três razões:
primeiro por que o poder federal ainda era muito frágil, pouco competia
com os estados no processo de conquista de apoio dos chefes políticos
locais. Segundo, a base legal da República Velha dava pouca autonomia
política e financeira para os municípios, o que redundava em dependência
política e econômica do poder local para com o governador”.
O coronelismo foi uma fase que marcou o poder local no Brasil
durante quase toda a história republicana. O município era a instância mais
frágil do pacto federativo e, portanto sujeita a dependência do governador.
Victor Nunes Leal (1997:64) descreve o coronelismo como “um
sistema de reciprocidade, em que de um lado, os chefes municipais e os
coronéis que conduzem os magotes de eleitores como quem toca tropa de
burros; de outro lado, a situação política dominante no Estado, que dispõe
do erário, dos empregos, dos favores e da força policial, que possui, em
suma, o cofre das graças e o poder das desgraças”.
O coronelismo que até os dias de hoje deixa resquícios em nosso
sistema político foi definido por Victor Nunes (1997) como resultado da
superposição de formas desenvolvidas do regime representativo a uma
estrutura econômica e social inadequada. É uma manifestação de poder
privado que tem conseguido coexistir com um regime político de extensa
base representativa. O coronelismo era basicamente um compromisso, uma
troca de proveitos entre o poder público, progressivamente fortalecido, e a
decadente influência social dos chefes locais, notadamente dos senhores de
terra.
Maria Isaura Pereira de Queirós (1985) nos mostrou que o sistema
coronelista entrou em declínio ainda na República Velha com a
urbanização, o crescimento demográfico e a industrialização. Além disso, a
criação de algumas instituições como a criação da polícia e do cargo de
31
prefeito.Vale ressaltar que o fim do coronelismo aconteceu nas regiões
mais ricas e industrializadas e que o desaparecimento do coronelismo não
se apresentou, pois, apenas progressivo, como também irregular.15
Com a decadência da oligarquia rural, com o aumento do processo de
industrialização e da organização da classe média, novos atores irão
disputar o poder político no Brasil e contestar a base oligárquica da política
dos governadores que se fundamentava no coronelismo, na corrupção, no
voto de cabresto e na forte influência de São Paulo e Minas no exercício do
poder central. O sistema político da República Velha, que era baseado em
expressões muito conhecidos como aquele que dizia: “aos amigos tudo e
aos inimigos a lei com todos os seus rigores”, começa a ser contestado pela
nova estrutura social que se formava no país. Nesse contexto, surge a
Revolução de Trinta que rompeu com vários elementos da República
Velha.
A Revolução de 30 deu início a uma nova fase do federalismo
brasileiro, com um perfil mais centralizador e onde Vargas reacomodou as
elites regionais num esquema de poder em que haveria outros personagens
envolvidos, particularmente os “tenentes”.
Conforme Souza (2000) em 1930 o Brasil inicia a construção da
sociedade urbano-industrial, na qual o Estado foi o ator central. Em 1934 é
promulgada a nova Constituição. Os governos subnacionais perderam parte
de seu poder financeiro.
Aspásia Camargo (2000) afirma que a âncora dessa transição foi a
reformulação do acordo oligárquico, vigente na República Velha, que teve
como principais atores e protagonistas as novas oligarquias dos estados,
mais abertas que as antecessoras. Esse foi o pacto político construído por
Vargas nos anos que precederam a implantação do Estado Novo (1937).
15
Maria Isaura Pereira de Queiroz, O Coronelismo numa interpretação sociológica, História Geral da
Civilização Brasileira . Vol . III O Brasil Republicano 1. Estrutura e Poder e Economia (1889-1930).
32
Sobre o federalismo no Estado Novo, esse é um assunto controverso
para alguns autores. Vejamos os exemplos apresentados a seguir.
Abrucio (1998:44) afirma que, “no Estado-Novo foi abolido
completamente o federalismo. Em nenhum outro momento do século XX a
estrutura de governo tornou-se tão unitária como no Estado Novo. A
Constituição, por exemplo, aboliu a expressão Estados Unidos do Brasil, e
no seu primeiro artigo simplesmente disse “o Brasil é uma República”.”
Porém, para Aspásia Camargo (2001), do Estado Novo resultou uma
federação acorrentada que, na prática, funcionou como instrumento
institucional de acomodação na passagem do Velho Regionalismo para o
Novo Regionalismo domesticado; e como amortecedor da transição do
Brasil arcaico para o Brasil moderno. A linha de continuidade entre esses
dois pólos não foi construída pelos partidos políticos, nem pelas
instituições democráticas, através do voto. Quem garantiu tal continuidade
foi o federalismo, que passou rapidamente de cumplicidade com a
hegemonia oligárquica para a intimidade como o autoritarismo centralista.
Para Campelo de Souza (1976:41): “o Estado Novo foi de crescente
centralização burocrático-administrativa em que também foi criado o
sistema de interventorias, em que a carreira política dos interventores
dependia diretamente da indicação do Executivo Federal, tornando
possível ao governo central controlar a administração estadual e restringir
a ampla autonomia da “política dos governadores”, por outro lado, não é
menos verdadeiro que os novos chefes políticos provinham socialmente, na
sua maioria do próprio setor agrário, identificando-se em boa medida com
sua cultura e seus interesses políticos. Visto que o governo Vargas não
introduziu no campo transformações econômicas de monta, manteve-se a
federalização política da autoridade baseada na máquina coronelista.”
Difel , 1985.
33
Já Celina Souza (2000) mostrou que essa Constituição foi, ao mesmo
tempo, centralizadora do governo federal e localista porque transferiu
vários impostos estaduais para os municípios e por fazer com que os
estados passassem a transferir parte de seus impostos para os municípios.
O mecanismo de partilha dos impostos das unidades maiores da
federação para as menores foi a primeira tentativa de enfrentar a questão do
desequilíbrio fiscal entre níveis de governo. Os efeitos dessas medidas
foram limitados devido ao aumento desproporcional das competências
federais, à inflação e ao não pagamento de cotas federais às esferas
estaduais o que impediu que as medidas tomadas tivessem pouco efeito: o
aumento no número de municípios.
Com o aumento das transferências fiscais para as esferas
subnacionais ocorre um aumento no número de municípios instalados no
país.
O período seguinte ao Estado Novo compreende os anos de 1945-
1964. Conforme Weffort (1980) este pode ser considerado como o início da
democracia competitiva de massas no Brasil, isto é, as massas participaram
do jogo político.
O federalismo da Segunda República também voltou a ser preceito
político-constitucional, retornando as eleições para cargos executivos e
legislativos das unidades subnacionais, até mesmo para a esfera municipal.
A Constituição de 1946 inovou ao aumentar a autonomia política e
financeira dos municípios, tradicionalmente tolhida pelas Cartas
Constitucionais anteriores.
As relações entre as unidades da Federação se tornaram menos
desequilibradas comparadas com o quadro da Primeira República.
Aumentaram a multipolaridade do sistema, rompendo-se com a
bipolaridade característica da República Velha.
34
O quadro federativo da Segunda República toma, portanto, a
seguinte forma: os estados voltaram a ter autonomia, a Federação voltou a
ser multipolar e o Estado Nacional se fortaleceu em termos econômicos e
políticos.
Porém, a realidade coronelística, fortalecedora do Executivo,
estadual frente aos chefes locais, permaneceu em boa parte do país na
Segunda República, dada a continuidade da estrutura agrária arcaica em
diversas regiões.
O fato é que, com o aumento de núcleos regionais de poder na esfera
das relações intergovernamentais, houve o aumento dos pedidos por
recursos ao Governo Federal, sem que isso significasse um compromisso
federativo lastreado em contrapartidas dos estados. Assim, esse tipo de
relação federativa começou a atingir os alicerces do Estado
desenvolvimentista.
Em 1964 tivemos o período autoritário. Conforme Skidmore (1988)
podemos chamar esse período de situação autoritária, mais do que um
regime autoritário. Nesse momento a federação passou por profunda
transformação, que repercutiu sobre o papel dos três níveis de governo. Os
militares promulgaram uma Constituição em 1967 que promoveu uma
centralização de recursos públicos e de poder político sem precedentes no
Brasil. Porém, conforme Ames (1987) e Medeiros (1986), mesmo com
tamanha centralização os governos subnacionais continuaram a ter papel
importante na Federação, os governos subnacionais foram grandes
legitimadores do regime militar e formaram as coalizões necessárias para a
sua longa sobrevivência. No período militar, os recursos eram repassados
por fundos de participação, e os governos subnacionais, essencialmente os
municípios, tiveram uma melhora na participação dos recursos.
Para Abrucio (1998), o objetivo do governo militar era enfraquecer
as unidades estaduais da função de contrapeso do Poder Central, o que,
35
historicamente, foi a norma do federalismo brasileiro. Houve no regime
militar, a intensificação das relações financeiras entre a União e o
município que procurava trazer o poder local para a esfera de influência do
governo federal, retirando um dos maiores poderes do governo estadual,
qual seja o controle político e econômico da esfera municipal.
O regime militar pretendia romper a antiga dependência dos
municípios com o governo estadual, que era um dos principais pilares do
poder dos governadores. No seu lugar, procurava-se estabelecer uma
dependência do poder local com o Executivo Federal. Em suma, o
federalismo do regime militar foi chamado de federalismo cooperativo e
teve nos arranjos administrativos a sua base de sustentação. A cooperação
entre as esferas de governo significava na realidade a implementação de um
modelo piramidal de relacionamento federativo, em que a União
subordinava os estados e os municípios ao seu comando.
“Dessa maneira, o princípio reinante não era o da cooperação, mas
o da subordinação”. (Abrucio, 1998:71).
O regime militar, “inconscientemente”, fortaleceu o município. Ao
negociar diretamente com o poder local, procurando isolar o governo
estadual, o governo militar deu a essa instituição condições de
sobrevivência e importância política. A maioria dos municípios continuava
com eleições regulares e por meio delas surgiram movimentos e partidos de
oposição que se fortaleceram em fins do regime militar.
A partir da década de 1980 começa o período da abertura para a
democratização. O marco do processo de democratização acontece com as
eleições para governadores de estado em 1982. O ideal da democratização
trouxe consigo a bandeira da descentralização política, fiscal e
administrativa e da “restauração” do federalismo.
As demandas postas no processo de democratização receberam
tratamento especial na Constituição de 1988 e entre os grupos mais
36
influentes na sua elaboração eram aqueles liderados por prefeitos e
governadores demandando a descentralização financeira. A Constituição de
1988, em suma, aprovou medidas que causaram o fortalecimento dos
governos subnacionais, mas manteve a tradição de reter grande parte do
monopólio legislativo na esfera federal, limitando sobremodo a capacidade
das esferas subnacionais adotarem políticas próprias. (Souza, 2000).
Desde a Constituição de 1988, o Brasil passou a ser um dos países
mais descentralizados na distribuição de recursos tributários e de poder
político. (Souza 1992 e 1994). A Nova Carta definiu um novo arranjo para
o país, com uma significativa transferência de funções, poder decisório e
recursos do plano federal para os estados e municípios.
Com a Nova Constituição, Estados e Municípios conquistaram a
mais ampla autonomia política da história republicana. Somente a
Constituição de 1988 atribuiu uma autonomia plena aos municípios,
elevando-os de fato ao status de ente federativo.
Conforme Tomio (2000) esta situação é extremamente peculiar, não
sendo identificável em outros estados federados. Na maioria das federações
– ou, pelo menos, nos casos mais conhecidos – os municípios ou outros
níveis de poder local são divisões administrativas das unidades federadas,
que delegam, ou não, diferentes níveis de autonomia aos governos locais. A
estrutura federativa brasileira, por não ter paralelo em outros países,
transformou o país na única federação com três níveis políticos
constitucionalmente autônomos: a união, os estados – e distrito federal – e
os municípios.
Alguns autores vêem esse novo status do município com
desconfiança, pois, não acreditam que o nível local no Brasil esteja
preparado para ser um espaço para o exercício real da democracia e sim,
espaço de manobras e apropriação das elites políticas.
37
Para Aspásia Camargo (2001), em contraste com as experiências
alemã e norte-americana, o Brasil criou mais um ente governamental que é
o município. Para a autora a invenção se impulsionou positivamente a
descentralização e que doutrinariamente pode ter sido um equívoco, visto
que o município concorre hoje com a sociedade civil, cujas instâncias de
decisão – os conselhos municipais – são ainda frágeis, demasiadamente
politizadas e envolvidas com os interesses políticos imediatos.
Porém, autores como Souza (1998) defendem que a Nova
Constituição está tornando o Brasil mais federado. Esse processo de
federalização está ocorrendo graças à emergência de novos atores no
cenário político e pela existência de vários centros de poder soberanos que
competem entre si. Por outro lado, esse federalismo tem mostrado seus
limites devido às disparidades regionais e pelo enfraquecimento do governo
federal.
Não há dúvida de que o município ganha destaque na Constituição
que concede alguns avanços no sentido de maior autonomia municipal,
devido a maior equidade na distribuição de recursos tributários entre as três
esferas de poder, um certo incentivo ao planejamento econômico, através
da prerrogativa da elaboração da Lei Orgânica, da obrigatoriedade do Plano
Diretor para municípios com população acima de 20.000 habitantes e do
Orçamento Plurianual de Investimentos, além de incentivo a
descentralização de alguns serviços públicos, tais como: saúde, assistência
e educação. (Leão, 1996).
Abrucio (1998) mostra que a Nova Carta ao incorporar os municípios
à federação, não conseguiu eliminar o poder político dos estados
brasileiros, principalmente, dos economicamente mais fortes, constituindo-
se os municípios neste caso o elo mais frágil do pacto federativo. Os
municípios brasileiros são, em geral, marcados por expressivas
desigualdades econômicas, sociais, políticas e administrativas, dependentes
38
em grande parte de lideranças regionais díspares, freqüentemente
representadas pelos governadores.
Caracterizando-se como o “ponto fraco” do federalismo brasileiro, e
dependentes dos governadores, o município passou por um processo de
expansão, graças às emancipações que se intensificaram a partir da década
de 1980 e 1990.
A discussão sobre federalismo no Brasil vem sendo debatida em
outros aspectos. Um dos temas que vem chamando a atenção dos
pesquisadores da área, diz respeito aos desequilíbrios federativos,
intrínsecos ao sistema federal do Brasil.
A federação brasileira da perspectiva da representação política surge
como restritiva da demos. A representação desigual passa por um forte grau
de distorção, sendo a alocação desproporcional das cadeiras na Câmara dos
Deputados, entre regiões e estados, a mais importante. (Campello de Souza,
1976; Britto, 1965). Para Kerbauy (2000), isso tudo acarreta dois
problemas: no plano federal as distorções representativas constrangem a
democracia e impedem decisões políticas que atendam de forma igualitária
os interesses nacionais e, no plano municipal, a natureza das elites locais,
da burocracia e das dificuldades de implantação de novos arranjos
institucionais impedem uma participação popular mais efetiva nas decisões
do governo local e mantêm e reforçam em várias situações o clientelismo.
Nesse quadro do federalismo brasileiro percebemos que a
consolidação e a constituição da federação seguiu uma trajetória moldada
por pactos políticos e territoriais constituídos ao longo da história. Percebe-
se que as condições garantidoras de sucesso estiveram praticamente
ausentes e que hoje as que existem são, no mínimo insuficientes. Conforme
Abrucio (1998:30), “a combinação entre a autonomia dos governos
subnacionais e a interdependência entre os níveis de governo não tem sido
alcançada. Nossa federação é marcada por uma distribuição
39
desequilibrada de poder, cuja conseqüência mais deletéria encontra-se na
perversa relação estabelecida entre os interesses regionais e o interesse
nacional. Caciques regionais e presidentes imperiais talvez sejam filhos do
mesmo pai: o frágil contrato federativo brasileiro”.
Todavia, ressaltamos que neste novo século e novo milênio que estão
iniciando, nos dizeres de Aspásia Camargo (2001), concluímos que o
federalismo se incorporou ao metabolismo institucional do país e é parte
constitutiva de seu processo de integração nacional e de sua identidade
política.
Nesta breve reconstrução histórica do nosso sistema federativo,
buscou-se ressaltar, por meio de diversos autores, que a consolidação de
um pacto federativo no Brasil foi e ainda é permeado por grandes
desequilíbrios. A federação oscilou entre períodos de sístoles e diástoles em
que nas duas formas houve a ausência de soberania popular,
republicanismo, equilíbrio das forças políticas para a consolidação de um
estado nacional forte e somente nos últimos anos, ou seja, após a
Constituição de 1988 é que temos alguns avanços. A criação de municípios
e a sua nova configuração pós 1988 traz novas perspectivas de análise que
poderão demonstrar os equívocos e os eventuais acertos de nosso
federalismo.
Muitos estudiosos dizem que o município foi sempre um ator de
terceira categoria na história política do país. Entretanto, percebemos que
em nossa história política esse ente vem ganhando poder e destaque. Se
compararmos o município que tínhamos na República Velha, no Estado
Novo, na Terceira República, no Regime Militar e no contexto democrático
atual vemos que esta instituição vem ganhando cada vez mais importância.
Poucos estudos dedicam a esta instituição relevância nos modelos de estado
(federal, centralizado, unitário, etc) que foi adotado na consolidação das
formas de governos no Brasil.
40
No item a seguir faremos uma breve resgate histórico do município
no Brasil, com o objetivo de ressaltar as diversas configurações que o poder
local teve na história política do país para entendermos um pouco mais de
sua configuração atual: ente da federação.
III – O Município no Federalismo Brasileiro
Para alguns autores (Araújo, 1998. p. ex.), o município é a celula
mater da nação brasileira. Antes de vermos como eles foram e continuam a
ser criados acreditamos ser importante reconstruir de maneira breve a sua
configuração em nossa história.
Em boa parte de sua história, o governo local sempre foi muito
subordinado as esferas superiores de governo e, além de tudo, serviu de
sustentáculo para a esfera estadual e federal. Somente a partir de 1946 é
que a esfera municipal passou a ter maior visibilidade e importância
jurídico-político-institucional no arranjo federativo brasileiro. Todavia,
maior nível de autonomia só acontecerá na Quinta República.
No momento de consolidação do estado brasileiro, o período
imperial, houve um cerceamento da atuação das Câmaras Municipais, que
perderam funções políticas e financeiras, embora seu Presidente exercesse
funções executivas (sob protestos e denúncias de políticos e estadistas).
Inspirado na legislação napoleônica de 1804, o Império transformou as
Câmaras Municipais em "corporações meramente administrativas", pela
Lei Regulamentar de 1o de outubro de 1828.
Os Municípios passaram a ser tutelados, perdendo a função
judicante, que lhes dera prestígio e poder no período colonial. Pode-se dizer
que o Império congelou as instituições municipais, impedindo-lhes a
dinâmica e a ação e reduzindo-as ao imobilismo e à apatia.
41
Na República Velha, o município vai ser objeto de manipulação
ostensiva por parte das oligarquias estaduais, visto que o poder político se
concentra nas mãos dos velhos caciques, que dominavam, por gerações, a
política estadual, a ponto de a União ser débil diante deles, assim eram
débeis os municípios.16
Para se manterem no poder ou para continuarem a
ter o poder em suas mãos, governadores ou presidentes estaduais usavam
os municípios como massa de manobra para as eleições, evidentemente
manipuladas, mas que garantiam a permanência dos oligarcas e do status
quo.
Isto propiciou numerosas intervenções do estado em seus
municípios. O abuso e a arbitrariedade só foram estancados pela reforma
constitucional de 1926, ao conceder à União o direito de intervir nos
Estados para proteger a autonomia municipal, também reforçada graças aos
movimentos políticos dos anos 20, conhecidos como "tenentismo", que
levaram à Revolução de 30.
Entre as metas revolucionárias, estava a redução do poder do estado
e o fortalecimento da União e dos municípios, tirando-os dos excessos do
controle estadual.
No entanto, a autonomia municipal não se concretizou. Ao contrário,
chegou-se para uma centralização, com a dissolução de todos os órgãos
legislativos do País, incluindo-se as Câmaras Municipais.
Foram nomeados interventores para os governos estaduais e o chefe
do executivo passou a ser chamado prefeito, em todos os municípios.
Formula-se, na época, um interessante princípio de divisão do
trabalho governamental: A União cria a norma, o Estado adapta e o
Município executa.
16
Ver Vitor Nunes Leal, 1997, Maria Isaura Pereira de Queiroz, 1985 e Maria de Lourdes M. Janotti,
1985.
42
Os fatos políticos dos anos 1930-1934 pressionaram Getúlio Vargas
a convocar uma Assembléia Constituinte, cujos trabalhos culminaram na
Constituição de 16 de julho de 1934. Restabelecia-se a Federação, reduzia-
se a competência dos Estados, inclusive sobre a organização municipal,
cuja autonomia adquire nível de importância equivalente à da União e à dos
Estados, explícita e claramente definida no artigo 13. Institui-se, então, a
eletividade dos Prefeitos e dos Vereadores (podendo os primeiros ser
eleitos pelos segundos). São decretados determinados tributos, com
destinação de suas rendas e organizam-se os serviços públicos locais.
Podemos dizer que a Constituição de 1988 não é nenhuma novidade,
pois, em 1934 o município tem a mesma importância do que os outros
entes da federação. O município conseguiu naquele momento autonomia
política e a garantia de transferência de recursos e verbas. A atual
constituição não é totalmente original neste aspecto, ela apenas reafirma
algo que já havia acontecido décadas anteriores.
Para o IBAM, apesar de a Constituição de 1934 ser derrotada pela de
1937, instituindo, o Estado Novo, que se estendeu até 1945, os horizontes
que ela abriu para os Municípios não mais seriam esquecidos e
consolidariam a tendência de lhes ampliar o papel e garantir a autonomia,
tornando-a mais imune ao jogo político-eleitoral dos Estados e das
oligarquias regionais.
Em 1937, volta-se a um centralismo como nunca se viu na história
do Brasil. Assumindo caráter ditatorial, o governo do Estado Novo dissolve
as Câmaras Legislativas e os Estados passam a ser governados por
Interventores Federais, a quem cabia a escolha dos Prefeitos.
O período da República Populista contou com a presença de
nomeados municipalistas, como Aliomar Baleeiro, Otávio Mangabeira,
43
Nereu Ramos, Juracy Magalhães e Hermes Lima, entre outros, na
Constituinte de 1946, o Município ganhou raízes mais profundas no texto
legal. Podemos assim resumir a nova feição municipal em 1946:
é uma das três divisões político-administrativas do País, junto
com a União e os Estados;
seus Prefeitos e Vereadores serão eleitos pelo povo;
mantém, como privativos, cinco impostos;
podem cobrar taxas por serviços prestados e contribuições de
melhoria;
as intervenções municipais (extremamente livres, até então) só
podem ocorrer, agora, sob duas condições: atraso no pagamento de dívida
fundada ou de empréstimo garantido pelo Estado.
Não obstante suas novas prerrogativas, o Município sofre limitações,
como:
a restrição à eleição de Prefeitos (nas Capitais de Estado, com
exceções; nas estâncias hidrominerais, nos Municípios definidos por lei
federal como base ou porto militar de importância para a defesa nacional) -
que eram nomeados pelo Governador do Estado. Dezoito Municípios foram
considerados como de importância para a defesa externa (9 eram capitais
de Estado);
a nomeação, que retirava a plena autonomia do Município;
a não previsão de Câmaras de Vereadores nos Municípios de
Territórios;
a desigualdade de direitos entre os Municípios, em virtude das
restrições citadas.
44
Considerada uma das maiores obras políticas da Constituinte de 46, o
capítulo dos tributos partilhados, não obstante as polêmicas que causou,
envolvendo Municípios ricos, que não queriam ver suas cotas diminuídas,
acabou vitorioso, derrotando a idéia de uma distribuição proporcional à
contribuição de cada unidade da Federação.
Deste modo, na Carta de 1946, cada Município, exceto as capitais,
receberia 10% da arrecadação do Imposto de Renda (de competência
federal), o que propiciava uma redistribuição de receita, ou seja, favorecia
os Municípios mais pobres.
Estamos, pois, diante de um federalismo que, ao contrário do velho,
ampliava, consideravelmente, o campo e a intensidade das relações entre as
três esferas de governo.
No entanto, os velhos costumes começaram a voltar, no sentido de os
Estados ambicionarem as fontes de renda municipais, de que se podiam
servir, com maior ou menor desenvoltura. Para começar, somente Santa
Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo repassaram a seus municípios o
excesso da arrecadação dos impostos sobre as rendas municipais. Nenhum
outro o fez. Por seu lado, a União continuou a ser relapsa em pagar as cotas
do Imposto de Renda, sempre atrasadas e, não raro, dependendo de
influências políticas para serem liberadas. Conforme o IBAM, nem os
próprios municípios se esforçavam em utilizar todo o seu potencial na
arrecadação de tributos, o que beneficiaria a todos, especialmente os mais
ricos.
Com a falsa visão de que poderiam arrecadar mais recursos federais,
por conta das cotas do Imposto de Renda que a União restitui aos
municípios onde ele é arrecadado, de 1946 a 1964, brotaram municípios em
todos os Estados, em grandes proporções, evidenciando a falta de critério e,
como era de se esperar, o inverso dos benefícios esperados. Todos os
Estados o fizeram, mas há que se destacar o exemplo de São Paulo, Minas
45
Gerais, Bahia, Ceará e Paraná, em princípio. Rio de Janeiro, Espírito Santo
e Acre são mencionados como exceção (inicial) à febre da multiplicação. O
Estado do Amazonas, por exemplo, que tinha 44, em pouco tempo, passou
a ter 296 Municípios.
O País cresce, urbaniza-se, a população aumenta substancialmente,
exigem-se mais serviços públicos municipais, a sobrecarga é crescente
assim como crescente a falta de recursos, com a "pulverização" de unidades
municipais, sem a correspondente capacidade financeira, quer própria, quer
partilhada com a União e/ou Estados, que não tinham critérios e normas
para dividir as funções das três esferas administrativas.
Ainda sob a vigência da Constituição de 46, é de se registrar que
também o Supremo Tribunal Federal17
emitiu numerosíssimos acordos com
interpretação favorável aos Municípios, em questões de autonomia política,
administrativa e financeira, e isto porque os Estados ainda insistiam em
invadir a esfera municipal, autônoma, questionando matéria tributária, à ver
se tiravam do Município o tributo que era devido a este e não mais ao
Estado.
Não obstante a consolidada posição de importância que obtivera, o
município, a partir de 1964, não pôde gozar de seus direitos nem expandi-
los, desta vez por força da centralização federal, vista como caminho
necessário e indispensável para o desenvolvimento nacional.
Ficaram relegadas a segundo plano as conquistas duramente
alcançadas: posição político-administrativa reconhecida no cenário
nacional; apoio de forças do Congresso; simpatia do Supremo Tribunal
Federal, apoio do movimento municipalista (ABM – Associação Brasileira
de Municípios)18
, com figuras altamente representativas no cenário
nacional; amplo assessoramento do IBAM. Frustaram-se, assim, as
17
Conforme o IBAM o STF é o mais consistentemente municipalista dos Poderes da República. 18
A Associação Brasileira de Municípios (ABM) foi fundada em 1946 e desde então é uma das mais
atuantes instituições municipalistas do Brasil.
46
expectativas de um municipalismo com vida própria, como prometiam as
conquistas da Constituição de 1946.
O período autoritário implementou duas Constituições (1967-1969)
que mantiveram as conquistas municipais, que vinham da Carta de 1934:
unidade político-administrativa, juntamente com Estados e Municípios;
autonomia política, administrativa e financeira; inclusão da autonomia
municipal entre os princípios constitucionais da União e manutenção de
impostos partilhados.
A centralização de poderes na União, contudo, empalideceu tais
conquistas, atingindo, inclusive, os Estados. Regrediu-se ao sistema de
nomear Prefeitos para Capitais, estâncias hidrominerais e de Municípios
considerados de interesse da segurança nacional, incluindo-se os de
fronteira e outros, onde se instalavam indústrias críticas para a segurança,
para os "deuses da época". Deste modo, cerca de 180 Municípios perderam
prerrogativas, só restabelecidas pela Emenda Constitucional de junho de
1982. Neste período, impediu-se que 42% da população brasileira tivesse o
direito de escolher seus Prefeitos, por voto secreto e livre.
Com a Constituição de 1988 o município ganha o seu maior
papel de destaque. Nas Constituições anteriores, o município não era
expressamente mencionado como parte integrante da Federação, embora
fosse ponto pacífico, visto que a Federação brasileira compreendia,
também, os municípios.
Em tese, a autonomia do município significa que o Governo
Municipal não está subordinado a qualquer autoridade estadual ou federal
no desempenho de suas atribuições exclusivas e que as leis municipais,
sobre qualquer assunto de competência expressa e exclusiva do Município,
prevalecem sobre a estadual e a federal, inclusive sobre a Constituição
47
Estadual em caso de conflito, como tem sido da tradição brasileira, salvo
alguns curtos-circuitos institucionais ao longo da história.
Estão expostas nas tabelas (Tabelas 3, 4 e 5) a seguir, as
distribuições de encargos, estrutura tributária e a lista de transferência de
recursos estabelecida a partir da Constituição de 1988 entre os entes da
federação.
A nova constituição foi arrojada em estabelecer as responsabilidades
aos entes da federação e transferiu grande parte dos encargos sociais
(saúde, educação, assistência social, etc) para os municípios. Estes
passaram a ser os novos protagonistas do sistema de proteção social.
Todavia, a maioria dos municípios brasileiros não possuem autonomia de
gestão, ou seja, não possuem capacidade de governo devido,
principalmente, a baixa arrecadação. Isso tudo compromete o combate as
disparidades sócio-econômicas regionais e impedem que tenhamos maior
equilíbrio interno.
48
TABELA 3 - Distribuição atual dos encargos por esfera de governo
NÍVEL DE GOVERNO CATEGORIA E GASTO
FEDERAL - Defesa
- Relações Exteriores
- Comércio Internacional
- Emissão e controle da moeda e do
sistema bancário
- Uso de recursos hídricos
- Rodovias Federais
- Planejamento regional e dos
recursos naturais
- Correios e telegrafia
- Polícia federal (e em áreas de
fronteira);
- Regulamentação da banca, moeda,
relações trabalhistas, transporte
interestadual, desenvolvimento
urbano, minas e energia, seguro
desemprego, educação, imigração,
direitos civis e dos índios;
- Seguridade social
- Sistema estatístico nacional (IBGE)
FEDERAL E ESTADUAL (funções
concorrentes)
- Saúde
- Educação (superior, fundamental,
médio e profissionalizante);
- Cultura;
- Proteção dos Recursos Naturais e
do meio ambiente;
- Agricultura;
- Abastecimento;
- Habitação;
- Saneamento básico;
- Assistência Social;
- Polícia;
- Energia Hidroelétrica
MUNICIPAL - Transporte público urbano;
- Ensino pré-escolar e fundamental;
- Saúde preventiva;
- Uso do solo urbano;
- Conservação do patrimônio
histórico e cultural
Fonte: Fundap, 1995
49
TABELA 4 - Estrutura Tributária
Impostos Competências
Comércio Exterior
Imp. Importação
Imp. Exportação
União
União
Patrimônio e Renda
Imp. s/ propr. Territorial rural – ITR
Imp. s/ transmissão de bens imóveis – ITBI
- “Causa mortis” e doações
- intervivos
Imp. s/ renda e proventos – IR
- Adicional do IR
Imp, s/ propriedade territ. Urbana – IPTU
Imp. s/ grandes fortunas –IGF
Imp. s/ propriedade de veículos aut. IPVA
União
Estados
Municípios
União
Estados
Municípios
União
Estados
Produção e circulação de bens
- Imp. s/ produtos industrializados –
IPI
- Imp. s/ circ. de merc. e serv de
comunic. e transp. – ICMS
- Imp. s/ operações financeiras – IOF
- Imp. s/ serviços de qq natureza -
ISS
- Imp. s/ venda a varejo de
combustíveis - ISVVC
União
Estados
União
Municípios
Municípios
Fonte: Fundap, 1995.
50
TABELA 5 - Lista de Transferências
1- Da união para os Estados e DF
1. 21,5% da arrecadação somada do IR e do IPI para o fundo de
participação dos Estados (FPE).
2. 10% da arrecadação do IPI para o Fundo de Ressarcimento dos
Estados Exportadores (FPEX)
3. 66,66% da contribuição do Salário-Educacão
4. 30% do IOF-Ouro
5. 100% do Imp. de Renda Retido na Fonte (IRRF) pelo tesouro local
6. 20% dos tributos que sejam criados pela União.
2 – Da união para os municípios
1. 22,5% da arrecadação somada do IR e IPI para o Fundo de Participação
dos Municípios
2. 50% da arrecadação do ITR
3. 100% do Imposto de Renda Retido na Fonte ( IRRF) pelo tesouro local
4. 70% do IOF-Ouro
3 – Dos Estados para os municípios
1. 25% dos recursos FPEX recebidos pelos estados da União (equivalentes a
2,5% do IPI)
2. 25% da arrecadação do ICMS.
3. 50% do IPVA
4 – Outras receitas compartilhadas
1. Composição financeira pela extração de minerais; o produto da
arrecadação deve ser distribuído: 23% a estados e DF; 65% a municípios;
e 12% a Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM.
2. Compensação financeira pela exploração de recursos hídricos; o produto
da arrecadação deve ser distribuído: 45% aos estados e DF; 45% aos
municípios; 8% ao Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica –
DNAEE; 2% à Secretaria da Ciência e Tecnologia.
3. Compensação financeira pela exportação de petróleo, xisto, betuminoso e
gás natural; o produto da arrecadação deve ser distribuído: 70% aos
estados produtores, 20% aos municípios produtores, 10% aos municípios
com instalações de desembarque.
Fonte: Fundap, 1995.
O município a partir de 1988 recebeu uma importância antes nunca
vivenciada. O poder político no Brasil se descentralizou. As unidades
subnacionais passaram a ter maior autonomia. Nesse processo ocorre o
processo de fragmentação municipal. Criaram-se centenas de novos
51
municípios. Teoricamente, novas unidades autônomas e independentes
passaram a atuar sobre o território nacional.
O município que, conforme Almeida & Carneiro (2001) foi
considerado o território onde se frustravam ou se pervertiam os projetos
democráticos, passou a ser o locus essencial da democratização. Esse
movimento foi vitorioso graças ao fortalecimento do municipalismo,
especificamente da Associação Brasileira de Municípios que, conforme os
autores, parece ter influenciado na Assembléia Nacional Constituinte.
O capítulo a seguir procurou explanar sobre o processo de
descentralização que ocorreu no Brasil a partir da década de 1980 em que a
criação de municípios esteve intimamente ligada. Além disso, procuramos
mostrar as explicações normativas e causais do processo da “explosão
municipal”.
52
CAPÍTULO II - A DESCENTRALIZAÇÃO POLÍTICA E A
CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS
I. A onda descentralizadora das décadas de 1980/1990
Conforme Afonso (1996), no Brasil, a descentralização veio com a
redemocratização, em meio ao aprofundamento da crise econômica. O fato
decisivo, e que torna singular a experiência brasileira, é que a
redemocratização ocorreu primeiro nos governos subnacionais, com a
eleição para governador e prefeitos no início dos anos 80, e somente em
1988 chegou ao núcleo central do Estado, com a Assembléia Nacional
Constituinte e, em 1989, com a eleição direta para presidente da República.
Dessa forma, ocorreu uma identificação entre a luta contra o
autoritarismo e a luta pela descentralização. A descentralização,
principalmente, das políticas públicas tem configurado um novo arranjo na
Federação Brasileira (Arretche, 1998).
Todavia, argumenta-se que a União ficou sem defensores durante a
elaboração da Constituição de 1988 devido ao fortalecimento dos
governadores estaduais (Abrucio, 1998) e a descentralização processou-se
de forma descoordenada, sem um projeto articulador.
Em suma, no Brasil, a descentralização não foi comandada pelo
governo federal, ao contrário, esse se opôs a ela o quanto pôde. Dessa
forma, não existiu um plano nacional para a descentralização e, mais do
que isso, o processo encontra-se inconcluso e eivado de conflitos.
(Afonso,1996)
O atual debate acerca do papel desempenhado pelos estados e
municípios após a Constituição de 1988 suscita três ordens de questões
53
referentes à relação da descentralização com a democracia, o
desenvolvimento, a eficiência e a equidade.
No que se refere à relação entre a descentralização e a democracia,
encontram-se dois pólos de opiniões: para alguns, a descentralização seria
um mecanismo de redistribuição do poder político que permeabilizaria o
Estado às pressões e à participação dos setores populares; para outros,
entretanto, a descentralização representaria uma estratégia de deslocamento
da alternativa popular para o plano local.
Quanto a relação entre a descentralização e desenvolvimento, a
polarização de posições é análoga. Para alguns, a descentralização seria o
instrumento por excelência para se alcançar o desenvolvimento em favor
das maiorias sociais, mediante a redistribuição espacial de recursos; para
outros, entretanto, a descentralização representaria o abandono de qualquer
pretensão de equilibrar o desenvolvimento entre regiões e no interior delas.
A descentralização seria, sob este ponto de vista, um dos eixos de uma
estratégia neoliberal de assignação de recursos, contrária, portanto, às
políticas redistributivas.
Para Melo (1996), passado mais de uma década de experiências
descentralizantes, esse processo passa a ser visto com mais cautela. Isso
está mudando em virtude da visibilidade que vem ganhando alguns “efeitos
perversos” a partir dos processos de descentralização. Hoje, a agenda
pública não é mais consensual sobre os efeitos da descentralização, oposto
ao que ocorria na Nova República. Além de tudo, o Governo Central,
transferiu as responsabilidades e o custo político da descentralização para
estados e municípios.
Para Arretche (1996), a eficiência da descentralização em relação a
ampliação da democracia e combate ao clientelismo, nos moldes em que
foi realizado no Brasil é contestável. Pois, para a autora, o caráter
democrático do processo decisório depende menos do âmbito no qual se
54
tomam decisões e mais da natureza das instituições delas encarregadas. Em
relação a redução do clientelismo supõe a construção de instituições que
garantam a capacidade de enforcement do governo e a capacidade de
controle dos cidadãos sobre as ações deste último.
A responsabilidade sobre a descentralização aos Estados refletiu
principalmente na elaboração das Constituições Estaduais. O marco desse
processo foi a capacidade e responsabilidade dos Estados legislarem sobre
a criação de novos municípios. Isso fez com que passássemos por um
processo de descentralização política. A legislação federal deixou de
intervir em determinados assuntos e interesses estaduais, possibilitando
maior autonomia e descentralização do poder de decisão sobre o território
nacional.
Os estudos sobre descentralização em sua maioria procuraram
compreender o novo arranjo das políticas públicas, dos efeitos perversos,
dos avanços em relação a democratização através da participação popular
dentro de nossa federação.
Compreendermos que esse processo de descentralização é um
pressuposto para que possamos compreender o atual estágio da
descentralização no país. Alguns autores afirmam que estamos partindo
para um processo de recentralização, pois, o ideal de descentralização
realizado no país foi descoordenado e danoso para o equilíbrio fiscal. A
criação de municípios e, notadamente, os pequenos, fazem parte desse
processo.
Para nós compreendermos como e por que foram criados novos
municípios representa parte da tentativa de compreensão dos limites,
equívocos, sucessos e fragilidades da descentralização no Brasil que foi por
muito tempo sinônimo de desenvolvimento e democracia.
55
II – A criação de municípios
Para alguns autores (Afonso, Melo, Rezende, 1996) um dos reflexos
da “descentralização descoordenada” foi a proliferação de pequenos
municípios pelo país que ampliou o desequilíbrio no plano fiscal e
tributário.
Concordamos com Shikida (1999), quando ele diz que a
emancipação de municípios em si, não possui qualquer aspecto positivo ou
negativo, a não ser que se discuta no contexto da forma de federalismo
existente no país. O fato, porém é que criar municípios pequenos e pobres
tem causado uma série de desequilíbrios fiscais.
Conforme Melo (1996), existem os efeitos perversos que se
expressam de várias formas. Em primeiro lugar pela proliferação de
municípios, pois a nova Constituição brasileira transferiu a
responsabilidade legal pela definição dos critérios de criação de novos
municípios - que até era prerrogativa federal – para o âmbito estadual.
Em seu artigo 18, inciso 4.º, a Constituição estabelece que as regras
para a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios
serão objeto de lei estadual, e dependerão de consulta, mediante plebiscito,
às populações diretamente interessadas. Isso explica porque os estados
puderam variar no processo de criação de municípios, mas ainda não é
explicado como eles variam.
De fato, a heterogeneidade intra-regional, a globalização das
economias, a privatização, a desregulamentação dos mercados e a
descentralização extremada tendem, através de seus impactos muito
diferenciados sobre as regiões, a ampliar as forças fragmentadoras e
centrífugas no espaço nacional.
Afonso (1996:6) de forma genérica explica que o estímulo à
emancipação decorre:
56
- da possibilidade, facultada pela constituição de 1988, das
novas unidades federativas passarem a dispor dos recursos
dos fundos de participação(FPEM), repartindo-os com o
Estado ou município dos quais se separam;
- da opção pela solução fragmentadora e isolacionista. Ante a
dificuldade de enfrentar os problemas sociais colocados pela
prolongada crise econômica, marcada por uma inflação
renitente, pela crise financeira do Estado e pelas
transformações estruturais em curso, algumas localidades
mais ricas optam por seccionar-se para, com isto equacionar
seus problemas sem o fardo da complexidade da Nação ou
mesmo da região. A generalização de políticas de segregação
ativa, proibindo ou dificultando o acesso de imigrantes
pobres, ou sem as qualificações estipuladas, constitui uma
manifestação preocupante que aponta na mesma direção;
- da tentativa de alguns setores de ampliarem o seu espaço de
controle político eleitoral, através do redesenho das unidades
federativas e da conseqüente criação de novas máquinas
político-administrativas.”
Para nós, a explicação exposta sobre a criação de municípios no
Brasil é pertinente no que diz respeito ao primeiro e terceiro itens. O
primeiro diz respeito a garantia constitucional de maiores repasses para as
unidades subnacionais; o terceiro item afirma que os interesses de alguns
grupos de se fortalecerem politicamente através da aquisição de novas
unidades político-administrativas. Para esses estudiosos a proliferação de
municípios com estas características vem dificultando a divisão adequada
de competências, bem como a coordenação federativa.
Conforme Tomio (2000:9): “cerca de 74% dos municípios criados -
e instalados nas últimas duas décadas – têm menos de 10.000 habitantes.
57
Na região Sul, estes são mais de 90% do total. A emancipação municipal
recente é fundamentalmente, uma questão que envolve os micros e
pequenos municípios do interior.”
A Tabela 6 - mostra a predominância da criação de pequenos
municípios em todas as regiões do país. Pequenos municípios são aqueles
com menos de 20.000 habitantes, mas os que mais se destacaram em
emancipações foram aqueles cuja população atinge até 5.000 habitantes.
Tabela 6 - BRASIL E REGIÕES
Número de Municípios Instalados após 1984, por classes de tamanho da
população, 1997
Grupo de Municípios
(População)
Nordeste Norte Centro-Oeste Sul Sudeste Brasil
Até 5.000 hab. 146 97 80 295 118 736
5.000 a 10.000 hab. 108 48 30 88 85 359
10.000 a 20.000 hab. 125 42 19 19 29 234
20.000 a 50.000 hab. 20 17 6 6 14 59
50.000 a 100.000 hab. 2 3 3 3 2 11
100.000 a 500.000 hab. 1 * * * 3 4
Total 402 207 138 405 251 1.403
Fonte: IBGE, 1997.
Os pequenos municípios são aqueles que possuem a menor
capacidade de arrecadação no Brasil. (Vide Tabela 7) Os municípios com
menos de 5.000 habitantes arrecadam na média nacional 8,9% de sua
receita total. Aqueles municípios até 10.000 habitantes arrecadam 10,1%.
Porém, é importante ressaltar que os municípios no Brasil em todos os
tamanhos possuem uma baixa capacidade de arrecadação. Somente aqueles
que possuem mais de 50.000 habitantes conseguem uma receita própria
acima de 20% de sua receita total.
58
Tabela 7 - BRASIL E REGIÕES
Receita Corrente Própria dos Municípios como porcentagem da sua Receita
Corrente Total, por Grupos de Municípios, 1996 (Em porcentagem)
Grupo de Municípios
(População)
Nordeste Norte Centro-Oeste Sul Sudeste Brasil
Até 5.000 hab. 2,9 4,4 7,5 9,9 10,1 8,9
5.000 a 10.000 hab. 4,0 3,4 7,8 12,9 12,6 10.1
10.000 a 20.000 hab. 4,0 4,2 9,7 16,3 17,7 12,3
20.000 a 50.000 hab. 5,8 9,1 15,4 23,1 23,0 17,5
50.000 a 100.000 hab. 10,6 15,0 19,4 27,1 30,8 25,3
100.000 a 500.000 hab. 21,3 18,8 25,0 37,7 36,3 34,2
500.000 a 1.000.000 hab. 28,1 * 47,7 * 41,4 38,1
Mais de 1.000.000 de hab. 43,6 32,3 43,4 52,5 60,2 55,9
Total 17,9 20,3 20,9 29,2 41,0 35,3
Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional - STN e IBGE - Contagem da
População 1996.
Para Melo (1996), a multiplicação dos municípios no país deve
merecer reflexão sistemática por duas ordens de consideração: pelo
impacto fiscal causado pela multiplicação de estruturas administrativas e
instâncias político-institucionais (secretarias municipais, câmaras de
vereadores, etc.) no âmbito local sem a contrapartida de geração de
riquezas; e pela existência de um número extremamente elevado de
unidades subnacionais supostamente potencializaria as dificuldades de
coordenação federativa no país. Todavia, o autor afirma que o país possui
um número ainda reduzido de municípios per capita e de representantes no
legislativo local. Para este autor a crítica ao processo de criação de
municípios, tem algum fundamento no caso de emancipações de alguns
tipos de distritos: os muitos pobres e os de dimensão muito reduzida.”
A criação de municípios cresceu no momento de fortalecimento dos
governadores de Estado no cenário político brasileiro. Abrucio (1998)
chamou os governadores de “Barões da Federação” devido aos seus
poderes desempenhados, sobretudo, no período de redemocratização e pós-
59
Constituição de 1988. Os governadores constituíram-se como os atores
políticos mais fortes dentro da federação. A União e os municípios ficaram
a mercê de seus interesses. Surge aí o fenômeno chamado por Abrúcio de
ultrapresidencialismo estadual.
“Se o federalismo estadualista explica em grande medida o poderio
dos governadores no plano nacional, no âmbito interno dos estados a força
dos Executivos Estaduais resultou da formação de um sistema
ultrapresidencialista. A dinâmica ultrapresidencialista estadual tornava os
governadores fortíssimos perante a classe política local que normalmente
aderia e apoiava a classe política local, que normalmente aderia e apoiava
o governo estadual. Além disso, o ultrapresidencialismo garantia boa
margem de manobra para que as governadorias controlassem as bases
políticas dos lideres locais.” (Abrucio, 1998: 23-4)
Os estados no Brasil sempre tiveram considerável poder político,
embora nem sempre correspondente em recursos financeiros. Com a
democratização não foi mais possível represar o poder dos governadores,
principalmente dos que governam os estados economicamente mais fortes.
“Além do mais, a influência dos governadores sobre as bancadas dos seus
estados no Congresso Nacional pode, na maioria das vezes, ser maior do
que a dos partidos políticos aos quais eles pertencem”. (Souza, 1998:580).
Durante a década de oitenta e no início da década de noventa não foi
reconstruído o pacto de dominação no plano nacional, sendo a política feita
por intermédio de táticas defensivas e de jogos de competição não
cooperativa. Num cenário como este novamente a lógica regional de
atuação foi favorecida. (Abrucio:1998). Federalismo estadualista, no qual
os estados se fortaleceram sem, no entanto estabelecerem coalizões
hegemônicas de poder no plano nacional para reconstruir o Estado e o
sistema político.
60
Uma maneira para explicar a criação de municípios seria a
observação da história dos regimes políticos no Brasil, pois nos períodos
democráticos foram criados municípios e nos autoritários o processo foi
restrito. Para Tomio (2000), esses dados poderiam nos levar a fazer uma
associação direta entre regime político e criação de municípios. Ou seja,
períodos democráticos, como a República Populista (1945-64), a nova
República (anos 80) e o período atual, seriam caracterizados por uma
imensa descentralização política, institucional e fiscal que favoreciam a
maior intensidade de emancipações municipais. Já os períodos ditatoriais
como o Estado Novo (1930-45) e o Regime Militar (1964-85), devido as
suas características centralizadoras, inibiram a criação de um grande
número de municípios.
Tomio (2000) argumenta que este tipo de explicação é muito
genérica e limitada apesar de historicamente correta. Para o autor essa
explicação não apresenta os mecanismos políticos e institucionais
específicos que agiriam em cada regime político para a ocorrência histórica
das ondas ou surtos emancipacionistas. A criação de municípios no Brasil
foi diferente em estados e regiões, alterando o ritmo do processo. A
correlação política entre regime político e emancipações apresenta um
sentido fatalista – isto é, a manutenção das regras democráticas implicaria
numa contínua fragmentação das unidades locais - e é incapaz de explicar
a diversidade no ritmo emancipacionista entre os estados brasileiros.
Para Gomes e Mac Dowell (1997), se descentralizar implica criar
mais e mais municípios, e se a maior parte dos novos municípios produz
mais custos que benefícios para o federalismo fiscal, bem pode ocorrer que
a descentralização, em seu conjunto, traga mais prejuízos do que lucros. Os
autores procuraram mostrar que a maioria dos pequenos municípios criados
61
não possuem viabilidade fiscal. Para os autores o custo da existência
daquelas prefeituras são maiores do que seus eventuais benefícios.
Os autores acima têm três argumentos, de base fiscal contrários a
criação de novos municípios, principalmente dos pequenos: i) eles
aumentam os valores absolutos e relativo de transferência de receitas
tributárias originadas nos municípios grandes para os municípios pequenos,
com o provável efeito líquido de desestimular a atividade produtiva
realizada nos grandes municípios, sem estimulá-la nos pequenos;
ii)beneficiaram a pequena parte da população brasileira que vive nos
pequenos municípios (que necessariamente não são os mais pobres) ao
destinarem mais recursos para as respectivas prefeituras, e prejudicaram a
maior parte da mesma população, que habita os outros municípios, cujos
recursos se tornaram mais escassos; iii) aumentaram os recursos utilizados
no pagamento de despesas com o Legislativo, ao mesmo tempo em que
reduziram, em termos relativos, o montante de recursos que o setor público
(União, Estados e Municípios) tinham disponíveis para aplicar em
programas sociais e em investimento.
Para um defensor das emancipações, Bremaeker (1991), as
emancipações municipais responderiam a uma lógica extremamente
racional. A criação de municípios seria uma espécie de resposta funcional a
evolução política social e demográfica, que reequilibraria as relações de
poder local pela fragmentação de municípios muito extensos ou pela
emancipação, das comunidades que tivessem adquirido uma maioridade
política, social e econômica.
Nas argumentações contrárias e favoráveis a emancipação
percebemos que existem disparidades nos argumentos desses grupos. Os
estudiosos contrários ao processo de criação de municípios possuem um
62
estudo muito aprofundado e dados confiáveis mostrando que o processo é
inviável. Já aqueles que são favoráveis apresentam um argumento
“ingênuo” e frágil para justificar as emancipações. Aqueles que defendem a
criação de municípios apresentam apenas ideais positivos da
descentralização como a maior possibilidade de desenvolvimento local,
maior participação popular, distribuição de recursos. Acreditamos que falta
quantificar melhor as informações e mostrar as experiências bem sucedidas
dos pequenos municípios criados como, por exemplo, aqueles da região do
município de Feliz no estado do Rio Grande do Sul onde os distritos
emancipados vem desempenhando um ótimo resultado no ponto de vista
econômico, político e social.19
A legislação complementar estadual, editada após 1988, diversificou
as exigências à criação de municípios. (Ver Tabela 9) Alguns estados
criaram critérios “excêntricos”, mas é possível identificar cinco tipos
principais de limites às emancipações: 1) a população ou o eleitorado
mínimo exigido, 2) o tempo de existência dos distritos emancipados, 3) o
percentual de receita fiscal do distrito em relação à arrecadação estadual,
4) a distância da sede do município de origem, 5) a quantidade de
edificações urbanas.
Dos 26 estados que compõem a nossa federação, apenas dois criaram
restrições a criação de novas unidades municipais. Em 1997, o Estado do
Espírito Santo estabeleceu a proibição da divisão de municípios com duas
emancipações nos últimos 50 anos. Pernambuco, em 1997 estabeleceu que
a criação de novos municípios seriam proibidas de 1996 a 1999. Todavia,
essas proibições se tornaram inócuas, pois, as Constituições Estaduais são
subordinadas a Constituição Federal que já havia estabelecido critérios
rigorosos sobre o assunto pela emenda Constitucional de n.º 15.
19
Ver Klering, Luis Roque. Experiências recentes em municípios brasileiros: os novos municípios e as
63
Os demais 24 estados brasileiros, não criaram restrições a
emancipação de novos municípios e aguardam a Lei Complementar Federal
para que possam novamente regulamentar o processo.
A legislação do Estado de São Paulo foi uma das mais permissivas a
criação de novos municípios, porém em porcentagem São Paulo ficou
abaixo da média nacional em emancipações. Este é um dos desafios que
nos propomos explicar no próximo capítulo.
conquistas da autonomia. Ed. da UFRS, 1998;
64
TABELA 8 - Exigências à Emancipação de Municípios
UF N.º Lei
Complementar
População/
Eleitorado(*)
Antigüidade
Do Distrito
Receita/
UF
Distância da
Origem
Edificações
Urbanas
Uniã
o LC 01/67 10.000(**) 5/1.000 200
RS 9070-9089/90 1.800 150
SC 01/89 5.000 5 anos 1/1.000 150
29-33/90, 34/91 1.528 5 anos 150
37-42/91,135/95 5.000 5 anos 5 Km 200
PR 56/91 5.000 100
SP 651/90 1.000 2 anos 3 Km
RJ 59-61/90 6.393 5/1.000 400
MG 19/91 3.000 1,5 (menor) 1,3 Km 400
24/92 2.000 1,5 (menor) 400
37-39/95 2.000 400
ES 13/91 8.600 2,5/1.000 200
87/96, 100/97 Proibida a divisão de municípios com duas emancipações nos últimos 50 anos
AL 01/90 7.000 3/1.000 200
06/91 7.000 2/1.000
11/92 5.500 1/1.000
PB 01/90 2.000 120
24/96 5.000 300
PE 01/90 10.000 300
14/96 10.000 5 Km 600
15/96 Proibida emancipações até 1999
MA 10/91, 15/92 Desconhecida as exigências legais
17/93 1.000 200
CE 11659/89 5.000 150
01/91 10.213 5 anos 10/1.000 400
SE 01/90 6.000 3/1.000 300
PI 06/91 4.000 100
BA 01/89 12.541 200
02/90 8.000
RN 102/92 2.558
TO 01/89 2.000 3/1.000 50
05-06/92 1.200 0,003 % 50
09/95 3.000 0,005 % 5 Km
PA 01/90 5.000 200
27/95 10.000
RR 02/92 2.471 100
RO 31/89 6.155 150
AM 07/91 965
AC 23/89 2.088 5/1.000 5 Km 120
35/91 1.500 2/1.000 50
AP 01/92 948
GO 02/90 3.000 1/1.000 200
04/90 2.000 0,66/1.000 6 Km 133
MS 58/91 9.635 5/1.000 10 Km 200
62/91 5.781 3/1.000
MT 01/90,08-09/91 3.040 200
23/92 4.000 200
FONTE: Legislação Complementar Federal e Estadual, IBGE (Contagem 96, Censo 91). (*) Só quatro estados utilizam o eleitorado como principal critério à emancipação (RS, SP, MG e
MA). (**) Menos para os estados com menos de 2 milhões de hab., quando prevalecia 0,5% da
população. Segundo os dados do “Censo de 1991”, a população municipal mínima para essas
UF seria: AC (2.088 hab.), AP (1.446 hab.), MS (8.901 hab.), RO (5.663 hab.), RR (1.087 hab.), SE
(7.459 hab.) e TO (4.599 hab.). Tomio (2000)
65
As emancipações foram restringidas em 1996, porém, isso não quer
dizer que o processo se extinguiu, pois somente no ano de 2000 o Estado
do Rio Grande do Sul criou mais 30 novos municípios20
.
Segundo Abrucio (1998), a multiplicação de municípios seria o
produto de dois fatores: um genérico, a existência de um “modelo
hosbbesiano e predatório” na federação brasileira, o que estimularia as
emancipações municipais enquanto uma competição não cooperativa pelos
recursos fiscais; e outro específico, onde alguns governadores atuariam
favoravelmente pela criação de municípios para ampliar seu poder e
controle – “ultrapresidencial” sobre as bases políticas locais.
As explicações sobre a explosão municipal ficaram atreladas as
explicações genéricas: ou atribuem o fenômeno a um modelo hobbesiano
de nossa federação (todos contra todos, para retirar maior quantidades de
recursos da União), ou ao arranjo institucional de cada estado através de
sua Constituição, ou aos interesses dos governadores em ampliara seu
poder e controle sobre bases locais.
O fato é que ninguém explicitou os atores, mudanças legais,
interesses locais e estratégias políticas envolvidos em uma emancipação.
As explicações tiveram avanços na explicação sobre a dinâmica da variação
interestadual por meio do trabalho de Tomio (2000).
O capítulo a seguir procurará mostrar como foi o processo de
criação de municípios no Estado de São Paulo por meio do caso da
emancipação de Itaoca.
20
Dados obtidos através dos portais: www.municipionline.com.br e www.estadao.com.br. O Estado do
Rio Grande do sul criou 253 novos municípios nos últimos 13 anos, maior índice entre os Estados nesse
período. Em 1987 o estado possuía 244 municípios, em 2000 esse número saltou para 497, ganhando mais
cidades do que em toda a sua história.
66
CAPÍTULO III – CRIAÇÃO DE PEQUENOS MUNICÍPIOS: O
CASO DE ITAOCA-SP
I – A criação de municípios no Estado de São Paulo
O Estado de São Paulo possui uma área de 248.600 km² e uma
população de aproximadamente 37 milhões de habitantes, o que o torna o
mais populoso do país. Mais da metade de sua população encontra-se na
região metropolitana da capital. Do ponto de vista político, São Paulo teve
grande influência nos idos da Primeira República e hoje o estado se destaca
no cenário nacional, sobretudo, pelo seu potencial econômico.21
É em São
Paulo que se concentram cerca de 48% do total do PIB brasileiro. O estado
está organizado em 17 regiões: algumas são metropolitanas e a maior parte
administrativa22
, no qual estão inseridos os seus municípios.
Dentro de São Paulo nasceu uma das mais antigas instituições
políticas do Brasil, o município. Desde a colônia (Fundação de São Vicente
em 1532) essa instituição existe no Brasil e vem se fortalecendo. São Paulo
possui hoje 645 municípios23
, ficando atrás apenas do estado de Minas
Gerais que possui um total de 853 municípios. O aumento da malha
municipal em São Paulo passou a ocorrer com maior intensidade na
Terceira República24
(1945-1964) e na Quinta República (inaugurada em
1985) em que a Constituição de 1988 consagrou o arranjo político
democrático contemporâneo.
21
Dados obtidos no IBGE: www.ibge.gov.br 22
São as 17 regiões metropolitanas e administrativas de São Paulo: RM –São Paulo, RM – Baixada
Santista, RM-Campinas, Registro, São José dos Campos, Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru,
São José do Rio Preto, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Central (Araraquara e São Carlos),
Barretos e Franca. Fonte: IGC (Instituto Geográfico e Cartográfico), 2001; 23
Dados obtidos na Fundação SEADE: www.seade.gov.br 24
As terminologias Terceira República, Quinta República foram inspiradas da obra de Rogério Schimitt
Partidos Políticos no Brasil, JZE, 2000.
67
De 1965 a 1990, só um município foi criado no Estado de São
Paulo.25
Em contraposição a essa inércia ou apatia (ou obstrução)
emancipacionista de quase três décadas, no período de 1990 a 1995, 73
novos municípios paulistas foram criados.
A criação de municípios fez parte da história da organização
territorial e política do Estado de São Paulo. (vide a Tabela 9) Numa
quantificação cronológica dos últimos 50 anos, de 1945 a 1995, o quadro
que se tem em relação ao número de municípios paulistas é o que pode ser
observado a seguir: (Tabela 10)
TABELA 9 : Criação de municípios em São Paulo 1532/1996
Períodos Municípios Criados Total no Estado
1532/1821 Colônia e
Reino Unido
33 33
1832/1889 – Regencial
e II Reinado
90 123
1890/1937 – Governo
Republicano
139 262
1938/1981 – Governo
Provisório e
Republicano
310 572
1988/1996 – Governo
Republicano
73 645
Fonte: Araújo (1988:32)
25
Entre 1965 e 1990 foi criado no Estado de São Paulo – Vargem Grande Paulista, em 1981,
desmembrado do de Cotia, ocorrendo a instalação em 1983. Nesse período dois municípios voltaram a ser
distritos – Vargem e Brás-Cubas em 1970 por serem considerados inviáveis. O primeiro pertencia a
Bragança Paulista e o segundo o de Mogi das Cruzes.
68
TABELA 10: Número de Municípios Paulistas – 1945-1995
Ano Quantidade de Municípios
1945 305 municípios
1949 369 municípios
1954 435 municípios
1959 505 municípios
1964 573 municípios
1970 571 municípios
1982 572 municípios
1990 582 municípios
1992 625 municípios
1994 636 municípios
1995 645 municípios
Fonte: Mota Júnior (2001)
De 1945 a 1964, são mais 268 novos municípios, dividindo o
território paulista. De 1990 a 1995, criaram-se mais 73 novos governos
locais. Percebe-se que, a priori, os períodos democráticos influenciaram a
criação de novos governos locais. Todavia, não podemos simplesmente
associar os períodos de abertura ou exceção como maneira de explicar as
emancipações, pois esta resultaria em uma explicação fatalista.
No Estado de São Paulo, o processo de regulamentação da criação de
municípios foi aprovado por meio da Lei de N.º 651/90, de autoria do
deputado estadual Edinho Araújo (PMDB), em 31 de julho de 1990 pelo
então governador do Estado, Orestes Quércia (PMDB)26
.
Esta lei impulsionou a criação de novos municípios no Estado, que
hoje conta com 645 prefeituras.27
A criação de municípios em São Paulo a partir de 1990 teve uma
dinâmica interna muito parecida com a dinâmica nacional, porque não pode
ser relacionada com os indicadores sócio-econômicos de suas regiões tais
26
Célia Melhem,1996 in Política de Botinas Amarelas, traça o perfil da política adotada pela ascensão do
“quercismo”, do ex-governador de São Paulo Orestes Quércia (1988-1991) que teve como uma das
principais características de sua política o municipalismo. “A força que vem do interior”. 27
Dados obtidos no portal: www.municipionline.com.br
69
como PIB, IDH e outros. No Estado foram criados municípios nas suas 14
distintas regiões administrativas, desde as mais ricas e de maior
urbanização, como as regiões de Araraquara, Ribeirão Preto, RMC (Região
Metropolitana de Campinas), RMSP (Região Metropolitana de São Paulo):
Guatapará, Gavião Peixoto, Motuca, Hortolândia e outros; e até nas regiões
mais pobres e com menor densidade demográfica, como a de Sorocaba e
Registro: Cajati, Ilha Comprida, Barra do Chapéu, Itapirapuã Paulista,
Itaoca e outros.
Todavia, em relação a população dos novos 73 novos municípios
criados no Estado de São Paulo temos o seguinte quadro:
TABELA 11 - Classes de Municípios criados entre 1990/1994 por
população
Classes de População Quantidade de Municípios
Até de 2.000 habitantes 14
De 2.000 a 4.000 habitantes 28
De 4.001 a 6.000 habitantes 7
De 6001 a 8.000 habitantes 6
De 8001 a 10.000 habitantes 3
Acima de 10.000 habitantes 6
Fonte: Callegari (1994) e Mota Júnior (2001)
A criação de municípios em São Paulo a partir de 1990 caracteriza-se
pela emancipação de pequenos distritos, ou seja, mais de 90% dos
municípios criados possuem menos de 10.000 habitantes. O Estado de São
Paulo acabou criando mais pequenos municípios que o padrão nacional no
qual os municípios com esse perfil populacional representaram 57% do
total das emancipações. A grande maioria desses municípios, criados em
São Paulo não possui base de arrecadação. No caso de Itaoca, esse
70
município arrecadava apenas 5,48% do total de sua receita. Diante deste
panorama surge uma importante indagação: Como e por que esses
municípios foram criados?
Talvez, uma das formas de compreendermos a criação desses novos
municípios pequenos e pobres possa ser explicada pela via dos interesses
políticos-partidários. Célia Melhem (1998), procurou desvendar a
configuração da gestão quercista e da trajetória do PMDB enquanto
governo no contexto paulista. A autora identificou no governo Quércia a
prática de fortalecer e priorizar as demandas do interior. As bases eleitorais
do PMDB em fins da década de 1990 e começo dessa se sustentavam nas
regiões interioranas e, principalmente, nos municípios médios e pequenos.
A partir disso, construímos uma das hipóteses para este trabalho. Os
projetos e as leis sobre as emancipações municipais ocorreram em um
período em que o governo do Estado de São Paulo tinha como ação política
o fortalecimento de suas bases eleitorais municipais no interior do Estado.
Nesse contexto está inserida a criação do município de Itaoca-SP, cuja
emancipação aconteceu em 1991, através do plebiscito ratificado pela
população, por meio de aprovação da Assembléia Legislativa e
promulgação da Lei Estadual de n.º 7664,de 30-12-1991 e pelo executivo
estadual. Por meio dos dados obtidos percebemos que a aprovação da Lei
Estadual de 1991 em que esteve inserida a emancipação do distrito de
Itaoca teve apoio suprapartidário, mas a maior parte do trabalho e
articulação à emancipação foi realizada pelo PMDB.
A Lei Complementar 651/90 foi promulgada no último ano da gestão
de Orestes Quércia (PMDB) como governador do Estado de São Paulo, no
dia 31 de julho de 1990. Esta lei foi o marco institucional que estabeleceu
as “regras do jogo” para a criação de municípios no Estado de São Paulo.
Conforme Edinho Araújo (1998), autor da Lei Complementar, todas a
lideranças partidárias com assento na Assembléia Legislativa: PMDB, PT,
71
PSDB, PFL... contribuíram para que esse projeto da lei complementar fosse
urgentemente votado em plenário. E, continua o ex-deputado, para que isso
ocorresse foi fundamental a mobilização popular que, liderada pela Frente
Distrital Paulista de Emancipação, conseguiu despertar o interesse e o
desempenho de todos os deputados em favor da causa.
A partir da Lei Complementar 651/90 foram criadas quatro leis
estaduais que criaram novos municípios no Estado de São Paulo. São Paulo
criou municípios no período de 1990 até 1995.
As exigências para emancipações municipais no Estado de São Paulo,
por meio da lei Complementar N.o 651 de 31 de julho de 1990, promulgada
por Orestes Quércia, estabelecia os seguintes critérios para criar novos
municípios:
“Capítulo I
Da criação
Artigo 1.º -A criação de município far-se-á por lei estadual, precedida
de consulta plebiscitária.
Parágrafo 1.º - O processo de criação de Município terá início
mediante representação assinada, no mínimo, por cem eleitores
domiciliados na área que se deseja emancipar, encaminhada a um
deputado estadual ou diretamente à mesa de Assembléia Legislativa.
Parágrafo 2.º - A criação de município e suas alterações territoriais só
poderão ser feitas anualmente.
Parágrafo 3.º - A consulta plebiscitária, realizada na área a ser
emancipada, só poderá ser considerada favorável se obtiver a maioria dos
votos válidos, tendo votado a maioria absoluta dos eleitores.
Parágrafo 4.º - A solicitação ao Tribunal Regional Eleitoral para
proceder à realização do plebiscito será feita pelo presidente da
Assembléia, após sua aprovação pelo plenário da Assembléia Legislativa.
72
Artigo 2.º - Previamente ao plebiscito mencionado no artigo anterior,
são condições indispensáveis e cumulativas para a criação de município:
I – ser distrito há mais de (2) dois anos;
II – possuir em sua área territorial, no mínimo 1000 eleitores;
III – ter centro urbano constituído;
IV – apresentar solução de continuidade de três quilômetros, no
mínimo, entre o seu perímetro urbano, definido pelo componente órgão
técnico do Estado e Município de origem, excetuando-se os Distritos
integrantes de regiões metropolitanas ou aglomerados urbanos;
V – não interromper a continuidade territorial do município de origem,
bem como preservar a continuidade e a unidade histórico-cultural do
ambiente urbano, ouvido o competente órgão técnico do Estado.
Parágrafo 1.º - Não será permitida a criação de Município, desde que
esta medida importe, para o município ou Municípios de origem, na perda
das condições exigidas neste artigo.”
Com a Lei Estadual n.º 7.664, de 30-12-1991, promulgada pelo sucessor
de Orestes Quércia, Luiz Antonio Fleury Filho, foi criado o município de
Itaoca. Nesse período foram criados 43 novos municípios em todo o estado
sendo a maioria composta por municípios com menos de 10.000 habitantes.
O processo emancipatório em São Paulo contou com um grande
militante. Estamos nos referindo a Edinho Araújo, atual prefeito de São
José do Rio Preto, interior de São Paulo, pelo PPS. Edinho foi deputado
estadual pelo PMDB de 1983- 1994 e deputado federal de 1994 a 1998.
Sua trajetória política é caracterizada pelo municipalismo e pela defesa da
criação de municípios. Em seu livro “O novo município novo” (1998), o
parlamentar descreve as suas peripécias políticas em defesa das
emancipações. O argumento dele é que a criação de municípios é uma das
73
melhores formas de promover o desenvolvimento do interior e atender os
anseios da população pelo poder público.
“... era natural que defendêssemos a criação de novos municípios,
por entender que a descentralização do poder é fator de desenvolvimento,
que aproxima o cidadão das decisões que lhe dizem respeito e propicia
uma administração mais transparente, eficaz e voltada aos interesses
locais”. (Araújo, 1998:43)
Edinho foi relator do Capítulo “Dos Municípios” da Constituição do
Estado de São Paulo no período entre 1988/89 em que foi defensor da
autonomia municipal e da criação de novos municípios. Na constituinte
paulista ele abraçou a causa emancipacionista. A partir daí o parlamentar
priorizou sua permanência como membro da Comissão de Assuntos
Municipais (CAM), para qual foi eleito em 2 biênios consecutivos (como
suplente em 1991/92 e efetivo em 1993/94, por ser esta o principal órgão
da Assembléia Legislativa responsável pela apreciação de todos os
processos relativos à alteração do quadro territorial do Estado, além das
demais questões de interesse municipal.
Além disso, o deputado foi presidente da Comissão de Constituição e
Justiça, nos mesmos biênios (1991/92 e 1993/94) em que, conforme o atual
prefeito, pode agilizar a apreciação dos projetos de lei referentes à matéria,
pois era naquele órgão técnico que se examinavam a constitucionalidade e
legalidade do projeto apresentado.
A partir da Lei Complementar 651/90 elaborada pelo deputado
Edinho Araújo (então, PMDB) foram promulgadas as seguintes Leis
estaduais e os respectivos municípios que deram ao Estado de São Paulo
uma nova dimensão político-territorial:
74
Tabela 12 - Lei Estadual n.º 6.645, de 09-01-1990
Município Novo Município de Origem Região Administrativa
Borebi Lençóis Paulista Bauru
Dirce Reis São Francisco São José do Rio Preto
Embaúba Cajobi Barretos
Espírito Santo Do
Turvo
Santa Cruz do Rio
Pardo
Marília
Euclides da Cunha
Paulista
Teodoro Sampaio Presidente Prudente
Guatapará Ribeirão Preto Ribeirão Preto
Iaras Águas de Santa Bárbara Sorocaba
Motuca Araraquara Central (Araraquara e
São Carlos)
Rosana Teodoro Sampaio Presidente Prudente
Tarumã Assis Marília
-instalados em 1o. de janeiro de 1993. Fonte: Cepam/Mota Júnior-2001
Tabela 13 - Lei Estadual n.º 7.664, de 30-12-1991:
Município
Novo
Município de Origem Região
Administrativa
Alambari Itapetininga Sorocaba
Alumínio Mairinque Sorocaba
Araçariguama São Roque Sorocaba
Arapeí Bananal São José dos
Campos
Aspásia Urânia São José do Rio
Preto
Barra do
Chapéu
Apiaí Sorocaba
Bertioga Santos RM-Baixada
Santista
Bom Sucesso
de Itararé
Itararé Sorocaba
Cajati Jacupiranga Registro
Campina do
Monte Alegre
Angatuba Sorocaba
Canitar Chavantes Marília
Elisiário Catanduva São José do Rio
Preto
Emilianópolis Presidente Bernardes Presidente
Prudente
Engenheiro Artur Nogueira RM –
75
Coelho Campinas
Estiva Gerbi Mogi Guaçu Campinas
Holambra ArturNogueira/Cosmópolis/Jaguariúna/Sto.Antonio
da Posse
RM-Campinas
Hortolândia Sumaré RM-Campinas
Ilha
Comprida
Cananéia/Iguape Registro
Ilha Solteira Pereira Barreto Araçatuba
Itaoca Apiaí Sorocaba
Itapirapuã
Paulista
Ribeira Sorocaba
Lourdes Turiúba São José do Rio
Preto
Marapoama Itajobi São José do Rio
Preto
Mesópolis Paranapuã São José do Rio
Preto
Nova
Campina
Itapeva Sorocaba
Nova Canaã
Paulista
Três Fronteiras São José do Rio
Preto
Novais Tabapuã São José do Rio
Preto
Parisi Votuporanga São José do Rio
Preto
Pedrinhas
Paulista
Cruzália Marília
Pontalinda Jales São José do Rio
Preto
Potim Guaratinguetá São José dos
Campos
Ribeirão
Grande
Capão Bonito Sorocaba
Saltinho Piracicaba Campinas
Santo
Antonio de
Aracanguá
Araçatuba Araçatuba
São João de
Iracema
General Salgado Araçatuba
São Lourenço
da Serra
Itapecerica da Serra RM-São Paulo
Suzanápolis Pereira Barreto Araçatuba
76
Taquarivaí Itapeva Sorocaba
Torre de
Pedra
Porangaba Sorocaba
Tuiuti Bragança Paulista Campinas
Ubarana José Bonifácio São José do Rio
Preto
Vargem Bragança Paulista Campinas
Zacarias Planalto São José do Rio
Preto
-instalados em 1o. de janeiro de 1993 - Fonte: Cepam/Mota Júnior-2001
Tabela 14 - Lei Estadual n.º 8.550, de 30-12-1993:
Município Novo Município de Origem Região Administrativa
Arco Íris Tupã Marília
Brejo Alegre Coroados Araçatuba
Canas Lorena São José dos Campos
Ipiguá São José do Rio Preto São José do Rio Preto
Pracinha Lucélia Presidente Prudente
Pratânia São Manuel Sorocaba
Quadra Tatuí Sorocaba
Santa Cruz da
Esperança
Cajuru Ribeirão Preto
Santa Salete Urânia São José do Rio Preto
Taquaral Pitangueiras Ribeirão Preto
Vitória Brasil Jales São José do Rio Preto
- instalados em 1.º de janeiro de 1993. Fonte: Cepam/Mota Júnior-2001
Tabela 15 - Lei Estadual n.º 9330, de 27-12-1995
Município Novo Município de Origem Região Administrativa
Fernão Gália Marília
Gavião Peixoto Araraquara Central (Araraquara e
São Carlos)
Jumirim Tietê Sorocaba
Nantes Iepê
Nova Castilho General Salgado Araçatuba
Ouroeste Guarani d’Oeste São José do Rio Preto
Paulistânia Agudos Bauru
Ribeirão dos Índios Santo Anastácio Presidente Prudente
Trabiju Boa Esperança do Sul Central (Araraquara e
São Carlos)
- instalados em 1.º de janeiro de 1997. Fonte: Cepam/Mota Júnior- 2001
77
Através dos dados expostos acima, pode-se perceber a dinâmica
geográfica da criação de municípios no Estado de São Paulo. Todas as
regiões paulistas criaram municípios no período entre 1990-1995, com
exceção da região de Franca.28
A região de São José do Rio Preto, a região do Edinho Araújo, nesse
período criou 17 novos municípios. Seguiu-se a região de Sorocaba em
segundo lugar no estado, criando 16 novos municípios. Essas se destacam
das demais áreas do Estado de São Paulo, pois, em terceiro lugar nas
emancipações, vem a região de Araçatuba e Marília com 6 novos distritos
emancipados. Na regional de Presidente Prudente surgiram 5 novos
municípios. Na região de Campinas 4 novos. Em São José dos Campos,
Região Central (São Carlos e Araraquara) Ribeirão Preto e RM-Campinas,
foram criados 3 novos municípios. Nas regiões de Bauru e Registro
aconteceram 2 novas emancipações. Nas áreas de Barretos, RM-Baixada
Santista e RM-São Paulo, apenas 1 novo município foi criado.
Nosso objeto de pesquisa situa-se em uma região que teve o 2.º
maior surto de novos municípios. Itaoca faz parte dos 16 novos municípios
criados entre 1990 a 1995 na região de Sorocaba.
Itaoca, antigo distrito de Apiaí, região de governo de Itapeva e região
administrativa de Sorocaba, nasceu na década de 1990. Por sua
biodiversidade história, cultura e indicadores sociais29
esse município faz
parte do complexo regional do Vale do Ribeira. Todavia, esse complexo da
biodiversidade não se constitui em uma única região administrativa ou de
governo do Estado de São Paulo. Essa região se encontra fragmentada do
ponto de vista político, pois, o litoral sul e baixada fazem parte da região
28
A região de Franca mostra-se como enigmática nesse processo. Até o momento não encontramos
nenhuma informação que auxilie na explicação desse caso. 29
O Censo/2000/ IBGE mostrou que Itaoca apresenta uma das mais elevadas taxas de analfabetismo do
Estado de São Paulo, 17,5% da população com mais de 10 anos. Fonte: Estadão, 21 de dezembro de 2001.
78
administrativa e de governo de Registro, o Alto Vale faz parte, portanto da
região de governo de Itapeva e administrativa de Sorocaba.30
Todavia, neste trabalho, no aspecto físico, cultural, histórico e
enquanto configuração sócio-econômica Itaoca tem muito mais semelhança
com o Vale do Ribeira do que com Sorocaba, isto é, no aspecto cultural,
ambiental e social, Itaoca faz parte do Vale do Ribeira, mas politicamente
depende e é alvo direto das políticas regionais de Sorocaba e da região de
governo de Itapeva.
II - o Vale do Ribeira
A região do Vale é considerada a mais pobre do estado em relação ao
PIB e ao PIB per capita e ao IDH do estado de São Paulo.31
(Vide Tabela
16)
A região possui 23 municípios em uma área de 17.264 km² que
formam o Alto Vale do Ribeira e a Baixada do Ribeira que, não estão
integrados em uma única região administrativa e de governo. A população
regional está estimada em 329.285 habitantes.32
Tabela 16 – Vale do Ribeira – IDH – 1996
N.º Município IDH No Vale No Estado
1 Apiaí 0,7055 6.º 500
2 Barra do Chapéu 0,5692 22o. 622
3 Barra do Turvo 0,5476 23o. 623
4 Cajati 0,6838 10o. 554
5 Cananéia 0,6758 14º. 568
6 Eldorado 0,6674 15º. 577
30
Em 1989 foi criado o CODIVAR (Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal do Vale do Ribeira),
através da participação das prefeituras, que além de buscar a promoção sócio-econômica da região tinha
como um dos objetivos tornar o Vale do Ribeira uma única região administrativa para que as políticas
para a região fossem mais eficazes. Essa idéia continua a ser discutida e foi um dos temas do Fórum de
Desenvolvimento do Vale do Ribeira. 31
A publicação do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH - 2000) dos municípios paulistas apontou a
região do Vale do Ribeira como sendo a menos desenvolvida do Estado de São Paulo. Comparado com
outros países – onde o Canadá ostentava o 1.º lugar com um índice de 0,960 – o Vale (0,713) aparece
entre Indonésia (0,679) e África do Sul (0,717), no 41.º lugar. Se comparada ao Estados da federação –
onde o melhor colocado é o Rio Grande do Sul com 0,869 – a região fica entre Pará (0,703) e Sergipe
(0,731), na 17a. posição. Entre as regiões administrativas do Estado de São Paulo é a última colocada.
32 IBGE;1996
79
7 Iguape 0,7225 4º. 460
8 Ilha Comprida 0,6790 13o. 565
9 Iporanga 0,5913 20o. 617
10 Itaoca 0,6403 17o. 601
11 Itapirapuã Paulista 0,5769 21o. 621
12 Itariri 0,6437 16o. 598
13 Jacupiranga 0,7392 2o. 410
14 Juquiá 0,7187 5o. 472
15 Juquitiba 0,6987 8o. 513
16 Miracatu 0,6820 11o. 559
17 Pariquera-Açú 0,6950 9o. 527
18 Pedro de Toledo 0,6385 18o. 603
19 Registro 0,8358 1o. 177
20 Ribeira 0,6337 19o. 604
21 São Lourenço da
Serra
0,7237 3o. 457
22 Sete Barras 07009 7.º 509
23 Tapiraí 0,6810 12o. 563
Fonte: Codivar/2000
O Vale do Ribeira ficou fora dos principais ciclos históricos de
desenvolvimento (café, cana-de-açúcar, industrialização, etc). É também a
região paulista com menor densidade demográfica com 18,9 habitantes por
km². Configura-se como a menos urbanizada do Estado de São Paulo, a
urbanização no Vale era de 64,8%.33
É uma região que foi palco dos principais momentos da formação
histórica do Brasil. A história do Vale, no período colonial, inicia-se com
os embates entre Portugal e Espanha, a respeito do Tratado de Tordesilhas,
assinado em 7 de junho de 1494. Por esse acordo, a atual região do Vale, de
Iguape para o Sul, era parte integrante do domínio espanhol. A partir da
primeira expedição portuguesa para ocupar a Capitania de São Vicente, o
Vale passou a constituir-se no gesto pioneiro de contestação efetiva ao
Tratado de Tordesilhas, marcando o início do expansionismo territorial
português no Brasil. Em 1531, Martim Afonso de Souza, donatário da
Capitania de São Vicente, chegou à foz do Ribeira de Iguape.
80
Em meados do século XVI, foi criado Iguape, objetivando consolidar
a colonização e facilitar o acesso ao interior, para a exploração mineral que
se iniciava. As primeiras jazidas de ouro foram encontradas em princípios
do Século XVII nos leitos e cabeceiras dos rios, intensificando a ocupação
da região.
No século XVIII, rio acima, na região denominada hoje de Alto
Vale, surgiu o povoado de Apiaí em decorrência do ouro encontrado na
região e do fluxo de mercadorias que vinham do Sul para a cidade de
Sorocaba, com destino final às minerações de Minas Gerais.
O ciclo do ouro não trouxe prosperidade para a região, pois não foi
suficiente nem em quantidade nem em duração da atividade para assegurar
a estabilidade dos povoamentos.
No século XIX, a região teve o “ciclo do arroz” (1836-1874) que
garantiu um novo desenvolvimento econômico. Com o surgimento de
novos pólos produtores e declínio da mão de obra escrava a região toda
entra em declínio e estagnação econômica.
A partir de 1920 verificou-se um novo ciclo de desenvolvimento
econômico na região com a imigração japonesa, introduzindo a cultura de
chá e a bananicultura em moldes comerciais. Em Apiaí, a partir da década
de 1970, houve a intensificação da produção do tomate, pimentão,
abobrinha e pêssego.
A ocupação agrícola do Vale do Ribeira, por meio do chá, da banana,
do tomate, pela implantação da BR – 116 e da estrada de Ferro Apiaí-
Itapeva constituíram-se os elementos definidores da integração regional ao
mercado nacional.
33
NEPAM/UNICAMP, Desenvolvimento sustentável no Vale do Ribeira (SP): conservação ambiental e
melhoria das condições de vida da população, 1996;
81
Nos dias atuais, pode se dividir o Vale do Ribeira a partir das
situações diferenciadas com relação à integração maior ou menor à
economia de mercado:
A área da Baixada, até o município de Eldorado, encontra-se
plenamente integrada, via a teicultura, a bananicultura e a
indústria da pesca;
Os municípios de Iporanga, Barra do Turvo e Adrianópolis
(PR) possuem maior situação de isolamento, porém
apresentam grande potencial turístico, por seu patrimônio
natural, e concentram reservas minerais.
O município de Apiaí, na mesma região de Itaoca, apresenta
uma situação única na região, pois combina uma agricultura
intensiva horticultura e pecuária com uma relativa
industrialização baseada no beneficiamento dos recursos
naturais locais, principalmente, o calcário.
Em suma, o Vale do Ribeira sempre desempenhou um papel
periférico no processo de desenvolvimento paulista e paranaense e as
tentativas de incorporação a ele no último século nunca proporcionaram um
desenvolvimento comparável ao de outras áreas desses Estados.
Itaoca foi parte fundamental da consolidação do povoado de Apiaí no
século XVIII. Localizado as margens do Rio Ribeira era o caminho e porto
natural para o escoamento do ouro e de mercadorias entre Apiaí e Iguape
no período colonial. Hoje, o município constitui o conjunto dos municípios
do interior do Vale do Ribeira, da sub-região denominada de Alto Vale do
Ribeira.
82
III – A emancipação de Itaoca
Percebemos que, Itaoca emancipou-se de Apiaí num momento em
que o Estado de São Paulo passava por um processo de incentivo à
fragmentação de seus municípios com a Lei Complementar n.º 651/90.
Essa lei complementar causou um grande debate até ser plenamente
elaborada. Um dos pontos mais discutidos da lei dizia respeito às condições
básicas para que os municípios que fossem criados tivessem condições
sócio-econômicas de se auto-sustentarem e se desenvolverem com
autonomia.
Os argumentos favoráveis à criação de municípios no estado de São
Paulo estiveram pautados na questão do desenvolvimento econômico e no
avanço da democracia. O Deputado Edinho Araújo, autor da lei
complementar afirmava que : “No caso do nosso Estado – a criação de
novos municípios foi historicamente, fator de desenvolvimento de regiões
distantes da capital”. 34
Continua o parlamentar: “No ano passado pela
primeira vez o PIB do interior foi maior que o da Capital o que demonstra
o alto potencial dos municípios pequenos e médios.”
“A aprovação da Lei Complementar é uma grande conquista que
favorece a descentralização política e administrativa, possibilitando ao
cidadão estar mais próximo das decisões que lhe dizem respeito.”
Defendia o deputado Antonio Carlos Mendonça (Toninho da Pamonha –
então, PFL).
Após a aprovação da Lei Complementar, mais de uma centena de
pedidos de novos municípios foram formulados. Em Apiaí35
, o principal
município do Alto Vale do Ribeira, seus três distritos tentaram a
34
A VOZ DO ALTO RIBEIRA –Lei sobre criação de municípios, 25 de agosto de 1990. 35
Apiaí emancipou-se em 1771, no período colonial. Constituiu-se o 19.º município criado na província
de São Paulo. Hoje, Apiaí possui cerca de 27.000 habitantes e sua economia está baseada na agropecuária
e na indústria mineradora.
83
emancipação na década de 1990. Os distritos de Araçaíba, Barra do Chapéu
e Itaoca entraram com projetos emancipacionistas na Assembléia
Legislativa.
Em 19 de maio de 1991 foram realizadas as consultas plebiscitárias.
Em dois, houve voto favorável à emancipação, Itaoca e Barra do Chapéu. A
partir daí, a ALESP e o Governador do Estado Luiz Antonio Fleury Filho
criaram dois novos municípios a partir de distritos de Apiaí: Barra do
Chapéu e Itaoca.
Antes de sua emancipação, Itaoca era um pequeno distrito do
município de Apiaí – SP. Distante do centro da cidade de Apiaí cerca de 24
km, Itaoca sempre possuiu uma baixa densidade demográfica; em toda a
sua história não encontramos registros de que o local tenha superado o
número de 5.000 habitantes. A sua economia sempre esteve essencialmente
ligada ao setor primário: pequena agricultura, pecuária leiteira, de corte, e
mineração. Até os anos de 1960 o distrito possuía uma economia baseada,
basicamente, nos sistemas de “roças”, ou seja, pequenos produtores que
derrubavam e queimavam as florestas para o plantio de feijão, milho e
arroz, etc. Essa agricultura era exercida com a ausência dos moldes da
agricultura comercial que crescia no interior do Estado de São Paulo. Com
o desgaste do solo e a baixa produtividade essa atividade econômica entrou
em decadência. Naquele momento chegaram alguns especuladores
imobiliários à região que incentivaram a vinda de uma leva de migrantes do
sul de Minas Gerais e Vale do Paraíba que introduziram a pecuária
extensiva. A pecuária leiteira e de corte, apesar de baixa a sua
produtividade, competitividade participação no mercado regional, passou a
ser e continua até os dias atuais como a principal atividade econômica
(estagnada) do local.36
36
A introdução da pecuária extensiva na região é, talvez, um dos fatores responsáveis pela estagnação do
município. Essa atividade ocupa a maior parte do território de Itaoca, concentra-se nas mãos de poucos, é
84
O distrito, a partir dos anos de 1970, contava com outra importante
atividade econômica: a mineração. O grupo Camargo Corrêa Cimentos
possui no local uma grande mineração de calcário, fornecedora de matéria
prima para a fábrica de Cimentos localizada em Apiaí.
A emancipação do distrito de Itaoca do município de Apiaí foi algo
novo para a região. Dentro do distrito nunca houve movimentos ou idéias
emancipacionistas anteriores a 1990. Conforme Cely Mota37
(então
PMDB), a idéia de emancipação foi algo novo, não passava pela cabeça de
nenhum “itaoquense” esse tipo de coisa. Cely atribuiu a idéia da
emancipação ao prefeito de Apiaí, naquela época, o Sr. Donizetti Borges
Barbosa38
(PTB). Conforme Cely, o prefeito Donizetti deve ter escolhido
pessoas da confiança dele as quais ele tinha intenção de ajudar
politicamente. Essas pessoas de confiança do prefeito (principalmente
vereadores e lideranças locais) de Itaoca ou Barra do Chapéu se articularam
e formaram comissões para divulgar a possibilidade e o projeto de
emancipação. “...E foi assim que aconteceu, de cima para baixo”. (Cely)
José do Carmo Lambert (PMDB)39
, tradicional pecuarista de Itaoca,
era presidente da Câmara Municipal de Apiaí em 1991. Seu Zé Mineiro, ou
Zé Lambert como é conhecido na região, era da base da gestão de Donizetti
e foi um dos responsáveis pelo sucesso da eleição de Donizetti nas eleições
municipais em 1988. A secção eleitoral do distrito de Itaoca foi responsável
pela eleição de Donizetti, graças ao prestígio do seu candidato a vereador,
Seu Zé, junto a comunidade.
poupadora de mão-de-obra e vêm causando grandes impactos ambientais como desmatamento,
queimadas, erosão, assoreamento de rios, destruição de mananciais e, além de tudo, expulsa a população
do campo intensificando o êxodo rural. Conforme o Censo/2000, Itaoca teve um decréscimo de 2,17% de
sua população comparado com a contagem da população de 1996. 37
Professora do Ensino Fundamental da Rede Estadual Paulista de Ensino e Vice-prefeita da primeira
gestão de Itaoca (1993-1996). 38
Advogado, ligado as camadas médias da região. Prefeito de Apiaí de 1989 a 1992 pelo PTB e 1997-
2000 pelo PMDB. Hoje é assessor da CODEAGRO em São Paulo e filiado ao PSDB; 39
O Sr. José do Carmo Lambert, conhecido popularmente como Zé Mineiro é um fazendeiro natural da
região Sul de Minas Gerais (Cambuí) que comprou terras em Itaoca na década de 1960 para a prática da
85
Além de seu Zé, Itaoca possuía mais dois vereadores na Câmara
Municipal: Antenor Gonçalves de Camargo - PL e Jaime Silva - PMDB. O
primeiro era comerciante e empresário e o segundo comerciante e
fazendeiro.
Com nossas investigações na ALESP (Assembléia Legislativa do
Estado de São Paulo) descobrimos que Itaoca se emancipou graças ao
incentivo de agentes externos. Por meio do projeto de resolução
percebemos que a iniciativa de emancipar o local foi do então Deputado
Estadual Luiz Francisco da Silva – 1987-1990 (então, PMDB - Sorocaba).
O deputado atuava na região e divulgou o projeto a Lei Complementar
651/90 na Câmara Municipal de Apiaí e fez despertar o interesse dos
representantes de Itaoca. Por outro lado, não identificamos a participação
do deputado Edinho Araújo no caso de Itaoca. Porém, o deputado
encaminhou projetos de emancipação na região de Sorocaba como foi o
caso de Bom Sucesso de Itararé e Taquarivaí.
O engenheiro e deputado Luiz Francisco da Silva envolveu-se em
quase todos os projetos de emancipação da região administrativa de
Sorocaba no período de 1987-1991. O deputado afirma que defendia a
emancipação como modo de promover o progresso na região. Ele
argumenta que uma das formas dos municípios da região do Alto Vale
atingir maiores patamares de desenvolvimento seria pela emancipação. O
deputado era vice-líder do governo na Assembléia e possuía influência no
Instituto Geográfico e Cartográfico do Estado de São Paulo que, conforme
ele, facilitava o encaminhamento dos projetos. Apesar de ser o principal
encaminhador de projetos de emancipação da região, Luiz Francisco não
foi reconhecido por isso, não sendo mais eleito para nenhum cargo público
pecuária. Nunca foi envolvido em política eleitoral na região até 1988. Devido às benfeitorias e favores
prestados junto a comunidade em que vive despontou como liderança local.
86
desde então. Na eleição para deputado estadual de 1990 e 1994 sua votação
em Itaoca, por exemplo, foi menor que na eleição de 1986.40
Mas o que levou Luiz Francisco a encaminhar projetos de
emancipação como o de Itaoca foi a organização e a estrutura do partido.
“Conhecia amigos do partido. Foi a estrutura do partido”, respondeu o
ex-deputado indagado de como teve conhecimento do distrito de Itaoca.
Luiz Francisco teve uma forma específica de atuar naquela região.
Pois, em Apiaí, por exemplo, “eu me preocupava muito com o problema
dos agricultores e, principalmente dos tomateiros, com o problema de
estradas. Ali eu visitava Araçaíba, Itaoca, Barra do Chapéu, eu não me
restringia a visita à prefeitura, ao prefeito ou à Câmara da Cidade. Eu
agia como um vereador da cidade. Eu pegava um vereador muito
conhecido lá que era o Cláudio41
e ele me levava aos sítios, propriedades
rurais e nos distritos em uma atuação que eu procurei fecundar no meu
mandato ... Eu propus um debate que fosse realizado lá em Apiaí na
Câmara Municipal. Minha atuação foi intensa, tive muitas dificuldades na
política... Por meio dos contatos amiúdes com a população dali eu
planejava o meu trabalho. Indo a todos os municípios. Para ter uma idéia,
nos quatro anos eu rodei em toda a região. Cerca de 330 mil km. Isso
equivale a sete vezes a volta no globo terrestre. Quantas vezes eu saía da
ALESP às sete horas da noite e ia chegar para dormir num hotel em Apiaí
a meia noite e acordava as sete para encontrar com o vereador de Apiaí, o
Cláudio, e dali percorria todos os distritos, todas as estradas e os
proprietários rurais. Dali eu propunha para o governo do estado a solução
de muitos problemas...42
”
40
O deputado atribui o seu fracasso nas urnas devido ao seu afastamento da sede de Sorocaba em que
surgiam novos importantes atores políticos, pois, a região externa a Sorocaba possuí menos habitantes
que a região de Governo de Sorocaba. Isso pode ser uma explicação razoável, pois, em 1995, conforme a
SEADE, a região de Governo de Sorocaba possuía mais de 1 milhão de habitantes enquanto que as
demais regiões de governo que compõem essa região administrativa possuem uma população equivalente. 41
Vereador produtor rural de Apiaí na gestão 1988/1992 pelo PMDB. 42
Depoimento de entrevista realizada em 17/12/2001 em Sorocaba/SP
87
Para o ex-deputado o fato de Itaoca pertencer a mesma região
administrativa de Sorocaba facilitou o seu empenho àquele distrito. Os
deputados de Sorocaba eram muito procurados pelas lideranças regionais.
“Eles me procuravam. Cada vez procuravam mais. Cada vez eu tinha que
ir mais. Naquela época Sorocaba era absoluta em termos de centro
regional. O próprio Hospital Regional de Sorocaba. A divisão regional de
Ensino. Os vereadores e prefeitos quando queriam ter audiência com o
governador nos procuravam.”
Mas, o que desperta-nos a atenção é quando o deputado afirma que a
emancipação do distrito de Itaoca não foi um processo endógeno por busca
de autonomia. Conforme o ex-deputado, “Itaoca através dos seus líderes
não pensavam nisso. Se pensavam, estavam um pouco distantes de
encaminhar um plano daquilo que era um sonho. E conhecendo bem a
região eu comparava muito o ramal da Raposo, da Sorocabana, com o
ramal da Anhanguera e do Vale do Paraíba. É com muita clareza que as
cidades ao longo da Anhanguera e ao longo da Dutra estavam pelo menos
em muitos aspectos 30 anos avançados em relação a nós no que tange ao
atendimento a educação e a saúde. Então eu entendia que a alavancagem
para o progresso não seria apenas com medidas paliativas dando pequeno
apoio para o agricultor, levando apenas um pequeno hospital como nós
levamos para Ribeirão Branco. Pensava na alavancagem para um futuro
progressista, uma atenção específica seria transformar aqueles distritos
em municípios. E isso foi o que fizemos. Então, em todos os setores,
criando um município haveria a escolha de um prefeito, o distrito ou
aquela região em Apiaí era pródiga disso. Enquanto aqui em Sorocaba eu
ando 10km para cada lado e estou em outro município. Lá a região era
muito extensa e poderia passar por uma formulação político administrativa
e foi nesse intuito de atendimento social, de reverter aquele quadro
dramático que eu “sentia na carne”(sic). Então nós propusemos Itaoca,
88
Bom Sucesso, Barra do Chapéu, Araçaíba, Itapirapuã Paulista. Eu fui lá e
procurei o Jaime Silva o vereador e visitei a propriedade do Seu Zé
Mineiro.43
. Foi em 1990. [...] lá ele me mostrou, estava bem pertinho do
Estado do Paraná da propriedade dele ele me mostrou uma serra azulada,
que já era outro estado. Eu estava nos confins do Estado, que raramente
chegava alguma autoridade. Acho que o único deputado que chegou
naquela região, naquela oportunidade fui eu e, propusemos essa
emancipação”.
Outro fator favorável na opinião do sr. Luiz Francisoco naquele
momento era o clima de incentivo as emancipações na ALESP. Para ele,
“Quase todos os deputados apresentaram o mais ou menos um outro
(projeto de emancipação). E a gente cuidava junto aos membros da
comissão dos municípios, junto a maioria da assembléia para que não
houvesse truncamento. Houve por exemplo uma pressão na cidade de
Jacupiranga para que não fosse emancipada Cajati. Os vereadores, do
distrito de Cajati, procuraram os companheiros deles. Os vereadores de
Jacupiranga procuraram um deputado de outro partido que era PFL que
não apoiasse a emancipação de Cajati.” Mas isso conforme o deputado
eram casos isolados: “ele veio falar comigo e respeitou minha posição e
ele não colocou obstáculo, então a gente conversava na Assembléia e não
se tratava de um problema partidário, ou de uma questão de governo. Era
uma questão de liberdade para o município, de emancipação para o
município. Então houve um consenso muito bom na Assembléia de maneira
que os Deputados, não atrapalhavam a proposição de um outro deputado.
Havia um consenso muito forte em não segurar. Então correu tudo bem.
Tanto que é verdade que eu propus em 1990 mais ou menos assim”. Havia
43
O deputado ficou impressionado com a fazenda do Seu Zé e com coisas que ele acreditava que não
veria mais como carros de boi, fabricação artesanal de doces, queijos, etc...
89
na ALESP, um clima de cavalheirismo entre os parlamentares em garantia
de influência e poder em suas bases eleitorais.
Todavia, o ex-parlamentar afirmou que a emancipação foi algo fácil,
sem resistências. “Eu confesso que para surpresa minha não houve
nenhum impedimentos. Os prefeitos muitas vezes nos subestimaram,
achavam que a gente não conseguira encontrar o caminho, por que muitos
em alguns municípios, já tinham lutado. Tinham encontrado aliados fortes
e não tinham conseguido. Foi uma hora propícia. Estava tudo represado,
quando abriu, nós pegamos uma assembléia voltada para isso. Não houve
grandes obstáculos. Os que eventualmente poderiam resistir não o fizeram.
Não se planejaram para montar resistência, pois não acreditavam em
nosso trabalho. Quando perceberam já havia saído. O ex-prefeito de
Sorocaba, o atual deputado Pannunzio44
, foi contra a emancipação de um
distrito da cidade, o Éden transformando-o em bairro e tirando o título de
distrito... Além de que, eu tenho um aliado muito grande no IGC (Instituto
Geográfico e Cartográfico). Quando havia problema de divisa ele me
ajudava. Ele era de Sorocaba e falava Luiz ‘tá com problema lá em Cajati
eu vou fazer para você. O nome dele era “Zanella”. Para não ter problema
judicial e de demanda, para não dar prejuízo para todos nós, ele
contornava e falava com muita simplicidade. “Vou fazer uma química,
dado ele ser sorocabano ele nos ajudava.”
Nesse aspecto é importante ressaltar que conforme o ex-deputado as
únicas resistências ou barreiras eram as descrenças e os olhares
desconfiados dos executivos municipais. Para o antigo parlamentar, os
prefeitos mostravam-se apáticos às emancipações por acharem que a
emancipação seria mais um engodo de deputados oportunistas. Essa era a
reação comum em muitos municípios, pois no período de execeção todos
os projetos emancipacionistas no território paulista foram frustrados. A
90
possibilidade de criar novos municípios era vista com muita cautela,
principalmente pelos prefeitos mais céticos ou desinformados.
Seu Zé Mineiro aderiu a iniciativa de emancipar Itaoca. Como ele
estava na presidência do legislativo de Apiaí, quando soube da lei que
possibilitava a emancipação convidou o seu genro Emílio Carlos Martins
Filho (Carlinhos), que era assessor de seu gabinete, para montar a comissão
pró-emancipação em Itaoca. Conforme depoimentos coletados, esse foi um
fator crucial para o sucesso da emancipação de Itaoca. Como presidente da
Câmara de Apiaí, Seu Zé tinha tudo ao seu alcance. Conforme Seu Zé,
naquele momento, ele correu de um lugar para outro em São Paulo e, em
todos os locais aonde ele ia, “ele era muito bem recebido” por ser
Presidente de uma Câmara Municipal, isso possibilitou a melhor tramitação
do projeto de emancipar Itaoca na Assembléia Legislativa do Estado de São
Paulo.
Até mesmo para o ex-prefeito de Apiaí, Donizetti Borges Barbosa, o
fato de Seu Zé ser o presidente da Câmara poderia ter auxiliado na questão
das informações e da organização do processo emancipatório. Conforme o
ex-prefeito, Itaoca tornou-se um centro de informações sobre emancipação.
“Naquele momento, 1991, pessoas de municípios vizinhos iam para Itaoca
para tirar informações, para se informar com o que estava acontecendo, o
pessoal de Nova Campina (Itapeva), de Bom Sucesso (Itararé), de
Itapirapuã Paulista (Ribeira) estiveram lá buscando informações.”
Fundamental no processo de emancipação de Itaoca foi a montagem
da comissão pró-emancipação que divulgou o projeto e os seus benefícios
para a população.
Conforme Cely, a montagem desses grupos foi algo de “cartas
marcadas”. As pessoas convidadas para a Comissão45
eram pessoas que já
44
Antonio Carlos Pannunzio, ex-prefeito de Sorocaba e Deputado Federal pelo PSDB, 1998-2002. 45
A comissão pró-emancipação de Itaoca era formada pelos seguintes cidadãos do então distrito:
91
tinham participado da política de Apiaí, pelo menos, como candidatos a
vereador.
“Os principais atores da comissão pró-emancipação atuaram de
forma isolada, não acontecendo um trabalho em equipe como se fosse uma
associação lutando por alguma coisa.” (Cely). Foi o Carlinhos que era
genro do Seu Zé, quem movimentava e fazia todo o trabalho.
Para o Sr. Sebastião Ferro (membro da comissão pró-emancipação de
Itaoca), a formação da comissão correspondeu a seguinte forma: “primeiro
foi escolhido um presidente do grupo, pois tinha que ter uma pessoa líder.
Como o vereador Zé Mineiro naquele tempo era presidente da Câmara de
Apiaí não podia exercer, ele reuniu todo o pessoal com o Carlinhos e,
escolheu-se um representante para cada bairro. Esse representante levaria
o nome da Comissão para o seu bairro pela pró-emancipação de Itaoca
atuando até futuramente na campanha política de Itaoca. Assim depois da
comissão reunida, foi eleito um presidente da Comissão.”
Para o antigo membro da comissão pró-emancipação, a partir da
constituição desse grupo emancipacionista foi articulada a criação do
diretório do PMDB em Itaoca. Carlinhos, o presidente da Comissão, foi
eleito o presidente do Diretório do distrito. Desde então, a antiga comissão
transformou-se no vitorioso grupo político organizado que se preparou para
disputar as eleições municipais em 1992 com a insígnia do partido
- Presidente: Emílio Carlos Martins (Carlinhos) – Genro e assessor do Seu Zé;
- Vice-Presidente: Aluízio Ribas de Andrade (operário)
- Secretário: Alcino Martins – Comerciante e candidato a vereador nas eleições de 1988;
- 2o. Secretário: Cláudio do Cartório – Tabelião e candidato a vereador nas eleições de 1988;
- Tesoureiro: Benvindo de Lima (Comerciante)
- Consultor Jurídico: Dr. Cirineu Nunes Bueno (Advogado)
- Asistente de Consultor Jurídico: Alceu Carlos Lopes
Representantes dos Bairros:
Bairros:
- Lageado : Tuca (operário)
- Quilombo Cangume: Chico Monteiro (Líder Comunitário e candidato a vereador em 1988)
- Caraças: Pedrinho (fazendeiro e candidato a vereador em 1988)
- Pavão: Zé Mário (comerciante e candidato a velador em 1988)
- Rio Claro: Pedro Taubaté (agricultor e candidato a vereador em 1988)
- Gurutuba: Sebastião Dantas (comerciante e candidato a vereador em 1988)
92
governista. “Naquele tempo era o governo Quércia/Fleury e eu até votei
nos dois mandatos que votei em São Paulo no PMDB. E praticamente o
pessoal todo que estava na comissão, achou melhor. É a comissão que ia
dar emancipação para Itaoca e a própria comissão achou melhor dar
apoio para o PMDB. Sair o diretório e fazer um candidato do PMDB.”
(Sebastião Ferro)
Conforme o Seu Zé, após a montagem da comissão, foi feito o
projeto de emancipação e então encaminharam para a Assembléia
Legislativa.
“Para fazer o plebiscito nós precisávamos de 100 títulos de
eleitores. Daí eu corri atrás. Eu com o Benvindo e o Carlinhos. Nesse dia
quando foi de tarde, nós já estávamos com 430 títulos na mão. Pegávamos
o título e tirávamos xérox e levava. Levamos 430 títulos para emancipar
Itaoca. A lei exigia 100 títulos e por volta de 200 casas. Itaoca tinha 207
casas só da sede, só dali de Itaoca”. (Depoimento de Seu Zé em
20/04/2001)
O principal ato da comissão pró-emancipação foi procurar (ou foram
procurados por) um deputado estadual, que mostrasse interesse pelo local.
O deputado foi Luiz Francisco da Silva (PMDB) de Sorocaba.46
O ofício subscrito pelo deputado, solicitando providências, no
sentido de formalização do processo visando a emancipação do distrito de
Itaoca pertencente ao município de Apiaí com sua conseqüente elevação à
condição de município foi protocolado e analisado pela Comissão de
Assuntos Municipais e, depois de atendidas as condições precípuas a que se
referia a legislação resultou no Projeto de Resolução n.º 40. Este projeto
- Guarda Mão: Sebastião Ferro (líder comunitário e candidato a vereador em 1988) 46
Ao deputado Luiz Francisco da Silva foram entregues um abaixo-assinado, contendo 417
assinaturas; a certidão do Cartório Eleitoral de Apiaí e 10a. Zona Eleitoral, dando conta da existência de
2.038 eleitores no distrito de Itaoca; declaração do IBGE, quanto o aspecto populacional, limites e
confrontações, além do Decreto Municipal da Prefeitura Municipal de Apiaí, elevando o povoado à
categoria de distrito.
93
dispunha sobre a solicitação ao Tribunal Regional Eleitoral para a
realização do plebiscito, permitindo que a população de Itaoca fosse às
urnas para votar a sua emancipação. A Resolução n.º 40 foi votada
favoravelmente, em Sessão Extraordinária da Assembléia Legislativa do
Estado, em regime de tramitação ordinária no dia 14 de dezembro de 1990,
conforme publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. O plebiscito
foi marcado para o dia 19/05/1991. (Vide Tabela 17)
TABELA 17 - Resultado do Plebiscito para emancipação de Itaoca –
19/05/1991
Total de Eleitores: 2.010
Total de Votantes 1442
Resultados:
Votos SIM 1267
Votos NÃO 107
Votos BRANCOS 27
Votos NULOS 41
Fonte: Justiça Eleitoral/ Secção Apiaí/SP
Cely destacou também a importância do Deputado Arnaldo Jardim
(na época, membro do PMDB) na criação do novo município. Conforme
ela, o deputado mantinha contatos com as comissões e lideranças do
PMDB de Apiaí e com o Carlinhos. Outro parlamentar citado foi o então
deputado Milton Monte (na época membro do PMDB), que também
manteve contato e apoio ao Carlinhos.
Arnaldo Jardim era o parlamentar mais influente na região do Vale
do Ribeira. Foi o mais votado na região em todas as eleições que o
deputado disputou para o parlamento. Foi líder do governo na Assembléia,
durante o governo de Fleury, e apoiou a emancipação de Itaoca. Para ele, a
94
emancipação era uma das maneiras de promover o desenvolvimento
daquela região.47
Para seu Zé, outro apoio parlamentar fundamental para a
emancipação de Itaoca foi concedido pelo Deputado Estadual Toninho da
Pamonha (Antonio Carlos Mendonça) – (então, PFL), que era presidente da
Comissão Assuntos Municipais (CAM) da Assembléia Legislativa.
A emancipação de Itaoca, pelo que desvendamos, contou com
pequena resistência por parte do executivo de Apiaí. Para Sebastião Ferro,
“o prefeito de Apiaí dava apoio, mas era aquele apoio entre aspas. Pra nós
dizia que dava apoio, mas virava as costas, não né!!! (sic) Mostrando
obstáculos que iriam ocorrer, como leis, querendo que os vereadores
aprovassem leis, mas até então o Zé Mineiro era o presidente da Câmara e
uma pessoa bem reconhecida politicamente na época ele conseguiu que os
vereadores ficassem do lado dele. Os vereadores da Câmara de Apiaí
ficaram do lado do Zé Mineiro e da emancipação de Itaoca. Seria menos
trabalho para os vereadores de Apiaí que não queriam mais problemas
com Itaoca, mas de outro lado o prefeito não aceitaria por causa da verba
que iria ser gasta em Apiaí. Itaoca se emancipando seria gasto somente em
Itaoca. Contudo isso muitas coisas teriam que se desmembrar da prefeitura
de Apiaí. Que seriam heranças do município de Itaoca. Emancipadas ou
não emancipadas Itaoca teria parte nos recursos investidos, como por
exemplo, equipamentos como máquinas, caminhões, móveis. Então o
prefeito já tinha consciência que tinham vários investimentos que eram
considerados de Itaoca. Sem falar na renda do calcário que tinha em
Itaoca que era tudo Apiaí que recebia. Então tudo isso a gente levantou
que a Jazida seria a grande parte da arrecadação do município de Itaoca.
A jazida da Camargo Correa Cimentos que Apiaí recebia e ninguém e nem
a estrada era conservada.”
47
Entrevista realizada em 12/12/2001.
95
Mas, Donizetti Borges Barbosa (ex-prefeito de Apiaí – naquela
época membro do PTB), se considerava um entusiasta com a criação de
novos municípios na região. Ele afirmou que esteve presente em várias
reuniões e comícios da comissão pró-emancipação do distrito de Itaoca. O
prefeito de Apiaí explanava sobre os benefícios que poderiam vir com a
emancipação. Ele procurava convencer a todos quão importante e
necessário era se emancipar, ser independente e poder comandar seus
próprios destinos nos mais diversificados campos da atuação administrativa
pública. O chefe do executivo de Apiaí mostrava para Itaoca que com sua
emancipação, esta teria uma arrecadação suficiente para melhor assistir
seus problemas locais, tais como saúde, saneamento, educação, agricultura,
pecuária, transporte, etc.
Donizetti argumentava que Apiaí era o quarto município no Estado
de São Paulo em extensão territorial e possuía uma diversidade muito
grande entre os seus distritos. O ex-prefeito nos deu o exemplo de Itaoca
que, enquanto distrito, possuía características diferentes de Apiaí, tanto
fisicamente quanto culturalmente. Para ele, Itaoca possuía uma identidade
mais definida, que contrastava com a sede. “Então na minha avaliação
Itaoca era um distrito que tinha maior contraste com a sede. Eu sentia que
isso prejudicava a administração e fazia com que Itaoca não recebesse os
recursos proporcionais a sua economia, as possibilidades do que ela
gerava de riqueza ao município de Apiaí. [...] Itaoca foi pioneira na região
no processo de emancipação e eu sempre achei isso muito importante, pois
eu sentia a necessidade de que acontecesse isso, não por que Apiaí
quisesse ficar livre do distrito de Itaoca, pelo contrário, até politicamente
se eu fosse egoísta eu pensaria o contrário, pois eu ganhei a eleição em
Itaoca, na verdade, Itaoca sair de Apiaí, se eu fosse pensar só em mim,
96
teria um enorme prejuízo, mas não foi essa a minha posição, eu analisei
todo o contexto e discuti isso com as lideranças e a população local.”48
Uma questão que chama a atenção a esse processo foi esse apoio de
Apiaí à emancipação de Itaoca. A priori, Apiaí perdia território, população
e receita com a emancipação de seus distritos. Mas conforme Donizetti,
“Apiaí perdia em um primeiro momento, mas o município teria como
compensar isso de outras maneiras beneficiara os seus distritos, esses
emancipados, para o contexto da região seria bom, seria positivo ter mais
municípios, você teria mais força política. Hoje temos asfalto e melhorias
na saúde, educação telefonia, sem emancipações talvez isso não existisse.
Houve um ganho nesta micro-região, nesta sub-região do Vale do Ribeira.
Eu acho que todos ganharam com isso, inclusive Apiaí. O fato da
emancipação ter acontecido, não prejudicou Apiaí, pelo contrário, acho
que politicamente nós ganhamos em representação. Além disso, a região
ganhou mais com isso porque passou a concentrar e receber mais
recursos. Com a emancipação destes novos distritos a região está
arrecadando mais. Por isso eu falo que a região ganhou com isso, porque
com a participação dos novos municípios houve um aumento de receita,
então isso trouxe benefícios para a região.”
Cely e Donizetti afirmaram que estiveram presentes nos encontros e
reuniões da comissão pró-emancipação, técnicos da Fundação Prefeito
Faria Lima a FPFL/CEPAM, que esclareciam dúvidas das lideranças e
população sobre a instalação do novo município.49
Mas, um dos fatores que provavelmente possibilitaram a
emancipação de Itaoca foi a utilização da máquina político-administrativa
de Apiaí. Essa utilização se deu, sobretudo, por meio do uso da estrutura
48
Entrevista realizada em 21/04/2001 49
Infelizmente, não foi possível identificar os técnicos dessa instituição governamental que por lá
atuaram, devido as constantes mudanças de quadros técnicos daquela instituição.
97
física e financeira do município, proporcionada pelo cargo ocupado pelo
Seu Zé. Todos os gastos com escritório e combustível realizados pela
comissão pró-emancipação foram bancados pela Câmara de Apiaí.
Cely Mota e Seu Zé atribuem o apoio da prefeitura de Apiaí à
emancipação de Itaoca concebida no intuito de se livrar um pouco da
despesa. Para Seu Zé, “acho que deram graças a Deus (pela
emancipação). O município era muito grande. O prefeito não agüentava.
Já pensou quantos quilômetros de estrada a prefeitura tinha para cuidar?”
É importante ressaltar que dentro de Itaoca havia alguns indivíduos
contrários à emancipação, o que não ocorria na sede de Apiaí.
Identificamos dois indivíduos do cenário político de Itaoca, os quais, que
num primeiro momento foram contrários a esse processo: o fazendeiro
Antonio Carlos Trannim e Antenor Gonçalves de Camargo, empresário,
comerciante e vereador em Apiaí na legislação 1989-1992. O primeiro era
descrente quanto à possibilidade da emancipação de Itaoca e o segundo
estava em ascensão política e econômica em Apiaí, o que implicava em seu
pouco interesse na emancipação do distrito. Antenor afirmava que com a
emancipação iria aumentar a carga tributária e a população iria sofrer com
isso. Depois de aprovada a emancipação de Itaoca esses indivíduos
passaram a ser entusiastas do processo. Antonio Carlos50
foi candidato a
prefeito e Antenor foi candidato (eleito) a vereador.
Depois de aprovada a emancipação de Itaoca pela Assembléia
Legislativa e pelo governo do Estado em 31/12/1991; iniciou-se o período
de montagem das coligações e campanhas para concorrer à prefeitura.
A partir de 19 de maio de 1992, Itaoca entrou em uma acirrada
disputa política. Montaram-se partidos e coligações. Iniciaram-se brigas,
50
Antonio Carlos Trannim (atualmente PSDB) foi prefeito de Itaoca na segunda gestão da história do
município de 1997 a 2000 e foi reeleito em 2000 para o seu segundo mandato até 2004.
98
conflitos, assassinatos, perseguições e uma agitação jamais vista no antigo
distrito.
As eleições de 3 de outubro de 1992 contaram com três candidatos
ao executivo. Eram a candidatura do PMDB com Seu Zé candidato a
prefeito e a Cely Mota como vice; os candidatos do PSD – Antonio Carlos
Trannim e Aluízio Ribas de Andrade como vice; a outra candidatura era do
PRN – com Manoel Barbosa (o Velhinho) – prefeito e Francisco Dias da
Rosa (Chicão) – vice.
A campanha que possuiu maior organização e infra-estrutura em sua
propaganda foi a do PMDB. Seu Zé contou com apoio do governo do
Estado Luiz Antonio Fleury Filho que gravou para a campanha do Seu Zé a
seguinte frase: “O Zé Mineiro eu conheço é a pessoa certa para
administrar Itaoca”.
Tabela 18 - Resultados da eleição de 03/10/1992
Candidatos a Prefeito Partido Votos
Manuel Barbosa da Costa PRN 217
Antonio Carlos Trannim PSD 837
José do Carmo Lambert (Zé
Mineiro)
PMDB 841
Fonte: Justiça Eleitoral/Secção Apiaí-SP
Por uma pequena margem, 4 votos de diferença, (Vide Tabela 18) o
PMDB do seu Zé saiu vencedor nas eleições municipais de Itaoca. Seu Zé,
o presidente da Câmara de Apiaí, tornou-se a partir de 1993 o primeiro
prefeito do recém-criado município.
A vitória do Seu Zé, pelo PMDB, aconteceu no mesmo momento em
que esse partido tornou-se o maior do Brasil. Nas eleições municipais de
1992 o PMDB elegeu 1.633 prefeitos em todo o país, consolidando, em
termos absolutos, sua liderança política.
99
Conforme o jornal da região, “A Voz Do Alto Ribeira” edição de 09
de janeiro de 1993, o PMDB numa campanha histórica sob a presidência de
Orestes Quércia, conseguiu ser o partido mais votado em dez estados
brasileiros e, somente no Estado de São Paulo, elegeu nada menos de que
300 prefeitos, batendo de longe o segundo partido, o PDS, que conseguiu
eleger seus candidatos em 75 municípios paulistas. O PFL elegeu 73 e o
PSDB ganhou em 57 municípios.
A Folha de São Paulo, do dia 17 de novembro de 1992, em seu
caderno Eleições 92, trouxe a seguinte manchete: “Social-Democracia
predomina nas Capitais; PMDB elege 1633 prefeitos. PSDB, PT, PSB,
PPS e PDT iriam comandar 16 capitais; 940 prefeituras foram vencidas
pelo PFL”.
Orestes Quércia e seus correligionários obtiveram êxito em sua
política de prestígio ao município como sua norma de conduta. Itaoca
surgiu sobre a égide desse partido e configurou-se como mais um dos
governos conquistados pela sigla do movimento peemedebista. Em abril de
1992, o PMDB, promoveu em Brasília o Encontro das Cidades-Pólo, onde
foi discutida a estratégia eleitoral do Partido. Com uma campanha
organizada o PMDB tornou-se naquele momento o maior partido do Brasil.
Itaoca, o recém-criado município, nasceu sob a influência dessa
organização partidária.
A criação do novo município, portanto, teve a influência
inquestionável de alguns fatores políticos: a atuação e fortalecimento do
PMDB, o consenso do legislativo e a onda descentralizadora que ainda
possuía força e legitimidade nas diferentes concepções ideológicas das
organizações.
Entretanto, passados 10 anos, a emancipação do distrito não
significou desenvolvimento econômico ou social do local. Itaoca vem
apresentando os piores indicadores sociais do Estado de São Paulo.
100
Conforme o Censo/2000, a taxa de analfabetismo entre os chefes de família
é a maior do estado. Estudos de Márcio Pochman51
cruzando dados do
IBGE relativos aos censos demográficos de 1991 e 2000 produziu um
documento sobre a evolução da desigualdade de rendimentos no Estado de
São Paulo, tomando por base os ganhos dos chefes de domicílios. Nesse
trabalho verificou-se que a região Administrativa de Sorocaba congrega 5
dos dez municípios do estado onde o rendimento é menor: Itaoca é o
primeiro deles (R$ 298,31) seguido por Barra do Chapéu (R$ 305,27),
Itapirapuã Paulista (R$ 328,94), Ribeirão Branco (R$ 330,52) e Ribeira
(R$344,56). Todos esses municípios formam a região do Alto Vale do
Ribeira em que, os três primeiros foram criados em 1991. Fica claro que,
no caso de Itaoca e outros municípios da região só a emancipação política
não vem conseguindo promover melhores índices de desenvolvimento, ou
mesmo, promover a reversão dos indicadores de pobreza.
51
Estudo realizado pela Secretaria do Desenvolvimento Social, Trabalho e Solidariedade do Município de
São Paulo (SDTS). Cresce a pobreza junto ao Ribeira, jornal Cruzeiro do Sul, Sorocaba, 11/02/2002.
101
CAPÍTULO IV – A CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS, A QUEM
INTERESSA?
Este capítulo buscará desvendar como e porque um distrito pobre e
pequeno como Itaoca tornou-se município. A partir das informações
apresentadas no capítulo anterior podemos confirmar algumas das
hipóteses levantadas no início deste trabalho para explicarmos o nosso
problema de pesquisa.
A emancipação de Itaoca, à primeira vista, parece atender aos
anseios da elite regional em conseguir maiores benefícios para o local, leia-
se recursos e verbas públicas. Porém, o fenômeno da criação de municípios
está inserido no processo de democratização e descentralização de fins da
década de 1980 em que os entes subnacionais tornaram-se os atores
políticos mais fortes, representados pelas figuras dos governadores de
estado e prefeitos.
Itaoca foi um distrito que se encaixou adequadamente nos requisitos
exigidos pela lei estadual 651/90. Estava localizado a mais de 3 km da área
urbana de Apiaí. Possuía mais de cem edificações e um pequeno centro
urbano constituído. Tinha mais de mil eleitores. Enfim, Itaoca estava apto a
se tornar um município, era então um “estoque” em potencial e tinha tudo
para se emancipar; bastava um incentivo às lideranças e o convencimento
da população sobre as vantagens da emancipação político administrativa.
Percebemos que essa tarefa não foi difícil, visto que a população do distrito
sempre se sentiu desamparada pelo governo do Município de Apiaí, mas
que nunca demonstrou pensar em emancipação.
O distrito era (e continua até hoje) muito carente de investimentos
públicos e privados, principalmente os de infra-estrutura como obras,
comunicação e saúde. A proposta de emancipação tornava-se a saída para o
progresso.
102
É imprescindível e interessante ressaltar que Itaoca nunca almejara
isso antes de 1990. A idéia de emancipação configurou-se como uma
externalidade ao cotidiano e aos anseios dos cidadãos daquele distrito. Veio
a ser uma oportunidade de recursos e verbas. Esse era o maior trunfo, maior
vantagem e a maior característica do projeto emancipador.
Então, Itaoca veio a ser mais um caso da nova onda emancipacionista
no Estado de São Paulo. Isso aconteceu graças à atuação de Deputados
como o Luiz Francisco que tinha um trabalho estreito entre o Legislativo
Paulista e os Legislativos Municipais do sudoeste paulista. Pois, foi por
este político estadual que a região de Apiaí, por meio de sua Câmara
Municipal, teve conhecimento da oportunidade que se desabrochara aos
sofríveis distritos.
O poder legislativo que conforme estudos do Cedec (1998) e
Andrade (1998) tem sido manipulado e cooptado pelo executivo pelas CFG
(Coalizões Fisiológicas de Governo) tanto na esfera estadual como, muitas
vezes, na municipal. Todavia, a criação de municípios se apresenta para
nós como um meio de autonomia do legislativo perante o poder executivo.
Pelos dados demonstrados percebemos que a criação de municípios no
Estado de São Paulo ocorreu graças à dedicação do legislativo
A lei estadual foi elaborada por um deputado estadual, o
municipalista Edinho Araújo, e todo o processo de emancipação de um
distrito veio a ser decisão exclusiva do legislativo do estado. Havia na
Assembléia Legislativa, naquele período, um consenso para não barrar a
criação de novos governos municipais. Como bem demonstrou o ex-
deputado Luiz Francisco, havia um “cavalheirismo” entre os parlamentares
das mais diversas legendas. A proposição de criar municípios ao mesmo
tempo em que se tornava uma política municipalista, característica básica
do quercismo, por outro lado se configurava como espaço de poder e
autonomia parlamentar.
103
Os projetos de emancipação do Estado de São Paulo sofreram pouca
oposição parlamentar. Foi um processo consensual entre partidos das mais
distintas linhagens ideológicas. Os deputados que eram contrários
argumentavam que a lei de 1990 facilitou demais a emancipação sem exigir
a comprovação da viabilidade econômica dos distritos para se auto-
sustentar.52
Conforme Araújo (1998), a votação do Projeto de Lei n.º 1049/91
que deu origem a Lei n.º 7664 de 30 de dezembro de 1991 no qual Itaoca e
mais 43 distritos conseguiram sua emancipação no Estado de São Paulo foi
um marco, em que as discussões foram mais acentuadas. Os favoráveis a
emancipação argumentavam que a lei deveria ser cumprida e que a vontade
popular por meio dos plebiscitos era soberana. Em nome da bancada do
PMDB, o deputado Edinho Araújo - PMDB encaminhou a votação em
bloco. Naquele momento o governador do Estado Luiz Antonio Fleury –
(então PMDB) vetou alguns municípios alegando a falta de viabilidade
econômica53
. Porém a Assembléia Legislativa estava fortalecida sobre o
tema e derrubou o veto do governador.
A demonstração de força da ALESP foi verificada quando 51
deputados votaram pela derrubada do veto do executivo e apenas 6
parlamentares votaram pela sua manutenção. Isso nos mostra claramente o
fortalecimento do legislativo. O veto do governador poderia também
representar uma atitude política de mostrar moralidade nas emancipações
perante a opinião pública e a esfera federal. Mas, para o legislativo as
emancipações eram consensuais.
52
Edinho Araújo cita como uns dos deputados que possuía uma postura crítica e minuciosa em relação as
emancipações o parlamentar José Bernardo Ortiz (então, PSDB), gestão 1991-1995; 53
O então governador Luiz Antonio Fleury- PMDB (1990-1994) vetou a emancipação dos distritos de
São Lourenço da Serra, Zacarias, Itapirapuã Paulista, Mesópolis, Nova Campina, Ilha Comprida, Lourdes
e Torre de Pedra. O argumento do executivo era de que estes se emancipados, não teriam capacidade de
auto -sustentação econômica, nem infra-estrutura para prestar serviços básicos à população.
104
A partir de 1991, com os 43 novos municípios, o Estado de São
Paulo passou a contar com 625 municípios. Itaoca estava aí nesse novo
bloco.
Desse processo podemos perceber algumas coisas. Entre elas
destacamos a atuação do legislativo. Vimos que suas decisões foram
determinantes para o êxito das emancipações daquele período. Porém,
acreditamos que não seja correto afirmar que o legislativo tenha criado uma
total autonomia decisória. Acreditamos que as suas atitudes naquele
momento representavam um reflexo da cultura política instalada no país,
principalmente pela configuração que teve partidos como o MDB-PMDB
durante o período de exceção e da transição para a democratização. A
criação de municípios poderia não ser mais prioridade do executivo, mas o
legislativo poderia aderir essa iniciativa para ampliar o seu poder.
Célia Melhem (1998), afirma que o PMDB paulista teve uma
estratégia considerada pragmática político-eleitoral-administrativa. No
Estado de São Paulo, o partido foi influenciado pelo quercismo. Orestes
Quércia fez carreira com a legenda do partido e tornou-se o político mais
poderoso do interior do estado. Uma das formas de fortalecimento do
PMDB e do poder de Orestes Quércia foi a sua influência sobre os
municípios do interior, principalmente os pequenos.
Por isso, podemos pensar que a criação de municípios no Estado de
São Paulo, incluindo o nosso caso, não está descolado também dos
interesses partidários. Quércia foi vice-governador de São Paulo de 1982 a
1986 e governador de 1987 a 1990. Nesse período seu partido foi o mais
forte do país. O PMDB conduziu o governo de transição com José Sarney e
foi um dos principais formuladores da Constituição de 1988. Com a criação
de municípios sendo responsabilidade de cada estado, a maioria deles optou
por criarem leis que estimulassem o processo. Em São Paulo não foi
105
diferente, o legislativo paulista promulgou e o executivo aprovou a lei mais
estimuladora e permissiva que até então existiu no território paulista.
Mas a quem atendia essa lei? Aos distritos impedidos de se
“desenvolverem” pelo município mãe? Às lideranças locais ávidas por
recursos, verbas e poder político? Ao legislativo estadual com intuito de
aumentar a influência nas regiões do estado, criar novas áreas de influência
eleitoral e maior autonomia perante o executivo? Acreditamos que a maior
parte desses interesses explicam apenas partes e não a totalidade de
emancipações como a de Itaoca.
Sobre as emancipações em São Paulo em 1992, temos bons indícios
de que elas não fazem parte daquilo que Abrucio (1998) definiu de
ultrapresidencialismo estadual. Para o autor os poderes dos executivos
estaduais ficaram fora de controle no pós-Constituinte em relação aos
demais poderes. Os governadores, ou “Barões da Federação” subordinaram
a esfera federal a seus interesses e, bem como o município como área de
sua influência direta, sendo base de sua política de interferência direta e
reduto eleitoral. Entretanto, em nosso caso , percebe-se que o executivo é
contestado pelo parlamento. A derrubada do veto de um governador pode
representar que o ultrapoder do governador também possuía limitações e
que em algumas esferas de decisões ele não detinha total autoridade e
controle.
Neste caso tendemos a dizer que a criação de municípios e, a criação
de Itaoca está inserida em um repentino e imprevisto fortalecimento do
legislativo. A criação de municípios representava para os deputados a
possibilidade de ampliarem suas áreas de influência, a expansão de sua
legenda partidária, aumento de recursos e verbas dentro do seu estado sem
ônus para o seu governo, visto que o Fundo de Participação Municipal é
uma responsabilidade da União e assegurada pela Constituição. Além
disso, a criação de municípios propiciava a proliferação de máquinas
106
políticas-administrativas e ampliariam o poder e influência dos
parlamentares dentro do Estado.
A atuação de parlamentares do PMDB influenciadas pelo quercismo
foi um dos prováveis responsáveis da criação de Itaoca. Com a “Lei
Edinho”, o relator da ALESP, o Deputado Edinho Araújo, o Líder do
Governo Deputado Arnaldo Jardim, o vice-líder Deputado Luiz Francisco
da Silva e outros governistas fizeram que o projeto de emancipação de
Itaoca fosse coroado de êxito.
Por meio dos dados levantados, todas as evidências nos levam a crer
que a criação de Itaoca deu-se graças aos interesses de parlamentares do
PMDB e dos seus aliados.
107
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A emancipação de um município pequeno, pobre e com baixíssima
capacidade de arrecadação própria foi representativa do fenômeno que
aconteceu no Estado de São Paulo, sobretudo, em relação ao tamanho da
população. Dos 73 novos municípios criados no Estado mais de 90% deles
possuíam o perfil de menos de 10.000 habitantes Ora, e por que foram
criados?
Em primeiro lugar, a criação dessas novas unidades de governo
atendia ao anseio pragmático político-eleitoral e administrativo, sobretudo,
do legislativo estadual, bem como aos anseios das elites políticas locais e
regionais.
A elite regional buscava mais recursos, verbas e representatividade,
pois a região do Vale do Ribeira sempre foi considerada abandonada pelo
poder público. A criação de novos municípios seria a garantia imediata de
mais verbas e a possibilidade de se fortalecer politicamente. Esse
sentimento era muito forte no início da década de 1990, pois naquele
momento estava sendo criado um Consórcio Intermunicipal de
Desenvolvimento que se denominou Codivar (Consórcio Intermunicipal de
Desenvolvimento do Vale do Ribeira), que hoje se configura como uma das
principais agências de fomento ao desenvolvimento da região54
.
A criação de municípios nos mostra que esse foi um jogo em que
todas os atores das esferas subnacionais saíram ganhando. Em primeiro
lugar os deputados estaduais. Não foi o caso do ex-deputado Luiz
Francisco, mas outros como Edinho Araújo, Arnaldo Jardim e Toninho da
Pamonha atuam até os dias atuais. Em segundo lugar, acreditamos que o
governo estadual que, mesmo vetando alguns casos, não fez maiores
54
Donizetti Barbosa, foi presidente desta instituição no período de 1997-1998, no mesmo momento em
que ele era prefeito da cidade de Apiaí (Gestão 1997-2000).
108
obstruções e não teve perdas ou prejuízos com o processo, pois seu partido
político cresceu ainda mais com novas unidades locais de governo e, por
meio das eleições municipais de 1992.55
Em terceiro lugar, os novos
políticos locais. Esses de coadjuvantes do município-mãe passaram a ter
um novo território para atuarem com garantia de recursos e maior
autonomia o que os possibilitou tornarem-se atores principais das decisões
políticas do novo município.
Em quarto lugar o município-mãe, que pareceria perder com o
processo de perda de território, pode fortalecer-se, inclusive
financeiramente. Apiaí possui um centro urbano dinâmico, que possui
comércio varejista e atacadista e tornou-se pólo para os municípios criados
como centro de decisão e de prestação de serviços. O desmembramento
significou a desoneração da prefeitura-mãe de uma série de
responsabilidades, principalmente aquelas relativas às obras de infra-
estrutura como a manutenção de estradas. Além disso, a criação de novas
prefeituras possibilitou maior dinamismo à estagnação econômica em que
se encontra a região.
Entretanto, a esfera que passou a ser provedora responsável desse
processo é em maior parte, o governo federal que repassa os recursos para
os municípios por meio do FPM. Os repasses federais e os convênios
firmados com programas das outras esferas de governo formam as
principais bases de arrecadação de Itaoca.
A criação de um município como Itaoca representou uma alternativa
para o desenvolvimento das regiões “esquecidas” pelo poder público. A
esfera federal considera inadequada a criação de municípios sem condições
55
Ressaltamos que o veto do governador, em 1991, merece explicação mais detalhada. Não foi possível
conseguirmos argumentos ou informações confiáveis que possam explicar a atitude do governador Fleury
, que foi derrubada pelo parlamento. Parece-nos que o veto foi uma atitude política, em uma primeira
instância, para dar um tom de moralização nas emancipações paulistas. E, além de tudo a transferência de
toda a responsabilidade da criação de municípios ao Legislativo.
109
de arrecadação; todavia, temos uma carência de políticas consistentes que
visem reparar as desigualdades regionais, o atraso econômico e a pobreza
em que se encontram milhões de km² do território nacional. A criação de
municípios representou, portanto, não somente uma configuração negativa,
mas uma alternativa pragmática-imediatista de locais-regionais carentes de
atuação por parte do Estado, tanto no âmbito federal quanto no estadual.
O modelo de federalismo que se constituiu no Brasil é considerado
pouco cooperativo, o que propiciou a competição estadual por maiores
recursos em seus territórios, haja vista, a guerra fiscal. Nesse contexto a
criação de novos municípios representava a maior quantidade de recursos
distribuídos em cada estado.
Alguns autores (Aspásia Camargo, p. ex.) afirmam que uma das
maiores responsáveis pela ausência de sucesso nesse fenômeno foi a
extrema politização do poder local. A falta de continuidade de projetos e o
interesse eleitoreiro imediatista vêm, também, tornando os pequenos
municípios inviáveis e insustentáveis.
Isso foi um dos reflexos da forma como atuou o executivo e
legislativo estadual no período democrático. Baseado nos princípios do
Municipalismo, movimento forte dos prefeitos no período da
democratização, parlamentares e governadores estimularam a criação de
novos municípios com a justificativa de promover o desenvolvimento e a
democratização. Os partidos governistas aproveitaram essa oportunidade
para fortalecerem suas bases e áreas de influência.
Itaoca, provavelmente não teria se emancipado até hoje se não
houvesse os interesses exógenos por parte dos estímulos do partido
governista no começo da década de 1990. Aliada a carência de serviços
públicos básicos à população do antigo distrito, a emancipação de Itaoca
representou a força do legislativo e da base partidária governista em
ampliar suas influências e bases eleitoreiras.
110
O Brasil inovou ao conceder o status de ente federado ao município.
Mesmo assim, o município vive hoje sérias dificuldades. A maneira na qual
estados como São Paulo permitiram a sua proliferação de forma
desordenada, todo o seu status jurídico-constitucional passou a ser
ameaçado pelo imediatismo político e pelas implicações econômicas.
Estudos mostram que os pequenos municípios geram mais custos do que
benefícios para o país. Isso vem causando o hobbesianismo municipal e o
distanciamento da cooperação como forma de combater as disparidades
deste país desigual.
Mas, se formos ver a criação de municípios apenas pelo foco
fiscalista teremos uma visão muito limitada de todo esse processo. Para
nós, a emancipação de um distrito representou também a possibilidade
imediata de desenvolvimento local. Não é justo que uma localidade seja
impedida de procurar sua autonomia devido a leis muito genéricas que não
atendam as diferenças existentes entre as diversas regiões do Brasil.
O Brasil com sua imensa extensão territorial e, conseqüentemente,
municípios muitos grandes, não possui capacidade de gestão e atenção a
todos as suas demandas sociais, econômicas e políticas de seu território.
Para isso é necessário romper a dicotomia que alguns técnicos nos
apresentam: criar município é algo ruim, pois, gera mais custos que
benefícios; ou aquela que afirma que as emancipações possibilitam a
ampliação da democracia e desenvolvimento do país.
Aqueles que se mostram críticos ao processo não levam em conta o
tamanho do país e as especificidades regionais. Interpretando dessa forma o
Brasil deveria evitar a criação de municípios, principalmente, os pequenos
e tentar um processo de recentralização, o que implicaria fazer com que
municípios criados sem condições de sobrevivência voltassem a ser
distritos. Essa seria uma política cômoda, pois desoneraria o compromisso
dos governos de formularem políticas de articulação e de desenvolvimento
111
dos municípios carentes. Aos defensores do processo, que vêem as
emancipações como forma de desenvolvimento e democratização, esses
parecem não levar em conta a nossa cultura cívica e as fragilidades de
nossas instituições políticas, somente a emancipação não basta para que
haja a realização dos ideais democráticos. É necessário maior integração,
cooperação e dinamismo entre todas as esferas de governos.
Um dos fatores que nos pareceu ser importante para o êxito da
emancipação de Itaoca foi a questão territorial. Por isso, precisamos de
novas formas de compreender a dimensão da organização territorial no
processo de criação de municípios. Itaoca configurava-se como um estoque
em potencial devido a sua distância e carência de atenção por parte do
município-mãe. Portanto, para os políticos locais a criação do município
estava além dos ideais de democratização ou desenvolvimento econômico e
sim, da melhor prestação de serviços e recursos públicos com a instalação
de equipamentos sociais e estruturais básicos. Esse nos parece ser um dos
fatores importantes para pensarmos as emancipações, visto que, municípios
muito grandes no Brasil, geralmente, não possuem capacidade de gerir seus
territórios de maneira adequada.
Esperamos que a discussão sobre a criação de municípios, ou
mesmo, a criação de novas formas de governo local no Brasil, não seja
interrompida e reduzida a alguns consensos normativos, pois se isto
fizermos, esta seria uma das maneiras de articularmos e criarmos um
federalismo que compreenda as diferenças regionais e o combate de nossas
desigualdades e desequilíbrios.
112
BIBLIOGRAFIA56
ABRUCIO, Luiz Fernando. “Federalismo e Processo de Governo no
Brasil: a hipertrofia dos executivos estaduais”. Cedec, São Paulo,
1994;
______ “Os Barões da Federação”, Lua Nova, n. 33. São Paulo, 1994;
______ Os Barões da Federação, São Paulo, Hucitec/Departamento de
Ciência Política, USP,1998;
______ “O ultrapresidencialismo estadual brasileiro”. XVII Encontro
Anual Anpocs. Caxambu, 1994;
______ & Ferreira Costa, Valeriano Mendes. “Reforma do Estado e o
Contexto Federativo Brasileiro” Centro de Estudos Konrad
Adenauer-Stiftung, nº 12 São Paulo, Pesquisas, 1999;
______ & Couto, Cláudio Gonçalves. “O impasse da Federação Brasileira:
o cenário político e financeiro e suas conseqüências para o processo
de descentralização”. Cadernos Cedec, n. 58. São Paulo, 1996;
______ & Couto C. G. “A redefinição do papel do Estado no âmbito local”.
São Paulo em Perspectiva, 10 (3). São Paulo, 1996;
______ & Samuels, David. “A nova política dos governadores”. Lua Nova,
n. 40/41. São Paulo, 1997;
______ & Samuels, David “Efeitos da reeleição no sistema político” In O
Estado de S. Paulo, 20/07/1997, A-2, 1997;
______ & Teixeira, Marco Antônio Carvalho. “Vícios de origem da
representação política no Brasil”. In O Estado de S. Paulo.
13/12/1996;
56
Além da bibliografia consultada, utilizei-me dos seguintes periódicos:
- A VOZ DO ALTO RIBEIRA (janeiro de 1989 – dezembro de 1992)
- Folha de São Paulo (17 de novembro de 1992- Caderno Eleições 1992)
- O Estado de São Paulo (28 de janeiro de 2001, 14 de julho de 2001, 16 e julho de 2001)
- Revista Época (janeiro-dezembro de 1998)
- Cruzeiro do Sul (11 de fevereiro de 2002)
Além disso, consultei projetos de Resolução e quadros de votação da ALESP; a Constituição Estadual e
Federal.
113
AFONSO, José Roberto, “Descentralização Fiscal na América Latina:
Estudo de Caso no Brasil”. Mimeo. Rio de Janeiro;
AFONSO, Rui & Lobo, Tereza. “Descentralização Fiscal e participação
em experiências democráticas retardatárias”. Trabalho
apresentado no Tinker Forum on the Role of the State in Latin
America and Caribbean, Cancún, México, 24-26 de outubro de
1996;
AFONSO, Rui, & Silva, Pedro Luiz Barros, (orgs). A federação em
perspectiva: ensaios selecionados. Fundap/Unesp. São Paulo, 1995;
_______ . “Os municípios e os desafios da Federação no Brasil. São Paulo,
São Paulo em Perspectiva, vol 10, n.º 3/ jul-set/1996”;
ALMEIDA, Fernanda D. M. Competências na constituição de 1988.
Editora Atlas, São Paulo, 1991;
ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares. Federalismo e Políticas Sociais,
Revista Brasileira de Ciências Sociais, 1995;
_________, & CARNEIRO, Leandro Piquet. Liderança local, democracia
e políticas públicas no Brasil. XXII Encontro Anual da Anpocs,
Caxambu, MG, 2001;
AMES, B. Political survival: politicians and public police in Latin
America. Berkeley, University of California Press, 1987;
ANDRADE, Régis de Castro. “Presidencialismo e reforma institucional no
Brasil”, Lua Nova, n. 24, São Paulo, 1991;
_______(org). Processo de Governo no município e no Estado:Uma
análise a partir de São Paulo – São Paulo, Editora da Universidade
de São Paulo, 1998;
AVELINO FILHO, George. “Clientelismo e Política no Brasil”. Novos
Estudos Cebrap, n. 38, São Paulo, 1994;
114
ARAÚJO, Edinho. O novo Município Novo. São Paulo: Graphis Editorial e
Gráfica, 1998;
ARRETCHE, Marta. Políticas Sociais no Brasil: Descentralização em um
estado federativo. Chicago: XXI meeting of the Latin American
Studies, 1996;
_______ Federalismo e Democracia no Brasil: a visão da ciência política
norte-americana. XXII Encontro Anual da Anpocs, Caxambu/MG,
2001;
_______“Mitos da descentralização: mais democracia e eficiência nas
políticas públicas?” Revista Brasileira de Ciências Sociais nº
31:44-66, 1995;
BARRERA, Aglas W. “Aspectos federativos das relações fiscais
intergovernamentais: Brasil 1988-92;”
BASTOS, Celso Ribeiro. “Em defesa de uma nova Federação”. In O
Estado de são Paulo, 5/2/94, A-2, 1994;
BOTHE, Michael. “Federalismo – Um conceito em transformação
histórica” in Federalismo na Alemanha e no Brasil, Fundação
Konrad Adenauer, n.º 7, 1995, p. 5
BOVO, José Murari, Federalismo Fiscal e Descentralização de Políticas
Públicas no Brasil, Araraquara, FCL/Ar-Unesp, Tese de
Doutorado, 1999;
BREMAEKER, François. Mitos e verdades sobre as finanças dos
municípios brasileiros. Revista de Administração Municipal, Rio de
Janeiro, IBAM, 1994
BRITTO, Luiz Navarro de. “O federalismo na constituição de 1967”.
Revista Brasileira de Estudos Políticos, n. 28. Belo Horizonte,
1970;
115
BURGESS, Michael & Gagnon, Alain (orgs). Comparative federalism and
Federation. Harvester/Wheatsheaf, London, 1993;
BURSZTYN, M. O poder dos donos: planejamento e clientelismo no
nordeste. Petrópolis, Vozes, 1985;
CAMARGO, Aspásia. “O novo pacto federativo”. Revista do Serviço
Público, ano 45, vol. 118. N. 1 Brasília, 1994;
__________________Federalismo cooperativo e o princípio da
subsidiariedade: notas sobre a experiência recente na Alemanha e
no Brasil. In Federalismo na Alemanha e no Brasil, São
Paulo,Fundação Konrad Adenauer, Série Debates n.º 22, Vol.I,
2000;
CAMPELLO DE SOUZA, Maria do Carmo, Aspectos Políticos-
Institucionais do federalismo (1930-1964). Mimeo. São Paulo,
1994;
CARVALHO, José Murillo de. “Federalismo Y centralización en el
imperio brasileño: historia y argumento.” In Caramagnani,
Marcello. Federalismo latinoamericanos: México/Brasil/
Argentina. Fondo de Cultura Econômica. Cidade do México, 1993;
DALLARI, Dalmo de Abreu. O Estado Federal. Ática, São Paulo, 1986;
DÓRIA, Og. Município e poder local: quinhentos anos de conflitos entre o
município e o poder central. Página Aberta. São Paulo, 1992;
DYE, Thomas R. American Federalism: competition among governments.
Lexington Books. Massachusetts, 1990;
ELAZAR, Daniel. American Federalism – a view from the states. Harper &
Row Publishers. New York , 1984.
______ Exploring Federalism. University of Alabama Press. Alabama,
1987.
116
______ “International and comparative Federalism”. Polítical Science and
Politics. Vol XXVI, n. 2 Washington D. C., 1993;
ELLIOT, Jeffrey M . & Ali, Sheikh R. The states and local government
Political Dictionary. ABC-Clio. California, 1988;
FAORO, R. Os donos do Poder: formação do patronato brasileiro. Porto
Alegre/São Paulo, Editora Globo/Editora da Universidade de São
Paulo, 1958;
FERREIRA COSTA, Valeriano M. “Sistema de Governo e Administração
Pública no Brasil”, in Andrade, Régis de Castro & Jacoud, Luciana.
Estrutura e organização do poder executivo. Enap. Brasília , 1993;
FIORI, J. L. “O federalismo diante do desafio da globalização”. In RBA,
Affonso e P.L.B. Silva (orgs) A Federação em perspectiva: Ensaios
selecionados – São Paulo, Fundap, 1995;
GAGNON, Alain. “The Polítical uses of federalism”. In Burgess Michael e
Gagnon, Alain (orgs). Comparative federalism and federation.
Harvest/Wheatsheaf. London, 1993;
GOMES, Gustavo Maia & MACDOWELL, Maria Cristina. “Os Elos
Frágeis da Descentralização: Observações sobre as finanças dos
municípios brasileiros”, Textos para discussão,IPEA, 1997;
_______ “Descentralização política, federalismo fiscal e Criação de
Municípios: O que é mau para o econômico nem sempre é bom para
o Social”. Textos para Discussão, N.º 706, IPEA, Brasília, 2000
GRAHAM, Richard. Clientelismo e política no Brasil. Editora UFRJ. Rio
de Janeiro, 1997;
HAGARD, Stephan, Willis, Eliza & Garman, Cristopher. Descentralization
in Latin America. UCSD. Mimeo. San Diego, 1996;
117
HARMAN, Grant. Intergovernamental relations: Federal sistem, in M.
Hawkesworth e M. Kogan (eds) Encyclopedia of Government and
politics. London, Routledge, 1992;
HOCHMAN, Gilberto. A era do Saneamento. As bases da política de
Saúde pública no Brasil. São Paulo, Editora Hucitec, Anpocs 1998;
HOGAN, D. J & CARMO, R. L. & RODRIGUES, I. A. Desenvolvimento
Sustentável no Vale do Ribeira (SP): conservação ambiental e
melhoria das condições de vida da população.
NEPAM/UNICAMP, 1996;
JANOTTI, Maria de Lourdes M. O coronelismo: uma política de
compromissos. 4a. edição. Coleção Tudo é História, São Paulo,
Brasiliense, 1985;
KLERING, Luis Roque. Experiências recentes em municípios brasileiros:
os novos municípios e as conquistas da autonomia, in O município
na América Latina, Porto Alegre: Ed. da UFRGS, 1998;
KUGELMAS, Eduardo, SALUM JR, Basílio & GRAEFF, Eduardo.
“Conflito Federativo e transição política”. São Paulo em
Perspectiva, 3 (3) São Paulo, 1989;
LAGEMAN, Eugênio. “O federalismo fiscal brasileiro em questão”. In
Affonso, Rui & Silva, Pedro Luiz Barros. A federação em
perspetiva – ensaios selecionados. Fundap, São Paulo, 1995;
118
LEÃO, Ilza Araújo Andrade. “Descentralização e Poder Municipal no
Nordeste: os dois lados da nova moeda”. Caxambu – MG: XX
Encontro Nacional da Anpocs, 1996;
LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime
representativo no Brasil. 3. Ed. – Rio de Janeiro: Editora Nova
Fronteira, 1997;
LEME, Heládio José de C. O federalismo na constituição de 1988:
representação política e a distribuição de recursos tributários.
Tese de mestrado. Unicamp, 1992;
LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. “Local and government in the Nova
República: Intergovernamental Relations in light of the Brazilian
Political Transition”. In Graham, Laurence & Wilson, robert (orgs).
The politics Economy of Brazil: Public policies in na era of
transition. University of Texas Press, Texas, 1990;
MANCEBO, Osvaldo. Apiaí: do sertão à civilização – São Paulo: Ômega
Editora, 2001;
MELHEM, Célia Soibelmann. Política de Botinas Amarelas: O MDB-
PMDB paulista de 1965 a 1988. São Paulo: Hucitec: Departamento
de Ciência Política da USP, 1988;
MELO, Marcus André B. C. de. “Municipalismo, nation-building e a
modernização do Estado no Brasil”. Revista Brasileira de Ciências
Sociais, n. 23, 1993;
_______“Crise federativa, guerra fiscal e Hobbesianismo social: efeitos
perversos da descentralização?”. São Paulo em Perspectiva, vol. 10,
n. 3. São Paulo, 1996;
______ & Azevedo, Sérgio de. “Federalismo e mudança constitucional:
consocialismo e ação coletiva na Reforma Tributária Brasileira”.
119
Congresso da Latin American Studies Association, 17-19 de abril.
Guadalajara, 1997;
NEUMANN, Franz, L Estado Democrático e Estado Autoritário. Rio de
Janeiro, Zahar, 1969;
NORONHA, Rudolf de. Criação de Novos Municípios: o processo
ameaçado. Revista de Administração Municipal. Rio de Janeiro, v.
43, n. 219, abr/dez. 1996;
OLIVEIRA, Fabrício Augusto de. “O federalismo no Brasil: evolução e
perspectivas”. Revista de Finanças Públicas, Brasília, 1980;
OLIVEIRA VIANNA, F de. Instituições Políticas Brasileiras, Rio de
Janeiro, Record Cultural, 1949;
OSTROM, Vincent. The Meaning of American Federalism: constituing a
self-governing society. Ics Press. S. Francisco, 1991;
PETERSON, Paul. The Price of Federalism. The Brookings Institution.
Washington . DC., 1995;
PUTNAM, Robert D. Comunidade e Democracia: A experiência da Itália
Moderna. Rio de Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Vargas,
1996;
Queiroz, M. I. P de. O mandonismo local na vida política brasileira e
outros ensaios. São Paulo. Alfa-Omega, 1976;
_______________.O Coronelismo numa interpretação Sociológica, in
História Geral da Civilização Brasileira, Tomo III, o Brasil
Republicano 1.º Vol. , São Paulo, DIFEL, 1985;
REZENDE, Paulo-Edgar A. A República pela via da Federação, Revista
São Paulo em Perspectiva, 4(1): 28-31 jan./mar.1990
SALLUM JR. “Federação e Regime Militar Autoritário”. Mimeo. Fundap.
São Paulo, 1994;
SANTOS, Wanderlei G. dos . Cidadania e Justiça. A política social na
ordem brasileira, Rio de Janeiro, Ed. Campus: 1979;
120
SCHIMITT, Rogério. Partidos Políticos no Brasil. Jorge Zahar Editor, Rio
de Janeiro, 2000;
SCHWARTZ, Bernard. O federalismo norte-americano atual. Forense
Universitária. Rio de Janeiro, 1984;
SCHWARTZMAN, S. As bases do autoritarismo brasileiro. 3ª ed. Rio de
Janeiro, Paz e Terra, 1987;
SELCHER, Wayne. “O futuro do federalismo na Nova República”. Revista
de Administração Pública, vol. 24, n. 1. Rio de Janeiro, 1990;
SHIKIDA, Cláudio Djissey. Analise crítica do crescimento do estado
através da criação de novos municípios. Projeto Nemesis - Dep. de
Economia – PUC-Minas, Belo Horizonte, 1999;
SKIDMORE, Thomas E. A lenta via brasileira para a democratização:
1974 – 1985, in Democratizando o Brasil, Rio de Janeiro, Paz e
Terra, 1988;
SMITH, B. C. Descentralizacion: the territorial dimension of the state.
George Allen & Unwin. London 1985;
SOARES, Márcia Miranda. Federação, Democracia e Instituições Políticas,
Revista Lua Nova, n.º 44, 1998
SOUZA, Celina. “Redemocratizacion and decentralization in Brazil: the
strength of the member states”. Development and Change, vol . 27,
n. 3. London, 1997;
______ Constitutional engineering in Brazil: The polites of federalism and
descentralizacion. Houndmills e London/New York, Macmillan, St.
Martin’s Press, 1997
______ “Reinventando o poder local: limites e possibilidades do
Federalismo e da Descentralização”. São Paulo em Perspectiva,
vol. 10. No, 3, 1996;
______ “Reforma do Estado, descentralização e desigualdades”, Revista
Lua Nova n.º. 48, São Paulo, 1999;
121
______ “Intermediação de Interesses regionais no Brasil: O impacto do
Federalismo e da Descentralização” – Dados – Revista de Ciências
Sociais, Rio de Janeiro, vol. 41, No. 3, 1998;
_______& Blumm, Márcia. “Autonomia Política Local: uma revisão da
literatura”, BIB, Rio de Janeiro, 2000;
SOUSA, Maria do Carmo Campello de. Estados e partidos políticos no
Brasil (1930-1964). São Paulo, Alfa –Omega, 1976;
STEPAN, Alfred. Toward a new comparative analyzis of democracy and
federalism. Oxford University. United Kingdom, 1997;
TOMIO, Fabrício R. de L. “Explosão municipal” - a criação de
municípios no contexto institucional democrático posterior à
Constituição de 1988. II Encontro da ABCP – PUC/SP, 2000;
TOCQUEVILLE, Aléxis. A democracia na América, Belo Horizonte, Ed.
Itatiaia, 1971;
TORRES, João C. de Oliveira. A formação do federalismo no Brasil.
Companhia Editora Nacional, São Paulo, 1961;
WEFFORT, Francisco. O Populismo na Política Brasileira – Rio de
Janeiro, Paz e Terra, 1980;
WILDAVSKI, Aaron. “Federalism means inequality: political Geometry,
political science and political culture”. Wildavski, Aaron &
Golembievski, Robert (orgs). The cost of federalism. Transaction
Press. USA, 1984;