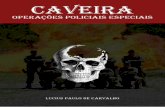UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CURSO ...
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
2 -
download
0
Transcript of UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA CURSO ...
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA
CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LITERATURA
VEJA, OS ANOS OITENTA EM REVISTA
LEITURA E MEMÓRIA CULTURAL
JÂNIO TOMÉ MATIAS DE ÁVILA
FLORIANÓPOLIS, 2005
1
Aos meus amigos, familiares e todos
aqueles que, de diversas maneiras,
contribuíram para a realização deste
trabalho. De modo muito especial à
Tânia, minha orientadora, pelo
incentivo, apoio ao projeto, amizade
e presença constante em todos os
momentos. Muito obrigado.
2
SUMÁRIO
Resumo........................................................................................................5
Résumé........................................................................................................6
Carta ao leitor .............................................................................................7
I. Preâmbulo de uma década....................................................................19
II. Sob a lona do Circo Voador.................................................................35
Um projeto de verão.........................................................................37
O Circo e seu elenco........................................................................39
III. Ser jovem nos anos oitenta................................................................43
As muitas faces de um ideal...........................................................44
Modismos.........................................................................................50
Um sonho ameaçado.......................................................................56
O legado de uma geração...............................................................69
IV. A televisão e os anos oitenta............................................................71
O brasileiro e a televisão................................................................72
As telenovelas.................................................................................73
O humor na tevê..............................................................................89
As grandes mini-séries...................................................................90
Diversidade na programação infantil............................................92
Nossa memória televisiva..............................................................95
V. Da ditadura à democracia..................................................................97
A volta dos exilados.......................................................................98
3
Movimento Diretas Já!..................................................................101
O último governo militar...............................................................104
A Nova República..........................................................................106
O governo José Sarney................................................................108
A grande eleição de 1989.............................................................113
VI. Os sons da década..........................................................................115
Rainha do roque...........................................................................117
O roque no Brasil.........................................................................120
Rock in Rio...................................................................................123
Bandas e trajetórias....................................................................124
O roque de Brasília.....................................................................126
O legado.......................................................................................128
VII. Considerações finais...............................................................130
No prazer do texto......................................................................132
Recortes......................................................................................134
Omissões....................................................................................138
Última seção...............................................................................140
Bibliografia..........................................................................................142
Anexos................................................................................................149
4
RESUMO Esta dissertação tem como propósito maior a construção de uma memória de leitura que possui na revista semanal Veja a sua fonte principal. Esta revista, como importante veículo midiático, esteve presente na vida do autor deste trabalho e foi a sua grande fonte de interesse e leitura durante a década de oitenta, em um período formador de sua aptidão para a escrita e leitura. A justificativa desta proposta encontra-se no interesse e na importância que a memória tem na formação de qualquer indivíduo bem como na refabulação que este vai fazer em relação a tantas coisas por ela registradas. Assim, o objetivo aqui foi o de voltar às publicações da revista Veja nos anos oitenta, de janeiro de 1980 até dezembro de 1989, e reencontrar a materialidade escrita, os inúmeros textos e reportagens que construíram esta memória. Para tanto, houve a seleção de alguns tópicos especiais, as seções da revista mais ligadas à cultura de forma geral, para com elas elaborar esta dissertação que tem em cada capítulo uma ou algumas temáticas nascidas da compilação de várias seções da revista.
5
RÉSUMÉ
Cette mémoire de recherche propose la construction d'une mémoire de lecture dans laquelle le magazine hebdomadaire «Veja » se trouve comme sa source fondamentale. Car, cette média, en tant qu'un important moyen de communication de l’information, a été présente dans la vie de l’auteur de ce texte, en ayant digne de son intérêt et de lecture pendant les annés quatre-vingt, c’est-à-dire, dans un période essenciel en ce qui concerne à son aptitude intellectuelle et évidement, à ses acquises d´écriture et de lecture. Nous pouvons dire que, la raison de cette recherche a pour but principal l'intérêt et le sérieux de la « mémoire », préexitants dans la formation de l'individu ainsi que dans une nouvelle formulation que celui-ci va faire par rapport à tant des expériences opérées par le discours de la revue. Car, il faut ajouter, tous les médias possèdent son rôle propre et son public. Ainsi, l'objectif posé se tourne vers les publications du magazine « Veja » dans les années 80, de janvier 1980 jusqu'à 1989 et, retrouve sa matérialité linguistique écrite, aussi des nombreux textes et des reportages qui ont développée cette memoire-ci. Donc, certains sujets et des dossiers du magazine attachés à la culture ont été sélectionnés, pour qu'on puisse élaborer ce document lequel comporte dans ses chapitres des thèmes prélevés de l'ensemble des dossiers du magazine.
6
CARTA AO LEITOR
O título desta dissertação, por si só, já anuncia muito do seu
propósito, Veja, os anos oitenta em revista é o resultado da minha memória de
leitura proporcionada e construída através das publicações que a revista Veja
fez dos anos oitenta no Brasil e, sob alguns reflexos, do mundo também.
Contudo, esta leitura ou esse filtro de informações que a partir dela registrei, tem
na minha memória uma interpretação particular, subjetiva a quase autônoma.
Explico:
A idéia de trazer as páginas da revista semanal mais importante do
país para uma dissertação de mestrado nasceu já há algum tempo e é uma
conseqüência direta de um desejo de reencontro. Reencontro porque, para mim,
ir aos textos e ilustrações desta revista seria um exercício de releitura já que ela
foi um elemento significativamente formador da minha sensibilidade perceptiva
como leitor.
Lendo a revista Veja semanalmente durante a década de oitenta,
ela construiu muito do meu imaginário dos seis aos dezesseis anos de idade. Um
período formador e, por isso, importante para a construção de qualquer sujeito
histórico.
Os contatos com a revista, paralelos a minha alfabetização,
ganharam uma carga significativa bastante intensa, acrescentando sempre novos
elementos potencialmente desencadeadores de curiosidade e por vezes de
reflexão.
7
A idéia de voltar a esse período de publicação da revista surgiu
então como uma vontade de reencontrar um veículo da mídia escrita que eu
posso dizer formador1 para mim. Crescendo em uma cidade distante de qualquer
centro cultural importante, a revista Veja representava um contato permanente
com os fatos mais significativos, segundo sua triagem obviamente, que
aconteciam àquela época. Com interesses mais voltados para as esferas
culturais, o que não era o foco central de Veja, eu rapidamente lia as
comparativamente curtas notícias que circulavam em seções como: Televisão,
Música, Cinema, Livros, Teatro etc. Mapeando as páginas de Veja, ainda hoje
percebe-se que ela tem um viés político e econômico muito mais forte.
Idealizada por Victor Civita em fins da década de sessenta, a revista
nasceu com o objetivo de levar a todo o território nacional as mesmas notícias
simultaneamente. Um projeto ambicioso do grupo editorial Abril. Sua proposta de
integração já aparecia na primeira edição de setembro de 1968, no texto de
apresentação as palavras ambiciosas de Victor Civita: onde quer que você esteja,
na vastidão do território nacional, estará lendo estas linhas praticamente ao
mesmo tempo em que todos os demais leitores do país.2
1 Dizer que a revista Veja é um veículo midiático formador pode parecer pretensioso ou ingênuo talvez. Mas emprego esta palavra aqui porque acredito que realmente ela desempenhou esta função no meu imaginário. Durante muito tempo foi através da revista Veja que tomei conhecimento dos principais acontecimentos que direcionavam o Brasil e o mundo. 2 Edição comemorativa dos 25 anos da revista Veja, p. 5. Nesta edição histórica, as palavras de Victor Civita são relembradas porque davam já uma idéia do ambicioso projeto que era a criação da revista Veja: estar em todos os lugares do imenso território brasileiro e dar cobertura à grande diversidade política, econômica e social de nosso país e, como uma extensão desse projeto, também acompanhar panoramicamente os acontecimentos mundiais.
8
Palavras ousadas e talvez cumpridas. A dimensão de alcance deste
semanário é mesmo ímpar; tentando noticiar os principais acontecimentos do
Brasil e do mundo, a revista com fôlego atravessou décadas espreitando
modismos, ideologias, distorções e erros. Além de acompanhar as inúmeras
transformações políticas do cenário nacional.
Nesse momento, quero deixar claro que não escolhi a revista Veja
por pensar que ela seja a representação dos anos oitenta, eu a escolhi porque
ela foi a minha leitura desse período, a minha principal porta de informações
para a efervescência político-cultural que protagonizou aqueles dez anos. Não
faço e não tomo a revista como um espelho do que aconteceu, meu foco
principal, reitero aqui este propósito, foi o de novamente manusear o material de
construção da minha memória; tomar contato com a materialidade escrita e
identificar as distorções que fiz, a projeção que criei diante dos textos, os
apagamentos e deslocamentos de fatos e informações, alguns mais outros
menos relevantes. 3
De início, os primeiros contatos com a revista pareceram um tanto
quanto estranhos. Retomar aquelas páginas foi perceber o quanto as
informações que armazenamos podem se transformar ao longo dos anos. Diante
da certeza de estar paginando aqueles exemplares no mínimo pela segunda vez
após uma distância de quase vinte anos, pude perceber o quanto há de
verdadeiro na reflexão de Michel Pêcheux sobre a memória, porque segundo ele,
é ela:
3 Não é minha intenção fazer uma avaliação crítica ou ideológica das publicações, meu trabalho recai com maior propriedade sobre o papel que um veículo midiático desempenha no imaginário do leitor, além da contribuição que exerce para a construção de sua memória de leitura.
9
“(...) necessariamente um espaço móvel de disjunções, de
deslocamentos e de retomadas, de conflitos de regularização. Um espaço
de desdobramentos, réplicas, polêmicas e contra-discursos”. (PÊCHEUX,
1999, p. 10)
Por isso, foi com um certo espanto que percebi a imensa
quantidade de disjunções e desdobramentos que eu produzi a partir daquele
material. Alguns fatos absolutamente concretizados no meu imaginário haviam se
construído de uma maneira quase que completamente diferente a daquela fonte
que lhes deram embasamento. Os apagamentos também foram inúmeros, no
entanto, o mais surpreendente foi mesmo verificar essas distorções, ora
ampliadas ora diminuídas diante de um determinado conteúdo.
Nos primeiros contatos que tomei com a revista na fase de
pesquisa, também tive um olhar mais direcionado às reportagens voltadas à
cultura, tal qual fazia quando a recebia nos anos oitenta. No entanto, a idéia de
me concentrar apenas nesses fascículos direcionados à cultura me pareceu
limitar o trabalho. Isso porque entendi que fazer a reconstrução dos fatos
acontecidos naquela década através das páginas de Veja deveria levar em conta
a revista como um todo, já que o diálogo entre os acontecimentos culturais e
políticos me pareceram significativos como pretendo demonstrar em alguns
capítulos.
No entanto, apesar desta preocupação de abrangência ser bem
forte, ela não eliminou o propósito de dar um destaque muito mais significativo às
reportagens ligadas à cultura. O motivo para isso encontra-se na força que elas
tiveram no meu imaginário, como leitor da revista, justificando também assim o
10
porquê de praticamente ter compilado às vezes um capítulo para a descrição de
uma única seção cultural de Veja.
Para Roger Chartier, “a recepção também inventa, desloca e
distorce.” 4 Seguindo essa idéia, eu justifico aqui e por meio dela o porquê de
situar esta dissertação no campo literário. Utilizando um corpus de pesquisa não
convencional para a área e lançando sobre ele olhares múltiplos sem um foco
direcionado, pode parecer este um trabalho mais jornalístico do que realmente de
pesquisa literária. Contudo, minha argumentação para situá-lo dentro do campo
das letras e seus estudos está ligada à construção da minha subjetividade e,
além disso, as inúmeras leituras que fiz me proporcionaram ir novamente ao
encontro dos textos dessa revista para reavaliar o poder de inserção que suas
reportagens tiveram dentro do meu imaginário e da minha memória de leitura.
Sobre a narratologia que a revista Veja fez dos anos oitenta eu
lancei um olhar de exegese crítica e ao mesmo tempo criadora.5 Obviamente que
não houve uma manipulação deliberada daquilo que encontrei; no entanto, seria
ingênuo e incorreto afirmar que a minha recepção como pesquisador não
inventou, deslocou e distorceu a cada instante, ainda que despropositadamente.
Na construção do texto, na confecção de cada capítulo, inseri-se ao mesmo
tempo um distanciamento que avalia e uma imersão que vai refabular a sua
maneira as inclusões e exclusões que foram feitas. Explicando melhor, essa
dissertação é o resultado da impressão que aqueles textos deixaram em minha 4 CHARTIER, Roger. A ordem dos livros. Brasília: Editora Universitária de Brasília, 1999. 5 O termo exegese crítica e ao mesmo tempo criadora se refere ao fato de que os capítulos desta dissertação têm ao mesmo tempo a função de apresentar os fatos noticiados pelas páginas da Veja mas também inserir a maneira como estes mesmos fatos ficaram guardados na minha memória, a parte criadora então tenta representação as adições ou aos apagamentos que eu fiz após a leitura das reportagens.
11
memória e ao mesmo tempo uma comparação dessa mesma impressão com os
textos revisitados. Sendo assim, é interessante entender um pouco, vagamente, a
idéia que o conceito de representação pode abarcar.
Entendendo as representações como formações ou deformações,
segundo Edward W. Said;6 meu texto é então a representação da leitura que eu
fiz da revista e também o confronto dessa representação com o objeto que lhe
deu construção, ou seja, a própria revista. Meu trabalho, então, se localiza nesse
espaço estreito que há para o leitor diante de um texto pronto, acabado e
definido; um texto que nesse caso resumia o mundo a cada semana e que me
chegava em mãos sob um filtro crítico já pronto, trazendo um discurso preso a
uma subjetividade que junto a minha iniciava um processo de adição e
ampliação; e por certo também de alguns apagamentos.
É nesse vão portanto, nesse já referido espaço estreito do leitor
que crio o meu texto como o resultado de uma leitura e também de uma memória
revisitada capaz de refabular discursos e rearticular um legado cultural sob o viés
da literatura e da crítica literária.
Com este intuito utilizo o estratagema das divisões temáticas que,
apesar de certamente estarem relacionadas umas às outras, consegue passar
uma idéia de ordem e continuidade para o melhor entendimento dos resultados
da pesquisa, sendo razoável supor que uma divisão deve ser interpretada quase
que apenas como um recurso didático ou também como uma ferramenta de
organização. Assim, não dividi os capítulos seguindo uma ordem hierárquica, ou
6 SAID, Edward. O orientalismo revisto. In: Pós-modernismo e política/ organização de Heloísa Buarque de Hollanda. Rio de Janeiro: Rocco, 1991.
12
seja, os primeiros capítulos e seus respectivos temas não estão no início deste
trabalho porque possuem uma importância maior; a ordem que estabeleci foi
praticamente aleatória mesmo, com exceção aos capítulos Preâmbulo de uma
década e Sob a lona do Circo Voador cujo motivo para figurarem como capítulos
iniciais aparece justificado em cada um deles.
No entanto, eles (os capítulos) apresentam sim uma certa
progressão cronológica. Cada tema a que me propus explorar compreende um
espaço de dez anos e segue uma seqüência temporal, procurando fazer um
encadeamento de fatos interligados uns aos outros e seguindo as datas de
publicação das reportagens que serviram como referência ao meu texto que, por
sua vez, tenta refletir as memórias que eu, como leitor de Veja, guardei acerca
dos respectivos temas.
Assim, na aparente descontinuidade dos assuntos reside o desejo
de ilustrar os jogos de influência e reentrâncias comuns que os movimentos
possuem entre si, sejam eles no campo da política e da economia, como também
no da música e da literatura. Por isso, há, inegavelmente, reflexos plurais
compartilhados 7 por praticamente todas as categorias do conhecimento. E estes
reflexos, eu acredito, porque meu esforço foi nessa direção, estarão bastante
visíveis ao longo desse trabalho.
A princípio me pareceu ser possível fazer uma análise crítica e
objetiva. Contudo, no decorrer da pesquisa, logo percebi a vasta dimensão do
corpus e por isso optei por uma abordagem mais particular no sentido de também
7 Por estes reflexos plurais compartilhados eu pretendo demonstrar como muitas manifestações em áreas distintas como música, cinema, tevê e teatro tiveram alguns pontos de confluência, ou seja, algumas motivações, empecilhos e mesmo protagonistas foram comuns a essas várias vertentes de expressão cultural.
13
como um leitor da revista poder elaborar as minhas próprias imagens de
representação e assimilação diante da amplitude temática que encontrei.
Deste modo, alguns tópicos, inegavelmente, foram privilegiados e é
através destes que a dissertação se estrutura para apresentar uma visão
panorâmica da década. Esta visão terá como objetivo destacar os principais
elementos ligados às expressões culturais que aconteceram àquele momento no
Brasil. Assim, apesar de óbvio, vale ressaltar que a minha é uma entre tantas
outras possibilidades de leitura e memória.
Nesse âmbito, é interessante pontuar aqui o pensamento de Michel
Foucault quanto à importância do tipo de descrição que se pode adotar em
qualquer trabalho apoiado nos discursos do passado e revisitados no presente.
Vejamos:
“(...) as descrições críticas e as descrições genealógicas devem alternar-
se, apoiar-se umas nas outras e se completarem. A parte crítica da
análise liga-se aos sistemas de redescobrimento do discurso; procura
detectar, destacar esses princípios de ordenamento, de exclusão, de
rarefação de discurso. Digamos, jogando com as palavras, que ela pratica
uma desenvoltura aplicada. A parte genealógica da análise se detém, em
contrapartida, nas séries da formação efetiva do discurso: procura
apreendê-lo em seu poder de afirmação, e por aí entendo não um poder
que se oporia ao poder de negar, mas o poder de constituir domínios de
objetos, a propósito dos quais se poderia afirmar ou negar proposições
verdadeiras ou falsas. Chamemos de positividades esses domínios de
objetos; e, digamos, para jogar uma segunda vez com as palavras, que se
o estilo crítico é o da desenvoltura estudiosa, o humor genealógico será o
de um positivismo feliz.” 8
8 FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. 7a. ed., São Paulo: Edições Loyola. p. 69.
14
Entendo que não é totalmente possível fazer uma escolha única
quanto ao tipo de discurso/descrição utilizado neste trabalho, mas a princípio a
descrição crítica me parece melhor atender aos interesses principais da
dissertação porque é capaz de abranger o caráter investigativo e avaliador a que
me lancei, ou seja, rastrear toda uma rede de significados bastante expressivos
e que tiveram um papel central para os movimentos mais agudos da nossa
cultura. Vale lembrar também que as interações entre os diversos mecanismos
de expressão foram intensas, como já foi anteriormente comentado. E por serem
assim intensas, é natural que a natureza da investigação esteja aberta às
correntes de interpretação que podem elucidar com maior amplitude os
resultados colhidos no decorrer da pesquisa.
Quanto à retórica utilizada no texto, optei por uma linguagem mais
despojada sem no entanto fugir à objetividade que este tipo de trabalho deve
apresentar; isso para não prendê-lo a notas e referências pouco esclarecedoras e
que pouco contribuem para o fluxo de leitura e interesse que o leitor deseja
encontrar. Contudo, praticamente todas as asserções importantes que estruturam
as argumentações estão ancoradas em notas que pontuam a fonte que deu
embasamento à minha memória e consequentemente constrói a subjetividade
do meu texto. Assim, através das notas é possível localizar a materialidade
textual que possibilitou o meu registro como leitor da revista. Em vários
momentos, dentro do próprio texto, eu já incluo também a possível distância ou
proximidade existentes entre o meu registro e o texto de Veja; isso também com
a utilização de algumas imagens que são apresentadas em anexo.
15
Como já foi anteriormente colocado, o volume da pesquisa se
efetivou sobre as páginas da revista Veja. A frase de Montaigne, Há mais a fazer
interpretando as interpretações que interpretando as coisas,9 cabe aqui como um
argumento testemunha de que as possibilidades de leitura deste trabalho estão
abertas haja vista os infinitos olhares que podem ser lançados sobre esta
dissertação e por extensão sobre o material que lhe deu estrutura. Por isso, meu
viés de leitura/memória é apresentado como um olhar entre tantos outros; uma
possibilidade, então, diante de tantas camadas que podem ser solapadas junto
às páginas da revista.
Dentro dos sentidos que podem emergir após a leitura, é bem
interessante destacar os fundamentais ou fundadores; aqueles que conseguem
amarrar muitas cadeias de expressão que foram pontuadas no decorrer de todo o
texto.
Estas que eu nomeio como cadeias de expressão, nada mais são
do que os temas privilegiados sobre os quais já mencionei algo. Comentar ou
somente glosar sobre estes temas foi um esforço por encontrar o Zeitgeist10 dos
anos oitenta e por ele tentar entender um pouco melhor a rarefação dos discursos
que a ele se sucederam. As máscaras ou performances foram muito variadas e
9 Pensamento de Michel de Montaigne, filósofo francês do século XVI muito influenciado pelos cépticos e estóicos, expresso em As palavras e as coisas, de Michel Foucault, p.57. O excesso de conhecimento acumulado pela civilização ocidental possivelmente suscitou esta afirmação de Montaigne; vivendo em uma era de grande expansão cultural, a grande profusão de obras sobre obras talvez gerasse um certo incômodo para alguns pensadores como ele. 10 Zeitgeist, palavra alemã muito utilizada em língua inglesa; literalmente significa o espírito do tempo ou da época. Ainda que perfeitamente trocada por estas locuções já mencionadas, optei pelo seu uso dado à significativa presença que encontrei deste vocábulo em minhas leituras, e.g., Mapeando o pós-moderno, de Andréas Huyssen, p. 26, in: Pós-modernismo e política/ organização de Heloísa Buarque de Hollanda. Rio de Janeiro: Rocco, 1991.
16
por isso meu foco se reteve mais aos resíduos deixados, ou impressos, nas
páginas da Veja e, principalmente, aos resíduos da minha memória após o
primeiro contato que tive com as publicações da revista.
Enquanto a pesquisa evoluía uma cumplicidade foi se formando
entre o objeto e o sujeito que o reconhecia como uma testemunha escrita de um
tempo aglutinador de tantas mudanças e, sobretudo, como a fonte de muitas de
suas lembranças como leitor.
Nesse enredo que se formou, tornou-se um pouco difícil não dar
margem a um texto que nascia da interação que acabou por se formar ao longo
deste trabalho. Neste texto há os resquícios das impressões provocadas pelos
conteúdos escritos que serviram de embasamento para que ele, o texto da
dissertação, pudesse ganhar um aspecto investigativo, ao mesmo tempo literário
e preso ainda a uma leitura particular, mais do que isso, preso a uma memória de
leitura. Na cumplicidade que nasceu através das leituras investigativas foi
possível delinear um contorno de preferências substancialmente ligadas às
nervuras de transformação social que serviram como pano de fundo para uma
significativa mudança de comportamentos àquele importante momento. Dessa
forma, defino mais uma vez como principais protagonistas da pesquisa as
páginas da revista Veja; a saber, aquelas dedicadas à música, televisão, teatro,
cinema, comportamento, saúde, vida moderna e literatura, área na qual,
particularmente, me inscrevo, entendendo todas estas como expressões da
transformação e inserção dos sujeitos no mundo com o qual se articulam.
Dentro do horizonte temático, já na fase da pesquisa, percebi um
apelo bastante relevante a pairar sobre alguns tópicos contrastando com o olhar
17
apenas panorâmico que foi lançado a outros. A justificativa para os
deslocamentos e as diferentes abordagens existentes no trabalho recai sobre
uma deliberada exclusão que foi feita em determinados momentos devido à
escassez de material que pudesse solidificar comentários mais apurados e
investigativos. A falta de meticulosidade é, em contrapartida, uma saída para que
realmente a minha construção textual pudesse espelhar a verdadeira impressão
dos textos da revista deixados em minha memória e, fazendo isso, percebi que
algumas construções foram superdimensionadas enquanto que outras, ao
contrário, pouco relevo obtiveram.
Concluindo, espero chegar ao final dessa dissertação com uma
espécie de reconstrução, ou seja, a soma dos textos revisitados na revista Veja e
a alegoria que minha memória criou a partir destes mesmos textos.
Fecho aqui esta apresentação/introdução também como uma
espécie de roteiro que pode guiar os leitores ao retrato de um tempo que,
acredito, foi o divisor de águas entre uma ingenuidade revolucionária e libertária
contra uma desilusão decadentista de final de século. Os anos oitenta, sob
muitos aspectos, personificaram as dualidades constantes que encerram em si
um desejo de criar e uma ânsia por des(cons)truir. Veja, então, os anos oitenta
em revista.
18
PREÂMBULO DE UMA DÉCADA
Há um quê de resumo neste capítulo, mas eu prefiro chamá-lo de e
um esboço panorâmico sobre os repertórios múltiplos que esta dissertação
deseja alcançar; pode ser também uma carta de apresentação aos temas que
nortearam este trabalho, ou seja, neste capítulo o que apresento é uma espécie
de justificativa quanto aos porquês das escolhas que fiz; ressalto a importância
que tais temas tiveram ao longo da década e as possíveis correlações que eles
podem ter com outras temáticas ou desencadeamentos culturais posteriores.
Achei importante construir um capítulo de apresentação sobre os
anos oitenta porque assim pensei ser possível realmente transparecer o meu
imaginário posterior quanto aos principais fatos recordados daquele momento e
também, principalmente, para potencializar de maneira sucinta a minha memória
como leitor da revista Veja. Esta revista, como já expliquei na introdução, teve
uma função didática para mim.1 Assim, este capítulo tem poucas referências
porque ele nasceu de uma maneira mais “solta”, ou seja, apenas como um
rascunho da minha memória, sem voltar às páginas da revista, ao contrário dos
capítulos seguintes nos quais confrontei o que registrei com o que de fato li e foi
publicado.
Não existiu aqui a tentativa de privilegiar qualquer manifestação ou
tema surgidos, mas sim a de vislumbrar algumas das várias
1 Não utilizo aqui esta função “didática” da revista no sentido de vê-la como um elemento autenticamente condutor, revelador ou instrutor. A palavra didática aqui eu emprego muito mais no sentido de que foi através das páginas da revista Veja que eu percebia o mundo; era com ansiedade que eu esperava a sua chegada no sentido de saber e conhecer o que estava se passando no Brasil e no mundo.
19
posições/interpretações que podem ser destacadas/apresentadas dentro de um
cenário que compreende dez anos. Uma década inteira, portanto. Na esteira dos
anos que construíram esta década, houve uma verdadeira avalanche de
produções, transformações e apagamentos; fatos irrepetíveis que sustentaram
um discurso que flertou de perto com o kitsch, o pastiche ou o pós-moderno mal-
entendido, e às vezes tudo isso sob o mesmo leque do chamado brega nacional
(um campo vasto para abranger as mais variantes vertentes da cultura made in
Brazil).
Cada época guarda em si um imenso apanhado de sentidos
ocultos; assim, talvez o pulsar flamejante dos anos oitenta exista desde os jogos
eletrônicos Atari inundando o imaginário infanto-juvenil do país, até a miséria
humana garimpada nas veias abertas de Serra Pelada. Os contrastes sempre
foram o forte do Brasil; nos anos hipertrofiados pela mídia (e a multimídia), eles
tornaram-se os protagonistas solos de uma nação que cada vez mais passava a
conhecer a sua verdadeira face.
Rumo ao início da década, é fácil encontrar uma motivação que
hoje pode parecer desproporcionada, sem motivos mesmo. Mas por outro lado,
um olhar mais condescendente poderia muito bem revelar algumas razões que
conseguem ao menos justificar o ainda clima país do futuro que imperava
naquela mentalidade otimista de abertura política, liberdade cultural, mudanças
de costumes e comportamentos. É verdade também que fazer crítica a posteriori
é bem mais fácil e seguro, sabendo disso, é com este olhar otimista que eu
sustentarei este capítulo porque recordo ser esta a principal impressão que tinha
ao folhear as páginas de Veja. O veneno do otimismo é um antigo gosto dos
20
brasileiros. Foi sob um estado de otimismo e esperança que eu registrei os anos
oitenta a partir daquilo que a principal revista semanal do país publicava. Vamos
a eles então:
Viver dentro dos anos oitenta foi um grande exercício de
adaptação. O projeto de existência passava pelas transformações muito rápidas
que ocorriam em uma sociedade cada vez mais voltada a um voyeurismo barato,
quase sempre calcado em ícones transgressores que motivaram um
contradiscurso frente ao status quo vigente, e.g., na onda da saúde, artistas,
políticos, socialites e...até esportistas, tornaram-se adeptos ferrenhos dos testes
de cooper, dos patins noturnos à orla das praias mais badaladas, do surfe de
Petit ou da asa-delta de Pepê. A máxima jovem-de-espírito virou um chavão fácil
e gasto, uma metáfora dissolvida e violenta capaz de incutir o sentimento de
culpa e inadequação àqueles que não se encaixavam nas abstrações midiáticas
criadas com objetivos nem sempre inocentes. Na voz da roqueira Rita Lee, na
sua fase vida saudável, o hino épico de toda uma geração:
“Quero mais saúde...Me cansei de escutar opiniões...De como ter
um mundo melhor...Mas enquanto estou viva...E cheia de
graça...Talvez ainda faça...Um monte de gente feliz.” 2
Culto ao corpo e à saúde; no arquipélago das tendências foram os
estetas hedonistas que deram as cartas vencedoras de uma década que
consagrou a cirurgia plástica e as academias de ginástica. Tragédias também
2 A letra da canção Saúde, de Rita Lee e Roberto de Carvalho, foi uma das músicas símbolo do ideal de vida saudável vivido pelos jovens dos anos oitenta.
21
aconteceram como a morte da cantora Clara Nunes,3 mas elas não chegaram
realmente a causar grandes abalos sísmicos aos templos sagrados da beleza. No
dispêndio de energias muitos atletas figuraram como exemplos para a massa
comum. O sol, o mar e as formas foram elementos divinizados como o
renascimento inconsciente de uma estética pagã a criar mitos ousados o
suficiente para sustentar um novo pathos civilizador no final do século XX.
Ser jovem e saudável era o objetivo mor daquela geração
politicamente e intelectualmente deformada4 pela fantasmagoria do regime
militar. Seguindo os ventos que vinham de longe, o Brasil viu-se à mercê de
uma voracidade de primeiro mundo ainda que estando amarrado às limitações de
um país de terceiro. Esta é uma reflexão banal, contudo muito aguda porque
traduz com proporcionada dimensão as máscaras que produzimos para não
encarar o corpo nu do rei com a cara limpa. A euforia das mudanças, muitas
positivas, principalmente no campo da política, acabou por esconder uma série
de problemas e colaborar para muitos otimismos que o tempo mostrou serem
absolutamente desprovidos de qualquer fundamento.
Dentre tantas máscaras, a forever young5 foi uma das mais
festejadas. Outdoors comerciais, programas de tevê, novas tecnologias, artefatos
3 Reportagem da seção Datas, revista Veja, 13 de abril de 1983. Após 28 dias em coma, a cantora Clara Nunes morre aos 39 anos de idade; submetida a uma operação para eliminar o problema de varizes nas pernas, um acidente na operação a levou a uma longa agonia depois de já constatada sua morte cerebral. 4 Sei que esta é uma afirmação perigosa, dizer que a geração oitenta era intelectualmente deformada é uma análise simplista e aqui sem qualquer embasamento maior; no entanto, eu sustento esta firmação neste capítulo porque como já disse no início, este capítulo é uma lembrança de leitura, nele não há o texto de Veja mas tão somente as impressões que estes textos me deixaram. 5 Forever young, expressão inglesa que literalmente pode ser traduzida por eternamente jovem. Esta expressão ganhou força nos anos oitenta graças ao grande sucesso da banda alemã Alphaville; em 1984 o grupo atinge o auge do sucesso com o hit Forever young, que se torna praticamente um hino da onda new romantic na Europa. Esta nova tendência não era apenas musical, mas também estética. Os adeptos desse
22
culturais. Imensa foi a presença do jovem ao longo da década nas suas mais
variadas versões. Na memória rarefeita daqueles que protagonizaram o período,
há sempre algum angel face como estandarte fácil de uma era consagrada ao
imediatismo tal como a própria juventude também o é. Os iguais sempre nem
sempre se repelem. Dentro das molduras coloridas dos anos oitenta, a presença
dos jovens foi uma constante ímpar.
Nessa passarela, ícones não faltaram. Oriundos das artes, dos
esportes, às vezes até da nobreza, não importa, eles transformaram seus nomes
não somente em idéias, mas em comportamentos que influenciariam uma vasta
porção de seguidores. A era das celebridades instantâneas nasceu talvez com a
profusão da parafernália midiática da chamada década perdida. Nos Videoclipes
e na MTV, o dueto áudio-visual mais significativo deixado à posteridade.
Na contramão dessas fortes tendências que nos direcionavam, os
reacionários (para o bem e para o mal) reagiram. Intolerável seria ceder a uma
massificação com nuances claramente estrangeiros que ameaçavam minar as
vigas mestras de uma apregoada cultura brasileira moldada às
necessidades/qualidades do país. Os mais ufanistas odiaram a invasão dos
chamados enlatados na tevê nacional. Filmes, seriados e até novelas trouxeram
narrativas e enredos inusitados para os nossos telespectadores. Aos críticos mais
indignados nada restava a fazer além de um ruidoso muxoxo. Quando não cem
por cento importados, algumas emissoras conseguiam abrasileirar programas de
movimento não se preocupavam apenas com o que tocar ou ouvir; o que vestir, como vestir e o visual como um todo eram coisas muito valorizadas pelas bandas do new romantic.
23
auditório, telejornais e suas âncoras; os interativos talk-shows aqui aportaram
para uma trajetória que prometia ser longa. Como de fato foi.
Em versão verde-amarelo, a indústria cultural assimilou como
nunca os modos de ver e de se fazer ver em um país totalmente unificado pelos
cabos televisivos. Das aldeias indígenas ao bairro do Leblon, o Brasil se viu na
tela da tevê. Ela, a televisão, esteve mais presente do que nunca, definitivamente
em cores, ganhando todos os lares, mais sofisticadas com o acréscimo de um
apêndice (o controle remoto), foi ela uma das protagonistas solo em um país que
se inflamava em imagens e tendências.
Foi também nos anos oitenta que ganhamos um dos movimentos
mais vibrantes de nossa esfera cultural: o Circo Voador. Ancorado na praia
carioca do Arpoador, ele tornou-se um celeiro das boas idéias que iriam agir no
cenário artístico do país. Mexendo com música e, teatro principalmente, a jovem
trupe agitou o Rio de Janeiro e por extensão o Brasil, com seu repertório
perfeitamente sincrônico às transformações que balançavam a nação. No
capítulo que dediquei ao Circo e ao importante papel que ele desempenhou, eu
sustento a sua concepção como uma espécie de útero formador de um
significativo discurso de ousadia e provocação. 7 Da lona surrada do Circo
Voador nasceu muito da atitude irreverente dos anos oitenta.
Tão importante em um país cujo índice de leitura é um dos mais
precários do mundo, a televisão brasileira, nos anos que viram o movimento das
7 Essa atitude de provocação dos integrantes do Circo Voador será melhor explicada no capítulo que lhe dedico; no entanto, faço aqui esta nota porque a afirmação acima é delicada e merece um aprofundamento na justificativa do seu uso. Faço isso no capítulo Sob a lona do Circo Voador.
24
diretas e a primeira eleição de um presidente após décadas de ditadura militar8,
foi (ainda é?) um dos principais senão o mais importante instrumento de
informação política dos brasileiros. Atrofiando fatos realmente importantes ou
hiperbolizando estilhaços sem qualquer relevo maior, alguns canais foram mais
tarde acusados de apresentar condutas no mínimo tendenciosas quanto à
cobertura que deram a questões centrais que marcaram a história do país. As
marcas da influência televisiva sobre as páginas da revista Veja se tornaram
intensas. Muitas foram as seções e capas do semanário a cobrir aquilo que era
levado ao ar. Ampliando uns ou menosprezando outros, vários temas e
programas televisivos tornaram-se também matéria escrita, lida e discutida.
A intelectualidade sempre torceu o nariz para as nossas produções
taxando-as como um subproduto cultural sem qualquer outra finalidade que não
a de emburrecer os telespectadores cujas consciências _estreitas demais para
fazer qualquer tipo de juízo de valores_ estavam sendo manipuladas ou niveladas
por muito baixo. Os intelectuais e a tevê no Brasil são inimigos de longa data. No
entanto, ficou muito claro que ao longo dos anos oitenta o espaço que as outras
mídias dedicavam para falar sobre a televisão tornava-se cada vez maior.
Contrariando o gosto da crítica, houve muitíssimos êxitos
alcançados por nossas emissoras tupiniquins. Ainda longe dos padrões artísticos
da sétima arte, a televisão conseguiu enriquecer (culturalmente?) a sua
programação com adaptações cuidadosas que transportaram para milhões de
8 A ditadura militar oficialmente compreende o período que vai de 31 de março de 1964 até 15 de março de 1985. Durante esse tempo houve uma alternância de presidentes militares que com maior ou menor empenho restringiram as liberdades coletivas e individuais da sociedade civil.
25
aparelhos alguns dos mais genuínos clássicos de nossa literatura. Contando com
um corpo técnico de qualidade (diretores, roteiristas, câmeras) e com um elenco
experimentado, prodigiosas foram as montagens construídas, provando assim
que o bom gosto poderia sob algumas circunstâncias estar aliado ao tino
comercial que dita e mantém a programação televisiva.
Inúmeras foram as experiências levadas à baila ao longo da
década; com o afrouxamento da censura temas polêmicos, antes apenas
sutilmente mencionados, estavam no ar provocando discussão, reflexão ou
revolta. Poucos ficaram indiferentes a questões como: incesto, homossexualismo,
pornografia, corrupção, divórcio, virgindade etc. Presentes em várias novelas ou
mini-séries, estes assuntos amalgamaram críticas ou elogios, e deram uma verve
mais realista e atual ao enredo dos folhetins eletrônicos do século XX. Entraram
para a história da televisão brasileira obras como Roque Santeiro, Vale Tudo, O
Tempo e o Vento, Anos Dourados etc. Estes produtos geraram discussões e
críticas; e isso garantiu o seu sucesso para muito além das telas. Também na
revista Veja então eles ganharam extensas matérias quando não capas, muitas
vezes sensacionalistas, demonstrando assim a imensa força que possuíam no
imaginário coletivo da nação.
Redescobrindo a faixa etária do seu público, uma das inovações
mais pertinentes voltou-se para os programas infantis. Vários deles fizeram
estréia ao longo da década. Ocupando as manhãs ou tardes, estes programas
tiveram praticamente a mesma fórmula, construíram ídolos venerados por uma
legião de fãs; ganharam repertório musical e projetaram-se como um novo filão
econômico para uma série infinita de produtos. Desenhos animados (americanos
26
ou japoneses), um cenário multicolorido, um(a) apresentador(a) sorridente,
alguns prêmios distribuídos, algumas visitas famosas para cantar e dançar. Essa
foi a receita de um bom programa infantil nos anos oitenta. Algumas
apresentadoras foram verdadeiros totens de idolatria, ao ponto de tornarem-se
impressionantes fenômenos de comunicação. Na utopia dos programas infantis o
Brasil ganhava contornos bem suaves.
A importância da televisão foi tão grande que o capítulo A televisão
e os anos oitenta é um dos mais extensos desta dissertação. Este capítulo tenta
apresentar os assuntos mais importantes e polêmicos que Veja dedicou aos
programas de tevê, reconhecendo neles uma força de aglutinação das massas
importantíssima.
Seguindo o rastro televisivo das mudanças, a sociedade brasileira,
ainda que talvez sob um efeito dominó, deu claros sinais de que estava mudando.
Novas alegorias passaram a representar outros valores que não àqueles
cunhados pelas velhas gerações. Dentre as poeiras mais promissoras dos ventos
libertários, penso que uma categoria merece ser destacada como um exemplo de
como os modelos sociais de comportamento de fato se modificaram; a saber,
escolhi os jovens para essa representação. Por quê? É inegável a mutação
cultural que eles tiveram no decorrer daquele momento. Acredito tanto nessa
mudança comportamental que também a eles dediquei um capítulo desta
dissertação para poder comentar a performance que eles demonstraram ter
naquele período. Este capítulo, como os demais, apresentará exemplos
contundentes acerca das afirmações que aqui faço de maneira apenas
27
panorâmica e ainda distante das reportagens que circularam na revista em
matérias diretamente endereçadas à juventude do país.
Inegavelmente, eu afirmo no capítulo Ser jovem nos anos oitenta,
esta década parece ter sido feita para eles já que foram aqueles jovens o alvo
preferido dos mais inusitados modismos que avançaram sobre a década.
Repudiando uma vida associal, o lema vigente foi acima de tudo o de ver e de
ser visto. Nas roupas, nas atitudes, nas preferências, no discurso. Um marketing
agressivo acompanhou cada passo dessa escalada. Desde o âmbito familiar até
o futuro profissional, o staff especializado em assuntos juvenis foi muito
consultado. Expressando o contingente mais significativo da população brasileira,
sem tantas mordaças à boca como seus pais, a geração oitenta invadiu todos os
palcos, todas as telas, repartições e idéias. O espírito cívico canalizou-se para os
comícios pró-diretas; o festivo se verbalizou nos gritos frenéticos do Rock in Rio9;
o indiferente motivou-se com a nova onda do yuppie10 capitalista e jovem.
Bandeiras não faltaram. Desilusões também não.
Entre as inúmeras transformações pelas quais passou a sociedade
brasileira ao longo da década, é senso-comum que uma das mais significativas
nasceu no campo da política, assim, também dedico um capítulo especial que
9 O festival de rock Rock in Rio foi o maior já realizado no Brasil até aquele momento. A participação de grandes astros do cenário internacional deu um prestígio e projeção jamais vistos no país. Acontecendo em janeiro de 1985, o festival durou dez dias e teve uma projeção mundial. 10 O termo yuppie popularizou-se por designar um novo tipo de jovem: masculino, essencialmente urbano, bem-vestido, bem-formado e acima de tudo capitalista. Enriquecer antes dos trinta anos era ambição mor de todo o jovem yuppie.
28
comentará as várias curvas que ela faz no decorrer dos anos oitenta_ um
momento único na história do Brasil.
Anos de esperança, anos de abertura; principalmente pelo otimismo
que despertavam as mudanças. Mas havia motivos mesmo para isso? Acredito
que sim, como já falei no início, escrevo este capítulo visualizando aquele
encadeamento histórico e me parece fácil reconhecer as possibilidades únicas
que aquele período revelou aos seus contemporâneos. Somente com o passar do
tempo é que aqueles prognósticos foram apresentando suas falhas e deixando
clara a cegueira que o já mencionado excesso de motivação e otimismo pode
trazer.
Além do mais, um capítulo sobre política em uma dissertação que
traz as memórias de um leitor da revista Veja deve ser mais do que esperado.
Não há dúvidas de que este semanário tem na política e na economia do país o
seu foco principal e por isso dedica uma atenção e um olhar todo especiais
dentro de um período tão rico em informações e mudanças como foram os anos
oitenta. Inúmeras foram as capas que a revista dedicou a cobrir os mais variados
acontecimentos políticos em esfera nacional, internacional e até mesmo regional
(quando esta última despertava uma grande motivação e interesses amplos).
Começamos com a volta dos exilados trazendo muitas idéias,
discursos cheios de entusiasmo e às vezes um livro de memórias à tiracolo;
muitos deles retornaram à arena política e demonstraram uma boa performance
29
nas urnas11. Contudo, logo percebeu-se que lhes faltava gás suficiente para de
fato promover uma transformação capaz de preencher às expectativas nutridas
ao longo de dez, vinte anos de espera. A empatia criada entre os brasileiros que
estavam voltando e os que haviam ficado rapidamente tornou-se fria, como se já
lhes faltasse um vínculo maior suficientemente forte para criar um ideal comum.
O tempo mostrou-se implacável e fez com que outras personalidades passassem
a gravitar com mais freqüência pelas órbitas tumultuadas daqueles anos.
Foi em 1984 que o Brasil viu-se motivado por um dos
acontecimentos mais belos e puros, a meu ver, de toda a sua história. Milhares
de pessoas foram às ruas em um clima de comoção para pedir o voto direto nas
próximas eleições presidenciais. Políticos, artistas e intelectuais uniram-se a uma
só voz e com o mesmo grito a impulsionar um desejo comum: Diretas Já!
Manifestações tímidas no início, passaram a aglomerar multidões que entre
janeiro e abril daquele ano manifestaram-se pacificamente para pedir a volta da
total democracia.
Fracassado o movimento, os brasileiros esperaram com euforia a
posse do novo presidente eleito pelo Colégio Eleitoral mas, para espanto,
surpresa e tristeza geral da nação, o mesmo veio a falecer sem ter recebido vivo
a faixa presidencial, marcando este fato uma das maiores tragédias da nossa
história republicana. A morte do presidente Tancredo Neves, sua doença e
internação foi um dos fatos de maior cobertura da revista Veja ao longo de sua
11 O caso mais célebre do exilado que volta com força e vigor ao cenário político do país indubitavelmente é o do ex-governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Em 1982 ele se elege governador do Estado do Rio de Janeiro e passa a ter uma presença ainda mais forte no cenário nacional.
30
história. Foram sete capas ininterruptas que tentavam traduzir em textos e
imagens o pânico que tomava conta da nação; uma cobertura intensa que bem
se justificava haja vista a unanimidade única que o político Tancredo Neves
conquistou entre os políticos e principalmente perante a nação. Após sua morte
poucos motivos ainda sustentariam um otimismo dentro daquela democracia tão
esperada.
Meia década já havia passado quando o país entrou em um ciclo
vicioso de planos econômicos mirabolantes que tentavam estancar a hemorragia
inflacionária que corroia os últimos tecidos da ingênua esperança do povo.
Derrotados, um após outro, o caos político e econômico alastrou-se a proporções
gigantescas, nunca visto antes. Em meio a um clima de decepção e derrota,
todas as apostas voltaram-se então para a grande eleição de 1989. O que
mereceu uma ampla cobertura de Veja.
Campanhas fenomenais embaladas por jingles inesquecíveis, bate-
bocas televisivos e propostas mirabolantes protagonizaram o último ano da
década. As urnas apostaram em uma figura, no mínimo, interessante. Jovem,
atleta, culto. Os adjetivos não faltaram para o novo presidente. Os anos que
lutaram pela abertura política, pelo fim da censura e pela total redemocratização
do país, vêem o povo eleger como chefe da nação um fantasma do velho e
combatido regime12. Contradições? Nem tanto, a memória nunca foi o ponto forte
12 Em 1989, na primeira eleição para presidente pelo voto direto, após a ditadura militar, as urnas elegem Fernando Collor de Mello como novo presidente. Ex-prefeito biônico da cidade de Maceió, Collor era a uma lembrança forte da ditadura que negava todas as lutas pela redemocratização do país.
31
dos brasileiros. Nas capas de Veja durante a reta final da eleição, no segundo
turno, ficou explícita a caracterização fácil que ela fez dos principais candidatos.
Talvez influenciada por este palco político de shows cômicos e
inusitados, a nossa música ganhou nova propulsão sob a égide daquilo que foi
chamado de roque nacional. A criatividade e a ousadia esbanjaram energia
nessa que para mim foi a vertente cultural mais expressiva da década. Na minha
concepção, a idiossincrasia entre aqueles jovens músicos e o pulsar inquieto dos
anos oitenta foi perfeita. Nada conseguiu melhor representar o significado
daquele instante para o país. Da insolência de uma juventude criada sob os
auspícios conformistas da estéril classe média nasceram canções que
penetraram como nada mais na insondável máquina daqueles anos. A memória
dessa década não é apenas visual, ela é também sonora. Pelas letras criadas por
toda uma geração é possível ler a geografia histórica do Brasil oitentista. No
legado deixado por aqueles artistas, a ousadia, o inconformismo e, sobretudo, a
provocação13, no sentido mais profundo e autêntico que essas palavras possuem.
No início a presença dos tropicalistas ainda era muito forte; e
igualmente constante era o nome dos ídolos da MPB, e dos resquícios da jovem-
guarda (esta, uma célula tronco da nova geração do roque brasileiro). Os críticos
receberam com bons olhos o que estava surgindo _num momento raro de
concordância entre o gosto popular e os detentores da tediosa erudição da crítica
nacional. Mas parece ter sido mesmo difícil não se render àquela titânica
profusão de agressividade, liberdade e beleza. Se os anos oitenta não mais
13 O porquê de eu fazer essas afirmações tão assertivas acerca da música que foi produzida nos anos oitenta será explicado no capítulo Os sons da década.
32
existem, o seu melhor retrato segue intacto naquela sintaxe que expressava em
música um inconformismo vivo e vibrante, acreditando em si mesmo ou às vezes
simplesmente fazendo uma catarse para não cair no tédio alienado ou no
esquecimento fácil da cultura vigente.
Nessa dissertação eu pretendo afirmar, então, que o roque nacional
dos anos oitenta foi um imenso caleidoscópio capaz de projetar-se em inúmeras
direções; farei isso comentando o estereótipo de alguns artistas e bandas, bem
como as letras que deram ritmo e propulsão à chamada década perdida.
Seguindo a proposta básica deste trabalho, essas afirmações serão amparadas
nas críticas de Veja sobre o cenário musical daqueles anos e confrontadas com a
lembrança que eu retive como um leitor assíduo desta seção da revista.
A cultura está cheia de símbolos, ela é toda construída por
símbolos. Seguindo esses axiomas, enfatizo novamente o objetivo deste trabalho
no sentido de mais uma vez elucidar o que pretendo: apresentar as minhas
memórias como um leitor da revista Veja ao longo dos anos oitenta; observar e
constatar as inúmeras distorções e apagamentos que produzi como leitor;
comparar o registro que guardei com o texto original que lhe deu sustentação.
No último capítulo, Considerações finais, faço uma avaliação do
projeto como um todo, sua relevância, conclusões e impossibilidades. Isso no
sentido de elucidar o leitor quanto aos caminhos que acabaram se reconfigurando
à medida que a pesquisa prosseguia e mostrava que alguns pontos do projeto
deveriam ser modificados ou mesmo abandonados, como justifico mais tarde.
33
SOB A LONA DO CIRCO VOADOR
“Limpe os pés antes de entrar nessa lona sagrada”, Herbert Vianna
“Grave-se isso: o circo está aí. Voando, voador como uma
gaivota no Arpoador”, Chacal
34
A princípio eu fiquei em dúvida quanto à possibilidade de abrir ou
não um capítulo sobre o fenômeno que foi o Circo Voador. Primeiro porque as
referências de Veja não foram muitas, ao contrário do que pensava e, segundo,
porque o conhecimento da existência mesmo do Circo e da importância que ele
teve no cenário cultural do Rio de Janeiro e por extensão do Brasil na primeira
metade dos anos oitenta, para minha surpresa, é restrito a poucas pessoas.
No entanto, apesar destes dois obstáculos iniciais, decidi abrir este
capítulo porque, ainda que com pouca cobertura pelas páginas de Veja, a sua
inclusão se justifica pelo registro superdimensionado que lhe dei em minha
memória de leitor da revista, apesar das poucas notas encontradas nela sobre o
Circo propriamente dito. Mas a sua inclusão, por outro lado, foi fundamental
porque, como pretendo esclarecer ao longo do capítulo, este projeto chamado
Circo Voador foi importantíssimo pela postura que demonstrava ter e,
fundamentalmente, pelos vários nomes que passaram pelo seu palco. Nomes
consagrados ou que estavam ainda sendo revelados ao público, mas que juntos
seriam os responsáveis por muitas das criações artísticas mais significativas dos
anos oitenta no Brasil.
Foi com surpresa que percebi que não eram de fato muitas as
reportagens da revista Veja sobre o fenômeno Circo Voador. Surpresa
principalmente porque, como já coloquei, a sua imagem, proposta e estética,
tiveram um grande impacto sobre a minha memória; ficaram firmemente
guardadas como uma das matérias mais impressionantes que a minha percepção
de leitura guardou. Talvez alguns fatos possam explicar o porquê disso. Explico
assim a importância do Circo Voador:
35
Em alguns momentos da história existe a conjunção perfeita de
novos cenários capazes de apresentar ao público uma diferença transformadora
nas artes de ver, ouvir ou ler. São instantes únicos que quase sempre passam
despercebidos pelos contemporâneos que lhes servem de platéia. Mas ainda
assim, instantes eternos enquanto divisores decisivos que singularizam um tempo
e uma geração em meio a uma pluralidade comum, mimética e passiva;
conformista então, e por ser conformista, incapaz de provocar transgressão e de
criar visões e formas novas diante de uma realidade em permanente estado de
mutação.
Observar as rupturas que acontecem sob as aparências da
banalidade cotidiana e através delas extrair elementos capazes de elaborar
novos construtos culturais é uma capacidade para uns poucos que conseguem
atingir uma imersão maior e mais profunda na massa das coisas ditas e feitas.
Assim, posso dizer que essa harmonia rara entre um tempo propício e uma
geração transgressora ocorreu no Brasil dos anos oitenta; retratando para a
posteridade um dos quadros mais efervescentes, vívidos e densos de nossa
história. E, como uma importante representação desse momento tão particular,
surge na cidade do Rio de Janeiro uma das expressões culturais mais vibrantes
da década: o Circo Voador.
Um projeto de verão
Era mês de janeiro de 1982 quando aquilo que era apenas um
projeto de verão pousou sobre a praia carioca do Arpoador para apresentar ao
36
seu eclético público um espetáculo diferente e também uma nova sintonia com o
que estava acontecendo no Brasil. Os jovens queriam respirar o mundo a sua
maneira, sem precedentes, e utilizaram este espaço como uma carruagem de
imaginação. Uma carruagem capaz de catalisar toda a energia de uma geração e
depois jogá-la nos labirintos das suas teias mais criativas.
O Circo Voador foi tão importante que ele tornou-se o registro de
toda uma época, uma referência obrigatória para aqueles que desejam entender
os anos oitenta. E eu, particularmente, visualizo este momento como uma
espécie de útero que se prepara para a gestação. Acredito mesmo que o
inconsciente cultural daquela geração armou-se junto às lonas do Circo, no
sentido de apreender as mudanças que estavam acontecendo àquele exato
instante. No entanto, parece certo também afirmar que antes de 1982 já existiam
claros sinais de que a década de oitenta prometia muito mais do que as
antecedentes.
O primeiro indício talvez tenha sido já em fins de 1979 quando deu-
se o começo da volta dos exilados políticos ao país. Houve toda uma onda de
otimismo e euforia com aqueles rostos do passado que voltavam cheios de
sonhos e ainda donos de um discurso revolucionário capaz de dar vazão ao grito
calado dos que haviam ficado. A volta dos exilados ao Brasil repete, de forma
canhestra eu penso, a parábola do filho pródigo que é recebido com a mesa farta
e o coração aberto por parte daqueles que o esperam. No entanto, como tal, ele
não consegue mais agradar a todos aqueles que ficaram. Os códigos de
convivência, inabalavelmente, mudam com passar do tempo.
37
Por isso, depois de tanto tempo afastados, a alguns pareceu que os
que retornavam não podiam mais penetrar no segredo íntimo daquele Brasil já
tão diferente de vinte anos atrás. Os jovens simplesmente não encontraram muita
sintonia com aqueles senhores de oratória farta que anunciavam grandes
alterações nas esferas político-culturais.
É dentro deste contexto então que o Circo Voador representa uma
manifestação capaz de fazer uma leitura meticulosa de seu tempo e por ela
encontrar as saídas necessárias a fim de não se deixar enclausurar como um
espectador passivo que não pode interagir com as imagens que o constroem. No
horizonte do Circo Voador figuraram aqueles que o viam como uma possibilidade
de inovar e contestar; abrir novos conjuntos de criação dentro de um ambiente
que parecia inócuo e condenado a constantes repetições.
À lona do Circo coube o papel de rearticular os vestígios do
passado com os projetos do presente, elaborando assim uma espécie de diálogo
entre o erudito e o contemporâneo. Os artistas daquele palco provocativo
entenderam a mecânica do novo Brasil e souberam ilustrar nos movimentos que
criaram os instintos dos brasileiros que a ele pertenciam.
Remanescentes do revolucionário grupo teatral Asdrúbal Trouxe o
Trombone, que transformou a face do teatro brasileiro em fins da década de
setenta, o Circo Voador trouxe um elenco apimentado, nada convencional e com
uma capacidade de transgressão espetacular, vislumbrando no aparentemente
simples e banal, instrumentos de reflexão e provocação.
A reportagem da seção Teatro, da revista Veja, com data em 3 de
fevereiro de 1982, trazia um texto fascinante sobre a instalação do Circo na praia
38
carioca do Arpoador. Segundo Veja, o Circo estava agitando aquele verão com
os espetáculos únicos que sua trupe apresentava às centenas de pessoas, a
grande maioria jovens, que se fascinavam com aquela proposta inovadora.1(ver
anexo I) Para alguns, como a jovem Cláudia Otero, de 19 anos, o Circo Voador
chegava mesmo em um momento em que “ninguém agüentava mais ir à praia
em frente ao sol de Ipanema ou jogar conversa fora nos bares do Baixo Leblon”.
O Circo e o seu elenco
Freqüentado por grandes nomes da MPB, como Caetano Veloso e
Raul Seixas, e ao mesmo tempo dando espaço a nomes até então
desconhecidos, o palco voador do Circo levantou vôo no sentido de pulsar como
poucos o fizeram com o mesmo ritmo das platéias que lotavam a orla da praia do
Arpoador.
Acredito mesmo que há um sincronismo perfeito dentro das
produções do Circo, já que naquele espaço em branco residia uma gigantesca
profusão de vontade e desejo. Uma sede voraz por dar fala aos protestos
esmagados da geração anterior. Nas ligações transversais que o Circo Voador
criou com a sociedade estava presente a abundância das imagens, dos mitos e
dos ideais que faziam a cabeça dos jovens. Se havia zonas escuras ou proibidas
nos anos setenta, a ordem então era mergulhar com profundidade nos jogos do 1 Reportagem da seção Teatro; Veja, 3 de fevereiro de 1982. A reportagem Os filhos de Asdrúbal dá ênfase ao caráter irreverente dos jovens que haviam armado um circo em plena praia do Arpoador, no Rio de Janeiro. Remanescentes do teatro, o grupo foi descrito como o grande responsável pelo agito daquele verão carioca. A matéria conta ainda com o depoimento de alguns jovens explicando o porquê do entusiasmo e sucesso do grupo.
39
não-dito e do não-comportado. Transgredir o sistema para se posicionar a uma
maneira mais independente e crítica, longe das amarras fáceis dos discursos já
elaborados como em um roteiro cinematográfico. Nesse sentido tornava-se
urgente criar novos sistemas; códigos eficientes capazes de traduzir para a
sociedade aquilo que estava além dos lugares-comuns, além do próprio solo
cultural que existia até então.
O grande idealizador do Circo, Perfeito Fortuna, mais Luiz Fernando
Guimarães, Regina Casé, Evandro Mesquita, Patrícia Travassos, Lobão, Cazuza
e os meninos do Barão Vermelho, Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, foram
algumas das muitas atrações que o Circo Voador apresentou ao seu público. No
seu palco estrelado, a juventude mais talentosa do período pisou firme,
mostrando a que vinha, fazendo daquele o momento de preparo para as
inúmeras contribuições que tantos deles dariam, juntos ou individualmente, à
cultura nacional. Sem preconceitos, sem idéias prontas e já funcionais, o
experimental parece ter ali permeado tudo, errando às vezes, criando, recriando
ou até mesmo destruindo, mas sempre encantando.
Com a disposição ousada em demolir a mediocridade, a lona
voadora do Arpoador resistiu a ser apenas um projeto de verão e depois fincou-
se definitivamente nos arcos da Lapa2 para apresentar ao Brasil um inovador
campo de possibilidades entre os sujeitos e as artes.
2 Em setembro de 1982 o Circo Voador muda-se para os Arcos da Lapa. Com o passar do tempo o Circo Voador tornou-se uma casa de espetáculos respeitada pelos grandes eventos que abrigou. Como explico no corpo do capítulo, o envolvimento do Circo Voador com outras esferas, como política e manifestações ambientalistas garantiram o seu status como um local de vanguarda e sempre em sintonia com as mudanças da sociedade.
40
Como uma das células artísticas mais mutantes da década, o Circo
foi também um discurso de desconstrução e deboche; o solo maior de uma vasta
galeria de personas que se projetariam no cenário nacional a partir daquele
período. Cortante, ele queria solapar aquele ambiente enfadonho e
intelectualmente velho ou gasto que a classe dos artistas parecia representar; o
Circo Voador foi um sangue novo a abrir olhares díspares consagrados já em seu
berço à contestação dos modelos, para que não terminasse como aquela
realidade estéril e muda que presenciava.
Desse panorama histórico e agora já distante, é possível ler na
metáfora do circo o palco multiforme que se projeta no imaginário popular como
um lugar de variedades.
O circo é, por excelência, uma diversão sazonal. Ele não tem um
terreno definido; na diáspora permanente está toda a sua filosofia de existência e
de transformação. Ele é irrepetível a cada lugar e tempo que cruzam com o seu
espetáculo. No circo existe uma junção que não pode se reproduzir na sua mais
abrangente totalidade. A praia do Arpoador, o início de uma década cheia de
promessas, o verão, os jovens e o Rio de Janeiro. Uma junção perfeita. Difícil unir
tantos elementos potencialmente singulares em um só ponto de encontro. Uma
vez ocorrido, ele pode se solidificar como uma ruptura histórica a elaborar outras
categorias de pensamento nas esferas mais criativas da sociedade. E foi
exatamente isso o que ocorreu. Naquela lona multicolorida estavam os alicerces
para calar de vez com os gritos áfonos das gerações passadas.
Em praticamente todos os campos sócio-culturais o Circo Voador se
fez presente. Ele não foi apenas um espaço para shows ou festas. Vibrou junto
41
com todos os impulsos e sonhos que marcaram aquela década. Entre os
movimentos políticos, andou de braços dados com o movimento das Diretas Já!,
porque o entendeu como um anseio verdadeiro e justo da sociedade a qual
representava; nas manifestações ecológicas vestiu o discurso de uma nação que
cada vez mais se conscientizava da fundamental importância que desempenhava
no cenário mundial pelas suas gigantescas reservas de bio-diversidade; nas
artes, sua vocação maior, abriu-se a programas humorísticos e a tantos jovens
futuros artistas que emprestaram o seu amadorismo brilhante àquele espaço tão
único. Questionou-se e fez-se questionar, não fugindo jamais ao âmago de sua
filosofia: ser um palco experimental, um quadro sempre aberto aos tons e
contrastes mais diferenciais que ilustraram as verdades daquela geração. No
palco do Circo Voador, uma das nervuras de encontro mais visíveis dos anos
oitenta no Brasil.
SER JOVEM NOS ANOS OITENTA
Aqui, neste capítulo, quero ilustrar a performance de adaptação e
visão dos jovens dentro da década. Já destaquei a importância que eles tiveram
42
em trechos dos capítulos anteriores. Os anos oitenta foram, sob diferentes
formas, consagrados ao endeusamento daquela que era então a mais
significativa parcela da população brasileira. O espírito mais vivo e dinâmico
estava estampando nos jovens rostos que compunham a face de um novo Brasil,
com todas as promessas e desilusões que ele trazia. A revista Veja, como uma
das mídias escritas mais lidas do país, publicou com exaustão reportagens (as
mais variadas) e capas destinadas a contemplar o público jovem do país.
Revisitando estas publicações, tornou-se essencial escrever uma capítulo para
poder dar conta da grande quantidade de informações ligadas ao universo juvenil
a que Veja deu destaque.
Visitando o Brasil em 1980, o papa João Paulo II admirou-se com a
significativa parcela que a juventude representava para o país. Na plasticidade
limpa daquelas expressões escondia-se a força dinâmica de contestação,
criatividade e ousadia que sob um contexto que se modificava rapidamente,
prometia muitas coisas. Longe das limitações da geração passada, e sem as
amarras ideológicas que confinam a visão a uma concepção maniqueísta de
mundo, ser jovem nos anos oitenta foi um constante exercício de reinventar-se a
todo instante. Opções não faltaram.
Este capítulo, eu explico, nasce da compilação de uma série de
seções da revista que geralmente traziam temas, tendências ou mesmo idéias
ligadas aos jovens. Assim, as seções Vida moderna, Gente, Saúde, Sexualidade
e Comportamento foram as mais significativas no sentido de oferecer
informações para este capítulo. Com notícias diretamente relacionadas ao
43
universo dos jovens, estas seções abordaram os mais variados assuntos que
tinham em comum um apelo maior para esta faixa etária.
As informações que circulam neste capítulo, como nos demais,
nascem da minha memória como leitor da revista e da revisitação que eu fiz dos
textos no sentido de comparar o meu registro com a sua fonte, conforme já
explicitei na introdução deste trabalho. Por me despertar um interesse maior, até
pelo fato de que eu lia estas seções com uma atenção especial, para escrever
este capítulo foi preciso filtrar muitas coisas porque, como já coloquei, a revista
Veja publicou de maneira exaustiva reportagens que tinham nos jovens o seu
foco principal. Como seria impossível dar conta de todas essas publicações e
memórias, optei por algumas em especial que refletem com maior propriedade a
minha lembrança e que também, eu acredito, conseguem ilustrar a
descrição/publicação principal da revista quanto aos interesses, medos e
decepções que afetaram os jovens brasileiros ao longo dos anos oitenta.
As muitas faces de um mesmo ideal
Na variedade de tendências ou estilos dos anos oitenta nasciam
identidades que davam uma nova representação da juventude para o imaginário
comum dos próprios jovens e também da sociedade em geral. Meu objetivo será
o de mapear, através de alguns modelos, os sonhos, os receios, os papéis
sociais e as posturas adotadas durante a década. Há um leque abrangente e rico
de opções mas acredito ter chegado a alguns denominadores comuns que
podem ilustrar com competência e diversidade o que significou ser jovem no
44
Brasil entre os anos oitenta de acordo com que um leitor da revista Veja, como eu
fui, podia conceber.
Para isso, neste capítulo eu escolhi dois jovens que conseguem
expressar muito bem, por tudo o que foram, fizeram ou representaram, algumas
das glórias e tragédias a que estavam destinados os jovens dentro dos anos
oitenta. Estes dois jovens podem dar conta de muita coisa que Veja publicou
quanto aos prazeres e riscos aos quais a juventude estava exposta. São dois
personagens típicos daqueles anos; pelas tendências expressas na seção
Comportamento ou pelos perigos e medos da seção Saúde, Petit e Lauro Corona
figuram neste capítulo pela forte representação que suas personas fez da
juventude da década, segundo as informações publicadas pela revista.
Meu primeiro modelo que figura como um dos estereótipos mais
ricos do período é então Petit, o menino do Rio. É ele um dos quadros que
melhor ilustram um determinado tipo de jovem que entre uma onda e outra levava
a vida “numa boa”. A trajetória desse jovem é uma das melhores traduções de
uma geração que como nenhuma outra voltou-se para si mesma, criando o
distanciamento de uma sociedade que pouco lhe dizia; uma leitura ingênua talvez
a rotule simplesmente como narcisista, preocupada principalmente com uma
estética perfeita, com os valores do corpo e adepta incondicionalmente de todo
um rol de cuidados com a saúde. Mas, a meu ver, esse distanciamento é fruto de
uma até justificada indiferença que alguns construíram para a própria proteção
particular diante de uma civilização em nítido estado de defloração social. Petit foi
um rosto que parecia exprimir uma autoconfiança única, uma vida quase fictícia,
uma moldura autista e remota que abre e fecha os anos oitenta.
45
Surfista, modelo, aspirante a muitas coisas e, sobretudo, jovem.
Petit não foi apenas uma imagem, ele tornou-se também som. Na letra de
Caetano Veloso, o resumo autêntico de uma presença jamais despercebida, o
protótipo da juventude carioca está na letra de Menino do Rio: menino do
Rio...Calor que provoca arrepio...Dragão tatuado no braço...Calção corpo aberto
no espaço...Coração de eterno flerte...Adoro ver-te (...)1
O Brasil é composto por uma sociedade iconista; seus ídolos
formam um moderno panteão que representa seus sonhos e frustrações,
idealizam as formas metamorfósicas de um povo em perene estado de formação.
A letra do Menino do Rio é um hinário textualizando as vontades, gostos e
performances da geração Petit. O dragão, um símbolo de masculinidade e força,
é também uma representação agressiva [...] Uma imagem que sugere poucos
amigos, uma figura solitária, presa a seu mundo paralelo. Aqueles que conheciam
José Artur Machado, o verdadeiro nome de Petit, falavam dele com carinho; era
descrito com um temperamento leve, alegre e brincalhão, embora tivesse a fama
de tímido. O coração de eterno flerte é uma metáfora riquíssima; Petit flertou o
tempo todo com a vida, praticante de artes marciais, modelo nas horas vagas
entre uma onda e outra. Ele vestiu como poucos o slogan da geração saúde. Seu
corpo aberto no espaço, sempre bronzeado pelo sol carioca, era um convite
àquilo de que melhor os jovens tinham a oferecer, uma vida livre e
1 Menino do Rio, composição de Caetano Veloso: Menino do Rio/ Calor que provoca arrepio/ Dragão tatuado no braço/ Calção, corpo aberto no espaço/ Coração de eterno flerte/ Adoro ver-te/ Menino vadio/ Tensão flutuante do Rio/ Eu canto pra Deus proteger-te/ O Havaí seja aqui/ Tudo o que sonhares/ Todos os lugares/ As ondas dos mares/ Pois quando eu te vejo eu desejo o teu desejo/ Menino do Rio/ Calor que provoca arrepio/ Toma esta canção como um beijo(...)
46
descomplicada. Nesse utopismo ingênuo, talvez remanescente dos anos
sessenta, inscreviam-se algumas fragilidades.
Em 1987 uma tragédia põe um ponto final à vida idealizada de
Petit. Um acidente de moto o deixa com seqüelas traumáticas. Com o lado
esquerdo do corpo paralisado, o outrora vivo e alegre símbolo dos verões
cariocas torna-se um inválido recluso ao seu apartamento em Copacabana. O
calor se apagava lentamente; confinado a dimensões concretas, longe do mar
que tanto amava, com o corpo inutilizado para as coisas que mais lhe davam
prazer, o menino do Rio não resiste e cai num solipsismo que para ele revelou-se
fatal.
Em março de 1989 a revista Veja publicava a última cena de Petit.
O ex-símbolo do verão carioca se enforcara utilizando uma faixa de judô, um dos
esportes que praticava antes do acidente2. O peso da depressão, do isolamento
de tudo e de todos foi uma carga demasiadamente pesada para que ele pudesse
suportar. Segundo a reportagem, os médicos acreditavam na sua recuperação;
diziam que a paralisia não era definitiva e até haviam estipulado um prazo de dois
anos para a sua total reabilitação. Petit não agüentou a espera. Representando o
imediatismo da década, ele viveu sua história particular, glórias e tragédias,
dentro de uma sincronia semelhante a outros modelos que também encarnavam
na pele um projeto de vida diferente. O menino do Rio morreu ainda jovem, tinha
32 anos.
2 Reportagem da seção Datas; Veja, 15 de março de 1989. Em uma nota relativamente grande para a seção, um resumo da biografia de Petit é apresentado; para a revista, “ele foi a mais perfeita tradução da geração saúde carioca: corpo bronzeado, praticante de lutas marciais e modelo”.
47
Ser jovem nos anos oitenta foi um exercício de constante
adaptação a uma vida cada vez mais urbana e movimentada; cheia de modismos
novos que, da noite para o dia, mudavam com uma lógica particular, sem avisos
antecipados. A juventude da década glorificou os valores estéticos de forma
monumental. Templos de cultura ao corpo proliferaram gerando um novo filão
econômico e por conseqüência um outro padrão para os olhos. Para Camille
Paglia, um esteta é aquele que vive pelo olho; 3 é através do olhar que ele
entende e se faz entender; a sua projeção de mundo está extremamente
vinculada a este sentido [...] Praticamente não há percepções fora do seu campo
visual. Eu concordo com ela. Os anos oitenta foram monitorados por olhares
amplos que misturaram fronteiras entre o público e o privado. Mistificaram um
ideal talvez não condizente com o que a maioria esperava, contudo forte o
suficiente para impor-se frente a um imaginário coletivo que, no mínimo, flertou
com um estilo de vida mais próximo das telas do cinema do que à realidade
brasileira. Através das páginas da revista Veja, a cada ano mais coloridas, um
universo de coisas novas aconteciam e eram noticiadas como importantes
conquistas, transformações e mudanças na sociedade da época. Eu, como leitor,
direcionei muito o meu olhar para aqueles textos que anunciavam grandes
possibilidades e que, principalmente, abriam a minha percepção para um
universo particular que muito me interessava. Escrever este capítulo, consultando
as lembranças e as reportagens que a revista direcionava claramente aos mais
jovens, representou para mim a possibilidade de constatar o quanto nossa
3 PAGLIA, Camille. Personas sexuais: arte e decadência de Nefertite a Emilly Dickinson. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. p.67.
48
memória pode distorcer, ampliar ou deletar fatos simplesmente ao critério da
subjetividade e recepção que cada um traz.
Da projeção que Veja criou para a juventude da década, a imagem
que parece ser mais permanente é a de um grupo preponderantemente urbano e
por isso muito ligado aos gostos e estilos que somente uma grande cidade
poderia oferecer. Para ilustrar isso, muitas foram as reportagens de seções como
Comportamento e Vida Moderna que direcionavam para as grandes metrópoles
as suas publicações. Rio de Janeiro e São Paulo, o binômio cultural do país,
continuaram a difundir os modismos daquela época e, por isso, as tendências
destas duas cidades foram permanentemente divulgadas pela revista. Assim, a
estética propagada estava calcada em um tipo não apenas urbano mas também
litorâneo. Os fetiches ligados a um verão permanente deram as cartas mais
importantes desse olhar constante com que Veja contemplou o projeto
existencial daquela geração. Muitas das transformações que protagonizaram os
anos oitenta passaram pelos palcos, pelas avenidas, gravadoras, emissoras de
tevê e praias cariocas.
Paginando a revista, fica fácil perceber que para ela foi o Rio de
Janeiro a cidade espelho do Brasil e que também canalizou para si as mutações
mais profundas. A cidade se reinventou culturalmente mas, contudo, em alguns
momentos, foi também o cenário decadente dos descasos e irresponsabilidades
que infelizmente tão bem representam o país. Nas apoteoses mais marcantes do
decênio o Rio de Janeiro, segundo Veja, foi a cara do Brasil. No atentado do
Riocentro, nas areias do Circo Voador, nos panelaços da Candelária e nos sons
do Rock in Rio, o mesmo palco que potencializava as transformações e
49
modismos de um país inteiro. Ao menos para mim, como leitor da revista que fui,
foram com estas imagens trazidas por Veja que eu registrei o Rio de Janeiro.
Matérias que podiam potencializar essas imagens, como verifiquei ao longo da
pesquisa, de fato não faltaram.
Modismos
Sendo indiscutivelmente ainda uma capital cultural, a cidade
claramente mapeada em guetos, urbanamente divididos em zonas, foi sempre
um grande celeiro intelectual. Com bairros badalados à beira-mar, o Rio de
Janeiro viu alguns pontos deslocarem-se na preferência daqueles que faziam as
coisas acontecerem. Um dos exemplos que atestam essa idéia foi aquilo que
Veja considerou como a morte cultural do bairro de Ipanema, um dos símbolos
máximos da cidade4. Segundo a reportagem, o outrora efervescente ponto de
encontro onde artistas reuniam-se nos bares e botequins para conversas em
nada desinteressantes, havia se transformado completamente graças à onda
consumista que assolou o local transformando-o em um sofisticado centro de
compras da capital fluminense. Para a revista, a ex-supremacia de Ipanema fora
substituída pelo Baixo Leblon, apresentado como a nova Meca da noite carioca
que, com a sua máxima , “ir à luta que a vida é curta”,5 dava um novo fôlego às
4 A reportagem A morte de Ipanema aparece na seção Comportamento da revista Veja datada em 28 de maio de 1980. A matéria lamenta a transformação do bairro de Ipanema, outrora um reduto de intelectuais, o bairro se transformou em apenas um centro de consumo. 5 Essa máxima do bairro foi exposta pelo jornalista Fernando Gabeira, na seção Ponto de Vista, na Veja de 13 de fevereiro de 1980.
50
agitações promovidas pela juventude da cidade. Morar no Bairro Leblon, podia
interpretar o leitor do texto, tornava-se sinônimo de uma vida moderna e agitada.
Transpirando modismos e cultura vinte e quatro horas por dia,
também outros bairros da cidade mantiveram-se antenados no quesito
comportamento diferencial; na Lagoa, mais um nicho da vanguarda, instituiu-se o
Dancin´Nights6, nome dado à prática da patinação pelas estradas e calçadas do
bairro. Utilizando sofisticados patins importados e roupas colantes multicoloridas,
adeptos fervorosos cruzavam a noite banhados de ritmo e suor, segundo Veja,
uma diversão tão fascinante que muitas vezes estendia-se até a madrugada. No
verão ou no inverno7, no litoral ou no interior. Sobre o gelo ou o asfalto. A
patinação virou mania no circuito de opções de lazer ao lado dos restaurantes,
das discotecas, shows e bares da moda. Interessante que estas reportagens
traziam além obviamente dos textos, uma quantidade significativa de ilustrações
que transmitiam uma idéia de beleza, juventude e saúde sobre a prática da
patinação.
A juventude dos anos oitenta vendeu-se como a juventude da
beleza8. A edição com data de 5 de novembro de 1980 trouxe uma extensa
matéria acerca dos novos rumos que a juventude brasileira estava seguindo, de
6 Reportagem da seção Vida Moderna; Veja, 05 de março de 1980. A matéria destaca o entusiasmo dos jovens que fazem a festa durante a noite às margens da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro; com patins ainda importados e roupas colantes, a nova diversão às vezes is até às 4 horas da madrugada. 7 Reportagem da seção Vida Moderna; Veja, 25 de junho de 1980. A matéria é uma espécie de guia das melhores diversões para o inverno; o destaque vai para o agito da cidade de São Paulo. 8 Matéria especial da Veja, 5 de novembro de 1980. A reportagem destaca a roqueira Rita Lee como o símbolo de uma geração menos complicada, e mais preocupada com a beleza e a saúde do que com os grandes ideais que motivaram as gerações passadas.
51
acordo com a reportagem, a idéia foi a de passar uma juventude, ou turma, sem
as complicações das gerações anteriores e sem a ânsia voraz e utópica de
querer salvar o mundo. Longe da vigilância de um regime político que se
enfraquecia, a mocidade da década estava preocupada consigo, preocupada
com a saúde e também em ser bela sem os excessos do passado. Equilíbrio,
forma, plasticidade: os valores mais apregoados daquele momento. Sob as
bermudas e shorts, com as pernas à mostra, os anos oitenta caminhavam a
passos largos rumo a uma liberdade de expressão há muito acalentada.
Seguindo o ritmo das mudanças, também as relações afetivas ganharam um
discurso de deslocamento e recomposição. Os vocábulos paquera, namoro,
amizade ou noivado tornaram-se insuficientes para dar conta das transformações
que estavam acontecendo; os jovens adquiriram comportamentos que
simplesmente não cabiam mais nos rótulos prontos que àquele tempo existiam.
Nesse sentido, rapidamente foi cunhada uma expressão que
pudesse dar conta de um novo tipo de relacionamento que surgia, a “amizade
colorida.” 9 Em 1981, Veja, na seção Comportamento, explicava o que era a
chamada “amizade colorida”. A matéria não emitia um juízo, a idéia era explicar
exatamente como se dava aquele tipo de relação, seus códigos e tabus. Para a
revista, os envolvidos conceituavam a “amizade colorida” como um diferente tipo
de relação que não envolvia muito compromisso. Aquilo que não era namoro,
9 Reportagem da seção Comportamento;Veja, 15 de abril de 1981. A reportagem traz uma espécie de panorama que conceitua os novos valores da juventude brasileira. O novo tipo de relacionamento entre os jovens, sem muito compromisso e mais à vontade quanto às flexibilidades das relações ganhou o rótulo de “amizade colorida”; acredito que o termo “ficar” dos anos 90 é o resultado direto desse novo comportamento que começou a ser notado nos já nos anos oitenta.
52
caso ou uma simples amizade podia ser enquadrado na generosidade
comportamental da chamada amizade colorida.
Escândalo, promiscuidade, discursos moralizantes. Comentários
não faltaram, ainda que não tivessem força suficiente para estancar aquela onda
que com o tempo mostrou-se ser bem mais forte do que um modismo passageiro.
À medida que a década avançava, parece que ficava bem claro que
alguma transformação estava acontecendo com os jovens do Brasil. Assim,
diagnósticos investigativos foram feitos no sentido de identificar como pensava e
sobre o que pensava aquela geração tão distante da anterior.
Em 1984, Veja destina sua capa aos jovens. Com o título ambicioso
de Retrato do jovem brasileiro, a reportagem tentava dar conta das visíveis
mudanças de nossa juventude. O resultado, ao que me pareceu, foi uma
rotulação desnecessária, um enquadramento reducionista que, para a revista,
conseguia expressar as várias possibilidades de como ser jovem no país.
Classificados como integrados, independentes, contestadores, modernos ou
conservadores10, os jovens ganharam nesses termos uma classificação
existencial. Apontando a tendência política, religiosa e até a maneira de se vestir
de cada uma dessas possibilidades, fica fácil perceber a limitação da matéria na
tentativa de identificar os vários retratos que podiam apresentar a nova face dos
jovens dos anos oitenta que era, ao que parece, uma face em permanente
mudança.
10 Em 09 de maio de 1984 a revista Veja trouxe uma reportagem de capa intitulada Retrato do jovem brasileiro; nela existia a tentativa de demarcar os comportamentos e tendências da juventude brasileira dos anos oitenta.
53
Ágil e dinâmico, não era uma tarefa mesmo fácil traçar com
definição as transformações mais marcantes da juventude. O que realmente
queria, como pensava, qual o seu comportamento? Várias foram as perguntas
que o país fazia àqueles que um dia iriam dirigir o seu destino. Mas será que
existiam respostas para tantas dúvidas?
Não muito preocupada com isso, a geração que perseguia o brilho
do sol com pranchas, velas e asas-delta,11 como Veja registrou em reportagem
de capa em pleno mês de fevereiro de 1982 (ver anexo II), viveu o seu tempo
sem pensar muito nas teorias que pudessem explicá-la ou complicá-la. E, se os
dias eram iluminados pelo sol, os esportes, as academias e um corpo bronzeado,
as noites eram consagradas aos chamados templos da dança12. Esses lugares,
apresentados na seção Comportamento da revista, tornaram-se uma febre no
início da década, eram eles cenários cheios de luz que catalisavam para si a
imensa profusão de energia dos jovens. Boates e danceterias, contornadas a
néon, foram uma projeção de sonhos guardados no inconsciente, corajosamente
ancorados à noite, longe dos pais, nas pistas giratórias de uma década dançante.
Música, shows, animação: algumas das muitas rotações dos anos oitenta. As
ilustrações que a revista trazia desses lugares eram de fato muito atrativas: o
colorido das luzes, a foto de belos jovens esbanjando saúde e diversão. Os
11 Referência à reportagem de capa da revista Veja datada em 03 de fevereiro de 1982. A matéria descreve a influência que os ídolos de alguns esportes estavam exercendo sobre aquela geração. Com o título Os esportes do sol, a revista exaltava a preferência de jovens saudáveis por esportes não muito convencionais até então no Brasil. 12 Reportagem da seção Comportamento; Veja, 04 de julho de 1984. Esta matéria destaca a verdadeira explosão das danceterias por todo o país; o nome de algumas bandas como Barão Vermelho e Kid Abelha ganha relevo como as preferidas nas pistas de dança. A casa de show Mamute, na Barra da Tijuca, RJ, também é destaque com os recordes de público que estava registrando em suas noites.
54
jovens, como eu já mencionei, ganharam um destaque especial na revista através
de inúmeras matérias que tentavam comentar a significativa mudança
comportamental que eles protagonizavam no país.
Seguindo outros modismos, preponderantemente urbanos, o campo
da diversão também ganhou pulso com a febre dos fliperamas. É verdade que
nesse item a compulsão foi muito mais adolescente do que propriamente jovem.
No entanto, instalados em locais estratégicos como shoppings, academias e
bares, essas máquinas, Veja definia em 1982, haviam perdido a má fama que
possuíam, como incentivadoras dos jogos de azar, e passaram a ser vistas como
uma simples diversão, barata e rápida, conquistando multidões de brasileiros. Os
fliperamas, em alguns locais, engoliam meio milhão de fichas por dia. Tamanho
sucesso não se restringiu apenas ao cenário teen, a motivação virou mania para
as muitas idades que se divertiam nas chamadas máquinas dos sonhos13.
Um sonho ameaçado
Liberdade. Essa palavra perscrutou demais a mentalidade da
juventude da década. Liberdade para votar, para sair de casa, para escolher a
13 Reportagem da seção Divertimento; Veja, 26 de maio de 1982. A exemplo do flipperama do Rio Barra Shopping, segundo a reportagem, essas máquinas de jogos eletrônicos perdem a má fama e conquistam multidões de brasileiros, sobretudo entre os mais jovens; o sucesso é descrito também pelo número estimado fichas que são consumidas para os jogos. Meio milhão, segundo a revista.
55
profissão que desejasse. Liberdade para namorar como e quem quisesse.
Liberdade para fazer sexo sem o peso moral que ele sempre inspirou. As coisas
começaram muito bem; um amor livre e sem culpa parecia ganhar terreno até
que uma misteriosa epidemia começou a minar o sonho de viver uma
sexualidade tranqüila e segura.
Eu hesitei em comentar sobre o fenômeno AIDS nesta dissertação.
Primeiro, pela grandiosidade e complexidade do tema. Segundo, porque imensa
foi a cobertura de Veja sobre o assunto. De fato, uma cobertura tão grande que
seria necessário um capítulo só para isso. Contudo, optei sim por comentar essa
questão porque muitas foram as reportagens sobre a AIDS que enfocavam
diretamente os jovens. As campanhas vinculadas às páginas de Veja, os
depoimentos, o público alvo. Nesses espaços também os jovens foram o grande
destaque, assim, as referências à AIDS aqui estão em sua imensa maioria
ligadas ao binômio AIDS-jovens. Outra razão é que o impacto que essas matérias
tiveram sobre a minha memória como leitor da revista foi gigantesco. Com
manchetes apocalípticas, a AIDS circulou pelas páginas de Veja como uma
verdadeira praga. Morte, peste, maldição, pecado, medo. Para um leitor da
revista Veja nos anos oitenta, foram com essas palavras que a AIDS entrou em
seu registro de leitura.
Foi com discrição que as primeiras notícias sobre a doença
chegaram ao Brasil. Em notas curtas, quase despercebidas, ocupando meia
página quando muito, eram reportagens vagas, pouco esclarecedoras e que não
definiam absolutamente nada. E nem poderiam, é claro. A história da AIDS é tão
mórbida e sinuosa que chega a ser fascinante. Horrivelmente fascinante. Ela
56
criou em torno de si uma cadeia interminável de narrativas dramáticas, coletivas e
individuais, que a transformaram na moléstia mais temida de nossa época.
Poucas doenças ao longo da história universal ganharam um peso metafórico tão
rico e diverso quanto o dela. Criando solidão, abandono, medo e nojo a sua volta,
a AIDS rapidamente transformou-se na doença da grande mídia. Carregando
discursos apocalípticos, ela ganhou vida própria, foi personificada em uma sigla
que se tornou sinônimo de maldição e desprezo. A AIDS, para mim, foi um dos
grandes personagens dos anos oitenta. Mutante por natureza, ela infiltrou-se nos
meandros mais estreitos da sociedade. Não respeitou castas nem ideologias;
propagou-se como um veneno letal. Com velocidade deixou o nicho com o qual
foi reconhecida e provou ser muito mais democrática do que julgavam os
puritanos de plantão que a identificaram como sendo um castigo justo àqueles
que não respeitavam o código moral judaico-cristão. Obscurantismo. Fanatismo.
Irracionalidade. Acendendo paixões, a doença personificou-se como um mito de
pavor; uma Górgona petrificando os sonhos de amor e liberdade da geração
oitenta.
As primeiras reportagens da revista que foram publicadas traziam
descrições imprecisas e opiniões diversas. Mas muitas especulações. Sendo
inicialmente batizada de “praga gay” ou “câncer gay”, a doença suscitou muitas
sondagens teóricas. A primeira reportagem que identifiquei, nas páginas de Veja,
em julho de 1982, dizia que, entre outras coisas, a grande quantidade de
57
hormônios femininos ingerida por alguns homossexuais masculinos estaria
causando a incontrolável e ainda misteriosa doença. 14 (ver anexo III)
Caracterizando-se então como um mal bem particular, restrito a um
grupo historicamente marginalizado, ela rapidamente foi ganhando um volume de
interesse cada vez maior. Matando inicialmente homens gays das grandes
metrópoles americanas, muitos ligados ao mundo cultural da cidade, a AIDS
explodiu como uma aberração, e ganhou uma atenção sensacionalista nunca
vista antes.
Doença que construiu um discurso moral incrível, não foram poucos
que a interpretaram como o castigo de um Deus sempre disposto a lutar em
causas bem particulares. Sobretudo a dos fanáticos que buscaram na Bíblia uma
justificativa para a nova peste. Membros da horrenda Ku Klux Klan, organização
de extrema direita que tem forte apelo em alguns estados sulistas dos Estados
Unidos, foram às ruas explicando o significado da AIDS: segundo eles, “um
presente de Deus para os homossexuais”.15 Essa matéria, publicada já em 1986
por Veja, trazia uma foto com a manifestação dos integrantes da KKK nos
Estados Unidos carregando cartazes semelhantes. Relendo o texto, percebi o
distanciamento da revista quanto ao fato. Sem emitir uma opinião clara quanto a
esse tipo de associação entre AIDS e pecado, Veja deixava transparecer uma
14 Reportagem da seção Medicina; Veja, 14 de julho de 1982. Esta matéria ainda não fazia alusão à sigla AIDS, ela apenas mencionava a misteriosa doença que alguns médicos americanos estavam identificando entre os homossexuais das grandes cidades dos Estados Unidos. 15 Reportagem da seção Comportamento. Matéria que enfatiza o ódio que a AIDS despertou em alguns grupos extremistas. Membros da Ku Klux Klan foram às ruas com cartazes estampando frases como essa: “AIDS: God´s gift to homosexuals, Leviticus, 20:13.” Veja, 01 de janeiro de 1986.
58
não certeza quanto ao tipo de viés com o qual abordaria a nova moléstia que
surgia.
Intolerância e preconceito. Tão mortais como a AIDS, eles
estiveram atrelados desde sempre à doença. Inicialmente identificado como
HTLV-3, o futuro HIV era um enigma fantasmagórico que impunha às suas
vítimas uma carga talvez muito mais insuportável do que as infecções que
danificavam seus corpos. A síndrome da deficiência imunológica adquirida
mostrou-se ser antes de tudo também a síndrome do medo. Causando alarme e
mudando radicalmente os hábitos daqueles que se viam como pertencentes a
algum grupo potencialmente vulnerável, a doença também levou um mal-estar a
relações que estavam muito longe de representar qualquer ameaça. Em julho de
1983 Veja publicou na seção Comportamento uma matéria que divulgava uma
mudança de hábito em algumas mulheres que evitavam beijar, como sempre
faziam, os seus cabeleireiros, 16 porque os identificavam como homossexuais e
por isso alvos certos do flagelo. Diante de incertezas, também nessa matéria a
revista eximiu-se de julgar o procedimento dessas mulheres. Coube apenas
noticiar.
Assunto velado que foi, famílias apavoravam-se com a possibilidade
de encontrar em seu seio um portador daquela doença maldita. E não poucos
foram os casos em que óbitos apresentando um quadro clínico típico de um
portador do HIV foram adulterados com o objetivo de preservar a memória e a
moral. Do paciente ou da família? Vergonha. Essa palavra define bem o que
16 Reportagem da seção Comportamento; Veja, 06 de julho de 1983.
59
significava ter um aidético entre os filhos, irmãos, tios ou primos. Alguns
simplesmente negavam terminantemente que aquilo pudesse acontecer. A mãe
do artista plástico Jorge Guinle Filho, por exemplo, não admitiu a verdadeira
causa de sua morte. “AIDS era uma palavra que sequer fazia parte do seu
vocabulário”, foi assim que Veja divulgou a atitude da mãe de Jorge Guinle Filho.
Para ela, o filho contraíra uma desconhecida doença tropical não detectada pelos
médicos americanos.17
Enquanto as mortes seguiam, o vírus prosperava com força
avassaladora. Prognósticos sombrios traziam um mapa pessimista que anunciava
a encruzilhada contra uma epidemia até então triunfante; potencialmente fatal.
Inúmeras foram as tragédias que compuseram a história da AIDS no Brasil, mas
uma das mais singulares, que retrata muito bem o descaso e despreparo do país
para enfrentar semelhantes problemas, é o caso do cartunista Henfil e seus
irmãos. Hemofílicos, freqüentadores dos abandonados bancos de sangue de um
país miserável, como tantos outros milhares, eles se contaminaram da maneira
mais inaceitável e sórdida: na luta pela sobrevivência adquiriram um inimigo
muitas vezes maior do que suas deficientes plaquetas sangüíneas. 18 Pela
notoriedade que possuía, a revista deu grande destaque a contaminação de
Henfil e como conseqüência aos bancos de sangue do Brasil.
Uma guerra nojenta entre bancos de sangue e Estado começou a
ser travada com a finalidade de fiscalizar o sangue coletado. Para muitos, uma
17 Reportagem especial de Veja, 27 de maio de 1987. 18 Reportagem da seção Saúde; Veja, 23 de setembro de 1987.
60
guerra já perdida; mas o fato é que, conforme Veja apontava em 1987, o Brasil
inicialmente “vacilou” 19 em traçar medidas preventivas que pudessem conter o
brutal alastramento do HIV. Enquanto o mundo se armava, dormíamos em berço
esplêndido.
Doença perniciosa, a AIDS no Brasil seguiu também um roteiro
pronto. Ligada aos homossexuais, ela aqui apenas reproduziu um discurso que
vinha de fora, mais precisamente dos Estados Unidos. A primeira vítima famosa
do Brasil foi o costureiro Marquito. 20
Classificada como um mal ligado ao universo gay, é fácil perceber
uma espécie de indiferença junto aos textos que descreviam aquele enigma
insondável. O costureiro Marquito cabia perfeitamente na moldura pronta da AIDS
e por isso não causou muito alarde, mas quando ela começou a trilhar outros
caminhos e “saltou do círculo homossexual”,21 como Veja publicou em
reportagem especial em novembro de 1986, ai então ela começou a ser encarada
como o que de fato era: “uma catástrofe”. E como tal deveria ser combatida.
Percebendo a sua disseminação no respeitado e saudável círculo
heterossexual, viu-se então o real interesse dos governos de países atingidos em
motivar políticas que pudessem estancar o avanço da moléstia por meio
19 Reportagem especial que critica o descaso dos órgãos competentes quanto a possíveis medidas preventivas capazes de conter o alastramento do vírus HIV. Veja, 17 de dezembro de 1987. 20 Reportagem da seção Medicina; Veja, 15 de junho de 1983. 21 Reportagem especial de Veja, 12 de novembro de 1986. A revista chamou de “terceira onda” o que considerava a fuga da AIDS dos grupos homossexual e usuários de drogas para os heterossexuais que também estavam se contaminando a uma proporção cada vez maior.
61
inicialmente de campanhas publicitárias, 22 como Veja anunciava na matéria “Na
fronteira do medo”: mais uma das muitas reportagens especiais que a revista
dedicaria a cobrir a rápido alastramento do HIV.
A AIDS, eu já disse, tem uma história fascinante. Cheia de
símbolos, ela foi capaz de criar narrativas que hoje parecem pequenos contos
medievais repletos de uma névoa pesada de ignorância e irracionalidade. A
reação que a cidade de Araquari, 23 interior de Minas Gerais, apresentou diante
da possibilidade de ter a sua primeira vítima da doença é um caso que hoje
podemos considerar patológico. Cômico e tristemente patológico. Uma aberração
social. Envolvendo um cabeleireiro da cidade, conforme divulgava a matéria da
revista, boatos ricos em imaginação davam conta de fatos curiosos
protagonizados pelo possível doente. Alguns moradores espalharam notícias
bizarras como os banhos no açude que o cabeleireiro tomava propositadamente
com o único intuito de contaminar com o HIV a maior quantidade de pessoas que
pudesse; outros também diziam tê-lo visto, durante a noite, a invadir quintais para
esfregar-se nas roupas estendidas dos varais para impregná-las com o vírus. As
pessoas acreditavam que isso fosse mesmo verdade? A julgar pelo que fizeram
sim. Segundo a mesma reportagem de Veja, o cabeleireiro e sua mãe foram
expulsos da cidade, vivendo um exílio forçado, sem qualquer opção.
Desprezo e ódio misturaram-se no emaranhado de emoções que a
AIDS despertou. Como que marcando a ferro aqueles a quem atingiu, ela
22 Reportagem especial de Veja, 28 de janeiro de 1987. 23 Reportagem da seção Comportamento; Veja, 04 de setembro de 1985.
62
adquiriu uma aura de maldição que povoou o imaginário popular. Em outubro em
1987 a capital de Santa Catarina estava nas páginas na revista mais lida do país
graças a uma notícia estarrecedora. Em Florianópolis, a polícia denunciou um
casal de viciados que, contaminados, haviam feito um pacto de morte jurando
infectar o maior número de pessoas que conseguissem. 24 (ver anexo IV) A
população ficou assustada. Cidade turística por excelência, alguns acreditavam
que a notícia poderia expulsar os visitantes com medo do casal maldito.
Economicamente a AIDS também foi um desastre.
O surgimento do AZT, publicado por Veja em 1986, 25 representou
uma pequena vitória após anos de insucesso contra o vírus. No entanto, a nova
droga tornou-se também o marco de uma outra batalha. A financeira.
Insuflados pelo prestígio que a descoberta de uma possível cura
pudesse dar, alguns pesquisadores engalfinharam-se na luta por patentes e
novas descobertas relacionadas à doença. Representando um saudável negócio,
a corrida pelas descobertas teve cifras milionárias. 26 Tornou-se célebre a guerra
travada entre o americano Robert Gallo e o francês Luc Montagnier pela
paternidade do vírus HIV. O mercado da morte lucrou muito com a AIDS.
24 Reportagem da seção Saúde; Veja, 28 de outubro de 1987. Com o título “Viagens de alto risco”, a reportagem anunciava com detalhes o possível pacto de morte que um casal de aidéticos havia feito para contaminar o maior número possível de pessoas com o HIV. 25 Reportagem da seção Saúde; Veja, 24 de setembro de 1986. 26 Reportagem da seção Medicina; Veja, 20 de novembro de 1985. Esta matéria apresenta as cifras milionárias envolvidas em uma possível cura para a AIDS; a disputa entre o americano Robert Gallo e o francês Luc Montagnier pela patente de descoberta do vírus é o assunto principal da reportagem. Para Veja, a AIDS também era, infelizmente, um “saudável negócio”.
63
À medida que os anos passavam, rostos famosos somaram-se ao
mar de anônimos que morriam no esquecimento, representando apenas números
infelizes. O astro de Hollywood Rock Hudson foi a vítima mais famosa da década.
Em julho de 1985, na seção Medicina, Veja anunciava a revelação do ator
americano, e junto a essa notícia, destacava também o aumento “ao redor do
mundo do medo e das indagações sobre as causas e os riscos” 27 da AIDS.
Revelando que era portador do vírus, o ator também fazia uma confissão; um ato
de mostrar-se sem máscaras, abrindo o jogo sobre sua sexualidade.
Homossexual enrustido, protótipo do galã conquistador, a AIDS expunha
verdades escondidas de sua vida sob o tapete.
A brilhante ensaísta americana Susan Sontag, em Aids e suas
metáforas, 28 expõe toda a carga simbólica que envolve a vida daqueles que
foram atingidos pelo vírus HIV. Como Rock Hudson, o aidético tinha a sua vida
devastada pela curiosidade estranha. Gay, heterossexual promíscuo ou usuário
de drogas injetáveis? O julgamento moral gerado pela sociedade mostrou ser tão
poderoso quanto a própria fatalidade que sem avisos ceifava vidas. A AIDS caiu
como uma luva àqueles que se rebelavam contra [...] O que mesmo? Permeado
por indagações sem fim, o HIV foi também um bode expiatório, uma fronteira
invisível entre o que a sociedade admitia e o que ela expelia de suas próprias
entranhas. Foi a hipocrisia social que demonizou a AIDS como uma reação até
27 Reportagem da seção Medicina; Veja, 31 de julho de 1985. 28 SONTAG, Susan. Aids e suas metáforas. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. O grande peso metafórico que a AIDS traz sobre aqueles que vitimiza é explorado pela ensaísta americana de forma a ressaltar as idéias prontas e preconceituosas que giram em torno da doença.
64
compreensível àquilo que ela mesmo mais temia: a fusão entre sexo e liberdade.
Uma mistura inadmissível ao ethos judaico-cristão.
Ao final da década, quando o pânico já estava disseminado e havia
se tornado uma obsessão para a mídia, tornou-se comum a incursão no mundo
daqueles que iriam morrer. Eu acredito que grande parte do interesse
despertado, dos detalhes sugeridos, das confissões reveladas, pode ser atribuída
à natureza mórbida que alimentamos em relação à morte. A AIDS não era um
flerte, era um elo de rompimento definitivo com a vida. Reportagens contavam em
minúcias o cotidiano dos pacientes pelos maiores hospitais do país. E foi isso o
que Veja fez em agosto de 1988. Com a manchete de capa “AIDS: os que vão
morrer contam sua agonia”, ilustrando uma máscara mortuária em sua capa,
esta edição, que entrou no meu imaginário de maneira fantasmagórica, era um
passeio cheio de detalhes pelos leitos dos que, conforme a manchete, “iriam
morrer”. 29 (ver anexo V) Um cenário de agonia, pavor e desprezo. Com
depoimentos, fotos e histórias de vida, a reportagem dantesca descrevia a via-
crúcis que era a vida de um portador do HIV no Brasil.
Fazer a cartografia do que a AIDS significou para os anos oitenta e
a sua juventude é encontrar personagens que protagonizaram uma tragédia
mundial; rostos que perderam a sua identidade marcados por uma doença que
apagava qualquer biografia, não respeitando nenhuma história, de perdas ou
conquistas. Toda uma vida se resumia a uma sigla de apenas quatro letras.
29 Reportagem de capa da revista Veja, 10 de agosto de 1988. Com a capa “AIDS: os que vão morrer contam sua agonia”, a reportagem faz uma “incursão” pelo dia-a-dia dos pacientes, médicos e enfermarias hospitalares. A idéia é a de mapear o cotidiano daqueles que estavam diretamente ligados à doença no Brasil.
65
Rastreando esses apagamentos, eu escolhi o ator Lauro Corona
como o segundo modelo de representação desse capítulo. A razão é que ele
personifica ao mesmo tempo a juventude saudável da década e o mal mais
temido que se abateu sobre ela.
Reverenciado como um dos galãs do vídeo mais badalados, já no
início de sua carreira ele consagrava-se como um sucesso de público e de crítica.
Em 1980, na seção Televisão, Veja saudava Lauro Corona como uma das
revelações mais promissoras da tevê brasileira, a matéria “Na casa dos vinte”
ressaltava ainda o caráter disciplinado do ator jovem ator de 22 anos. 30
Com apenas 1,63 de altura, Lauro Corona encantava com outros
atributos. Dono de um sorriso luminoso, olhos azuis faiscantes, cabelos fartos,
ondulados e um falar terno, arquétipo do bom moço, ele amealhou personagens
carismáticos; jovens apaixonados, quase sempre lutando contra alguma
adversidade que impunha obstáculos à plenitude do amor concretizado. Bom
filho, educado, bonito e talentoso. Praticava esportes também e com o tempo
esculpiu um físico torneado contrastando com o visual mirrado das primeiras
aparições na tevê.
Por tudo isso, a sua morte em julho de 1989 foi uma surpresa. Na
seção Saúde a revista Veja publicou uma ampla reportagem sobre as
circunstâncias que envolveram a morte do ator. Segundo Veja, nos últimos
meses Lauro Corona já não saia mais de casa. Havia voltado a morar com os
30 Reportagem da seção Televisão; Veja 04 de junho de 1980. A matéria “Na casa dos 20” apresentava uma lista dos jovens atores mais promissores da televisão. Entre eles estavam: Fábio Júnior, Kadu Moliterno, Taumaturgo Ferreira e Lauro Corona.
66
pais e se dizia acometido por uma doença desconhecida. Também se mostrava
aborrecido com as notícias mentirosas, segundo ele, sobre a verdadeira causa da
fragilidade de sua saúde. Em nenhum momento a AIDS circulou como uma
possibilidade. Talvez somente inconscientemente já soubesse. Sua morte foi
rápida demais, até o início daquele ano de 1989 ele ainda gravava sua última
novela, com afastamentos periódicos, mas ainda assim com um aspecto senão
de vigor, ao menos fleumático. Mas muito abatido se contrastado com suas
aparições anteriores no vídeo. O definhamento do ator, ainda seguindo o texto da
revista, poderia ser atribuído à sua recusa em saber e à insistência em tratar-se
com remédios homeopáticos até o fim. 31 E, talvez ainda, combalido pela imensa
carga psíquica que a AIDS impunha a suas vítimas. Como justificar-se diante da
sociedade? Como confessar a doença? O personagem de aidético foi um papel
insuportável demais para Lauro Corona representar. E foram poucos os que o
aceitaram sem qualquer categoria de receio. Embora freqüentasse a noite, o
jovem galã, de acordo com a mesma matéria de Veja, nunca tivera uma
namorada fixa ou um relacionamento estável. Sua vida íntima insinuava segredos
para a imprensa de boteco; declarar-se um soropositivo era expor-se a um
vampirismo social nefasto. Lauro Corona temia com razão. Sua biografia no final
se resumiu a um só papel: o jovem ator que morreu de AIDS.
Medo e vergonha. Esses sentimentos são os espelhos opacos da
epidemia que até o ano 2000 levaria à morte milhões de pessoas. Encerro aqui
31 Reportagem da seção Saúde; Veja, 26 de julho de 1989. A matéria traz uma descrição da trajetória de Lauro Corona como galã de telenovelas e aponta a significativa mudança de vida por que o ator passou nos meses que antecederam a sua morte.
67
meus comentários sobre a AIDS dentro desta dissertação com uma cena ímpar.
Imaginá-la é um exercício que resgata um questionamento sobre a nossa própria
natureza humana. Essa reportagem, entre tantas que a revista Veja publicou
sobre a doença, representou para mim uma imagem definitiva dos perigos que
cercavam a AIDS. Reencontrar essa matéria durante a pesquisa foi um exercício
meu de confronto à revista como principal operadora de minhas primeiras
leituras: em uma concentração de homossexuais em Washington, E.U.A., os
policiais que vigiavam os manifestantes protegiam-se com luvas 32 (ver anexo VI)
para evitar qualquer contato epidérmico com os possíveis contaminados. Havia
mesmo motivos para isso? Não há respostas ao longo da reportagem. Ao leitor
apenas a notícia: policias se protegiam com luvas para não tocarem nos
possíveis contaminados.
Bem, a verdade é que a AIDS foi satanizada e anunciada como
uma praga que dividia o mundo entre justos e imorais. Presos ao discurso dos
anos oitenta talvez tanta precaução desnecessária e preconceituosa fizesse de
fato algum sentido. Afinal, cada tempo guarda para si medos e vergonhas
particulares que somente a história é capaz de corrigir. Ou amenizar.
O legado de uma geração
32 Reportagem da seção Internacional; Veja, 10 de junho de 1987. A matéria “Mobilização global” informava que o assunto AIDS havia entrado na pauta das grandes reuniões de cúpula internacionais. A reportagem destacava também uma manifestação de homossexuais nos Estados Unidos em que os policiais protegiam-se com luvas com medo de tocarem pele-a-pele os manifestantes. A mensagem do então presidente americano quanto à doença também ganha destaque, segundo Veja, nas palavras de Ronald Reagan: “É hora de sabermos o que temos pela frente.”
68
Fazendo um balanço, eu visualizo um saldo positivo. A juventude
dos anos oitenta, a juventude que não quis muito conhecer Freud ou Lênin, como
Veja anunciava em 1985, 33 a juventude das academias, das praias e da amizade
colorida, deixou um retrato diferencial para a posteridade.
Reciclando o passado, de olho no presente e sonhando com as
promessas do futuro, ela viveu intensamente a sua época com todas as
vantagens e desvantagens que esta lhe ofereceu. Permitiu reinventar-se com
uma nova imagem, bem longe da frieza dos anos setenta ou dos alucinados
sessenta. Ser jovem no Brasil nos anos oitenta, eu penso, foi antes de tudo um
exercício de originalidade e criatividade; mas com um toque de reciclagem, é
verdade. Umas cores, sons e cortes que, sob outros tons, já haviam aparecido
antes, sem as possibilidades, no entanto, que só aquele momento poderia
oferecer. Especialmente no Brasil.
A revista Veja, como importante mídia escrita que foi para a década,
tentou retratar as várias modificações que estavam acontecendo no universo
jovem do Brasil. Através de seções como Moda, Comportamento, Lazer, Diversão
e Sexo, a revista tentou dar conta das rápidas transformações que surgiam.
Neste capítulo, eu procurei ilustrar algumas dessas transformações tendo como
embasamento o que Veja publicou e que de maneira mais viva ainda permanecia
em minha memória como leitor da revista. Termino este capítulo com um
33 Reportagem especial de Veja, 21 de agosto de 1985. Esta reportagem buscava traçar o novo perfil dos adolescentes no Brasil; a matéria é bem otimista e não aponta a falta de politização como uma falha. A definição é a de que os jovens seriam na verdade muito mais seguros, conservadores e responsáveis do que pensavam “seus aflitos pais”.
69
carioquismo da década que expressa bem o espírito e a vida daqueles jovens
brasileiros. Aqui, então, é issa, brá!34
34 Gíria carioca. Significa, beleza, irmão! Reportagem de Veja, 25 de setembro de 1985. As novas gírias da juventude carioca são o tema da matéria na seção Comportamento; o foco central é para os novo carioquismo que surgia na Barra da Tijuca, novo reduto da classe alta do Rio de Janeiro.
70
A TELEVISÃO BRASILEIRA NOS ANOS OITENTA
A televisão, em um país carente em hábitos culturais como o Brasil,
adquire um papel fundamental como instrumento de formação sócio-cultural. A
tevê é uma porta de entrada para realidades longínquas e diversas que jamais
seriam acessadas caso ela não existisse; sua democratização é uma vitória
soberba que não deve ser menosprezada ou vista com pedantismo elitista. As
elites também têm grande parcela de sua formação ancorada nas programações
televisivas, de boa ou baixa qualidade. A verdade é que as gerações formadas na
segunda metade do século XX no Brasil tiveram a sua sensibilidade perceptiva
constituída a partir das imagens vinculadas à tevê.
Em um país continental como o Brasil a tevê estreitou distâncias,
amenizou diferenças culturais e uniu, primeiro em preto e branco, depois em
multicores, os contrastes mais gritantes que desconhecíamos. Tornou-se um
membro da família. Polemizou. Escandalizou. Fez rir e chorar. Promoveu grandes
debates e discussões ideológicas. Qual outro mecanismo de interatividade foi tão
eficaz? Difícil responder.
Ela esteve presente em praticamente todos os lares. Disseminou-se
como um hábito diário das pessoas e reestruturou as rotinas familiares. Há
lugares em que a tevê é a única capaz de antenar só para si as atenções alheias.
Sendo então uma aglutinadora social, uma unanimidade de lazer em um país
pobre e sem muitas opções às classes menos favorecidas economicamente, é
natural que as muitas benesses que ela proporciona sejam ferrenhamente
questionadas pela intelectualidade. Manipuladora, acrítica, alienada e alienante.
71
São muitos os adjetivos depreciativos que pesam sobre os programas televisivos.
No entanto, ao que tudo indica, nenhum deles suficientemente forte ou bem
estruturado em argumentos eficientes capazes de levar a uma significativa
mudança no hábito dos brasileiros em assistir aos programas da tevê nacional.
Por ser uma presença constante no cotidiano da população, a
revista Veja dedica uma seção especial a cobrir o que julga ser aquilo que de
mais interessante acontece nos canais de televisão do país. Ao longo dos anos
oitenta, a seção Televisão da revista cobriu os mais diferentes programas.
Telenovelas, mini-séries, shows de auditório, programação infantil etc. Vários
foram os programas sobre os quais a seção da revista deu a sua crítica.
Este capítulo, assim como os demais, tem o mesmo propósito, ou
seja, trazer um recorte das matérias que para mim, como leitor que fui da revista,
maior impacto tiveram na construção da minha memória de leitura, e também
contrastar o registro feito com o que de fato Veja publicou.
O brasileiro e a televisão
O brasileiro, carente que é de possibilidades de acesso ao lazer e
entretenimento, tem na televisão a sua janela para o mundo. É por ela que muitas
das suas verdades são construídas, substituídas ou simplesmente apagadas; ela
é tão importante em nosso país que os brasileiros, eu penso, desenvolveram um
olhar quase televisivo sobre as coisas. Instantâneo, sem aprofundamentos, de
linguagem popular, rápido: um olhar talvez não sofisticado, mas aprimorado
72
lentamente, ancorado de modo firme sobre um gosto bem particular na arte de
ver e ouvir.
A tevê do Brasil é um cadinho cheio de ofertas. Há um cardápio
básico, às vezes refogado, que desde muito tempo contribui para a construção de
uma produção televisiva nacional muito diferenciada. Nos anos oitenta, no
entanto, eu identifico importantes focos de reestruturação que deram um novo
gás à nossa programação. Alguns se tornaram modelos antológicos que seriam
repetidos à exaustão; marcaram o imaginário popular com cenas memoráveis,
difundidas por telas cada vez maiores e já devidamente acessadas por um
aparelho novo, um apêndice, o controle remoto, um luxo diferente para um
produto já tão popular e massificado.
As telenovelas
Permeando o imaginário dos brasileiros, a tevê aqui ganhou
contornos diferenciais; criou um produto absolutamente sui generis, irrepetível: a
telenovela brasileira. Como o futebol, é ela uma preferência e paixão nacional no
quesito programas de televisão. Nos folhetins eletrônicos o país se vê, sorri,
chora e discute. Se cada brasileiro imaginasse um roteiro para retratar sua vida,
ele não se daria aos moldes da memória proustiana ou do prodigiosismo
detalhista de um Balzac. Ele seria, eu acredito, um roteiro de novela; porque é
ela talvez o programa mais fiel às alegorias imaginadas por milhões de
telespectadores. Os personagens de novela têm suas histórias comentadas na
73
rua como se fossem próximos, como se de fato fizessem parte do cotidiano dos
telespectadores.
País continental, recortado por culturas variadas e histórias
distintas, a tevê e o seu produto maior, a novela, têm cumprido com louvor para
muitos a função de expressar a imensa riqueza cultural da nação. Esse capítulo
dá uma ênfase especial às novelas dos anos oitenta que melhor caíram no gosto
do público e às discussões que provocaram. Sob muitos aspectos elas foram
uma congérie das mais diversas possibilidades temáticas que o afrouxamento e
depois fim da censura provocou nas tramas levadas ao ar. A revista Veja, que
publicou extensas matérias sobre muitas novelas, dedicou muito espaço da
seção Televisão a cobrir os grandes sucessos e também alguns grandes
fracassos da teledramaturgia nacional.
Em 1986, Walter Avancini, um dos mais importantes diretores de
telenovelas, foi o entrevistado de Veja nas suas páginas amarelas. Segundo a
entrevista, Walter Avancini defendia ardorosamente o caráter provocativo que
uma novela deveria ter; já que para ele as novelas não eram simplesmente um
comum programa de entretenimento; “levar inquietude e refletir o comportamento
da sociedade são objetivos fundamentais que uma novela deveria ter,” segundo
o consagrado diretor. 1
Desprestigiada segundo a crítica pela baixa qualidade técnica,
elenco despreparado e enredos frágeis, não são exatamente estes os
1 Entrevista concedida pelo diretor Walter Avancini às páginas amarelas da revista Veja, com data de 26 de março de 1986. Para o importante diretor, a novela é um elemento que “deve inquietar”; Walter Avancini também defende as cenas sensuais que são levadas ao ar porque segundo ele elas refletem apenas o comportamento dos brasileiros.
74
ingredientes encontrados em muitas das críticas que a revista Veja fez a várias
novelas daquela década. Usarei algumas delas para ilustrar as representações
que este gênero pôde trazer e as discussões que proporcionaram ao cotidiano
comum das pessoas que as acompanharam conforme a leitura proporcionada
pela revista.
A novela Guerra dos sexos, levada ao ar em 1983, apresentou na
opinião de Veja uma verdadeira constelação de estrelas. 2 Segundo a
reportagem, a presença de ícones sagrados vindos do teatro, dava mais
prestígio e um toque de arte inusitado para os padrões da época. A crítica ainda
ressaltava o fato de que Guerra dos sexos poderia ser um marco divisor para a
TV Globo no sentido de abrir caminhos mais arrojados que apostavam em um
rico elenco e em um roteiro com forte verve cômica.
A novela de fato parece ter caído nas graças do público, marcando
o início de uma fórmula que se repetiria constantemente. Consagrada como a
novela daquele ano segundo a seção Televisão na edição de 24 de agosto de
1983, 3 Guerra dos sexos, dizia a crítica, deixava cenas inesquecíveis. Entre os
possíveis motivos que explicavam o sucesso, destacava-se: a trama simples mas
bem cuidada sob a direção primorosa de Jorge Fernando e que de certa forma
levou um espetáculo teatral requintado à sala de casa dos brasileiros; e também
os experientes Paulo Autran e Fernando Montenegro, símbolos de uma geração
dramática inconfundível, ao emprestarem toda sua credibilidade à obra, deixando 2 Reportagem da seção Televisão; Veja, 08 de junho de 1983. A matéria ressalta o fato da rede Globo ter escalado o seu mais rico elenco na novela das sete; a interpretação é a de que a emissora buscava “novos caminhos na arte de representar para a TV”. 3 Reportagem da seção Televisão; Veja, 24 de agosto de 1983. A aposta da rede Globo dá certo, com altíssimos índices de audiência, Guerra dos Sexos se consagra como a melhor novela de 1983.
75
de lado um pedante preconceito que muitos atores tarimbados nutriam em
relação à tevê. Depois de Guerra dos sexos, outras experiências ainda não
tentadas foram seguidas no intuito de cada vez mais aprimorar o gênero. Muitas
delas tão ou mais bem sucedidas quanto esta.
Falar de boas novelas no Brasil, salvo algumas ótimas exceções, é
fazer uma referência direta às produções da rede Globo. Suas novelas são
praticamente insuperáveis para outras emissoras. Assim, as obras mencionadas
aqui, quando não especificada a emissora que a produziu, devem ser entendidas
como um produto da rede Globo de televisão. Talvez em parte pela tradição e
também pelo grande investimento financeiro que aplica, as novelas da Globo têm
uma distância fenomenal das demais que lhe tentam, quase sempre inutilmente,
roubar a avassaladora audiência e atenção que despertam. A novela brasileira,
agradando ou não, é a novela produzida pela tevê Globo. Não há comparações
realmente que mereçam muito destaque; ao longo dos anos oitenta ela reinou
soberbamente, às vezes produzindo até quatro novelas simultaneamente. Uma
marca inatingível para as demais concorrentes. Uma força tão grande que de fato
na própria seção Televisão da revista, as referências aos produtos televisivos de
outras emissoras é bastante parco. Em relação às novelas, de maneira mais
particular, essas referências são mesmo raras. Assim, abri este parágrafo para
explicar que a aparente opção em mencionar quase somente as novelas da
Globo deve-se ao fato de que as páginas de Veja privilegiaram demasiadamente
estas contrastando com a quase omissão em relação às produções de outras
emissoras.
76
Se a novela brasileira tornou-se um produto nacional sinônimo de
qualidade, em grande parte isso foi uma conquista de autores antenados a uma
capacidade de escrever enredos sincronizados à percepção dos telespectadores.
Dentre tantos, Janete Clair, aclamada em Veja como a mestra das novelas, 4 teve
uma relevância fundamental para delinear o perfil delas no Brasil. Suas tramas,
conforme explicava uma crítica da seção Televisão, ajudaram a afirmar a
identidade não só das telenovelas mas da própria televisão brasileira. 5 Com sua
morte, logo viu-se que sua fórmula seria também seguida por outros autores.
Criando o tipo novelão, ou seja, um vasto elenco e um emaranhado de tramas
paralelas, Janete Clair morreu em 1983 deixando seguidores confessos como os
autores Gilberto Braga e Glória Peres.
Manoel Carlos, outro dos novelistas mais consagrados da tevê,
também em entrevista às páginas amarelas de Veja em 1981, dizia acreditar no
sucesso do gênero como eterno 6 porque ele era capaz de manter um diálogo
constante com a sociedade. Para Manoel Carlos, um enredo de novela podia ser
visto sempre como um elemento vivo e excitante, além de pulsar junto com os
espectadores ao longo de sua exibição.
4 Reportagem da seção Televisão; Veja, 23 de novembro de 1983. A reportagem assinala a grande importância de Janete Clair não somente como autora, mas também como uma das principais mentoras na afirmação da rede Globo e da TV brasileira como ela era até então. 5 Idem. 6 Entrevista concedida pelo autor Manoel Carlos às páginas amarelas da revista Veja, com data de 25 de março de 1981. O grande novelista afirma que a novela é eterna e por isso não acredita no seu fim.
77
Investindo em novos artistas, sobretudo galãs, como ressaltava a
revista no início da década, 7 as novelas dos anos oitenta exploraram uma
estética mais jovem, urbana e condizente com as transformações que davam
uma outra face para o Brasil.
Livres parcialmente e depois totalmente da censura, muitos foram
os temas explorados por autores que ousaram colocar no ar polêmicas veladas
ou hipocritamente amenizadas em obras anteriores. Ao longo da década, alguns
foram os exemplos que Veja apresentou aos seus leitores acerca dos enredos,
tramas, personagens ou cenas barradas pela censura da época.
O diretor Daniel Filho, no início da década, em uma edição da
revista com data em outubro de 1980, já era aclamado como o mais importante
diretor de tevê. 8 Com talento e competência somados a sua trajetória como ator
de teatro de revista, Daniel Filho foi uma energia revigorante para a
teledramaturgia do país, explorando ao máximo a sua visionária capacidade para
aprimorar e despertar talentos, conforme avaliava a crítica da revista.
Novos diretores, autores em permanente processo de reciclagem e
um rol de estrelas que no decorrer da década acentuariam ainda mais a novela
como uma espécie de Hollywood brasileira. Uma máquina sofisticada de produzir
e representar sonhos. Das consideradas inovações e destaques que foram
7 Reportagem da seção Televisão; Veja, 04 de junho de 1980. A reportagem faz referência a uma série de galãs que surgiam na casa dos vinte anos. Ao contrário da velha guarda, atores como Fábio Junior, Lauro Corona, Kadu Moliterno e Taumaturgo Ferreira são vistos como um bom resultado da nova geração que chegava ao vídeo. 8 Reportagem da seção Televisão; Veja, 01 de outubro de 1980. Com o título Um gênio difícil, a reportagem ressalta o grande talento e competência do diretor Daniel Filho em descobrir talentos para a TV.
78
solidificados, eu destaco alguns como exemplos singulares de sucesso de crítica
e público.
A atriz Regina Casé, ex-integrante do grupo teatral Asdrúbal Trouxe
o Trombone,9 foi a grande surpresa cômica para a tevê nos anos oitenta. Difícil
não chegar a essa conclusão, sempre legitimada por Veja.
Dona de um sorriso de 300 dentes,10 como foi apresentada pela
revista em 1986, e com uma performance bastante variada, Regina Casé,
repisavam sempre as alusões ao seu nome, de certa forma moldou um tipo de
humor mais visceral, distante da receita consagrada que estereotipava demais e
por isso era cheia de excessos desnecessários. Interpretando a personagem
Tina, na novela Cambalacho, ela multiplicou sua até então discreta popularidade
e mostrou-se capaz de acentuar um papel a princípio sem muito destaque mas
que graças a ela tornou-se um dos mais marcantes da trama de Sílvio de Abreu.
Contudo, a exuberância do talento de Regina Casé se mostraria
mesmo fulminante com o programa TV Pirata,11 uma das produções mais
originais e saudosas dos anos oitenta e que fez da atriz uma verdadeira estrela
da comédia televisiva,12 ao menos na leitura de Veja, que lhe deu a capa da
edição com data em 27 de julho de 1988.
9 O grupo teatral Asdrúbal Trouxe o Trombone foi formado nos fins da década de setenta. Mais detalhes sobre o grupo podem ser conferidos no capítulo Sob a lona do Circo Voador. 10 Riso de 300 dentes, foi esse o título da reportagem as seção Televisão que destacava o talento de Regina Case. Veja, 17 de setembro de 1986. 11 TV Pirata não foi uma novela e por isso será melhor explicado neste capítulo quando o texto abarcar os programas de humor. Sua citação aqui deve-se apenas ao importante papel que teve na trajetória da atriz Regina Casé. 12 Reportagem de capa da revista Veja, 27 de julho de 1988.
79
Ainda na trajetória das revelações surgidas das novelas, merece
destaque a apresentação da atriz Giulia Gam como uma expressão de
simplicidade e carisma capaz de conciliar juventude, beleza e talento.
Lançada em 1987 como a jovem Jocasta, 13 (ver anexo VII) em
Mandala, de Dias Gomes, Giulia Gam foi saudada dentro das páginas de Veja
como uma promissora revelação para a teledramaturgia nacional. Uma aposta
que evidenciou-se correta. Já na primeira novela inteira que fazia, Que rei sou
eu?, de Cassiano Gabus Mendes, ela era aplaudida como a melhor atriz surgida
no país nos últimos tempos,14 conforme o olhar da crítica exposto na edição da
revista em 15 de fevereiro de 1989. Sua notável capacidade interpretativa e
agilidade em cena a consagraram definitivamente. Giulia Gam tornou-se então
mais uma das inúmeras contribuições que as novelas trouxeram para o cenário
cultural do país.
Polêmicas e promovedoras de debate. Já destaquei nesse capítulo
o importante papel que a novela desempenha no imaginário do brasileiro,
principalmente pela pouca variedade de artefatos culturais a que ele tem acesso.
Algumas novelas dentro do universo oitenta ganharam uma discussão muito
intensa junto aos telespectadores. Assim, ilustro aqui algumas das quais Veja
acompanhou com um olhar muito mais próximo.
Com um tom nitidamente de crítica política e social, a novela Vale
tudo, de Gilberto Braga, levada ao ar em 1988, acirrou discussões em vários
13 Reportagem especial de Veja, 28 de outubro de 1987. 14 Reportagem de capa da revista Veja, 15 fevereiro de 1989. Giulia Gam, pela primeira vez atuando na TV em uma novela inteira, tem a oportunidade de comprovar o seu grande talento; segundo a crítica, o melhor dos últimos tempos.
80
campos. Com uma trama urbana, calcada principalmente no questionamento de
valores como honestidade e verdade, a novela foi um mapeamento interessante
dos códigos morais que estruturam o comportamento dos brasileiros. Delimitando
fronteiras nem sempre claras entre tantos discursos antagônicos, Gilberto Braga
teceu um enredo forte que penetrou no imaginário dos telespectadores. Vilãs
consagradas em arquétipos de cinismo e ambições sem limites, como Maria de
Fátima e Odete Reutemann (as atrizes Glória Pires e Beatriz Segall,
reverenciadas em Veja pela brilhante atuação em seus respectivos papéis)
impregnaram-se à memória televisiva dos brasileiros. 15 Aliás, a personagem de
Beatriz Segall para alguns se tornou um protótipo de maldade disfarçada na
elegância e sofisticação que o dinheiro podia oferecer; 16 ao menos foi assim que
a revista retratou a personagem de Gilberto Braga: uma figura mesmerizante,
articulada e...por isso mesmo perigosa. Seu assassinato, um frenesi nacional,
teve seu desfecho no último capítulo, arrastando consigo as mais variadas
apostas intuitivas dos telespectadores.
Mexendo em temas polêmicos como homossexualismo, o autor
viu-se obrigado a amenizar, por conta da censura,17 comentada por Veja, a trama
que envolvia um casal de lésbicas. Preparado para ver um mar de corrupção,
mentiras e traições em contextos familiares, o público era ainda tímido para
15 Reportagem especial da revista Veja, 28 de dezembro de 1988. Com o título “Doces megeras”, a crítica elegia a atuação das atrizes Glória Pires e Beatriz Segall, respectivamente as personagens Maria de Fátima e Odete Reutemann, no horário nobre da rede Globo, com a novela Vale Tudo. 16 Reportagem da seção Televisão; Veja, 20 de julho de 1988. 17 Reportagem da seção Televisão; Veja, 27 de julho de 1988.
81
tolerar em horário nobre meras alusões a um outro modelo de afetividade
conjugal.
Optando por um clima de felicidade geral em seu encerramento,
Gilberto Braga conseguiu de fato criar o retrato de um Brasil no qual os corruptos
ficam ricos e livres, 18 como aconteceu em Vale tudo. O desfecho da trama
mereceu também referência da revista em sua seção Televisão, fechando assim
uma das coberturas mais completas e presentes que ela deu a uma telenovela
nos anos oitenta.
No entanto, encabeçando o rol de sucessos da década,
encontramos em Roque Santeiro, de Dias Gomes e Aguinaldo Silva, o exemplo
mais contundente de encanto hipnótico que a novela exerce dentro da sociedade
brasileira. Intensa foi a presença desta novela dentro das páginas da revista Veja.
Levada ao ar em 1985, Roque Santeiro tem um lugar ímpar entre as demais
obras de seu gênero porque apresentou, talvez como poucas, uma galeria de
tipos folclóricos absolutamente ligados a uma brasilidade fundamentada no
popular e no caricatural.
Colocando o Brasil em uma cidadezinha claustrofóbica, Asa
Branca,19 a crítica credenciava o imenso sucesso do folhetim aos seus autores
que faziam do universo interiorano o lugar perfeito para inserir personagens
donos de uma onipresença televisiva duradoura. O sucesso imediato de Roque
Santeiro, de início atribuído a um elenco vigoroso, depois mostrou-se solidificado
18 Reportagem da seção Televisão; Veja, 11 de janeiro de 1989. 19 Reportagem da seção Televisão; Veja, 17 de julho de 1985. O sucesso da novela Roque Santeiro é atribuído em grande parte aos tipos criados por Dias Gomes; recriando o universo interiorano do Brasil através de figuras folclóricas, o autor encontra a chave para criar uma novela popular e de imenso sucesso.
82
também graças à capacidade singular da obra em pintar com suavidade
personas tão velhas como a própria história. Essa mesma reportagem, citada
acima, destacava figuras como: a viúva sensual, o religioso em crise, o herói
ameaçado ou o coronel ridículo, que eram extensões ou personificações de um
imaginário vivo capaz de renascer ou fazer uma metamorfose sem, contudo,
jamais perder sua essência mais profunda. Vivos e arrastando consigo todos os
olhares, esses personagens foram eternizados porque conseguiram expressar
através da comédia escancarada uma concepção de mundo ingênua e agressiva,
imanente portanto às incompreensões do caráter humano. Transformando a
cidade de Asa Branca em uma metáfora do Brasil, Dias Gomes explorou a
ingenuidade religiosa nascida de uma simplicidade bem brasileira; como um
elemento passivo sempre à espera de um milagre ou de uma salvação
messiânica. Nesse contexto, o povo foi retratado como aquele que se deixa
seduzir pelo conformismo prático de uma espera sem fim.
Na espera reside o movimento do povo brasileiro, e levar isso às
telas de forma figurada transformou-se em um grandioso sucesso, como foi
Roque Santeiro. Em poucos meses após sua estréia a novela já era considerada
a de maior audiência da história da tevê e ganhou a capa de Veja com uma
extensa reportagem disposta a contar em detalhes como estava sendo feita “a
novela de maior audiência da história.” 20 ( ver anexo VIII)
20 Reportagem de capa da revista Veja, 02 de outubro de 1985. Com a capa “Roque Santeiro. Como é feita a novela de maior audiência da história”, a matéria traz aos leitores a oportunidade de passar um dia em Asa Branca, a cidade fictícia da trama de Dias Gomes e Aguinaldo Silva que ganhava as graças do público; Roque Santeiro é definida como “a mais bem sucedida novela já aparecida no vídeo”.
83
Seus tipos foram imitados nas ruas, seus provérbios repetidos pelo
povo; seu sotaque cultural, um acréscimo aos maneirismos do populacho. Sendo
o mito muitas vezes mais forte, belo e interessante do que a verdade, o texto de
Dias Gomes explorou essa idéia com uma desenvoltura e fôlego
impressionantes. Como uma maldição, a verdade para a pequena Asa Branca
seria não só uma decepção como também a sua própria destruição [...] As
críticas de Veja ao dar cobertura ao imenso sucesso desta novela ficaram
retidas à minha memória e solidificaram-se como um dos registros de leitura mais
intensos que guardei. As frases que circulavam, anunciando o feito singular da
novela, plantaram no meu imaginário a idéia de um momento histórico
semelhante àqueles que a revista divulgava terem sido muito importantes para a
televisão brasileira.
A trama da novela se estruturava na idéia de um mito falso, que não
existia de fato, para Asa Branca, conhecer a verdade e abandonar este mito
criado seria como perder a sua maior identidade. O autor de Roque Santeiro fez
de sua cidade fictícia um teatro em constante atuação através, Veja conta, de um
elenco cujas falas, articuladas umas às outras, edificavam sobre a mentira
verdades eternas em qualquer ficção de sucesso.
A novela conseguiu lançar figuras inesquecíveis para a televisão
brasileira. Representando a capacidade brilhante de Dias Gomes em criar
personagens onipresentes no imaginário televisivo e ao mesmo tempo
personificando em si as contradições, paixões e medos de toda Asa Branca, eu
escolhi a viúva Porcina como a criação mais representativa do imenso sucesso e
legado de Roque Santeiro para as telenovelas no Brasil. Todas as menções que
84
Veja fez sobre a novela tinham na personagem vivida por Regina Duarte o seu
foco principal. Segundo a revista, a figura da viúva sensual havia se impregnado
no gosto popular de uma forma arrebatadora como poucos personagens haviam
conseguido até aquele momento das telenovelas brasileiras.
Seguindo a teoria das personas sexuais de Camille Paglia, a
personagem Porcina é um misto, uma junção interessante entre a femme fatale e
a mulher virago21. Na capa que Veja dedicou ao gigantesco sucesso de Roque
Santeiro, não é o personagem principal homônimo ao título da novela quem está
lá, mas sim a personagem de Regina Duarte e seu par inicial na trama, vivido por
Lima Duarte.
Na agonística cidade de Asa Branca é ela, a viúva Porcina, a força
inextinguível que sustenta a trama; o epicentro incontestável dos freqüentes
abalos sísmicos da cidade. Na viúva Porcina, uma das criações mais inigualáveis
da televisão brasileira, referendada pela crítica de revista Veja e guardada na
minha memória pela ênfase e constante presença com que foi retratada.
Como Regina Duarte em Roque Santeiro, também outros trabalhos
deram oportunidade para muitos atores mostrarem um talento soberbo apesar do
pouco tempo e da comercialidade de que freqüentemente são criticadas as
novelas.
O ator Ney Latorraca em Um sonho a mais, exibida em 1985, deu
um show de interpretação em não apenas um, mas seis personagens diferentes. 21 A teoria das personas sexuais de Camille Paglia aparece no seu já citado: Personas sexuais: arte e decadência de Nefertite a Emilly Dickinson. São Paulo: Companhia das Letras, 1992. Segundo Camille, a femme fatale é mulher sedutora por excelência, bela e fogosa, ela impõe seus desejos através da arte da sedução; ao contrário desta, a mulher virago é rude e um tanto quanto masculinizada, impõe-se pelo temor que desperta e não pelo fascínio que exerce.
85
A ousadia da emissora em dar ao ator o personagem principal e mais cinco
secundários é descrita em Veja como um grande ato de inovação da televisão
brasileira. A reportagem dava um grande destaque ao soberbo talento do ator
que, inclusive, incluía entre os seus personagens também um papel feminino.22
Todos exibidos com a desenvoltura e genialidade que só um ator Shakesperiano
poderia fazer. E isso na tevê.
Se houve algum problema, foi o da censura. Um dos personagens
interpretados, a elegante Anabela, era na verdade um travesti. Intolerável para a
época. Em meio às críticas e advertências, a rede Globo se viu obrigada a retirar
a personagem da tela, 23 empobrecendo um pouco o enredo, como a reportagem
da seção Televisão contava aos leitores em junho de 1985.
A censura, ainda que perdendo forças com o passar dos anos,
conseguiu fazer outros estragos além desse. A novela Mandala, protagonizada
pela bela e já consagrada Vera Fischer, conforme a revista sentenciava no início
da década, 24 em 1987 teve problemas em sua adaptação livre da tragédia grega
Édipo Rei. Preocupada em talvez conter desejos incestuosos, a censura não
admitiu o possível beijo entre as personagens Jocasta e Édipo, mãe e filho,
segundo relatava reportagem da seção Televisão.25
22 Reportagem da seção Televisão; Veja, 06 de fevereiro de 1985. O destaque da matéria é todo para o ator Ney Latorraca que ganha o papel principal da novela e mais cinco secundários, fazendo de Um sonho a mais uma das novelas mais inovadoras dos anos oitenta. 23 Reportagem da seção Televisão; Veja, 19 de junho de 1985. 24 Reportagem da seção Televisão; Veja, 30 de setembro de 1981. A escalada artística da ex-miss Brasil, Vera Fischer, então com 29 anos, é apontada como uma história de sucesso. De rainha do erotismo, a já considerada talentosa atriz ganha o posto “de estrela do horário nobre da Globo”, a novela Brilhante, de Gilberto Braga. 25 Reportagem da seção Televisão; Veja, 23 de dezembro de 1987.
86
Valendo-se da longa experiência em contornar esse tipo de
problema, as insinuações salvaram a trama central de Mandala que, ancorada
também em outros personagens, como o folclórico bicheiro Tony Carrado, de
Nuno Leal Maia, também merecendo destaque em Veja, 26 foi mais um dos
grandes sucessos que a tevê Globo alcançou em seu horário nobre nos anos
oitenta.
Com tantas interferências, podando a criação de autores e
roteiristas, o fim da censura foi comemorado. Entretanto, ao mesmo tempo fez
com que as emissoras se preparassem para frear uma possível onda de
pornografia e vocabulário chulo em suas programações, essa preocupação foi
descrita na seção Comportamento em uma edição de outubro de 1988. 27 Afinal,
seria natural esperar o excesso após tantos anos de monitoramento artístico.
Ainda na esteira dos sucessos da década, eu destaco outras obras
que também apresentaram um relevo significativo e mereceram menções em
Veja seja pela desenvoltura de seus protagonistas, a riqueza de sua história ou a
junção de ambos. Nessa lista incluo a novela Os imigrantes, da rede
Bandeirantes, autoria de Benedito Ruy Barbosa, novela cuja saga dos
vencedores28 que vieram de longe para pós-colonizar o Brasil foi um projeto
recusado pela rede Globo que provou ter um conteúdo a mostrar com
26 Reportagem da seção Televisão; Veja, 24 de fevereiro de 1988. 27 Reportagem da seção Comportamento; Veja, 12 de outubro de 1988. Com o fim da censura na programação, a reportagem apresenta o novo panorama que se desenhava no vídeo. Segundo a matéria, as emissoras estavam preparando mecanismos eficientes que pudessem “conter a onda de nudez e palavrões em sua programação”. 28 Reportagem da seção Televisão; Veja, 17 de junho de 1981.
87
muitíssimos capítulos, conquistando os telespectadores que acompanharam
atentos a trajetória de algumas famílias que ajudaram, através de gerações, a
construir o Brasil de século XX.
Também merecem destaque o tema histórico da escravidão
resgatado em Sinhá Moça, de 1986 29 e a adaptação da peça O avarento, de
Molière, pelas mãos de Ivani Ribeiro em Amor com amor se paga, 30 batendo
recordes de audiência para o horário das seis, conforme as matérias acima
citadas divulgavam. Sucesso ainda para o humor tradicional das novelas das sete
estampado na comédia leve de Vereda tropical, de 1984. 31
Às vezes pelos personagens inigualáveis, absolutamente únicos,
outras pela trama meticulosamente impactante do autor ou simplesmente pelo
derrière nu de um modelo em sua abertura, 32 as novelas atravessaram a década
estampando as imagens de um Brasil plural que admirava as suas muitas faces
por meio de uma criação genuinamente nacional, um produto de exportação que
revelava ao mundo parte de nossa história e nossa gente, como tantas vezes a
revista relatava em suas páginas de crítica na seção Televisão, ainda que
reconhecendo as limitações e fragilidades do produto, grande foi o destaque que
Veja deu às telenovelas brasileiras. 29 Reportagem da seção Televisão; Veja, 07 de maio de 1986. Objetivando o público interno e externo, segundo a matéria, a rede Globo apostava nesta novela através de uma “abolição romântica” que retomava muitos temas históricos como o da escravidão e da causa republicana. 30 Reportagem da seção Televisão; Veja, 01 de agosto de 1984. 31 Reportagem da seção Televisão; Veja, 25 de julho de 1984. 32 O modelo Vinicius Manne causou polêmica ao aparecer nu na abertura da novela Brega &Chique, em 1987. Por recomendação da censura a cena foi parcialmente modificada durante algum tempo até que se prevalecesse o lado cômico e não o pornográfico como viés de leitura. Reportagem da seção Gente; Veja, 29 de abril de 1987.
88
O humor na tevê
Diversão, entretenimento, humor. Com anos tão tumultuados,
esperanças dilaceradas e promessas não ou mal cumpridas, a proliferação dos
programas de humor foi um dos acentos mais fortes que a tevê experimentou
àquele instante. Fazendo a linha da comédia aliada aos valores esportivos da
década, Armação ilimitada foi a consolidação de um novo estilo de programa
voltado para os jovens, conforme comentava a matéria “Aventura em alto astral”,
que a revista exibiu em setembro de 1986.33
Muito ancorado em modismos, os seus protagonistas viviam um
saudável triângulo amoroso embalado pela amizade colorida e sem
compromissos: novos códigos comportamentais que passaram a reconfigurar os
relacionamentos. Os discursos moralistas foram mantidos à distância das
comentadas armações de Juba, Lula, Zelda e o mascote Bacana. Armação
Ilimitada foi paginado pela revista como um dos programas mais fiéis ao contexto
dos anos oitenta.
Seguindo as mesmas tendências, mas muito mais apimentado, o
irreverente TV Pirata foi, como Veja anunciava na cobertura de sua estréia, uma
verdadeira inovação no ar. 34 Tendo a já aqui comentada Regina Casé a sua
33 Reportagem da seção Televisão; Veja, 24 de setembro de 1986. A matéria ressalta a inovação do programa quanto ao direcionamento jovem que ele apresenta. 34 Reportagem da seção Televisão; Veja, 13 de abril 1988. A reportagem destinava-se a cobrir a estréia do irreverente programa.
89
frente, o programa definido mais tarde como de humor sem freios 35 (ver anexo
IX) caiu no gosto popular e teve recordes de audiência, tornando-se assim uma
referência da boa programação e criatividade exibida pela televisão.
Também com uma verve debochada, irreverente e ousada para a
emissora, a Globo retirou o apresentador Fausto Silva do seu Perdidos na
noite, da rede Bandeirantes, e deu-lhe um programa dominical para acirrar a
disputa pela audiência que travava com a emissora de Sílvio Santos. Anunciado
por Veja como o novo Gordo, 36 Fausto Silva passou a dirigir um espetáculo ao
vivo que mesclava jogos, entrevistas, muitas piadas e músicas ao gosto do
momento. Uma fórmula que deu certo, fazendo do Domingão do Faustão um
legado duradouro das transformações que a tevê levou ao ar naqueles anos.
As grandes mini-séries
Sagas. Amores proibidos. Sensualismo. Misticismo. Na produção
das mini-séries da década está um dos exemplos mais contundentes do quanto
primorosas podem ser algumas produções televisivas. Contando com diretores
talentosos e um elenco bem treinado, foi durante os anos oitenta que a mini-série
se consagrou como uma criação de prestígio, geralmente levando aos
telespectadores boas adaptações de grandes clássicos da literatura.
35 Reportagem de capa, revista Veja, 27 de julho de 1988. O imenso sucesso do programa TV Pirata, segundo a reportagem em grande parte graças ao imenso talento cômico da atriz Regina Casé, cai no gosto popular e dispara nos índices de audiência. 36 Reportagem da seção Divertimento; Veja, 20 de julho de 1988. A rede Globo contrata o apresentador Fausto Silva, do programa Perdidos na noite, da rede Bandeirantes, para as suas tardes de domingo.
90
Delicadeza, apuro detalhista, grandiosidade técnica. Foram estes os
principais elementos que fizeram das mini-séries obras cheias de uma pujança
somente comparadas às grandes telenovelas já produzidas. Entre as várias boas
produções levadas ao ar, eu destaco O tempo e o vento e Grande sertão:
veredas, ambas de 1985, pela grandeza com que a revista descreveu a ambas,
em críticas repletas de elogio ao empreendimento do produto ou à interpretação
singular de alguns protagonistas.
Na exibição da primeira delas, uma adaptação da obra-prima de
Érico Veríssimo anunciada em Veja como a produção mais monumental da
televisão brasileira na matéria “Momento de grandeza”, 38 (ver anexo X) os
telespectadores tiveram diante dos olhos a epopéia colonizadora do Rio Grande
do Sul contada sob a vida de várias gerações. Da introspectiva e quase mística
Ana Terra ao garboso capitão Rodrigo, o Brasil pôde conhecer de perto uma das
culturas mais originais e particulares do país, cunhada sob o perigo constante das
guerras, formando homens e mulheres calejados pelas agruras da vida e ainda
assim conscientes da empreitada civilizatória a que estavam dispostos a
construir. Na sociedade hierarquizada, patriarcal e estancieira dos gaúchos, o
Brasil viu-se um pouco acastelhanado, missionário, louro e de olhos azuis;
cultivando pastos e gados ao invés da tradicional cana-de-açúcar nordestina ou
do café paulista; viu-se também em um clima frio, recortado por uma paisagem
verdejante que, sob a leitura da obra de Veríssimo, nos foi assegurada por uma
empreitada secular de guerras sangrentas. Das identidades formadas dentro do
38 Reportagem da seção Televisão; Veja, 24 de abril de 1985. A matéria destaca o custo da obra e o grande empreendimento da rede Globo em investir em uma obra de envergadura gigantesca como foi O tempo e o vento.
91
cenário de O tempo e o vento, nasceu um dos mais belos retratos de formação
da riqueza cultural de nosso país.
Igualmente grandiosa, Grande sertão: veredas, pelo texto de Veja,
explorou os ecos de Guimarães Rosa 39 nos rincões perdidos do Brasil. A
constante divisão do homem entre o místico e o racional, o imenso labirinto que é
sua alma e os desencontros do destino foram levados ao ar com um elenco
magnífico encabeçado por Tony Ramos e Bruna Lombardi como a indecifrável
Diadorin.
Grande sertão: veredas foi mais uma prova da gigantesca
capacidade da televisão em criar produtos de qualidade. Sendo
fundamentalmente um veículo comercial, em alguns momentos, ela também é
capaz de adaptar e criar, com pretensões à arte, programas que além do lado
comercial, podem também expressar uma veia artística admirável. Segundo a
revista Veja, foi isso o que aconteceu com as adaptações destes dois clássicos
de nossa literatura.
Diversidade na programação infantil
Sonho. Fantasia. Imaginação. Idéias eternamente ligadas ao
universo infantil. Entre tantos programas que se voltaram para as crianças nos
anos oitenta, alguns se consolidaram e caíram no gosto não só dos pequenos
mas de muitos adultos também.
39 Reportagem da seção Televisão; Veja, 20 de novembro de 1985. Segundo a reportagem, os “ecos de Guimarães Rosa” estavam presentes na adaptação de sua mais prodigiosa obra para as telas da tevê.
92
A década começou com o reinado de Bozo, o programa do
superpalhaço40 da TVS que exibido às tardes vivenciou seu auge levantando a
audiência da emissora no início dos anos oitenta. A sua preferência entre as
crianças parecia absoluta até a chegada da Turma do Balão Mágico, da rede
Globo. Este programa, segunda a crítica, foi uma inovação pelo formato que
trazia: fazer um programa infantil apresentado por crianças mostrou-se mesmo
ser uma idéia de sucesso. Explorando não apenas as telas mas o universo
musical também, a turma do Balão Mágico foi anunciada como uma mina de ouro
que disparava no mercado fonográfico cifras tão altas a ponto de ameaçar o
reinado do cantor Roberto Carlos, como Veja destacava em uma matéria especial
destinada ao grande sucesso do grupo no mês de setembro de 1985.41 A
garotada do Balão Mágico, contudo, teve seus dias de glória contados até a
chegada do Xou da Xuxa, destinado a substituir o programa nas manhãs globais.
Apresentado pela ex-modelo Xuxa Meneghel, o Xou da Xuxa foi,
entre os programas infantis surgidos na década, o mais visto, comentado e
copiado. Com um rosto carismático, incontestável poder de comunicação e uma
direção competente, a até então figurante Xuxa tornou-se uma das celebridades
mais fortes da televisão brasileira, angariando uma legião de fãs, culto à
personalidade e milhões de discos vendidos.
40 Reportagem da seção Televisão; Veja, 05 de novembro de 1980. O destaque da reportagem é o fato do programa do palhaço Bozo bater a rede Globo, grande líder de audiência, no período vespertino. 41 Reportagem especial de Veja, 11 de setembro de 1985. Com o título O Balão nas nuvens, a matéria enfatiza a mina de ouro em que havia se transformado o mercado infantil para a indústria fonográfica, com vendas tão fortes a ponto de ameaçar os recordes de estrelas consagradas da música popular brasileira.
93
Após pouco tempo de estréia o programa já a tornava, em definição
encontrada em Veja, 42 “a rainha das crianças” e grande estrela da televisão
brasileira. Um sucesso até ali desconhecido para um programa desse tipo.
Percebendo a força de sua presença, a indústria incorporou rapidamente o
produto Xuxa e também fez dele um estrondoso sucesso financeiro. Em 1987,
com o lançamento da boneca Xuxa, a apresentadora provou ter ousadia
suficiente para espalhar diversão e lucro por muitos outros setores além da
audiência televisiva. 43 O estilo Xuxa foi tão arrebatador que logo outros surgiram
claramente influenciados pelo formato inovador deste programa.
Ainda que repartindo a sua glória, como a revista já divulgava em
1988, 44 com outros apresentadores como Simony, Sergio Malandro, Angélica,
Mara Maravilha e Andréa, Xuxa permaneceu inabalável como o carro-chefe de
um produto reproduzido à exaustão por outras emissoras e que também tornou-
se uma referência internacional para programas infantis. Músicas, brincadeiras,
uma platéia eufórica, um séqüito particular de auxiliares colaboradores. E tudo
isso recortado por desenhos animados que foram ídolos para o público infantil da
década.
42 Reportagem especial da revista Veja, 19 de novembro de 1986. Depois de vender 2,5 milhões de discos vendidos, e com um programa de televisão vitorioso, a matéria credencia a apresentadora como a “Rainha das crianças”. 43 Reportagem da seção Divertimento; Veja, 20 de maio de 1987. Tornando-se não somente uma apresentadora de TV, mas também uma marca milionária, Xuxa lança no mercado a sua sósia boneca, segundo a reportagem, “a mais recente brincadeira milionária da estrela do público infantil.” 44 Reportagem da seção Televisão; Veja, 16 de novembro de 1988. A proliferação dos programas voltados ao público infantil e o surgimento de apresentadores diversos para o comando desses programas é o tema central da reportagem. Grande destaque para a apresentadora Angélica, vista como a principal concorrente da já consagrada Xuxa.
94
Mostrando heróis educativos em desenhos animados como He-
man, She-Ra ou Thundercats, 45 o Xou da Xuxa aproximou-se das crianças
levando consigo uma linguagem fácil e emotiva; um código simples que
reinventou o que até ali entendia-se como um programa infantil de sucesso.
Ainda entre as experiências infantis, importante mencionar o
musical Plunct-plact-zum, um êxito sem comparações, avaliado por Veja como
um grande show 46 para as crianças e apresentando Jô Soares como o rei do
Planeta Doce. O programa foi considerado um momento antológico da tevê
brasileira em mais uma das muitas demonstrações que ela deu dentro dos anos
oitenta quanto à sua capacidade de inovar e criar produtos que, além do retorno
financeiro, mereceram também os elogios da crítica especializada. Exatamente
como tantas vezes aconteceu dentro das páginas da revista Veja.
Nossa memória televisiva
Encerro este capítulo acentuando as afirmações que fiz ao iniciá-lo:
nossa sensibilidade perceptiva, nossas construções sociais, nossa própria
identidade está, em grande parte, estruturada sobre o alicerce enciclopédico que
a televisão almeja possuir. O brasileiro da segunda metade do século XX é, em
grande parte, um produto daquilo que vê nas telas da sua televisão. Enfatizando
mais uma vez a particularidade que ela tem em um país como o nosso, tão 45 Reportagem da seção Televisão; Veja, 22 de janeiro de 1986. A matéria, com o título “Heróis da paz”, ressaltava o caráter educativo dos super-heróis que se tornavam uma febre entre as crianças. 46 Reportagem da seção Televisão; Veja, 01 de junho de 1983. A volta da rede Globo na elaboração de musicais voltados para o público infantil recebe uma crítica positiva por parte da revista. Plunct, plact e zum é descrito com encanto e magia. Um verdadeiro show para o público infantil.
95
precário em relação a uma democracia cultural mais justa, a televisão pareceu
transformar-se nos anos oitenta. Definitivamente em cores e ampliada pelo
suporte do controle remoto, a cobertura da revista Veja e a minha memória de
leitor têm na seção Televisão uma das presenças mais fortes daquela década.
96
DA DITADURA À DEMOCRACIA
Os anos oitenta foram, sem dúvida, o momento de reestruturação
da política nacional. O fim de uma era e o início de uma outra. Um período
riquíssimo em controvérsias e desencontros e também de esperanças quanto ao
futuro da nação. Após uma infância turbulenta e uma adolescência saudável, o
regime militar envelhecia antes dos vinte anos, mostrando toda a sua fragilidade
como um sistema que não mais representava os anseios do povo, incapaz por
isso de atender às novas conjecturas políticas e econômicas que minavam a
auto-estima dos brasileiros.
Visualizar o cenário político brasileiro dentro desse contexto é dirigir
um olhar questionador acerca das incoerências cometidas por seus
protagonistas. Distantes da rebeldia contestadora dos anos sessenta e não tão
satisfeitos como a classe média nos milagrosos setenta, o povo teve diante de si
um palco promissor para nele projetar todo o seu desejo democrático. Nas
representações ocorridas no cenário político nacional, há uma espiral constante
ainda que nem sempre ascendente, ou seja, a luta pelas liberdades democráticas
conviveu lado a lado com as incompreensões eleitorais de um povo não
acostumado a ler a história de si próprio.
Pontuando as personagens e os fatos em si mesmos, é possível
criar um quadro prolífero em possibilidades, ainda que (penso eu) barroco no
excesso e nas incompreensões. Este capítulo, entre todos é o mais singular.
Hesitei se deveria escrevê-lo já que a proposta desta dissertação é claramente
voltada às memórias que eu construí a partir das seções culturais da revista Veja.
97
Contudo, inegável foi o meu envolvimento com muitos fatos ligados à política do
país e com os quais me envolvi enquanto leitor daquelas reportagens,
principalmente na segunda metade da década. Assim, este capítulo nasce a partir
das matérias mais significativas que circularam em seções como Brasil, Política,
Economia e também algumas seções especiais destinadas a cobrir fatos mais
particulares, diretamente ligados ao entendimento e explicação do país como um
todo. Acreditando muito nas transformações ocorridas na política nacional como
elementos chave para o entendimento de muitas manifestações e
direcionamentos culturais, legitimei mesmo este capítulo como imprescindível
para contextualizar as minhas memórias como leitor da revista Veja durante a
década de oitenta. Sinalizo aqui então os momentos cujas impressões mais fortes
ficaram registradas por mim em relação aos muitos rumos que o Brasil percorreu
em sua política e economia.
A volta dos exilados
A volta de figuras lendárias para o país após anos de exílio logo no
início da década representou um sinal claro de que os militares já percebiam a
exaustão do regime; abri-lo foi a melhor saída para não se verem enclausurados
de vez, completamente distantes da nova ordem mundial que já se anunciava.
Retornando em clima de festa e grande comoção patriótica, os exilados
chegavam cheios de sorrisos nos aeroportos do país. Exibiram uma virtuose
98
esquerdista, democrática e anunciaram em discursos nem sempre modestos uma
nova era para o país.
Nessa esteira, o caso mais célebre foi sem dúvida o do ex-
governador de Rio Grande do Sul, Leonel Brizola. Poucas figuras na história do
Brasil construíram uma trajetória política como a sua. Banido do país logo após o
golpe militar de 64, Brizola amargou anos no exílio, esperando _e sendo
esperado_ ansiosamente em um retorno triunfal. Como se previa, a promessa
não era nula, logo nas primeiras eleições diretas para os governos estaduais,
Brizola foi eleito novo governador do estado do Rio de Janeiro, somando-se a
Franco Montoro, em São Paulo, segundo leitura crítica da revista Veja, como a
nova cara da oposição ao governo do presidente general João Figueiredo.1
Construindo um governo com claros objetivos sociais, Leonel
Brizola priorizou a educação como uma meta básica, construindo novos modelos
educacionais que lhe dariam credibilidade junto às massas e calibre suficiente
para se fazer ouvir em cenário nacional. Também não esquecendo do panem et
circenses, o seu Sambódromo transformou o desfile das escolas de samba do
Rio de Janeiro em uma verdadeira apoteose. Era assim a consagração do
socialismo moreno de Brizola com o requinte intelectual de seu vice, o
antropólogo Darcy Ribeiro.
No entanto, nem tudo foi festa durante seu mandato, em setembro
de 1983 a revista noticiou negativamente, em matéria de capa, os violentos
1 Reportagem de capa da revista Veja, 24 de novembro de 1982. A matéria faz alguns prognósticos acerca do novo cenário político do país com a vitória consagradora da oposição em importantes estados da federação como no Rio de Janeiro e São Paulo.
99
saques no Rio de Janeiro. 2 A sua desenvoltura onipresente na realização do
festival Rock in Rio, em janeiro de 1985, um grande evento nacional, também lhe
rendeu uma exposição desnecessária e desgastante, mas ainda não suficiente
para apagar o seu inegável carisma junto às camadas mais populares.
Carregando o que Veja apresentou em sua capa como a saga de
uma candidatura de trinta anos, 3 (ver anexo XI) Leonel Brizola parecia tão
insuperável em uma eleição direta para presidente que alguns creditaram o
fracasso do movimento DiretasJá!, em 84, a um temor excessivo que os militares
possuíam quanto a real possibilidade de sua vitória. Postergada para 1989, a
primeira eleição direta já estaria em um outro contexto e com novas figuras
políticas a protagonizando. 4
O insucesso de Brizola, não conseguindo chegar sequer ao
segundo turno do pleito eleitoral, enterrou a velha esquerda que fora anunciada
por décadas como a redentora das liberdades sufocadas por governos
reacionários. Talvez por seu discurso pusilânime ou demasiadamente autoritário,
o grande candidato minou a própria derrota pela crença, acredito eu, de que os
brasileiros votariam com um olhar histórico e crítico, esquecendo-se ele que a
história e a memória não têm uma forte importância na configuração do povo
brasileiro. Como um país jovem, o Brasil, para o bem e o mal, só vê o futuro;
2 Reportagem de capa da revista Veja, 14 de setembro de 1983. Com a capa anunciando “O Rio com medo”, a matéria destaca o terror vivido pela população do Rio de Janeiro em uma semana marcada pelos saques em diversas localidades do estado. 3 Reportagem de capa da revista Veja, 28 de junho 1989. A matéria tentava explicar a força de Leonel Brizola, a sua trajetória política e real possibilidade daquilo que a revista conceituou como “incendiar a sucessão”, em uma referência à força política que Brizola ainda possuía e os seus possíveis trunfos para ganhar a eleição que se aproximava. 4 As questões mais pertinentes às eleições de 89 serão melhor explicitadas ao longo deste capítulo.
100
muitas vezes enterrando o próprio presente, fazendo jus assim ao velho clichê
país do futuro. Mais uma das muitíssimas mitologias brasiliae.
O sepultamento político de Leonel Brizola é um exemplo de quão
fracas são nossas simbologias políticas, estando elas muitas vezes mais ligadas
a um modismo ou contexto especial que lhes favoreça de alguma forma do que a
um reconhecimento público do papel consensual que poderiam representar. O
Brasil, ao contrário dos Estados Unidos, não foi pensado por políticos
denominados pais da pátria. Nossa história, uma coletânea hilária de mal-
entendidos, não deu oportunidade para que o povo reconhecesse seu destino
como o resultado de um planejamento pensado por homens verdadeiramente
empenhados em construir uma nação. Ao contrário disso, a maioria dos
infortúnios são logo atribuídos a uma classe dirigente, reconhecidamente vista
com desconfiança, incapaz de bem gerenciar um país tão complexo. Levado por
fragmentações, ao longo da década de 80 muitas foram as oportunidades para
medir as inclinações vacilantes de nossas massas. Nesse roteiro de incoerências,
um dos casos mais significativos ocorreu em 1984.
Movimento Diretas Já!
O movimento das Diretas Já! é, indubitavelmente, um dos capítulos
mais interessantes da recente história do Brasil. Em minha opinião, uma
expressão com força suficiente para representar o perfil do povo brasileiro como
um todo. Durante algumas semanas um só pedido foi ouvido do norte ao sul da
nação, ainda que os comícios mais apoteóticos tenham mesmo se concentrado
101
no eixo Rio - São Paulo, o solo efervescente das grandes manifestações
nacionais.
Do ponto de vista histórico o movimento Diretas Já! significou o
rompimento da tampa de uma panela de pressão que fervia há vinte anos com
um só desejo: a vontade de votar para presidente, de escolher livremente o
representante máximo do país. Assim, realmente a relevância daqueles
encontros possui um sentido grandioso e absolutamente ímpar dentro da nossa
história. No entanto, para mim, aqueles ímpetos democráticos não tiveram
reverberações fortes o suficiente para concretizar aquela vontade quase idílica
por um pleito direto. Revendo os palanques, o elenco de celebridades políticas e
artísticas que deles lançavam chavões democráticos que eram prontamente
respondidos com entusiasmo e vigor, fica a nostalgia estranha de um dos poucos
movimentos com ampla participação popular mas que, no entanto, não atingiu o
seu propósito maior.
Revendo as fotos daquelas imensas colméias humanas, fica difícil
acreditar que tudo tenha sido facilmente dissolvido por conta de uma emenda não
aprovada pelo Congresso Nacional por apenas 22 votos, conforme a reportagem
especial de Veja. 5 Como acreditar que toda aquela mobilização, panelaços e
orgia democrática se extinguissem de uma maneira tão simples?
Negada a eleição direta, pouco se viu como protesto e não
aceitação daquele resultado. O conformismo e a esperança, duas pragas
5 A emenda do deputado Dante de Oliveira, que previa as eleições diretas para a presidência da República foi rejeitada por apenas 22 votos; ainda que recebendo o apoio da maioria dos deputados da Câmara, os dois terços necessários para alterar a Constituição não foram alcançados. Veja, 2 de maio de 1984.
102
nacionais, acataram com certo ar blasé aquela derrota monumental. De um
instante para o outro as grandes manifestações na Praça da Sé e na Candelária,
as maiores da história, coloridamente ilustrando as páginas da revista, 6 o “brado
retumbante” 7 do Dr. Ulysses Guimarães, chamado “Senhor Diretas”, o
entusiasmo patriótico de artistas como Fafá, Chico Buarque, Lucélia Santos,
Débora Bloch, Xuxa, Christiane Torloni (a musa das Diretas), e a voz hino do
movimento, Osmar Santos,8 desapareceram sem grandes traumas, deixando
apenas uma nostalgia revisitada de tempos em tempos, contudo incapaz de
desencadear maiores reflexões sobre o significado autêntico que elas tiveram.
Tal qual outros acontecimentos importantes, também na
redemocratização do país o povo foi um elemento passivo. Os militares entraram
e saíram quando desejaram. Ainda que contornando conspirações dentro das
Forças Armadas, a entrega do país a um governo civil foi uma decisão planejada
militarmente pelo presidente João Figueiredo, um homem pouco à vontade no
poder que logo viu, como Veja definiu em reportagem especial da seção Brasil, “o
sonho quebrado” 9 que havia se tornado o regime militar no país. As revoluções e
o Brasil não têm de fato uma história comum.
6 Reportagem de capa da revista Veja, de 25 de janeiro de 1984. A matéria destacava a gigantesca manifestação ocorrida na Praça da Sé, coração da capital paulista, e lhe rotulava como a maior dos últimos 20 anos. 7 Reportagem de capa da revista Veja, de 18 de abril de 1984. A liderança do deputado Ulysses Guimarães à frente do movimento é o grande destaque da matéria. 8 Reportagem de capa da revista Veja, de 14 de março de 1984. O locutor esportivo Osmar Santos se transforma em um dos principais símbolos do movimento com o seu evidente entusiasmo e carisma para motivar as massas cívicas. 9 Reportagem da seção Brasil da revista Veja, de 04 de abril de 1984. A matéria traz uma interessante abordagem do fracasso do regime militar ao completar 20 anos de história no país. O “sonho quebrado” é
103
O último governo militar
Amargurando a herança do golpe de 64, o último presidente militar
do Brasil permeou um calvário ao longo do seu mandato. Problemas de saúde
sérios, descontentamento dos aliados, economia retroativa, escândalos políticos
e um mar de descontentamento geral.
Logo no início foi o seu coração que sucumbiu frente ao peso do
cargo. 10 O enfarte do presidente deixou o país inquieto e permitiu que o vice civil,
Aureliano Chaves, assumisse interinamente o governo. 11 João Figueiredo tinha
mesmo boas justificativas para explicar a defloração de sua saúde. A explosão de
um Puma na véspera do 1º de maio no Riocentro, segundo o texto de Veja, 12
mostrava ao presidente que a sua abertura política não era uma unanimidade
dentro do exército e expôs a falta de controle da situação política que também já
refletia nos números ruins da economia.
O grande crescimento econômico do país, mola-mestra que
sustentou os militares ao longo dos áureos anos milagrosos da década de 70,
definhava a olhos vistos, deixando a classe média indignada com o ministro da
uma alusão direta ao movimento pela redemocratização do Brasil e pela insatisfação que o regime causava em praticamente todas as camadas sociais. 10 Reportagem de capa da revista Veja, de 23 de setembro de 1981. O enfarte do presidente Figueiredo, segundo a matéria, causava muita inquietação ao país. 11 Reportagem de capa da revista Veja, de 30 de setembro de 1981. 12 Reportagem de capa da revista Veja, de 06 de maio de 1981. A famosa explosão do carro Puma no Riocentro foi um escândalo que gerou várias versões; com dois militares dentro do carro, o caso fez o presidente Figueiredo pronunciar a famosa frase: “Se foi coisa do lado de lá, não poderia ser mais inteligente. Se foi coisa do nosso lado, não poderia haver burrice maior.”
104
Fazenda Delfim Neto que, inutilmente, tentava criar mecanismos eficazes para
deter o problema. 13 Em vão. A inflação e os anos 80 se mostrariam inseparáveis.
Corroendo o salário dos trabalhadores, prejudicando o lucro e o crescimento da
economia, ela incorporou o mito de ser o maior problema nacional e teve força
suficiente para liquidar de vez com o sonho do “Brasil Grande”, anunciado pelo
ex-presidente Médici. 14
Impaciência. Descontentamento. Revolta. Somente a fome talvez
para angariar alguma reação coletiva no povo. Em 1983, grandes saques no
estado de São Paulo, divulgados em matéria de capa de Veja, espalharam o
medo em todo país;15 não bastassem os problemas reais, existiam ainda as
conspirações.
Encontrado um aparelho de escuta telefônica no cabinete do próprio
presidente, 16 João Figueiredo tinha mesmo grandes motivos para preocupar-se,
o barco que conduzia fazia suas derradeiras manobras quando em 15 de janeiro
de 1985 o Congresso Nacional elegeu o mineiro Tancredo de Almeida Neves
13 Reportagem de capa da revista Veja, 28 de julho de 1982. A recessão econômica e o crescimento da inflação já causavam preocupação excessiva para o país. Era apenas o início de um ciclo que faria com que a década de 80 entrasse para a história como “a década perdida”, devido a sua hiperinflação e o definhamento da economia. 14 Garrastazu Médici foi presidente do Brasil de 1969 até 1974. Foi sob o seu governo que o regime viveu o seu auge com a opinião pública graças ao milagre econômico; época em que o Brasil chegou a crescer até duas cifras por ano, um feito extraordinário, tornando o Brasil um modelo para os países ocidentais em desenvolvimento. 15 Reportagem de capa da revista Veja, 13 de abril de 1983. No dia 04 de abril deste ano, uma passeata no bairro operário de Santo Amaro se transformou em uma verdadeira revolta e depois um saque a vários estabelecimentos comerciais. A notícia desencadeou o medo pela anarquia no país e expôs a falta de controle das instituições governamentais frente à crise econômica que se gravava cada vez mais. 16 Reportagem de capa da revista Veja, 23 de março de 1983. Um grampo no aparelho telefônico do presidente, no palácio do Planalto, expôs com clareza a oposição que Figueiredo enfrentava para consolidar a abertura democrática no Brasil.
105
como novo presidente da República.17 Era a vitória da oposição em torno de um
nome de reconhecido consenso, diálogo e inesgotável habilidade política.
A Nova República
Ainda que não eleito pelo voto popular, sua figura de bonachão
certamente o ajudou a legitimar-se como o presidente de todos os Brasis,
fazendo gravitar em torno de si as grandes esperanças do povo. Por tudo isso, foi
com um susto inicial e depois um medo justificado que a nação viu estupefata a
posse do seu vice, José Sarney, em 15 de março daquele ano. 18
A saga da doença do presidente foi uma overdose de boletins
médicos mirabolantes, rezas infindáveis nas calçadas do Instituto do Coração, em
São Paulo, e operações sucessivas sempre divulgadas com êxito e expectativas.
Veja, a revista semanal mais lida no país, dedicou sete capas ininterruptas a
cobrir a via-crúcis de Tancredo Neves.
Oscilando entre a esperança e o temor, o drama particular do novo
presidente o levou para cada lar do país, fazendo dele quase um familiar
enfermo cuja saúde era acompanhada com uma entrega total. Aqueles dias de
17 Reportagem de capa da revista Veja, 23 de janeiro de 1985. “A eleição de Tancredo Neves fortalece o Congresso e marca uma nova era na política”, foi com esta frase que a revista Veja anunciou a vitória de Tancredo no Colégio Eleitoral, derrotando o candidato do governo e ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf. 18 Reportagem de capa da revista Veja, 20 de março de 1985. A matéria comenta ainda em tom de surpresa e expectativa positiva a internação do presidente Tancredo Neves na noite da véspera de sua posse, depois de sentir-se mal, enquanto assistia a uma missa em Brasília.
106
agonia, dor e infecções resistentes19 duraram mais de um mês até que
finalmente sua conclusão trágica viesse ao público pela voz já temida do porta-
voz oficial do presidente, Antônio Britto: “Lamento informar que o excelentíssimo
senhor presidente da República, Tancredo Neves, faleceu esta noite, no Instituto
do Coração, às 10 horas e 23 minutos.”20
Deixando como principal legado a unidade política, Tancredo Neves
só subiria a rampa do Planalto morto, cabendo a seu vice então conduzir os
destinos da nação pelos próximos cinco anos. O encerramento trágico do seu fim
fez suscitar uma espécie de Sebastianismo21 ultramarino entre os brasileiros;
como não assumiu, a figura do novo presidente pôde entrar para a história
apenas com as benesses do poder, deixando o ônus, que certamente pagaria,
apenas para as mentes mais pessimistas.
Sua trajetória ética, conciliadora e inegavelmente patriótica,
contribuiu muito para que pudesse entrar no seleto panteão dos heróis da nação.
Assim, talvez também nós tenhamos, ainda que tardiamente, os nossos pais da
pátria. O presidente Tancredo Neves seria uma das melhores personificações
dessa idéia.
19 Reportagem de capa da revista Veja, 10 de abril de 1985. Esta reportagem discute os já muitos problemas do presidente Tancredo; o problemas das várias operações a que estava sendo submetido e da possível complicação de outros órgãos além do coração, como os pulmões. 20 Reportagem de capa da revista Veja, 01 de maio de 1985. Esta edição fecha as sete capas consecutivas que a revista dedicou à saúde do presidente Tancredo Neves, desde a sua internação inicial em Brasília, na véspera da posse até sua morte em São Paulo. 21 MACEDO, Diva Cunha P. de. D. Sebastião: a metáfora de uma espera. Natal: Ed. Universitária UFRN, 1980. Obra que explica o mito do Sebastianismo para a cultura portuguesa; seguindo as trilhas do messianismo judaico, também os portugueses cunharam na legendária figura do rei D. Sebastião um símbolo de perene esperança e salvação diante dos infortúnios de sua pátria.
107
O governo José Sarney
Egresso do velho regime que não deixava saudades, José Sarney
não tinha o carisma nem a legitimidade política de Tancredo, mas paulatinamente
foi construindo alianças, indicações e medidas que imprimiriam a sua face na
Nova República.
Recebendo o cada vez mais crescente índice inflacionário de João
Figueiredo, a nomeação de Dílson Funaro para o ministério da Fazenda foi a
primeira das muitíssimas tentativas para estancar aquele que já era o grande
problema econômico da década. 22 Para enfrentá-lo, o novo ministro anuncia no
início de 1986 uma verdadeira revolução na economia; 23 o surgimento do
Cruzado, a nova moeda do país, que dá vida e crédito ao governo de José
Sarney.
De caráter inegavelmente populista, congelando preços, multando
ou mesmo fechando estabelecimentos que ousassem reajustar seus produtos, o
plano Cruzado foi uma coqueluche nacional que fez nascer uma nova figura
folclórica: “os fiscais do Sarney”. Na sua maioria eram donas-de-casa que, com
ânimos inflamados, chamavam a polícia, davam discursos moralizantes e
abaixavam as portas dos supermercados “em nome do presidente Sarney”. Só
mesmo no Brasil. Do dia para noite o ministro e o presidente tornaram-se 22 Reportagem de capa da revista Veja, 04 de setembro de 1985. A matéria fundamentalmente destacava a posse de Funaro como o novo ministro da Fazenda e as muitas dificuldades que ele teria para “domar” a inflação. 23 Reportagem de capa da revista Veja, 05 de março de 1986. A matéria traz uma importante síntese das principais mudanças na economia; a mudança da moeda nacional e o congelamento de preços são as principais molas de sustentação do novo plano.
108
pessoas amigas. Funaro chegou mesmo a ir em programas de televisão explicar
o novo plano e deixar-se entrevistar por pessoas não exatamente qualificadas
para tal, ao menos foi assim que Veja divulgou, na seção Televisão, a visita
didática que o ministro havia feito ao programa Show de Calouros, do SBT.24
Dias de bonança e popularidade que não durariam muito tempo. Alguns
intelectuais desde o princípio pareciam não dar muita credibilidade ao plano e
criticavam-no abertamente, anunciando também uma certa desilusão com a
democracia, como Marilena Chaui declarou em entrevista às páginas amarelas
de Veja.25
Havia mesmo razões para isso. Poucos meses após sua
implantação o Cruzado já tinha seus problemas e necessitava de retalhos
urgentes. O drama do congelamento fez com que alguns comerciantes
simplesmente começassem a esconder seus produtos. A carne bovina, sinônimo
de comer bem e de fartura em um país pobre, tornou-se o alvo preferido. Até
helicópteros foram usados para procurar gado nos campos. Na mesma onda da
carne, várias mercadorias sumiram ou foram racionadas pelo drama da
escassez.26
24 Reportagem da seção Televisão, da revista Veja, de 26 de março de 1986. Com a matéria “Pacote Popular”, a revista divulga a visita que o ministro da fazenda fez ao programa dominical Silvio Santos para explicar o seu novo programa econômico. 25 Reportagem das páginas amarelas, da revista Veja, com data de 09 de julho de 1986. Marilena Chauí, considerada a mais importante e brilhante filósofa do país é entrevistada por esta seção da revista e entre outros assuntos também opinou sobre o plano econômico do ministro Dílson Funaro e mostrou-se cética quanto à eficácia do mesmo em resolver os grandes problemas sociais e econômicos do país. 26 Reportagem de capa da revista Veja, de 24 de setembro de 1986. O interessante dessa matéria reside na própria capa da revista; Veja publico a foto de um gado sob a legenda clássica: “Procura-se”. A ironia e descontração da capa mascaravam um sério problema, a falta de produtos essenciais para o dia-a-dia dos brasileiros.
109
Sentindo que as estruturas de seu plano desabavam, o ministro
Funaro já em outubro daquele mesmo ano de 1986 providenciou uma série de
reformas visando “desentortar a economia.” 27 Sem resultados. O problema
econômico era endêmico demais para ser solucionado com algumas dezenas de
medidas ou a simples mudança da moeda. O fracasso do Cruzado e a sua
conseqüente derrota para a inflação foi uma grande perda para o ministro e o
presidente. Este, da popularidade, aquele, do próprio cargo que ocupava.
Com a economia novamente em frangalhos e com perspectivas
cada vez piores, o governo do presidente Sarney a partir daquele período
entraria em um declínio ascendente, 29 uma troca inesgotável de ministros e um
legado ainda não definido pela história.
Como primeiro presidente a governar a Nova República, José
Sarney colheu poucos sucessos e muitos disabores. Em junho de 1987, durante
uma visita ao Rio de Janeiro, o ônibus do presidente recebe insultos, vaias e
muitas pedras, o que, na leitura de Veja, 30 foi uma agressão que caracterizava
bem o grande desgaste do governo dentro de um período tão curto. A
popularidade que havia conquistado com o plano Cruzado transformou-se em
uma espécie de traição, pelo menos era com este sentimento que muitos o viam.
27 Reportagem de capa da revista Veja, 28 de outubro de 1986. O plano Cruzado, depois de pouco mais de seis meses já ganha retalhos. 29 Reportagem de capa da revista Veja, 06 de maio de 1987. O fracasso do plano Cruzado expõe o presidente Sarney a impopularidade e à completa rejeição pública. Seu mandato já estava saturado com apenas dois anos. 30 Reportagem de capa da revista Veja, 01 de julho de 1987. A matéria traz os detalhes do apedrejamento que o ônibus que levava o presidente e uma comitiva sofreu no Rio de Janeiro; um sinal claro do descontentamento popular e da falta de autoridade pública da pessoa do presidente.
110
Poucos dias após o apedrejamento do presidente, no Rio de
Janeiro, a quebra definitiva do congelamento das tarifas de ônibus gerou um
grande protesto e uma multidão criou um verdadeiro clima de fúria sobre as ruas
da cidade. Como resultado, um pedaço significativo da frota foi incendiado pelos
manifestantes. Para a revista Veja, essa “era a face violenta da crise. 31
Sendo marginalizado por todos os setores da sociedade, o anúncio
oficial do imenso descontentamento que gerava veio através das eleições
municipais de 1988. A vitória do Partido dos Trabalhadores (PT) na prefeitura de
São Paulo, com Luiza Erundina, foi divulgada como “o soco das urnas.” 32 A
esquerda crescia a olhos vistos em meio a crises políticas incontornáveis,
inflação correndo para os 100%, especulação ao dólar e ao ouro, além de greves
faraônicas no funcionalismo público federal com 15 ministérios e 800 mil
funcionários parados. Era o retrato do caos que se instalava no país. 33
O descrédito era tão grande que no Rio de Janeiro surgiu a
candidatura de um macaco do Zoológico da cidade como uma alternativa à
decepção, desconfiança e falta de crédito que os políticos despertavam na
31 Reportagem de capa da revista Veja, 08 de julho de 1987. Os manifestantes fazem um verdadeiro quebra-quebra pelas ruas da cidade, um clima de revolução se instala no Rio. 32 Reportagem de capa da revista Veja, 23 de novembro de 1988. Esta reportagem apresenta o PT como o grande vitorioso das eleições municipais. A conquista de importantes prefeituras como São Paulo e Porto Alegre anunciam que a esquerda crescia enquanto o país mergulha em crises. A falta de crédito nas antigas lideranças políticas deu espaço para que novas siglas, como a do PT, pudessem se impor no cenário nacional. 33 Reportagem de capa da revista Veja, 26 de 1988. Com a manchete “A crise explodiu”, Veja traz uma descrição do estado de coma em que se encontrava o país.
111
opinião pública. A figura do macaco Tião 34 é a alegoria máxima do quão
ridicularizado já estava o político brasileiro na segunda metade dos anos oitenta.
Nadando em meio às extensões do plano Cruzado, como o Cruzado
Novo ou o choque de verão, 35 o Brasil caminhava para a grande eleição
presidencial de 89 como a última salvação da pátria. O povo via no voto direto a
certeza de escolher alguém que pudesse banir todas as frustrações do país. Para
José Sarney, restava apenas o que talvez tenha sido o saldo mais positivo
daqueles longos cinco anos, a constituição de 1988.
A nova carta magna da nação, alcunhada de “cidadã”, foi um passo
adiante nas questões sociais e democráticas; deu ao Brasil condições de
trabalho, bem-estar social e liberdades mais próximas às dos países
desenvolvidos. 36 Contudo, não acompanhada pelo crescimento e reforma da
economia, algumas leis mais prejudicariam os trabalhadores, não encontrando
empregadores dispostos a pagar o ônus de um funcionário com tantos direitos e
de lucros oscilantes. De qualquer forma, um ganho para o país que não poderia
ficar com a mesma tábua de leis do regime militar.
Já em clima de despedida no último ano de seu governo, o
presidente Sarney enterrou de vez o seu pescoço na guilhotina da opinião
pública. Em comemoração ao bicentenário da Revolução Francesa, uma comitiva
34 Reportagem de capa da revista Veja, 02 de novembro de 1988. Com uma reportagem satírica, a revista vê na candidatura do macaco Tião um triste sinal da banalização do voto diante de tanta decepção com a realidade do país. 35 Reportagem de capa da revista Veja, 18 de janeiro de 1989. O chamado choque de verão foi divulgado como “a última chance contra o caos da hiperinflação.” 36 Reportagem de capa da revista Veja, 02 de março de 1988. Com a reportagem “Um guia para quem trabalha”, o destaque vai para as alterações nas leis trabalhistas do país promulgadas pela nova carta.
112
brasileira de 150 pessoas, encabeçada pelo presidente e alguns amigos
intelectuais transformou-se em um escândalo de grandes proporções. Fazendo a
“festa lá e a raiva aqui”, nas palavras de Veja, 37 José Sarney mergulhou no
colapso da impopularidade e seu governo entrou definitivamente em um estado
vegetativo até a eleição e posse do novo presidente: o primeiro eleito pelo voto
direto depois de quase trinta anos. Em 1989 nada no Brasil teve maior
importância do que isso. Razões não faltavam.
A grande eleição de 1989
Anunciada como a eleição mais democrática da história da nação,
com mais de uma dúzia de candidatos, inclusive uma mulher e um representante
do partido comunista, o pleito deveria realizar-se em dois turnos caso nenhum
dos concorrentes alcançasse cinqüenta mais um por cento dos votos válidos.
Com tanta diversidade na escolha, um feito quase impossível.
De candidaturas históricas como a de Leonel Brizola e inovações
bem-vindas em termos de partido e candidato, como no caso de Lula, do PT, a
eleição contou também com representantes da velha-guarda da oposição na
figura de Ulysses Guimarães do PMDB38 e Paulo Maluf, uma sombra ainda muito
viva da ditadura militar. No entanto, nenhum desses nomes teve brilho e fôlego
37 Reportagem de capa da revista Veja, 19 de julho de 1989. A viagem do presidente Sarney torna-se um escândalo; a presença de amigos do presidente na comitiva é criticada abertamente pela revista. 38 O PMDB, ou Partido do Movimento Democrático Brasileiro, durante anos foi a única voz contra o regime militar; o deputado Ulysses Guimarães consolidou-se como a figura mais emblemática desta sigla.
113
suficientes para enfrentar a grande estrela da corrida presidencial: Fernando
Collor de Mello.
Governador de Alagoas, anunciado em reportagem de capa da
revista como o “caçador de marajás,” 39 jovem, bem-formado, de família
aristocrática no cenário nacional, viajado, esportista. Muitos eram os qualificativos
a pesar sobre o seu nome. Collor de Mello era um sonho de presidente para a
classe alta com um discurso voltado para as classes baixa e média. Um trunfo
inigualável naquele momento em que a esquerda despertava olhares suspeitos
por todas as partes. Quando anunciado como candidato, um frenesi de
curiosidade se abateu sobre todos. 40 Também muitas eram as incógnitas em
torno do seu nome.
À medida que o pleito se aproximava, maior era a sua projeção e
mais altos os seus índices nas pesquisas, assustando e desnorteando o rumo
das campanhas adversárias. Com um marketing competente, Fernando Collor
conseguiu apagar o seu nascimento político ao lado do regime militar e legitimar-
se como o único capaz de liquidar com os muitíssimos problemas que assolavam
o Brasil. Minando nomes políticos consagrados há décadas, contou ainda com
fatos isolados como a exaltação ideológica de brizolistas que o atacaram em
plena campanha eleitoral, na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro; 41 fato
39 Reportagem de capa da revista Veja, 23 de março de 1988. A matéria destaca o empenho do jovem governador de Alagoas em rastrear e acabar com os funcionários que pouco trabalhavam apesar dos altos salários que recebiam do estado, chamados por isso de marajás. 40 Reportagem de capa da revista Veja, 17 de maio de 1989. O perfil do novo candidato à presidência, Fernando Collor de Mello, é descrito em detalhes pela revista. 41 Reportagem de capa da revista Veja, 16 de agosto de 1989. Em meio à campanha que fazia na cidade de Niterói, Collor é violentamente atacado por partidários da campanha de Leonel Brizola, o fato estampado na
114
este que o favoreceu bastante porque o vitimizava frente a uma candidatura
tachada de radical, como foi a de Brizola.
A sua participação no segundo turno da eleição era uma certeza.
Assim, a disputa mais acirrada naquele primeiro momento provocou um racha na
oposição. Os candidatos Leonel Brizola e Lula disputaram voto a voto o direito
de tentar deter o fenômeno Collor.
Contrariando a história e todas as expectativas, é Lula quem recebe
a missão de representar uma alternativa diferente para o futuro do país. Com
uma campanha bipolarizada, o segundo turno foi um show à parte em termos de
confrontos (pessoais e ideológicos) e, sobretudo, de minúcias aparentemente
pequenas mas que no final fizeram a grande diferença.
Ao consagrar-se vencedor, em uma disputa bem apertada no final,
Fernando Collor de Mello fazia a sua vitória em um país dividido, como
sentenciou Veja, 42 e foi também, acredito, um convite à reflexão para os mais
profundos: o Brasil iniciou os 80 pedindo liberdade, democracia, justiça social e o
fim da ditadura militar... e os terminava consagrando nas urnas alguém que
contrariava tudo isso. A memória, como eu já destaquei, de fato parece não ser o
forte dos brasileiros.
capa da revista não deixa de ter um caráter positivo para Collor que assim se vê perseguido e fazendo uma “campanha limpa.” 42 Reportagem de capa da revista Veja, 24 de dezembro de 1989. Vencendo com uma margem pequena, Collor se consagra nas urnas, graças ao eixo São Paulo, Minas, Paraná.
115
OS SONS DA DÉCADA
Este capítulo, dedicado à cobertura musical que Veja fez durante os
anos oitenta, às críticas, apostas e tendências que foram apontadas, é um dos
capítulos que mais cumprem com o objetivo fundamental desta dissertação:
confrontar a minha memória de leitura com o que de fato foi publicado; voltar aos
textos da revista para cotejar o registro1 que fiz e guardei com a fonte que lhe
originou.
Como um tema cultural, a música (juntamente com outras seções
culturais) circulava nas últimas páginas de Veja. Aliás, como ainda o é. Exceto
em algumas edições especiais quando algum grande evento ou músico de
sucesso ganhava a sua capa.
Relendo muitas das matérias publicadas da seção Música, constatei
a tendência da revista a acompanhar os nomes que surgiam no cenário nacional,
bem como dar conta dos novos estilos musicais que surgiam. Como coloquei no
capítulo Preâmbulo de uma década, no início era forte e constante a presença
dos músicos já consagrados pelos movimentos Tropicalismo, Bossa Nova e
Jovem Guarda; estilos variados de nossa MPB. Assim, foi no decorrer da década
que o roque-pop, a marca mais forte dos anos oitenta na música, foi ganhando
espaço paulatinamente, à medida que conquistava a crítica e também o público.
1 Cotejar, literalmente significa: comparar, confrontar. Uso este vocábulo porque acredito que ele consegue expressar de maneira apropriada muito do pretendi fazer não apenas neste capítulo mas em toda a dissertação.
116
Mapeando a cobertura que Veja deu, é possível identificar a
trajetória que tracei acima. Vejamos então:
Em março de 1980 a revista anunciava com a manchete O sonho
não acabou que a “inesperada volta do rock às paradas desconcerta as previsões
e apresenta seus novos ídolos.” 2 Esta reportagem, ainda que apontando o
renascer do roque no cenário internacional, pode ser apontada como um indício
de que um novo fluxo criativo se anunciava para a década recém iniciada.
Durante os anos sessenta e setenta foram os festivais os grandes
responsáveis pela revelação de novos talentos no cenário brasileiro da música;
muitos dos nomes consagrados de nossa MPB tiveram nesses eventos,
extremamente populares, a mola-propulsora para suas carreiras. Porém, nos
anos oitenta, a falta de sincronia com a época ou talvez o desgaste do produto
tornou-se uma realidade concreta. Pelo menos foi assim que o festival promovido
pela rede Globo de televisão foi recebido pela crítica. Conceituando-o como “um
mapa triste,” 3 o gênero dava claros sinais de que se extinguia lentamente. Veja
pontuou esse fato na seção Música, antevendo de fato o que se anunciava.
Rainha do roque
Saindo de uma década e entrando em outra, poucos nomes
conseguiram fazer essa trajetória de maneira tão sólida e feliz como a ex-mutante
2 Reportagem de Veja, seção Música, 12 de março de 1980. A reportagem cita algumas bandas e artistas internacionais que, segundo a leitura da revista, estariam trazendo o roque de volta às paradas musicais. 3 Reportagem de Veja, seção Música, 18 de junho de 1980. A matéria Um mapa triste faz uma avaliação muito negativa do festival organizado pela rede Globo
117
Rita Lee. Durante a pesquisa, percebi o quanto foi fácil a sua impregnação na
minha memória já que inúmeras foram as reportagens, críticas e comentários de
Veja sobre a roqueira paulista, incluindo também uma capa em 1983. Sua
presença foi de fato uma constante. Nos anos que tiveram no roque a vertente
musical mais promissora, Rita Lee foi saudada como sua rainha, além de
carismática figura no quadro artístico nacional.
Em novembro de 1980, a seção Show dedicou seu espaço a cobrir
a monumental apresentação da cantora no Anhembi, em São Paulo; inundando o
lugar de “prazer e emoção”4 e despontando para o estrondoso sucesso que os
anos oitenta lhe dariam.
Mutante por natureza e vocação, Rita Lee pareceu captar bem as
transformações que estavam acontecendo; nos embalos da onda saudável
aclamada pela juventude, 5 ela anunciava estar “convencida de que só o culto à
saúde pode transformar o mundo.” 6 Foi com esta imagem que a revista a
apresentava em 1981, e dizia ainda que a cantora com isso iniciava um novo
namoro com a vanguarda, alusão clara ao inicial performático de sua carreira
dentro dos Mutantes.7
4 Reportagem da revista Veja, com data de 26 de novembro de 1980. Segundo a crítica da revista, a cantora Rita Lee havia conseguido inundar o “Anhembi de prazer e emoção” através do seu fascinante espetáculo. 5 A chamada geração saúde dos anos oitenta foi bastante comentada no capítulo Ser jovem nos anos oitenta. 6 Reportagem da revista Veja, de 04 de novembro de 1981. 7 O grupo Mutantes, na sua formação clássica composto por Rita Lee, Sérgio e Arnaldo Baptista, surgiu no final da década de sessenta e representaram uma inovação musical no cenário da música brasileira, misturando ritmos e várias influências, após a sua dissolução o grupo tornou-se uma referência obrigatória em termos de experimentação musical.
118
A aposta, segundo a própria revista, foi certa. A edição de 11 de
maio de 1983 trouxe Rita Lee na capa aclamada como a rainha do roque no
Brasil, ao lado de seu companheiro, Roberto de Carvalho. A reportagem dava
ênfase à vitoriosa excursão que a cantora fizera pelo país, a maior já realizada
por um artista até então, angariando um público de meio milhão de pessoas e
festejando pelos quatro cantos do país a sua alegria e música contagiantes. 8
A credibilidade de Rita Lee era tão intensa que algumas críticas não
se intimidavam em tomá-la como um estilo ou uma influência. Na matéria
intitulada Os filhos de Rita Lee, 9 Veja traçou um panorama do roque nacional,
ressaltou a importância da cantora e, principalmente, apresentou ao público
aqueles que seriam seus discípulos. Nessa esteira estavam Rádio Táxi, Lulu
Santos, Blitz e Barão Vermelho. Segundo a matéria, essa nova geração estava
invadindo as rádios do Brasil através da trilha aberta pela maior estrela do roque
brasileiro, a crítica elogiava também as melodias que combinavam um “rock
adolescente com mensagens imediatas.”
Antenada nas turbulências e mudanças que agitavam o país no
início da década, a crítica de Veja classificou o seu novo LP, lançado em 1983,
como o “mais contundente” de sua carreira.10 Fazendo alusão à política, com
menos romantismo e muita ironia, a reportagem A boba da corte reverenciava
8 Reportagem especial de capa da revista Veja, com data de 11 de maio de 1983. A reportagem, colocando a cantora e o seu companheiro, Roberto de Carvalho, na capa da edição, é uma crítica de elogio ao grande empreendimento que era a turnê da artista, segundo Veja, a maior já realizada no Brasil. 9 Reportagem da seção Música; Veja, 23 de junho de 1982. 10 Reportagem da seção Música; Veja, 26 de outubro de 1983.
119
Rita Lee como a própria expressão da vanguarda no roque que se fazia no Brasil
naquela época.
Na primeira metade dos anos oitenta parece não haver dúvidas,
pela presença constante, pelo engajamento às tendências, pela eterna postura
de vanguarda e artista única, a revista Veja traduziu Rita Lee como a voz
feminina mais importante do país. Relendo as matérias, revendo as ilustrações e
depoimentos que circulavam sobre sua obra, fica fácil constatar essa afirmação:
Rita Lee, a rainha do roque, uma certeza plantada na minha memória, e tem a
sua raiz na exposição que a revista fez da cantora. Essa lembrança, ao contrário
de outras, teve na volta à fonte que lhe construiu a verificação daquilo que o meu
imaginário guardou sobre Rita Lee nos anos oitenta.
Em 1985, mais uma grande reportagem fecharia o destaque
luminoso que Veja lhe deu em suas páginas. A matéria da seção Música,
intitulada Rita volta a reinar, 11 anunciava o seu novo LP instrumental como sendo
“exuberante”, em uma demonstração clara do prestígio, reconhecimento e boa
crítica que a cantora havia conquistado em sua consagrada carreira solo.
O roque no Brasil
Se o roque brasileiro tinha sua rainha, então é certo também que
havia súditos para ela, ou seja, formou-se um público que apreciava e consumia
11 Reportagem da revista Veja, seção Música, data de 11 de setembro de 1985. A reportagem comenta os dois anos de silêncio da artista e destaque de maneira positiva o seu novo LP instrumental, classificado por Veja como “exuberante”.
120
este tipo de música no Brasil. Nos anos oitenta, como já afirmei, o roque foi o
som preponderante. Ele firmou-se ao longo da década produzindo dezenas de
bandas em todo país que canalizavam para suas letras o Zeitgeist12 em que
viviam.
Por todo o país o som ganhava adeptos ávidos pela musicalidade
que estava sendo produzida e, como conseqüência, ganhava também um público
que freqüentava os locais indicados para ouvir o roque como ele pedia: muito alto
e com muita gente. Era a explosão das casas noturnas. Em novembro de 1983,
Veja apresentou uma reportagem que dava conta daquela profusão do que
nomeou como sendo “os templos do rock”.13 O destaque dessa matéria foi dado
às grandes casas noturnas de São Paulo que conseguiam misturar shows, vídeos
e imensas pistas de dança sobre as quais se aglomeravam centenas de jovens.
O texto da revista comentava ainda os “personagens” desses lugares, os tipos
mais variados que varavam a madrugada ao som de muito roque, pulando e
dançando até o raiar do sol.
À medida que os anos oitenta avançavam, ficava cada vez mais
claro que eles teriam no roque a sua expressão musical mais forte. Veja relatou
isso já no início de 1984. Com o título A vitória da ousadia,14 sua crítica não
poupava elogios ao roque nacional, conceituando-o como “um sopro de vida na
música popular”. Segundo a reportagem, o estilo estava consagrando novos
ídolos musicais no país, como o inglês Ritchie, que ganhou um grande destaque 12 O uso da palavra alemã Zeitgeist já foi explicado na referência 10 do capítulo Carta ao leitor. 13 Reportagem da revista Veja, seção Música, data de 23 de novembro de 1983. 14 Reportagem da revista Veja, seção Música, data de 01 de fevereiro de 1984.
121
na matéria. Veja reverenciava em suas páginas o meio milhão de cópias
vendidas pelo cantor que em suas letras conseguia “combinar letras de
romantismo arrebatado à linguagem eletrônica dos modernos sintetizadores”.
Também como “astros ascendentes” a reportagem trazia o carioca Lulu Santos,
Paralamas do Sucesso, Magazine, Barão Vermelho, Ultrage a Rigor e Eduardo
Dusek.
O destaque de Veja ao roque parece ter sido realmente intenso na
primeira metade dos anos oitenta. Talvez porque a revista estivesse antenada ao
mercado e suas tendências e assim tentava dar conta de um leitor que ao que
tudo indica se interessava pela nítida transformação do repertório musical do
país. Um indício disso é a edição de 27 de junho de 1984. Com a manchete O
mundo alegre das FM15 estampada na capa, a revista semanal mais lida do país
abria um grande espaço para cobrir a explosão das rádios FMs em todo o
território brasileiro. Com programação musical de tempo quase integral, essas
rádios cresciam de maneira espetacular, acompanhando assim o gosto do
público que procurava na música apenas “alegria e diversão”.
O fenômeno das FMs na capa da Veja em 1984 é mais um sinal
forte do quanto importante a música foi para a década de oitenta. A
efervescência musical daquele momento aconteceu porque surgiu um público
interessado em mudanças e novidades no cenário artístico do país.
Em maio de 1985, mais um indício de que era o roque que estava
com a “bola toda” no Brasil. Na seção Cultura, Veja publicou a matéria Um
15 Reportagem de capa da revista Veja, 27 de junho de 1984. A matéria explicava a chamada febre das rádios FMs em todo o Brasil.
122
retrato musicado; 16 seu texto dava consagração às letras dos jovens roqueiros
do país que, segundo a revista, conseguiam retratar o dia-a-dia da geração 80 e
do modo como se vivia no país naquele momento, segundo Veja:
“(...) são justamente os letristas de rock no Brasil que, com a precisão de
antropólogos improvisados, a irreverência de cronistas de sua época e a
velocidade da era do computador, estão compondo um retrato de alta
fidelidade da vida no país nos dias de hoje. Mais precisamente, do
universo urbano, jovem e classe-média do Brasil dos anos 80.” (Veja,
seção Cultura, 8 de maio de 1985, p. 53)
Com um momento musical promissor, bandas pipocando por todo o
país e letras reconhecidas pelo público e pela crítica, o palco tornou-se perfeito
para o espetáculo musical mais monumental do Brasil até então: o Rock in Rio.
Rock in Rio
A três meses do evento, Veja, na seção Divertimento, já anunciava
a grande mobilização que o show causava no público e no “apetite dos grandes
patrocinadores”. Intitulada A cidadela do rock, 17 a revista descrevia o frenesi que
antecedia o grande acontecimento musical da década no Brasil.
Dois meses depois, no calor que se antecipava ao show, Veja
definiu o ritmo maior dos anos oitenta. O Brasil em tempo de rock, manchete da
capa, trazia em suas páginas um texto que apresentava uma imagem
romantizada e idílica do roque. Veja conceituava a expansão do roque como
uma tendência forte, que não comprava briga com ninguém e que ia 16 Reportagem da seção Cultura, Veja, 8 de maio de 1985. 17 Reportagem da seção Divertimento, Veja, 24 de outubro de 1984.
123
alegremente ocupando espaço no mapa musical do país; segundo a matéria da
revista era o roque o próprio “reflexo sonoro dos anos 80”. 18
O Rock in Rio, que durou dez dias, recebeu extensa cobertura por
parte da revista Veja. Após seu término, celebrada e comprovada a grande vitória
e sucesso do evento, a revista dedicou também dez páginas muito bem
ilustradas noticiando e avaliando o que chamou de “a folia que deu certo”. 19 (ver
anexo XII)
O texto da reportagem descrevia com louros as apresentações de
diversos artistas, destaque para Nina Hagen, Angus Young, Yes, Rod Stewart,
Ozzy Osbourne, Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso e Rita Lee. Com um
público total superior a 1 milhão de pessoas, o Rock in Rio, segundo a leitura de
Veja, foi um sucesso estrondoso que colocou o Brasil na rota dos grandes shows
mundiais.
Bandas e trajetórias
Se o roque consolidou-se mesmo como o tipo musical mais
importante dos anos 80, a responsabilidade principal por isso foi das inúmeras
bandas que, com estilos e propostas muito bem sintonizadas a toda conjuntura
cultural do país, mostraram que cabia de fato a elas criar o legado musical da
década. 18 Reportagem de capa da revista Veja, com data de 2 de janeiro de 1985. Em dez páginas, a revista faz uma ampla cobertura do grande festival que foi o Rock in Rio. Ricamente ilustrada, a matéria ressalta principalmente os nomes mais importantes do evento e o fato dele ter colocado o Brasil na rota dos grandes shows mundiais. 19 Reportagem da seção Música; Veja, 23 de janeiro de 1985.
124
A revista Veja, é fácil perceber, foi paulatinamente substituindo os
ídolos da jovem-guarda, os poetas da MPB e os vanguardistas do Tropicalismo
pelas várias bandas que ano após ano eram apresentadas ao público.
Acompanhando a seção Música, percebi isso claramente.
Apresentadas às vezes como um modismo, outras como uma aposta promissora,
essas bandas foram conquistando cada vez mais espaço na revista que, ao que
parece, acompanhou bem a trajetória de algumas delas.
A estréia da banda Barão Vermelho, em 1982, foi noticiada na
seção Música de Veja. Essa banda, ao lado de mais duas ou três, está entre as
lembranças de leitura que eu tenho dessa seção como uma das mais
significativas. Voltando às páginas, percebi que de fato a crítica da revista, sobre
esta banda de roque tipicamente carioca e urbana, foi sempre muito positiva.
A edição de 15 de setembro de 1982 traz a primeira aparição do
Barão Vermelho nas páginas de Veja. A crítica reverenciava a explosiva energia
do grupo e dava um destaque especial à linguagem das letras, diretas e certeiras,
além de elogiar os “impasses e desencontros da adolescência”, 20 tão explícitos
no repertório do primeiro LP do grupo. A formação do Barão Vermelho, com
breve histórico sobre os seus integrantes também aparecia na seção.
Um ano depois, em agosto de 1983, Veja enquadrava o Barão
Vermelho como uma espécie de conseqüência dos agitos que aconteciam no
chamando Baixo Leblon, o point principal da juventude carioca. A reportagem
20 Reportagem da seção Música, revista Veja, 15 de setembro de 1982. A matéria era uma crítica positiva ao tipo de som produzido pela então banda estreante, Barão Vermelho. Construindo uma música repleta de impasses e um certo improviso de linguagem, a nova banda é saudada como uma boa surpresa no cenário musical do país.
125
destacava também o vocalista do grupo, Cazuza, e a cafonice romântica que a
banda incorporava em seu repertório com as canções “dor de cotovelo de
Lupicínio Rodrigues.” 21 Ainda que tudo estampado com a “saborosa ferocidade”
do roque.
Barão Vermelho, como uma das principais bandas do chamado
roque nacional dos anos oitenta, continuaria sua trajetória de sucesso, tendo
talvez o seu grande momento no Rock in Rio, em janeiro de 1985. Apesar de
abalada com a saída do vocalista e figura mais carismática do grupo, a banda
manteve-se no auge com o guitarrista Frejat, que substituiu Cazuza nos vocais.
Carioca, classe média, urbana. Barão Vermelho, as páginas da revista Veja
atestam, foi um dos sons mais presentes e representativos dos anos oitenta no
Brasil.
O roque de Brasília
Ao pensar em algumas bandas dos anos oitenta, sempre as rotulei
como paulistas, cariocas, ou os conjuntos de Brasília. Assim, abri este
subcapítulo porque encontrei de fato respaldo nas páginas de Veja para fazer
isso. Era com distinção que bandas como Legião Urbana e Capital Inicial se
projetavam em cenário nacional.
A revista, talvez seguindo outras edições, também se referia a
essas bandas com certa particularidade. O fato de terem a capital federal como
21 Reportagem da seção Música, revista Veja, 17 de agosto de 1983.
126
cenário de gestação as colocava em uma posição diferente às demais bandas do
eixo Rio-São Paulo.
Na metade da década, em 1985, Veja publica com o título Rock no
planalto, uma matéria destinada a entender ou explicar as nuances diferenciais
que estas bandas possuíam, segundo Veja:
“O rock de Brasília não usa o bom humor como principal ingrediente,como
é de praxe no rock nacional, a sua música está longe dos acordes
românticos de um Lulu Santos ou de um Kid Abelha, por exemplo”. 22
Ou seja, com canções mais “concretas” e politizadas, as bandas do
planalto central do país eram distantes geográfica e culturalmente do restante da
nação. Sua resposta musical não poderia mesmo ser sequer semelhante. O
resultado disso foi um roque mais cru, como o de Legião Urbana que, segundo a
mesma matéria referida acima, era capaz de edificar excelentes letras sobre três
simples acordes musicais. Uma façanha poética de estilo e também ousadia.
Essa tendência da revista em politizar as letras das bandas
brasilienses persistiu ao longo dos anos oitenta. A matéria da seção Música de 27
de janeiro de 1988, intitulada Política da pauleira, trazia uma crítica que
salientava mais uma vez o rock de contestação praticado por Legião Urbana.
Veja destacava também nessa mesma reportagem o quanto popular essas letras
se tornavam, conquistando o público e também a crítica, Legião Urbana se
tornava, à medida que os anos da década passavam, uma das bandas de roque
que melhor simbolizavam a nova proposta musical daquele momento.
22 Reportagem da seção Música, revista Veja, 27 de março de 1985.
127
No final de 1989, Legião Urbana mais uma vez caia nas graças da
crítica na seção Música. Conceituando o grupo formado por Renato Russo,
Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos como uma raridade a unir letras com poesia e
som afiado, a reportagem louvava o LP As quatro estações como uma obra
poética e musical única, e trazia ainda um trecho da letra para exemplificar o
veredicto que a matéria lhe dava. Através de Veja, Legião Urbana em As quatro
estações:
“E há tempos são os jovens que adoecem. Há tempos o encanto está
ausente. Há ferrugens nos sorrisos. Só o acaso estende os braços a
quem procura abrigo e proteção.” 23
Juventude. Doença. Encanto. Sorrisos. Ferrugem. Proteção.
Estados e sentimentos tão intensos expressos com economia e ao mesmo tempo
profundidade. No meu entender, a descrição que a revista Veja fez no decorrer
da década sobre a banda brasiliense Legião Urbana, foi um dos mais felizes
acertos já feitos por ela. Acompanhando as reportagens que noticiaram desde o
seu lançamento até a consagração definitiva, fica clara a impressão de que ao
menos quanto a esta banda, a crítica da revista fez uma análise de sucesso.
Encerrada a década, o talento e a particularidade que proclamava acerca do
grupo manteve-se firme, consolidando Legião Urbana como uma das histórias
musicais mais produtivas dos anos oitenta.
23 Reportagem da seção Música, revista Veja, 01 de novembro de 1989. A reportagem Semana da guitarra traz uma crítica apresentando os novos LPs nacionais que estavam sendo lançados àquele momento. O destaque principal vai para a banda Legião Urbana, reverenciada pela revista como um das expressões musicais mais contundentes do roque brasileiro.
128
O legado
Encerro este capítulo deixando um porém que justifica as escolhas
que fiz para escrevê-lo. Manuseando as páginas de Veja ao longo da pesquisa,
encontrei na seção Música um leque muito aberto de possibilidades. Ainda que a
década tenha sido indiscutivelmente do roque, como a revista atesta com
algumas matérias que usei neste capítulo, há a presença muito significativa
também de outras vertentes que, embora a seção Música tenha notificado, elas
não tiveram envergadura suficiente para se manterem como uma presença forte
por muito tempo.
Nos anos oitenta a tendência musical privilegiada pela revista foi de
fato o roque. Ainda que podendo ilustrar com outros exemplos o destaque que
Veja deu a grupos ou artistas como Ultraje a Rigor, RPM, Metrô, Lobão, Cazuza,
Engenheiros do Hawaii, Gang 90 & Absurdetes, Kid Abelha, Paralamas do
Sucesso etc., eu acredito que o acompanhamento de algumas trajetórias
particulares, como fiz em capítulos anteriores, conseguiu ilustrar bem a
percepção que a seção Música poderia passar aos seus leitores. Uma
percepção, como foi a minha, de que realmente o roque nacional, a explosão de
bandas em diversas partes do país, as letras de forte teor político-social e ainda
carregando muita poesia também, deram a década o contorno musical mais forte.
Ao escolher as trajetórias de Rita Lee e Legião Urbana traçadas por
Veja, eu quis mapear dois exemplos distintos: uma artista solo e uma banda
tipicamente oitentista. Rita Lee, paginada na revista como a rainha do roque e
129
Legião Urbana como a melhor expressão do diferencial roque brasiliense,
conseguem, eu acredito, representar a riqueza e diversidade do gênero no
decorrer dos anos oitenta.
Dentro da proposta inicial da dissertação, o reencontro com os
textos que tiveram grande impacto na minha memória como leitor semanal de
Veja, eu constatei de fato o significativo destaque que os nomes, ilustrações e
críticas citadas por mim neste capítulo tiveram dentro da revista. Recorrendo à
seção Música, algumas reportagens especiais e em alguns momentos também à
capa, foi de fato muito relevante a importância que a música ganhou para as
publicações. Apontando tendências, revelando e apostando em certos nomes,
Veja, eu concluo, acompanhou em suas páginas a transformação musical
ocorrida nos anos oitenta. Transformação essa, intimamente ligada a todo o
contexto social e político do Brasil que se redemocratizava e, paulatinamente,
abolia a censura que tantas coisas havia ceifado nas décadas anteriores.
130
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Escrever esta dissertação, é preciso dizer, foi também um exercício
de nostalgia. Não só escrevê-la, mas o trabalho como um todo, da idéia inicial à
pesquisa e a posterior construção dos capítulos, teve uma motivação muito
intensa.
A idéia básica do trabalho, voltar às páginas da revista Veja nas
suas publicações dos anos oitenta para confrontar o meu registro de leitura com o
que de fato foi publicado, eu acredito, cumpriu-se.
Essa idéia, eu volto a explicar, nasceu da intensa relação de leitura
que eu tive com esta revista durante os anos oitenta. Os primeiros contatos,
paralelos ao meu processo de alfabetização, que datam de maneira mais
profunda na primeira metade da década, ganharam um papel muito maior. Isso
se deu, eu penso, pela forte impressão que as ilustrações e textos me
despertavam. Uma impressão tão forte a ponto de retirá-los da indiferença e do
esquecimento para guardá-los como um registro, sempre muito presente, muito
vivo nas minhas memórias de leitura. Essa verificação que fiz é possível legitimar
nas palavras de Jean Davallon. Vejamos:
“(...) para que haja memória, é preciso que o acontecimento ou o saber
registrado saia da indiferença, que ele deixe o domínio da insignificância.
É preciso que ele conserve uma força a fim de posteriormente fazer
131
impressão. Porque é essa possibilidade de fazer impressão que o termo
“lembrança” evoca na linguagem corrente”. 1
É justamente isso, ou seja, o texto de Veja fez uma profunda
impressão em mim porque deixou uma significância capaz de operar com outras
informações que foram somando-se àquelas que a revista me apresentou.
Como assíduo leitor que fui da revista, guardei um número
considerável de informações que mais tarde articularam-se a outras leituras e
fontes que, como em um arranjo, agruparam-se às marcantes impressões
causadas pelos textos de Veja. Contudo, as leituras posteriores, de fontes
diversas, pareciam pousar sobre uma leitura que para mim parecia ter uma
legitimidade maior, já que como fonte quase única, ela havia ganho um peso
salutar no meu imaginário interiorano. Sendo assim, a meta básica deste
trabalho, desde o primeiro instante, foi a de voltar a essa reconhecida fonte inicial
para, a partir dela, verificar a possível “força causadora de impressão” de que nos
fala Jean Davallon no trecho citado acima. E, após isso, consequentemente
identificar os encontros, apagamentos e acréscimos que puderam ser verificados
entre esse material e a minha fabulação crítica construída sob a exposição a
diversas fontes e reestruturada após uma distância de no mínimo quinze anos.
1 DAVALLON, Jean. A imagem, uma arte de memória? In: Papel da memória; Campinas, SP: Pontes, 1999.
132
No prazer do texto
O reencontro com as publicações de Veja durante os anos oitenta
possibilitou, como já antecipei, um momento de nostalgia e também surpresa
diante de algumas constatações que apresentarei neste capítulo final.
A análise das edições de janeiro de 1980 até dezembro de 1989 me
possibilitou a criação de um outro olhar sobre aquela materialidade escrita que
esteve tão presente no meu processo de aquisição do prazer diante da
linguagem escrita.
Este novo olhar, criado pelo rápido fluxo da pesquisa, no manuseio
de várias edições por dia, despertou uma visão totalizante, em bloco, daquilo que
a revista Veja noticiou em suas páginas no decorrer dos dez anos contemplados
pelo projeto da dissertação. Inevitavelmente, tal como acontecia quando lia estas
edições semanalmente, meu olhar se ateve a algumas seções especiais que
falavam mais à minha subjetividade e que, por isso, tiveram um destaque maior
dentro deste trabalho. Entre essas seções, destaco principalmente aquelas mais
ligadas a temáticas culturais e comportamentais. A razão que justifica esse olhar
mais dedicado a algumas seções sobre outras é de fato o prazer que encontrava
em reportagens ligadas à música, televisão, cinema, comportamento ou diversão.
Algumas como seções permanentes de Veja, outras não, aparecendo mais de
forma sazonal, segundo talvez algum acontecimento que a revista julgasse
importante ser noticiado.
No entanto, o fato é que no reencontro que fiz com aqueles textos
publicados por Veja, eu pude constatar as razões deles terem permanecido de
133
maneira tão ímpar em minha memória de leitura: eles me constituíram como
sujeito-leitor e, principalmente, eles me suscitaram prazer. O mesmo prazer do
qual nos fala Roland Barthes no seu clássico O prazer do texto.
O meu encontro com os textos da revista deu-se muito à maneira
como Barthes apontava a sua interação/análise diante de textos que também
haviam lhe constituído como leitor. Ele explica:
“Cada vez que tento “analisar” um texto que me deu prazer, não é a
minha “subjetividade” que volto a encontrar, mas o meu “indivíduo”, dado
que torna meu corpo separado dos outros corpos e lhe apropria seu
sofrimento e seu prazer: é meu corpo de fruição que volto a encontrar. E
esse corpo de fruição é também meu sujeito histórico; pois é ao termo
uma combinação muito delicada de elementos biográficos, históricos,
sociológicos, neuróticos (educação, classe social, configuração infantil
etc.) que regulo o jogo contraditório do prazer (cultural) e da fruição
(incultural), e que me escrevo como um sujeito atualmente malsituado,
vindo demasiado tarde ou demasiado cedo (não designando este
demasiado nem um pesar nem uma falta nem um azar, mas apenas
convidando a um lugar nulo): sujeito anacrônico, à deriva.” (BARTHES,
2002, p. 73)
Isso explica muito do que senti e percebi diante daquela imensidão
de textos que eu havia lido e relido tantas vezes: um encontro com a formação do
meu sujeito histórico como um leitor e um encontro também com a minha
fruição/prazer em ler e assim me constituir por meio dessa leitura.
Desse encontro que fiz nasceu a surpresa e o interesse pela
confrontação dos meus registros diante das inúmeras distorções, apagamentos e
acréscimos, já mencionados, que construí sobre aquelas leituras proporcionadas
pela revista Veja.
134
Recortes
A revista Veja, com edições semanais desde 1968, cujo histórico eu
já mencionei na introdução deste trabalho, foi pensada fundamentalmente como
um veículo de mídia escrita. Uma revista voltada preferencialmente a cobrir
questões ligadas à política e economia em âmbito nacional e, filtrando os
acontecimentos mais significativos para o Brasil, também almejando uma
cobertura internacional com prestígio e credibilidade.
Na esfera cultural, entendendo esta como aquela que dá conta de
uma cobertura jornalística de divulgação e crítica a acontecimentos ligados à
música, cinema, tevê, teatro, dança, artes plásticas etc., a revista não tinha a sua
ambição maior. Jornalista por paixão, Victor Civita, idealizador de Veja, preferiu
dar a sua criação um contorno muito mais político. No entanto, circulando
comumente nas últimas páginas de cada edição, publicadas com uma
periodicidade não definida, as seções culturais sempre foram as que despertaram
mais o meu interesse como leitor, tornando então para mim comum o hábito de
conhecer as edições consultando-as a partir das páginas finais.
Assim, nesta dissertação nitidamente eu privilegiei a leitura e a
releitura destas seções culturais de Veja porque, como já expliquei, elas
compuseram as minhas memórias de uma maneira mais particular. Na verdade
mais do que isso; ouso mesmo dizer de uma maneira mais íntima haja vista
também toda a minha posterior formação acadêmica, que claramente me coloca
mais ligado a questões ligadas à produção cultural.
135
Diante disso, na construção deste trabalho optei por compilar
algumas seções da revista porque visualizei uma ligação entre elas. Parte dessa
opção de trabalho já foi mencionada, mas neste momento de conclusão acredito
ser necessária uma justificativa mais detalhada.
Os capítulos, com exceção ao Sob a lona do Circo Voador, em sua
quase totalidade nasceram das seções Política, Economia, Brasil, Música,
Televisão, Comportamento, Saúde, Diversão, Lazer e Cidades. Estas seções, por
terem sido as mais lidas e por isso estarem muito presentes aos registros de
leitura que fiz, ganharam no momento da pesquisa um olhar mais apurado no
sentido mesmo de reencontrar aquela materialidade formadora, pelo pensamento
de Barthes, do sujeito histórico e leitor que eu fui.
Nessa trajetória, rompeu-se a idéia inicial de abrir um capítulo para
cada uma destas seções. A primeira razão para isso foi a de que nem todas elas
estavam presentes das edições semanais de Veja; a segunda é que eu
objetivamente identifiquei pontos de encontro, influência e foco comum em várias
seções como, por exemplo, as de Saúde e Comportamento, nas quais
nitidamente foi fácil encontrar relações entre as reportagens de uma e outra. O
caso que melhor exemplifica essa possibilidade é o tema da AIDS: um problema
que circulou em Veja como uma questão de comportamento com implicações
diretas à saúde das pessoas.
Visualizando então essas possibilidades de compilação, nasceram
capítulos como Da ditadura à democracia, único capítulo não ligado à esfera
cultural, porém imprescindível pelo caráter informativo acerca das mudanças
ocorridas no país ao longo da década. Este capítulo foi o resultado das seções
136
Economia, Política, Brasil e também algumas reportagens especiais e de capa
que puderam ser direcionadas nesse mesmo campo temático.
Uma ressalva quanto ao procedimento comum que adotei para a
construção dos capítulos cabe apenas ao Sob a lona do Circo Voador porque
reconheço a particularidade sui generis de sua presença da dissertação. O Circo
Voador não é e nunca foi uma seção da revista Veja. Na verdade, as reportagens
diretamente relacionadas ao Circo são poucas, como é possível verificar nas
referências do capítulo. No entanto, a inclusão de um texto específico para
comentar a história e a proposta do Circo Voador me pareceu viável já que ela
estaria em acordo com um dos objetivos centrais deste trabalho: construir uma
dissertação que é a minha memória como leitor da revista. Conceituando ainda
esta memória como um resultado da intensa relação que eu constituí com Veja
durante os anos oitenta. É nessa possibilidade portanto que nasceu a
potencialidade de criar um capítulo capaz de expressar toda a impressão e
impacto que aquela idéia (um circo armado na praia com inúmeros artistas que se
consagrariam no decorrer daqueles próximos anos) despertou no meu imaginário
infantil.
Considero este um caso que conceituo como uma hiperleitura, ou
seja, eu superdimensionei as notas de Veja sobre a idéia do Circo Voador. A
minha percepção e leitura acrescentaram inúmeros significados àquelas
informações e ilustrações que a revista divulgou. Curiosidade: construir
maquetes do Circo de acordo com a ilustração que encontrei em Veja foi um
hábito cultivado por algum tempo e que eu penso consegue transmitir bem o
137
quanto importante a concepção do Circo Voador transmitida pela revista tornou-
se singular para mim.
Ainda apresentando algumas singularidades deste trabalho, eu
justifico o porquê das poucas referências teóricas que utilizei. A razão principal,
pensada desde o princípio, encontra-se no esforço por construir um texto que
resultasse da minha memória, das lembranças que guardei e que fosse
submetido à releitura de confronto e constatação. Fazendo isso, o resultado
obtido foi o de um texto “mais livre”: resultado direto da minha fabulação, dos
meus arquivos de memória e da pesquisa que elucidou algumas distorções que
eu havia feito.
Omissões
Se contemplei neste trabalho muitas seções, possibilidades e
temas, afirmo também que muitas outras e seus possíveis desdobramentos
ficaram ausentes deliberadamente ou não tiveram simplesmente uma carga muito
significativa dentro da idéia base da dissertação.
Entre as primeiras, aquelas que deliberadamente excluí, estão
seções como Cinema, Livros e Internacional. A justificativa para isso encontra-se
no fato de que a seção Livros, às vezes também metamorfoseada em Autores ou
Literatura, de fato não poderia ser referendada pela minha memória como leitor
de Veja e portanto não cumpriria com o objetivo primordial a que me propus. Para
seção Cinema a razão é outra: ainda que credenciada por algumas lembranças
muito significativas, o emaranhado todo misturava, sob um mesmo leque, obras
138
nacionais e, principalmente, estrangeiras (norte-americanas em sua vasta
maioria). Diante disso, fiz a opção de não mencionar, de não abrir um capítulo
para comentar as minhas memórias de leitura quanto a essa seção específica da
revista. Fiz essa opção porque procurei localizar essas lembranças
preferencialmente dentro do cenário nacional, já que assim eu teria um campo
mais delimitado e específico, além de poder explorar mais profundamente os
fatos ao invés de apenas mencioná-los. Assim, foi por essa razão também que a
seção Internacional não foi incluída apesar de toda a carga de memória que eu
retinha comigo quanto aos destaques internacionais que circularam por Veja. A
interação, destaque e importância que tais notícias obtiveram, segundo o olhar da
revista, poderia resultar em um outro trabalho. Além disso, não haveria mesmo
fôlego para conceituar a vasta cobertura internacional noticiada; entrar nesse
campo de análise, ainda que muito rico e deveras interessante, foi evitado então
pelos motivos que já coloquei acima.
Espero assim que tenha justificado algumas possíveis ausências
referentes a temas ou seções que circularam pelas páginas de Veja nos anos
oitenta. Considerando meus propósitos e as inevitáveis seleções e recortes que
precisei fazer, acredito que os capítulos conseguiram expressar e dar conta do
meu registro de leitura, das minhas lembranças e consequentemente das minhas
interpretações como um leitor atento e impressionado que fui.
139
Última seção
A memória registra, guarda para si pontos, lugares, nomes, palavras
etc. Retém o que lhe interessa de maneira aparentemente aleatória, sem
justificativas precisas ou ordenadas, jogando fora ou acrescentando a seu bel
prazer.
Desnecessário dizer que da sua concepção à finalização este
projeto tomou muitos caminhos diferentes àqueles traçados pela rota inicial.
Entretanto, ainda assim eu finalizo acreditando que a dissertação conseguiu
alcançar suas principais metas: transmitir uma memória de leitura produzida por
um leitor da revista Veja durante os anos oitenta; dar uma ênfase aos aspectos
culturais dessa memória produzida; voltar às edições da revista Veja para
confrontar os meus registros de leitor com o que realmente fora publicado e por
fim dissertar um texto capaz de expressar a subjetividade das minhas lembranças
ancoradas nas reportagens que lhes formaram.
Muito bem, o resultado de tudo aparentemente está aqui. Termina
aqui? Acredito que não. Talvez seja apenas um começo. Gostaria de deixar
também nessa dissertação a surpresa que foi para mim no decorrer de todo este
projeto ouvir, ver e sentir os anos oitenta em documentários, livros, especiais
musicais, sites na internet e todo um revival oitentista que surgiu com uma
profusão imensa. Nada disso havia até três anos atrás. Nestes dois últimos dois
anos é que uma quantidade significativa de análises e pensamentos surgiu sobre
aquela até antão denominada “década perdida”.
140
Minha relação com toda essa materialidade sobre os anos oitenta
foi, eu confesso, tímida, porque tive receio de ver o meu objetivo principal (a
minha memória através de Veja) perder-se diante de outras memórias e
pesquisas que não as minhas. Ausentei-me então, foi uma escolha. Preferi dar
seguimento ao objetivo central do meu trabalho, sem outras influências, para que
ele pudesse de fato ser, como o título anuncia: Veja, os anos oitenta em
revista.
141
BIBLIOGRAFIA
ACHARD, Pierre. DAVALLON, Jean. DURAND, Jean-Louis.
ORLANDI, Eni P. PÊCHEUX, Michel. Papel da
memória.Tradução José Horta Nunes. Campinas, SP: Pontes,
1999.
BAKHTIN, Mikhail. A cultura popular na Idade Média e no
Renascimento: o contexto de François Rabelais. São Paulo:
HUCITEC-UNB, 1993.
BAKHTIN, Mikhail. Estética da criação verbal. São Paulo: Martins
Fontes, 1997.
BAKHTIN, Mikhail. Questões de literatura e estética: a teoria do
romance. São Paulo: Editora Unesp, 1998.
BARTHES, Roland. O prazer do texto. 3. ed. São Paulo:
Perspectiva, 2002.
BARTHES, Roland. O rumor da língua. São Paulo: Brasiliense,
1988.
BAUMAN, Zygmunt. O mal estar da pós-modernidade. Tradução
Mauro Gama e Claudia Martinelli. Rio de Janeiro: Jorge Zahar,
1997.
BENJAMIN, Walter. A origem do drama barroco alemão.
Brasiliense, 1984.
142
BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre
literatura e história da cultura. Tradução Sérgio Paulo Rouanet.
7. ed. São Paulo: Brasiliense, 1994.
BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura
da modernidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1986.
BHABHA, Homi. O local da cultura. Tradução Myriam Ávila, Eliana
Lourenço Reis, Gláucia Renate Gonçalves. Belo Horizonte: Ed.
UFMG, 1998.
BLOOM, Harold. O cânone ocidental – os livros e a escola do
tempo. Tradução de Marcos Santarrita. Rio de Janeiro: Objetiva,
1994.
BLOOM, Harold. Como e por que ler. Tradução de José Roberto
O’Shea. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000.
BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. São Paulo: Companhia das
Letras, 1992.
BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo:
Cutrix, 1976.
BOSI, Ecléa. Memória e sociedade: lembranças de velhos. São
Paulo, 1987.
BRYAN, Guilherme. Quem tem um sonho não dança-Cultura jovem
brasileira nos anos 80. Rio de Janeiro: Record, 2004.
CALVINO, Ítalo. Por que ler os clássicos? Tradução de Nilson
Moulin. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.
143
CANCLINI, Nestor García. A globalização imaginada. São Paulo:
Iluminuras, 2003.
CANCLINI, Nestor García. Culturas híbridas: estratégias para entrar
e sair da modernidade. Tradução Heloísa Pezza Cintrão e Ana
Regina Lessa. São Paulo: USP, 1998.
CANDIDO, Antonio. Literatura e sociedade: estudo de teoria e
história literária. 6. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional,
1980.
CERTEAU, Michel de. A cultura no plural. Tradução Enid Abreu
Dobránszky. Campinas: Papirus, 1995.
CEVASCO, Maria Elisa. Dez lições sobre estudos culturais. São
Paulo: Boitempo Editorial, 2003.
CHARTIER, Roger. A história cultural entre práticas e
representações. Lisboa e Rio de Janeiro: Difel e Bertrand, 1990.
COMPAGNON, Antoine. Os cinco paradoxos da modernidade.
Tradução Cleonice Mourão, Consuelo F. Santiago e Eunice D.
Galéry. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1996.
CUNHA, Manuela Carneiro da. Antropologia do Brasil: mito, história,
etnicidade. São Paulo: Brasiliense, 1986.
DAMATTA, Roberto. A casa e a rua: espaço, cidadania, mulher e
morte no Brasil. Rio de Janeiro: Rocco, 1997.
DAVIS, Natalie Zemon. Culturas do povo. Rio de Janeiro: Paz e
Terra, 1990.
144
EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução. Tradução
Waltensir Dutra. São Paulo: Martins Fontes, s/d.
ECO, Umberto. Cinco escritos morais. Tradução de Eliana Aguiar.
3. ed. Rio de Janeiro: Record, 1998.
ECO, Umberto. Seis passeios pelos bosques da ficção. Tradução
Hildegard Feist. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.
ESCOSTEGUY, Ana Carolina D. Cartografias dos estudos culturais:
uma versão latino-americana. Belo Horizonte: Autêntica, 2001.
FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. Tradução Luiz Felipe
Baeta Neves. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995.
FOUCAULT, Michel. A ordem do discurso. 7. ed. São Paulo:
Edições Loyola, 2001.
FOUCAULT, Michel. As palavras e as coisas: uma arqueologia das
ciências humanas. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1992.
FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: a vontade de saber.
Rio de Janeiro, Edições Graal, 1988.
FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Rio de Janeiro: Graal,
1979.
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Tradução de Fanny
Wrobel. Rio de Janeiro: Zahar, 1978.
HABERT, Nadine. A década de 70. Apogeu e crise da ditadura
militar brasileira. Série Princípios. São Paulo: Ática, 1996.
145
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Tradução
Tomaz tadeu da Silva e Guaracira Lopes Louro. 7. ed. Rio de
Janeiro: DP & A, 2002.
HALL, Stuart. Da diáspora: identidades e mediações culturais. Belo
Horizonte: Editora UFMG/ Brasília: Unesco, 2003.
IANNI, Octavio. Enigmas da modernidade-mundo. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2000.
IANNI, Octavio. Teorias da globalização. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1998.
LE GOFF, Jacques. História e memória. Campinas: Unicamp, 1994.
LIMA, Luiz Costa. Teoria da cultura de massa. 3. ed. São Paulo:
Paz e Terra, 1982.
LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. Tradução
Ricardo Corrêa Barbosa. Rio de Janeiro: José Olympio, 2002.
MACEDO, Diva Cunha P. de. D. Sebastião: a metáfora de uma
espera. Natal: Ed. Universitária UFRN, 1980.
MACHADO, Roberto. Foucault, a filosofia e a literatura. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2000.
MACLAREN, Peter. Multiculturalismo crítico. 2. ed. São Paulo:
Cortez, 1999.
MORICONI, Ítalo. Provocação pós-moderna. Razão histórica e
política da teoria hoje. Rio de Janeiro: Diadorim, 1994.
146
MORIN, Edgar. Cultura de massas no século XX: neurose.
Tradução Maura Ribeiro Sardinha. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 1997.
ORGANON – Literatura brasileiro de 70 a 90. Revista da Faculdade
de Filosofia da UFRGS, Instituto de Letras – v. 1, número 17,
1991.
ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. São Paulo:
Brasiliense, 1985.
PAES, Maria Helena Simões. A década de 60. Rebeldia,
contestação e repressão política. São Paulo: Ática, 1999.
PAGLIA, Camille. Personas sexuais: arte e decadência de Nefertite
a Emily Dickinson. São Paulo: Companhia das Letras, 1992.
PAZ, Octavio. Signos em rotação. Tradução Sebastião Uchoa Leite.
São Paulo: Perspectiva, 1990.
PICCHIO, Luciana Stegagno. História da literatura brasileira. Rio de
Janeiro : Editora Nova Aguilar, 1997.
RAJCHMAN, John. Foucault: a liberdade da filosofia. Tradução
Álvaro Cabral. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1987.
RODRIGUES, Marly. A década de 80. Brasil: quando a multidão
voltou às praças. São Paulo: Ática, 1999.
RAMOS, Tânia Regina de Oliveira. Memórias: uma oportunidade
poética. Rio de Janeiro: Ed. PUC, 1990.
147
SAID, Edward W. O orientalismo revisto. Tradução Heloisa Barbosa.
In: HOLLANDA, Heloisa Buarque de. Pós-modernismo e política.
Rio de Janeiro: Rocco, 1991.
SANTIAGO, Silviano. Nas malhas da letra. São Paulo: Companhia
das Letras, 1989.
SANTIAGO, Silviano. Vale quanto pesa. Rio de Janeiro: Editora Paz
e Terra, 1982.
SARTRE, Jean-Paul. Em defesa dos intelectuais. Tradução de
Sérgio Góes de Paula. São Paulo: Ática, 1994.
SODRÉ, Muniz. Best-seller: literatura de mercado. Série Princípios.
São Paulo: Ática, 1985.
SONTAG, Susan. A doença como metáfora. Rio de Janeiro:
Edições Graal, 1984.
SONTAG, Susan. Aids e suas metáforas. São Paulo: Companhia
das Letras, 1989.
SÜSSEKIND, Flora. Literatura e vida literária: polêmicas, diários e
retratos. Rio de janeiro: Jorge Zahar Ed., 1985.
SÜSSEKIND, Flora. Papéis colados. Rio de Janeiro: Editora UFRJ,
1993.
148