Diagnóstico da Situação da Criança, do Adolescente e do Jovem em Belo Horizonte
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS FACULDADE DE DIREITO A RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO...
Transcript of UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS FACULDADE DE DIREITO A RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO...
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
FACULDADE DE DIREITO
HENRIQUE DE ALMEIDA CARVALHO
A RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA TERCEIRIZAÇÃO
TRABALHISTA À LUZ DA SÚMULA 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO
BELO HORIZONTE
2012
HENRIQUE DE ALMEIDA CARVALHO
A RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA TERCEIRIZAÇÃO
TRABALHISTA À LUZ DA SÚMULA 331 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO
TRABALHO
Monografia apresentada ao Colegiado de Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, como requisito para a aprovação na disciplina “Defesa de Monografia”. Orientador: Prof. Dr. Antônio Álvares da Silva
BELO HORIZONTE 2012
FOLHA DE AVALIAÇÃO
Prof. Dr. Antônio Álvares da Silva
Nota: ____________
Prof. Drª. Adriana Goulart de Sena Orsini
Nota: ____________
Prof. Júlio César de Paula Guimarães Baía
Nota: ____________
Nota final: ________________
DEDICATÓRIA
Dedico este trabalho ao meu pai, Sebastião, à minha
mãe, Soraya, e à minha irmã, Priscila, pelos
momentos não compartilhados, pela compreensão e
apoio.
AGRADECIMENTOS
Agradeço à Faculdade de Direito da Universidade
Federal de Minas Gerais, pelos anos de aprendizado,
desenvolvimento pessoal e amadurecimento do
pensamento.
Aos professores, em especial ao meu orientador,
Prof. Dr. Antônio Álvares da Silva, cujas ideias
nortearam o desenvolvimento deste trabalho.
RESUMO
O presente trabalho de conclusão de curso tem como objetivo construir a identidade da
responsabilidade atribuída à Administração Pública nos contratos de terceirização, mormente
em face do inadimplemento da empresa terceirizante (prestadora de serviços) quanto aos
créditos trabalhistas dos empregados terceirizados. A análise enfatizará as recentes alterações
do enunciado da Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho sob a ótica da teoria da
responsabilidade civil e da interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal à aplicação do
art. 71 da Lei Federal nº 8.666/93 (Lei de Licitações). Para tanto, iniciamos uma análise do
fenômeno da globalização e da questionada corrente de flexibilização das relações laborais,
como gênesis da terceirização trabalhista. Em seguida, tratamos da conceituação e disposição
do que é aceito pela jurisprudência trabalhista pátria em termos de terceirização, espeque na
divisão clássica entre terceirização lícita e ilícita moldada na Súmula nº 331/TST. Com isso,
destacaremos a evolução da terceirização na atividade estatal para, após uma breve análise da
teoria civilista da responsabilidade, passar a delimitar qual seria a natureza da
responsabilidade do tomador de serviços e se esta teria aplicação na hipótese em que figure ali
um ente da Administração Pública.
PALAVRAS-CHAVE
I. Direito do Trabalho; II. Terceirização; III. Súmula nº 331/TST; IV. Inadimplemento das
Obrigações Trabalhistas; V. Responsabilidade; VI. Administração Pública; VII. Lei nº
8.666/93; VIII. ADC nº 16.
SUMÁRIO
INTRODUÇÃO..................................................................................................................... 8 CAPÍTULO I – O ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL E A CRISE DO CAPITAL.. 9 CAPÍTULO II - GLOBALIZAÇÃO E FLEXIBILIZAÇÃO DO DIREITO LABORAL.............................................................................................................................
11
2.1. O Fenômeno da Globalização........................................................................................ 11 2.2. Flexibilização do Direito Laboral................................................................................. 14 CAPÍTULO III - A TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA............................................... 17 3.1. Terceirização Lícita e Ilícita: Súmula nº 331/TST 19 3.2. Evolução da Terceirização no Âmbito da Administração Pública 24 CAPÍTULO IV – AS FACETAS DA RESPONSABILIDADE CIVIL: SUBJETIVA, OBJETIVA E POR FATO DE TERCEIRO......................................................................
30
CAPÍTULO V – A RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS E O CASO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA........................................................................
34
CAPÍTULO VI – CONCLUSÃO......................................................................................... 47 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS................................................................................ 50
INTRODUÇÃO
Após a crise do Estado de Bem-Estar Social do final do século XX e o advento da
mais nova fase de desenvolvimento do sistema de produção capitalista, tem-se o sustentáculo
para a instituição do fenômeno conhecido como globalização, principal sujeito do processo de
rompimento das barreiras territoriais e internacionalização das relações humanas.
A mudança social advinda da globalização atua, principalmente, proporcionando uma
espécie de especialização da atividade humana, cujos reflexos são acentuadamente percebidos
na economia, na cultura, na política e, especialmente, no direito, “como instituição social que
tem o fato como matéria-prima objeto de sua missão” (SILVA. 2011, p. 26).
No campo das relações laborais, inseridas no centro deste novo contexto do sistema de
produção capitalista, a globalização apresenta uma de suas manifestações mais marcantes,
externalizada na tendência à flexibilização dos direitos trabalhistas, que, no ensinamento de
URIARTE, acabam por significar uma tentativa de “eliminação, diminuição, afrouxamento ou
adaptação da proteção trabalhista clássica, com a finalidade – real ou pretensa – de
aumentar o investimento, o emprego ou a competitividade da empresa” (apud GONÇALVES.
2004, p. 114). Sob esta ótica surge a terceirização, sinônimo da expansão das atividades
empresariais e núcleo dos fenômenos econômicos e políticos do mundo globalizado.
Deveras, tais alterações não ficam restritas ao âmbito das relações privadas, não
podendo o Estado quedar-se inerte frente ao desenvolvimento social, cultivando a estrutura
retrógada e onerosa oriunda do modelo intervencionista e centralizador. Com efeito, passa-se
a adotar a teoria de Estado Mínimo em busca de formas de redução da máquina estatal e
solução dos problemas cada vez mais especializados.
Com isso, procedeu-se a uma reformulação dos quadros das instituições públicas, de
forma a melhorar o desempenho da função administrativa, adotando-se, pois, a estrutura da
terceirização trabalhista. É dizer, a Administração Pública busca estabelecer parcerias com o
setor privado para a realização de suas atividades.
Contudo, o crescente avanço da vida social e o desenvolvimento característico da
atividade econômica globalizada moldaram um contexto no qual os fatos se adiantam à lei,
que se mostra incapaz de delimitar inúmeras nuances das relações de trabalho fundamentais
para a manutenção de sua higidez.
Nesta lacuna legislativa se encontra a terceirização trabalhista. Com efeito, dada a
complexidade da estrutura que se configura na contramão do modelo empregatício clássico, o
Tribunal Superior do Trabalho criou parâmetros para a sua utilização por meio da edição da
Súmula nº 331, de forma a coibir os reincidentes abusos que comprometiam o crédito
alimentar do trabalhador terceirizado, em especial àquele contratado na prestação de serviços
às entidades estatais.
Essa conjuntura conduziu a calorosas discussões entre a ordem trabalhista, sob o viés
protetivo do trabalhador hipossuficiente, e a vertente administrativista, com fulcro nos
princípios que sustentam a atuação do Estado. Surgiu então a divergência na possibilidade de
responsabilização das entidades da Administração Pública pelo pagamento do crédito
trabalhista ante o inadimplemento das obrigações inerentes às empresas terceirizantes (reais
empregadoras), consubstanciada na aplicabilidade e constitucionalidade do art. 71, §1º da Lei
nº 8.666/93.
Neste diapasão, o presente trabalho objetiva construir a identidade da responsabilidade
da Administração Pública na terceirização trabalhista, compreendendo os fundamentos do
debate desde a aplicação da teoria da responsabilidade civil até a interpretação proferida pelo
Supremo Tribunal Federal acerca da constitucionalidade do art. 71, §1º da Lei 8.666/93 (ADC
nº 16), tudo sob a ótica das alterações da Súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho. Por
fim, pretende-se elucidar o imperativo da responsabilidade estatal na terceirização como meio
de garantir o não retrocesso dos direito basilares do trabalhador no Estado Democrático de
Direito, tendência a ser seguida pela jurisprudência trabalhista.
CAPÍTULO I – O ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL E A CRISE DO CAPITAL
Entre os anos de 1945 a 1970, o Estado de Bem-Estar Social legitimou-se como o
modelo de Estado predominante nos países de capitalismo central, marcando a prática
intervencionista na economia como forma de regular o acentuado desequilíbrio oriundo do
liberalismo econômico.
Nesse contexto, o Estado passou a assumir políticas de planejamento e de assistência
social voltadas para a dignidade dos trabalhadores, implementando uma política formal do
pleno emprego e ampliando o papel dos direitos ditos de segunda geração (sociais, culturais e
econômicos)1, bem concedendo cunho social aos outros.
1 Segundo o magistério do Ministro Gilmar Ferreira Mendes, “os ditos direitos sociais são concebidos como instrumentos destinados à efetiva redução e/ou supressão de desigualdades, segundo a regra de
No âmbito jurídico, surgiu a necessidade da aplicação dos fins sociais da lei na
atuação do Poder Judiciário, em detrimento da observância puramente da segurança jurídica,
momento no qual ficou marcada a ascensão e maturação do Direito do Trabalho e do
movimento sindical. Este, por sua vez, iniciou uma atuação em busca de resultados favoráveis
aos trabalhadores no que toca aos direitos sociais e melhores condições de trabalho, ainda que
sua atuação política fosse considerada tímida.
Nesse ponto, imperioso consignar que foi sob essa nova ótica social da criação de uma
estrutura protetiva ao empregado, como parte hipossuficiente da relação empregatícia, que
surgiu o princípio basilar do Direito do Trabalho denominado princípio da proteção ou
princípio tutelar2.
Outrossim, o Estado de Bem-Estar Social marcou uma das grande fases de avanço da
economia capitalista, com um crescimento vertiginoso da indústria e desenvolvimento do
denominado modelo fordista de produção combinado com o método taylorista de divisão do
trabalho. Sobre o tema, veja-se a análise de Márcio Túlio Viana:
Foi para se segurar dos riscos do mercado que Ford verticalizou sua empresa, dominando, passo a passo, todo o ciclo produtivo - desde o cultivo de borracha em suas plantações na Amazônia até o último parafuso do famoso Modelo-T. Foi também para isso que acentuou os métodos tayloristas de divisão do trabalho, garantindo não só altas taxas de produtividade, mas sobretudo o controle da resistência operária. O Estado dos tempos de Ford respondia aos seus anseios, pois se de um lado dava infraestrutura, com obras de todo tipo, de outro garantia o consumo, com políticas de bem-estar, tudo segundo as lições de John Maynard Keynes. (1999, p. 885)
Com efeito, a fórmula do binômio taylorismo/fordismo foi capaz de estabelecer uma
redução do tempo e o aumento do ritmo de trabalho que, com a criação das linhas de
montagem e do sistema de produção em série, tornou-se um fenômeno fortemente capaz de
influenciar toda a produção do capitalismo central da época.
que se deve tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida da sua desigualdade” (Curso de Direito Constitucional, 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008. p.710) 2 Conforme assevera Maurício Godinho Delgado, “o princípio tutelar influi em todos os segmentos do Direito Individual do Trabalho, influindo na própria perspectiva desse ramo ao construir-se, desenvolver-se e atuar como direito. Efetivamente, há ampla predominância nesse ramo jurídico especializado de regras essencialmente protetivas, tutelares da vontade ao trabalhador; suas presunções são elaboradas em vista do alcance da mesma vantagem jurídica retificadora da diferenciação social prática. Na verdade, pode-se afirmar que sem a ideia protetivo-retificadora, o Direito Individual do Trabalho não se justificaria histórica e cientificamente”. (Curso de Direito do Trabalho, 9ª ed. São Paulo: LTr, 2010. p.183)
De fato, este sistema primava pela desconsideração da qualidade pessoal de cada
trabalhador, desqualificando-o da posição de sujeito da produção para mero mecanismo de
produção em massa, facilitando o seu controle pelo sistema capitalista. Lado outro, ainda que
se observasse uma crescente reinvindicação sindical por melhores salários e melhores
condições de trabalho, os trabalhadores eram induzidos a não contestarem o sistema ou o
próprio Estado de Bem-Estar Social.
Assim estaria instaurado o alicerce para o avanço do capital, especialmente no que
toca ao apoio político fornecido pelos sindicatos ao Estado e ao sucesso da produção
taylorista/fordista.
Ocorre que, o processo de acumulação capitalista que atingia sua prosperidade,
“pareceu esgotar-se em um forte impassse: em 1970, manifestou-se uma de suas crises
estruturais, instaurando-se uma fase de retrocesso e de limitação de direitos, cujos impactos
afetaram estruturas e componentes do sistema capitalista de produção” (DELGADO, G.
2003, p. 54).
É que, em função do surgimento do excesso de capacidade e de produção, da perda da
lucratividade das indústrias, da diminuição das taxas de acumulação de capital, do
esgotamento dos padrões taylorista e fordista de produção, da elevação do desemprego
estrutural e da precarização do trabalho, a ideologia neoliberal de desregulamentação e não
intervenção social do Estado ganhou espaço no cenário político.
Dessa forma, deixou de ser conveniente para a reprodução do capital que o Estado
investisse em políticas públicas e em planejamento econômico, razão pela qual se procedeu a
uma reestruturação do sistema capitalista em torno da circulação de capital financeiro e de
investimentos especulativos em detrimento do capital produtivo.
Com o processo de instauração do pensamento neoliberal, de forma a garantir a
sobrevivência do capitalismo, inicia-se o fenômeno que se chamou de globalização ou
mundialização do capital, organizado sob a premissa da circulação do capital financeiro por
meio da ampliação dos mercados e da integração produtiva em escala mundial.
Nesse diapasão, surgem novos modelos empresariais mais adequados à globalização
econômica e a revolução tecnológica, de modo a internacionalizar a concorrência e, ainda,
nota-se o aumento considerável da atuação das multinacionais, com ao consequente
fragmentação da cadeia produtiva.
Por conseguinte, o advento de um novo sistema de produção e circulação de capital
produziu alterações significativas no universo jurídico e, especialmente, na regulamentação
das relações laborais, conforme assevera Gabriela Neves Delgado:
No conjunto de todas essas mudanças, as relações empregatícias e de trabalho também foram fortemente afetadas, dando origem a uma crise sem precedentes no sistema trabalhista predominante, inclusive no ramo jurídico direcionado a regular tais relações, o Direito do Trabalho. (2003, p. 59)
CAPÍTULO II – GLOBALIZAÇÃO E FLEXIBILIZAÇÃO DO DIREITO LABORAL
2.1. O Fenômeno da Globalização
Ao final do século XX, surge uma nova fase do sistema capitalista denominada
“globalização”, “globalismo” ou “mundialização”, caracterizada pelo fim das barreiras
territoriais e pela maior proximidade dos sistemas nacionais e regionais de mercado.
Este fenômeno apresenta como sua principal característica a intensificação da
comunicação humana em razão da evolução tecnológica, mormente no campo da
microeletrônica e da informática, rompendo-se obstáculos físicos e transformando o homem
em um ser virtual, capaz de acompanhar os avanços da humanidade na mesma velocidade
com que acontecem. Essa é a análise trazida com pelo magistério de Antônio Álvares da
Silva, veja-se:
A microeletrônica e a informática foram decisivas neste contexto, pois permitiram a comunicação barata, imediata e facilmente realizada. As distâncias foram superadas, as fronteiras foram ultrapassadas. O homem tornou-se presente para o próprio homem em qualquer parte do universo. A vida passou a ser vivida simultaneamente com o fatos que lhe dão conteúdo e substância. O tempo sucessivo, que fora uma constante na história dos povos, passou a ser tempo concomitante com os fatos e realizações. A presença do homem se universaliza. O mundo tornou-se contemporâneo de si mesmo, passado a ser, ao mesmo tempo, autor e palco de todos os acontecimentos que ocorrem no planeta. (2011, p. 16)
Surge, pois, um sistema de produção em massa de conhecimento capaz de
desestabilizar o modo rígido e fixo de produção e gerência, transformando-o em um sistema
móvel e intercomunicante que permitiu uma universalização do deslocamento de capital.
Assim, alterou-se o perfil das empresas para formar redes de produção especializadas
e focadas no acompanhamento das inovações tecnológicas, fato este que, em verdade, acabou
por acirrar a competitividade do mercado e a busca, sobretudo, pela redução de custos.
Ademais, insta destacar que, no sistema globalizado, observa-se a convivência de dois
movimentos aparentemente contraditórios, mas que se mostram complementares. De um lado,
tem-se a constante concentração de capital em grandes centros produtivos internacionais, ao
passo que, concomitantemente, as concentrações se desfazem pelas exigências de produção e
comércio do mercado.
Por conseguinte, pode-se afirmar que a economia mundial, pautada na produção rápida
e original - superando o modelo taylorista/fordista -, movimenta riquezas em escala tão
elevada que transcende os poderes políticos, criando empregos e produzindo bens e serviços
que elevam o nível social local.
O fenômeno da globalização foi claramente resumido na lição de Antônio Álvares da
Silva (2011, p.19), in verbis: O mundo globalizado pode resumir-se nos seguintes pontos, designados por Thomas Dietrich, ex-presidente do TST alemão (Bundesarbeitsgericht) e membro do Tribunal Constitucional – Bundesverfassungsgericht: a) o motor inicial da globalização foram as invenções tecnológicas. b) que ocasionaram profundas mudanças na produção de bens e serviços. c) E na concorrência entre nações. d) A informação, facilmente armazenada e disponível ocasionou uma
internacionalização do conhecimento, da economia e da relação entre pessoas.
e) Quase tudo se tornou internacionalmente transacional.
Destarte, tem-se que a última transformação operada no sistema capitalista alterou
substancialmente a organização social, principalmente a partir da metade do século XX, cujos
efeitos são facilmente percebidos no perfil econômico, social, político e jurídico do mundo
atual.
Tais modificações trouxeram marcos importantes para a sociedade, como a
intensificação das relações comerciais, a expansão do capitalismo financeiro, a reorganização
das formas de gestão, novas formas de propriedade privada e a redefinição das categorias de
trabalho e valor.
Contudo, como assevera SILVA, toda época da História veio à cena sob uma dialética
bilateral de valores, na medida em que não há vantagens sem defeitos correlatos, sentidos
também no processo da globalização (2011, p. 22-23). Esse lado negativo se expressa nas
crises de segurança, na concentração de riquezas, na formação de novas dependências
geopolíticas, na proliferação de empregos informais e no aumento do nível de desemprego.
Dessa feita, entendendo que a Ciência Jurídica não pode ignorar os fatos que a cercam,
mas, pelo contrário, deve compreendê-los e direcioná-los dentro de critérios de segurança e
justiça, a nova realidade do mundo globalizado deu novas feições ao Direito, na medida em
que o objetivo de seu trabalho – o fato – já não segue os mesmo padrões de outrora. É que o
surgimento de particularidades no mundo fático, até então desconhecidas, acabam por
desconstruir a estrutura integral e coesa do fenômeno jurídico, demandando não só um novo
pensamento como um novo método.
Com isso, surgem novas áreas de pesquisa jurídica, como o direito ambiental e a
informática jurídica, bem como se começa a implantar, nas diversas searas do Poder
Judiciário, o processo eletrônico (e.g., o sistema do Projudi dos Juizados Especiais de Minas
Gerais), de forma a atender as reinvindicações de um processo justo e rápido para a solução
de conflitos. Isto porque, o acelerado movimento das relações modernas necessita de uma
diminuição das formalidades processuais e do aumento da objetividade no procedimento, pois
a demora resulta na perda de dinheiro e oportunidades.
Noutras palavras, o que se constata é uma verdadeira tendência à flexibilização do
sistema jurídico como meio de recepcionar a estrutura universalizada das relações humanas.
2.2. Flexibilização do Direito Laboral
O novo contexto de produção do sistema capitalista, pautado no modelo de produção
setorizado, alterou a dinâmica de inserção dos empregados no mundo do trabalho por meio da
nova face do componente da subordinação.
Inicialmente, deve-se entender que o elemento nuclear da relação empregatícia no
sistema capitalista de produção, em oposição à “sujeição” observada nas antigas relações
escravocratas e servis, é a subordinação do trabalhador, como a “situação jurídica derivada
do contrato de trabalho, pela qual o empregado compromete-se a acolher o poder de direção
empresarial no modo de realização de sua prestação de serviços” (DELGADO, 2010, p.
281).
Com efeito, nota-se que a subordinação tem assimilado diferentes conotações ao longo
do tempo, em consonância com o modelo de produção da época.
Na vigência do modelo taylorista/fordista, durante o século XIX e meados do século
XX, observava-se um controle eminentemente físico sobre o empregado, submetido a ordens
diretas e incisivas, pois “havia necessidade que os trabalhadores se submetessem diretamente
ao empregador, o que se tornava mais prático e funcional dentro do ambiente de trabalho. O
comando era, pois, direto e incisivo. O ambiente de trabalho, pressuposto para sua
existência” (DELGADO, G. 2003, p. 105) (grifamos).
Noutro norte, com a crise estrutural do capitalismo e a adoção do sistema toyotista, a
subordinação viu a ampliação de sua abrangência através de sua desvinculação do ambiente
de trabalho. Quer isso dizer que, com o surgimento das práticas terceirizantes, superou-se o
regime de contratação clássico puramente bilateral, criando a possibilidade de duas vias de
subordinação: a primeira, do empregado com o seu empregador direto (a empresa
terceirizante); a segunda, do empregado com o tomador do serviço.
Nesse sentido, veja-se a explanação de José Martins Catharino:
Que o empregado está sujeito a dupla subordinação não nos parece possa ser negado, principalmente por causa da particularidade de ser inserido, embora temporariamente, em empresa de quem não é sua empregadora Tecnicamente, explica-se essa dupla e simultânea subordinação da seguinte forma: o direito de dirigir o trabalho é da pessoa fornecedora-empresária, a qual, ao realizar contrato interempresário de trabalho provisório com a recebedora, concede a esta poder subordinante. Essa dupla subordinação, a que o empregado esta sujeito, oriunda do exercício de direito e de poder, resulta da própria natureza do contrato de emprego provisório; da realidade das coisas; do interesse da ETT e da sua cliente, e da vinculação executiva de dois contrato (...) No caso, é incompreensível e impraticável a empregadora, sozinha, dirigir e fiscalizar o trabalho do seu empregado, imiscuindo-se em empresa alheia, em que o mesmo passa a servir por sua ordem. (Trabalho Temporário. Rio de Janeiro: Edições Trabalhistas, 1984, p. 37. Apud PRUNES, 1995, p. 25)
Por conseguinte, diante da desconstrução de normas regulatórias clássicas do mercado
laborativo, a fim de não se consolidar como obstáculo à evolução econômica, urgiu a
necessidade de reformulação do Direito Laboral, visando sua flexibilização. Pode-se dizer,
nesse sentido, que houve uma verdadeira desestruturação formal do Direito do Trabalho,
conforme explanado por SILVA:
Se antes ele já era um ramo da Ciência do Direito que se estabelecera muito mais pelo trabalho dos juízes (Richterrecht) do que pela lei ou codificações, agora, com muito mais razão, tende a tornar-se um direito flexível, adaptado à realidade da prática, para assimilar as novas correntes mundiais (2011, p. 28) (g.n.)
Nessa esteira, o Direito do Trabalho foi atingido por importante conflito de interesses
que marca o mundo globalizado: de um lado, sob a ótica dos interesses empresariais, surge a
pressão para a desproteção do trabalhador por meio da flexibilização e da desregulamentação,
visando a livre movimentação da empresa. De outro, firma-se a necessidade de proteção dos
empregados sob um sistema que vem se estruturando desde a abolição da escravidão, como
base do ramo jurídico laboral.
Desse modo, como assevera SILVA, imperioso reconhecer que o Direito do Trabalho
não é uma ciência rígida ou mesmo obstáculo ao desenvolvimento social e econômico. A
flexibilidade é um dos elementos que o acompanham desde sua formação, externada no
sistema da autonomia privada coletiva. Nesse sentido, veja-se:
Diferentemente das grandes codificações do Direito clássico, Civil e Penal, o Direito do Trabalho opera com estruturas mais simplificadas, exatamente porque dispõe da autonomia provada coletiva, como uma espécie de “respiradouro” do sistema, em que os sindicatos, dialogando entre si próprios, criam a “norma negociada”, e não imposta pelo legislador, a qual livremente entendem mais apropriada para a situação das categorias profissional e econômica (SILVA, 2011, p. 39)
Ora, partindo dessa premissa e considerando o novo movimento econômico
descentralizado da empresa moderna, a flexibilização foi adotada tanto na seara interna das
relações empregatícias, com a precarização dos direitos dos empregados, como na seara
externa, sob a forma da inserção do trabalhador na empresa mediante contratação precária,
antes inconcebível pelo ordenamento jurídico.
Deveras, são diversas as formas precárias de contratação de trabalhadores, das quais se
pode destacar o contrato por prazo determinado e as empreitas. Contudo, forçoso é reconhecer
que a terceirização de mão-de-obra surgiu como pilar do movimento de flexibilização, fruto
do fenômeno da globalização dos mercados. Esse é o ensinamento de CONCEIÇÃO:
A terceirização está no bojo da flexibilização, isto é, apresenta-se como uma das formas mais comuns deste fenômeno. As mudanças econômicas levaram as empresas a se especializarem cada vez mais para reduzir custos e sobreviver à competição no mercado. Desta forma, empresas que outrora eram verdadeiras empreendedoras e contavam com uma cadeia enorme de departamentos passaram a descentralizar suas atividades, de modo que foram criadas outras empresas, especializadas em determinados ofícios e que prestariam serviços umas às outras. A ideia básica era otimizar a produção dedicando-se àquilo que se fazia de melhor e tecendo no mercado uma rede de empresas especializadas em cada ramo da produção. (2005, p. 1444)
CAPÍTULO III – A TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA
Em algum momento de sua atuação, toda empresa irá se deparar com a necessidade de
substituição definitiva ou provisória de empregados, seja para cobrir as férias, suspensões ou
interrupções do contrato de trabalho, seja para repor empregados dispensados ou demitidos.
Assim, tendo em vista o modelo empresarial moderno, à empresa é garantida a
liberdade de atuação para realizar por si própria a substituição necessária ou, de forma a
racionalizar o procedimento, contratar outra empresa especializada no fornecimento de tais
empregados.
Nesse momento, pode-se estar diante de duas hipóteses: i) se a empresa tomadora
aceita a indicação de um empregado e o contrata em definitivo, a empresa fornecedora estará
atuando como agência de colocação; ii) se o empregado é indicado para exercer atividade
provisória, a empresa estará atuando como fornecedora de mão de obra, situação na qual o
obreiro mantém, com esta, o vínculo empregatício.
O que se percebe na segunda hipótese é que “uma empresa recebe de outra mão de
obra ou delega a outra empresa atividades que, por razões de política empresarial, não serão
mais exercidas pela empresa delegante” (SILVA, 2011, p.57). A este fenômeno econômico
dá-se o nome de terceirização.
A expressão terceirização é o resultado de um neologismo – criado pela área da
Administração de Empresas – oriundo da palavra terceiro, assim considerado como o
interveniente em uma relação de trabalho ou emprego. Pode-se defini-la como a recepção por
uma empresa de serviço restado por outra, ou mesmo como a delegação de atividades de uma
empresa a outra, ambas sob a ideia de expansão da atividade empresarial, calcada na
descentralização desta a um terceiro à empresa.
Assim sendo, “para o Direito do Trabalho terceirização é o fenômeno pelo qual se
dissocia a relação econômica de trabalho da relação justrabalhista que lhe seria
correspondente” (DELGADO, 2010, p. 414).
Nesse sentido, a estrutura do processo terceirizante cria uma relação trilateral na
contratação da força de trabalho, na contramão do modelo empregatício clássico bilateral: no
primeiro vértice temos o trabalhador, que irá prestar seus serviços a uma determinada
empresa; no segundo temos a empresa terceirizante, contratante do obreiro e real
empregadora; no último temos a empresa tomadora de serviços, destinatária da prestação de
serviço sem que, contudo, assuma a posição de empregadora típica.
Nota-se, pois, que na terceirização temos uma relação com três sujeitos e dois
contratos. De um lado, tem-se o contrato interempresário consolidado na atividade prestada
pelo obreiro à tomadora de serviços. Do outro lado, tem-se o contrato de trabalho que
configura o típico vínculo de emprego entre o obreiro e empresa terceirizante, nos moldes dos
arts. 2º e 3º da CLT3.
Sobre o tema, veja-se os ensinamentos de Gabriela Neves Delgado:
Ou seja, enquanto no modelo clássico o empregado presta serviços de natureza econômico-material, diretamente ao empregador, pessoa física, jurídica ou ente despersonificado, com o qual possui vínculo empregatício (art. 2º, caput, CLT), na relação trilateral terceizante o empregado presta serviços a um tomador, apesar de não ser seu empregado efetivo. A relação de emprego é estabelecida com outro sujeita, a empresa interveniente ou fornecedora (2003, p. 139).
Em suma, a terceirização opera como um instrumento facilitador do sistema de
produção globalizado, pelo qual se possibilita que uma empresa (tomadora de serviço ou
empresa cliente) descentralize suas atividades acessórias ou instrumentais para empresas
fornecedoras de mão de obra terceirizada (empregado terceirizado).
3.1. Terceirização Lícita e Ilícita: Súmula nº 331/TST
Hodiernamente, a terceirização é dividida pela ordem trabalhista em lícita e ilícita, de
forma a delimitar as hipóteses válidas de utilização do instituto, bem como as suas
consequências para o contrato de trabalho. Ante o laconismo legislativo, a matéria segue
regulada pela Súmula nº 331 do Tribunal Superior do Trabalho, cuja redação atualizada
(alterações de 31.05.2011 – inclusão dos itens “V” e “VI”) é a seguinte:
3 “Os principais elementos da relação de emprego gerada pelo contrato de trabalho são: a) a pessoalidade, ou seja, um dos sujeitos (o empregado) tem o dever jurídico de prestar os serviços em favor de outrem pessoalmente; b) a natureza não eventual do serviço, isto é, ele deverá ser necessário à atividade normal do empregador; c) a remuneração do trabalho a ser executado pelo empregado; d) finalmente, a subordinação jurídica da prestação de serviços ao empregador”. (BARROS, 2010, p. 221)
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011 I - A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo diretamente com o tomador dos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei nº 6.019, de 03.01.1974). II - A contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública direta, indireta ou fundacional (art. 37, II, da CF/1988). III - Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância (Lei nº 7.102, de 20.06.1983) e de conservação e limpeza, bem como a de serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta. IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. VI – A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral.
Da exegese do enunciado supra, é possível identificar quatro hipóteses de terceirização
lícita, quais sejam: i) o trabalho temporário, segundo a Lei nº 6.019/74 (item I); ii) os serviços
de vigilância, segundo a Lei nº 7.102/83 (item III, ab initio); iii) os serviços de conservação e
limpeza (item III); e iv) os serviços especializados ligados à atividade-meio do tomador.
No que toca ao grupo “i”, temos as situações de trabalho temporário expressas na Lei
nº 6.019/74 como “aquele prestado por pessoa física a uma empresa, para atender à
necessidade transitória de substituição de seu pessoal regular e permanente ou à acréscimo
extraordinário de serviços” (art. 2º).
Em suma, este diploma legal criou, na contramão do princípio da continuidade da
relação de emprego4, uma hipótese de contratação por prazo determinado que se
consubstancia em uma “relação justrabalhista trilateral, que se repete, mutatis mutantis, nas
demais situações de terceirização: a) empresa de trabalho temporário (ETT) ou empresa
4 Segundo os ensinamentos de Maurício Godinho Delgado, “informa tal princípio que é de interesse do Direito do Trabalho a permanência do vínculo empregatício, com a integração do trabalhador na estrutura e dinâmica empresariais. Apenas mediante tal permanência e integração é que a ordem justrabalhista poderia cumprir satisfatoriamente o objetivo teleológico do Direito do Trabalho, de assegurar melhores condições, sob a ótica obreira, de pactuação e gerenciamento da força de trabalho em determinada sociedade” (2012, p. 203).
terceirizante; b) trabalhador temporário; c) empresa tomadora dos serviços (ETS) ou
empresa cliente” (DELGADO, 2012, p. 460).
Em segundo lugar (“ii”), tem-se que é válida a utilização do instrumento jurídico da
terceirização na contratação de serviços de vigilância por meio de empresa especializada.
Ainda, percebe-se que o enunciado da Súmula nº 331 conferiu interpretação ampliativa ao
verbete revisado da Súmula nº 2565, na medida em que não mais refere-se somente aos casos
previstos na Lei nº 7.102/83, mas à atividade de vigilância genericamente considerada.
Oportunamente, impende destacar que a figura do vigilante, como membro de
categoria profissional diferenciada, cujos requisitos estão assentados no art. 16 da Lei nº
7.102/836, não se equipara ao vigia, empregado sem especialização vinculado ao próprio
tomador de serviços. É dizer, o “vigilante é membro de categoria especial, diferenciada – ao
contrário do vigia, que se submete às regras da categoria definida pela atividade do
empregador. O vigilante submete-se a regras próprias não somente quanto à formação e
treinamento da força de trabalho como também à estrutura e dinâmica da própria entidade
empresarial” (DELGADO, 2012, p. 449).
A terceira previsão da Súmula (“iii”) abarca o rol de atividades que se destaca como
um dos primeiros a ensejar as práticas terceirizantes no mercado de trabalho privado
brasileiro, que é a hipótese de terceirização dos serviços de conservação e limpeza. Conforme
assevera SILVA, “esta ampla linha de exceções mostra claramente a tendência da empresa
moderna de selecionar e depurar atividades, delegando ou contratando serviços, reduzindo
as empresas a um núcleo de atividades, que ela considera num determinado momento como
principais” (2011, p. 75).
Finalmente, o grupo “iv” traz a grande inovação da Súmula em matéria de
terceirização lícita, consubstanciada na terceirização de serviços especializados ligados a
5 De acordo com o enunciado revisado, “salvo os casos de trabalho temporário e de serviço de vigilância, previstos nas Leis nºs 6.019, de 03.01.1974, e 7.102, de 20.06.1983, é ilegal a contratação de trabalhadores por empresa interposta, formando-se o vínculo empregatício diretamente com o tomador dos serviços” (grifamos). 6 “Art. 16 - Para o exercício da profissão, o vigilante preencherá os seguintes requisitos: I - ser brasileiro; II - ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos; III - ter instrução correspondente à quarta série do primeiro grau; IV - ter sido aprovado, em curso de formação de vigilante, realizado em estabelecimento com funcionamento autorizado nos termos desta lei. (Redação dada pela Lei nº 8.863, de 1994) V - ter sido aprovado em exame de saúde física, mental e psicotécnico; VI - não ter antecedentes criminais registrados; e VII - estar quite com as obrigações eleitorais e militares. Parágrafo único - O requisito previsto no inciso III deste artigo não se aplica aos vigilantes admitidos até a publicação da presente Lei”
atividade-meio do tomador. Segundo DELGADO, “esse grupo envolve atividades não
expressamente discriminadas, mas que se caracterizam pela circunstância unívoca de serem
atividades que não se ajustam ao núcleo das atividades empresariais do tomador de serviços
– não se ajustam, pois, às atividades-fim do tomador” (2012, p. 450).
O primeiro questionamento acerca desta hipótese de terceirização assenta na
formulação do conceito de “serviço especializado”, que, em razão do insuficiente
delineamento do instituto pela doutrina e jurisprudência, não apresenta contornos claros,
cabendo sua delimitação unicamente pelo órgão judicante. A princípio, poder-se-ia entender
“serviço especializado” como sendo aquele oferecido por empresa capacitada e organizada
para a realização de serviço dotado de uma mínima qualificação técnica, o que se difere da
mera locação de mão-de-obra. Contudo, a jurisprudência vem relativizando esta concepção ao
generalizar o conceito para inseri-lo no âmbito da atividade-meio do tomador de serviço,
conforme observado no seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho, in litteris:
EMENTA: RECURSO DE REVISTA. VÍNCULO DE EMPREGO. EMPRESA INTERPOSTA. TOMADOR DE SERVIÇOS. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO. SÚMULA Nº 331/TST. O acórdão regional reconheceu o vínculo de emprego diretamente com o tomador dos serviços porque entendeu ilegal a terceirização de serviços de limpeza e conservação. Dessa forma, de acordo com o entendimento desta Corte, consubstanciado na Súmula nº 331, III, do TST, quando a função exercida pela reclamante, de zeladora, diz respeito a serviço especializado ligado à atividade-meio do tomador e, desde que inexistente a pessoalidade e a subordinação direta com o tomador de serviços, é legítima a contratação por meio de empresa interposta sem que fique caracterizado o vínculo de emprego com o Banco reclamado. Recurso de revista conhecido e provido. (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho, 19/10/2007) (g.n.)
Nesse norte, veja-se os ensinamentos de Gabriela Neves Delgado:
No entanto, o enfoque jurisprudencial adotado pelos Tribunais Regionais do Trabalho (TRT) pretende apreender a dinâmica e extensão das mudanças ocasionadas pelo processo de terceirização, firmando interpretação ampliativa do termo, considerando, assim, que serviço especializado é aquele que esteja inserido, efetivamente, na dinâmica da atividade-meio da empresa. Desta sorte, mesmo o serviço de vigia, por exemplo, que não é de fato especializado, poderá ser terceirizado, desde que se insira na dinâmica empresarial como atividade-meio. (2003, p. 146) (grifamos)
Outro aspecto de imprescindível análise é a distinção entre atividade-fim e atividade-
meio em função do segmento econômico do tomador de serviços.
Entende-se por atividade-fim aquelas concernentes à essência empresarial do tomador
de serviços, podendo ser entendidas como as “funções e tarefas empresariais e laborais que
se ajustam ao núcleo da dinâmica empresarial do tomador de serviços, compondo a essência
dessa dinâmica e contribuindo inclusive para a definição de seu posicionamento e
classificação no contexto empresarial e econômico” (DELGADO, 2012, p. 450). Lado outro,
tem-se as atividades instrumentais e periféricas à essência da dinâmica empresarial, como as
“funções e tarefas empresariais e laborais que não se ajustam ao núcleo da dinâmica
empresarial do tomador dos serviços, nem compõem a essência dessa dinâmica ou
contribuem para a definição de seu posicionamento no contexto empresarial e econômico
mais amplo” (DELGADO, op.cit., p. 450).
Com efeito, dada a clara distinção realizada pela Súmula em análise, conclui-se que a
terceirização dos serviços intrinsecamente ligados à atividade-fim da empresa tomadora não é
admitida. Nesse sentido tem decido os Tribunais Regionais do Trabalho, conforme de
desprende dos seguintes julgados:
EMENTA: TERCEIRIZAÇÃO INDISCRIMINADA. ILICITUDE. RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE EMPREGO DIRETAMENTE COM O TOMADOR DOS SERVIÇOS. A contratação de trabalhadores por empresa interposta constitui exceção à regra geral, porquanto o trabalhador se vincula, por ordinário, à fonte tomadora dos serviços, mormente quando labora em atividades insertas no fim do empreendimento econômico do tomador. Lícita a contratação de empresa terceirizada para prestação de serviços destinados a atender demanda transitória para substituição de pessoal regular e permanente da empresa tomadora ou necessidade resultante de acréscimo extraordinário de serviços dessa empresa (trabalho temporário) e para a execução de atividades inseridas como meio, a exemplo da vigilância (Lei 7.102/83), conservação e limpeza, desde que inexistente a pessoalidade e subordinação direta entre trabalhador terceirizado e tomador de serviços. Lado outro, a intermediação de mão de obra por empresa interposta, utilizada de modo indiscriminado, é repelida pelo ordenamento jurídico, haja vista que atenta contra os princípios do Direito do Trabalho, na medida em que retira do trabalhador a vinculação à verdadeira fonte, deixando-o à mercê do empregador que figura como mero intermediário. Assim, a contratação terceirizada, por si só, não representa violação direta à legislação trabalhista quando permite o repasse das atividades periféricas e/ou extraordinárias, promovendo com isto um incremento na oferta de postos de trabalho os quais, se a princípio são precários, podem vir a se efetivar. Entretanto, quando se verifica que os serviços terceirizados estão intrinsecamente ligados à atividade-fim da tomadora, desvirtua-se o instituto, que não pode e nem deve servir de instrumento para alijar o empregado das garantias creditórias ofertadas por estas empresas. (BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 30/04/2012) (g.n.) EMENTA: TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA - LABOR EM ATIVIDADE-FIM DA TOMADORA DE MÃO-DE-OBRA. A contratação terceirizada, por si
só, não representa violação direta à legislação trabalhista, quando permite o repasse das atividades periféricas e/ou extraordinárias, promovendo com isto um incremento na oferta de postos de trabalho os quais, se a princípio são precários, podem efetivar-se. Entretanto, quando se verifica que os serviços terceirizados estão intrinsecamente ligados à atividade-fim da tomadora, desvirtua-se o instituto, que não pode e nem deve servir de instrumento para alijar o empregado das garantias creditórias ofertadas por estas empresas que, geralmente, ostentam maior solidez econômico-financeira em relação às prestadoras de mão-de-obra. Impõe-se, em contexto tal, com supedâneo no artigo 9º. da CLT e no entendimento jurisprudencial cristalizado na Súmula 331, item I, TST, a declaração da nulidade, com a conseqüente formação do vínculo direto com a tomadora da mão-de-obra, beneficiária da força de trabalho na consecução dos fins empresariais. (BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 22/08/2011) (g.n.)
Por derradeiro, na hipótese de terceirização de serviços especializados ligados a
atividade-meio do tomador, o enunciado do TST estabelece uma última ressalva, qual seja a
ausência de pessoalidade – assim entendida como a prestação de serviços intuitu personae – e
subordinação direta do trabalhador terceirizado com a tomadora de serviços. É dizer,
imperioso que os elementos configuradores da relação de emprego, mormente a subordinação
jurídica7 e a pessoalidade, se deem entre o empregado e a empresa terceirizante (prestadora de
serviços), mantendo-se a estrutura trilateral supramencionada.
É nesse sentido que elucida Maurício Godinho Delgado:
Isso significa, na verdade, que a jurisprudência admite a terceirização apenas enquanto modalidade de contratação de prestação de serviços entre duas entidade empresariais, mediante a qual a empresa terceirizante responde pela direção dos serviços efetuados por seu trabalhador no estabelecimento da empresa tomadora. A subordinação e a pessoalidade, desse modo, terão de se manter perante a empresa terceirizante e não diretamente em face da empresa tomadora dos serviços terceirizados. (2012, p. 451)
7 Nesse aspecto, insta consignar que o elemento da subordinação capaz de ensejar o liame empregatício, o qual a Súmula quer afastar, corresponde a subordinação jurídica e não a meramente técnica, como explanado por Dora Maria de Oliveira:
A subordinação pode ser entendida como consequência do poder concedido ao empregador de, organizando e controlando os fatores de produção, dirigir a realização dos trabalhos, inclusive exercendo poder disciplinar. O empregado, ao depender juridicamente do empregador, subordina-se contratualmente ao seu poder de comando, submetendo-se às suas ordens. A subordinação necessária para configurar o vínculo de emprego na terceirização não é a meramente técnica, até porque, como ensina Sérgio Pinto Martins, nem sempre há subordinação técnica entre empregado e empregador, como acontece, por vezes, com altos empregados ou empregados especializados. É necessário, pois, que o tomador dirija os serviços diretamente, dando ordens aos empregados da contratante e submetendo-os ao seu poder disciplinar, para que se caracterize o requisito da subordinação. (in DI PIETRO, 2011, p. 217-218)
Deveras, tendo em vista à restrição apontada quanto às modalidades lícitas da
terceirização trabalhista, sendo aceitas somente aquelas expressamente previstas no enunciado
do Tribunal Superior do Trabalho, entende a jurisprudência pela ilicitude dos vínculos
terceirizantes formados fora dos parâmetros estipulados. Com efeito, apontado a relação
fraudulenta, atrai-se a incidência do art. 9º8 do Texto Consolidado, considerando desfeito o
vínculo empregatício entre o trabalhador terceirizado e a empresa terceirizante (“empregador
aparente”), formando-o, por conseguinte, diretamente com o tomador de serviços
(“empregador oculto” ou “dissimulado”) (item “I”, S. 331/TST).
Desta feita, reconhecido o liame empregatício com o dito “empregador oculto”,
“incidem sobre o contrato de trabalho todas as normas pertinentes à efetiva categoria
obreira, corrigindo-se a eventual defasagem de parcelas ocorrida em face do artifício
terceirizante” (DELGADO, 2012, p. 452).
3.2. Evolução da Terceirização no Âmbito da Administração Pública
Conforme visto alhures, o sistema capitalista determinou diferentes modelos
produtivos ao longo de sua história, eis que “para cada tipo de necessidade do capital,
estabelecia-se um modelo de produção específico, sob a conjuntura de determinado
paradigma de Estado constitucional” (DELGADO, G. 2003, p. 92).
Com a crise do Estado de Bem-Estar Social na década de 1970, marcada pela queda
acentuada dos níveis de acumulação de capital em função da decadência do modelo
taylorista/fordista, e a redução do papel do Estado como órgão regulador das questões sociais
e econômicas, percebeu-se a necessidade de formulação de um novo sistema de produção.
Nesse contexto, a partir da exigência do mercado por uma flexibilização das relações
de trabalho, surgem novas formas de gestão trabalhista, em especial o toyotismo9, que
8“Art. 9º - Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação dos preceitos contidos na presente Consolidação”. 9 “O novo modelo de gestão e organização trabalhistas, designado toyotismo foi desenvolvido no Japão e teve seu processo de implantação na empresa Toyota, pelo engenheiro Ohno. Tido como uma alternativa rentável para a superação da crise do capital no ocidente, expandiu-se, alterando significativamente os processos de labor industrial até então definidos pelo modelo taylorista/fordista. O modelo japonês, tido como inspiração para significativo contingente de emrpesas que pretendem
visariam o aprofundamento dos ganhos de produtividade em benefício do capital. Com isso,
as empresas passaram a se estruturar em redes de concentração em atividades específicas, na
contramão do antigo sistema de organização vertical.
Tal mudança foi também sentida na forma de se estruturar do Estado, que, no intuito
de reduzir a máquina estatal e equilibrar a onerosidade excessiva advinda do Estado
intervencionista e centralizador, adotou a ideia de Estado Mínimo. Com isso, procedeu-se a
uma reformulação dos quadros das instituições públicas, de forma a melhorar o desempenho
da função administrativa.
Segundo ROSIGNOLI e ARAÚJO (2004, p. 260), duas foram as principais medidas
aplicadas nesse sentido: “a retirada do Estado da atividade econômica, transferindo-a para o
setor privado, e, nas atividades não-produtivas, mesmo que públicas, a terceirização dos
serviços” (grifamos).
É dizer, nos ensinamentos de DI PIETRO, a terceirização surge “entre os institutos
pelos quais a Administração Pública moderna busca a parceria com o setor privado para a
realização de suas atividades. Pode-se dizer que a terceirização constitui uma das formas de
privatização (em sentido amplo) de que vem se socorrendo a Administração Pública” (2011,
p. 213).
Com efeito, em consonância com o princípio basilar da legalidade10 em sentido estrito
na atuação da Administração Pública, surgiram normas jurídicas que implementaram a
regulamentação da utilização do instituto da terceirização pelo Estado.
Primeiramente, com o advento do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967,
surge a principal base jurídica para a terceirização no setor público, com a possibilidade, no
âmbito federal, de transferência a iniciativa privada da execução de atividades acessórias da
Administração Pública por meio da terceirização. Essa é a inteligência do art. 10, §7º do
referido diploma legal, in verbis:
Art. 10. A execução das atividades da Administração Federal deverá ser amplamente descentralizada. (omissis)
viabilizar a acumulação de capital, prioriza, concomitantemente, regimes de contratos de trabalho mais flexíveis e o controle de qualidade de serviços” (DELGADO, G. 2003, p. 95) 10 Nas palavras da administrativista Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “este princípio, juntamente com o de controle da Administração pelo Poder Judiciário, nasceu com o Estado de Direito e constitui umas das principais garantias de respeito aos direitos individuais. Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, estabelece também os limites da atuação administrativa que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais direitos em benefício da coletividade” (2009, p. 63)
§ 7º Para melhor desincumbir-se das tarefas de planejamento, coordenação, supervisão e contrôle e com o objetivo de impedir o crescimento desmesurado da máquina administrativa, a Administração procurará desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de execução.
Nesse norte, insta consignar que, no âmbito da administração pública, a terceirização
atua em sentido estrito, é dizer, cabe ao gestor operacional “repassar a um particular, por
meio de contrato, a prestação de determinada atividade, como mero executor material,
destituído de qualquer prerrogativa de Poder Público” (CONCEIÇÃO, 2005, p. 1445). Ou
seja, não há que se falar em transferência de controle político ou gestão, mas apenas de
execução de serviços.
Contudo, não obstante restar claro que certo conjunto de tarefas executivas e
instrumentais da administração pública poderia ser realizado mediante execução indireta, ou
seja, por meio de empresas concretizadoras desses serviços, ainda não se era capaz de
mensurar a extensão dessa autorização, justamente pela falta de norma legal que abarcasse as
atividades e funções objeto do procedimento terceirizante.
Posteriormente, a fim de preencher essa lacuna, foi editada a Lei nº 5.645, de 10 de
dezembro de 1970, que, por meio do parágrafo único do art. 3º, criou um rol exemplificativo
das atividades da Administração Pública que deveriam ser, “de preferência, objeto de
execução indireta, mediante contrato, de acôrdo com o artigo 10, §7º, do Decreto-lei número
200, de 25 de fevereiro de 1967”11, de onde se destaca as atividades relacionadas com
transporte, conservação, custódia, operação de elevadores, limpeza, dentre outras tipicamente
instrumentais.
Mais tarde, em 21 de junho de 1993, foi aprovada a Lei nº 8.666, que instituiu as
normas para as licitações e contratos de que participassem a Administração Pública,
regulamentando, pois, o art. 37, XXI12 da Constituição Federal. O referido diploma legal
11 Este dispositivo foi posteriormente revogado pela Lei nº 9.527/97. 12 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...) XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
previu a hipótese de contratação de serviços pela Administração Pública, segundo as regras de
seu art. 7º, in litteris:
Art. 7º As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência: I - projeto básico; II - projeto executivo; III - execução das obras e serviços. (omissis) § 2o As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível para exame dos interessados em participar do processo licitatório; II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários; III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma; IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o caso.
Ainda, A Lei de Licitações traz a previsão de que os serviços que a Administração
necessita para o desempenho de sua missão sejam executados de forma direta, por seus órgãos
e entidades, com a utilização de recursos materiais e humanos próprios, ou indireta, mediante
a contratação de terceiros (art. 10 e art. 6º, incisos VII e VIII da Lei nº 8.666/1993).
Outrossim, imperioso ressaltar que o referido diploma legal foi o primeiro a tratar,
expressamente, da responsabilização da Administração Pública pelo inadimplemento das
empresas por ela contratadas quanto aos encargos trabalhistas, tema do presente estudo. Essa
é a exegese do art. 71 da Lei nº 8.666/93, in literris:
Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. § 1o A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
Ato contínuo, em dezembro do mesmo ano foi aprovado o enunciado da Súmula nº
331 do Tribunal Superior do Trabalho, principal referência jurisprudencial, no âmbito
trabalhista, acerca do tema da terceirização – item supra analisado.
Ademais, em 07 de julho de 1997, surge nova regulamentação da terceirização no
âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, com a edição do
Decreto nº 2.271. Com efeito, o referido diploma legal estabeleceu a possibilidade de
execução indireta das atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares nas
contratações de serviços, excetuadas aquelas inerentes às categorias funcionais abrangidas
pelo plano de cargos do órgão ou entidade. Essa é a exegese do art. 1º e parágrafos, veja-se:
Art . 1º No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade. § 1º As atividades de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transportes, informática, copeiragem, recepção, reprografia, telecomunicações e manutenção de prédios, equipamentos e instalações serão, de preferência, objeto de execução indireta. § 2º Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.
A regulamentação proposta pelo Dec. nº 2.271/97 veio para limitar o conceito da
terceirização de serviços ao diferenciá-la da intermediação de mão-de-obra, de modo a evitar
o desvirtuamento da contratação direta pela Administração Pública. Essa é a ideia expressa
nos incisos II e IV do art. 4º do decreto em análise, in verbis:
Art. 4º É vedada a inclusão de disposições nos instrumentos contratuais que permitam: II - caracterização exclusiva do objeto como fornecimento de mão-de-obra; IV - subordinação dos empregados da contratada à administração da contratante.
Deveras, pela mens legis do dispositivo legal supra, nota-se a intenção do legislador de
corrigir as distorções que acabavam por desconfigurar o instituto da execução indireta na
Administração Pública, na medida em que se poderia fazer uso dos contratos de prestação de
serviço para suprir as necessidades de pessoal que, por disposição legal (art. 37, II, CF/88)13,
deveriam ser providas com a admissão ou o remanejamento de servidores públicos.
13 Nos termos do art. 37, II, da Constituição da República, com redação dada pela EC nº 19/98, “a
investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na
forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração”.
Pode-se concluir, então, que “cada vez que a Administração Pública recorre a
terceiros para a execução de tarefas que ela mesma pode executar, ela está terceirizando”
(DI PIETRO, 2007, p. 319). Todavia, das ressalvas estabelecidas pelo legislador, imperioso a
verificação na espécie que a atividade a ser terceirizada está ligada a atividade-meio estatal,
tendo em vista que as atividades essenciais, núcleo da Administração, não podem ser objeto
de execução por particular.
Outrossim, oportuno ressaltar que a contratação de execução indireta de serviços para
a Administração Pública deve respeitar os cargos permanentes no quadro funcional do órgão
ou entidade pública a que se destina. Esse foi o entendimento exarado pelo Tribunal de
Contas da União em decisão paradigmática, veja-se:
Entendo que a flexibilização dispensada no precedente citado é bastante salutar e vai ao encontro das diretrizes que norteiam a moderna Administração Pública e dos pilares jurídicos estatuídos nos §§1º e 2º do Dec. n. 2.271/97. Não obstante devo asseverar que o elastecimento na contratação de execução indireta de serviços na Administração Pública deve circunscrever-se a atividades de caráter inequivocadamente ancilar. Ressalte-se que atividades dessa natureza exteriorizam-se através de atos materiais, meramente executórios, e não por atos administrativos stricto sensu. Com efeito, a contratação de serviços auxiliares no âmbito do MINCT envolveria o acometimento de atividades relacionadas ao estabelecimento, desenvolvimento e controle de procedimentos administrativos. Dessa forma, entendo que a delegação dessas atribuições a elemento alheio aos quadros da Administração resultaria em eventual quebra na cadeia hierárquica de execução da atividade administrativa, obstando, sobretudo, a atividade de controle da Administração. Essa, também, parece ser o resultado da interpretação teleológica dos dispositivos do Dec. n. 2.271/97, acima referidos, que em nenhum momento deixa evidente a intenção de terceirizar atos ligados à processualística administrativa. (BRASIL. Tribunal de Contas da União, 04/02/2000).
Ocorre que, embora esta via de contratação indireta obedeça às regras e princípios do
direito administrativo, em muitas ocasiões acaba por ser um instrumento de burla aos direitos
sociais dos trabalhadores terceirizados fornecidos pela empresa prestadora de serviços, razão
pela qual a Administração Pública deverá se submeter aos ditames do direito trabalhista,
mormente, às decisões normativas da Justiça do Trabalho.
CAPÍTULO IV - AS FACETAS DA RESPONSABILIDADE CIVIL: SUBJETIVA,
OBJETIVA E POR FATO DE TERCEIRO.
Segundo o magistério do doutrinador Caio Mário da Silva Pereira, com fulcro na
exegese dos arts. 186 e 187 do Código Civil ( Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002), o ato
ilícito, como reflexo da conduta humana em desacordo à ordem jurídica, “é criador tão-
somente de deveres para o agente, em função da correlata obrigatoriedade de reparação, que
se impõe àquele que, transgredindo a norma, causa dano a outrem” (2008, p. 653).
É que, na ocorrência de um ato ilícito, seja por ato próprio, de pessoa por quem
responda ou mesmo por imposição legal, nasce para o agente o dever de reparação do dano
moral ou patrimonial causado a terceiro, consubstanciado no instituto jurídico denominado
responsabilidade civil.
No âmbito justrabalhista, em especial na relação formada pela estrutura trilateral
terceirizante, a verificação da responsabilidade do tomador de serviços segue os preceitos
estabelecidos pela lei civil, com espeque no parágrafo único do art. 8º da Consolidação das
Leis do Trabalho, segundo o qual “o direito comum será fonte subsidiária do direito do
trabalho, naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste”.
Primeiramente, regra geral, nem toda violação ao direito de outrem pode ser vista
como um ato ilícito ensejador do dever de indenizar. Para tanto, faz-se necessária a
conjugação de três elementos, a saber: a culpa (lato sensu) do agente; um dano; e o nexo de
causalidade entre o dano e a culpa. Essa é a teoria da responsabilidade civil subjetiva, pela
qual o dever de indenizar está adstrito à culpa pela prática de determinado ato ilícito.
De fato, “a partir da ideia de culpa que se desenvolve toda a temática em torno da
responsabilidade civil subjetiva, pois ela tem relação com o fato de o agente causador do
dano ter ou não praticado um ato ilícito” (CAMPOS, 2007, p. 36). Essa é a teoria adotada
pelo legislador pátrio, consagrada no texto do caput do art. 927, do Código Civil Brasileiro, in
verbis:
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Nessa esteira, pode-se conceituar o elemento da culpa como o animus do ato ilícito, ou
seja, o mau procedimento imputável motivador da conduta antijurídica do agente, identificado
na vontade direta de prejudicar (dolo) ou na mera falta de diligência na observância de uma
norma de conduta (culpa stricto sensu). Quanto à culpa stricto sensu, pode esta se dar pela
negligência – falta de atenção na observância da norma e imprevisão de um resultado -,
imprudência – proceder sem a cautela devida, desconsiderando o interesse alheio – ou
imperícia – ausência de aptidão para a prática de um ato.
É dizer, tem-se o comportamento culposo, requisito formador da responsabilidade civil
dita subjetiva, quando o agente, por uma ação ou omissão, atua com dolo ou culpa stricto
sensu (negligência, imprudência ou imperícia). Esse é o ensinamento de Rui Stoco, citado por
CAMPOS: Deve haver um comportamento, do agente positivo/ação ou negativo/omissão, que, desrespeitando a ordem jurídica, cause prejuízo a outrem, pela ofensa a bem ou a direito deste. Esse comportamento deve ser imputável à consciência do agente, dolo/intenção ou por culpa (negligência, imprudência ou imperícia). Portanto, o comportamento comissivo ou omissivo tem o condão de gerar para o agente a responsabilidade, ou seja, ele deverá reparar o dano ocasionado a outrem. (2007, p. 38)
Destarte, tendo em vista a finalidade reparatória do instituto da responsabilidade civil,
esta não se constitui sem que o ato ilícito tenha repercutido no patrimônio de outrem, isto é,
imprescindível que se tenha um prejuízo suportado pela vítima. Tal prejuízo representa a
figura do dano, como “a lesão sofrida por uma pessoa a qualquer bem jurídico,
representando uma diminuição ou destruição do patrimônio do ofendido, seja quanto aos
seus bens ou direitos” (CAMPOS, 2007, p. 38).
Por fim, completa-se a ideia de responsabilidade civil subjetiva com o elemento do
nexo de causalidade, sendo este o liame que une a conduta do agente ao dano. Isto é, o dever
de indenizar está adstrito à relação de causa e efeito entre o fato (ato ilícito praticado por
alguém) e o prejuízo sofrido.
Lado outro, tendo em vista as soluções insatisfatórias da teoria clássica da
responsabilidade civil fundada na culpa para todos os casos de reparação de dano, em face dos
“novos perigos para o homem e o aumento às lesões de direito” (CAMPOS, 2007, p. 39)
advindos da industrialização e das novas técnicas de produção, surge a responsabilidade civil
dita objetiva, embasada na teoria do risco.
Esta hipótese encontra previsão legal na regra geral prevista no parágrafo único do art.
927 do Código Civil, segundo o qual “haverá obrigação de reparar dano, independentemente
de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem” (grifamos).
Com efeito, não se indaga do comportamento do agente (ou seja, não interessa se agiu
dolosa ou culposamente) no modelo objetivo de responsabilidade civil, bastando-se na
existência de relação de causalidade (nexo causal) entre o dano e a conduta para que nasça o
dever de indenizar.
Insta consignar, ainda, que o Texto Consolidado adotou a teoria do risco em seu art.
2º, ao assumir que o empregador assume todos os riscos da atividade econômica, conforme
asseverado por DELGADO:
A característica da assunção dos riscos do empreendimento ou do trabalho consiste na circunstância de impor a ordem justrabalhista à exclusiva responsabilidade do empregador, em contraponto aos interesses obreiros oriundos do contrato pactuado, os ônus decorrentes de sua atividade empresarial ou até mesmo do contrato empregatício celebrado. Por tal característica, em suma, o empregador assume os risco da empresa, do estabelecimento e do próprio contrato de trabalho e sua execução. (2012, p. 402)
Terceira e última faceta de importante análise para este estudo, notadamente pela sua
aplicação na estrutura terceirizante, é a responsabilidade civil por fato de terceiro ou indireta,
extensão da responsabilidade além do próprio agente, oriunda das relações complexas do
mundo globalizado, como assevera PEREIRA:
A vida social é cada vez mais complexa, e urde situações várias, em que ao anseio de justiça ideal não satisfaz proclamar apenas que o indivíduo responde pelo dano que causa. Daí assentar-se um conjunto de preceitos, em virtude dos quais se atenta para o fato da extensão da responsabilidade além da pessoa do ofensor, seja juntamente com este, seja independentemente dele. Diz-se, pois, que há responsabilidade indireta quando a lei chama uma pessoa a responder pelas consequências do ilícito alheio. (2009, p. 486)
Pois bem. Representando uma exceção à regra geral de que o causador do dano é
quem responde pelos próprios atos, pode a lei determinar que uma pessoa seja
responsabilizada pelo ato lesivo a direito alheio ocasionado por uma ação ou omissão de
terceiro sob sua autoridade de direito ou de fato. Noutras palavras, tem-se, de um lado, o
agente autor do fato material e, de outro lado, conforme disposição legal, a pessoa civilmente
responsável pelas consequências do dano causado.
O art. 932 do Código Civil elenca as hipóteses legais de responsabilidade por fato de
terceiro, conforme se vê infra:
Art. 932. São também responsáveis pela reparação civil: I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia; II - o tutor e o curador, pelos pupilos e curatelados, que se acharem nas mesmas condições; III - o empregador ou comitente, por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele; IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos; V - os que gratuitamente houverem participado nos produtos do crime, até a concorrente quantia.
No que toca a responsabilidade do empregador ou do comitente pelos atos praticados
por seus prepostos, item de maior relevância para o presente estudo, diversas foram as
indagações doutrinárias a respeito da teoria que a justificasse.
Em princípio, procurou-se resposta na teoria da culpa, pela aplicação da culpa in
eligendo, in vigilando e presumida. É que, “no terreno da responsabilidade por fato (ou
culpa) de terceiro, chamava-se culpa in eligendo aquela que se caracterizava na má escolha
do preposto; e culpa in vigilando, quando decorria da falta de atenção com o procedimento
de outrem, por cujo ato ilícito o responsável deveria pagar” (PEREIRA, 2008, p. 659). Nessa
esteira de ideias, responsabiliza-se o comitente pela má escolha do preposto ou pela
ausência/insuficiência de vigilância nas atividades por ele desenvolvidas.
Ademais, entendeu-se que, provada a culpa do preposto, surge a responsabilidade do
comitente, eis que presumível sua culpa. Esse foi o entendimento exarado, outrossim, pelo
Supremo Tribunal Federal no enunciado da Súmula nº 341, segundo a qual “é presumida a
culpa do patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto”.
Noutro norte, a doutrina tentou explicar a responsabilidade do comitente pela teoria da
representação delitual ou da substituição, segundo a qual os serviços do preposto representam
um prolongamento da própria atividade do patrão. Assim, conforme explica Alvino Lima,
citado por CAMPOS, “o ato do preposto é ato do comitente ou do patrão, consequentemente,
a culpa do preposto é culpa do comitente; este absorve a personalidade daquele. O preposto
é o prolongamento da atividade do comitente, havendo confusão de suas pessoas” (2007,
p.43).
Outra tentativa se deu por meio da teoria da garantia, entendendo que a
responsabilidade do comitente seria uma garantia quanto a eventuais danos causados a direito
alheio por seu preposto.
Contudo, consagrou-se a teoria do risco (supra) e, por conseguinte, a responsabilidade
objetiva do comitente pelos atos praticados por seus prepostos, evidenciada no art. 933 do
Código Civil, que, referindo-se às hipóteses de responsabilidade por fato de outrem elencadas
no art. 932, determina que “as pessoas indicadas nos incisos I a V do artigo antecedente,
ainda que não haja culpa de sua parte, responderão pelos atos praticados pelos terceiros ali
referidos”.
CAPÍTULO V – A RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS E O CASO
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
A análise da responsabilidade atribuída ao tomador de serviços na terceirização
trabalhista deve perquirir duas importantes questões: teria a responsabilidade natureza
subjetiva ou objetiva? Mostra-se coerente a classificação da responsabilidade do tomador de
serviços em subsidiária, conforme estabelecido na Súmula 331, ou teria ela caráter
solidário?
Diz o item IV da Súmula nº 331/TST (supra) que “o inadimplemento das obrigações
trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador
dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e
conste também do título executivo judicial” (grafamos).
Primeiramente, descarta-se a possibilidade de conferir à responsabilidade em tela
natureza subjetiva, conforme visto alhures. Isto porque, segundo a teoria da responsabilidade
civil subjetiva, mister a comprovação da culpa do agente para que exsurja o dever de
indenizar, o que, pelo texto da Súmula, não se mostra cabível. É que “não se vislumbra a
possibilidade da produção de prova no sentido de demonstrar que o tomador dos serviços
não agiu de forma culposa e, assim, isentar-se da responsabilidade” (CAMPOS, 2007, p. 44).
É que, considerando o proveito auferido com o trabalho despendido pelo terceirizado,
a jurisprudência trabalhista tem se manifestado no sentido de reconhecer a responsabilidade
do tomador de serviços em razão da falha na escolha da empresa terceirizante (culpa in
eligendo), consubstanciada na “contratação de empresas sem suporte econômico-financeiro,
ou com o estabelecimento de valor da contratação que impossibilite o cumprimento das
obrigações trabalhistas e sociais, ou até mesmo na falta de estrutura organizacional da
empresa prestadora de serviços” (NUNES; BERNARDES; PEREIRA. 2004, p. 253), ou
mesmo na ausência de fiscalização da prestadora no que toca ao cumprimento de suas
obrigações trabalhistas (culpa in vigilando).
Este é o entendimento exarado no seguinte julgado do Tribunal Superior do Trabalho,
in verbis:
RECURSO DE EMBARGOS INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 11.496/2007 - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - A TIM Brasil Serviços e Participações S/A não é dona da obra, pois para tal qualificação necessário seria que sua atividade empresarial fosse totalmente diferente da desenvolvida pela segunda reclamada, o que não ocorre no caso. Com efeito, a responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços decorre do proveito por esta auferido do trabalho do empregado, da culpa na escolha e vigilância do prestador dos serviços, assim como da possibilidade deste não adimplir os encargos trabalhistas que lhe são conferidos. Encontrando-se a decisão da Turma em dissonância com jurisprudência desta Corte, in casu, a Súmula nº 331, IV, admissível o conhecimento do recurso de embargos, a teor do que dispõe o art. 894, II, da CLT. Recurso de embargos conhecido e provido. (BRASIL, Tribunal Superior do Trabalho, 20/11/2009) (grifamos)
Não obstante referido posicionamento, deve-se reconhecer que o enunciado do item IV
da Súmula 331 não abre espaço para a verificação da conduta culposa do tomador, ainda que
pela constatação da fata de diligência na contratação da empresa terceirizante ou mesmo na
ausência de fiscalização. Ao contrário, alude a uma responsabilidade imediata ante o mero
inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte do empregador.
Destarte, basta a ocorrência do dano, assim considerado como o inadimplemento de
direitos trabalhistas, e do nexo de causalidade, consubstanciado na prestação de serviços do
terceirizado para o tomador, que nasce para este o dever de reparação. Conclui-se, pois, que se
trata de verdadeira responsabilidade civil objetiva. Essa tese é defendida por inúmeros
doutrinadores, como Dárcio Guimarães de Andrade e Vantuil Abdala, para quem, “o princípio
de proteção ao trabalhador e a teoria do risco explicam a preocupação de não deixar ao
desabrigo o obreiro” (in CAMPOS. 2007, p. 46).
Em verdade, poder-se-ia sustentar que a responsabilização pelo pagamento dos
direitos trabalhistas na estrutura terceirizante se assemelha à hipótese do inciso III do art. 932
do Código Civil, na qual o tomador de serviços figuraria como comitente e a empresa
terceirizante como preposto. Assim, considerando a relação de dependência entre a empresa
contratada para prestar um serviço e a contratante, que irá dirigir a prestação objeto do
contrato, estaria configurada a responsabilidade da comitente pelos atos praticados pelo
preposto.
Nesse aspecto, oportuno destacar que não há óbice legal em se atribuir à pessoa
jurídica a figura do proposto, cenário plenamente aceitável em meio à nova prestação de
serviço concebida no mundo globalizado, conforme ensina CAMPOS:
O Código Civil, ao prescrever que o comitente tem responsabilidade pelos atos do preposto, não faz referência apenas ao preposto como pessoa física, mas também como pessoa jurídica, principalmente diante das novas formas de prestação de serviços, quando os mesmos são executados através de empresas. A partir da definição de preposto, observa-se que a aplicação da norma deve ser ampliada, para que ela possa atingir seus objetivos, sem o que muitas situações ficariam sem o amparo da lei. (2007, p. 49)
Por conseguinte, entendida a responsabilidade do tomador de serviços sob a égide da
teoria do risco, resta-nos saber se sua classificação como subsidiária coaduna com a ordem
jurídica da responsabilidade civil.
A classificação da responsabilidade – solidária ou subsidiária – está inserida no
contexto da garantia do adimplemento das obrigações, como forma de se definir a extensão do
patrimônio que irá satisfazer o direito do credor. Com efeito, pode a lei, ou mesmo as partes,
definir como garantidor da dívida um patrimônio maior do que o de titularidade do devedor
principal.
Nesse diapasão, vinculado ao polo passivo da relação obrigacional mais de um sujeito,
tem-se a responsabilidade solidária, pela qual todos respondem direta e imediatamente pela
integralidade do débito. Lado outro, pode-se haver um devedor principal e um codevedor que
responderá somente em caso de inadimplemento da obrigação por parte do primeiro, restando
configurada a responsabilidade subsidiária. Nesta, não responde o codevedor imediatamente,
pois será acionado quando se constatar a incapacidade econômica do devedor principal.
No campo da terceirização trabalhista lícita, em conformidade com as hipóteses
tratadas em capítulo anterior, a temática da responsabilidade foi expressamente abordada pela
Lei nº 6.019/74 (Lei do Trabalho Temporário), ao dispor que “no caso de falência da empresa
de trabalho temporário, a empresa tomadora ou cliente é solidariamente responsável pelo
recolhimento das contribuições previdenciárias, no tocante ao tempo em que o trabalhador
esteve sob suas ordens, assim como em referência ao mesmo período” (art. 16). Contudo,
percebe-se que a hipótese de incidência deste dispositivo legal é extremamente restrita,
abrangido somente os casos de falência (rectius: insolvência) da fornecedora de mão-de-obra.
Com efeito, tendo em vista a carência legislativa frente ao tema da terceirização
trabalhista, mormente no âmbito privado, restou à jurisprudência afirmar o valor do trabalho e
dos créditos trabalhistas buscando “remédios jurídicos hábeis a conferir eficácia jurídica e
social aos direitos laborais oriundos da terceirização” (DELGADO, 2012, p. 465) e assimilar
as previsões da Lei do Trabalho Temporário em um conjunto de regras mais amplo e
sistemático.
Desta forma, tendo em vista os benefícios auferidos pela empresa tomadora com os
serviços prestados pelo trabalhador, a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho
superou as limitações impostas pela Lei nº 6.019/74 e entendeu por responsabilizar
subsidiariamente o tomador de serviços por todas as obrigações laborais oriundas da
terceirização, desde que verificado o inadimplemento da empresa terceirizante – real
empregadora e devedora principal do crédito trabalhista -, em semelhança à figura do fiador
em uma obrigação civil14.
Nesse sentido, veja-se as recentes decisões exaradas pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 3ª Região, em sede de Recurso Ordinário:
EMENTA: TERCEIRIZAÇÃO -RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DE SERVIÇOS - SÚMULA 331/TST. A CEMIG não se exime do pagamento das verbas trabalhistas devidas se, ao firmar contrato com empresa de prestação de serviços, foi beneficiária direta do trabalho ofertado pelo reclamante. Tem-se ainda que a responsabilidade subsidiária que ora se declara deve estender-se a todas as parcelas deferidas que sejam inicialmente de responsabilidade do devedor principal. Isso porque sua posição assemelha-se à do fiador ou do avalista, de modo que, não tendo havido o adimplemento da obrigação pelo devedor principal, incide automaticamente a responsabilidade daquele que figura na relação jurídica basicamente para garantir a integral satisfação do credor. (BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 17/05/2012) (g.n.) EMENTA: RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. HIPÓTESES DE TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. A responsabilização subsidiária em casos que envolvem serviços terceirizados é questão contemporânea apresentada ao Poder Judiciário e para a qual o legislador ainda não atentou. Por isso, vem a jurisprudência, fonte do Direito do Trabalho (art. 8º/CLT), normatizar os fatos sociais, considerando que se tem observado grande incidência de fraudes nos casos concretos, em que a empregadora "desaparece" sem honrar seus compromissos trabalhistas. Deve-se pontuar que Súmula 331, inciso IV, do Col. TST, ao estabelecer a responsabilidade subsidiária do tomador de serviços, tem o mérito de garantir que o ilícito trabalhista, perpetrado pelo contratante da mão-de-obra, não favoreça, duplamente, o beneficiário do trabalho despendido. Ademais, a
14 Dispões o art. 818 do Código Civil Brasileiro que “pelo contrato de fiança, uma pessoa garante satisfazer ao credor uma obrigação assumida pelo devedor, caso este não a cumpra”.
responsabilidade civil da tomadora de serviços tem amparo no art. 186 do Código Civil e é decorrente da presunção das culpas in vigilando e in eligendo, advindas, respectivamente, da ausência de fiscalização do fiel cumprimento das obrigações trabalhistas e da má escolha da empresa contratada. (BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 26/05/2011) (g.n.)
Todavia, impende ressaltar que a opção feita pelo Tribunal Superior do Trabalho se
mostra muito mais política do que jurídica, haja vista a ausência de harmonia com a teoria da
responsabilidade civil, conforme supra demonstrado. Isto porque, sendo objetiva a
responsabilidade do tomador de serviços (teoria do risco), derivada da responsabilidade por
fato de terceiro, com fulcro na relação entre comitente e preposto, não haveria que se falar em
subsidiariedade, mas sim em responsabilidade solidariedade, conforme disposto no parágrafo
único do art. 942 do Código Civil, in verbis:
Parágrafo único. São solidariamente responsáveis com os autores os co-autores e as pessoas designadas no art. 932. (grifamos)
É dizer, “diante das disposições do Código Civil, não há como negar que o tomador
dos serviços é também responsável pelo cumprimento dos direitos trabalhistas dos
empregados da empresa de prestação de serviços, sendo um dos sujeitos passivos da
obrigação de reparar o dano” (CAMPOS. 2007, p. 50).
Não obstante, optou a corte maior trabalhista por criar dois critérios distintos,
diretamente ligados à licitude da contratação terceirizada: na terceirização tida como lícita,
aplicou-se a regra da responsabilidade subsidiária ao tomador de serviços, contrariando, pois,
as disposições civilistas; lado outro, dada a terceirização ilícita e, por conseguinte, o
cometimento de ato ilícito, “as empresas envolvidas são solidariamente responsáveis pelos
créditos trabalhistas do empregado, por se unirem no propósito de fraudar a legislação
trabalhista, incidindo o teor do artigo 942 do Código Civil” (BRASIL. Tribunal Superior do
Trabalho, 11/05/2012), malgrado a omissão do enunciado da Súmula nº 331.
Entendidos os critérios genéricos de aplicação da responsabilidade ao tomador dos
serviços pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas, resta a indagação quanto aos casos
específicos em que esteja envolvida a Administração Pública: tendo em vista os princípios
norteadores da atividade administrativa, seria a regra da responsabilidade subsidiária aplicável
aos créditos trabalhistas oriundos dos contratos pactuados pelos entes estatais? Poderia o
Estado ser responsabilizado pelo mero inadimplemento das obrigações trabalhistas?
Inicialmente, insta consignar que os efeitos jurídicos da terceirização efetuada pelas
entidades da Administração Pública (direta, indireta ou fundacional) estão limitados à
observância da regra constitucional expressa no art. 37, II e §2º, da Carta Magna de 1988, no
que toca a aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos como
requisito insuplantável para a investidura em cargo ou emprego público. Isto é, ainda que
configurada a ilicitude da terceirização, não há que se reconhecer o vínculo empregatício com
o ente estatal, haja vista o não atendimento do requisito formal do concurso público.
Este é o ensinamento de DELGADO:
O que pretendeu a Constituição foi estabelecer, em tais situações, uma garantia em favor de toda a sociedade, em face da tradição fortemente patrimonialista das práticas administrativas públicas imperantes no país. Tal garantia estaria fundada na suposição de que a administração e patrimônios públicos sintetizam valores e interesses de toda a coletividade, sobrepondo-se, assim, aos interesses de pessoas ou categorias particulares. (2012, p. 455)
A referida vedação constitucional foi absorvida pela ordem trabalhista no texto do
item II da Súmula nº 331/TST, segundo o qual “a contratação irregular de trabalhador,
mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com os órgãos da Administração
Pública direta, indireta ou fundacional”, aplicada, pois, na terceirização ilícita.
Por outro lado, nos casos de formação regular do vínculo terceirizante, a possibilidade
de responsabilização da Administração Pública em face dos direitos trabalhistas não
adimplidos pela empresa prestadora de serviços encontra óbice no texto do §1º do art. 71 da
Lei de Licitações (Lei Federal nº 8.666/93), que assim dispõe:
Art. 71. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. §1º A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis. (g.n.)
Nesta esteira de ideias, interpretando gramaticalmente o texto legal da Lei de
Licitações, leciona o administrativista Marçal Justen Filho, in litteris:
Fica expressamente ressalvada a inexistência de responsabilidade da Administração Pública por encargos e dívidas pessoais do contratado. A
Administração Pública não se transforma em devedora solidária ou subsidiária perante os credores do contratado. Mesmo quando as dívidas se originarem de operação necessária à execução do contrato, o contratado permanecerá como único devedor perante terceiros (2012, p. 938).
Ante a vedação legal da Lei 8.666/93, surge na doutrina e jurisprudência trabalhistas
divergência quanto à possibilidade de inclusão da Administração Pública como responsável
pelos créditos trabalhistas, em razão do inadimplemento das obrigações do empregador. A
primeira corrente defendia a aplicação literal do §1º do art. 71, impedindo a transferência de
responsabilidade para a Administração. A segunda corrente entendia pela incompatibilidade
do texto legal com a Constituição da República, mormente pela aplicação dos princípios de
proteção do trabalhador e da isonomia, “já que não se pode tratar de forma desigual um
trabalhador que presta serviço a um ente privado, com garantia de responsabilidade, e um
que presta serviço a um ente público, sem a mesma garantia” (CAMPOS. 2009, p. 191).
Em defesa da responsabilização estatal, veja-se os ensinamento de DELGADO:
A ideia de Estado irresponsável é uma das mais antigas e ultrapassadas concepções existentes na vida política, social e cultura, não tendo qualquer mínima correspondência com o conceito e a realidade normativos de Estado Democrático de Direito, tão bem capitaneados pela Constituição de 1988. Ao reverso, a Constituição da República, quando se reportou à noção de responsabilidade do Estado, o fez, para acentuá-la – e não para reduzi-la –, como se passa em seu art. 37, §6º, que estendeu a responsabilidade objetiva estatal até mesmo às pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos (2012, p. 468).
Ato contínuo, foi suscitado conflito de jurisprudência quanto à matéria perante o
Tribunal Superior do Trabalho, que se posicionou favorável ao segundo entendimento,
editando então o antigo texto do item IV da Súmula nº 331, pelo qual “o inadimplemento das
obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do
tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, inclusive quanto a órgãos da
Administração Pública direta, indireta ou fundacional, desde que haja participado da
relação processual e conste também do título executivo judicial” (g.n.).
Dois foram os nortes seguidos pelo TST: primeiramente, pautou-se na
responsabilidade civil objetiva do poder público pelos prejuízos causados a terceiros, em
razão da ação ou omissão da própria administração ou de quem ela contratou para executar
uma obra ou prestar um serviço, conforme previsto no §6º do art. 37 da Carta Magna15. Em
segundo lugar, pautando-se no princípio da proteção do trabalhador, o TST ressaltou a
necessidade de atendimento da moralidade pública, que não pode aceitar que prejuízos sejam
causados a terceiros em função de evidente falta de fiscalização da Administração do
cumprimento das obrigações daquele com quem contratou.
Contudo, em 07 de março de 2007 a questão foi levada ao crivo do Supremo Tribunal
Federal, em Ação Declaratória de Constitucionalidade do art. 71, §1º da Lei 8.666/93,
proposta pelo Governador do Distrito Federal, com participação de diversos outros entes
municipais, estaduais e a própria União Federal na qualidade de amicus curiae.
Em decisão por maioria de votos, o STF julgou pela constitucionalidade do indigitado
dispositivo, conforme se extrai da ementa da ADC nº 16, in verbis:
RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, 09/09/2011)
A decisão da Corte Suprema assevera a impossibilidade de transferência automática da
responsabilidade pelos encargos trabalhistas à Administração Pública, havendo, com isso,
necessidade de comprovação da omissão na fiscalização do cumprimento das obrigações do
contratado para que se proceda à responsabilização do Estado. É dizer, segundo ensinamento
de SILVA, “o TST não pode generalizar os casos e terá de investigar com mais rigor se a
inadimplência tem como causa principal a falha ou a falta de fiscalização do órgão
competente” (2011, p. 83).
Importante ressaltar, outrossim, que o posicionamento do STF, conforme discorreram
os Ministros Marco Aurélio e Cármen Lúcia, fundou-se na ausência de responsabilidade
objetiva do Estado na ocorrência do dano, haja vista não se tratar o agente de pessoa jurídica 15 Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (omissis) § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
de direito público, mas empresa privada prestadora de serviços de natureza privada, afastando,
definitivamente, a incidência do art. 37, §6º da Carta Magna dos vínculos terceirizantes. Desta
forma, poder-se-ia reduzir a prática de fraudes perpetradas por empresas contratadas para
prestar serviço a órgãos do Estado, que “apresentariam preços abaixo do mercado, para
ganhar concorrência, já sabedoras de que, em caso de insolvência ou falência ou
impontualidade, a Administração Pública assumiria o débito” (SILVA. 2011, p. 88).
Contudo, não se quis dar ao texto da lei federal (art. 71, §1º, Lei 8.666/93) aplicação
literal e restritiva, impossibilitando qualquer transferência de responsabilidade ao ente estatal
e, assim, criar uma espécie de direito da Administração Pública de causar prejuízos a terceiros
pautado em sua suposta imunidade às regras que regem as obrigações jurídicas. Para tanto,
asseverou o Supremo Tribunal Federal a necessidade de investigação das razões da
inadimplência no caso concreto, ressalvando a possibilidade de culpa subjetiva da
Administração.
Diante da interpretação dada no julgamento da ADC nº 16, a jurisprudência do
Tribunal Superior do Trabalho passou a reconhecer a culpa do ente estatal quando este for
omisso na fiscalização da execução dos contratos administrativos de prestação de serviços,
especialmente em razão dos deveres impostos pela própria Lei de Licitações (art. 58, III e art.
6716). Neste diapasão, não se suscitou excluir taxativamente a responsabilidade da
Administração Pública na terceirização, conforme se extrai dos julgados a seguir, in litteris:
RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. SÚMULA Nº 331, ITEM IV, DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE DO TOMADOR DE SERVIÇOS. CULPA IN ELIGENDO E/OU IN VIGILANDO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA FISCALIZAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade - ADC nº 16 -, declarou a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, e não excluiu, de forma irrefutável e taxativa, a responsabilidade da Administração Pública, mas a reconheceu no caso de sua omissão quanto à fiscalização das obrigações da contratada. Segundo consignou o TRT, o ente público foi omisso na fiscalização das obrigações trabalhistas da contratada, motivo pelo qual possui responsabilidade subsidiária pelos créditos da reclamante terceirizada, que lhe prestou serviços. Assim, verifica-se que o Tribunal a
16 Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: (omissis) III - fiscalizar-lhes a execução. Art. 67. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.
quo decidiu em consonância com o disposto na Súmula nº 331, item IV, do TST, em vigor e com o recente entendimento da Suprema Corte. Recurso de revista não conhecido (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho, 19/04/2011) (grifos acrescidos). RECURSO DE REVISTA DA 2ª RECLAMADA. 1. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. O Tribunal Regional decidiu a controvérsia em consonância com a Súmula nº 331, IV, desta Corte Superior, que tem por fundamento principalmente a responsabilidade subjetiva, decorrente da culpa in vigilando (arts. 186 e 927 do Código Civil). Isso porque os arts. 58, III, e 67 da Lei nº 8.666/93 impõem à administração pública o dever de fiscalizar a execução dos contratos administrativos de prestação de serviços por ela celebrados. No presente caso, o ente público tomador dos serviços não cumpriu adequadamente essa obrigação, permitindo que a empresa prestadora contratada deixasse de pagar regularmente a seus empregados as verbas trabalhistas que lhes eram devidas. Saliente-se que tal conclusão não implica afronta ao art. 97 da CF e à Súmula Vinculante nº 10 do STF, nem desrespeito à decisão do STF na ADC nº 16, porque não parte da declaração de inconstitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93, mas da definição do alcance da norma inscrita no citado dispositivo com base na interpretação sistemática, em conjunto com as normas infraconstitucionais citadas acima. Óbice do artigo 896, § 4º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST. Recurso de revista não conhecido. 2. ISONOMIA ENTRE OS EMPREGADOS DA EMPRESA PRESTADORA E TOMADORA DOS SERVIÇOS. OJ 383 DA SBDI-1 DO TST. Decisão regional em consonância com a Orientação Jurisprudencial nº 383 da SBDI-1, no sentido de que, desde que observado o exercício das mesmas funções, são devidos aos empregados da prestadora de serviços os mesmos direitos da empresa tomadora, em face do princípio da isonomia. Recurso de revista não conhecido. B) RECURSO DE REVISTA ADESIVO DA RECLAMANTE PREJUDICADO (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho, 17/02/2011) (g.n.) AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. TOMADOR DE SERVIÇOS. ENTE PÚBLICO. CULPA IN VIGILANDO. SÚMULA N.º 331, IV, DO TST. A decisão do Regional, calcada na culpa in vigilando do ente público, coaduna-se com o entendimento consagrado na Súmula n.º 331, IV, do TST, balizada pelo recente entendimento dado pelo STF (ADC N.º 16) à matéria tratada no referido verbete. Diante quadro fático delineado no acórdão regional, não há razão para reforma da decisão agravada, firmada com espeque no art. 896, § 4.º, da CLT e na Súmula n.º 333 do TST. Agravo improvido (BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho, 28/04/2011).
Com efeito, o TST efetuou, em meados de 2011, a última alteração no enunciado da
Súmula nº 331. Dessa forma, limitou-se a responsabilidade automática e subsidiária contida
no item IV somente para os casos em que o tomador de serviços seja uma entidade privada, ao
passo que, de forma a especificar o caso das entidades estatais, foi criado o texto do item V,
nos seguintes termos:
V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada.
Deveras, percebe-se a “adequação da jurisprudência trabalhista à decisão do STF,
eliminando a ideia de responsabilidade objetiva e também de responsabilidade subjetiva por
culpa in eligendo. Mas preserva a responsabilidade subjetiva por culpa in vigilando (omissão
do dever fiscalizatório), conforme deflui do mesmo julgamento da Corte Máxima (ADC 16)”
(DELGADO. 2012, p. 470). Nesse sentido leciona JUSTEN FILHO, asseverando a
necessidade da Administração Pública em se atentar para a ocorrência de irregularidades que
bastaram para ensejar a rescisão dos contratos administrativos, dado o risco de
responsabilização. Veja-se:
Em todos esses casos, caberá à Administração instaurar procedimento administrativo destinado a apurar os fatos e, se for o caso, promover a rescisão do contrato. Assim se deverá proceder ainda que a prestação esteja sendo executada de modo rigorosamente perfeito. O fundamento do sancionamento ao contratado ou, mesmo, da rescisão contratual será a infração à legislação trabalhista e os riscos de responsabilização pertinente. (2012, p. 941)
Percebe-se, pois, que o item V da Súmula 331 acaba por criar uma regra de cunho
processual relativo ao ônus da prova do descumprimento do dever de fiscalização do ente
estatal quanto ao cumprimento das obrigações no contrato administrativo. É que, optou-se
pela aplicação da teoria dinâmica do ônus da prova17, rompendo com a rigidez da distribuição
17 No que toca à teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, importa ressaltar os ensinamentos de THEODORO JÚNIOR:
Fala-se em distribuição dinâmica do ônus da probatório, por meio da qual seria, no caso concreto, conforme a evolução do processo, atribuído pelo juiz o encargo de prova à parte que detivesse conhecimentos técnicos ou informações específicas sobre os fatos discutidos na causa, ou, simplesmente, tivesse maior facilidade na sua demonstração. Com isso, a parte encarregada de esclarecer os fatos controvertidos poderia não ser aquela que, de regra, teria de fazê-lo. É necessário, todavia, que os elementos já disponíveis no processo tornem verossímil a versão afirmada por um dos contendores e que o juiz, na fase de saneamento, ao determinar as provas necessárias (art. 331, §2º), defina também a nova responsabilidade pela respectiva produção (2010, p. 432).
estática do onus probandi disposta nos arts. 818 da CLT e 333 do CPC, para atribuir à
Administração Pública o encargo de provar que cumpriu as obrigações impostas pela Lei de
Licitações, retirando do empregado terceirizado o peso da carga de uma prova que não estaria
apto a produzir.
Noutras palavras, a alteração do enunciado em questão deve ser interpretada no
sentido de que o TST aplicou o princípio da aptidão para a prova, plenamente difundida no
processo do trabalho, para criar à Administração Pública a oportunidade de demonstrar que
exerceu com eficácia a fiscalização sobre o cumprimento dos deveres patronais por parte da
prestadora de serviços e, assim, elidir sua responsabilidade.
Esse é o entendimento que começa a se formar nos tribunais, conforme se extrai dos
seguintes julgados:
EMENTA: ENTE PÚBLICO - RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA - PRINCÍPIO DA APTIDÃO PARA A PROVA - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE REGULAR FISCALIZAÇÃO (ARTIGO 67, DA LEI DE NÚMERO 8.666/93): Ainda que constitucional o artigo 71, da Lei de Licitações, a responsabilidade subsidiária do ente de direito público interno não se esvai. É nas mãos do tomador de serviços que se encontra o poder-dever de fiscalização da execução do contrato (artigo 67, da Lei de Licitações). Para o trabalhador é mínima a possibilidade de cobrar de seu empregador o cumprimento da legislação social, tolhido que está pela subordinação, pela necessidade alimentar de dar continuidade ao emprego, pelo "estado de sujeição". Portanto, violados os direitos sociais no curso de contrato de trabalho encartado em execução de pacto de prestação de serviços com a Administração Pública direta ou indireta, cabe à tomadora de serviços, pelo princípio da aptidão para a prova, evidenciar robustamente haver exercido a eficaz fiscalização sobre o cumprimento dos deveres patronais por parte da prestadora, pena de se configurar a culpa, com conseqüente responsabilização subsidiária e, quiçá, direito de regresso contra o ordenador de despesa, nos moldes do artigo 37, parágrafo 6o., da Carta Política. (BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 12/09/2011). (g.n.)
EMENTA: RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DIRETRIZ EMANADA DO E. STF - CULPA IN VILIGANDO DO TOMADOR DE SERVIÇOS NA OCORRÊNCIA DE PREJUÍZOS AO EMPREGADO - AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA FORNECEDORA DA MÃO-DE-OBRA. Com espeque na diretriz sedimentada pelo E. STF, ao declarar nos autos da ADC n. 16/DF a constitucionalidade do art. 71, parágrafo 1º, da Lei 8.666/93, para que se cogite da exclusão da responsabilidade (subsidiária) da Administração Pública, necessária a prova de que esta, como beneficiária final da mão-de-obra, foi diligente, quanto ao dever de fiscalizar o adimplemento das obrigações decorrentes do contrato de cooperação técnica para execução de serviços técnicos em seu favor,
inclusive em relação ao cumprimento das obrigações trabalhistas dos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato. In casu, transpondo o decidido pelo Guardião Maior da Constituição, ao vertente caso concreto, o que se observa é que a Administração Pública Municipal, e a quem competia o ônus probandi, não se desvencilhou de seu encargo a contento, ex vi do disposto nos artigos 818 da CLT e art. 333, do CPC, notadamente no aspecto relativo à fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada. Assim, em face da culpa in vigilando do Município de Nova Lima, que não se desonerou do ônus da prova quanto à sua obrigação em fiscalizar o cumprimento de todas as obrigações relacionadas aos empregados envolvidos na execução do contrato de cooperação técnica, para execução de serviços técnicos em seu benefício direto, celebrado com a primeira reclamada, responde a Administração Pública Municipal pelos prejuízos causados à trabalhadora, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil e Súmula 331, V e VI, do C. TST(BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, 09/11/2011). (g.n.)
Por conseguinte, resta evidente a intenção da jurisprudência trabalhista em admitir a
responsabilização subsidiária do ente estatal de forma a conciliar a interpretação dada pelo
Supremo Tribunal Federal aos limites e deveres impostos pela Lei de Licitações com a
proteção e valorização social do trabalho, coibindo a Administração Pública de se beneficiar
da força produtiva do empregado terceirizado sem que este acabe sem nada receber, haja vista
a inadimplência da prestadora de serviços. Dessa feita, não basta a regularidade da
terceirização para, per se, isentar-se a Administração Pública de qualquer responsabilidade,
sendo fundamental que ela tenha perquirido sobre o cumprimento das obrigações trabalhistas
ao tempo da execução do contrato.
CAPÍTULO VI - CONCLUSÃO
O núcleo do presente trabalho se assenta na construção e demonstração da
legitimidade da responsabilidade da Administração Pública no processo terceirizante, como
forma de compatibilização de dois sistemas jurídicos distintos, o trabalhista e o
administrativo.
Nesse sentido, partimos de uma visão do Estado Democrático de Direito pautado no
trabalho como “um bem jurídico fundamental, que a Constituição especialmente valorizou e
prezou” (SILVA. 2011, p. 88), ressaltando os princípios fundamentais da dignidade da pessoa
humana e da valorização social do trabalho, norteadores do desenvolvimento nacional. Dessa
forma, mostra-se a necessidade de eliminação da interpretação literal e restritiva da lei que
fundamentou a irresponsabilização do Estado frente à terceirização, com fulcro no art. 71, §1º
da Lei nº 8.666/93, sem que, com isso, afaste-se a aplicação desta norma, questão já elucidada
pelo Supremo Tribunal Federal (ADC nº 16).
É dizer, segundo ilumina DELGADO, no moderno Estado Democrático de Direito
assegurado pela Constituição da República de 1988,“não há espaço para fórmulas legais
implícitas ou explícitas de diminuição da responsabilidade das entidades estatais. A
Constituição e seu Estado Democrático de Direito apontam o sentido da acentuação da
responsabilidade do Estado, e não de seu acanhamento” (2012, p. 468).
No que tange ao tratamento dado pelo Tribunal Superior do Trabalho à
responsabilidade da Administração Pública na terceirização, conforme o enunciado dos itens
IV e V da Súmula nº 331 alinhados ao atual entendimento exarado pelo STF, ressaltamos que
a subsidiariedade concedida se mostra contraditória à teoria da responsabilidade civil clássica,
segundo a qual seria objetiva, e, portanto, solidária, a responsabilidade do tomador de
serviços.
Em se tratando da hipótese em que uma entidade estatal figure como tomadora do
serviço, não se quer defender a aplicação do art. 37, §6º da Carta Magna, já afastada pela
Corte Máxima brasileira, contudo, imperioso consignar que a melhor interpretação estaria na
aplicação dos ditames do Código Civil quanto à classificação da responsabilidade civil,
mormente nos arts. 932, 933 e 942, concluindo-se pela responsabilidade objetiva e solidária,
conforme visto alhures.
Ocorre que, há de se considerar o conflito existente entre o interesse público e o
interesse particular do trabalhador, delimitado pelos princípios administrativos correlatos à
atuação do Estado e resguardado pela via da legalidade. Este foi o centro das discussões que
levaram à última alteração na jurisprudência trabalhista, que optou por fundamentar o papel
exercido pela Administração Pública, em detrimento de sua irresponsabilização, no dever de
fiscalização do cumprimento oportuno e integral de todas as obrigações assumidas pela
empresa por ela contratada. Noutras palavras, a garantia do crédito trabalhista pelo ente
estatal, dada a inadimplência do real empregador, está adstrita a constatação de sua culpa in
vigilando (responsabilidade dita subjetiva).
Com efeito, tendo em vista que é a própria Lei de Licitações (Lei 8.666/93) que
determina ao ente público o dever de fiscalização efetiva da execução do contrato (arts. 58,
III, 67 e 87, III e IV), a negligência da Administração constitui o inadimplemento reconhecido
pela Justiça do Trabalho como gerador de sua responsabilidade. Deve-se atentar, outrossim,
que, sendo a quitação dos direitos trabalhistas dos trabalhadores terceirizados obrigação
inerente ao contrato administrativo, o mero descumprimento desta pela empresa terceirizante
pode ser entendida como demonstração suficiente da falta de fiscalização, configurando,
portanto, a culpa in vigilando do ente contratante.
Constatou-se, pois, ser esta a vertente que vem ganhando força nos Tribunais
Regionais do Trabalho, conforme pode ser observado no acórdão do julgamento paradigma
trazido à baila, de alta notoriedade no TRT da 3ª Região, no qual a Companhia de
Saneamento de Minas Gerais – COPASA foi condenada por não ter fiscalizado o
cumprimento das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços, in verbis:
(omissis) É certo que, recentemente, o E. STF examinou a matéria e concluiu pela perfeita adequação da Lei n. 8.666/93 (artigo 71, parágrafo único), à Constituição da República, mesmo com a nova redação dada pela Lei 9.032/95, que dispôs sobre a responsabilidade solidária dos entes de Direito Público, pelas contribuições previdenciárias (acessório que tem como principal a onerosidade do contrato de trabalho, capaz de captar o alcance obrigacional do fato gerador). De acordo com o STF, em havendo licitação para contratação do prestador de serviços, não se pode falar da culpa na modalidade in eligendo, pois o processo licitatório, em tese, garante a legitimidade e a regularidade na escolha do contratado. Todavia, remanesce a culpa na sua modalidade in vigilando, pois à COPASA, sociedade de economia mista, dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada por lei para o exercício de atividade econômica, não se dispensa a rigorosa fiscalização da execução do contrato, sobretudo na vertente específica de cumprimento da legislação social e trabalhista. Há incidência, no caso, do artigo 173 da CR. Nestes termos, a responsabilidade da segunda reclamada, como parte nesta ação, nasce do inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo agente por ele escolhido, para prestar serviços numa determinada área de seu interesse. In casu, a segunda reclamada incorreu na culpa in vigilando, em face de não ter fiscalizado os atos da empresa contratada, no tocante ao cumprimento das obrigações trabalhistas, geradas da relação jurídica de emprego que viçou entre o reclamante e a primeira reclamada. Aliás, o artigo 67, da Lei no. 8.666/93, ordena que a execução do contrato deve ser fiscalizada por um representante da Administração, sob pena de incorrer em responsabilidade extracontratual ou aquiliana. No caso específico dos autos, acentue-se que o artigo 71, § 1º, da Lei no. 8.666/93, não a afasta da responsabilidade subsidiária, porque o artigo 37, § 6º, da Constituição do Brasil, prevê a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e privado, por atos que seus agentes, nessa qualidade, causem a terceiros. Ademais, para invocar, em seu benefício, o aludido dispositivo, a recorrente deveria tê-la cumprido integralmente, inclusive, vigiando e acompanhando a execução do contrato de prestação de serviços, como se disse acima.
A par disso, a questão relacionada à aplicabilidade do artigo 71 da Lei 8.666/93 já foi devidamente apreciada pelo Tribunal Superior do Trabalho, que acrescentou o inciso V à Súmula nº 331, com o seguinte teor: “Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada”. Assim, conquanto seja possível a contratação de terceiros para execução de serviços de seu interesse, tal circunstância não exime o tomador de responder subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa contratada. E nem mesmo o fato de a primeira reclamada ter sido contratada mediante prévio procedimento licitatório (art. 37, XXI, da CR/88) afasta a possibilidade de se imputar ao tomador a responsabilidade subsidiária pelos créditos deferidos, pois como já dito, a inadimplência do real empregador revela falta de fiscalização quanto ao correto cumprimento de suas obrigações trabalhistas, o que é suficiente para reconhecer a ocorrência de culpa in vigilando que, por sua vez, atrai a aplicação dos arts. 186 e 927 do Código Civil. (BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. 17/11/2011) (grifos acrescidos)
Destarte, percebeu-se que a adoção da teoria da responsabilidade subjetiva por culpa
in vigilando não se mostra, ao contrário do que possa aparentar, uma forma de minimizar a
responsabilidade do Estado. Isso porque, sendo a verificação da regularidade dos empregados
e do contrato administrativo um dever do ente público e não mera prerrogativa, somente se
poderia admitir fosse afastada a responsabilidade subsidiária se efetivamente provado pela
própria Administração o eficaz controle e fiscalização, com espeque na teoria dinâmica de
distribuição do ônus da prova, inexistindo, pois, qualquer presunção de que tenham ocorrido.
Ademais, poder-se-ia suscitar uma breve reflexão: reconhecida a culpa da
Administração Pública e, portanto, estando autorizada sua responsabilização subsidiária pelo
adimplemento da obrigação de natureza trabalhista, há o risco de termos um deslocamento do
processo para a Justiça Comum em razão dos sujeitos que passam a se envolver no litígio? É
dizer, com espeque no critério ratione personae de definição de competência, especialmente
no que toca a inclusão da União, entidade autárquica ou empresa pública federal na lide, cuja
competência a Constituição da República atribuiu à Justiça Federal (art. 109), pode-se
entender pela incompetência da Justiça do Trabalho em prosseguir com o deslinde do feito, o
que, de fato, colocaria em risco toda a proteção e cautela conferidas por esta justiça
especializada ao crédito trabalhista, cuja satisfação poderá nunca ocorrer.
Por tudo o que foi exposto neste trabalho, conclui-se que a recente interpretação dada
pela jurisprudência trabalhista (itens IV e V da Súmula 331/TST) não encerra por definitivo o
caloroso debate que circunda o tema da responsabilidade da Administração no processo
terceirizante, mormente ante a lacuna legislativa ainda existente e o aumento da demanda pelo
instituto da terceirização oriundo do sistema de produção globalizado. Contudo, pôde ser
traduzido como um avanço razoável na difícil tarefa de compatibilização entre os princípios
protetivos do trabalhador e a primazia do interesse público e da legalidade característicos do
pensamento das relações administrativas.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ABDALA, Vantuil. Terceirização: atividade-fim e atividade-meio - responsabilidade
subsidiária da tomadora de serviços. Revista LTr. São Paulo, v. 60, 1996.
BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 6ª ed. São Paulo: LTr, 2010.
BRASIL. Tribunal de Contas da União. Processo nº 928.360/98-9. Relator: Ministro
Benjamim Zymler. Brasília/DF. Data de Publicação: DOU 04/02/2000.
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Quarta Turma. Recurso Ordinário nº
0001245-18.2010.5.03.0089. Relator: Desembargador Julio Bernardo do Carmo. Belo
Horizonte/MG. Data de Publicação: DEJT 09/11/2011.
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Quarta Turma. Recurso Ordinário nº
00310-2011-137-03-00-3. Relator: Juíza Convocada Adriana G. de Sena Orsini. Belo
Horizonte/MG. Data de Publicação: DEJT 30/04/2012.
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Quarta Turma. Recurso Ordinário nº
01692-2010-012-03-00-7. Relator: Juiz Convocado Paulo Mauricio R. Pires. Belo
Horizonte/MG. Data de Publicação: DEJT 22/08/2011.
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Sétima Turma. Recurso Ordinário nº
01802-2011-114-03-00-2. Relator: Desembargador Marcelo Lamego Pertence. Belo
Horizonte/MG. Data de Publicação: DEJT 11/05/2012.
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Terceira Turma. Recurso Ordinário nº
0001245-18.2010.5.03.0089. Relator: Juiz Convocado Frederico Leopoldo Pereira. Belo
Horizonte/MG. Data de Publicação: DEJT 12/09/2011.
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Turma Recursal de Juiz de Fora.
Recurso Ordinário nº 00808-2010-049-03-00-7. Relator: Juíza Convocada Maria Raque
Ferraz Zagari Valentim. Juiz de Fora/MG. Data de Publicação: DEJT 26/05/2011.
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Turma Recursal de Juiz de Fora.
Recurso Ordinário nº 01090-2011-078-03-00-2. Relator: Des. João Bosco Pinto Lara. Juiz de
Fora/MG. Data de Publicação: DEJT 17/11/2011.
BRASIL. Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Turma Recursal de Juiz de Fora.
Recurso Ordinário nº 01099-2011-037-03-00-8. Relator: Juiz Convocado Milton V.Thibau de
Almeida. Juiz de Fora/MG. Data de Publicação: DEJT 17/05/2012.
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Quinta Turma. Recurso de Revista nº 353-
49.2010.5.03.0012. Relator: Ministro Emmanoel Pereira. Brasília/DF. Data de Julgamento:
09/05/2012. Data de Publicação: DEJT 18/05/2012.
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Oitava Turma. Recurso de Revista nº 193800-
63.2009.5.12.0019. Relator: Ministra Dora Maria da Costa. Brasília/DF. Data de Julgamento:
13/04/2011. Data de Publicação: DEJT 19/04/2011.
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Primeira Turma. Recurso de Revista nº 804890-
60.2001.5.09.5555. Relator: Ministra Dora Maria da Costa. Brasília/DF. Data de Julgamento:
19/09/2007. Data de Publicação: DJ 19/10/2007.
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Quarta Turma. Agravo de Instrumento em Recurso
de Revista nº 94-95.2010.5.10.0000. Relator: Ministra Maria de Assis Calsing. Brasília/DF.
Data de Julgamento: 13/04/2011. Data de Publicação: DEJT 28/04/2011.
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. SBDI-1. Recurso de Revista nº 413100-
18.2004.5.02.0201. Relator: Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho. Brasília/DF. Data
de Julgamento: 12/11/2009. Data de Publicação: DEJT 20/11/2009.
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Segunda Turma. Recurso de Revista nº 26100-
08.2005.5.06.0007. Relator: Ministro José Roberto Freire Pimenta. Brasília/DF. Data de
Julgamento: 09/02/2011. Data de Publicação: DEJT 17/02/2011.
BRASIL. Tribunal Superior do Trabalho. Terceira Turma. Agravo de Instrumento em
Recurso de Revista nº 150740-03.2006.5.01.0035. Relator: Ministro Horácio Raymundo de
Senna Pires. Brasília/DF. Data de Julgamento: 09/05/2012. Data de Publicação: DEJT
11/05/2012.
CAMPOS, José Ribeiro de. A súmula n. 331 do tribunal superior do trabalho e a
responsabilidade da empresa tomadora dos serviços pelas verbas trabalhistas na terceirização.
Revista IOB Trabalhista e Previdenciária, v. 17, p. 30-52, 2007.
CONCEIÇÃO, Felipe Silva da. Responsabilidade trabalhista da administração pública
decorrente da terceirização de serviços. Estudos, Universidade Católica de Goiás, v. 32, n. 8,
p.1437-1454, ago. 2005.
DELGADO, Gabriela Neves. Terceirização no Direito do Trabalho. Belo Horizonte:
Mandamentos, 2004. cap. 11, p. 245-257.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 24ª ed.. São Paulo: Atlas, 2011.
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública: concessão, permissão,
franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas. 8ª ed.. São Paulo: Atlas,
2011.
JORGE NETO, Francisco Ferreira. A Terceirização na Administração Pública e a
Constitucionalidade do art. 71 da Lei n° 8.666/93 declarada pelo STF (Novembro de 2010).
Revista Zênite de Licitações e Contratos – ILC, ano XVIII, n° 205, p. 237-244, mar. 2011.
JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15ª
ed.. São Paulo: Dialética, 2012.
MARTINS, Sergio Pinto. A Terceirização e o Direito do Trabalho. 3ª ed. São Paulo:
Malheiros, 1997.
MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet.
Curso de Direito Constitucional. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2008.
NUNES, Ana Flávia Paulinelli Rodrigues; BERNARDES, Denise Couto; PEREIRA, Mônica
Guedes. Terceirização e Responsabilidade. In: HENRIQUE, Carlos Augusto Junqueira e
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Contratos. 13ª ed. Rio de
Janeiro: Forense, 2009, v. III.
PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Introdução ao Direito Civil.
Teoria Geral de Direito Civil. 22ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, v. I.
RAMOS, Dora Maria de Oliveira. Terceirização na administração pública. São Paulo: LTr,
2001. Apud. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública:
concessão, permissão, franquia, terceirização, parceria público-privada e outras formas. 8ª ed..
São Paulo: Atlas, 2011.
ROSIGNOLI, Juliana Bernardes; ARAÚJO, Michele Martinez Carneiro. Terceirização e
Administração Pública. In: HENRIQUE, Carlos Augusto Junqueira e DELGADO, Gabriela
Neves. Terceirização no Direito do Trabalho. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004. cap. 12,
p. 259-272.
SILVA, Antônio Álvares da. Globalização, Terceirização e a Nova Visão do Tema pelo
Supremo Tribunal Federal. São Paulo: LTr, 2011.
STOCO, Rui. Tratado de responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, v. III, 2001. Apud.
CAMPOS, José Ribeiro de. A súmula n. 331 do tribunal superior do trabalho e a
responsabilidade da empresa tomadora dos serviços pelas verbas trabalhistas na terceirização.
Revista IOB Trabalhista e Previdenciária, v. 17, p. 30-52, 2007.
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Teoria Geral do Direito
Processual Civil e Processo de Conhecimento. 51ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, v. 1.
URIARTE, Oscar Ermida. A Flexibilidade. In: GONÇALVES, Antônio Fabrício de Matos.
Flexibilização Trabalhista. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004.
VIANA, Márcio Túlio. A Proteção Social do Trabalhador no Mudo Globalizado. O Direito do
Trabalho no Limiar do Século XXI. Revista LTr, São Paulo, n. 7, v. 63, jul./1999.

































































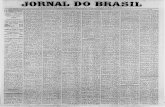





![Panorama do Antigo Testamento [introdução da literatura do AT]](https://static.fdokumen.com/doc/165x107/631cabbed5372c006e048d2f/panorama-do-antigo-testamento-introducao-da-literatura-do-at.jpg)



