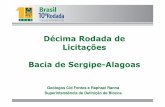universidade federal de alagoas – ufal
-
Upload
khangminh22 -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of universidade federal de alagoas – ufal
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL CAMPUS ARAPIRACA
CURSO DE BACHARELADO EM ZOOTECNIA
JOSÉ RAFAEL SILVA DE ALMEIDA
RESÍDUO DO EXTRATO DE PRÓPOLIS VERMELHA EM DIETAS PARA
CODORNAS NA FASE DE CRIA E RECRIA CRIADAS EM GAIOLAS
Arapiraca 2019
José Rafael Silva De Almeida
Resíduo do extrato de própolis vermelha em dietas para codornas na fase de cria e
recria criadas em gaiolas
Arapiraca 2019
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao
Curso de Bacharelado em Zootecnia, da
Universidade Federal de Alagoas, Campus
Arapiraca, como parte das exigências para a
obtenção do diploma de Zootecnista.
Orientadora: Profa Dra Adriana Aparecida Pereira
À minha bisavó Luciana Rosa de Oliveira (in memorian).
À minha avó Josefa Rosa de Oliveira Silva.
Ao meu avô afetivo José Manuel da Cruz.
À minha mãe Maria Aparecida da Silva.
DEDICO.
AGRADECIMENTOS
À minha avó Josefa Rosa de Oliveira Silva, por ser a base da minha formação como
pessoa e por ter se dedicado à minha criação.
À minha mãe Maria Aparecida da Silva, que sempre acreditou / acredita em mim e por
ser a pessoa que mais me incentivou a cursar uma graduação.
Ao meu irmão Rodrigo Felício, por ser meu melhor amigo e parceiro de todas as horas.
À minha irmã Camila, por todos os momentos de alegria, aos quais acabam com o
qualquer estresse.
Aos meus tios, primos, padrasto e demais familiares pelo apoio e confiança.
À professora Adriana, pelo imenso conhecimento repassado, pela confiança,
paciência, motivação, incentivo, e por todas as oportunidades.
Aos professores da UFAL, principalmente os do curso de Zootecnia, que transmitiram
conhecimento para minha formação.
Ao professor Vítor, pelo conhecimento repassado e pela doação do resíduo de
própolis utilizado na pesquisa.
Aos participantes do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Avicultura (NEPA), em
especial, Rosa, Wilson, Edlaine, Samila, Socorro, Gisele, Érika, Grazi e Jéssica, pela
amizade, companheirismo e união.
Aos amigos e colegas de turma, em especial aos que restaram, João Paulo, Paloma,
Ysacely, Anderson Rodrigo, Ana Maria, Cinthya Mércia e Ranialef, pelo
compartilhamento dos mais variados momentos ao longo do curso.
Aos membros da CONSULTIZOO do ano de 2018, Alycia, Lucas, Rayane, Cryslaine,
Neila e Cynthia Mikaely.
Aos caros Dirceu e Waldonys, pelas oportunidades e por todo o conhecimento
repassado.
Ao técnico Wanderson, pelo apoio.
À Universidade Federal de Alagoas, Campus Arapiraca.
Aos demais contribuintes para minha formação.
MUITO OBRIGADO!
“Não é o mais forte que sobrevive,
nem o mais inteligente, mas o que melhor
se adapta às mudanças.”
(Charles Darwin)
RESUMO
Objetivou-se avaliar a adição do resíduo do extrato etanólico de própolis vermelha em dietas para codornas na fase de cria e recria (1 a 35 dias de idade), sobre o desempenho zootécnico e características de carcaça e órgãos. Foram utilizadas 540 codornas, de linhagem japonesa, com um dia de idade, distribuídas em delineamento inteiramente casualizado em dois tratamentos com seis repetições de 45 aves por parcela. Os tratamentos foram: T1 – ração sem adição de resíduo de própolis vermelha e T2 – ração com adição de 1% de resíduo de extrato etanólico de própolis vermelha. Semanalmente, foram verificados o consumo de ração, ganho de peso e conversão alimentar. Aos 35 dias de idade, as aves foram pesadas e logo após foi selecionada uma codorna por parcela para o abate, para avaliar o peso vivo, rendimento de carcaça e órgãos. Não foi verificado diferença para consumo de ração, ganho de peso e conversão alimentar na fase de cria (1 a 21 dias de idade), fase de recria (22 a 35 dias de idade) e período total de criação (1 a 35 dias de idade) com a adição do resíduo de extrato etanólico de própolis vermelha na dieta das codornas. A adição de resíduo do extrato etanólico de própolis vermelha na dieta das codornas não influenciou o rendimento de carcaça e a percentagem de gordura abdominal, fígado e intestino. A adição de 1% do resíduo do extrato etanólico de própolis vermelha na dieta de codornas na fase de cria e recria (1 a 35 dias de idade) não interfere no desempenho zootécnico e rendimento de carcaça e órgãos. Palavras-chave: Carcaça. Desempenho zootécnico. Fitoterápico. Órgãos. Subproduto.
ABSTRACT
The objective of this study was to evaluate the addition of the residue of the red propolis ethanolic extract in diets for broiler and rearing quails (1 to 35 days old), on the zootechnical performance and carcass and organ characteristics. A total of 540 one day old Japanese quails were distributed in a completely randomized design in two treatments with six replications of 45 birds per plot. The treatments were: T1 - diet without addition of red propolis residue and T2 - diet with addition of 1% residue of red propolis ethanolic extract. Weekly feed intake, weight gain and feed conversion were verified. At 35 days of age, the birds were weighed and shortly after one quail per plot was selected for slaughter to evaluate live weight, carcass yield and organs. No differences were found for feed intake, weight gain and feed conversion in the rearing phase (1 to 21 days old), rearing phase (22 to 35 days old) and total rearing period (1 to 35 days old) with the addition of the red propolis ethanol extract residue in the quail diet. The addition of residue of the red propolis ethanol extract in the quail diet did not influence the carcass yield and the percentage of abdominal fat, liver and intestine. The addition of 1% of the residue of the red propolis ethanolic extract in the quail diet in the rearing and rearing phase (1 to 35 days old) does not affect the zootechnical performance and carcass and organ yield Keywords: Carcass. Zootechnical performance. Herbal medicine. Organs. Byproduct.
LISTA DE FIGURAS
Figura 1 - Variação no número de codornas de 2014 a 2017 no Brasil.................. 13
Figura 2 - Produção anual de ovos de codornas entre 2014 a 2017 no Brasil....... 14
Figura 3 - Planta D. ecastophyllum (A). Exsudato avermelhado no caule da D. ecastophyllum (B). Abelhas Apis mellifera usando própolis para fechar as rachaduras e buracos da colmeia (C)..................................... 17
Figura 4 - Estrutura base de formação dos flavonoides.......................................... 20
LISTA DE TABELAS
Tabela 1 - Distribuição geográfica, origem vegetal e substâncias relevantes
dos tipos de própolis............................................................................... 15
Tabela 2 - Principais substâncias da própolis vermelha brasileira e seus
efeitos farmacológicos............................................................................ 18
Tabela 3 - Composição centesimal dos ingredientes e dos nutrientes das
rações experimentais............................................................................. 31
Tabela 4 - Desempenho de codornas de postura alimentadas com dieta
aditivada com ou sem resíduo do extrato de própolis de 1 a 21
dias......................................................................................................... 34
Tabela 5 - Desempenho de codornas de postura alimentadas com dieta
aditivada com ou sem resíduo do extrato de própolis de 22 a 35
dias......................................................................................................... 35
Tabela 6 - Desempenho de codornas de postura alimentadas com dieta
aditivada com ou sem resíduo do extrato de própolis de 1 a 35
dias......................................................................................................... 35
Tabela 7 - Característica de carcaça de codornas japonesas aos 35 dias
de idade alimentadas com dieta aditivada com ou sem resíduo
do extrato de própolis............................................................................. 37
SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO......................................................................................... 11 2 REVISÃO DE LITERATURA................................................................... 12
2.1 Cenário da coturnicultura brasileira.......................................................... 12
2.2 A Própolis ................................................................................................ 14
2.2.1 Propriedades da própolis vermelha.......................................................... 21
2.2.1.1 Antioxidante.............................................................................................. 21
2.2.1.2 Anti-inflamatória........................................................................................ 22
2.2.1.3 Antimicrobiana.......................................................................................... 22
2.3 Efeito da própolis no desempenho dos animais....................................... 26
2.4 Resíduo do extrato de própolis na dieta de animais................................ 28
3 MATERIAL E MÉTODOS........................................................................ 30 4 RESULTADOS E DISCUSSÃO............................................................... 34 5 CONCLUSÃO ......................................................................................... 40 REFERÊNCIAS........................................................................................ 41
11
1 INTRODUÇÃO
A produção de codornas de postura no cenário nacional vem crescendo ao
longo dos anos e demonstra ser um importante seguimento da cadeia produtiva da
avicultura. Este aumento de produção está relacionado com o rápido desenvolvimento
das aves na fase inicial e o bom desempenho produtivo, proporcionado pelo
melhoramento genético e pelas tecnologias nutricionais utilizadas nas rações
(PESSÔA et al., 2012).
O uso de aditivos melhoradores de desempenho (antibióticos e anticoccidianos)
na produção avícola brasileira é uma prática comum. No entanto, a pressão popular
pelo banimento desses aditivos na alimentação animal vem se tornando cada vez
mais forte. Com isso, os avicultores buscam alternativas naturais, como fitoterápicos,
probióticos, ácidos orgânicos, entre outras, que possam substituir os antimicrobianos
e não provoquem perda de desempenho zootécnico nos sistemas de produção.
A própolis é uma substância resinosa, de origem vegetal, produzida pelas
abelhas (Apis mellifera) para o fechamento da colmeia contra insetos invasores, e
pode ser classificada como um fitoterápico, pois apresenta propriedades
antimicrobianas, decorrentes de compostos como os flavonoides e isoflavonoides.
Estes compostos estão presentes em maior quantidade na própolis vermelha, oriunda
da planta Dalbergia ecastophyllum, vulgarmente conhecida como “rabo-de-bugio”
(PONTES et al., 2018).
No beneficiamento da própolis bruta, o extrato representa apenas 10% da
quantidade total, os outros 90% são de resíduo, que tem potencial de uso na
alimentação animal (SANTOS et al., 2003). No entanto, existem poucos trabalhos com
a utilização do resíduo de própolis na alimentação animal (PETROLLI et al., 2014),
principalmente com o uso do resíduo de extrato etanólico de própolis vermelha para
codornas.
Diante do exposto, objetivou-se avaliar a adição do resíduo do extrato etanólico
de própolis vermelha em dietas para codornas na fase de cria e recria (1 a 35 dias de
idade), sobre o desempenho zootécnico e rendimento de carcaça e órgãos.
12
2 REVISÃO DE LITERATURA 2.1 Cenário da Coturnicultura Brasileira
A coturnicultura industrial no atual cenário, possibilita aos produtores três tipos
de codornas para a exploração: a codorna europeia (Coturnix coturnix), a codorna
japonesa (Coturnix japonica) e a codorna americana conhecida como bobwhite quail
(Colinus virginianus). Essas linhagens possuem diferentes características de
tamanho, peso, precocidade, coloração de casca de ovo, taxa de postura e coloração
das penas. Essa distinção de características direciona cada uma dessas linhagens
para uma determinada aptidão, seja para carne ou para ovos (ALBINO e BARRETO,
2003).
As linhagens europeia e americana possuem aptidão para corte, pois são
maiores que as da subespécie japonesa e chegam a pesar de 280 a 300 g quando
adultas, sendo 80 a 100% mais pesadas, o que resulta em maior consumo de ração
(BARRETO et al., 2007). Enquanto que a linhagem japonesa é mundialmente
difundida para produção de ovos.
A codorna japonesa surgiu no Japão, em 1910, pelo cruzamento entre as
codornas europeias e espécies selvagens (UMIGI et al., 2007) e foi introduzida no
Brasil na década de 50 (PINTO et al., 2002). Possui características peculiares com
relação a postura, o que a torna referência em produção de ovos, como: maturidade
sexual precoce (35 a 40 dias); alta taxa de postura (em média 300 ovos/ave/ano); e
elevada vida produtiva (média de dois anos) (ALBINO e BARRETO, 2003).
Segundo Oliveira (2003), a espécie europeia consome na fase de produção
aproximadamente 36 g/dia, enquanto que a japonesa tem um consumo médio de
ração diário de 23 gramas (UMIGI et al., 2007). A codorna produz ovos com alto valor
biológico, com peso em média de 11 gramas. Segundo Torres et al. (2000), em 100
gramas de conteúdo de ovo de codorna, a composição nutricional é: 75 g de umidade;
0,9 g de cinzas; 9,5 g de lipídeos e 12,5 g de proteína.
Com relação a implantação da criação, a linhagem japonesa também se
destaca pelo fato de exigir baixo investimento, rápido retorno do capital investido e
perspectiva de aumento de produção em curto espaço de tempo. Todos esses fatores
se transformam em atrativo para pequenos produtores que buscam uma segunda
13
renda e utilizam a criação de codornas de postura para isso (SILVA et al., 2018),
refletindo no aumento do crescimento da coturnicultura de modo geral.
Segundo o IBGE, até 2015 houve um crescimento anual no efetivo de codornas
no Brasil, com aproximadamente 22 milhões de aves. No entanto, no ano de 2016, a
produção de codornas no país sofreu uma grande queda, chegando a 15,1 milhões
de codornas e em 2017 não conseguiu esboçar uma reação de crescimento tão
expressiva, finalizando o ano com 15,5 milhões de cabeças (Figura 1).
Figura 1 - Variação no número de codornas de 2014 a 2017 no Brasil
Fonte: Pesquisa da pecuária municipal – IBGE (2014 – 2017).
Assim como o número de aves, o total de ovos produzidos por ano em 2015
teve aumento expressivo, mas também caiu no ano de 2016 e voltou a crescer pouco
em 2017 (Figura 2). De acordo com o IBGE (2016), o que causou essa queda tanto
no efetivo de codornas, quanto na produção de ovos, foi a perda do poder aquisitivo
da população. Com isso, ocorreu uma menor procura por carne e ovos e obrigou os
criadores a retraírem seus plantéis.
A região Sudeste é historicamente a maior produtora de codornas do Brasil
(PASTORE et al., 2012). Em média, todos os anos essa região produz mais da metade
da produção nacional. Em 2016, o Sudeste respondeu por 67% do efetivo de codornas
e 68,3% da produção de ovos, onde a maior parte desses números é oriunda do
20,34
22
15,1 15,5
0
5
10
15
20
25
2014 2015 2016 2017
Milh
ões
de
Cab
eças
14
estado de São Paulo, que produziu nesse mesmo ano 30,4% do total de ovos do país.
(IBGE, 2016).
Figura 2 - Produção anual de ovos de codornas entre 2014 a 2017 no Brasil
Fonte: Pesquisa da pecuária municipal – IBGE (2014 – 2017).
O Nordeste vem ao longo dos anos disputando com a região Sul a segunda
posição no ranking das regiões mais produtoras do país. Do efetivo de codornas total
em 2017, a região Nordeste responde por mais de 2 milhões de cabeças,
representando 13,0% do total, e com relação a produção de ovos contribui com 30.852
mil dúzias, equivalente a 10,6% da produção nacional (IBGE, 2017).
2.2 A Própolis
A própolis é um conjunto de substâncias de origem botânica que formam uma
resina, na qual é coletada pelas abelhas que a utilizam para fechar as aberturas
indesejáveis da colmeia, promovendo proteção contra microrganismos, além de ser
utilizada para embalsamar insetos. Possui cor e consistência variadas, de acordo com
a flora de cada região (GHISALBERTI, 1979).
A variação da flora brasileira possibilitou que 12 tipos de própolis fossem
agrupados, de acordo com a composição química e atividade biológica das mesmas
(PARK et al., 2000). Contudo, esse número subiu para 13, com a descoberta de outra
variedade, denominada de própolis vermelha (SILVA et al., 2008).
392,73
447,47
273,3290,8
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Mil
Dú
zias
2014 2015 2016 2017
15
A classificação se dá de acordo com a espécie de planta na qual as abelhas
fazem uso para a coleta da resina, e também pelos compostos químicos bioativos que
podem se apresentar em maior, ou menor quantidade, ou em exclusividade (SOUZA,
2014, Tabela 1).
Tabela 1 - Distribuição geográfica, origem vegetal e substâncias relevantes dos tipos de própolis
Própolis Cor Origem Geográfica
Origem Botânica
Principais Componentes
Grupo 1 Amarelo Sul (RS) Flora variada Depende da flora
Grupo 2 Castanho
claro
Sul (RS) Flora variada Depende da flora
Grupo 3 Castanho
escuro
Sul (PR) Populos alba Éster de ácido dimetil
dialil caféico;
flavonoides (crisina e
galangenina)
Grupo 4 Castanho
claro
Sul (PR) Flora variada Depende da flora
Grupo 5 Marrom
esverdeado
Sul (PR) Flora variada Depende da flora
Grupo 6 Marrom
avermelhado
Nordeste
(BA)
Hyptis
divaricata
Ésteres de ácidos
graxos; compostos
aromáticos, terpenos,
flavonóides
Grupo 7 Marrom
esverdeado
Nordeste
(BA)
Flora variada Depende da flora
Grupo 8 Castanho
escuro
Nordeste
(PE)
Flora variada Depende da flora
Grupo 9 Amarelo Nordeste
(PE)
Flora variada Depende da flora
Grupo 10 Amarelo
escuro
Nordeste
(CE)
Flora variada Depende da flora
Grupo 11 Amarelo Nordeste
(PI)
Flora variada Depende da flora
16
Grupo 12 Verde ou
Marrom
esverdeado
Sudeste
(SP, MG)
Baccharis
dracunculifolia
Flavonóides, ácidos
fenólicos, cetonas,
aldeídos aromáticos,
álcoois, terpenos
Grupo 13 Vermelha Nordeste Dalbergia
ecastophillum
Flavonóides (pinocem-
brina, formononetina,
rutina, quercetina, dal-
bergina); ácidos
fenólicos
Fonte: Adaptado de SOUSA (2014).
A própolis de forma geral, varia a sua composição de acordo com a
sazonalidade e a composição botânica da região (BURIOL et al., 2009). Diante disso,
a composição de cada categoria de própolis apresenta uma complexidade diferente.
Mas, segundo Górecka et al. (2014), a própolis apresenta uma composição básica
constituída de: resinas (50%), cera (30%), óleos essenciais (10%), pólen (5%) e outros
componentes orgânicos (5%).
Dentre os compostos orgânicos e óleos essenciais são conhecidos: ácidos e
ésteres alifáticos, ácidos e ésteres aromáticos, açúcares, álcoois, aldeídos, ácidos
graxos, aminoácidos, esteroides, cetonas, charconas e di-hidrocharconas,
terpenoides, proteínas, vitaminas B1, B2, B6, C, E, além de alguns minerais
(MENEZES, 2005).
A própolis vermelha tem origem na costa da região Nordeste do Brasil, mais
especificamente nas regiões de mangue, onde se desenvolve a Dalbergia
ecastophyllum, vulgarmente conhecida como “rabo-de-bugio”, que é a principal planta
utilizada pelas abelhas do gênero Apis para a produção da própolis (Figura 1). Logo,
a manutenção da abundância de D. ecastophyllum nos manguezais nordestinos é de
fundamental importância para sua produção (DAUGSCH et al., 2006).
17
Figura 3 -Planta D. ecastophyllum (A). Exsudato avermelhado no caule da D. ecastophyllum (B). Abelhas Apis mellifera usando própolis para fechar as rachaduras e buracos da colmeia (C).
FONTE: Adaptado de PONTES et al., (2018).
A própolis vermelha apresenta substâncias que jamais foram encontradas em
outro tipo de própolis, como medicarpina, quercetina, daidzein, vestitol, neovestitol,
formononetina, biochanin A, ácido felúrico e liquiritijenina, que fazem parte de grupos
de substâncias como flavona e isoflavonóides e alcóois triterpênicos, derivados de
fenilpropeno; chalconas e benzofenonas polipreniladas, (Tabela 2) tornando-a distinta
dos demais grupos de própolis (TRUSHEVA et al., 2006; PICCINELLI et al., 2011;
LÓPEZ et al., 2014).
18
Tabela 2 - Principais substâncias da própolis vermelha brasileira e seus efeitos farmacológicos
Componente Químico
Extrato/ Fração
Origem Ação Referência
Medicarpina
Extrato
Etanólico
Maceió
(AL)
Antibacteriano/
Antifúngico
TRUSHEVA et al.
(2006); ALENCAR
et al. (2007);
PICCINELLI et al.
(2011); FROZZA et
al. (2013)
Quercetina
Extrato
Etanólico/
Fração de
clorofórmio
Maceió
(AL)
Anti-inflamatório
ALENCAR et al.
(2007)
Daidzein
Extrato
Etanólico/
Fração de
clorofórmio
Maceió
(AL)
Antioxidante
ALENCAR et al.
(2007)
Vestitol
Extrato
Etanólico/
Fração de
clorofórmio
Marechal
Deodoro
(AL)
Antibacteriano,
Anti-inflamatório
e Antioxidante
OLDONI et al.
(2011); PICCINELLI
et al. (2011);
BUENO-SILVA et al.
(2013b)
Neovestitol
Extrato
Etanólico/
Extrato
Metanólico/
Fração de
clorofórmio
Marechal
Deodoro
(AL)
Antibacteriano,
Anti-Inflamatório
e Antioxidante
LOTTI et al. (2010);
OLDONI et al.
(2011); PICCINELLI
et al. (2011);
BUENO-SILVA et al.
(2013b)
Formononetina
Extrato
Etanólico
Maceió
(AL)
Antiproliferativo
LOTTI et al. (2010);
PICCINELLI et al.
(2011); FROZZA et
al. (2013)
19
Biochanin A
Extrato
Etanólico
Maceió
(AL)
Antiproliferativo
LOTTI et al. (2010);
PICCINELLI et al.
(2011); FROZZA et
al. (2013)
Ácido Felúrico
Extrato
Etanólico/
Fração de
clorofórmio
Maceió
(AL)
Antioxidante
ALENCAR et al.
(2007)
Liquiritijenina
Extrato
Etanólico
Maceió
(AL)
Antioxidante
PICCINELLI et al.
(2011); FROZZA et
al. (2013)
Fonte: Adaptado de PONTES et al., (2018).
Parte da composição das própolis de forma geral, é de flavonoides, que variam
de quantidade entre os diferentes tipos de própolis (CABRAL et al., 2009). Fonseca
(2017) encontrou o valor de 3,49% de flavonoides totais no extrato etanólico de
própolis vermelha, enquanto Batista et al. (2012) encontraram valores de 5,92% para
a própolis vermelha e 4,5% para a própolis verde.
De acordo com Mann (1987), os flavonoides são oriundos das plantas e são
compostos polifenólicos biossintetizados a partir da via dos fenilpropanóides e do
acetato, precursores de vários grupos de substâncias como aminoácidos alifáticos,
terpenóides, ácidos graxos, dentre outros. Nos vegetais, eles participam ativamente
de atividades de crescimento, desenvolvimento, antioxidação e defesa contra
microorganismos maléficos (NIJVELDT et al., 2001).
Estruturalmente os flavonoides são definidos como substâncias compostas por
um núcleo, o qual é constituído por três anéis fenólicos (TAPAS et al., 2008). O
primeiro anel benzeno (Anel A) é condensado com o sexto carbono do terceiro anel
(Anel C), que na posição 2 carrega um grupo fenil como substituinte (Anel B)
(BEECHER, 2003). O terceiro anel apresentar-se na forma de um anel pirona, e essa
característica faz com que seja possível a formação da maioria das diferentes classes
destes compostos, recebendo a denominação de núcleo 4 – oxo – flavonoide (Figura
4, SANDHAR et al., 2011).
20
Figura 4 - Estrutura base de formação dos flavonoides
Fonte: Adaptado de FLAMBÓ (2013).
Já foram descritos mais de 8.000 diferentes flavonoides, sendo as suas
principais classes os flavonóis, flavonas, flavanonas, flavanas, isoflavonoides e
antocianinas (YANG et al., 2001).
Para identificar quais flavonoides estão presentes na própolis, normalmente
utilizam-se técnicas cromatográficas e espectrofotométricas (SOUZA, 2014). Mas
para isso, a própolis bruta precisa passar pelo processo de extração, no qual as
substâncias presentes na própolis serão solubilizadas por meio de solventes
específicos.
Geralmente utiliza-se o etanol, o metanol e o propileno glicol como solventes
utilizados na extração da própolis, resultando nos extratos etanólico, metanólico e
glicólico, respectivamente. A metodologia de extração varia entre autores, pois,
Stradiotti et al. (2004), solubilizaram a própolis bruta no solvente etanol por um período
de 10 dias, obtendo o extrato por meio de filtração com papel-filtro. Já Lotti et al.
(2010), obteveram o extrato metanólico de própolis por maceração da amostra de
própolis com metanol e armazenada a 5 °C no escuro.
Ainda, para estudos mais avançados, pode-se dividir o extrato (etanólico,
metanólico ou glicólico) em frações. Para essa divisão também utiliza solventes, como
o hexano e clorofórmio, resultando nas frações de hexano e de clorofórmio (ALENCAR
et al., 2007).
21
2.2.1 Propriedades da própolis vermelha 2.2.1.1 Antioxidante
A atividade antioxidante da própolis vermelha vem sendo comprovada nos
últimos anos por variados autores, tanto em estudos relacionados com a conservação
de alimentos de origem vegetal e animal, quanto à ação de combate a radicais livres,
que são envelhecedores celulares no organismo vivo.
Analisando os compostos bioativos da própolis vermelha, Oldoni et al. (2011)
isolaram dois isoflavonóides (vestitol e neovestitol) e verificaram que os mesmos
apresentam alta atividade antioxidante. Contudo, o vestitol se mostrou mais eficiente
no teste de inibição do consumo de caroteno quando comparado ao neovestitol. O
consumo de caroteno está relacionado com a formação de hidroperóxidos de ácido
linoleico, e é um método utilizado para verificar o poder de antioxidação de uma
substância.
O efeito da própolis vermelha como antioxidante, e a ação sobre células
cancerígenas foi investigado por Mendonça et al. (2015), no qual analisaram a
atividade antioxidante por método de DPPH e utilizou o cultivo de células para avaliar
a atividade citotóxica. Como resultados, os autores observaram que a própolis
vermelha apresenta boa capacidade antioxidante e uma maior atividade no combate
as células tumorais, sendo recomendada para a utilização em medicamentos contra
o câncer.
Estudando o efeito do extrato de própolis na dieta de codornas japonesas sobre
a ação oxidante que ocorre no ovo, Zeweil et al. (2016), observaram que o marcador
de estresse oxidativo, malondialdeído, diminuiu 23,6% e 25,8% para os tratamentos
que continham própolis a 250 e 500 mg/kg, respectivamente. A capacidade
antioxidante total aumentou 9% para o tratamento com 250 mg/kg, e 21% para o
tratamento com 500 mg/kg de própolis em comparação ao controle.
Um componente da própolis vermelha, a quercetina, foi incluída na dieta de
frangos de corte e respondeu positivamente em relação a vida útil da carne. A inclusão
de 1g de quercetina por kg de ração possibilitou que a estabilidade oxidativa da carne
(sob resfriamento) das aves fosse melhorada, através da redução da taxa de oxidação
lipídica (GOLIOMYTIS et al., 2014).
22
2.2.1.2 Anti-inflamatória
A bioatividade da própolis vermelha como ação contra os processos
inflamatórios, decorre dos compostos como vestitol, neovestitol e formononetina que
fazem parte do grupo de isoflavonóides.
Esses isoflavonóides agem na redução da via do óxido nitroso, redução da
adesão de leucócitos (BUENO-SILVA et al., 2013a). Entretanto, os mecanismos
específicos de ação ainda não foram bem compreendidos.
Trabalhando com o extrato etanólico de própolis vermelha, Bueno-Silva et al.
(2016) observaram que quando administrado por via subcutânea em camundongos
(10 mg/kg), reduziu a quimiotaxia de neutrófilos pelo bloqueio dos canais de cálcio e
mediadores químicos inflamatórios foram significativamente reduzidos. Assim como
Franchin et al. (2016), que verificaram que o neovestitol diminuiu a inflamação aguda
e crônica em camundongos quando administrados por via subcutânea na dose de 3 e
10 mg/kg.
O efeito do extrato de própolis verde sobre a produção de anticorpos em
poedeiras foi estudado por Freitas et al. (2011), no qual constataram que houve
aumento nos níveis de imunoglobulinas G (IgG) específicas e aumento dos níveis de
anticorpos naturais nas aves que receberam 50 mg de própolis administrado
intraperitonealmente. Çetin et al. (2010) também relataram que o extrato de própolis
aumentou os níveis de imunoglobulinas (IgG e IgM) em poedeiras suplementadas com
3 g/kg de ração, além de diminuir a porcentagem de linfócitos T.
2.2.1.3 Antimicrobiana
Com relação a atividade antifúngica da própolis vermelha, os relatos vêm se
mostrando promissores. Estudos mostram que as substâncias formononetina
medicarpina, metilvestitol, vestitol e biochanin A, conseguem combater estirpes de
fungos de variadas espécies, além de apresentarem efeito mais eficaz que outros
tipos de própolis.
Os efeitos da própolis sobre os fungos podem estar associados a alteração da
permeabilidade da membrana do ergosterol, que é um componente da membrana
celular nos fungos. Foi esse tipo de alteração que Pippi et al. (2015) observaram ao
estudar o efeito da ação do extrato etanólico de própolis vermelha (EEP) e a
23
associação do EEP com drogas antifúngicas comerciais sobre cepas de Candida spp,
onde os resultados mostraram que a própolis consegue combater o microrganismo, e
além disso, impossibilita a Candida spp de adquirir resistência.
Ainda de acordo com os autores, o fungicida comercial Fluconazol utilizado na
pesquisa possibilita ao fungo a característica de resistência, mas quando o fármaco é
associado a própolis isso não é mais possível, pois aumentou em 16 vezes o poder
de susceptibilidade da droga. Isso indica que o EEP pode ser usado em associação
com fungicidas no combate a infecções persistentes ocasionadas por Candida
parapsilosis e Candida glabrata.
Pesquisando a ação da própolis vermelha originária de Alagoas sobre a enzima
ATPase Pdr5p (que atua como um dos principais componentes no processo de
obtenção de resistência contra drogas no Saccharomyces cerevisiae), Lotti et al.
(2011) constataram que a ATPase Pdr5p age como uma bomba que retira as
substâncias das drogas de combate à célula da levedura, e os compostos da própolis
conseguiram suprimir a ação dessa enzima.
Outra atividade da própolis relatada em alguns trabalhos, trata-se da ação
contra os vírus (organismos acelulares que possuem alta capacidade de mutação e
por isso são muitos resistentes), pois provoca uma desorganização do envelope viral,
evidenciado por uma ação sobre as proteínas do mesmo e o ácido nucléico dos vírus,
transformando-o em uma massa disforme. Contudo, os mecanismos de ação da
própolis sobre os vírus ainda não estão bem esclarecidos (NUNES, 2011).
Vários extratos alcoólicos de própolis de diferentes origens (Bulgária, Albânia,
Mongólia, Egito, Ilhas Canárias e três regiões do Brasil: São Paulo, Ceará e Paraná)
foram testados por Kujumgiev et al. (1999) contra o vírus da influenza aviária (H7N7).
Os testes apresentaram efeito antiviral e porcentagens significativas de ácidos
fenólicos e flavonoides em sua composição química, analisada por cromatografia
gasosa e espectrometria de massa. Porém, os extratos de própolis provenientes do
Brasil não apresentaram ou apresentaram somente traços destes constituintes,
havendo uma maior porcentagem de ácidos aromáticos. No entanto, apresentaram
atividade semelhante aos demais extratos.
Estudando a atividade virucida de um extrato etanólico de própolis verde na
concentração de 4.000, 400, 40 e 4 μg/dose contra o vírus da doença de Newcastle
in vitro, Nunes (2011) observou que este extrato apresentou atividade virucida
dependente de concentração e do tempo de incubação, ocorrendo inibição total do
24
vírus nas concentrações de 4.000μg/dose, 400μg/dose, a partir de duas horas de
incubação.
A própolis também possui atividade contra protozoários, associado à presença
do ácido 3,5-diprenil-4-hidroxicinâmico e do 2,2-dimetil-6-carboxietenil-2H-1-
benzopiran (SOEIRO et al., 2009), no qual os principais alvos da própolis na célula de
organismos parasitários são a mitocôndria e os reservossomos, o efeito incluiu a
rarefação da matriz e o aumento de volume da organela. Ainda, afeta o complexo
cinetoplasto-mitocôndria em organismos na fase mastigota, sugerindo que essas
organelas sejam o principal local de ação da própolis (DANTAS et al., 2006).
Pesquisa realizada por Biavatti et al. (2003), avaliaram o efeito do extrato de
própolis verde (1,1 ml/kg de ração) sobre o consumo de ração e ganho de peso de
frangos de corte até 28 dias, infectados com Eimeria acervulina (0,23 mL por ave) aos
sete dias de idade, em comparação aos controles negativo (sem melhorador de
desempenho) e positivo (com 40 ppm de avilamicina e 120 ppm de monensina) e
verificaram que não houve diferença no consumo de ração para todos os tratamentos.
A propriedade bactericida da própolis vermelha é a mais visada em estudos
utilizando esse fitoterápico. A cada ano que se apresenta o número de artigos vem
aumentando e evidenciando a eficácia da própolis vermelha no combate a diversas
espécies de bactérias, como: Staphylococcus aureus, Streptococcus mutans,
Actinomyces naeslundii, Shigella flexneri, Proteus vulgaris, Klebsiella pneumoniae,
Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli e Bacillus subtilis.
O mecanismo de atividade antibacteriana dos flavonoides da própolis vermelha
pode ser atribuído principalmente ao dano na membrana citoplasmática causado pela
menor fluidez da membrana, inibição da síntese de ácidos nucleicos causada pela
topoisomerase, inibição do metabolismo no citocromo c-redutase NADH ou inibição
da formação do biofilme, através da porina na membrana celular, alteração da
permeabilidade da membrana, e atenuação da patogenicidade (XIE et al., 2015).
Geralmente, na metodologia dos trabalhos com própolis no combate a
microrganismos, utiliza-se o fracionamento do extrato etanólico da própolis (EEP) com
os compostos clorofórmio, hexano e/ou metila. Diante disso, alguns trabalhos
(ALENCAR et al., 2007; BURIOL et al., 2009) comprovaram que as frações podem
mostrar maior potencial de ação bactericida do que o EEP.
De acordo com Bispo Júnior et al. (2012), ao avaliar as frações hexânica,
clorofórmica e acetanólica da própolis vermelha, sobre a atividade antimicrobiana,
25
verificou-se que a fração acetanólica foi a que apresentou melhor ação antibacteriana.
Para os autores, isso é explicado devido à grande quantidade de compostos fenólicos
ativos, os quais migraram para esta fração de alta polaridade, e devido a reduzida
quantidade de interferentes apolares (ceras), que estariam presentes na fração
hexânica, e não na acetanólica.
De forma geral, a própolis apresenta um eficiente poder de ação contra
bactérias. Contudo, alguns autores têm relatado que o efeito da própolis vermelha é
mais contundente em bactérias gram-positivas de que em gram-negativas (LOPEZ et
al., 2015). Para Pinto et al. (2001) isso pode ser explicado devido às grandes
diferenças na constituição química da parede celular destes dois grupos de bactérias.
Enquanto na parede celular dos gêneros gram-negativos a quantidade de
peptideoglicanos se encontra numa fração menor quando comparado ao que ocorre
nas bactérias gram-positivas, o conteúdo lipídico e a complexidade química da parede
celular das bactérias gram-negativas são consideravelmente maiores que nas gram-
positivas, o que dificulta a ação dos compostos.
Em virtude dos diferentes valores de pH ao longo do trato gastrointestinal, os
grupos de bactérias variam de atuação de acordo com as porções do trato. Na parte
superior do trato, onde encontra-se o papo, proventrículo e moela estão presentes
basicamente bactérias gram-positivas do gênero Lactobacillus, das espécies L.
salivarius e L. aviarius (GONG et al., 2007).
Já no intestino delgado, na porção duodeno, atuam Lactobacillus, alguns
Clostridiales (gram-positivas) e em menor número enterobactérias (gram-negativas).
No jejuno, estão presentes em sua maioria bactérias gram-positivas como
Lactobacillus, Enterococcus, Streptococcus além de alguns Clostridiales e
Bacteroidetes. No íleo, as bactérias gram-positivas ainda são maioria, principalmente
de Lactobacillus, todavia pode apresentar Clostridium e enterobactérias (gram-
negativas) em menor número (VIVEROS et al., 2011).
No intestino grosso, a grande variedade de bactérias se destaca nos cecos,
onde atuam tanto bactérias gram-positivas (Clostridium, Lactobacillus, Ruminococcus,
Firmicutes e actinobactérias) como as gram-negativas (bacteroides e enterobactérias)
(GONG et al., 2007).
Para avaliar a ação sobre as bactérias, Abdel–Mohsein et al. (2014) estudaram
a influência do extrato etanólico de própolis (0; 250; 500 e 750 mg/kg) na alimentação
de frangos de corte criados sob alta temperatura (38 °C), do 15° ao 42° dia, sobre a
26
microflora bacteriana (Lactobacilli spp., bifidobactérias, e contagem bacteriana
aeróbia e coliforme total). Os resultados indicaram que a própolis pode aliviar a
resposta do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal induzida pelo estresse calórico através
do aumento de lactobacilos e bifidobactérias, além da redução de bactérias aeróbicas
total e coliformes no intestino de frangos de corte.
A infestação por bactérias indesejáveis no intestino de aves leva a efeitos
negativos no funcionamento do organismo animal como: disputa por nutrientes e
ocupação dos sítios de aderência nas vilosidades intestinais, e danos às
microvilosidades. Contudo, a manutenção de bactérias benéficas no intestino das
aves pode reduzir a carga de patógenos e como consequência, a diminuição de efeitos
negativos (SILVA et al., 2008).
Nos estudos de Belloni et al. (2012) com poedeiras Isa Brown® foi observado
que a adição de própolis in natura na dieta fez com que a altura das vilosidades
aumentasse nos seguimentos duodeno e íleo, e a largura das vilosidades aumentou
no jejuno, quando o consumo da dieta continha 3% de própolis. De acordo com os
autores, a inclusão de própolis na dieta das poedeiras melhora a integridade do trato
gastrintestinal, que pode estar relacionado com a diminuição de bactérias indesejáveis
no intestino.
2.3 Efeito da Própolis no Desempenho dos Animais
A inclusão da própolis em dietas de animais, a fim de melhorar a saúde
intestinal, promover a substituição dos antibióticos e como consequência a melhora
nos índices produtivos, além de uma menor resistência da população no consumo de
produtos de origem animal, é o que pesquisadores de todo o mundo vêm estudando
em variadas espécies animais.
Pesquisa realizada por Valero et al. (2015) avaliaram a substituição da
monensina por extrato de própolis sobre o desempenho, eficiência alimentar e
características de carcaça de bovinos em confinamento e verificaram que os animais
que receberam dieta contendo própolis não tiveram prejuízo nas variáveis estudadas.
Ainda, o tratamento com própolis foi superior na digestibilidade de extrato etéreo e no
consumo alimentar.
Por outro lado, em um estudo avaliando o desempenho e parâmetros
bioquímicos sanguíneos de cordeiros alimentados com dietas contendo extrato de
27
própolis vermelha em diferentes níveis (1,5 g e 1 g/kg), em substituição ao aditivo
monensina sódica (0,03 g/kg), foi verificado que tanto as dietas com monesina, como
as dietas com própolis não apresentaram melhorias no desempenho e nem nos
parâmetros sanguíneos (BARACHO, 2016).
Estudo de Petruška et al. (2012) analisaram o perfil de minerais (cálcio, fósforo,
magnésio, potássio, sódio, cloro) em frangos de corte alimentados com dietas
contendo diferentes níveis de extrato de própolis (150 mg/kg; 450 mg/kg; 600 mg/kg
e 800 mg/kg) em relação ao controle (sem própolis), e observaram que as aves que
consumiram própolis não apresentaram diferença na concentração sérica de cálcio,
potássio, sódio e cloro em relação ao controle. Já o nível de magnésio diminuiu em
média 40% para todos os tratamentos e o nível de fósforo foi reduzido em 50% para
o tratamento com 450 mg/kg de extrato de própolis, quando comparado ao grupo
controle.
Frangos de corte consumindo dietas com 0; 1; 2 e 3 mg de extrato de
própolis/kg de ração, foram avaliados quanto ao desempenho e parâmetros
sanguíneos. As aves que consumiram própolis aumentaram o ganho de peso em
média de 13%, diminuíram em 17% o consumo de ração e melhoraram em 26% a
eficiência alimentar. Com relação os parâmetros sanguíneos, houve aumento de 10%
nas proteínas totais e 44% nas globulinas no soro. Os níveis de colesterol e
triglicerídeos foram significativamente reduzidos em 18% e 37%, respectivamente,
nos frangos alimentados com própolis (HASSAN et al., 2018).
Achados de Abdel-Kareem et al. (2015) que estudaram o efeito da própolis na
dieta de galinhas poedeiras em níveis de 250, 500 e 1.000 mg/kg e observaram que
houve aumento na massa de ovos e taxa de postura, para os tratamentos com 250 e
1.000 mg de própolis/kg. As características de qualidade interna dos ovos foram
melhores com o aumento dos níveis de própolis, e as características externas do ovo
não foram influenciadas. Ainda, Ozkok et al. (2013), verificaram que a suplementação
de 400 mg/kg de extrato de própolis para poedeiras resultou em aumento de peso
corporal. Para as variáveis de qualidade de ovo, desempenho de postura e eficiência
alimentar a suplementação não causou efeito.
Por outro lado, um estudo com poedeiras suplementadas com níveis de 0, 1, 2
e 3% de própolis in natura verificou que a própolis não influenciou na gravidade
específica, porcentagem de casca e peso dos ovos. Também não promoveu melhora
28
no desempenho e não afetou a temperatura de superfície das aves (BELLONI et al.,
2015).
Ao estudarem o efeito do extrato de própolis (250 e 500 mg/kg) na dieta de
codornas japonesas, Zeweil et al. (2016) observaram que a inclusão da própolis não
influenciou no desempenho (peso corporal, taxa de postura, peso de ovos e massa
de ovos). A qualidade dos ovos (peso do ovo, porcentagem de gema e albúmen, altura
de albúmen, porcentagem e espessura de casca, gravidade específica e cor da gema)
não sofreu influência dos tratamentos, porém, o nível de colesterol na gema diminuiu
em 5% com a suplementação de 500 mg/kg e os lipídeos totais diminuíram em 23%
para o nível de inclusão de 250 mg/kg e 10% para o nível de 500mg/kg de própolis.
Contudo, a limitação do uso da própolis na alimentação animal está relacionada
ao seu alto custo, que pode ultrapassar os 1.000 reais/kg. Porém, o resíduo do extrato
de própolis possui potencial de uso na alimentação animal e tem um baixo custo
quando comparado a própolis bruta.
2.4 Resíduo do Extrato de Própolis na Dieta de Animais
Geralmente, para se obter o extrato de própolis existem dois métodos de
extração, sendo que a própolis bruta pode ser adicionada a uma solução hidro-
alcoólica e o produto obtido é o extrato alcoólico ou a própolis bruta pode ser
adicionada a uma solução de propileno glicol e obtém-se o extrato glicólico. Ambos os
métodos, após o processo de filtragem geram resíduo, que é resultado do processo
de extração (STRADIOTTI et al., 2004). Segundo Santos et al. (2003), o extrato
corresponde apenas 10% da própolis bruta e o restante é resíduo, que pode ser
potencialmente usado na alimentação animal.
Desta forma, Petrolli et al. (2014), estudaram o efeito do resíduo do extrato de
própolis verde, em níveis de 1, 2 e 3%, em substituição a antibióticos em frangos de
corte e observaram que as aves que foram alimentados com dieta contendo 1% de
própolis tiveram maior consumo de ração no intervalo de 1 a 7 dias e maior ganho de
peso de 1 a 42 dias.
Concomitantemente, Santos et al. (2003) observaram que a suplementação de
2,86% de resíduo do extrato de própolis para frangos de corte aumentou em 9,9% o
ganho de peso na fase de 1 a 21 dias de idade. Entretanto, na fase de 1 a 42 dias o
uso de própolis na dieta reduziu o ganho de peso e apresentou comportamento linear
29
crescente para a conversão alimentar a medida que os níveis (0; 3; 6; 9 e 12%)
aumentavam. Segundo o autor, esta piora no ganho de peso e na conversão
alimentar, ocorreu, provavelmente, devido ao alto teor de fibra (14,41%) e ceras
(26,76%), presente no resíduo, pois, os altos teores de fibras presentes no alimento
dificultam a digestão, impedindo que as enzimas digestivas cheguem até os
nutrientes, diminuindo a disponibilidade e absorção dos aminoácidos (BEDFORD,
1995). Já as ceras são ácidos graxos de cadeia longa (25 a 30 carbonos), com
características altamente hidrofóbicas, e não são quebradas por enzimas animais
(NUNES, 1995).
Contudo, a busca por aditivos naturais que possam ser usados na alimentação
de animais e a literatura escassa com relação a trabalhos utilizando resíduo do extrato
de própolis na dieta de codornas, são fatores que mostram a importância da realização
de mais trabalhos com o uso da própolis na alimentação animal.
30
3 MATERIAL E MÉTODOS
O experimento foi conduzido na Universidade Federal de Alagoas – Campus
Arapiraca - AL, localizada nas coordenadas 9°42'05.4"S e 36°41'14.1"O, no período
de maio a junho de 2019.
As codornas foram alojadas em galpão de alvenaria com laterais teladas,
sistema de cortinas e telhado do tipo colonial, distribuídas em 12 gaiolas de aço
galvanizado de dimensões de 0,60 m de largura x 0,90 m de comprimento x 0,30 m
de altura, proporcionando uma densidade de 83,3 aves/m². Utilizou-se comedouros
do tipo bandeja até os 14 dias de idade e a partir daí, foram utilizados comedouros de
metal do tipo calha. Foram utilizados bebedouros de plástico, do tipo copo de pressão
com capacidade de um litro.
A água e a ração foram fornecidas à vontade durante todo o período do
experimento. O aquecimento das aves foi realizado através de duas lâmpadas
incandescentes de 100W por gaiola, até o 21º dia. O programa de iluminação
estabelecido foi de 24 horas de luz por dia de 1 a 21 dias e 15 horas de 22 a 35 dias
de idade. Para a luz artificial foi utilizado controlador “timer”, e o controle da ventilação
foi realizado através do manejo de cortinas.
Utilizou-se codornas de postura da linhagem japonesa (Coturnix japonica),
adquiridas com um dia de idade da granja Codorgran, localizada no estado de São
Paulo. Foi utilizado o delineamento inteiramente casualizado (DIC), distribuídos em
dois tratamentos com seis repetições de 45 aves cada, resultando um total de 540
codornas para o experimento. Os tratamentos foram: T1 – dieta sem adição de resíduo
de própolis vermelha e T2 – dieta com adição de 1% de resíduo de extrato etanólico
de própolis vermelha.
A própolis vermelha foi proveniente de regiões produtoras de colmeias de
abelhas Apis melifera, localizadas do município de Marechal Deodoro – AL. Da
própolis bruta, obteve-se o extrato etanólico pelo método de Stradiotti et al. (2004) e
por diferença o resíduo do extrato da própolis vermelha. Esse resíduo foi previamente
diluído em óleo de soja, na proporção de 20% de resíduo, em chapa aquecedora com
temperatura de 50°C e mistura manual, intermitente, durante 40 minutos. Em seguida,
a mistura de resíduo e óleo de soja foi incorporada ao farelo de soja e posteriormente
aos outros ingredientes da ração.
31
Foi utilizado um plano nutricional com duas rações, formuladas para codornas
de postura na fase de cria (1 a 21 dias de idade) e na fase de recria (22 a 35 dias de
idade), conforme estabelecidas por Rostagno et al. (2017). Foram elaborados dois
tipos de rações similares, diferenciando-se somente que uma foi aditivada com 1% de
resíduo de própolis e outra sem adição de própolis, em substituição ao inerte. Assim,
todos os valores nutricionais mantiveram-se idênticos entre os tratamentos (Tabela 3).
Utilizou-se termohigrômetro digital para o acompanhamento da temperatura e
umidade relativa do ar, localizado na altura média do galpão e com sensor na altura
das aves. As médias das temperaturas ambientais dentro da gaiola, dentro do galpão
e umidade relativa do ar, mínimas e máximas, foram registradas diariamente durante
todo o período experimental, cujas médias foram 25,85 e 33,14°C; 25,85 e 31,17°C;
e 55,75 e 79,34%, respectivamente.
Tabela 3 - Composição centesimal dos ingredientes e dos nutrientes das rações experimentais
Ingredientes 1 a 21 dias de idade 22 a 35 dias de idade
Controle Própolis Controle Própolis
Soja farelo (45%) 45,000 45,000 40,857 40,857
Milho (7,88%) 38,876 38,876 40,069 40,069
Trigo farelo 6,000 6,000 8,000 8,000
Óleo de soja 5,000 5,000 5,000 5,000
Núcleo cria/recria 4,000 4,000 3,000 3,000
Inerte 1,000 - 2,000 1,000
REP - 1,000 - 1,000
DL-metionina 0,124 0,124 0,200 0,200
Fosfato bicálcico - - 0,874 0,874
Total 100,000 100,000 100,000 100,000
Composição Nutricional Calculada
Energia met. (Kcal/Kg) 3.022,070 3.022,070 2.995,858 2.995,858
Proteína bruta (%) 24,422 24,422 23,000 23,000
Lipídeos (%) 7,370 7,370 7,413 7,413
32
Fibra bruta (%) 3,628 3,628 3,619 3,619
Fósforo disponível (%) 0,166 0,166 0,428 0,428
Cálcio (%) 1,288 1,288 1,205 1,205
Lisina dig. (%) 1,259 1,259 1,634 1,634
Metionina dig. (%) 0,438 0,438 0,495 0,495
Met. + cist. dig. (%) 0,768 0,768 0,808 0,808
Triptofano dig. (%) 0,292 0,292 0,272 0,272
Arginina dig. (%) 1,615 1,615 1,506 1,506
Fenilalanina dig. (%) 1,141 1,141 - -
Fenil. + tir. dig. (%) 1,950 1,950 - -
Histidina dig. (%) 0,606 0,606 0,569 0,569
Isoleucina dig. (%) 0,980 0,980 0,910 0,910
Leucina dig. (%) 1,829 1,829 1,722 1,722
Treonina dig. (%) 0,834 0,834 0,779 0,779
Valina dig. (%) 1,046 1,046 - -
1Núcleo cria/recria: Acido fólico (mín.) – 12 mg/kg, Acido pantotênico (mín.) – 215 mg/kg, Bacitracina de zinco – 700 mg/kg, B.H.T. (mín.) – 100 mg/kg, Biotina (mín.) - 1,5 mg/kg, Cálcio (mín.) - 270 g/kg, Cálcio (máx.) - 300 g/kg, Cobre (mín.) – 335 mg/kg, Colina (mín.) - 7.000 mg/kg, Ferro (min.) – 1.335 mg/kg, Fitase (mín.) - 12,5 FTU/kg, Flúor (máx.) – 386 mg/kg, Fósforo (mín.) – 42 g/kg, Iodo (mín.) – 25 mg/kg, Manganes (mín.) – 2.200 mg/kg, Metionina (mín.) – 20 g/kg, Niacina (mín) – 1000 mg/kg, Salinomicina - 1.650 mg/kg, Selênio (mín) - 6 mg/kg, Sódio (mín) – 39 g/kg, Vitamina A (mín) – 210.000 UI/kg, Vitamina B1 (mín) – 25 mg/kg, Vitamina B12 (mín) – 220 mg/kg, Vitamina B2 (mín) – 115 mg/kg, Vitamina B6(mín) – 40 mg/kg, Vitamina D3 (mín) – 65.000 UI/kg, Vitamina E (mín) – 300 UI/kg, Vitamina K3 (mín) – 50 mg/kg, Zinco (mín) 2.200 mg/kg.
Fonte: Dados da pesquisa (2019).
A ração fornecida foi armazenada em baldes plásticos, identificados por
tratamento e repetição para controle do consumo de ração. Semanalmente, as aves
e as sobras nos comedouros e nos baldes foram pesadas e registradas para
posteriores cálculos de consumo de ração, ganho de peso e conversão alimentar. A
mortalidade foi registrada diariamente para correção da conversão alimentar,
conforme recomendado por Sakomura e Rostagno (2016).
Com 17 dias de idade, as aves foram vacinadas, via ocular, contra a doença de
Newcastle e com 30 dias passaram por manejo de debicagem, no qual foi realizado a
retirada de aproximadamente 1/3 do bico e imediatamente cauterizado com um
debicador manual.
33
Aos 35 dias de idade, as aves foram contabilizadas e pesadas, obtendo assim
seus respectivos pesos médios. Para o abate foi selecionada uma ave de cada
unidade experimental, com variação de peso máxima de 5%, em relação ao peso
médio de cada parcela.
Para a identificação das aves para o abate, foram utilizadas etiquetas com o
número correspondente à gaiola, e fixadas em uma das patas de cada ave com fita
adesiva. As 12 aves selecionadas, foram insensibilizadas e abatidas por meio de
degola completa com tesoura, entre os ossos occipital e atlas. Após a sangria a pele
foi retirada com as penas e as carcaças foram evisceradas manualmente e pesadas.
As pesagens da ave viva foram realizadas em balança com precisão de 0,005
kg. Os rendimentos em porcentagem da carcaça eviscerada, sem cabeça e pés e
pele, foram calculados com base no peso vivo ao abate.
O fígado, gordura visceral e intestino (delgado e grosso) de cada ave foram
separadamente pesados e os valores foram calculados com base no peso da carcaça
eviscerada e sem pele. Para essa pesagem foi utilizada uma balança analítica com
precisão de 0,001g.
As variáveis avaliadas foram tabuladas e submetidas à análise de variância
através do software estatístico SAEG, a 5% de probabilidade.
34
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
As variáveis consumo de ração total, consumo de ração por ave por dia, peso
vivo inicial, ganho de peso e conversão alimentar, não diferiram com a adição de 1%
de resíduo de própolis na ração das aves na fase de cria (Tabela 4).
Tabela 4 - Desempenho de codornas de postura alimentadas com dieta aditivada com ou sem resíduo do extrato de própolis de 1 a 21 dias de idade
Resíduo do Extrato de Própolis
Variáveis Sem Com Valor de P CV (%)
Cons. ração total¹ 221,475 220,738 0,813 2,378
Cons. ração² 10,546 10,511 0,813 2,378
Peso vivi inicial (g) 7,248 7,370 0,329 2,828
Ganho de peso (g) 88,165 88,581 0,676 1,893
Conversão
alimentar
2,513 2,493 0,704 3,566
Cons. ração total 1 = consumo de ração total (grama/ave/1 a 21 dias); Cons. ração2 = Consumo de
ração (grama/ave/dia).
Fonte: Dados da pesquisa (2019).
Em concordância com esses resultados, Petrolli et al. (2014) utilizando resíduo
do extrato de própolis verde, ao nível de 1%, para frangos de corte, também não
observaram diferença (P>0,05) para o consumo de ração e conversão alimentar no
período de 1 a 21 dias de idade.
Santos et al. (2003) estudando a inclusão de níveis de resíduo de própolis (0;
3; 6; 9; 12%) na alimentação de frangos de corte de 1 a 21 dias de idade, também não
verificaram significância (P>0,05) para consumo de ração. Com relação ao ganho de
peso, o mesmo se manteve igual entre os tratamentos até o nível de 2% de inclusão
de resíduo, e para níveis superiores a 3% apresentou redução. A variável conversão
alimentar mostrou piora com a inclusão do resíduo, confrontando os resultados
obtidos neste experimento, uma vez que não apresentou diferença na conversão
alimentar com a adição do resíduo.
O efeito negativo sobre a conversão alimentar e ganho de peso, para níveis
superiores a 3% de adição na dieta, pode ter sido causado pelo alto teor de ceras
35
(14,41%) e fibras (26,76%) presente no resíduo, que consequentemente influencia na
digestão e aproveitamento dos nutrientes (BEDFORD, 1995; NUNES, 1995).
Na fase de recria (22 a 35 dias de idade), também não houve diferença entre
os tratamentos para as variáveis estudadas (Tabela 5).
Tabela 5 - Desempenho de codornas de postura alimentadas com dieta aditivada com ou sem resíduo do extrato de própolis de 22 a 35 dias de idade
Resíduo do Extrato de Própolis
Variáveis Sem Com Valor de P CV (%)
Cons. ração total¹ 249,605 250,628 0,204 2,662
Cons. ração² 17,829 17,902 0,204 2,663
Peso vivi inicial (g) 95,722 96,025 0,235 1,774
Ganho de peso (g) 49,205 49,662 0,245 5,001
Conversão
alimentar
5,088 5,049 0,207 4,879
Cons. ração total 1 = consumo de ração total (grama/ave/22 a 35 dias); Cons. ração2 = Consumo de
ração (grama/ave/dia).
Fonte: Dados da pesquisa (2019).
A conversão alimentar do período de 22 a 35 dias, apresentou média geral de
5,069, dobrando a média geral da mesma variável na fase de cria (1 a 21 dias), que
foi de 2,503. Esse fato é explicado pelo maior consumo de ração e menor ganho de
peso característicos de codornas na fase de recria, enquanto na fase de cria ocorre o
efeito contrário (MARQUES et al., 2010).
A inclusão de 1% de resíduo do extrato de própolis no período total
experimental (1 a 35 dias) não promoveu diferença quando comparado com a dieta
sem resíduo de extrato de própolis, em todas as variáveis de desempenho estudadas
(Tabela 6).
Tabela 6 - Desempenho de codornas de postura alimentadas com dieta aditivada com ou sem resíduo do extrato de própolis de 1 a 35 dias de idade
Resíduo do Extrato de Própolis
Variáveis Sem Com Valor de P CV (%)
Cons. ração total¹ 471,081 471,367 0,957 2,034
36
Cons. ração² 13,460 13,478 0,957 2,033
Peso vivi inicial (g) 7,248 7,370 0,329 2,828
Ganho de peso (g) 137,370 138,244 0,599 2,024
Conversão
alimentar
3,430 3,411 0,708 2,535
Cons. ração total 1 = consumo de ração total (grama/ave/1 a 35 dias); Cons. ração2 = Consumo de
ração (grama/ave/dia).
Fonte: Dados da pesquisa (2019).
As dietas experimentais dessa pesquisa continham como aditivos
melhoradores de desempenho, a bacitracina de zinco (antimicrobiano) e a
salinomicina sódica (anticoccidiano) presentes no núcleo (Tabela 3), que
provavelmente tenham conseguido manter a saúde intestinal das codornas, diluindo
a ação da própolis. Da mesma forma, Santos et al. (2003) também utilizaram
melhorador de desempenho (avilamicina) nas dietas experimentais e verificaram que
a própolis não causou diferença no desempenho de frangos de corte.
Ainda, Tekeli et al. (2011), utilizaram dietas experimentais livres de melhorador
de desempenho e verificaram que o extrato da própolis aumentou em 17% o consumo
de ração e o ganho de peso, com a adição de 1.000 ppm/kg do extrato de própolis
turca na alimentação de frangos de corte criados até 42 dias. Assim como Hassan et
al. (2018) também constataram que a adição do extrato de própolis de 1, 2 e 3 g/kg
de ração na dieta de frangos de corte aumentou o ganho de peso em média de 13%
e melhorou em 26% a eficiência alimentar.
Essa melhora pode ser ocasionada pelo aumento da microbiota benéfica e
controle das bactérias patogênicas pela própolis (KACÁNIOVÁ et al., 2012). A
mudança da dinâmica da microbiota intestinal é geralmente atribuída aos flavonoides,
que têm atividade antibacteriana, e estão presentes no extrato etanólico de própolis
(OLDONI et al., 2011; BUENO-SILVA et al., 2013a; FROZZA et al., 2013).
Um agravante para a divergência entre os estudos realizados com própolis ou
seu resíduo é a variabilidade e complexidade da composição da própolis, que muda
de acordo com a flora de cada localidade, genética das abelhas rainhas e até mesmo
com a época do ano em que é feita a coleta (BURIOL et al., 2009).
37
O peso vivo, rendimento de carcaça, rendimento de gordura abdominal, de
fígado e de intestino, não apresentaram diferença com a adição do resíduo do extrato
de própolis na dieta de codornas aos 35 dias de idade (Tabela 7).
Tabela 7 - Rendimento de carcaça e órgãos de codornas japonesas aos 35 dias de idade alimentadas com dieta aditivada com ou sem resíduo do extrato de própolis
REP*
Variáveis Sem Com Valor de P CV (%)
Peso vivo (g) 150,833 148,833 0,560 3,844
Carcaça (%) 53,475 56,546 0,098 5,301
Gordura (%) 2,359 1,937 0,450 43,331
Fígado (%) 4,474 4,719 0,484 12,692
Intestino (%) 9,603 9,380 0,802 15,832
REP* = Resíduo de extrato de própolis.
Fonte: Dados da pesquisa (2019).
Contrariando Duarte et al. (2014), que observaram aumento linear no ganho de
peso e rendimento de carcaça de frangos de corte de acordo com os níveis de 100,
200, 300, 400 e 500 ppm de própolis verde na dieta, em comparação ao grupo
controle.
Por outro lado, o uso do extrato de própolis turca, na concentração de 1.000
ppm/kg de ração foi estudado por Tekeli et al. (2011), e o extrato de própolis eslovaca,
em níveis de 200, 400 e 600 mg/kg foi avaliado por Haščík et al. (2015) em frangos
de corte até 42 dias, não demonstrando efeito no rendimento de carcaça, estando de
acordo com os resultados deste trabalho.
Com relação a gordura abdominal, Seven et al. (2008) perceberam que a
porcentagem de gordura aumentou com o consumo da própolis. Haščík et al. (2015),
por sua vez, observaram que a própolis diminuiu seu percentual na carcaça de frangos
de corte, ambos os estudos são contrários aos resultados deste trabalho.
Segundo Haščík et al. (2015), a própolis reduziu a gordura abdominal da
carcaça de frangos de corte, porque contém flavonoides que diminuem os níveis
plasmáticos de lipídeos, melhoram a tolerância à glicose e atenuam a obesidade. Um,
possível mecanismo subjacente desses efeitos fisiológicos é a redução do nível do
38
mRNA para estearoil-CoA dessaturase-1 (SCD1), uma vez que a repressão desta
enzima reduz hiperlipidemia e adiposidade (LA NITA et al., 2011).
O rendimento de fígado não foi afetado pela adição da própolis na alimentação
de frangos de corte no estudo de Hassan et al. (2018), assim como, a própolis também
não influenciou no peso do fígado de acordo com os achados de Haščík et al. (2015).
Esses resultados corroboram com os encontrados neste trabalho.
Analisando o efeito da própolis verde, em níveis de 100, 200, 300, 400 e 500
ppm/kg sobre o rendimento de intestino de frangos de corte, Duarte et al. (2014)
observaram que houve redução no peso do intestino quando as aves foram
alimentadas com própolis. Provavelmente ocorreu em consequência do efeito
modulatório da própolis sobre a microbiota, que por sua vez poderia diminuir as
bactérias patogênicas e consequentemente o processo inflamatório causado por
patógenos e toxinas produzidos por essas bactérias, reduzindo a espessura e o peso
do intestino (ABDEL–MOHSEIN et al., 2014).
Diferente desse resultado, não houve diferença no peso de intestino das
codornas e consequentemente o rendimento de intestino não diferiu entre os
tratamentos.
A ausência de diferença entre os tratamentos para as características de
desempenho, carcaça e órgãos, pode ser avaliada com base em diferentes
perspectivas. A utilização do resíduo do extrato de própolis em vez de extrato
concentrado de própolis é um ponto a ser considerado, pois, os compostos bioativos
da própolis, como os flavonoides, que possuem propriedades antimicrobiana,
antioxidante, antifúngica e outras, frequentemente se complexam com compostos
insolúveis (ceras, grãos de pólen, fibra vegetal e matéria orgânica), no entanto, são
facilmente solubilizados com o uso de solventes e agregados ao extrato (MELLO et
al., 2010). Desta forma, os flavonoides contidos no resíduo do extrato de própolis
podem não ter ficado totalmente disponíveis paras aves.
Outra hipótese para a adição do resíduo do extrato de própolis não ter
apresentando diferença nas variáveis analisadas pode ter sido pelo fato do ambiente
de criação não ter proposto um desafio sanitário que possibilitasse uma resposta mais
expressiva com o uso do resíduo. Uma vez que as aves não tiveram contato direto
com as fezes, pois foram criadas em gaiolas com bandejas coletoras de fezes, foram
criadas em densidade ideal para as fases de cria e recria (ALBINO e BARRETO,
2003), o ambiente de criação passou por adequado vazio sanitário e as condições de
39
manejo diárias estavam de acordo com as normas de biosseguridade. Com isso, os
antimicrobianos presentes no núcleo possivelmente foram suficientes para manter o
equilíbrio da microbiota intestinal.
A própolis (fitoterápico), os probióticos, os simbióticos e os ácidos orgânicos
são classificados como aditivos melhoradores de desempenho (MAPA, 2004) e é
notório como esses aditivos não conseguem expressar resultados positivos em virtude
da falta de desafio sanitário em estudos com aves, em diferentes variáveis
experimentais (OTOTUMI et al., 2009; SILVA et al., 2012; BUENO et al., 2012;
BASTOS-LEITE et al., 2016). Pois, boas condições profiláticas para a criação de
animais e um mínimo de estresse (que normalmente está associado a fatores
nutricionais, ambientais ou comportamentais), não apresentam aumento de bactérias
suficiente para causar desequilíbrio na saúde intestinal (FUKAYAMA et al., 2005) e
refletir no desempenho e/ou características de carcaça e órgãos.
Outro ponto a ser avaliado, é a quantidade que foi incorporada à ração. Pois,
como o resíduo é produto da extração dos compostos biologicamente ativos da
própolis bruta (STRADIOTTI et al., 2004), o mesmo pode apresentar concentração de
substâncias, como flavonoides e compostos fenólicos, insuficientes para promover
resultado positivo nas características avaliadas das codornas, cujo consumo do
resíduo seja de apenas 1% na dieta total.
Todavia, o resíduo de extrato de própolis vermelha tem bastante potencial para
ser usado como aditivo fitoterápico na alimentação de aves, pois a própolis vermelha
possui compostos biologicamente ativos (vestitol e neovestitol e biochanin A,
liquiritigenina, formononetina e medicarpina) nunca antes encontrados em outro tipo
de própolis. Além disso, como pode ser observado nesse experimento, a inclusão do
resíduo na dieta das codornas não causou nenhum efeito negativo para as variáveis
estudadas e poderia ser avaliado em diferentes concentrações e com dietas isentas
de antimicrobianos sintéticos.
40
5 CONCLUSÃO
A adição de 1% do resíduo do extrato etanólico de própolis vermelha em dietas
para codornas na fase de cria e recria (1 a 35 dias de idade) não interfere no
desempenho zootécnico e rendimento de carcaça e órgãos.
41
REFERÊNCIAS
ABDEL-KAREEM, A. A. A.; EL-SHEIKH, T. M. Impact of supplementing diets with propolis on productive performance, egg quality traits and some haematological variables of laying hens. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, v. 101, p. 441-448, 2015. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26614568. Acesso em: 10 jan. 2019. ABDEL–MOHSEIN, H. S.; MAHMOUD, M. A. M.; MAHMOUD, U. T. Influence of propolis on intestinal microflora of ross broilers exposed to hot environment. Advances in Animal and Veterinary Sciences, v. 2, n. 4, p. 204 – 211, 2014. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Usama_Mahmoud/publication/265552656_Influence_of_Propolis_on_Intestinal_Microflora_of_Ross_Broilers_Exposed_to_Hot_Environment/links/54184abd0cf2218008bf340c/Influence-of-Propolis-on-Intestinal-Microflora-of-Ross-Broilers-Exposed-to-Hot-Environment.pdf. Acesso em: 10 jan. 2019. ALBINO, L. F. T.; BARRETO, S. L. T. Codornas: criação de codornas para produção de ovos e carne. Viçosa, MG: Aprenda Fácil, 2003. 268p. ALENCAR, S. M. et al. Chemical composition and biological activity of a new type of Brazilian propolis: red própolis. Journal of Ethnopharmacology, p. 1-6, 2007. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17656055. Acesso em: 10 jan. 2019. BARACHO, F. A. O. Própolis vermelha de alagoas como alternativa à monensina em dietas de ovinos em crescimento. 2016. 42p. Dissertação (Mestrado em Ciência Agrárias) – Universidade Federal de Alagoas, Rio Largo, 2016. Disponível em: http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/ceca/pt-br/pos-graduacao/zootecnia/dissertacoes/flavio-baracho. Acesso em: 05 ago. 2019. BARRETO, S. L. T. et al. Efeitos de níveis nutricionais de energia sobre o desempenho e a qualidade de ovos de codornas europeias na fase inicial de postura. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 36, n. 1, p. 86-93, 2007. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-35982007000100011&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 10 jan. 2019. BASTOS-LEITE, S. C. et al. Ácidos orgânicos e óleos essenciais sobre o desempenho, biometria de órgãos digestivos e reprodutivos de frangas de reposição. Acta Veterinaria Brasilica, v. 10, n. 3, p. 201-207, 2016. Disponível em: https://www.bvs-vet.org.br/vetindex/periodicos/acta-veterinaria-brasilica/10-(2016)-3/acidos-organicos-e-oleos-essenciais-sobre-o-desempenho-biometria-de-or/. Acesso em: 10 jan. 2019. BATISTA, L. L. V. et al. Estudo comparativo do uso tópico de própolis verde e vermelha na reparação de feridas em ratos. Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões, v. 39, n. 6, p. 515-520, 2012. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-69912012000600012. Acesso em: 10 jan. 2019.
42
BEDFORD, M. R. Mechanism of action and potential environmental benefits from the use of feed enzymes. Animal Feed science Technology, Amsterdam, v. 53, n. 2, p. 145-155, 1995. BEECHER, G. R. Overview of dietary flavonoids: nomenclature, occurrence and Intake. The Journal of Nutrition, p. 3248– 3254, 2003. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14519822. Acesso em: 10 jan. 2019. BELLONI, M. et al. Morfometria intestinal de poedeiras suplementadas com própolis. Revista Agrarian, v. 5, n. 16, p. 174-180, 2012. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/258406068_Morfometria_intestinal_de_poedeiras_suplementadas_com_propolis. Acesso em: 11 jan. 2019. BELLONI, M. et al. Productive, Qualitative, and Physiological Aspects of Layer Hens Fed with Propolis. Brazilian Journal of Poultry Science, v. 17, n. 4, p. 467-472, 2015. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbca/v17n4/1516-635X-rbca-17-04-00467.pdf. Acesso em: 11 jan. 2019. BIAVATTI, M. W. et al. Preliminary studies of alternative feed additives for broilers: Alternanthera brasiliana extract, propolis extract and linseed oil. Revista Brasileira de Ciência Avícola, v. 5, n. 2, p. 147-151, 2003. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-635X2003000200009&script=sci_abstract. Acesso em: 11 jan. 2019. BISPO JÚNIOR, W. et al. Atividade antimicrobiana de frações da própolis vermelha de Alagoas, Brasil. Semina: Ciências Biológicas e da Saúde, v. 33, n. 1, p. 03-10, 2012. Disponível em: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/seminabio/article/view/4589. Acesso em: 11 jan. 2019. BUENO, R. et al. Efeito da influência de probiótico sobre a morfologia intestinal de codornas japonesas. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, v. 49, n. 2, p. 111-115, 2012. Disponível em: http://www.revistas.usp.br/bjvras/article/view/40266. Acesso em: 12 jan. 2019. BUENO-SILVA, B. et al. Anti-inflammatory and antimicrobial evaluation of neovestitol and vestitol isolated from Brazilian red propolis. Journal of agricultural and food chemistry, v. 61, n. 19, p. 4546-4550, 2013a. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23607483. Acesso em: 12 jan. 2019. BUENO-SILVA, B. et al. Effect of neovestitol-vestitol containing Brazilian red propolis on biofilm accumulation in vitro and dental caries development in vivo. Biofouling, v. 29, n. 10, p. 1233-1242, 2013b. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24099330. Acesso em: 12 jan. 2019. BUENO-SILVA, B. et al. Main pathways of action of Brazilian red propolis on the modulation of neutrophils migration in the inflammatory process. Phytomedicine, v. 23, p. 1583-1590, 2016. Disponível em:
43
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0944711316301660. Acesso em: 12 jan. 2019. BURIOL, L. et al. Composição química e atividade biológica de extrato oleoso de própolis: uma alternativa ao extrato etanólico. Química Nova, v. 32, n. 2, p. 296-302, 2009. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0100-40422009000200006&script=sci_abstract&tlng=es. Acesso em: 12 jan. 2019. CABRAL, I. S. R. et al. Composição fenólica, atividade antibacteriana e antioxidante da própolis vermelha brasileira. Química Nova, v. 32, n. 6, p. 1523-1527, 2009. Disponível em: http://quimicanova.sbq.org.br/detalhe_artigo.asp?id=583. Acesso em: 12 jan. 2019. ÇETIN, E. et al. Effects of diets containing different concentrations of própolis on hematological and immunological variables in laying hens. Poultry Science, v. 89, p.1703–1708, 2010. Disponível em: https://academic.oup.com/ps/article/89/8/1703/1564234. Acesso em: 13 jan. 2019. DANTAS, A. P. et al The effect of Bulgarian propolis against Trypanosoma cruzi and during its interaction with host cells. Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 101, p. 207-211, 2006. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0074-02762006000200013. Acesso em: 13 jan. 2019. DAUGSCH, A. et al. Própolis Vermelha e sua origem botânica. Apacame, n. 89, 2006. Disponível em: https://www.apacame.org.br/mensagemdoce/89/artigo.htm. Acesso em: 13 jan. 2019. DUARTE, C. R. A. et al. Intestinal morphology and activity of digestive enzymes in broilers fed crude própolis. Canadian Journal Of Animal Science, v. 94, p. 105-114, 2014. Disponível em: https://www.nrcresearchpress.com/doi/full/10.4141/cjas2013-059. Acesso em: 20 jul. 2019. FLAMBÓ, D. F. A. L. P. Atividades biológicas dos flavonoides: ctividade antimicrobiana. 2013. 31p. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – Universidade Fernando Pessoa, Porto, 2013. Disponível em: https://bdigital.ufp.pt/handle/10284/3672. Acesso em: 13 jan. 2019. FONSECA, R. S. Comportamento ingestivo de ovinos alimentados com própolis vermelha. 2017. 34p. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) – Universidade Federal de Alagoas, Rio largo, 2017. Disponível em: http://www.ufal.edu.br/unidadeacademica/ceca/pt-br/pos-graduacao/zootecnia/dissertacoes/rodrigo-souza-fonseca. Acesso em: 13 jan. 2019. FRANCHIN, M. et al. Neovestitol, an isoflavonoid isolated from Brazilian red propolis, reduces acute and chronic inflammation: involvement of nitric oxide and IL-6. Scientific Reports, v. 6, n. 1, p. 1-12, 2016. Disponível em: https://www.nature.com/articles/srep36401. Acesso em: 14 jan. 2019.
44
FREITAS, J. A. et al. The effects of propolis on antibody production by laying hens. Poultry Science, v. 90, p.1227–1233, 2011. Disponível em: https://academic.oup.com/ps/article/90/6/1227/1583525. Acesso em: 14 jan. 2019. FROZZA, C. D. S. et al. Chemical characterization, antioxidant and cytotoxic activities of Brazilian red propolis. Food and Chemical Toxicology, v. 52, p. 137-142, 2013. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23174518. Acesso em: 14 jan. 2019. FUKAYAMA, E. H. et al. Extrato de orégano como aditivo em rações para frangos de corte. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 34, n. 6, p. 2316-2326, 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbz/v34n6s0/a18v3460.pdf. Acesso em: 14 jan. 2019. GHISALBERTI, E. L. Propolis: a review. Bee World, v. 60, p. 59-84, 1979. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0005772X.1979.11097738. Acesso em: 14 jan. 2019. GOLIOMYTIS, M. et al. The effects of quercetin dietary supplementation on broiler growth performance, meat quality, and oxidative stability. Poultry Science, v. 93, p. 1957–1962, 2014. Disponível em: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.866.4999&rep=rep1&type=pdf. Acesso em: 14 jan. 2019. GONG, J. et al. 16S rRNA gene-based analysis of mucosa-associated bacterial community and phylogeny in the chicken gastrointestinal tracts:from crops to ceca. FEMS Microbiological Ecology, v. 59, p. 147–157, 2007. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17233749. Acesso em: 14 jan. 2019. GÓRECKA, A. K. et al. Structure and antioxidant activity of polyphenols derived from propolis. Molecules, v. 19, n. 1, p. 78-101, 2014. Disponível em: https://www.mdpi.com/1420-3049/19/1/78. Acesso em: 14 jan. 2019. HAŠČÍK, P. et al. The influence of propolis as supplement diet on broiler meat growth performance, carcass body weight, chemical composition and lipid oxidation stability. Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, v. 63, n. 2, p. 411-418, 2015. Disponível em: https://acta.mendelu.cz/63/2/0411/references/. Acesso em: 20 jul. 2019. HASSAN, R. I. M.; MOSAAD, G. M. M.; EL-WAHAB, H. Y. A. Effect of feeding propolis on growth performance of broilers. Journal of Advanced Veterinary Research, v. 8, n. 3, p. 66-72, 2018. Disponível em: https://advetresearch.com/index.php/AVR/article/download/308/269/. Acesso em: 21 jul. 2019. IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2014. Produção da Pecuária Municipal 2014 - 2017. Disponível em: http://www.ibge.gov.br. Acesso em: 19 dez. 2018.
45
KACÁNIOVÁ, M. et al. In vitro and in vivo antimicrobial activity of propolis on the microbiota from gastrointestinal tract of chickens. Journal of Environmental Science and Health, v. 47, p. 1665-1671, 2012. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/227161856_In_vitro_and_In_vivo_antimicrobial_activity_of_propolis_on_the_microbiota_from_gastrointestinal_tract_of_chickens. Acesso em: 22 jul. 2019. KUJUMGIEV, A. et al. Antibacterial, antifungal and antiviral activity of propolis of different geographic origin. Journal Ethnopharmacol, v. 64, p. 235-240, 1999. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10363838. Acesso em: 15 jan. 2019. LA NITA, A. N. et al. Citrus flavonoids repress the mRNA for stearoyl-CoA desaturase, a key enzyme in lipid synthesis and obesity control, in rat primary hepatocytes. Lipids in Health and Disease, v. 10, p. 10–36, 2011. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3056818/. Acesso em: 22 jul. 2019. LOPEZ, B. G. C. et al. Antimicrobial and cytotoxic activity of red propolis: na alert for its safe use. Journal of Applied Microbiology, v. 119, p. 677-687, 2015. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26086953. Acesso em: 15 jan. 2019. LÓPEZ, B. G. et al. Phytochemical markers of different types of red propolis. Food Chemistry, v. 146, p. 174-80, 2014. Disponível em: http://www.ask-force.org/web/Bees/Lopez-Phytochemical-Markers-Propolis-2014.pdf. Acesso em: 15 jan. 2019. LOTTI, C. et al Chemical constituents of red Mexican propolis. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 58, n. 4, p. 2209-2213, 2010. Disponível em: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf100070w. Acesso em: 15 jan. 2019. LOTTI, C. et al. Inhibition of Saccharomyces cerevisiae Pdr5p by a natural compound extracted from Brazilian red propolis. Brazilian Journal of Pharmacognosy, v. 21, p. 901-907, 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-695X2011005000142&script=sci_abstract. Acesso em: 15 jan. 2019. MANN, J. Secondary metabolism. Oxford: Clarendon Press, 1987. 374p. MAPA. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa 13/2004: Regulamento técnico sobre aditivos para produtos destinados à alimentação animal. 2004. Disponível em: http://sistemasweb.agricultura.gov.br/sislegis/action/detalhaAto.do?method=visualizarAtoPortalMapa&chave=133040692. Acesso em: 22 jul. 2019. MARQUES, R. H. et al. Inclusão da camomila no desempenho, comportamento e estresse em codornas durante a fase de recria. Ciência Rural, v. 40, n. 2, p. 415-420, 2010. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0103-84782010000200025&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. Acesso em: 15 jan. 2019.
46
MELLO, B. C. B. S.; PETRUS, J. C. C.; HUBINGER, M. D. Concentration of flavonoids and phenolic compounds in aqueous and ethanolic propolis extracts through nanofiltration. Journal of Food Engineering, v. 96, p. 533-539, 2010. Disponível em: https://www.cabdirect.org/cabdirect/abstract/20093361382. Acesso em: 16 jan. 2019. MENDONÇA, I. C. G. et al. Brazilian red propolis: phytochemical screening, antioxidant activity and effect against cancer cells. BMC Complementary and Alternative Medicine, v. 15, n. 357, p. 1-12, 2015. Disponível em: http://repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/18920/1/2015_art_icgmendon%C3%A7a.pdf. Acesso em: 16 jan. 2019. MENEZES, H. Própolis: uma revisão dos recentes estudos de suas propriedades farmacológicas. Arquivos do Instituto Biológico, v. 72, n. 3, p. 405-411, 2005. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000106&pid=S1516-0572201400020000100014&lng=pt. Acesso em: 16 jan. 2019. NIJVELDT, R. J. et al. Flavonoids: a review of probable mechanisms of action and potential applications. American Journal of Clinical Nutrition, v. 74, p. 418 – 425, 2001. Disponível em: https://pdfs.semanticscholar.org/b765/3a1472f7ee1f7712bfb484a73099cfed51ee.pdf. Acesso em: 16 jan. 2019. NUNES, C. F. Atividade virucida de um extrato etanólico de própolis verde contra o vírus da doença de Newcastle. 2011. 82p. Dissertação (Mestrado em Sanidade Animal) - Universidade Federal de Pelotas, Pelotas, 2011. Disponível em: http://repositorio.ufpel.edu.br:8080/bitstream/123456789/2567/1/dissertacao_cristina_nunes.pdf. Acesso em: 16 jan. 2019. NUNES, I. J. Nutrição animal básica. 2. ed. Belo Horizonte: FEP-MVZ, 1995. 388p. OLDONI, T. L. C. et al. Isolation and analysis of bioactive isoflavonoids and chalcone from a new type of Brazilian propolis, Separation and Purification Technology, v. 77, p. 208-213, 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000123&pid=S0101-2061201300040002700025&lng=pt. Acesso em: 17 jan. 2019. OLIVEIRA, L. Q. M. Parâmetros produtivos e níveis nutricionais de cálcio para codorna europeia na fase de postura. 2003. 55p. Dissertação (Mestrado em Ciências Agrárias) - Universidade de Brasília, Brasília, 2003. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-35982007000100011. Acesso em: 17 jan. 2019. OTUTUMI, L. K. et al. Efeito do probiótico sobre o desempenho, rendimento de carcaça e exigências nutricionais de proteína bruta de codornas de corte. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 38, n. 2, p. 299-306, 2009. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1516-35982009000200012&lng=pt&nrm=iso. Acesso em: 23 jul. 2019.
47
OZKOK, D.; ISCAN, K. M.; SILICI, S. Effects of dietary propolis supplementation on performance and egg quality in laying hens. Journal of Animal and Veterinary Advances, v. 12, p. 269-275, 2013. Disponível em: https://medwelljournals.com/abstract/?doi=javaa.2013.269.275. Acesso em: 17 jan. 2019. PARK, Y. K. et al. Evaluation of Brazilian propolis by both physicochemical methods and biological activity. Honeybee Science, v. 21, n. 2, p. 85-90, 2000. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_nlinks&ref=000068&pid=S0103-8478200200060001300012&lng=pt. Acesso em: 17 jan. 2019. PASTORE, S. M.; OLIVEIRA, W. P.; MUNIZ, J. C. L. Panorama da coturnicultura no Brasil. Revista Eletrônica Nutritime, v. 9, n. 6, p. 2041–2049, 2012. Disponível em: http://www.nutritime.com.br/arquivos_internos/artigos/180%20-Panorama%20da%20coturnicultura_.pdf . Acesso em: 17 jan. 2019. PESSÔA, G. B. S. et al. Novos conceitos em nutrição de aves. Revista Brasileira de Saúde e Produção Animal, v. 13, n. 3, p. 755-774, 2012. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbspa/v13n3/15.pdf. Acesso em: 23 jul. 2019. PETROLLI, T. G. et al. Utilização do resíduo do extrato de própolis verde como promotor de crescimento para frangos de corte. Enciclopédia biosfera, v. 10, n. 19, p. 1859-1868, 2014. Disponível em: http://www.conhecer.org.br/enciclop/2014b/AGRARIAS/utilizacao%20do%20residuo.pdf. Acesso em: 18 jan. 2019. PETRUŠKA, P. et al. Effect of propolis in chicken diet on selected parameters of mineral profile. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, v. 1, n. 4, p. 593-600, 2012. Disponível em: https://pdfs.semanticscholar.org/954d/eaacb8a7bdea180caa553444bb40108b0e20.pdf. Acesso em: 18 jan. 2019. PICCINELLI, A. L. et al. Cuban and Brazilian red propolis: botanical origin and comparative analysis by highperformance liquid chromatography-photodiode array detection/electrospray ionization tandem mass spectrometry. Journal of Agricultural and Food Chemistry, v. 59, n. 12, p. 6484-6491, 2011. Disponível em: https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf201280z. Acesso em: 18 jan. 2019. PINTO, M. S. et al. Efeito de extratos de própolis verde sobre bactérias patogênicas isoladas do leite de vacas com mastite. Brazilian Journal of Veterinary Research and Animal Science, v. 38, n. 6, p. 278-283, 2001. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-95962001000600006&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 18 jan. 2019. PINTO, R. et al. Níveis de proteína e energia para codornas japonesas em postura. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 31, n. 4, p. 1761-1770, 2002. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbz/v31n4/13738.pdf. Acesso em: 18 jan. 2019. PIPPI, B. et al. In vitro evaluation of the acquisition of resistance, antifungal activity and synergism of Brazilian red propolis with antifungal drugs on Candida spp.
48
Journal of Applied Microbiology, v. 118, p. 839-850, 2015. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25565139. Acesso em: 18 jan. 2019. PONTES, M. L. C. et al. Chemical characterization and pharmacological action of Brazilian red propolis. Acta Brasiliensis, v. 1, n. 1, p. 34-39, 2018. Disponível em: http://revistas.ufcg.edu.br/ActaBra/index.php/actabra/article/download/68/36/. Acesso em: 18 jan. 2019. ROSTAGNO, H.S. et al. Tabelas brasileiras para aves e suínos: composição de alimentos e exigências nutricionais. 4. ed., Viçosa, MG: Universidade Federal de Viçosa, 2017, 488p. SAKOMURA, N. K.; ROSTAGNO, H. S. Métodos de pesquisa em nutrição de monogástricos. 2. ed. Jaboticabal, SP: Funep, 2016. 262p. SANDHAR, H. K. et al. A Review of phytochemistry and pharmacology of flavonoids. Internationale Pharmaceutica Sciencia, v. 1, n. 1, p. 25 – 41, 2011. Disponível em: https://www.researchgate.net/profile/Bhavesh_Tiwari2/post/What_compound_is_responsible_for_the_antipyretic_or_analgesic_activites_in_medicinal_plants/attachment/59d61dcf79197b807797a130/AS%3A273558134034442%401442232749917/download/FLAVONOIDS+ANALGESIC+AGENT.pdf. Acesso em: 18 jan. 2019. SANTOS, A. V. et al. Valor nutritivo do resíduo de própolis para frangos de corte. Ciência e Agrotecnologia, v. 27, n. 5, p. 1152-1159, 2003. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1413-70542003000500025&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 19 jan. 2019. SEVEN, T. P. et al. The eff ects of Turkish propolis on growth and carcass characteristics in broilers under heat stress. Animal Feed Science and Technology, v. 146, p. 137–148, 2008. Disponível em: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09712119.2008.9706970. Acesso em: 25 jul. 2019. SILVA, A. F. et al. Coturnicultura como alternativa para aumento de renda do pequeno produtor. Arquivo Brasileiro de Medicina Veterinária e Zootecnia, v. 70, n. 3, p. 913-920, 2018. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/abmvz/v70n3/0102-0935-abmvz-70-03-00913.pdf. Acesso em: 19 jan. 2019. SILVA, B. B. et al. Chemical composition and botanical origin of red propolis, a new type of Brazilian propolis. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, v. 5, n. 3, p. 313–316, 2008. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2529384/. Acesso em: 19 jan. 2019. SILVA, C. R.; PINHEIRO, A. L. B. C. Utilização de probióticos como melhoradores de desempenho em aves. Revista Eletrônica Nutritime, v. 5, n. 6, p. 690-706, 2008. Disponível em: https://www.nutritime.com.br/arquivos_internos/artigos/061V5N4P599_606_JUL2008_.pdf. Acesso em: 19 jan. 2019.
49
SILVA, J. D. T. et al. Simbiótico e extratos naturais na dieta de codornas japonesas na fase de postura. Ciência Animal Brasileira, v. 13, n. 1, p. 1-7, 2012. Disponível em: https://www.revistas.ufg.br/vet/article/view/5547/10547. Acesso em: 19 jan. 2019. SOEIRO, M. N. C. et al. Experimental chemotherapy for Chagas disease: 15 years of research contributions from in vivo and in vitro studies. Memorias do Instituto Oswaldo Cruz, v. 104, p. 301-310, 2009. Disponível em: https://memorias.ioc.fiocruz.br/article/1096/experimental-chemotherapy-for-chagas-disease-15-years-of-research-contributions-from-in-vivo-and-in-vitro-studies. Acesso em: 20 jan. 2019. SOUZA, N. S. Determinação do perfil de compostos fenólicos na própolis vermelha de Alagoas usando técnicas de fingerprinting (impressão digital) com LC-Orbitrap-FTMS e o software MZmine. 2014. 144p. Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas) – Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2014. Disponível em: http://www.repositorio.ufal.br/bitstream/riufal/1517/4/Determina%C3%A7%C3%A3o%20do%20perfil%20de%20compostos%20fen%C3%B3licos%20na%20pr%C3%B3polis%20vermelha%20de%20Alagoas%20usando%20t%C3%A9cnicas%20de%20fingerprinting....pdf. Acesso em: 20 jan. 2019. STRADIOTTI, D. J. et al. Ação da própolis sobre a desaminação de aminoácidos e a fermentação ruminal. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 33, n. 4, p. 1086-1092, 2004. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbz/v33n4/22105.pdf. Acesso em: 20 jan. 2019. TAPAS, A. R.; SAKARKAR, D. M.; KAKDE, R. B. Flavonoids as nutraceuticals: a review. Tropical Journal of Pharmaceutical Research, v. 7, n. 3, p. 1089 – 1099, 2008. Disponível em: http://www.bioline.org.br/pdf?pr08030. Acesso em: 20 jan. 2019. TEKELI, A.; KUTLU, H. R.; CELIK, L. Effects of Z. officinale and propolis extracts on the performance, carcass and some blood parameters of broiler chicks. Current Research in Poultry Science, v.1, n. 1, p. 12-23, 2011. Disponível em: https://scialert.net/fulltextmobile/?doi=crpsaj.2011.12.23. Acesso em: 25 jul. 2019. TORRES, E. A. F. S. et al. Composição centesimal e valor calórico de alimentos de origem animal. Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 20, n. 2, 2000. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0101-20612000000200003&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 20 jan. 2019. TRUSHEVA, B. et al. Bioactive constituents of brazilian red própolis. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, v. 3, n. 2, p. 249–254, 2006. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/6998077_Bioactive_Constituents_of_Brazilian_Red_Propolis. Acesso em: 20 jan. 2019. UMIGI, R. T. et al. Níveis de treonina digestível em dietas para codorna japonesa em postura. Revista Brasileira de Zootecnia, v. 36, n. 6, p. 1868-1874, 2007.
50
Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1516-35982007000800021&script=sci_abstract&tlng=pt. Acesso em: 20 jan. 2019. VALERO, M. V. et al. Propolis extract in the diet of crossbred (½ Angus vs. ½ Nellore) bulls finished in feedlot: animal performance, feed efficiency and carcass characteristics. Semina: Ciências Agrárias, v. 36, n. 2, p. 1067-1078, 2015. Disponível em: http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/semagrarias/article/download/16079/16169. Acesso em: 21 jan. 2019. VIVEROS, A. et al. Effects of dietary polyphenol-rich grape products on intestinal microflora and gut morphology in broiler chicks. Poultry Science, v. 90, p. 566-578, 2011. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/49839891_Effects_of_dietary_polyphenol-rich_grape_products_on_intestinal_microflora_and_gut_morphology_in_broiler_chicks. Acesso em: 21 jan. 2019. XIE, Y. et al. Antibacterial activities of flavonoids: structure-activity relationship and mechanism. Current Medicinal Chemistry, v. 22, n. 1, p. 132-149, 2015. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/266029486_Antibacterial_Activities_of_Flavonoids_Structure-Activity_Relationship_and_Mechanism. Acesso em: 21 jan. 2019. YANG, C. S. et al. Inhibition of carcinogenesis by dietary polyphenolic compounds. Annual Review of Nutrition, v. 21, p. 381 – 406, 2001. Disponível em: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11375442. Acesso em: 21 jan. 2019. ZEWEIL, H. S. et al. Effect of using bee propolis as natural supplement on productive and physiological performance of japanese quail. Egyptian Poultry Science Journal, v. 36, n. 1, p. 161-175, 2016. Disponível em: https://www.researchgate.net/publication/312213895_EFFECT_OF_USING_BEE_PROPOLIS_AS_NATURAL_SUPPLEMENT_ON_PRODUCTIVE_AND_PHYSIOLOGICAL_PERFORMANCE_OF_JAPANESE_QUAIL. Acesso em: 21 jan. 2019.