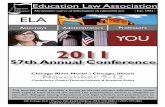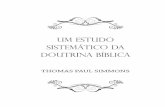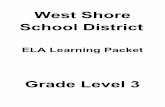Moacir diz Remédios fracionados devem - Hemeroteca Digital ...
Uma questão de cidadania: A doutrina jurídica brasileira sobre a Intervenção Federal, o que ela...
Transcript of Uma questão de cidadania: A doutrina jurídica brasileira sobre a Intervenção Federal, o que ela...
1
Uma questão de cidadania: A doutrina jurídica brasileira sobre a Intervenção Federal, o
que ela diz e não diz1
A question of citizenship: the Brazilian legal doctrine on the Federal Intervention,
what she says and does not
Fernanda Duarte – PhD - UFF/INCT-InEAC Brasil
Rafael Mario Iorio Filho - PhD – UNESA/Brazil
Resumo: O trabalho tem como objetivo perceber como os discursos doutrinários acerca
da intervenção federal se constroem e como eles se relacionam com o poder na defesa
da cidadania brasileira. Esta discussão temática é de todo importante, pois traria em seu
campo significativo toda uma problemática de circunstâncias de crise constitucional
federativa, e por isso, de relações explícitas entre poder soberano e guarda das
cidadanias. Em sua primeira parte, tem o objetivo de contextualizar historicamente o
federalismo como fato histórico, tanto nos Estados Unidos da América, quanto no
Brasil. Desenvolve, também, um estudo das representações do campo jurídico brasileiro
acerca do federalismo e da intervenção federal, ou seja, são apresentados os elementos
que constituem a semântica da linguagem, materializada nos discursos dos atores do
Direito.
Abstract: The study aims to understand how the speeches about federal intervention are
constructed and how they relate to the power in the defense of Brazilian citizenship.
This discussion topic is all important because it would bring in his significant issue field
the federal constitutional crisis situations, and therefore, the explicit relations between
sovereign power and custody of citizenship. In its first part, aims to contextualize
historically federalism as historical fact, both in the United States of America, and in
Brazil. It also develops a study of representations of the Brazilian legal field about
federalism and federal intervention, ie, presents the elements that constitute the
language semantics, embodied in the speeches of the actors of the law.
Palavras-chaves: cidadania; doutrina jurídica; intervenção federal.
1 Trabalho apresentado a reunião do CONPEDI de Belo Horizonte, 2011.
2
Keywords: citizenship; legal doctrine; federal intervention.
1. Considerações inicias
A ciência do direito, tomada pelo sentido que o campo jurídico2 brasileiro lhe
dá, significa a produção intelectual doutrinária das possíveis interpretações legais e
judiciais dos institutos ou categorias do direito. Assim a doutrina pretende ocupar um
papel de sugerir interpretações pertinentes aos operadores do direito.
Tais sugestões serão utilizadas ou não dependendo do argumento defendido em
juízo e do livre convencimento do juiz (TEIXEIRA MENDES, 2008). A doutrina seria
responsável pela socialização dos integrantes do campo jurídico (advogados,
magistrados, membros do Ministério Público, estudantes e acadêmicos do Curso de
Direito) nos símbolos e nas representações articuladas do sistema de pensamento ou da
atividade discursiva próprias do direito3.
2 Para este trabalho usamos os termos “campo do direito”, “campo jurídico” e “mundo do direito”, no
sentido da concepção de Pierre BOURDIEU (1992:206-207), que toma os campos da vida social como
campos magnéticos onde os agentes se aproximam e se afastam em função de luta política. Num campo
há ainda uma estabilidade semântica, de práticas e de visões de mundo, o que, segundo o autor, “permite
a todos os detentores do mesmo código associar o mesmo sentido às mesmas palavras, aos mesmos
comportamentos e às mesmas obras e, de maneira recíproca, de exprimir a mesma intenção significante
por intermédio das mesmas palavras, dos mesmos comportamentos e das mesmas obras.”
3 Neste sentido é elucidativa a reflexão de TEIXEIRA MENDES (2008:40): “A dogmática jurídica,
também chamada de doutrina, é uma forma de construção do saber própria do campo jurídico que
consiste em reunir e organizar de forma sistemática e racional comentários a respeito da legislação em
vigor e da melhor forma de interpretá-la. A dogmática é um saber que produz as doutrinas jurídicas,
através das quais o direito se reproduz. Tais doutrinas constituem o pensamento de pessoas autorizadas a
trabalhar academicamente determinados assuntos, interpretar os textos legais e emitir pareceres a respeito
da forma mais adequada de interpretá-los e de aplicá-los. O saber jurídico não é científico, é dogmático
(GEERTZ, 1998:249). O saber jurídico construído pela doutrina é considerado pelo campo como
puramente teórico, mas seria mais bem definido, a meu ver, como um saber abstrato e normativo, que tem
a função de ensinar de forma normalizada e formalizada as regras que estão em vigor. Vale esclarecer que
a visão da doutrina não é uma teoria a qual estão subordinadas as práticas judiciárias. A doutrina jurídica
é um discurso autorizado sobre a lei e suas possíveis interpretações e aplicações jurisprudenciais. É um
3
Portanto, a produção doutrinária estabelece o fundo comum de formação do
pensamento jurídico brasileiro, ainda que este pensamento seja marcado por opiniões
antagônicas e muitas vezes paradoxais, uma vez que o nosso sistema jurídico-processual
não leva à formação de consenso4.
Nesse sentido, pode-se falar na hipertrofia do papel da interpretação da lei na
construção da sensibilidade jurídica5 brasileira: temos um sistema que valoriza pouco o
que está escrito na lei. A interpretação literal é vista pelos juristas brasileiros como
simplória e pouco sofisticada, sendo mais valorizadas, porque eruditas, as
interpretações que se fundamentam em aportes doutrinários (também chamados de
“teóricos”) que aparentemente melhor “elucubrariam” sobre os sentidos possíveis a
serem atribuídos às normas.
Neste ponto vale lembrar a afirmação de GEERTZ (1998:249-356): “o saber
jurídico, em qualquer lugar do mundo, e em qualquer época, é apenas parte de uma
forma específica de imaginar a realidade. Essas formas têm de ser confrontadas para que
se obtenha consciência ampla de outras maneiras de sensibilidade jurídica, buscando-se
a relativização de suas manifestações.”
Este trabalho cuida da temática da intervenção federal, sob a ótica da doutrina
constitucional, pretendendo descrever quais seriam as representações doutrinárias do
campo jurídico brasileiro acerca da intervenção federal.
discurso normativo, ideal-típico, uma vez que está dizendo como a realidade deve ser e não como a
realidade é. É saber que não se debruça sobre a realidade empírica, com a finalidade de explicá-la ou
compreendê-la, como faz o saber científico. Antes, tem a finalidade de interpretar a lei, recomendando a
melhor forma de aplicação. A doutrina e a legislação estão dirigidas ao mundo do dever-ser: o mundo
empírico está num outro plano e não lhes interessa. Na produção de doutrina jurídica, a observação
empírica está descartada. Por ser um saber normativo e existir com a finalidade de dizer como a realidade
deve ser, não tem base empírica e é comum que os juristas concluam, diante da realidade distinta da
norma, que a realidade está errada, pois ela não deveria ser assim. Um conflito juridicamente traduzido
sofre uma espécie de pasteurização e é adaptado à linguagem jurídica de tal maneira que o campo jurídico
possa decodificá-lo e aplicar a ele as regras jurídicas pertinentes. Evidentemente, as regras jurídicas,
como quaisquer regras definidas socialmente, dizem respeito a um determinado tempo e a um
determinado lugar. No entanto, o campo jurídico tende a tomar as regras jurídicas vigentes num
determinado momento histórico e numa determinada época como regras universais (no sentido cósmico),
absolutas e atemporais”. 4 Sobre a problemática da não-construção de consensos ver AMORIM et al (2005).
5 Sensibilidade jurídica é um conceito construído por Geertz para designar a noção de justiça em uma
cultura. Assim, segundo o autor, toda e qualquer cultura tem uma sensibilidade jurídica que pode ou não
se aproximar da nossa, que não é única nem absoluta. Sensibilidade jurídica é o complexo de operações
utilizado por uma sociedade para relacionar princípios abstratos desse direito (GEERTZ, 1998:249).
4
2. O Federalismo
O federalismo é em um tema relevante tanto ao pesquisador do Direito
Constitucional quanto àquele que se dedica ao estudo da Ciência Política. O Direito
Constitucional, pelo conteúdo material da Constituição, dedica-se ao estudo da
organização e do funcionamento do Estado, promovendo um estudo da anatomia do
Estado. O federalismo, como forma de Estado, liga-se à esta anatomia, pois apresenta a
divisão do território do Estado em diferentes entes federativos autônomos, exercendo
cada qual sua parcela de competência constitucionalmente estabelecida (CAMARGOS e
ANJOS, 2009:81).
Para a Ciência Política, que possui como objeto o poder político, o federalismo
trata da divisão do poder político através da federação. Na visão de Arend LIJPHART
(2003:213):
Neste capítulo, abordo a primeira variável da dimensão federal
unitária (poder dividido): o federalismo e a descentralização versus
governo unitário e centralizado. É adequado conceder esse primeiro
lugar de honra ao federalismo, porque ele pode ser considerado o
método mais típico e drástico da divisão do poder: ele divide o poder
entre níveis inteiros do governo. De fato, como termo da ciência
política, a divisão do poder é normalmente usada como sinônimo de
federalismo.
Desta forma, compreender o federalismo como fenômeno de divisão do poder
é o mesmo que analisá-lo como a divisão do principal objeto de estudo da Ciência
Política.
O federalismo como forma de Estado se apresenta como uma construção do
século XVIII, mais precisamente ligada ao movimento constitucionalista norte-
americano, que sucedeu a revolução da independência americana.
Para tratarmos das origens do federalismo norte-americano é necessário
discorrer sobre um de seus importantes pressupostos: a Constituição norte-americana. O
constitucionalismo norte-americano, cujo legado apresentou ao mundo, através da
Convenção de Filadélfia, a primeira Constituição escrita em 1787, e uma forma de
Estado até então desconhecida, que é federal, remonta ao período de aparecimento do
5
próprio estado americano. A Constituição norte-americana se apresenta como
fundamento de validade do federalismo.
Como nos dizem CAMARGOS e ANJOS (2009:83), cientistas políticos
brasileiros que se dedicam ao estudo do federalismo americano:
Foi da união das treze ex-colônias inglesas, formadas por indivíduos
oriundos da Inglaterra, que se dirigiram para o novo mundo por razões
religiosas, políticas e econômicas, que se criou inicialmente uma
Confederação no momento imediatamente posterior a independência.
Confederação esta que promoveu ajustamentos e uma maior
aproximação entre os Estados confederados, de forma a fazer surgir
uma Federação.
Na Federação cada uma das treze ex-colônias, que se constituíam
anteriormente em Estados confederados, tiveram de abrir mão da
soberania de que eram dotadas para constituir um poder que se
colocava em uma instância superior e que abrangesse a todas elas,
sendo portanto a soberania atribuída a esse poder, surgindo assim o
Estado Federal.
Segundo Alexander HAMILTON (2003:71), um dos autores de “O
Federalista”, obra referência a respeito desta nova forma de organização do Estado, a
autonomia dos estados membros combinada com uma união sólida e indissolúvel entre
eles é a marca distintiva de uma federação, como confirma o texto do próprio autor
transcrito abaixo:
Uma União sólida terá a máxima significação para a paz e para a
liberdade dos estados-membros, como uma barreira contra facções e
insurreições internas. É impossível ler a história das pequenas
repúblicas da Grécia sem um sentimento de horror e pena ante as
agitações a que elas foram continuamente submetidas e a rápida
sucessão de revoluções que as deixavam em estado de constante
oscilação entre os extremos da tirania e anarquia.
É de se notar, no caso da federação dos Estados Unidos da América do Norte,
que houve uma constante preocupação com as questões relacionadas à política externa,
de comércio e segurança dos estados federados reunidos em torno da União. Todavia, a
maior preocupação esteve em torno das crises internas que as ex-colônias, transmutadas
em Estados Confederados, e, posteriormente, em estados federados teriam de enfrentar.
A autonomia é uma prerrogativa de poder de ente político, própria do Estado
federal, que se distingue da soberania do Estado, na medida em que não é poder
6
independente. Entretanto, tem como prerrogativas básicas a auto organização, pela qual
o estado membro pode elaborar sua própria constituição e suas leis; o autogoverno que
dá ao povo do estado membro o direito de escolher seus governantes tanto no plano do
legislativo, como do executivo e do judiciário. E a ainda a auto-administração, que
permite ao estado membro organizar e gerir sua máquina burocrática (DALLARI,
2009). Em razão de peculiaridades de sua história política, o federalismo norte-
americano apresenta grande acentuação na autonomia dos estados federados.
Mais uma vez podemos citar o trecho de CAMARGOS e ANJOS (2009: 84):
Na experiência constitucional norte-americana a democracia é
verdadeiro pressuposto do federalismo. A forma de estruturação do
Estado Federal considera a participação dos cidadãos, seja através do
exercício do direito de escolha de seus representantes pelas eleições,
seja como destinatários das políticas públicas e competências
constitucionais desempenhadas pelo governo federal ou pelos
governos estaduais. Originalmente a soberania dos Estados
Confederados, que criaram a Federação na Convenção de Filadélfia
em 1787, certamente extraíram esta expressão de poder através da
manifestação da vontade de seu povo. Desta forma, tanto o governo
federal como os estaduais apresentam estruturalmente uma relação de
dependência para com o cidadão eleitor, estando bastante evidenciado
que os que governam exercem um mandato político devendo estrita
fidelidade a quem os elegeu.
Para trabalharmos com as características da federação, vamos lançar mão de
um instrumento metodológico weberiano (WEBER,1964) que é o tipo ideal. Trata-se da
construção de um modelo que traça uma espécie de caricatura simplificada da realidade
social estudada e que não pretende esgotar as características das experiências históricas
de cada Estado. Segundo WEBER (1964) dada a diversidade das peculiaridades locais,
o tipo ideal é instrumento essencial para não cairmos no relativismo extremado, o que
nos possibilita comparar certos aspectos de um fenômeno social.
A principal característica do Estado federal, como já salientamos, é a
descentralização administrativa e política. O que torna esta forma de organização
bastante sofisticada é que o poder neste tipo de Estado seja dividido em diferentes
7
funções de poder (Legislativo, Executivo e Judiciário), e estas reproduzidas
simetricamente em todos os níveis da federação6.
Outro elemento fundamental que integra a organização federativa é a existência
da manifestação livre e eficiente da vontade dos representantes de cada um dos estados
federados no sentido de criar a união de todos eles, formando assim o Estado federal.
Tal fenômeno é denominado de pacto federativo e ele fica estabelecido na Constituição
federal.
Com relação ao Direito Constitucional brasileiro José Alfredo de Oliveira
BARACHO (1982:54), em obra denominada Teoria Geral do Federalismo assim
afirma:
Tecnicamente, o federalismo é uma divisão constitucional de poderes
entre dois ou mais componentes dessa figura complexa que decorre da
existência de um Estado que possa apresentar formas de distribuição
das tarefas políticas e administrativas.
Em outras palavras, a descentralização do Estado federal gera a necessidade de
repartição de competências a serem exercidas pelo Estado federal e pelos estados
federados. Esta repartição de competências se constitui na grande tarefa do legislador
constituinte de forma a harmonizar o exercício do poder por parte de todos os estados
que integram a federação e o Estado Federal7.
Segundo Raul Machado HORTA (2002:306):
[...] se a tendência ocorrida no federalismo é a de fortalecimento do
poder central da União Federal, tem-se o chamado federalismo
contrípeto ou centrípeto, conforme queiram. Por outro lado, se a
tendência é de fortalecimento dos estados integrantes da federação,
diz-se que o federalismo é centrífugo. Havendo equilíbrio entre estas
duas forças, qual seja, entre o Estado Federal e os estados federados,
diz-se que o federalismo é de cooperação.
6 Lembre-se que no modelo federal norte-americano há apenas dois níveis de poder : o federal e o
estadual. Diversamente do modelo brasileiro em que o Município, por força dos arts. 1 º e 18 da CRFB/88
integra a Federação.
7 Esta divisão na ordem constitucional vigente no Brasil encontra-se insculpida entre os arts. 21 a 25; 30 e
32 da CRFB/88.
8
Por outro lado, o federalismo centrífugo é aquele que fará um caminho
oposto. O federalismo centrífugo se dirige para a periferia do Estado
Federal. Nele não haverá necessariamente maior descentralização,
mas sobretudo uma tendência à descentralização ao longo do tempo.
Exemplo notável é o federalismo brasileiro, que surgiu
originariamente de um Estado Unitário extremamente centralizador e
se direciona ao longo da história republicana brasileira a dar maior
leque de competências aos estados, seguindo no sentido da
descentralização.
É ainda Raul Machado HORTA (2002: 307) quem aponta como principais
características do federalismo e que se constituem como seus princípios, técnicas e
instrumentos operacionais os seguintes elementos:
a) a decisão constituinte criadora do Estado Federal e de suas partes
indissociáveis, a federação ou União, e os estados-membros;”8
b) a repartição de competências entre a federação e os estados-
membros;”9
c) o poder de auto-organização constitucional dos estados-membros,
atribuindo-lhes autonomia constitucional;”10
d) a intervenção federal, instrumento para restabelecer o equilíbrio
federativo, em casos constitucionalmente definidos;”11
8 “Esta primeira característica faz menção à decisão criadora da federação que já mencionamos
anteriormente e que é também denominada pacto federativo. O pacto federativo representa a expressão da
vontade dos representantes dos estados que integram a federação de participar da criação do Estado
Federal. Esta vontade é expressa na Constituição. Aqui é também apresentada a característica de que os
estados federados se constituem em partes indissociáveis, não podendo nenhum deles optar por não fazer
mais parte da federação, posto que ao nela adentrarem abriram mão de significativa parcela de soberania
de que eram dotados, restando-lhes a autonomia”. (HORTA, 2002:307).
9 “A repartição de competências aqui mencionada há de ser expressa no texto constitucional e há de
delimitar as competências legislativas e administrativas do ente federal e dos entes federados. Ao repartir
a competência a Constituição não há de hierarquizar ou subordinar os entes federados ao federal, mas irá
definir o âmbito de atuação de cada um deles. Esta repartição de competências se constitui no cerne da
disciplina constitucional acerca do federalismo. É certo que a competência afeta os órgãos do Poder
Judiciário Federal e do Poder Judiciário dos estados, muito embora não seja apresentada como repartição
de competências relacionadas ao federalismo, é de todo correto afirmar que sua definição é corolário do
federalismo.” (HORTA, 2002:307).
10“Esta capacidade de auto-organização dos estados-membros possui limitações e condicionamentos que
são expressos pelo texto da Constituição Federal. Aqui há um estado dentro do Estado e esta capacidade
de se organizar autonomamente é manifestação do poder constituinte decorrente e as Constituições
Estaduais devem ser elaboradas em conformidade com os princípios e preceitos da Constituição Federal.
Cumpre evidenciar que a soberania é atributo exclusivo do poder federal.” (HORTA, 2002:307).
9
e) a Câmara dos Estados, como órgão do Poder Legislativo Federal,
para permitir a participação do estado-membro na formação da
legislação federal;”12
f) a titularidade dos estados-membros, através de suas Assembléias
Legislativas, em número qualificado, para propor emenda à
Constituição Federal;”13
g) a criação de novo estado ou modificação territorial de estado
existente dependendo da aquiescência da população do estado
afetado;”14
h) a existência do Poder Judiciário Federal de um Supremo Tribunal
Federal ou Corte Suprema, para interpretar e proteger a Constituição
Federal, e dirimir litígios ou conflitos entre a União, os Estados e
outra pessoas jurídicas de direito interno.”15
11 “A regra geral que vigora no federalismo é a de que o ente político mais abrangente irá respeitar a
autonomia do ente político menos abrangente; excepcionalmente e em casos definidos taxativamente na
Constituição Federal, a União Federal intervirá nos estados ou diretamente nos municípios quando estes
infringirem os chamados princípios constitucionais federais sensíveis. A intervenção é um mecanismo de
defesa da própria federação, seja contra interferências externas ao Estado Federal, e principalmente em
razão das intempéries ocorridas nos estados federados. Várias são as maneiras de se desencadear o
processo interventivo, e quando este é desencadeado muitos são os mecanismos e instrumentos
constitucionais para mantê-lo como uma medida estrita, temporária e da mais absoluta excepcionalidade.”
(HORTA, 2002:307).
12 “O federalismo pressupõe um Poder Legislativo bicameral, onde uma das Casas Legislativas é
constituída de representantes do povo e a outra Casa Legislativa será constituída pelos representantes dos
estados federados. Como expressão da absoluta igualdade entre os estados integrantes da federação,
cumpre destacar que o número de representantes por estado é o mesmo para cada um dos estados. Esta
Casa Legislativa autoriza o estado federado a participar das principais decisões legislativas tomadas no
âmbito federal. Muito embora a federação nos apresente dois estados de competências diferenciadas, é
forçoso considerar que o estado federado apresenta estruturas que estão amalgamadas no Estado Federal e
uma delas e de considerável relevo é a Casa Legislativa dos estados que compõem o Poder Legislativo
Federal.” (HORTA, 2002:307).
13 “Qualquer necessária alteração do texto da Constituição Federal deve ser acessível aos estados
federados e normalmente esta possibilidade de propor emendas a Constituição Federal se dá através dos
órgãos legislativos estaduais.” (HORTA, 2002:307).
14 “Esta característica é certamente conseqüência direta da autonomia dos estados federados. Qualquer
mudança substancial na estrutura da federação ou dos estados federados vai depender da aquiescência
direta da população diretamente interessada. Estas formas de consulta popular se constituem resquícios de
democracia direta e normalmente se dão através do plebiscito ou do referendo, conforme o momento em
que sejam realizados.” (HORTA, 2002:307).
15 “Um órgão de cúpula no Poder Judiciário que exerça a jurisdição das questões afetas à Constituição
Federal. Que esta mesma estrutura de poder jurisdicional venha a dirimir conflitos entre a União e
qualquer que seja a parte, entre os estados federados e pessoas de direito público interno. Fica
evidenciada também a preocupação de preservação da Constituição Federal através do controle de
constitucionalidade concentrado em um órgão jurisdicional. Há também a peculiar característica de que a
União ou o Estado Federal não fique sujeito à jurisdição de justiças estaduais.” (HORTA, 2002:307).
10
Finalmente, ainda cabe destacar que as entidades federativas
independentemente do tamanho de sua população, de sua participação no produto
interno bruto do Estado Federal, ou de sua extensão territorial, têm entre si plena
condição de igualdade formal, igualdade esta que é estabelecida pelas normas
constitucionais.
Após termos apresentado, com fins comparativos, as noções gerais do
federalismo como um fato característico da história política e constitucional norte-
americana, importante se torna compreender como esta forma de organização do poder
político se aclimata no processo histórico-político brasileiro.
Em outras palavras, para que possamos entender as representações e
significações existentes acerca da intervenção federal, devemos contextualizar o que
vem a ser federação a brasileira.
3. O federalismo no Brasil
A constituição imperial brasileira estabelecia um Estado unitário, apresentando
como características a forte centralização política e administrativa. É certo que esta
centralização decorrente da forma de Estado unitário em muito auxiliou na construção
da unidade nacional, impedindo assim que o país se desagregasse em razão das
inúmeras revoltas que ocorreram no seio das províncias (CHACON, 1987).
No Brasil, a transição da monarquia para a república e do Estado unitário para
o Estado federal não se constituiu em um processo lento, mas sim relativamente breve.
O fato é que esta grande transformação na vida política nacional foi obra de alguns
poucos intelectuais e militares de alta patente, não tendo havido participação popular na
deflagração deste processo (CAMARGOS e ANJOS, 2009).
Discorrendo sobre o assunto em obra que se tornou referência neste tema, José
Murilo de CARVALHO (1991:68) assim afirma: “Estas observações não estão, no
entanto, distantes da frase de Aristides Lobo, segundo o qual o povo teria assistido
bestializado à proclamação da República, sem entender o que se passava”.
11
É necessário que se evidencie que o grau de alienação do povo no que se refere
ao momento político nacional não era muito diferente da ausência de participação das
lideranças políticas existentes nas províncias no que se refere à adoção do federalismo
como forma de Estado. A república e o federalismo foram um movimento de
intelectuais e militares que residiam na Corte e na província de São Paulo. As demais
províncias não tomaram parte significativa no evento histórico, e se é certo que o pacto
federativo não exige um momento histórico para sua caracterização, no Brasil ele foi
expresso com a elaboração da Constituição Republicana de 1891 (CAMARGOS e
ANJOS, 2009).
Já na Constituição de 1934 muitas das competências administrativas e
legislativas atribuídas aos estados anteriormente foram transferidas para a União.
Entretanto, em 1937, com o advento do golpe dado por Getúlio Vargas, a outorga de
uma nova Constituição e a instituição da ditadura do Estado Novo até 1945, o Brasil
viveu momentos de grande centralização política, quando os estados passaram a não ter
sequer o peso político apresentado nos anos posteriores à 1ª República.
Sob a vigência da Constituição de 1946, o país viveu novo período de
democratização e os estados da Federação passaram a atuar no cenário político nacional
com maior desenvoltura, entretanto, esta Constituição adotou os mesmos moldes de
concentração de competências administrativas e legislativas no rol deferido à União
(CAMARGOS e ANJOS, 2009). Com o advento do golpe militar de 1964, que institui a
ditadura e culminou na Constituição de 1967 e emenda nº 1 de 1969, retornando a um
período de forte centralização e autoritarismo por parte da União federal, havendo aqui
verdadeira submissão dos estados federados à União.
Com a redemocratização do país e a convocação da Assembléia Nacional
Constituinte no ano de 1986, cujo trabalho redundou na Constituição de 1988, o país
retornou ao estado de direito, direito este elaborado e exercido legitimamente. Em que
pesem os reveses políticos enfrentados pelo país em sua história republicana o fato é
que as dimensões territoriais brasileiras, que são de grandes proporções, impõem para
maior eficiência na administração da coisa pública a descentralização tanto política
como administrativa.
12
A Carta Política de 1988 estabeleceu em seu art. 1º “A República Federativa do
Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal,
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:” É de se
perceber que houve grande inovação da Constituição ao estabelecer que o Brasil é uma
federação constituída por estados, municípios e pelo distrito federal, inovação esta que
se dá por alçar o município a um ente autônomo da federação. É de amplo
conhecimento a federação constitui-se tão somente de estados, que juntamente com a
união apresenta o seu aspecto dualista, daí a grande inovação na nova estrutura
apresentada pelo federalismo brasileiro.
O art. 18 da Constituição da República apresenta o município como parte
integrante da organização política administrativa da República Federativa do Brasil ao
lado da União, dos Estados e do Distrito Federal, sendo todos dotados de autonomia.
A federação brasileira adquiri certa peculiaridade ao apresentar três esferas de
governo que seriam a União, os estados e os municípios, mas autores como José Afonso
da Silva questionam se o município foi, de fato, elevado à categoria de ente federativo
(SILVA, 2007: 641):
E os Municípios transformaram-se mesmo em unidades federadas? A
Constituição não o diz. Ao contrário, existem onze ocorrências das
expressões ‘unidade federada e unidade da Federação’ referindo-se
apenas aos Estados e ao Distrito Federal, nunca envolvendo os
Municípios.
A Constituição de 1988, seguindo o exemplo das constituições anteriores,
estabeleceu as hipóteses em que, excepcionalmente, a União poderia vir a intervir nos
estados federados. O instituto da intervenção federal encontra-se nas circunstâncias
enumeradas nos incisos do art. 34 da Carta Política16.
16 “Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: I - manter a
integridade nacional; II - repelir invasão estrangeira ou de uma unidade da Federação em outra; III - pôr
termo a grave comprometimento da ordem pública; IV - garantir o livre exercício de qualquer dos
Poderes nas unidades da Federação; V - reorganizar as finanças da unidade da Federação que: a)
suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força
maior; b) deixar de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição, dentro dos
prazos estabelecidos em lei; VI - prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial; VII -
13
Na história do federalismo brasileiro é possível notar que a intervenção,
notadamente por ser medida excepcional, foi utilizada com muita parcimônia,
principalmente no período em que vivemos certa normalidade política e democrática.
Entretanto, na ditadura de Getúlio Vargas, de 1937 a 1945, e durante a ditadura militar
de 1964 a 1984, a intervenção foi utilizada com maior freqüência (CAMARGOS e
ANJOS, 2009).
4. Intervenção Federal
A doutrina17 brasileira sobre a intervenção federal a apresenta enfatizando três
elementos.
1) Conceituar a intervenção federal como o último remédio ou ratio para se
manter a integridade nacional e da ordem jurídica constitucional;
2) Narrar um processo de continuidade histórica do instituto desde a primeira
Constituição republicana de 1891, e a sua elaboração por Ruy Barbosa;
3) Apresentar as espécies de intervenção federal: a espontânea e a provocada18;
Curioso é notar que todo este discurso é organizado em perspectiva referencial
ao texto legal constitucional. Em outras palavras, a doutrina, simplesmente, apresenta o
texto constitucional, sem trazer qualquer informação que não seja a discussão da
natureza jurídica do instituto e a reprodução dos artigos da Constituição. Assim, a
assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: a) forma republicana, sistema
representativo e regime democrático; b) direitos da pessoa humana; c) autonomia municipal; d) prestação
de contas da administração pública, direta e indireta. e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante
de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento
do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.”
17 A categoria “doutrina brasileira” é aqui usada a partir das obras de vários doutrinadores que tem
reconhecimento e prestígio no campo jurídico brasileiro e que circulam como bibliografia básica nos
cursos de graduação em Direito. Como exemplo desses doutrinadores podemos citar: BARROSO (1998),
BONAVIDES (2005), FRANCO (1968), LEWANDOWSKI (1994), MORAES (2006), SILVA (2006),
AGRA (2007), CRETELLA JR (1998), HORTA (1995), LENZA (2006), TAVARES (2007) e
ZIMMERMANN (2002).
18 Em relação à lógica taxonômica que estrutura as categorias da doutrina jurídica brasileira, significa
dizer que a organização dos institutos jurídicos apropria-se dos princípios das ciências biológicas dos
séculos XVIII e XIX, que se preocupava em conhecer a natureza dos animais e das plantas, classificando-
os em Reinos, Ordens, Classes, Gêneros e Espécies. Sendo assim no discurso dogmático jurídico temos
como Reino o Sistema Jurídico brasileiro, como Ordem o Direito Constitucional, como Classe a
Federação, como Gênero a Intervenção Federal e como Espécies a Espontânea e a Provocada, o que mais
uma vez remonta o pensamento selvagem em seu discurso totêmico, segundo Claude Levy Strauss, ao
naturalizar o discurso mítico LÉVY-STRAUSS (1976:56-97).
14
perspectiva política do instituto, como também dos exemplos jurisprudências que
servem para ilustrá-lo não é apresentada. Como não mencionar a natureza política de
um instituto que atinge diretamente o poder político de um ente federado? Como não
contextualizar tais decisões histórica e politicamente? Chama atenção tais omissões.
Como já foi mencionado no início deste trabalho a doutrina jurídica brasileira
tem característica marcadamente prescritiva e, por isso, trabalha no plano ideal do
‘dever-ser’. A despeito das experiências autoritárias19, seja da República Velha, seja da
Era Vargas ou da ditadura militar pós-196420, concebe a intervenção federal como um
instituto jurídico-constitucional, conhecido como garantee clauses pelo direito norte-
americano e como execução federal pelo direito germânico (AGRA, 2007:297), de
exceção ao princípio federativo presente em nossa ordem jurídica nacional, desde a
Constituição de 1891. Ignora, porém, que tais institutos são concebidos em contextos
históricos e políticos complemente diferentes da sociedade oligárquica, patriarcal e
pouco democrática na qual nasceu a Constituição brasileira de 1891.
Segundo a doutrina brasileira, já citada, a intervenção federal nada mais é do
que o afastamento temporário da autonomia de um ente federal que tem por objetivo a
preservação da própria federação. Assim sendo, trata-se de instrumento de direito
constitucional de exceção, pois priva o ente federado de sua característica essencial: a
autonomia. Por ser forte medida coercitiva, só pode ser usada estritamente nas situações
determinadas taxativamente pelo constituinte originário, nos arts. 34 a 36 da CRFB/88.
E nos casos em que o pedido de intervenção federal se fundamenta em
descumprimento de ordem judicial, na maior parte das vezes está envolvido grave
desrespeito aos direitos de cidadania, uma vez que tais ordens judiciais, no mais das
vezes protegem direitos do cidadão.
19 De acordo com CAMARGOS E ANJOS (2009:93): “Na história do federalismo brasileiro é possível
notar que a intervenção, notadamente por ser medida excepcional, foi utilizada com muita parcimônia,
principalmente no período em que vivemos certa normalidade política e democrática. Entretanto, na
ditadura de Getúlio Vargas, de 1937 a 1945, e durante a ditadura militar, de 1964 a 1984, a intervenção
foi utilizada com maior freqüência.”
20 Sobre esta experiência histórica autoritária interessante a passagem de AGRA (2007:297): “Na história
dos textos constitucionais brasileiros, o instituto da intervenção sempre respeitou os princípios do Estado
Democrático de Direito. Contudo, o Ato Institucional 5 (AI-5) extrapolou os limites da intervenção,
tornando-a um instrumento de coação do regime militar. Pelo AI-5 foi permitido ao Presidente da
República, alegando interesse nacional, intervir nos Estados-membros e nos Municípios sem respeitar as
barreiras legais firmadas pela Constituição.
15
Nestes casos a intervenção deixa de ser ato discricionário do Presidente da
República, pois fica o tribunal prolator da ordem desobedecida obrigado a comunicar a
desobediência ao Supremo Tribunal Federal, que requisitará a intervenção se julgar
conveniente.
A intervenção federal, vale se repetir, trata de exceção no equilíbrio federativo
da autonomia política dos entes, a partir da ingerência de uma entidade em assuntos
próprios de outra, quando diante de uma das circunstâncias taxativas extremas que
atentam ao pacto federativo e a supremacia constitucional.
Segundo AGRA (2007:297) a intervenção federal é
o remédio típico da forma de Estado federativa, constituindo-se no
instrumento cabível para a sua manutenção, de utilização necessária
todas as vezes que um Estado-Membro ou um Município desrespeitar
os princípios constitucionais federativos ou provocar uma
instabilidade na normalidade jurídica.
Já nas palavras de José Afonso da SILVA (1997:460):
A Intervenção Federal é ato político que consiste na incursão da
entidade interventora nos negócios da entidade que a suporta.
Constitui o ‘puctum dolens’ do Estado Federal, onde se entrecruzam
as tendências unitaristas e as tendências desagregantes.
Humberto Peña de MORAES (2005:229) define que a intervenção federal é:
instituto típico da estrutura do Estado Federal, repousa a intervenção
no afastamento temporário da atuação autônoma da entidade
federativa sobre a qual a mesma se projeta.
A doutrina classifica que a intervenção federal pode se operar em duas
espécies: a intervenção espontânea e a intervenção provocada. A primeira é uma
discricionariedade, juízo de oportunidade e conveniência, do Presidente da República,
ou seja, ato exclusivo da vontade do Chefe do Poder Executivo que deverá obter
posterior aprovação por parte do Congresso Nacional, e que na atualidade
constitucional, está prevista no art. 34, incs. I, II, III e V da CRFB/88.
16
A intervenção federal será provocada, hodiernamente, nos casos descritos no
art. 34, incs. IV, VI e VII por solicitação do Executivo e do Legislativo estaduais, e, por
requisição, por parte dos órgãos do Judiciário21.
Em ambas as espécies deve ser expedido um decreto presidencial interventivo
especificando a abrangência (os Estados-Membros que serão atingidos pela medida); a
amplitude (os poderes que serão cerceados); e o tempo (prazo de duração da medida
especificado). Deve o Presidente, segundo os arts. 90, I e 91 §1º da CRFB/8822 ouvir o
Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional para decretação. “Havendo a
omissão do tempo determinado para a sua realização, a falta de indicação de cláusula
suspensiva, a intervenção deverá ser considerada inconstitucional pelo Poder Judiciário”
(AGRA, 2007:300).
O decreto deve, ainda, justificar as razões de sua amplitude, abrangência e
tempo. Após a sua redação pelo Presidente da República o decreto será publicado
21 Retratando a discussão quanto ao papel do Presidente da República na intervenção federal informa-nos
AGRA (2007:301-302): “Controvertida é a questão de saber se o Presidente da República tem
obrigatoriedade ou não de decretar a intervenção quando houver pedido. Na questão acerca da
intervenção no governo da Bahia, em 1920, Rui Barbosa afirmava que a intervenção dependeria do poder
discricionário do Presidente, e Epitácio Pessoa defendia a tese de que o pedido vincularia o Chefe do
Executivo, cabendo a ele apenas decretar a intervenção. A tese hoje preponderante é a de que o Presidente
pode ou não decretar a intervenção diante do caso concreto. O pedido não o vinculará, cabendo a ele,
pelas circunstâncias específicas do caso, analisar a conveniência ou não da decretação. Todavia, quando o
objetivo da intervenção for o de prover à execução de lei federal, ordem ou decisão judicial e de assegurar
a observância dos princípios sensíveis, a doutrina predominante se posiciona no sentido de que o pedido
se torna vinculante, obrigatório, porque os motivos são eminentemente de cunho jurídico. Os mesmos
parâmetros valem para a intervenção nos Municípios, nos mesmos casos pertinentes aos Estados-
membros.”
22 “Art. 90. Compete ao Conselho da República pronunciar-se sobre: I - intervenção federal, estado de
defesa e estado de sítio; II - as questões relevantes para a estabilidade das instituições democráticas. § 1º -
O Presidente da República poderá convocar Ministro de Estado para participar da reunião do Conselho,
quando constar da pauta questão relacionada com o respectivo Ministério. § 2º - A lei regulará a
organização e o funcionamento do Conselho da República.
Art. 91. O Conselho de Defesa Nacional é órgão de consulta do Presidente da República nos assuntos
relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático, e dele participam como
membros natos: I - o Vice-Presidente da República; II - o Presidente da Câmara dos Deputados; III - o
Presidente do Senado Federal; IV - o Ministro da Justiça; V - o Ministro de Estado da Defesa; VI - o
Ministro das Relações Exteriores; VII - o Ministro do Planejamento. VIII - os Comandantes da Marinha,
do Exército e da Aeronáutica. § 1º - Compete ao Conselho de Defesa Nacional: I - opinar nas hipóteses de
declaração de guerra e de celebração da paz, nos termos desta Constituição; II - opinar sobre a decretação
do estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal; III - propor os critérios e condições de
utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional e opinar sobre seu efetivo uso,
especialmente na faixa de fronteira e nas relacionadas com a preservação e a exploração dos recursos
naturais de qualquer tipo; IV - estudar, propor e acompanhar o desenvolvimento de iniciativas necessárias
a garantir a independência nacional e a defesa do Estado democrático. § 2º - A lei regulará a organização
e o funcionamento do Conselho de Defesa Nacional.”
17
gerando automaticamente os seus efeitos e remetido a apreciação do Congresso
Nacional.
Quanto à função do Poder Legislativo ao controle do ato interventivo não lhe é
permitido emendar o direito expedido, mas tão somente rejeitá-lo ou aprová-lo
integralmente por decreto legislativo.
Não cabe apreciação do Legislativo quando for de acinte aos
princípios sensíveis e para prover a execução de lei federal, ordem ou
decisão judicial – arts. 34, incisos VI e VII. Nesses casos, descabe
apreciação por parte do Legislativo porque os critérios são
essencialmente técnico-jurídicos, ocorrendo o controle jurídico do
processo interventivo. Ele somente se inicia se houver requisição dos
órgãos judiciais ou se houver o provimento da representação do
Procurador-Geral da República.
No caso de descumprimento de lei federal, o pedido partirá do
Supremo Tribunal Federal; nos casos de descumprimento de ordem ou
decisão judicial, os pedidos poderão partir do Tribunal Superior
Eleitoral, do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal; no caso de quebra dos princípios sensíveis, o pedido será
encaminhado pelo STF.
Portanto, nos casos de acinte aos princípios sensíveis e para prover a
execução de lei federal, ordem ou decisão judicial, não há necessidade
de apreciação pelo Poder Legislativo. Entretanto, se o pedido partir do
STF para assegurar o livre exercício das funções do Poder Judiciário
de quaisquer das unidades judiciárias estaduais, segundo o art. 34,
inciso IV, terá de haver aprovação por parte do Poder Legislativo.
(grifos nossos) (AGRA, 2007:299-300).
Três são, então, as conseqüências do ato apreciado pelo Poder Legislativo,
segundo as palavras de LEWANDOWSKI (1994:132):
a)os parlamentares podem aprová-lo, autorizando a continuidade
da intervenção até o atingimento de seus fins; b)podem, de outro
lado, aprová-lo, suspendendo de imediato a medida, situação que
gerará efeitos ex nunc; c)podem, por fim, rejeitá-lo integralmente,
suspendendo a intervenção e declarando ilegais, ex tunc, os atos
de intervenção.
Nas situações que podem ser caracterizadas ou estabelecidas por questões
meramente da seara jurídica, tais sejam, a inexecução de lei federal, ordem ou decisão
judicial (art. 34, IV da CRFB/88), ou o desrespeito aos princípios constitucionais
sensíveis (34, VII da CRFB/88), ficará dispensada a apreciação por parte do Poder
18
Legislativo do decreto presidencial, se for suficiente a expulsão da norma jurídica que
esteja conturbando a supremacia constitucional.
Finalmente, quando as razões que justificaram a intervenção tiverem cessado,
as autoridades afastadas dos entes federativos, não havendo impedimento de nenhuma
ordem, retornarão aos seus cargos.
Quanto a figura do interventor, é interessante observar o trecho de AGRA
(2007:301):
O alcance da intervenção e das prerrogativas do interventor não pode
descurar dos princípios constitucionais impostos pelo ordenamento
jurídico. Não há, como no estado de sítio e no estado de defesa, uma
flexibilização dos direitos fundamentais ou uma excepcionalidade dos
direitos e garantias constitucionais.
O Estado Democrático de Direito é mantido em sua inteireza,
ocorrendo apenas a limitação da autonomia do ente federativo que
sofreu a intervenção. Os limites da intervenção são expostos
preponderantemente pela Constituição Federal e pelo decreto
presidencial que a estabelece.
A intervenção federal, diz ainda a doutrina, possui duas características: a
natureza política e a provisoriedade. Importante ressaltar que a doutrina ao se referir a
natureza política da intervenção federal a reduz a uma questão de discricionariedade,
não discutindo, portanto, as implicações e a contextualização política do ato.
SILVA NETO (2007:260) explica:
Quando se defende a natureza política do processo de intervenção,
está-se a firmar, por outro prisma, o entendimento de que os critérios
sobre os quais se movimenta a autoridade responsável pela expedição
do decreto são essencialmente políticos. Utiliza-se, portanto, do juízo
da conveniência e oportunidade da medida. Conveniência é signo que
importa na aferição de juízo de valor político acerca da efetiva
necessidade no adotar-se a providência. Oportunidade, por outro lado,
significa examinar o momento político da sua execução. A autoridade
responsável pelo início da intervenção não usa um ou outro, mas os
dois. Entrecruzam-se conveniência e oportunidade para tornar o mais
acertado possível a decisão política atinente à intervenção. Outrossim,
o §4º do art. 36 salienta que ‘cessados os motivos da intervenção, as
autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo
impedimento legal’. É a característica referente à provisoriedade da
intervenção. Medida excepcionalíssima que vulnera as autonomias
estadual e municipal, o procedimento interventivo deve durar
19
rigorosamente o tempo apto ao retorno da normalidade institucional
da entidade federativa atingida.
É importante ressaltar que a decretação deste instituto jurídico representa um
momento de crise institucional tão sério, que ela configura um limite circunstancial ao
Poder Constituinte Derivado de emendar a Constituição (art. 60, §1º da CRFB/8823).
Esta medida de exceção não estabelece uma hierarquia entre os entes
federativos. Quando a União intervém nos Estados-Membros, o Congresso Nacional
referenda, ou não, através de um Decreto Legislativo (art. 49, IV da CRFB/8824), o
decreto de intervenção (art. 84, X da CRFB/8825) do Presidente da República. Por
simetria ocorre o mesmo na intervenção estadual (art. 35 da CFRB/88) (AGRA, 2007).
A Intervenção Federal diferentemente dos institutos do Estado de Defesa (art.
136 da CRFB/8826) e do Estado de Sítio (arts. 137 a 141 da CRFB/8827) não é uma
23 “Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: I - de um terço, no mínimo, dos
membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal; II - do Presidente da República; III - de mais
da metade das Assembléias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas,
pela maioria relativa de seus membros. § 1º - A Constituição não poderá ser emendada na vigência de
intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio.”
24 “Art. 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional: IV - aprovar o estado de defesa e a
intervenção federal, autorizar o estado de sítio, ou suspender qualquer uma dessas medidas;”
25 “Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: X - decretar e executar a intervenção
federal;”
26 “Art. 136. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa
Nacional, decretar estado de defesa para preservar ou prontamente restabelecer, em locais restritos e
determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçadas por grave e iminente instabilidade institucional
ou atingidas por calamidades de grandes proporções na natureza. § 1º - O decreto que instituir o estado de
defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará, nos
termos e limites da lei, as medidas coercitivas a vigorarem, dentre as seguintes: I - restrições aos direitos
de: a) reunião, ainda que exercida no seio das associações; b) sigilo de correspondência; c) sigilo de
comunicação telegráfica e telefônica; II - ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos, na
hipótese de calamidade pública, respondendo a União pelos danos e custos decorrentes. § 2º - O tempo de
duração do estado de defesa não será superior a trinta dias, podendo ser prorrogado uma vez, por igual
período, se persistirem as razões que justificaram a sua decretação. § 3º - Na vigência do estado de defesa:
I - a prisão por crime contra o Estado, determinada pelo executor da medida, será por este comunicada
imediatamente ao juiz competente, que a relaxará, se não for legal, facultado ao preso requerer exame de
corpo de delito à autoridade policial; II - a comunicação será acompanhada de declaração, pela
autoridade, do estado físico e mental do detido no momento de sua autuação; III - a prisão ou detenção de
qualquer pessoa não poderá ser superior a dez dias, salvo quando autorizada pelo Poder Judiciário; IV - é
vedada a incomunicabilidade do preso. § 4º - Decretado o estado de defesa ou sua prorrogação, o
Presidente da República, dentro de vinte e quatro horas, submeterá o ato com a respectiva justificação ao
Congresso Nacional, que decidirá por maioria absoluta. § 5º - Se o Congresso Nacional estiver em
recesso, será convocado, extraordinariamente, no prazo de cinco dias. § 6º - O Congresso Nacional
apreciará o decreto dentro de dez dias contados de seu recebimento, devendo continuar funcionando
enquanto vigorar o estado de defesa. § 7º - Rejeitado o decreto, cessa imediatamente o estado de defesa.”
20
excepcionalidade ao Estado Democrático de Direito visto que a Constituição não prevê
para aquele instituto a possibilidade de suspensão de direitos ou garantias fundamentais.
A intervenção será uma restrição a autonomia federativa de um ente (AGRA, 2007).
Ocorre, porém, que nada impede o ordenamento constitucional que sendo
insuficiente a intervenção, passem a ser decretados os Estados de Defesa e de Sítio.
Segundo a doutrina, já citada, as formas de controle da intervenção são de duas
espécies: política e jurídica. A primeira refere-se aquele realizado pelo Poder
Legislativo dos atos interventivos postos a sua apreciação. A segunda, efetuada pelo
Poder Judiciário, ocorre pela verificação do respeito a autonomia federativa e dos
mandamentos constitucionais.
4.1.ADIN Interventiva
27 “Art. 137. O Presidente da República pode, ouvidos o Conselho da República e o Conselho de Defesa
Nacional, solicitar ao Congresso Nacional autorização para decretar o estado de sítio nos casos de: I -
comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovem a ineficácia de medida
tomada durante o estado de defesa; II - declaração de estado de guerra ou resposta a agressão armada
estrangeira. Parágrafo único. O Presidente da República, ao solicitar autorização para decretar o estado de
sítio ou sua prorrogação, relatará os motivos determinantes do pedido, devendo o Congresso Nacional
decidir por maioria absoluta.
Art. 138. O decreto do estado de sítio indicará sua duração, as normas necessárias a sua execução e as
garantias constitucionais que ficarão suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da República
designará o executor das medidas específicas e as áreas abrangidas. § 1º - O estado de sítio, no caso do
art. 137, I, não poderá ser decretado por mais de trinta dias, nem prorrogado, de cada vez, por prazo
superior; no do inciso II, poderá ser decretado por todo o tempo que perdurar a guerra ou a agressão
armada estrangeira. § 2º - Solicitada autorização para decretar o estado de sítio durante o recesso
parlamentar, o Presidente do Senado Federal, de imediato, convocará extraordinariamente o Congresso
Nacional para se reunir dentro de cinco dias, a fim de apreciar o ato. § 3º - O Congresso Nacional
permanecerá em funcionamento até o término das medidas coercitivas. Art. 139. Na vigência do estado de
sítio decretado com fundamento no art. 137, I, só poderão ser tomadas contra as pessoas as seguintes
medidas: I - obrigação de permanência em localidade determinada; II - detenção em edifício não
destinado a acusados ou condenados por crimes comuns; III - restrições relativas à inviolabilidade da
correspondência, ao sigilo das comunicações, à prestação de informações e à liberdade de imprensa,
radiodifusão e televisão, na forma da lei; IV - suspensão da liberdade de reunião; V - busca e apreensão
em domicílio; VI - intervenção nas empresas de serviços públicos; VII - requisição de bens. Parágrafo
único. Não se inclui nas restrições do inciso III a difusão de pronunciamentos de parlamentares efetuados
em suas Casas Legislativas, desde que liberada pela respectiva Mesa.
Art. 140. A Mesa do Congresso Nacional, ouvidos os líderes partidários, designará Comissão composta
de cinco de seus membros para acompanhar e fiscalizar a execução das medidas referentes ao estado de
defesa e ao estado de sítio.
Art. 141. Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da
responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes. Parágrafo único. Logo que cesse
o estado de defesa ou o estado de sítio, as medidas aplicadas em sua vigência serão relatadas pelo
Presidente da República, em mensagem ao Congresso Nacional, com especificação e justificação das
providências adotadas, com relação nominal dos atingidos e indicação das restrições aplicadas.”
21
A ação direta de inconstitucionalidade interventiva (art. 36, III da CRFB/8828)
é uma modalidade de controle de constitucionalidade concreto e concentrado para um
conflito federativo, proposta no nível federal pelo chefe do Ministério Público Federal,
o Procurador Geral da República, quando um dos Estados-membros desrespeita lei
federal ou um dos princípios constitucionais sensíveis (art. 34, VII da CRFB/8829)
(MENDES, 2008).
Apesar de o texto constitucional falar em “representação”, trata-se de
verdadeira ação. Por isso hoje se chama ação direta interventiva.
A ação direta interventiva não desencadeia um processo objetivo, ou seja, a
análise da constitucionalidade da lei em tese. Mas sim, provoca a jurisdição para
solucionar um conflito/lide federativo entre a União e os Estados (ou Distrito Federal).
A função do Supremo Tribunal Federal não é a de responder uma consulta (ou
afastar lei em tese), mas de decidir um caso concreto (MENDES, 2008).
É importante observar que a conseqüência do provimento da representação (ou
procedência da ação direta interventiva) não é a nulidade do ato contaminado, pois o
que se quer é a decretação da intervenção federal no Estado.
O legitimado para figurar no pólo ativo é a União Federal representada pelo
Procurador Geral da República. No pólo passivo, o legitimado é o Estado membro ou
Distrito Federal.
Hoje, o procedimento da ação interventiva está regulado pela Lei n. 4337/64. O
Procurador Geral da República – PGR, ao ter conhecimento do ato que viola os
princípios constitucionais sensíveis pode propor a ação direta interventiva. Caso seja
mediante representação do interessado e o PGR entender ser relevante, tem ele o prazo
de 30 dias para ingressar com a ação direta interventiva perante o Supremo Tribunal
Federal.
28 “Art. 36. A decretação da intervenção dependerá: III de provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de
representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do art. 34, VII, e no caso de recusa à
execução de lei federal.”
29 “Art. 34. A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: VII - assegurar a
observância dos seguintes princípios constitucionais: a) forma republicana, sistema representativo e
regime democrático; b) direitos da pessoa humana; c) autonomia municipal; d) prestação de contas da
administração pública, direta e indireta. e) aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos
estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e
nas ações e serviços públicos de saúde.”
22
Proposta a ação, o relator ouve em 30 dias os órgãos que elaboraram ou
praticaram o ato. Após a oitiva dos órgãos, o relator tem 30 dias para apresentar o
relatório, que remeterá a todos os Ministros. O julgamento será feito pelo Pleno,
podendo fazer uso da palavra o Procurador Geral da República e o órgão que emitiu o
ato.
Se a decisão for pela inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal
comunica aos órgãos interessados e requisita ao Presidente da República a decretação da
intervenção federal, estando este obrigado a cumpri-la, sob pena de responder por crime
de responsabilidade com base no art. 12 da Lei 1079/5030.
A Lei 4337/64 expressamente proíbe a concessão de liminar. Tal provimento
é incompatível com a ação interventiva, porque a suspensão liminar do ato impugnado
transformaria em ação direta de inconstitucionalidade, o que é fiscalização abstrata e
não concreta (MENDES, 2008).
Este é, portanto, o escopo doutrinário da intervenção federal no Brasil, ou seja,
instituto jurídico de manutenção da supremacia constitucional diante de desequilíbrios
federativos e desrespeitos aos princípios fundamentais a cidadania.
Esse é, pois, o panorama do que a doutrina constitucional brasileira, e como tal
o campo jurídico brasileiro, representam acerca do federalismo e da intervenção federal.
5.. Federalismo, Intervenção Federal e Cidadania: o que a doutrina não diz
Após termos apresentado o que a doutrina jurídica brasileira expõe acerca do
federalismo e da intervenção federal, propomos uma reflexão sobre os pontos que a
doutrina no Brasil nem sequer toca.
Uma primeira constatação acerca do federalismo deve ser feita: a federação,
através da descentralização dos poderes soberano e administrativo em entidades
geográficas autônomas, torna-se um pressuposto para o regime democrático, pois
possibilitaria a gestão da coisa pública, respeitando-se as peculiaridades, interesses e
particularidades regionais e locais.
30 “Art. 12. São crimes contra o cumprimento das decisões judiciárias: 1 - impedir, por qualquer meio, o
efeito dos atos, mandados ou decisões do Poder Judiciário; 2 - Recusar o cumprimento das decisões do
Poder Judiciário no que depender do exercício das funções do Poder Executivo; 3 - deixar de atender a
requisição de intervenção federal do Supremo Tribunal Federal ou do Tribunal Superior Eleitoral; 4 -
Impedir ou frustrar pagamento determinado por sentença judiciária”.
23
Cidadania, por sua vez, que pode ser traduzida como mínimo jurídico comum a
todos que estão ligados juridicamente a um Estado, consubstancia um conjunto de
direitos e deveres que disciplinam a relação do Estado com seu povo.
O Estado contemporâneo, pós revoluções liberais burguesas, a partir da idéia
de igualdade jurídica universal – todos são iguais perante a lei e na aplicação da lei-,
compromete-se a atribuir a todos aqueles que se vinculam a ele, um mínimo jurídico
comum, composto de um conjunto de direitos e deveres atribuídos a todos em razão do
vínculo político de cada sujeito com este mesmo Estado. Assim, a cidadania, a qual é
inerente a idéia de universalidade e, portanto de igualdade jurídica, é um fenômeno
próprio das sociedades capitalistas contemporâneas, pois é um meio do Estado garantir
a todos aqueles que a ele se vinculam e por isto são titulares de deveres que, em última
análise, financiam este mesmo Estado, um patamar mínimo de igualdade, já que a
sociedade de mercado, pela sua própria lógica, gera desigualdade (MARSHALL, 1967).
Assim, a cidadania pode ser conceituada como o mínimo jurídico, composto de
direitos e deveres, comum a todos os que estão vinculados politicamente a determinado
Estado. Em outras palavras, cidadania é um conjunto de direitos e deveres atribuído a
todos os que estão vinculados a um determinado Estado por um critério de vinculação
política, em razão deste mesmo vínculo, que é a nacionalidade. O mínimo jurídico
comum atribuído a todos os nacionais pela cidadania é composto, segundo
MARSAHALL(1967) por três grupos de direito: os direitos civis são derivados do
direito de liberdade e devem ser garantidos pelos tribunais, os direitos políticos que
deve ser garantido pelo acesso universal às urnas; e os direitos sociais que devem ser
garantidos pelas políticas públicas.
Associarmos, desta forma, uma concepção contemporânea de federação e de
cidadania, pela autonomia nas mãos das regiões, se viabiliza o exercício democrático do
poder, e como tal da cidadania. O federalismo existe, podemos dizer, para a proteção
dos direitos do cidadão, do exercício do poder pelo cidadão.
Partindo-se deste pressuposto, a intervenção federal é meio protetivo ao
equilíbrio federativo, que apesar de suspender a autonomia dos entes federativos, a
suspende, para viabilizar os direitos do cidadão, visto que esta autonomia não está, por
alguma circunstância, sendo capaz de promovê-los.
24
Ocorre que, a doutrina jurídica brasileira quando representa a intervenção
federal, através da categoria ‘medida drástica’ remete este instituto jurídico a uma
memória histórico-política brasileira de momentos autoritários, o que leva a esses
doutrinadores a não interpretá-la como uma categoria própria à defesa da democracia.
Em suas interpretações, se sopesam os valores envolvidos – a não suspensão
das autonomias e a defesa da cidadania - escolhem sempre a manutenção das
autonomias em detrimento dos direitos do cidadão, por considerarem medida menos
grave. Na verdade, a doutrina jurídica brasileira não vislumbra que a intervenção
federal, numa ambiência de estabilidade democrática, é, antes de tudo, o último remédio
de que podem se valer os cidadãos para verem seus direitos respeitados quando
ineficientes as gestões de seus estados membros.
Sendo assim, a doutrina jurídica brasileira não diz que o principal papel da
intervenção federal no Estado Democrático de Direito é proteger o pacto federativo, e
como tal, a constituição federal, no intuito de se ver respeitada a própria razão de
existência do Estado: a Cidadania.
Bibliografia
AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional. 3. ed. Rio de Janeiro:
Forense, 2007.
AMORIM, Maria Stella; KANT DE LIMA, Roberto; TEIXEIRA MENDES, Regina Lúcia
(Org.). Ensaios sobre a Igualdade Jurídica: Acesso à Justiça Criminal e Direitos de Cidadania
no Brasil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005.
BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria geral do federalismo. Belo Horizonte:
FUMARC /UCMG, 1982.
BARROSO, Luís Roberto. Constituição da República Federativa do Brasil Anotada.
São Paulo: Saraiva, 1998.
BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 17. ed. São Paulo: Malheiros,
2005.
BOURDIEU, Pierre. A Economia das Trocas Simbólicas. São Paulo: EDUSP, 1992.
25
CAMARGOS, Luciano Dias Bicalho. ANJOS, Marcelo Adriano Menacho dos. Tipos
de Estado. In: FERREIRA, Lier Pires. GUANABARA, Ricardo. JORGE, Vladimyr
Lombardo (orgs). Curso de Teoria Geral do Estado. Rio de Janeiro: Elsevier: 2009, pp.
75-100.
CARVALHO, José Murilo de. Os bestializados. São Paulo: Companhia das Letras,
1991.
CARVALHO, Ernani Rodrigues de. “A Judicialização da política no Brasil:
apontamentos para uma nova abordagem.” Trabalho apresentado no 4º. Encontro
Nacional da ABCP – painel 1 - Direito, Justiça e Controle – PUC Rio de Janeiro – 21-
24 julho 2004. Disponível em
<http://www.cienciapolitica.org.br/Ernani_Carvalho.pdf>. Acesso em 06.jan. 2005.
CHACON, Vamireh. Vida e Morte das Constituições Brasileiras. Rio de Janeiro:
Forense, 1987.
CRETELLA JÚNIOR, José. Elementos de Direito Constitucional. 2. ed. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1998.
DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo:
Saraiva, 2009.
FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do Processo Legislativo. 3. ed. São Paulo:
Saraiva, 1995.
FERREIRA, Lier Pires. GUANABARA, Ricardo. JORGE, Vladimyr Lombardo (orgs).
Curso de Teoria Geral do Estado. Rio de Janeiro: Elsevier: 2009.
FRANCO, Afonso Arinos de Mello. Curso de Direito Constitucional Brasileiro. Rio de
Janeiro: Forense, 1968.
HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. O Federalista. Campinas:
Russell, 2003.
HORTA, Raul Machado. Estudos de Direito Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey,
1995.
____. Direito constitucional. Belo Horizonte. Del Rey, 2002.
26
LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 10. ed. São Paulo: Método,
2006.
LEWANDOWSKI, Enrique Ricardo. Pressupostos materiais e formais da intervenção
federal no Brasil. São Paulo: RT, 1994.
LÉVI-STRAUSS, Claude. O Pensamento Selvagem. 2. ed. São Paulo: Ed. Nacional,
1976.
LIJPHART, Arend. Modelos de democracia – Desempenho e padrões de governo em
36 países. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003.
LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na História lições introdutórias. São Paulo:
Max Limonad, 2000.
MARSHALL, T.H. Cidadania, Status e classe social. Rio de Janeiro: Zahar, 1967.
MENDES, Gilmar Ferreira. COELHO, Inocêncio Mártires. BRANCO, Paulo Gustavo.
Curso de Direito Constitucional. 3.ed.São Paulo: Saraiva, 2008.
MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 19. ed. São Paulo: Atlas, 2006.
MORAES, Guilherme Peña de. Teoria da Constituição. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2004.
MORAES, Humberto Peña de. Do processo interventivo, no contorno do Estado
federal. In: Tavares, André Ramos. LENZA, Pedro. ALARCÓN, Pietro de Jésus Lora.
(coord.). Reforma do Judiciário: Emenda Constitucional n. 45/04. São Paulo: Método,
2005.
SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 27. ed. São Paulo:
Malheiros, 2006.
____. Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 1998.
SLAIBI FILHO, Nagib. Anotações à Constituição de 1988: Aspectos Fundamentais. 4.
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1989.
27
TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva,
2007.
TEIXEIRA MENDES, Regina Lúcia. Dilemas da Decisão Judicial, as Representações
de Juízes Brasileiros sobre o Princípio do Livre Convencimento do Juiz e outros
Princípios Correlatos. Tese de Doutorado. Programa de Pós-graduação em Direito da
Universidade Gama Filho: Rio de Janeiro, 2008.
WEBER, Max. Economía y Sociedad. Esbozo de una Sociologia Compreensiva. vol. II.
México e Buenos Aires: Ed. Fondo de Cultura Economica, 1964.
ZIMMERMANN, Augusto. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro: Lumen
Juris, 2002.