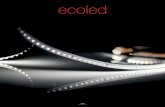Negócio jurídico: uma releitura à luz dos princípios constitucionais
Um Projéctil Sonoro por detrás da Luz
-
Upload
grupolusofona -
Category
Documents
-
view
0 -
download
0
Transcript of Um Projéctil Sonoro por detrás da Luz
1
UM PROJÉCTIL SONORO POR DETRÁS DA LUZ
No princípio era o Verbo e o Verbo fez-se luz (a partir do Evangelho de S.João)
1. O Som e a Imagem em Movimento: Fundamento
A imagem em movimento é sempre acompanhada de som, caótico ou organizado, no
ponto de vista da acústica, a imagem reflecte através do som a sua forma de vida, a sua
direcção e a sua intervenção na superfície do mundo. A matriz desta agitação é sempre
sonora. Pelo facto desta agitação ser em cada observador o fundamento da vida, indica
não apenas a fluida e invisível forma do som mas também o território donde arranca e
por onde passa. O dilema central nas primeiras duas décadas do século XX na questão
do som com a imagem fundou-se, sobretudo, na relação do cinema com a arte e o
cinema como representação visual do acontecimento, ou seja, uma narrativa que se
aproximasse das narrativas quotidianas e individuais ou colectivas. A passagem do
cinema mudo a sonoro ou a inserção do som na imagem em movimento, música ou sons
naturais, desviou o cinema da constituição de outro ponto de vista sobre o real e ergueu
o quotidiano urbano ou rural a uma narrativa ficcional. Mas para que esta narrativa
acontecesse e fosse imersiva, queremos dizer, criadora de uma ilusão ou metáfora de
que o acontecimento tinha ocorrido ou está a ocorrer, tinha que se aproximar da vida, e
esta, como sabemos, é sonora. O som é então pensado, na sua sincronia com a imagem
como o elemento vital de construção dessa simulação, por tangibilidade à vida e por
imersão, qualidade de qualquer som. A audição afasta-se qualitativamente da visão
nessa qualidade: o modo como as ondas se propagam e vencem obstáculos produz em
cada ouvinte o espectro da forma, incluindo o seu volume. O objecto sonoro é por isso
imersivo, ao afectar-nos e centrar-nos no acontecimento em escuta. O fundamento
inicial é o mesmo que leva à captação e reprodução de imagens em 3D1. A
estereoscopia deseja produzir não apenas a imersão mas uma interacção no
acontecimento.
1 É na década de 40 e 50 do século passado, ainda longe da tecnologia capaz de executar esta acção, que começam os primeiros ensaios sobre o 3D no cinema. E tal como aconteceu com a inclusão do som, também aqui a ideia foi afastada por desvirtuar a noção de cinema falado. Um exemplo: 3 D Film and Cyclopic Effect, de Gunther Anders-Stern, publicado em Philosophy and Phenomenological Research, Vol. 15, No. 2. (Dec., 1954), pp. 295-298.
2
A raiz deste problema em constante resolução técnica, já que a tecnologia se constituiu,
sobretudo desde o século XVIII, como a ideologia de eliminação do que separa o sujeito
do mundo e reconstrução de modos de a ele acedermos. Esta ideologia podemos
encontrá-la com maior vigor a partir da invenção dos aparelhos de gravação e
reprodução sonora, como o fonógrafo e o gramofone. A possibilidade de escutar o
passado, ou seja, a possibilidade de escutar no presente o acontecimento, ergue novas
camadas de acesso ao real e torna-o vinculado ao sujeito. O acontecimento torna-se
tempo sem a indicação de ser pretérito mas qualquer coisa que está a acontecer. Claro
que apenas nos apercebemos disso, enquanto escutantes, por emersão, por distanciação
à fonte sonora que só foi possível “reconhecer” pelo aparecimento dos aparelhos de
gravação e reprodução. O tempo narrativo é aqui precioso, já que quando falamos de
som temos que obrigatoriamente falar de tempo. Porém, o tempo aqui não é um tempo
linear mas constituído por diferentes camadas. Se escutarmos com atenção, não foi
apenas o cinema que se alterou com a sincronização mas todas as imagens e, sobretudo,
a literatura. As grandes obras da primeira metade do século XX reflectem essa torsão do
tempo e essa capacidade de reconstruir no presente o acontecimento. Ouça-se, por
exemplo, a Recherche de Proust, o Ulisses de James Joyce, Berlin Alexanderplatz, de
Alfred Doblin, O Som e a Fúria de Faulkner, só para citar alguns. Nestas obras o que
encontramos não são tempos lineares, de um ponto do passado para o presente ou
futuro, mas camadas de tempo que se sucedem e a que nós leitores acedemos como se
fossem prolongamentos, passagens e, por isso, coisas vivas. O que estes autores fizeram
em literatura também aconteceu noutras artes, e continua a acontecer, agora
constituindo-se o fragmento como uma categoria estética.
2. O que o Som nos Leva a Ver
Ao contrário da imagem ou da sua representação que se posiciona num campo para
«colher» linhas de visibilidade e, nestas, objectos, o som potencia uma agregação de
territórios com objectos a reconstruirem ou criarem massas sonoras. A separação entre
as linhas de campo e o som no cinema «mudo», já que o som era concretizado em sala,
através de música tocada ao vivo, ou ausente, constituía um impasse ao reconhecimento,
a partir da percepção visual, ao que entendemos por real, o lugar da experiência e da
existência. A partir da década de 1920 tudo mudou: o desejo de tornar a imagem em
movimento como uma analogia da existência e não uma metáfora ou metonímia artística
da mesma, funda-se desde os primeiros trabalhos de Edison, de sincronização de
3
imagem e som. Sincronizar não é mais do que unir, no mesmo espaço de elocução, o
tempo que é simultâneo a uma determinada acção e sua produção sonora.
Na passagem dos anos 20 para os 30, no século passado, houve o crescimento do
interesse pela escuta e pelo ouvido, isto é, tornaram-se temas a que não era alheio o
avanço técnico nestes domínios. As causas primeiras podem ser a rádio, enquanto meio
e nova tecnologia entendida como mutante no interior das comunidades, bem como a
«trilha sonora» agora unida à película fílmica. Vários filósofos ou cientistas que
continuaram a interessar-se pela escuta e pela música editam os primeiros textos sobre o
tema. Destacam-se Adorno, Gunther Anders (também, Stern) e Georg von Békésy2, só
para citar alguns. A questão central partia do elemento fenomenológico do objecto
sonoro, importante também para o progresso da sincronização da imagem com o som: a
imersão provocada pela música, per si, constitui-se numa paisagem «exterior» ao
mundo. Esta noção de paisagem desvinculada do mundo foi importante no
manuseamento do som para imagem já que era importante associar à faixa sonora não
apenas sons naturais ou de cena mas também música. Os primeiros permitiriam
constituir reacções identitárias, fugindo assim de uma subjectivação própria da escuta
musical que tornaria caótico o sentido geral. Assim, torna-se aqui importante a palavra
ressonância, tal como foi entendida por Veit Erlmann, na sua relação com a razão:
«resonance was inextrincably linked with presence the presence of na idea, emotion, or
object»3. Para Erlmann, a resposta de Gunther Anders a uma pergunta formulada
décadas mais tarde por Peter Sloterdijk (associada também a outra pergunta importante
de Hannah Arendt: «Where are we when we think», in The Life of the Mind), «Where
are we when we listen to music» será: when listening to music we are out of the world
and in music4, ou «A indicação do local permanece vaga; apenas é certo que nunca se
pode estar completamente no mundo quando se está a ouvir música»5 Isto significa que
o sujeito funda-se, desde tenra idade, na capacidade de se ouvir a si próprio e assim
2 Theodor W. Adorno: “On the Fetish-Character in Music and the Regression of Listening”(1938), in
Essays on Music, (Berkeley: University of California Press, 2002); Gunther Anders: Philosophische Utersuchungen zu musikalischen Situationen (Philosophical Inquiries into Musical Situations), 1929-1930, citado em Veit Erlamann, Reason and Resonance, (New York: Zone Books, 2010), pg. 308 e sgs; Martin Heidegger: Sein und Zeit (Being and Time); Georg von Békésy: “Zur Theorie des Horens: die Schwingungsform der Basilarmembran” (1928), Experiments in Hearing, (New York; MacGraw-Hill, 1960) 3 Veit Erlmann, Reason and Resonance – A History of Modern Aurality, (NY: Zone Books, 2010), pg. 311.
4 Veit Erlmann, Reason and Resonance – A History of Modern Aurality, (NY: Zone Books, 2010), pg. 312. 5 Peter Sloterdijk, O Estranhamento do Mundo, (Lisboa: Relógio d’Água, 2008), pg.179.
4
constituir uma voz interior (inner voice), que se prende à sua identidade6. Temos
portanto uma dupla situação derivada da escuta de sons: uma subjectivação a partir da
escuta de música, e uma saída desse espaço interior para o mundo a partir dos restantes
sons que têm uma hermenêutica geral, a partir de mapeamentos já definidos. À luz deste
confronto de situações, a imagem em movimento apenas poderia progredir se houvesse
um balanço entre o ouvido estético e o ouvido ético (enquanto ouvido político, agente).
Qualquer teoria da escuta, enquanto teoria da experiência apropria-se assim dos modos
de recepção e reacção do humano aos diferentes sons, sem esquecer o silêncio.
Devemos, no entanto, introduzir a situação do homem naquela época: se por um lado
começavam a pensar o mundo a partir da reprodutibilidade técnica (o célebre texto, A
Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica, de Walter Benjamin aparece,
como 1ª versão, em 1936), por outro, estes aparelhos começaram a modificar as noções
que tínhamos de espaço e tempo: é distinta a experiência dos objectos a partir da sua
exposição na superfície do mundo, da experiência dos objectos reproduzidos, como
acontece com o som. E é sobretudo, neste caso, que o espaço ganha «visibilidade»: o
espaço é um «corpo» em expansão, ubíquo não a partir de si mas de aparelhos como o
rádio. Por esta razão, o cinema tinha que mais tarde ou mais cedo introduzir estas
noções de espaço e tempo e isso só poderia ter sido feito a partir da sincronização do
som com a imagem em movimento. O ser da ubiquidade dá-se ontologicamente a partir
do uso e recepção dos aparelhos de reprodução. E torna-se mais “evidente” quando o
som, música ou ruído, é colado numa faixa de celuloide ou em disco (de vinil ou outro
suporte). Todos sentimos que somos finalmente ubíquos quando num lugar determinado
(que se mantém inalterável no tempo) podemos aceder a aplicações e meios de
comunicação que nos aproximam ou fazer cair noutros lugares, tornando-nos
omnipresentes ou afins de várias camadas de tempos e espaços. As qualidades que
fundam estas novas percepções do real e que estão também no domínio da
sincronização são as mesmas que encontramos nos novos dispositivos de
entretenimento e comunicação: desterritorialização, a presença real do distante e a
dissolução das estruturas físicas e materiais de sentido (como a passagem do livro ao
hipertexto).
3. O Som, a Voz e os Meios
6 Sloterdijk, no mesmo artigo, convoca mesmo a noção de cogito sonoro para fundar o ser e o estar. Um
cogito que coage sobre o cogito lógico cartesiano.
5
3.1. Elementos Críticos
Levantam-se aqui dois elementos críticos unidos desde sempre ao som: a música e a
voz, separados ou em junção. Na verdade o que une estes elementos em constante
dispersão é o som que, como vimos funda, o ente e o objecto activo. Mas o som na
criação humana, no cinema ou na música, quer ser mais do que um aglomerado de
ondas provenientes de uma fonte sonora a caminho de um ouvido, quer ser o indício de
uma experiência com sentido ou fundante de uma experiência com sentido. A primeira
situação torna um objecto sonoro o activador de uma lembrança, no entender de Freud,
e a segunda transforma o som num sentido activo que regula a hermenêutica da
imagem. Se na primeira o som ou uma expressão sonora (voz, música ou ambas) só
pode ser considerado num processo involuntário de conhecimento, já que está fora da
intencionalidade do sujeito mas não do «autor» da obra; a segunda por processo
voluntário, ou não, funda o sentido para a imagem, conduzindo o sentido prioritário de
uma possível hermenêutica da visibilidade. A improbabilidade da comunicação é aqui
do domínio da memória ou da experiência, já que o afecto sonoro pode desencadear
«phantom images» que não estavam previstas à partida. Este efeito apenas se elimina
quando o som, devidamente testado, se projecta sempre em determinadas emoções ou
situações já realmente experienciadas.
É antigo o dilema na civilização ocidental entre o som (voz) e a imagem: ouve-se em S.
Paulo na assertiva função da escuta e da fé. Há muitos mais exemplos sobre a relação do
som com a acção e a experiência humanas, mas na era da reprodutibilidade técnica que
importância tem ainda a escuta num ecran iluminado por imagens que refundam o real?
E que diferenças se instalam quando o som deixa de ser o do analógico real e passa a ser
uma inserção musical ou uma música que desloca a cena para outras experiências
sensoriais no espectador? E quando se instala o silêncio, entendido aqui como tempo a
ser preenchido, do mesmo modo que se preenche o espaço com a pintura?
3.2. A Voz Sonora
For a history of sound, then, epic tales of the ancient world like the Iliad are crucial. They remind us that
civilization can be sculpted not only from the written or printed page, but also from something as
democratic and free as the noise of human speech.
David Hendy, A Human History of Sound and Listening, (London: Profile Books, 2013), pg.54
6
Hearing even constitutes the primary and authentic openness of Da-sein for its ownmost possibility of
being, as in hearing the voice of the friend whom every Da-sein carries with it. Da-sein hears because it
understands.
Martin Heidegger, Being and Time, (Albany: State University of NY Press, 1996), pg.153.
Por estarmos habituados que estamos há projecção dos nossos olhos sobre o real,
apagam-se involuntariamente em nós os sons, como se caíssem para uma matriz sonora
que os guarda em memória para futuros mapeamentos ou indícios significantes. Não nos
demos conta, significativamente, do que seria o futuro do auditório depois da Revolução
Industrial; também não nos mereceu, no tempo, qualquer teleologia a invenção dos
aparelhos de gravação e reprodução nem a sua electrificação, dos instrumentos e do
corpo. Aqui chegados talvez seja importante encontrar no tempo passado alguns
indícios de alterações que hoje nos são vorazes. Não interessa tanto saber que
importância tiveram os equipamentos de gravação e reprodução sonoras para a
normalização de uma fonética linguística e o esbatimento das margens onde se situavam
dialectos e regionalismos, mas sim perceber o que alterou no humano a passagem de
uma imersão, pré-fonografia, para uma emersão onde é possível «escutar» todos os sons
e identificar com eles fontes sonoras ou «fantasmas».
O meio urbano tem vindo, desde a criação das cinturas industriais, a constituir-se como
o lugar das comunidades. O despovoamento das zonas rurais que se deu por força da
industrialização e aumento significativo da área de serviços nas grandes cidades,
esvaziou as pequenas comunidades e erodiu muito do que era considerada a tradição
oral dos povos. De uma comunidade pautada pela construção do tempo e do espaço a
partir do julgamento auditivo, passamos para a polis coberta por camadas de sons,
mecânicos, eléctricos e protocolares (como os do vozeamento). O ruído, ou o que aqui
entendemos por esta palavra, foi sobretudo uma aspiração da cidade, entre o século XIX
e o princípio do século XX, já que este ruído significava progresso assente na
industrialização e mecanização da vida e das acções. Nenhum político queria ver a sua
cidade afastada deste desenvolvimento que deveria atingir todos os seus habitantes. Só
com a criação de máquinas timpânicas como a de Edison, e por emersão, nos demos
conta que era potente o ruído das máquinas e, sobretudo, que alteravam os modos como
comunicamos e nos damos a conhecer.
Compreender isso nesse tempo era impossível. Porém o uso do fonógrafo na academia e
no estudo das línguas, expressões linguísticas e formas de falar, adverte-nos para a
dissolução de fronteiras linguísticas tanto como territoriais, que iremos entender, e foi
7
há menos de um século, com as funcionalidades da rádio e mais tarde de outros meios
de comunicação, normalmente em rede, como a internet. O que mais de maravilhoso
aconteceu com a invenção dos aparelhos de gravação e reprodução (que hoje em dia
existem em todos os dispositivos) foi a possibilidade de nos distanciarmos do
acontecimento, no tempo em que é produzido, para o podermos analisar enquanto
fenómeno. Claro que há uma diferença abissal entre a análise de um objecto sonoro e
visual. O som, unido a um movimento de um objecto ou ser num determinado espaço,
não cessa por imposição ou vontade humana, ele morre-se na superfície do mundo. Já a
imagem enquanto aparição da luz que releva (revela) opacidades facilmente se mata e
disseca: a fenomenologia pode ser aqui total mas apenas parcial nos objectos sonoros. E
talvez por esta parcialidade, a que podemos unir a invisibilidade, torna o mundo sonoro
«fantástico».
É imensa a bibliografia que se fez desde os fins do século XIX em torno da técnica, com
especial incidência nos últimos anos na tecnologia do som. Destacam-se aqui dois temas
de importância vital para o individuo contemporâneo: a voz (e o vozeamento) e a
identidade (territorial ou outra) a partir do som. Desde os fins do século XIX temos
assistido a uma transferência e erosão de alguns sentidos que na evolução do homem
foram muito importantes. Se a erosão do táctil se acentuou muito desde o aparecimento
da escrita e ainda mais com a invenção de aparelhos de reprodução da escrita, no caso
da audição houve uma transferência entre matrizes sonoras: o plano do oral transferiu-se
da presença para a ausência com os meios de comunicação à distância. Não interessa
aqui o desvio para a escrita oral. Edgar Allan Poe num conto seu já tinha analisado o
homem urbano como aquele que é simultaneamente incluso e excluso da comunidade
citadina. Em «Um Homem na Multidão», Poe aproxima-se do homem urbano
reconhecendo neles movimentos e gestos, ocupação do espaço ou desvio de obstáculos
mas sem voz. No entanto, sabemos que o vozeamento nunca foi tão intenso como na
cidade, daquele tempo e de agora. No vozeamento reconhecemos a vivacidade da
cidade, que por acção da ressonância se mimetiza do interior para o exterior das
habitações ou serviços. Ouvindo estas vozes damo-nos conta da nossa presença numa
secção tangente à rua, numa reunião entre o espaço público e o privado. A nova Babel
que são as nossas cidades é possível ser analisada a partir desse vozeamento que
também pode ser mapeado não apenas para a compreensão urbanística da cidade mas
como memória futura.
8
Estamos num tempo em que é possível pensar os estudos do som inseridos numa teoria
da experiência. Qualquer uma das palavras que sobressai nestes estudos (território,
paisagem, som, identidade, urbano, dispositivos) compõe isoladamente, ou em rede com
outras, uma teoria da experiência a partir do sentido da audição. Convoco para esta
discussão Walter Benjamin7, destacando também a relação primordial do som com o
tempo: se há alguém que possa verificar uma determinada teoria da experiência, ele só
pode ser um escritor. E se algum escritor levou ao romance essa «teoria bergsoniana da
experiência» foi Proust com a sua Recherche. E continua: Proust coloca em jogo na sua
obra, desde o primeiro volume, a memória pura de Bergson, como memória
involuntária, a que se opõe à memória voluntária dirigida pela inteligência. Do que nos
lembramos é um desenho do passado sob orientação de muitas faculdades e qualidades
mentais, o que aparece novo a partir doutros elementos sensoriais, é que é o verdadeiro
tempo passado. É portanto um acaso ou sorte que atinjamos esse tempo a partir de
elementos do presente. São fragmentos da vida que nos chegam não a partir dos
caminhos habituais, de obstinação ou evocação deles, mas por via de outros elementos
que servem de «passagens» para esse tempo. Na leitura que Proust faz de Baudelaire já
tinha avançado para essa experiência ao constatar que o tempo nesse poeta francês não
aparece como um contínuo mas «desmembrado». Esta ideia já a vimos em narrativas do
século XX, é uma pulsão do homem moderno e contemporâneo: a união dos problemas
da cidade, dos equipamentos sonoros e da relação humana com o tempo. Todos, é claro,
com diferentes narrativas para aceder a outro tempo, mas todos, numa ou noutra parte
da escrita, inserindo «correspondências», termo fixado por Baudelaire, e que Benjamin
ressalva: «As correspondências fixam um conceito de experiência que inclui elementos
de culto». «As correspondências são os dados da rememoração. Mas não são dados da
história mas da pré-história». No sentido em que não estão ligados a um tempo
marcado, a um ponto linear no passado. Estão fora da ordem lógica, fora do discurso
voluntarioso, como a pré-história em relação à história. Benjamin refere: «se Bergson
tem crédito, é a rememoração da «durée» a que alivia a alma do homem da obsessão do
tempo». A linha do tempo podia ser alterada, mesmo que apenas mentalmente, mesmo
que apenas na escrita desse desvio memorial pelos fragmentos. Proust segue de perto
Bergson, saturando um passado de «todas as reminiscências» que escaparam para o
inconsciente. Há, no entanto, e são muitos, que consideram não haver semelhanças entre
7 Sur quelques themes baudelairiens, Oeuvre III, ( Paris: Gallimard, 2000).
9
as duas posições relativamente ao tempo e à memória. Em Proust o tempo é fragmento,
reminiscências que o acordam para uma determinada época, personagem ou geografia.
Um tempo do homem moderno, o tempo de Baudelaire. Já o tempo de Bergson, a sua
duração, é um fluxo que se evoca para aumentar o «volume» de tempo. Fernando
Pessoa tem por vezes uma relação com a memória e as recordações semelhante à de
Proust: um elemento faz nascer um tempo, e esse tempo «aparece» da mesma forma que
foi. Era aliás este o alcance do tempo (na narrativa) de Proust: fazer aparecer um tempo
como se fosse hoje, um tempo espacializado. E este tempo espacializado é uma virtude
ou qualidade do que é sonoro e do próprio som. A noção de espaço, tal como é
entendida no Ocidente, é uma reconstrução da visão a partir da coacção da audição,
sobretudo de indícios sonoros cujas fontes não são visíveis. Podemos no entanto
concordar que o tempo narrativo e o seu significante muda-se a todo o momento
aparecendo mais tarde sob outra luz e preenchimento, aumentando a espessura do
tempo, como entendia Bergson. No entanto, para descrever este tempo não o podia
colocar em movimento mas antes pará-lo, fotografá-lo, como se o quisesse matar. E
nesta acção o que acontece é, em representação, a morte do acontecimento. Porém,
quando falamos de tempo provindo de um som a sua dissecação é impossível já que a
evocação do que vive ou revive, em gravação, não pode ser suspenso. Disto fala
Thomas Mann, na sua Montanha Mágica:
«Pode narrar-se o tempo, o tempo em si mesmo, como tal e em si? Não, na
verdade seria uma empresa louca. Uma narração onde se dissesse: "O tempo
passava, fluía, o tempo seguia o seu curso" e assim por diante, nunca um
homem de espírito são poderia considerá-la história. Seria mais ou menos como
se alguém tivesse a ideia barroca de manter durante uma hora uma e a mesma
nota, ou um só acorde e quisesse que isso fosse considerado música. Porque a
narração parece-se com a música no sentido em que ela “realiza” o tempo,
“enche-o convenientemente”, “divide-o” e faz que “se passe qualquer coisa
nele”,[…]. O tempo é o elemento da narração, assim como é o elemento da
vida; está-lhe inseparavelmente ligado, como aos corpos no espaço. O tempo é
também o elemento da música, a qual mede e divide o tempo, tornando-o,
simultaneamente, interessante e precioso, no que, como já foi dito, se assemelha
à narração que, ela também (e de maneira muito diferente da presença imediata
e brilhante da obra plástica, que só está ligada ao tempo como corpo, não é
10
mais do que uma sucessão, é incapaz de apresentar-se senão como uma
fluência, e tem a necessidade de recorrer ao tempo ainda que tente ser
inteiramente presente num dado momento.»8
A sequência dos factos ou do que ocorre seria insubstancial se o seu fundo não fosse
ruído, uma matriz sonora que o eleva e revela. O desejo contemporâneo de tudo
arquivar voltou-se finalmente para o background sonoro donde cresce a vida e o estar
vivo. Só esta matriz sonora torna possível a mimetização, na origem das línguas, assim
como a cacofonia urbana que torna densa e rica a cidade.
No entender do narrador da Recherche, os ruídos ou sons estão unidos a movimentos,
isto é, estão unidos a um espaço por onde circulam objectos e seres. Por esta razão é
necessário estar atento e tornar a experiência sonora como uma experiência de vida, tão
importante como a da visão. Deste facto resulta que muitas vezes, como observa o
narrador9, que a obstrução do canal auditivo desregula a criação dessa atmosfera
importante para a vida. A audição tem como principal qualidade a habituação a ruídos
de fundo que se constituem como paisagens. Estando a mente habituada a esses ruídos,
o seu desaparecimento provoca alterações substanciais. No entanto, se retirarem o
algodão do ouvido, «logo de repente a luz, o sol a pino do som, de novo se mostra
ofuscante, renasce no universo; a toda a velocidade regressa a população dos ruídos
exilados; assiste-se, como se fossem salmodiadas por anjos músicos, à ressurreição das
vozes»10
.
Proust pretendia constituir com esta deriva sobre os sons, novas formas de encontrar
mundos. Isto é, não devemos desprezar nenhum dos nossos sentidos. O da audição,
ligada ao movimento, ao tempo e à vida é importante para se constituir uma passagem
para essa atmosfera que vibra connosco dentro: «uma atmosfera de tranquilidade», que
nos remete para a constituição do ser no mundo como proposto por Heidegger na sua
obra Sein und Zeit.
Há, no entanto, uma passagem no livro de Proust citado onde gostaríamos de nos
alongar um pouco. Ela só se torna importante se a pensarmos no tempo da sua escrita,
na segunda década do século XX. O telefone, enquanto meio de comunicação não
estaria difundido em França, apenas algumas cidades detinham um posto dos correios
8 Thomas Mann, Montanha Mágica, Trad. de Herbert Caro (Lisboa: Edição Livros do Brasil, s/d), pg. 565. 9 Guermantes, pg.75.
10 Guermantes, pg.76.
11
com telefone. Pela dimensão descrita do acontecimento (Marcel a falar com a avó que
se encontra em Paris11
), Proust não teria o hábito de telefonar, ou pelo menos guardou
uma lembrança forte das primeiras vezes que utilizou o aparelho. O que nestas páginas
se passa é uma descrição qualitativa do telefone e as inovações que concentra as
qualidades de imersão, ainda hoje reproduzidas noutros suportes de comunicação, como
o telemóvel, a rádio e a internet. Interessa «olhar» o tipo de descrição que elabora,
desviada muitas vezes para a mitologia grega e para a magia. Perante a descrença na
técnica, aos poucos o narrador apercebe-se que como por magia (de «um conto de
fadas»), o que fica longe, a cidade, põe-se rapidamente ao pé de nós pelo som. Mas
mais: «surge ao pé de nós, invisível mas presente, a pessoa a quem queríamos falar», e
que permanece, deduz o interlocutor, na posição habitual e na casa que habita. Com
quem falamos é transportado para junto de nós, «ela e todo o ambiente em que está
mergulhada». Esta ideia consolida o fundamento da invenção que é a transmissão da
voz entre dois lugares distantes. E a voz traz com ela, não apenas uma identidade, mas
um corpo e a paisagem em que se move. Proust repetidamente encontra eco desta
invenção no interior das histórias de magia (sobretudo infantis) em que o que acontece
está para além da ordem natural. Para que «este milagre se realize» basta chamar as
Virgens Vigilantes, as Graças, as Danaides (que penalizadas na mitologia a encher de
água um tonel sem fundo, esvaziam, enchem e transmitem aqui «as urnas dos sons»,
elas que estão no Tártaro, no fundo dos Infernos), as Fúrias: as sacerdotisas do invisível
que são as «meninas dos telefones». Elas são essas figuras da mitologia: nelas se
associam as suas diferentes funções mitológicas. E na «noite plena de aparições», aberta
apenas para os nossos ouvidos, um ruído, que no entender de Proust se deve à supressão
da distância, e a presença de uma voz que desejamos ouvir. É ainda no lugar fora do
tempo que o contacto entre vozes se dá, usando como mediador o aparelho de telefone.
O que era bréu é, depois da sintonização (tal como na rádio suprimida que foi a
distância), claridade, geografia, afecção e paisagens. Uma presença real, sublinha o
escritor francês, na «separação efectiva». Esta presença real, marca um desvio
fenomenológico à terminologia até então usada, até à invenção dos aparelhos de
comunicação à distância. Estes instauram um novo tempo e nele um novo espaço, isto é,
um novo território. Mais do que uma vez Proust associa este contacto à noção de morte
(tal como Edison preconizou: é agora possível ouvir os mortos), se pensarmos no
11 Guermantes, pg.133-136.
12
fantasma que aparece, ou uma voz sem corpo. Aquela voz é em Proust a do «fantasma
impalpável», como a voz de um morto.
O que se alterou não foi apenas a evocação e convocação de um corpo a partir de uma
voz. Como vimos este corpo não é só o fantasma, devemos acrescentar mais significante
à acção: o problema da emersão, que começa com os aparelhos de gravação e
reprodução de som, permite, em distância, constituir um outro, que não é o mesmo. À
distância deixo de estar imerso no som que ouço de um corpo à minha frente,
acompanho com «a partitura aberta do seu rosto». Pela primeira vez, a voz é total, e
nesta situação o rosto ganha menos expressão, não acompanham o dizer do discurso,
antes transporta o que era impossível de ser revelado num diálogo presencial: «vista
sem a máscara do rosto, notei-lhe pela primeira vez os desgostos que a haviam flagelado
ao longo da vida». Por emersão a voz é um registo do tempo no corpo que a detém. A
voz transmitida à distância cria uma nova presença e desequilibra a imagem real
anterior. Tal como num rosto em cinema: o rosto apaga-se por imersão do espectador na
paisagem e na voz.
Quando acaba o telefonema, «deixamos de estar um diante do outro, de ser audíveis um
para o outro».
3.3 Post Vox
A voz humana é, com efeito, um lugar privilegiado (eidético) da diferença: um lugar que escapa a toda a
ciência, pois não há nenhuma ciência [...] que esgote a voz.
Roland Barthes, O Óbvio e o Obtuso (Lisboa: Edições 70, 2009), pg. 266
Unindo o vozeamento urbano com a voz humana, mesmo numa comunicação à
distância, podemos consolidar o enigma da voz.
A voz humana não é só pneuma, fôlego, ela não é só pulmão, mas, e usando um termo
de Barthes, também «grão», ou «a materialidade do corpo falando a sua língua
maternal»12
. Sendo um lugar da diferença, a voz entrelaça no seu dizer-se o que compõe
um corpo e este corpo num tempo. Por esta razão, a voz é também desejo, no sentido
que em que nunca se apresenta vazia aos ouvidos dos outros, «neutra», mas luminosa ou
brutal. E o que dizemos para uma voz da vida quotidiana também pode ser dito de uma
voz em mestria, no canto ou na ficção. Em toda a sua expressão a voz física deve conter
12 Roland Barthes, O Óbvio e o Obtuso (Lisboa: Edições 70, 2009), pg. 258.
13
o corpo que a sustém, bem como a língua desse corpo. E a língua desse corpo não é na
voz apenas palavras, significados, é, sobretudo, significante, já que também comporta
os movimentos do próprio corpo e da semântica da língua nos tempos. Escutar alguém
ou ler a fala de alguém é distinto. No primeiro caso sabemos que não nos podemos
afastar do rosto que concebe a voz e do corpo que a projecta; já no segundo caso (num
romance, por exemplo) o dito que não é dizer, consubstancia em voz toda a actividade
de reconhecimento do outro, incluindo um rosto e uma paisagem. A mediação da voz
promove em quem lê ou escuta (através de um dispositivo de comunicação) a interacção
das faculdades da imaginação e da memória, desenhando ao mesmo tempo que escuta
uma voz na distância (sem fonte) ou lê o que está escrito. Se no rosto em proximidade, a
voz é um elemento físico unido a uma unidade maior que é um corpo, e aqui, sobretudo
um rosto (por onde anda um tempo de vida); na distância a voz torna-se essa unidade,
desencadeando no outro as operações de reconhecimento próprias de quem escuta ou lê.
«A escuta da voz inaugura a relação com o outro»13
, naquilo que é «informação
singular», veiculando uma «imagem do corpo» (o que detectamos teoreticamente mas
também ficcionalmente na obra de Proust). As personagens têm formas de falar
diferentes e em cada voz vemos nascer classes sociais, educação, estilos e o desejo. A
dissociação entre voz e corpo, a existir, é causa de estranheza, como na escuta da nossa
própria voz gravada. Mas também haverá estranheza quando, mesmo num romance, a
imagem que criamos para uma personagem sofre equívocos nos seus diálogos, como se
estivesse mascarada ou a despir-se constantemente de uma identidade a caminho de
outra. Num conto de Karen Blixen14
, uma famosa cantora lírica, Pellegrina Leone, tendo
perdido a sua voz num incêndio em Milão, enquanto decorria a cena, passou o resto da
vida, até ao leito de morte, a ganhar novas identidades, esquecendo sempre as outras. A
perda da sua voz musical possibilitou-lhe incorporar outras identidades e profissões: a
voz era o único elemento que unia identidade e corpo, sem ela podia tornar-se no que
quisesse. O actor sabe bem, mesmo na substantiva identidade, que a sua voz não é
apenas fôlego (que pode ser apenas uma técnica) mas «uma materialidade do corpo
surgida da goela, lugar onde o metal fónico se endurece e se segmenta»15
. Este material
13 Roland Barthes, O Óbvio e o Obtuso (Lisboa: Edições 70, 2009), pg. 243.
14 Os Sonhos, em Sete Contos Góticos, Vol. II, (trad. de Maria José Jorge). Lisboa: Ed. D. Quixote,
1987. 15 Roland Barthes, O Óbvio e o Obtuso (Lisboa: Edições 70, 2009), pg. 244.
14
fónico que aí «aparece» expressa a história do sujeito e o seu tempo (ou idade, no
exemplo da lengalenga e eco da criança) na totalidade em mediação, parcialmente em
imediatez. A mão que escreve também também uma voz que está unida a um corpo,
mas ao contrário de quem diz, o que é escrito tende para a criação de um fantasma
interno que deve ser tanto ou mais preciso consoante a capacidade do autor inventar
para ele uma voz. E isso faz toda a diferença. O que o corpo em escuta sem fonte sonora
natural faz é atribuir um corpo que movimenta a sua identidade ao longo de uma
paisagem, também ela fundada no que está escrito ou na memória. O corpo é sempre um
lugar de desenho e é esse lugar a partir da voz.
4. CONCLUSÃO
Com a ajuda do músico e teórico canadiano, Murray Schafer autor de The Tuning of the
World, revisitamos agora alguns dos seus conceitos que possibilitam fundar a
importância do som e do sentido da audição no que vemos. A neurociência depois da
psicologia tem produzido um conjunto vasto de ensaios em torno da percepção a partir
do sentido da visão. O contraste entre luz, opacos, cores e sombras promove a criação
de figuras (fugures) que são formações. O mundo é, aos nossos olhos, e com mais ou
menos luz, já que a escuridão não permite a existência de formações estáveis, uma
superfície em que os objectos não aparecem todos do mesmo modo visual mas vão-se
formando e alterando durante o dia. Para que essas formações ocorram tem que haver
luz e, sobretudo, um meio (Ground). É este meio que torna possível o real, já que é o
fundo que torna possível as formas. Este chão (ground) donde se erguem as formas não
se insere, normalmente, na percepção visual, só na especialidade. O que vemos é um
ambiente, um campo (field) que é uma paisagem (landscape) urbana ou rural.
Segundo Murray Schafer podemos associar alguns destes termos ao campo da
percepção auditiva (aural perception). Vejamos. A figura que representa a acabada
formação pode ser entendida como um marco sonoro ou sinal. Algo que é sistemático e
audível marca um determinado território. O fundo donde esses sons se levantam, que
ajudam à sua formação pode ser aqui entendido como o que torna possível a produção
sonora. Várias camadas de sons a que podemos aceder em especialidade, frametizando
esse fundo para encontrarmos os sons chave das várias camadas.
15
Por último o campo e a paisagem propriamente ditos onde ocorrem todos os sons,
audíveis ou não, e que é a paisagem sonora. Uma alteração significativa no modo de
funcionar a nossa audição em relação à visão, e que se prova no modo como escutamos
e vemos, prende-se com a reconstrução/identificação dessas figuras/formações e do
meio que as torna possíveis. A visão sendo segmentária e localizada não tem
possibilidade de reconstruir, simultaneamente, o fundo e a forma. Já a audição promove
a (re) criação da forma e do fundo. O som comporta-se sempre, em escuta, como a
linguagem, em que para haver significação tem que haver a presença de uma imagem
acústica que une fundo e formação na expressão sonora.
A matriz sonora representa aqui, enquanto memória, um papel fundamental ao criar a
fonte, o fundo e muitas vezes a paisagem desse som. Este atinge assim todos os eixos da
constituição do real: verticalidade, horizontalidade e profundidade. É mais notória a
«história/memória» de um som do que qualquer objecto «físico». Talvez porque este,
agregado à luz, seja um instantâneo, enquanto o som é mais lento no seu percurso de
expressão e significação, gerando, no seu vagar, um contorno geral mais preciso, que
pode ser a fonte sonora e o seu contexto.
O som arrasta sempre um fundo que é obliterado na visão, já que esta repete sempre
cortes sucessivos até à focagem. A velocidade vertiginosa com que a imagem se fabrica
faz «esquecer» o fundo de onde arranca, bem como o campo. O objecto sonoro chega a
nós trazendo no seu rasto o detalhe –ilusório ou não- de fonte e da sua paisagem. O
fundo e a formação são no sonoro parte do mesmo objecto e isso deve-se, como vimos,
não apenas ao modo de transmissão das ondas sonoras, mecânicas e vivas, mas também
ao fluxo circular que é a sua expressão. O detalhe do som é construão da fonte (natureza
e características) e da sua envolvente, enquanto na visão é apenas o contraste da luz que
se «fabrica».
Sempre que uma imagem reproduzida ou real é captada pelo olho constituímos sobre ela
uma solidez que não lhe permite abandonar o espaço. As materialidades não derivam
nem ganham a atmosfera onde se revelam, aliás o que é gasoso mas sem som permanece
no domínio do fixo, ou a tela, coisa sólida, da revelação. Com as vozes e a música a
imagem ganha uma flexibilidade e um movimento que é próprio do estar vivo. A
audição é assim o sentido, que sincronizado com a visão, já que falamos de imagens em
movimento (cinema, vídeo, ilustração ou jogos) produz a revelação, destacando e
16
separando os diferentes espaços (cor e movimento) e tempos que compõem a imagem.
Sem som tudo permanece mudo, não pertencendo ao mundo do que pretende revelar-se
como vivo, mas do artifício humano, sempre imperfeito.
BIBLIOGRAFIA
Adorno, Theodor W., (2002), Essays on Music, Berkeley: University of California Press
Barthes, Roland, (2009), O Óbvio e o Obtuso, Lisboa: Edições 70
Benjamin, Walter, (2000), Oeuvre III, Paris: Gallimard
Erlmann, Veit, (2010), Reason and Resonance – A History of Modern Aurality, NY: Zone
Books
Hendy, David, (2013), A Human History of Sound and Listening, London: Profile Books
Heidegger, Martin, (1996) Being and Time, Albany: State University of NY Press
Mann, Thomas, Montanha Mágica, Lisboa: Edição Livros do Brasil
Proust, Marcel, (2003), O Lado de Guermantes, Lisboa: Círculo de Leitores
Schafer, R. Murray, (1977), The Tuning of the World, New York: Alfred A. Knopf, 1977
Sloterdijk, Peter, (2008),O Estranhamento do Mundo, Lisboa: Relógio d’Água